



Biblio VT




Para quem era uma escrava na Saint-Domingue dos finais do século XVIII, Zarité tinha tido uma boa estrela: aos nove anos foi vendida a Toulouse Valmorain, um fazendeiro rico, mas não conheceu nem o esgotamento das plantações de cana, nem a asfixia e o sofrimento nos moinhos, porque foi sempre uma escrava doméstica. A sua bondade natural, força de espírito e noção de honra permitiram-lhe partilhar os segredos e a espiritualidade que ajudavam os seus, os escravos, a sobreviver, e a conhecer as misérias dos amos, os brancos.
Zarité converteu-se no centro de um microcosmos que era um reflexo do mundo da colónia: o amo Valmorain, a sua frágil esposa espanhola e o seu sensível filho Maurice, o sábio Parmentier, o militar Relais e a cortesã mulata Violette, Tante Rose, a curandeira, Gambo, o galante escravo rebelde... e outras personagens de uma cruel conflagração que acabaria por arrasar a sua terra e atirá-los para longe dela. Quando foi levada pelo seu amo para Nova Orleães, Zarité iniciou uma nova etapa onde alcançaria a sua maior aspiração: a liberdade. Para lá da dor e do amor, da submissão e da independência, dos seus desejos e os que lhe tinham imposto ao longo da sua vida, Zarité podia contemplá-la com serenidade e concluir que tinha tido uma boa estrela.
Aos meus quarenta anos, eu, Zarité Sedella, tive melhor sorte do que as outras escravas. Vou viver muitos anos e a minha velhice será feliz porque a minha estrela — a minha L'étoile — também brilha quando a noite está enevoada. Conheço o gosto de estar com o homem escolhido pelo meu coração quando as suas mãos grandes me despertam a pele. Tive quatro filhos e um neto, e os que estão vivos são livres. A minha primeira recordação de felicidade, quando era uma ranhosa ossuda e desgrenhada, é menear-me ao som dos tambores, e é essa também a minha mais recente felicidade, porque ontem à noite estive na Praça do Congo a dançar sem parar, sem pensamentos na cabeça, e hoje o meu corpo está quente e cansado. A música é um vento que leva os anos, as recordações e o temor, esse animal agachado que tenho dentro de mim. Com os tambores desaparece a Zarité de todos os dias e volto a ser a criança que dançava quando ainda mal sabia caminhar. Bato no chão com as plantas dos pés e a vida sobe-me pelas pernas, percorre-me o esqueleto, apodera-se de mim, tira-me os desgostos e adoça-me a memória. O mundo estremece. O ritmo nasce na ilha debaixo do mar, sacode a terra, atravessa-me como um relâmpago e sobe ao céu levando os meus pesares, para que Papa Bondye os mastigue, os engula e me deixe limpa e contente. Os tambores vencem o medo. Os tambores são a herança da minha mãe, a força da Guiné que corre no meu sangue. Ninguém me leva a melhor então, torno-me envolvente como Erzuli, loa do amor, e mais veloz do que o chicote. Chocalham as conchas nos meus tornozelos e pulsos, perguntam as cabaças, respondem os djembés com a sua voz de bosque e os timbales com a sua voz de metal, convidam os djun-djuns que sabem falar e ronca o grande maman quando batem nele para chamar os loas. Os tambores são sagrados, os loas falam através deles. Na casa onde me criaram durante os meus primeiros anos, os tambores permaneciam calados na divisão que partilhava com Honoré, o outro escravo, mas costumavam passear muitas vezes. Madame Delphine, então a minha ama, não queria ouvir barulho de negros, só os queixumes melancólicos do seu clavicórdio. Às segundas e terças dava aulas a raparigas de cor, e no resto da semana ensinava nas mansões dos grands blancs, onde as senhoritas dispunham dos seus próprios instrumentos porque não podiam usar os mesmos que as mulatas tocavam. Aprendi a limpar as teclas com sumo de limão, mas não podia fazer música porque madame proibia-nos de nos aproximarmos do seu clavicórdio. Não nos fazia falta" nenhuma. Honoré conseguia tirar música de uma caçarola, qualquer coisa na sua mão tinha compasso, melodia, ritmo e voz; tinha os sons no corpo, tinha-os trazido do Daomé. O meu brinquedo era uma cabaça oca que fazíamos tocar; depois, ensinou-me a acariciar devagarinho os seus tambores. E isto logo no princípio, quando ele ainda me pegava ao colo e me levava aos bailes e aos serviços vodu, onde ele marcava o ritmo com o tambor principal para que os outros o seguissem. É assim que me recordo. Honoré parecia muito velho porque tinham-se-lhe arrefecido os ossos, embora, nessa altura, não tivesse mais anos do que os que agora tenho. Bebia tafia(1) para suportar o sofrimento de se mexer, mas, mais do que esse licor áspero, o seu melhor remédio era a música. Os seus queixumes tornavam-se risos ao som dos tambores. Honoré só conseguia descascar batatas para a comida da ama com as suas mãos deformadas, mas a tocar o tambor era incansável e, quando se tratava de dançar, ninguém levantava os joelhos mais alto, nem abanava a cabeça com mais força, (1) Aguardente de cana, de qualidade inferior ao rum. (N. do T.) nem bamboleava o rabo com mais gosto. Quando eu ainda não sabia andar, fazia-me dançar sentada, e assim que consegui segurar-me nas duas pernas, convidava-me a perder-me na música, como num sonho. «Dança, dança, Zarité, porque escravo que dança é livre... enquanto dança», dizia-me. Eu dancei sempre.
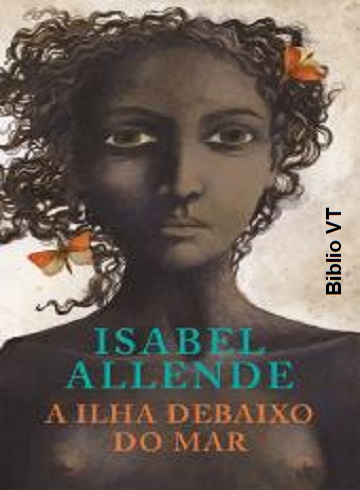
PRIMEIRA PARTE
Saint-Domingue, 1770-1793
O mal espanhol
Toulouse Valmorain chegou a Saint-Domingue em 1770, no mesmo ano em que o delfim de França se casou com a arquiduquesa austríaca Maria Antonieta. Antes de viajar para a colónia, quando ainda não suspeitava que o seu destino lhe ia pregar uma partida e acabaria enfaixado entre canaviais nas Antilhas, tinha sido convidado para ir a Versalhes a uma das festas em honra da nova delfina, uma rapariguinha loura, de catorze anos, que bocejava sem pejo no meio do rígido protocolo da corte francesa.
Tudo isso foi remetido para o passado. Saint-Domingue era outro mundo. O jovem Valmorain tinha uma ideia bastante vaga do lugar onde o seu pai amassava, mal ou bem, o pão da família com a ambição de o converter numa fortuna. Tinha lido algures que os habitantes originais da ilha, os aruaques, lhe chamavam Haiti, antes de os conquistadores lhe trocarem o nome para La Española e acabarem com os nativos. Em menos de cinquenta anos, não sobrou um único aruaque vivo, nem como amostra: pereceram todos, vítimas da escravidão, das doenças europeias e do suicídio. Eram uma raça de pele avermelhada, cabelo forte e preto, de inalterável dignidade, tão tímidos que um só espanhol podia vencer dez deles com a mão nua. Viviam em comunidades polígamas, cultivando a terra com cuidado para não a esgotar: camote(1), milho, abóbora, amendoim, pimentos, batata e mandioca. A terra, como o céu e a água, não tinham dono, até os estrangeiros se apoderarem dela para cultivar plantas nunca vistas com o trabalho forçado dos aruaques. Começou nesse tempo o hábito de «canzoar»: matar pessoas indefesas açulando cães contra elas. Quando acabaram com os indígenas, importaram escravos sequestrados em África e brancos na Europa, condenados, órfãos, prostitutas e revoltosos.
(1) Espécie de batata-doce. (N. do T.)
No final de mil e seiscentos, a Espanha cedeu a parte ocidental da ilha à França, que lhe chamou Saint-Domingue e que haveria de se converter na colónia mais rica do mundo. Na época em que Toulouse Valmorain ali chegou, um terço das exportações de França, através do açúcar, café, tabaco, algodão, índigo e cacau, provinha da ilha. Já não havia escravos brancos, mas os negros somavam-se em centenas de milhares. O cultivo mais exigente era a cana-de-açúcar, o ouro doce da colónia; cortar a cana, triturá-la e reduzi-la a mosto não era trabalho de gente, mas sim de besta, como defendiam os plantadores.
Valmorain acabava de fazer vinte anos quando foi convocado para ir à colónia por uma carta angustiante do agente comercial do seu pai. Quando desembarcou, estava vestido de acordo com a última moda: punhos de renda, peruca empoada e sapatos de salto alto, seguro de que os livros de exploração que tinha lido o capacitavam de sobra para assessorar o pai durante umas semanas. Viajava com um valet, quase tão galhardo como ele, vários baús com o seu vestuário e os seus livros. Definia-se como um homem de Letras e, quando regressasse a França, pensava dedicar-se à ciência. Admirava os filósofos e enciclopedistas, que tanto impacto tinham tido na Europa nas décadas recentes, e estava de acordo com algumas das suas ideias liberais: o Contrato Social de Rousseau tinha sido o seu texto de cabeceira aos dezoito anos. Assim que desembarcou, depois de uma travessia que por pouco não terminou em tragédia quando enfrentou um furacão no Caribe, teve a primeira surpresa desagradável: o seu progenitor não o esperava no porto. Foi recebido pelo agente, um judeu amável, vestido de preto da cabeça aos pés, que o pôs ao corrente das precauções necessárias para se movimentar pela ilha, lhe disponibilizou cavalos, um par de mulas para a bagagem, um guia e um miliciano para que os acompanhassem à habitation Saint-Lazare. O jovem jamais tinha posto os pés fora de França e tinha prestado muito pouca atenção às histórias — banais, regra geral — que o pai costumava contar durante as suas pouco frequentes visitas à família, em Paris. Não imaginou que alguma vez iria à plantação; o acordo tácito consistia na consolidação da fortuna na ilha pelo seu pai, enquanto ele cuidava da mãe e das irmãs e supervisionava os negócios em França. A carta que recebera fazia alusão a problemas de saúde, e pensou que se tratava de uma febre passageira, mas quando chegou a Saint-Lazare, depois de um dia de marcha desenfreada através de uma Natureza glutona e hostil, deu-se conta de que o pai estava a morrer. Não sofria de malária, como ele julgava, mas de sífilis, que devastava brancos, negros e mulatos, indiferentemente. A doença atingira o seu último estado e o seu pai estava quase inválido, coberto de pústulas, com os dentes a abanar e a mente entre brumas. As curas dantescas de sangrias, mercúrio e cauterizações do pénis com arames em brasa não o tinham aliviado, porém, continuavam a praticá-las como acto de contrição. Acabava de fazer cinquenta anos e estava convertido num ancião que dava ordens disparatadas, urinava-se sem controlo e estava sempre numa rede com as suas mascotes, duas pretinhas acabadas de chegar à puberdade.
Enquanto os escravos desencaixotavam a sua bagagem sob as ordens do valet, um janota que mal tinha aguentado a travessia de barco e estava espantado com as condições primitivas do lugar, Toulouse Valmorain ausentou-se para percorrer a vasta propriedade.
Nada sabia do cultivo de cana, mas bastou-lhe aquele passeio para compreender que os escravos estavam esfomeados e que a plantação só se tinha salvado da ruína porque o mundo consumia açúcar com uma voracidade crescente. Nos livros de contabilidade, encontrou a explicação para as más finanças do pai, que não conseguia manter a família em Paris com o decoro correspondente à sua posição. A produção era um desastre e os escravos caíam como tordos; não teve dúvida de que os capatazes roubavam, aproveitando-se da clamorosa deterioração do amo. Amaldiçoou a sua sorte e dispôs-se a arregaçar as mangas e trabalhar, coisa que nenhum jovem do seu meio ponderava sequer: o trabalho era para gente de outra classe. Começou por conseguir um suculento empréstimo graças ao apoio e às ligações com banqueiros do agente comercial do seu pai, a seguir mandou os commandeurs aos canaviais, para trabalhar lado a lado com os mesmos que tinham martirizado antes, e substituiu-os por outros menos depravados, reduziu os castigos e contratou um veterinário, que passou dois meses em Saint-Lazare a procurar devolver alguma saúde aos negros. O veterinário não conseguiu salvar o seu valet, despachado por uma diarreia fulminante em menos de trinta e oito horas. Valmorain deu-se conta de que os escravos do pai duravam uma média de dezoito meses entre fugir ou cair mortos de fadiga, muito menos do que noutras plantações. As mulheres viviam mais do que os homens, mas rendiam menos no trabalho pesado dos canaviais e tinham o mau hábito de ficarem prenhes. Como sobreviviam muito poucas crias, os plantadores tinham calculado que a fertilidade entre os negros era tão baixa que não era rentável. O jovem Valmorain realizou as mudanças necessárias de forma automática, sem planos e depressa, decidido a avançar a toda a brida, mas quando o pai morreu, uns meses mais tarde, teve de enfrentar o facto inquestionável de estar falido. Não pretendia deixar os seus ossos naquela colónia infestada de mosquitos, mas, se partisse antes do tempo, perderia a plantação, e com ela os lucros e a posição social da sua família em França.
Valmorain não tentou relacionar-se com outros colonos. Os grands blancs, proprietários de outras plantações, consideravam-no um presumido que não duraria muito na ilha; por isso, ficaram assombrados por vê-lo com as botas enlameadas e queimado pelo sol. A antipatia era mútua. Para Valmorain, aqueles franceses transplantados para as Antilhas eram uns parolos, o oposto da sociedade que ele tinha frequentado, onde se exaltava as ideias, as ciências e as artes, e ninguém falava de dinheiro nem de escravos. Da «idade da razão», em Paris, passou a afundar-se num mundo primitivo e violento, onde os vivos e os mortos andavam de mão dada. Também não fez amizade com os petits blancs, cujo único capital era a cor da pele, uns pobres diabos empeçonhados pela inveja e a maledicência, como ele dizia. Tinham vindo dos quatro pontos cardeais e não havia maneira de averiguar a pureza do seu sangue ou o seu passado. No melhor dos casos, eram comerciantes, artesãos, frades de pouca virtude, marinheiros, militares e funcionários menores, mas também havia meliantes, chulos, criminosos e corsários que utilizavam cada recanto do Caribe para as suas canalhices. Ele não tinha nada em comum com essa gente.
Entre os mulatos livres ou affranchis existiam mais de sessenta classificações segundo a percentagem de sangue branco, que determinava o seu nível social. Valmorain nunca conseguiu distinguir os tons nem aprender a denominação de cada combinação das duas raças. Os affranchis não dispunham de poder político, mas movimentavam muito dinheiro; por isso, os brancos pobres odiavam-nos. Alguns ganhavam a vida com tráficos ilícitos, desde o contrabando à prostituição, mas outros tinham sido educados em França e possuíam fortuna, terras e escravos.
Acima das subtilezas da cor, os mulatos estavam unidos pela sua aspiração comum de passar por brancos e o seu desprezo visceral pelos negros. Os escravos, cujo número era dez vezes maior do que o dos brancos e affranchis juntos, não contavam para nada, nem no censo da população, nem na consciência dos colonos. Uma vez que não lhe convinha isolar-se por completo, Toulouse Valmorain frequentava, de vez em quando, algumas famílias de grands blancs em Le Cap, a cidade mais próxima da sua plantação. Nessas viagens, comprava o necessário para se abastecer e, se não o podia evitar, passava pela Assembleia Colonial para cumprimentar os seus pares — assim não esqueceriam o seu apelido -, mas não participava nas sessões. Também aproveitava para ver comédias no teatro, assistir a festas das cocottes -as exuberantes cortesãs francesas, espanholas e de raças misturadas que dominavam a vida nocturna — e conviver com exploradores e cientistas que se detinham na ilha, de passagem para outros sítios mais interessantes. Saint-Domingue não atraía visitantes, mas às vezes chegavam alguns para estudar a Natureza ou a economia das Antilhas, que Valmorain convidava para Saint-Lazare com a intenção de recuperar, ainda que brevemente, o prazer da conversação elevada que tinha ilustrado os seus tempos de Paris. Três anos depois da morte do pai, podia mostrar-lhes a propriedade com orgulho; transformara aquele destroço de negros doentes e canaviais secos numa das plantações mais prósperas entre as oitocentas da ilha, multiplicara por cinco o volume de açúcar por refinar para exportação e instalara uma destilaria onde produzia selectas barricas de um rum muito mais fino do que o que era costume beber-se. Os seus visitantes passavam uma ou duas semanas no rústico casarão de madeira, a empanzinar-se com a vida de campo e a apreciar de perto a mágica invenção do açúcar. Passeavam a cavalo por entre os densos pastos que assobiavam, ameaçadores, pela brisa, protegidos do sol por grandes chapéus de palha e a bocejar na humidade a ferver do Caribe, enquanto os escravos, como sombras afiadas, cortavam as plantas rente à terra sem matar a raiz, para que houvesse outras colheitas. De longe, pareciam insectos entre os descomunais canaviais que os ultrapassavam no dobro em altura. A tarefa de limpar as duras canas, picá-las nas máquinas dentadas, esmagá-las nas prensas e ferver o suco em grandes caldeirões de cobre para obter um mosto escuro tornava-se fascinante para aquela gente da cidade que só tinha visto os alvos cristais que adoçavam o café. Esses visitantes punham Valmorain em dia sobre o que se passava na Europa, cada vez mais remota para ele, actualizando-o sobre os novos avanços tecnológicos e científicos e as ideias filosóficas na moda. Abriam-lhe um postigo para que espreitasse o mundo e deixavam-lhe como prenda alguns livros. Valmorain desfrutava com os hóspedes, mas desfrutava ainda mais quando se iam embora; não gostava de ter testemunhas na sua vida nem na sua propriedade. Os estrangeiros observavam a escravidão com uma mistura de repugnância e doentia curiosidade que lhe era ofensiva porque se considerava um amo justo: se soubessem como os outros plantadores tratavam os seus negros, estariam de acordo com ele. Sabia que mais do que um voltaria à civilização como abolicionista e disposto a sabotar o consumo de açúcar. Antes de se ver obrigado a viver na ilha, a escravidão também o teria chocado, se tivesse conhecido os pormenores, mas o seu pai nunca fez referência a esse tema. Agora, com centenas de escravos a seu cargo, as suas ideias a esse respeito tinham mudado.
Toulouse Valmorain passou os primeiros anos a tirar Saint-Lazare da devastação e não lhe foi possível viajar para fora da colónia uma única vez. Perdeu o contacto com a mãe e as irmãs, excepto esporádicas cartas num tom formal que só transmitiam as banalidades da existência diária e o estado de saúde.
Tinha experimentado um par de administradores trazidos de França — os crioulos tinham reputação de corruptos — mas foram um fracasso: um morreu mordido por uma cobra e o outro abandonou-se à tentação do rum e das concubinas, até que chegou a sua mulher para o resgatar e levá-lo sem apelo. Agora estava a experimentar Prosper Cambray que, como todos os mulatos livres na colónia, tinha servido os três anos regulamentares na milícia — a Maréchaussée — encarregada de fazer respeitar a lei, manter a ordem, cobrar impostos e perseguir cimarrones.(1) Cambray carecia de fortuna ou padrinhos, e optou por ganhar a vida na ingrata tarefa de caçar negros naquela geografia disparatada de selvas hostis e montanhas abruptas, onde nem as mulas caminhavam seguras. Era de pele amarela, marcada de varíola, com o cabelo encaracolado cor de ferrugem, os olhos esverdeados, sempre irritados, e uma voz bem modulada e suave, que contrastava como uma piada com o seu carácter brutal e o seu físico de desordeiro. Exigia servilismo abjecto dos escravos e, ao mesmo tempo, era rasteiro para com quem estivesse acima dele. A princípio, tentou conquistar a estima de Valmorain com intrigas, mas rapidamente compreendeu que os separava um abismo de raça e de classe. Valmorain ofereceu-lhe um bom salário, a oportunidade de exercer autoridade e o engodo de se converter no chefe dos capatazes.
Passou então a dispor de mais tempo para ler, ir à caça e viajar para Le Cap. Tinha conhecido Violette Boisier, a cocotte mais solicitada da cidade, uma rapariga livre, com reputação de ser limpa e saudável, com herança africana e aspecto de branca. Pelo menos com ela não terminaria como o seu pai, com o sangue aguado pelo «mal espanhol».
(1) Escravos fugidos, unidos em bandos rebeldes, que se refugiavam no cimo das cordilheiras. (N. do T.)
Ave nocturna
Violette Boisier era filha de outra cortesã, uma mulata magnífica que morreu aos vinte e nove anos, trespassada pelo sabre de um oficial francês — possivelmente, o pai de Violette, embora isso nunca tenha sido confirmado -, tresloucado de ciúmes. A jovem começou a exercer a profissão aos onze anos, sob a tutela da mãe; aos treze, quando esta foi assassinada, dominava as requintadas artes do prazer, e aos quinze superava todas as suas rivais. Valmorain preferia não pensar com quem é que a sua petite amie fazia traquinices na sua ausência, uma vez que não estava disposto a comprar exclusividade. Tinha-se tomado de caprichos por Violette, puro movimento e riso, mas possuía suficiente sangue-frio para dominar a sua imaginação, ao contrário do militar que matou a mãe e arruinou a sua carreira e o seu nome. Conformava-se com levá-la ao teatro e a festas de homens a que não assistiam mulheres brancas e onde a sua radiante formosura atraía os olhares. A inveja que provocava noutros homens ao apresentar-se com ela de braço dado dava-lhe uma satisfação perversa; muitos sacrificariam a honra para passar uma noite inteira com Violette, em vez de uma ou duas horas, como era o estipulado, mas esse privilégio pertencia só a ele. Pelo menos, assim o julgava.
A jovem dispunha de uma vivenda com três divisões e uma varanda com uma grade de ferro de flores-de-lis no segundo piso de um edifício perto da Praça Clugny, única herança que a mãe lhe deixou, além de alguns vestidos adequados ao seu ofício.
Ali residia com um certo luxo, acompanhada de Loula, uma escrava africana, gorda e masculinizada, que fazia de criada e de guarda-costas. Violette passava as horas mais quentes a descansar ou dedicada à sua beleza: massagens com leite de coco, depilação com caramelo, banhos de óleos para o cabelo, infusões de ervas para aclarar a voz e o olhar. Em certos momentos de inspiração, preparava com Loula unguentos para a pele, sabão de amêndoa, pastas e pós de maquilhagem que vendia entre as suas amizades femininas. Os seus dias decorriam lentos e ociosos. Ao entardecer, quando os enfraquecidos raios do Sol já não podiam manchar-lhe a cútis, saía para passear a pé, se o clima o permitia, ou numa liteira de mão levada por dois escravos que alugava a uma vizinha; evitava assim sujar-se com a bosta de cavalo, o lixo e a lama das ruas de Le Cap. Vestia-se discretamente para não insultar as outras mulheres; nem brancas nem mulatas toleravam de bom grado tamanha concorrência. Ia às lojas fazer as suas compras e ao cais para conseguir artigos de contrabando entre os marinheiros, visitava a modista, o cabeleireiro e as suas amigas. Com a desculpa de tomar um sumo de frutas, detinha-se no hotel ou nalgum café, onde nunca faltava um cavalheiro disposto a convidá-la para a sua mesa. Conhecia intimamente os brancos mais poderosos da colónia, inclusive o militar de mais alta patente, o governador. Depois regressava a casa para se ataviar para o exercício da sua profissão, tarefa complicada que exigia um par de horas. Possuía trajes de todas as cores do arco-íris em vistosos tecidos da Europa e do Oriente, sapatilhas ou malas a condizer, chapéus emplumados, xailes bordados da China, pequenas capas de pele para arrastar pelo chão, porque o clima não permitia usá-las, e um cofre com jóias de pacotilha. Todas as noites, o afortunado amigo de turno — não se chamava cliente — levava-a a algum espectáculo ou a jantar, depois a uma festa que durava até de madrugada e, por último, acompanhava-a ao seu piso, onde ela se sentia segura, porque Loula dormia num colchão ao alcance da sua voz e, em caso de necessidade, podia desembaraçar-se de um homem violento. O seu preço era conhecido e não se mencionava; o dinheiro era deixado numa caixa de laca na mesa e o próximo encontro dependia da gorjeta.
Num buraco entre duas tábuas da parede, que só Loula conhecia, Violette escondia um estojo de camurça com as suas gemas de valor, algumas oferecidas por Toulouse Valmorain, de quem se podia dizer de tudo menos que fosse avarento, e algumas moedas de ouro adquiridas pouco a pouco, as suas poupanças para o futuro. Preferia adornos de fantasia, para não tentar os ladrões nem provocar falatórios, mas punha as jóias quando saía com quem lhas tinha oferecido. Usava sempre um modesto anel de opala, de desenho antiquado, que lhe pôs no dedo, como sinal de compromisso, Étienne Relais, um oficial francês. Via-o muito pouco, porque passava a sua existência a cavalo, ao comando da sua unidade, mas, se estava em Le Cap, ela preteria outros amigos para o atender. Relais era o único com quem podia abandonar-se ao encanto de ser protegida. Toulouse Valmorain não sabia que partilhava com esse rude soldado a honra de passar a noite inteira com Violette. Ela não dava explicações e nunca teve de escolher, porque os dois não tinham coincidido na cidade.
— O que vou eu fazer com estes homens que me tratam como uma noiva? — perguntou Violette a Loula, numa ocasião.
— Essas coisas resolvem-se sozinhas — replicou a escrava, aspirando fundo o seu cigarro de tabaco preto.
— Ou resolvem-se com sangue. Lembra-te da minha mãe.
— Isso não te acontecerá, meu anjo, porque eu estou aqui para cuidar de ti.
Loula tinha razão: o tempo encarregou-se de eliminar um dos pretendentes. Ao cabo de um par de anos, a relação com Valmorain deu lugar a uma amizade amorosa que carecia da paixão dos primeiros meses, quando ele era capaz de galopar até rebentar cavalgaduras para a abraçar. Espaçaram-se as prendas caras e às vezes ele visitava Le Cap sem fazer intenção de a ver. Violette não o censurou, porque teve sempre noção dos limites daquela relação, mas manteve o contacto, que podia beneficiar os dois.
O capitão Étienne Relais tinha fama de incorruptível num ambiente onde o vício era a regra, a honra estava à venda, fazia-se as leis para as violar e partia-se do princípio de que quem não abusava do poder não merecia tê-lo. A sua integridade impediu-o de enriquecer como outros numa posição similar, e nem sequer a tentação de acumular o suficiente para se retirar para França, como tinha prometido a Violette Boisier, conseguiu desviá-lo do que ele considerava rectidão militar. Não hesitava em sacrificar os seus homens numa batalha ou torturar uma criança para obter informação sobre a sua mãe, mas jamais teria posto a mão em dinheiro que não tivesse sido ganho de maneira limpa. Era rigoroso na sua honra e honestidade. Desejava levar Violette para onde não os conhecessem, onde ninguém suspeitasse que ela tinha ganhado a vida com práticas de escassa virtude e não fosse evidente a mistura da sua raça: nas Antilhas, era preciso ter o olho treinado para adivinhar o sangue africano que corria debaixo da sua pele clara.
Violette não se sentia demasiado atraída pela ideia de ir para França, porque temia mais os Invernos gelados do que as más-línguas, contra as quais era imune, mas tinha aceitado acompanhá-lo. Segundo os cálculos de Relais, se vivesse frugalmente, aceitasse missões de grande risco pelas quais ofereciam recompensas e ascendesse depressa na carreira, poderia cumprir o seu sonho. Esperava que, nessa altura, Violette já tivesse amadurecido e não chamasse tanto a atenção com a insolência do seu riso, o brilho demasiado travesso dos seus olhos pretos e o bambolear ritmado do seu andar. Nunca passaria despercebida, mas talvez pudesse assumir o papel de esposa de um militar reformado. Madame Relais... Saboreava essas duas palavras, repetia-as como um encantamento. A decisão de se casar com ela tinha sido o resultado de uma minuciosa estratégia, como o resto da sua existência, ou de um rebate tão violento que nunca o pôs em dúvida. Não era um homem sentimental, mas tinha aprendido a confiar no seu instinto, muito útil na guerra.
Tinha conhecido Violette um par de anos antes, em pleno mercado de domingo, no meio da gritaria dos vendedores e do atropelo de pessoas e animais. Num mísero teatro, que consistia apenas num estrado coberto com um toldo de trapos roxos, pavoneava-se um tipo com bigodes exagerados e tatuado com arabescos, enquanto um miúdo pregoava, em altos gritos, as suas virtudes como o mais portentoso mágico de Samarcanda. Aquele patético espectáculo não teria atraído o capitão se não fosse a luminosa presença de Violette. Quando o mágico solicitou um voluntário entre o público, ela avançou por entre os espectadores e subiu ao sobrado com entusiasmo infantil, a rir-se e a saudar com o leque. Tinha acabado de fazer quinze anos, mas já tinha o corpo e a atitude de uma mulher vivida, como costumava acontecer naquele clima onde as meninas, como a fruta, amadureciam depressa. Obedecendo às instruções do ilusionista, Violette agachou-se dentro de um baú sarapintado de símbolos egípcios. O pregoeiro, um negrito de dez anos disfarçado de turco, fechou a tampa com dois fortes cadeados, e foi chamado outro espectador para comprovar a sua inviolabilidade.
O de Samarcanda fez uns passes com a sua capa, e a seguir entregou as chaves ao voluntário para abrir os cadeados. Quando levantou a tampa do baú, viu-se que a rapariga já não estava lá dentro, mas, momentos mais tarde, o rufar dos tambores do negrito anunciou a sua prodigiosa aparição atrás do público. Voltaram-se todos para olhar boquiabertos a rapariga que se tinha materializado do nada e abanava o leque com uma perna sobre um barril.
Desde o primeiro olhar, Étienne Relais soube que não conseguiria arrancar da alma aquela rapariga de mel e seda. Sentiu que algo estalava no seu corpo, ficou com a boca seca e perdeu o sentido de orientação. Teve de fazer um esforço para voltar à realidade e dar-se conta de que estava no mercado, rodeado de gente. Procurando controlar-se, aspirou profundamente a humidade do meio-dia e a fetidez de peixe e carne a macerar-se ao sol, fruta podre, lixo e merda de animais. Não sabia o nome da bela, mas calculou que seria fácil averiguá-lo, e deduziu que não era casada, porque nenhum marido lhe permitiria expor-se com tamanho desembaraço. Era tão esplêndida que todos os olhos estavam cravados nela, de maneira que ninguém, excepto Relais, treinado para observar até ao mais ínfimo pormenor, se fixou no truque do ilusionista. Noutras circunstâncias, talvez tivesse desmascarado o duplo fundo do baú e a armadilha no estrado, por puro empenho de precisão, mas pensou que a rapariga participava como cúmplice do mágico e preferiu evitar-lhe um mau bocado. Não se deixou ficar para ver o cigano tatuado tirar um macaco de uma garrafa nem decapitar um voluntário, como anunciava o miúdo pregoeiro. Afastou a multidão à cotovelada e partiu atrás da rapariga, que se afastava depressa pelo braço de um homem de uniforme, possivelmente um soldado do seu regimento. Não a alcançou porque, de repente, foi detido por uma negra de braços musculosos cobertos de pulseiras ordinárias, que se especou em frente dele e o avisou que se pusesse na fila, porque não era o único interessado na sua ama, Violette Boisier. Ao ver a expressão desconcertada do capitão, inclinou-se para lhe sussurrar ao ouvido o montante da gorjeta necessária para que ela o colocasse em primeiro lugar entre os clientes da semana. Foi assim que ficou a saber que se tinha apaixonado por uma das cortesãs que davam fama a Le Cap.
Relais apresentou-se pela primeira vez no apartamento de Violette Boisier, empertigado dentro do seu uniforme acabado de passar a ferro, com uma garrafa de champanhe e uma prenda modesta. Depositou o pagamento onde Loula lhe indicou e dispôs-se a jogar o futuro em duas horas. Loula desapareceu discretamente e ficou sozinho, a transpirar no ar quente da sala atravancada de móveis, levemente enjoado com o aroma adocicado de umas mangas que descansavam num prato. Violette não se fez esperar mais do que uns dois minutos. Entrou a deslizar, silenciosa, e estendeu-lhe as duas mãos, enquanto o estudava com as pálpebras semicerradas e um vago sorriso. Relais pegou naquelas mãos compridas e finas entre as suas, sem saber qual era o passo seguinte. Ela libertou-se, acariciou-lhe a cara, lisonjeada por ele se ter barbeado para ela, e indicou-lhe que abrisse a garrafa. Saltou a rolha e a espuma do champanhe saiu à pressão antes que ela tivesse tempo de pôr a taça, molhando-lhe o pulso. Passou os dedos húmidos pelo pescoço e Relais sentiu o impulso de lamber as gotas que brilhavam naquela pele perfeita, mas estava especado no seu lugar, mudo, despojado de vontade. Ela serviu a taça e poisou-a, sem provar, sobre uma mesinha junto do divã, depois aproximou-se e, com dedos hábeis, desabotoou-lhe a grossa casaca do uniforme. «Tira-a, está calor. E as botas também», indicou, entregando-lhe uma bata chinesa com garças pintadas. A Relais pareceu imprópria, mas pô-la sobre a camisa, debatendo-se com uma confusão de mangas largas, e depois sentou-se no divã, angustiado. Estava habituado a mandar, mas compreendeu que, dentro daquelas quatro paredes, era Violette quem mandava. As frestas da persiana deixavam entrar o ruído da praça e a última luz do Sol, que se coava em facadas verticais, iluminando a salita. A jovem vestia uma túnica de seda esmeralda, apertada à cintura por um cordão dourado, sapatilhas turcas e um complicado turbante bordado com missangas. Uma madeixa de cabelo preto caía-lhe sobre a cara. Violette bebeu um gole de champanhe e ofereceu-lhe a mesma taça, que ele esvaziou de um trago ansioso, como um náufrago. Ela voltou a enchê-la e segurou-a pelo delicado pé, à espera, até que ele a chamou para perto dele no divã. Foi essa a última iniciativa de Relais; a partir desse momento, Violette encarregou-se de conduzir o encontro à sua maneira.
O ovo de pomba
Violette tinha aprendido a agradar aos seus amigos dentro do prazo estipulado, sem dar a sensação de estar apressada. Tanta coqueteria e brincalhona submissão naquele corpo de adolescente desarmaram Relais por completo. Ela desatou lentamente o longo tecido do turbante, que caiu com um tilintar de missangas no chão de madeira, e sacudiu a cascata escura da sua melena sobre os ombros e as costas. Os seus movimentos eram lânguidos, sem qualquer afectação, com a frescura de uma dança. Os seus seios ainda não tinham atingido o tamanho definitivo e os mamilos levantavam a seda verde, como contas. Estava nua debaixo da túnica. Relais admirou aquele corpo de mulata, as pernas firmes de tornozelos finos, o traseiro e as coxas grossas, a cintura marcada, os dedos elegantes, curvados como garras, sem anéis. O seu riso começava com um ronronar surdo no ventre e elevava-se pouco a pouco, cristalino, franco, com a cabeça levantada, o cabelo vivo e o pescoço comprido, palpitante. Violette partiu um pedaço de manga com uma pequena faca de prata, pô-lo na boca com avidez e um fio de sumo caiu-lhe no decote, húmido de suor e de champanhe. Com um dedo, recolheu o rasto da fruta, uma gota ambarina e espessa, e esfregou-a nos lábios de Relais, enquanto se sentava às cavalitas nas suas pernas com a leviandade de um felino. A cara do homem ficou entre os seus seios, a cheirar a manga. Ela inclinou-se, envolvendo-o com o seu cabelo selvagem, beijou-o em cheio na boca e passou-lhe com a língua o pedaço da fruta que tinha mordido.
Relais recebeu a polpa mastigada com um calafrio de surpresa: jamais tinha sentido algo tão íntimo, tão chocante e maravilhoso. Ela lambeu-lhe o queixo, pegou-lhe na cabeça com as duas mãos e cobriu-o de beijos rápidos, como bicadas de pássaro, nas pálpebras, nas faces, nos lábios, no pescoço, a brincar, a rir-se. O homem abraçou-a pela cintura e, com mãos desesperadas, arrancou-lhe a túnica, revelando aquela rapariga esbelta e almiscarada, que se colava, se fundia, se esmigalhava contra os apertados ossos e os duros músculos do seu corpo de soldado curtido em batalhas e privações. Quis levantá-la ao colo para a conduzir ao leito, que podia ver na divisão contígua, mas Violette não lhe deu tempo; as suas mãos de odalisca abriram a bata das garças e baixaram as calças, as suas opulentas ancas serpentearam em cima dele sabiamente até que inseriu o seu membro pétreo com um profundo suspiro de alegria. Étienne Relais sentiu-se mergulhar num pântano de deleite, sem memória nem vontade. Fechou os olhos, beijando aquela boca suculenta, saboreando o aroma da manga, enquanto percorria com as mãos calosas de soldado a suavidade impossível daquela pele e a riqueza abundante daqueles cabelos. Fundiu-se nela, abandonando-se ao calor, ao sabor e ao cheiro daquela jovem, com a sensação de que, finalmente, havia encontrado o seu lugar neste mundo, depois de tanto andar só e à deriva. Em poucos minutos, rebentou como um adolescente atordoado, com um esguicho espasmódico e um grito de frustração por não lhe ter dado prazer a ela, porque desejava, acima de tudo na sua vida, apaixoná-la. Violette esperou que acabasse, imóvel, molhada, ofegante, montada em cima, com a cara enterrada na cova do seu ombro, a murmurar palavras incompreensíveis.
Relais não soube quanto tempo estiveram assim abraçados, até que voltou a respirar com normalidade e se libertou um pouco da densa bruma que o envolvia; nessa altura, deu-se conta de que ainda estava dentro dela, bem seguro por aqueles músculos elásticos que o massajavam ritmicamente, apertando e soltando. Deu por si a interrogar-se como é que aquela menina tinha aprendido as artes de cortesã experiente antes de se perder novamente no magma do desejo e da confusão de um amor instantâneo. Quando Violette o sentiu de novo firme, rodeou-lhe a cintura com as pernas, cruzou os pés nas suas costas e indicou-lhe com um gesto a divisão ao lado. Relais levou-a ao colo, sempre cravada no seu membro, e caiu com ela na cama, onde puderam gozar como lhes deu na gana até muito avançada a noite, várias horas mais do que o estipulado por Loula. A mulheraça entrou duas vezes, disposta a pôr termo àquele exagero, mas Violette, enternecida ao ver que aquele militar afogueado soluçava de amor, despachou-a sem contemplações.
O amor, que não tinha conhecido até então, revolveu Étienne Relais como uma tremenda onda, pura energia, sal e espuma. Calculou que não podia competir com outros clientes daquela rapariga, mais bonitos, poderosos ou ricos, e por isso decidiu oferecer-lhe ao amanhecer o que poucos homens brancos estariam dispostos a dar-lhe: o seu apelido. «Casa-te comigo», pediu-lhe entre dois abraços. Violette sentou-se com as pernas cruzadas em cima da cama, com o cabelo húmido colado à pele, os olhos incandescentes, os lábios inchados de beijos. Iluminavam-na os restos de três velas moribundas, que os tinham acompanhado nas suas intermináveis acrobacias. «Não tenho estofo para esposa», respondeu-lhe, e acrescentou que ainda não tinha sangrado com os ciclos da Lua e que, segundo Loula, já era tarde para isso, nunca poderia ter filhos. Relais sorriu, porque achava as crianças um estorvo.
— Se me casasse contigo, estaria sempre sozinha, enquanto tu andas nas tuas campanhas. Entre os brancos não tenho lugar, e os meus amigos iriam repudiar-me porque têm medo de ti, dizem que és sanguinário.
— O meu trabalho assim o exige, Violette. Assim como o médico amputa o membro gangrenado, eu cumpro a minha obrigação para evitar um mal maior, mas nunca fiz mal a ninguém sem ter uma boa razão.
— Eu posso dar-te toda a espécie de boas razões. Não quero ter a mesma sorte da minha mãe.
— Nunca terás motivos para me temeres, Violette — disse Relais, segurando-a pelos ombros e olhando-a nos olhos durante um longo momento.
— Assim o espero — suspirou ela, por fim.
— Casaremos, prometo-te.
— O teu salário não chega para me manter. Contigo faltar-me-ia tudo: vestidos, perfumes, teatro e tempo para perder. Sou preguiçosa, capitão; esta é a única forma que tenho para ganhar a vida sem estragar as mãos e não me irá durar muito mais tempo.
— Quantos anos tens? — Poucos, mas este ofício é de pouca dura. Os homens cansam-se das mesmas caras e dos mesmos rabos. Tenho de tirar proveito da única coisa que tenho, como diz Loula.
O capitão procurou vê-la com tanta frequência quanto lhe permitiam as suas campanhas, e, ao cabo de uns meses, conseguiu tornar-se indispensável; cuidou dela e aconselhou-a como um tio, até que ela não conseguiu imaginar a vida sem ele e começou a considerar a possibilidade de se casar num futuro poético. Relais calculou que o poderiam fazer dentro de cinco anos. Isso dar-lhes-ia tempo para pôr o amor à prova e poupar dinheiro separadamente. Resignou-se que Violette continuasse com o seu ofício de sempre e a pagar-lhe os seus serviços como os outros clientes, agradecido por passar noites inteiras com ela. A princípio, faziam amor até ficarem doridos, mas depois a veemência foi trocada pela ternura e dedicavam horas preciosas a conversar, a fazer planos e a descansar abraçados na penumbra quente do apartamento de Violette. Relais aprendeu a conhecer o corpo e a personalidade da rapariga, conseguia antecipar as suas reacções, evitar as suas birras, que eram como tempestades tropicais, súbitas e breves, e agradar-lhe. Descobriu que aquela menina tão sensual estava treinada para dar prazer, não para o receber, e esmerou-se em satisfazê-la com paciência e bom humor. A diferença de idade e o seu temperamento autoritário compensavam a ligeireza de Violette, que se deixava guiar nalgumas matérias práticas para lhe agradar, mas mantinha a sua independência e defendia os seus segredos.
Loula administrava o dinheiro e escolhia os clientes com a cabeça fria. Uma vez, Relais encontrou Violette com um olho negro e, furioso, quis saber quem fora o causador para o fazer pagar muito caro o atrevimento. «Loula já o fez pagar. Arranjamo-nos muito bem sozinhas», riu-se ela, e não houve maneira de a fazer confessar o nome do agressor. A formidável escrava sabia que a saúde e a beleza da sua ama eram o capital de ambas e que chegaria o momento em que, inevitavelmente, começariam a diminuir; também se devia considerar a concorrência das novas fornadas de adolescentes que todos os anos tomavam a profissão de assalto. Era uma pena que o capitão fosse pobre, pensava Loula, porque Violette merecia uma boa vida. O amor parecia-lhe irrelevante, porque o confundia com a paixão e tinha visto como esta dura pouco, mas não se atreveu a recorrer a intrigas para se livrar de Relais. Esse homem era de temer. Além disso, Violette não manifestava pressa em casar-se, e entretanto poderia aparecer outro pretendente com melhor situação financeira. Loula decidiu poupar a sério; não bastava acumular quinquilharia num buraco, era preciso esmerar-se em investimentos mais imaginativos, para o caso de o casamento com o oficial não resultar. Conteve as despesas e subiu a tarifa da sua ama, e quanto mais caro cobrava, mais exclusivos se consideravam os seus favores. Encarregou-se de atiçar a fama de Violette com uma estratégia de boatos: dizia que a sua ama conseguia manter um homem dentro dela a noite toda ou ressuscitar, doze vezes seguidas, a energia do mais extenuado; tinha-o aprendido com uma moura e exercitava-se com um ovo de pomba — ia às compras, ia ao teatro e às lutas de galos com o ovo no seu lugar secreto sem o quebrar nem o deixar cair. Não faltou quem se batesse em duelo pela jovem poule, o que contribuiu enormemente para o seu prestígio. Os brancos mais ricos e influentes eram anotados docilmente na lista e esperavam a sua vez. Foi Loula quem idealizou o plano de investir em ouro para que as poupanças não lhes escorregassem como areia entre os dedos. Relais, que não estava em condições de contribuir com muito, deu o anel da mãe a Violette, a única coisa que lhe restava da família.
A noiva de Cuba
Em Outubro de 1778, ao oitavo ano da sua permanência na ilha, Toulouse Valmorain realizou outra das suas breves viagens a Cuba, onde tinha negócios que não lhe convinha divulgar. Como todos os colonos de Saint-Domingue, só devia fazer comércio com França, mas havia mil maneiras engenhosas de burlar a lei, e ele conhecia várias. Não se sentia pecador por fugir aos impostos que, no fim de contas, acabavam nos cofres sem fundo do Rei. A atormentada costa prestava-se a que uma embarcação discreta se afastasse rumo a outras enseadas do Caribe sem que ninguém desse por ela, e a permeável fronteira com a parte espanhola da ilha, menos povoada e muito mais pobre do que a francesa, permitia um constante bulício de tráfico nas costas das autoridades. Passava-se todo o tipo de contrabando, desde armas até meliantes, mas sobretudo sacos de açúcar, café e cacau das plantações, que dali partiam para outros destinos, contornando os postos aduaneiros.
Depois de Valmorain se ter libertado das dívidas do pai e ter começado a acumular mais lucros do que os sonhados, decidiu manter reservas de dinheiro em Cuba, onde estariam mais seguras do que em França, e à mão, em caso de necessidade. Chegou a Havana com a intenção de ficar só uma semana para ter uma reunião com o seu banqueiro, mas a visita prolongou-se mais do que o planeado porque, num baile do Consulado de França, conheceu Eugenia Garcia del Solar. De um recanto do pretensioso salão, viu ao longe uma opulenta jovem de pele diáfana, coroada por uma mata de cabelo castanho e vestida como uma provinciana, o oposto da garbosa Violette Boisier, mas não menos bela aos seus olhos. Distinguiu-a de imediato entre a multidão do salão de baile e, pela primeira vez, sentiu-se pouco à vontade. O seu traje, adquirido em Paris vários anos antes, já não se usava, o sol curtira-lhe a pele como couro, tinha as mãos de um ferreiro, a peruca picava-lhe a cabeça, as rendas do pescoço asfixiavam-no e apertavam-lhe os sapatos de peralta, pontiagudos e de saltos tortos, que o obrigavam a caminhar como um pato. As suas atitudes, antes refinadas, tornavam-se bruscas comparadas com a desenvoltura dos cubanos. Os anos passados na plantação tinham-no endurecido por dentro e por fora, e agora, quando mais necessitava delas, faltavam-lhe as artes cortesãs que tão naturais eram na sua juventude. Para cúmulo, os bailes na moda eram um rápido enredo de piruetas, vénias, voltas e saltinhos, que se achava incapaz de imitar.
Veio a saber que a jovem era irmã de um espanhol, Sancho Garcia del Solar, de uma família da baixa nobreza, com apelido pomposo, mas empobrecida desde há um par de gerações. A mãe tinha posto fim aos seus dias saltando do campanário de uma igreja e o pai morreu jovem depois de ter delapidado os bens familiares. Eugenia foi educada num gelado convento de Madrid, onde as freiras lhe inculcaram o necessário para adornar o carácter de uma dama: recato, orações e bordado. Entretanto, Sancho chegou a Cuba à procura de fortuna, porque em Espanha não havia espaço para uma imaginação tão desbocada como a sua; em contrapartida, a ilha caribenha, onde iam parar aventureiros de toda a laia, prestava-se a negócios lucrativos, embora nem sempre lícitos. Ali levava uma buliçosa vida de solteiro, na corda bamba das suas dívidas, que pagava com dificuldade e sempre à última da hora, mediante apostas nas mesas de jogo e a ajuda dos seus amigos. Era bem-parecido, possuía uma língua de ouro para vigarizar o próximo e sabia armar tão bem que ninguém suspeitava do tamanho dos buracos nos seus bolsos. De repente, quando menos o desejava, as freiras enviaram-lhe a irmã, acompanhada de uma senhora e uma simples carta a explicar que Eugenia carecia de vocação religiosa, e agora era a vez de ele, o seu único parente e guardião, se encarregar dela.
Com a jovem virgem debaixo do seu tecto, acabaram-se as farras de Sancho, tinha o dever de lhe encontrar um marido adequado antes que passasse a idade e ficasse para vestir santos, com vocação ou sem ela. A sua intenção era casá-la com o melhor licitador, alguém que os tirasse a ambos da escassez em que os mergulhara a derrocada dos seus pais, mas nunca pensou que o peixe seria tão grande como Toulouse Valmorain. Sabia muito bem quem era e quanto valia o francês, trazia-o debaixo de olho para lhe propor uns negócios, mas não lhe apresentou a irmã no baile porque estava em franca desvantagem, comparada com as célebres belezas cubanas. Eugenia era tímida, não vestia roupa adequada, e ele não lha podia comprar, não sabia pentear-se, embora felizmente lhe sobrasse cabelo, e não tinha a medida minúscula imposta pela moda. Precisamente por isso, ficou surpreendido quando, no dia seguinte, Valmorain lhe pediu licença para os visitar com intenções sérias, como manifestou.
— Deve ser um velho patolas — troçou Eugenia, quando soube, dando uma pancadinha no irmão com o leque fechado.
— É um cavalheiro culto e rico, mas, mesmo que fosse corcunda, casavas-te na mesma. Vais fazer vinte anos e não tens dote...
— Mas sou bonita! — interrompia-o ela, a rir-se.
— Há muitas mulheres mais bonitas e magras do que tu, em Havana.
— Achas-me gorda? — Não te podes fazer rogada, e muito menos tratando-se de Valmorain. É um excelente partido e possui títulos e propriedades em França, embora o grosso da sua fortuna seja uma plantação de açúcar em Saint-Domingue — explicou-lhe Sancho.
— São Domingos? — perguntou ela, alarmada.
— Saint-Domingue, Eugenia. A parte francesa da ilha é muito diferente da espanhola. Vou mostrar-te um mapa, para que vejas que está muito próxima; poderás vir visitar-me quando quiseres.
— Não sou uma ignorante, Sancho. Sei que essa colónia é um purgatório de doenças mortais e negros revoltados.
— Será só por um tempo. Os colonos brancos partem assim que podem. Dentro de uns anos, estarás em Paris. Não é esse o sonho de todas as mulheres? — Não sei falar francês.
— Aprenderás. A partir de amanhã, vais ter um tutor — concluiu Sancho.
Se Eugenia Garcia del Solar planeava opor-se aos desígnios do irmão, desistiu da ideia assim que Toulouse Valmorain se apresentou em sua casa. Era mais jovem e atraente do que ela esperava, de estatura média, bem proporcionado, com costas largas, um rosto viril de feições harmoniosas, a pele bronzeada pelo sol e os olhos cinzentos. Tinha uma expressão dura na boca de lábios finos. Sob a peruca torta, assomavam uns cabelos louros e notava-se que não se sentia à vontade com a roupa, que lhe ficava apertada. Eugenia gostou da sua maneira de falar, sem rodeios, e de ele a olhar como se a despisse, provocando-lhe um formigueiro pecaminoso que teria horrorizado as freiras do lúgubre convento de Madrid. Pensou que era pena que Valmorain vivesse em Saint-Domingue, mas se o irmão não a tinha enganado, seria por pouco tempo. Sancho convidou o pretendente a beber sambumbia(1) de mel de cana na pérgula do jardim e, em menos de meia hora, o assunto deu-se tacitamente por concluído.
(1) Bebida cubana feita com água, mel e pimento. (N. do T.)
Eugenia não ficou ao corrente dos posteriores pormenores, que foram resolvidos pelos homens à porta fechada; ela ocupou-se apenas do seu enxoval. Encomendou-o em França, aconselhada pela mulher do cônsul, e o seu irmão financiou-o com um empréstimo usurário conseguido graças à sua irresistível eloquência de charlatão. Nas suas missas matinais, Eugenia agradecia a Deus com fervor a sorte caída do céu de se casar por conveniência com alguém que poderia vir a amar.
Valmorain ficou em Cuba um par de meses a cortejar Eugenia com métodos improvisados, porque tinha perdido o costume de se relacionar com mulheres como ela; os métodos utilizados com Violette Boisier não serviam neste caso. Aparecia em casa da sua prometida todos os dias, desde as quatro até às seis da tarde, para tomar um refresco e jogar às cartas, sempre na presença da religiosa inteiramente vestida de preto que fazia rendas de bilros com um olho e os vigiava com o outro. A vivenda de Sancho deixava muito a desejar e Eugenia não possuía vocação doméstica e nem fez nada para arrumar um pouco as coisas. Para evitar que a sujidade do mobiliário estragasse a roupa do noivo, recebia-o no jardim, onde a voraz vegetação do trópico se manifestava como uma ameaça botânica. Às vezes, iam passear acompanhados de Sancho ou viam-se ao longe, na igreja, onde não podiam falar-se.
Valmorain notara as precárias condições em que viviam os Garcia del Solar e deduziu que, se a sua noiva se sentia bem ali, com mais razão se sentiria bem na habitation Saint-Lazare. Enviava-lhe delicadas prendas, flores e bilhetes formais que ela guardava num cofre forrado de veludo mas deixava sem resposta. Até então, Valmorain tinha-se relacionado pouco com espanhóis, as suas amizades eram francesas, mas rapidamente verificou que se sentia bem entre eles. Não teve problemas para comunicar, porque o segundo idioma da classe alta e da gente culta em Cuba era o francês. Confundiu os silêncios da sua prometida com recato, a seus olhos uma apreciável virtude feminina, e não lhe ocorreu que ela mal o entendia. Eugenia não tinha bom ouvido e os esforços do tutor revelaram-se insuficientes para lhe inculcar as subtilezas da língua francesa. A discrição de Eugenia e as suas atitudes de noviça pareceram-lhe uma garantia de que não incorreria na conduta dissoluta de tantas mulheres de Saint-Domingue, que se esqueciam do pudor com o pretexto do clima. Assim que compreendeu o temperamento espanhol, com o seu exagerado sentido da honra e a sua falta de ironia, sentiu-se à vontade com a rapariga e aceitou de bom grado a ideia de se aborrecer conscientemente com ela. Não se importava. Desejava uma esposa honrada e uma mãe exemplar para a sua descendência; para se entreter, tinha os seus livros e os seus negócios.
Sancho era o oposto da irmã e de outros espanhóis que Valmorain conhecia: cínico, leviano por temperamento, descrente e com a habilidade para apanhar no ar as oportunidades que pairavam. Embora alguns aspectos do seu futuro cunhado o chocassem, Valmorain divertia-se com ele e deixava-se levar, disposto a perder uma maquia pelo prazer da conversa engenhosa e de se rir um bocado. Como primeiro passo, converteu-o em sócio de um contrabando de vinhos franceses que planeava levar a cabo de Saint-Domingue para Cuba, onde eram muito apreciados. Isso deu início a uma longa e sólida cumplicidade que haveria de os unir até à morte.
A casa do amo Em finais de Novembro, Toulouse Valmorain regressou a Saint-Domingue para preparar a chegada da sua futura esposa. Como todas as plantações, Saint-Lazare contava com a «casa grande», que, neste caso, pouco mais era do que uma barraca rectangular de madeira e ladrilhos, assente sobre pilares com três metros acima do nível do terreno, para impedir inundações na estação dos furacões e defender-se de uma revolta dos escravos. Contava com uma série de dormitórios escuros, vários deles com as tábuas podres, e um salão e uma sala de jantar amplos, equipados com janelas opostas, para que a brisa circulasse, e um sistema de leques de lona pendurados no tecto, que os escravos accionavam puxando uma corda. Com o vaivém dos ventiladores, libertava-se uma ténue nuvem de pó e asas secas de mosquitos, que se depositava na roupa como caspa. As janelas não tinham vidros mas papel encerado e os móveis eram toscos, próprios da morada provisória de um homem só. No tecto, os morcegos faziam ninho, nos cantos costumavam esconder-se as osgas, e à noite ouviam-se os passinhos dos ratos nos quartos. Uma arcada ou terraço coberto, com desengonçados móveis de vime, envolvia a casa por três lados. À volta havia uma descuidada horta de legumes e árvores de fruto amontoadas, vários pátios onde debicavam galinhas confusas com o calor, um estábulo para os cavalos de raça, os canis e uma cocheira; mais ao longe, o rugido de um mar imenso de canaviais e, como pano de fundo, as montanhas de cor violeta perfiladas contra um céu caprichoso. Talvez antes tivesse havido um jardim, de que não havia sequer recordação. Os moinhos, as cabanas e as barracas dos escravos não se viam a partir da casa. Toulouse Valmorain percorreu tudo com olho crítico, notando pela primeira vez a sua precariedade e ordinarice. Comparada com a vivenda de Sancho, era um palácio, mas frente às mansões de outros grands blancs da ilha e ao pequeno château da sua família em França, que ele não pisava havia oito anos, era de uma fealdade vergonhosa. Decidiu começar a sua vida de casado com o pé direito e dar à sua esposa a surpresa de uma casa digna dos apelidos Valmorain e Garcia del Solar. Era preciso fazer algumas obras.
Violette Boisier recebeu a notícia do casamento do seu cliente com filosófico bom humor. Loula, que estava sempre ao corrente de tudo, disse-lhe que Valmorain tinha uma prometida em Cuba. «Vai sentir a tua falta, meu anjo; garanto-te que voltará», disse. Assim foi. Pouco depois Valmorain bateu à porta de sua casa, não à procura dos serviços habituais mas para que a sua antiga amante o ajudasse a receber a sua mulher como devia ser. Não sabia por onde começar e não lhe ocorreu outra pessoa a quem pedir esse favor.
— É verdade que as espanholas dormem com uma camisa de dormir de freira, com um ilhó à frente para fazer amor? — perguntou-lhe Violette.
— Como é que eu sei? Ainda não me casei, mas, se for esse o caso, arranco-lho de vez — riu-se o noivo.
— Não, homem. Trazes-me a camisa de dormir e eu e a Loula abrimos outro ilhó atrás — disse ela.
A jovem cocotte dispôs-se a ajudá-lo mediante uma comissão razoável de quinze por cento dos gastos de mobilar a casa. Pela primeira vez na sua relação com um homem, não estavam incluídas cambalhotas na cama, e empreendeu a tarefa com entusiasmo. Deslocou-se com Loula a Saint-Lazare para ficar com uma ideia da missão de que a tinham encarregado e, assim que transpôs o umbral, caiu-lhe no decote uma lagartixa do tecto artesanal. A sua gritaria atraiu vários escravos do pátio, que ela recrutou para fazer uma limpeza a fundo. Durante uma semana, a bela cortesã que Valmorain tinha visto à luz dourada dos castiçais, ataviada de seda e tafetá, maquilhada e perfumada, dirigiu o grupo de escravos descalça, com uma bata de tecido grosseiro e um trapo a envolver-lhe a cabeça. Parecia nas suas sete quintas, como se tivesse feito aquele rude trabalho toda a vida. Sob as suas ordens, rasparam as tábuas sãs e substituíram as apodrecidas, mudaram o papel das janelas e os mosquiteiros, arejaram, puseram veneno para os ratos, queimaram tabaco para espantar os bichos, mandaram os móveis estragados para a azinhaga dos escravos e, no final, a casa ficou limpa e vazia. Violette mandou pintar de branco por fora, e como sobrou cal, utilizou-a nas cabanas dos escravos domésticos, que ficava perto da casa grande; a seguir, mandou plantar amores-perfeitos roxos ao pé da arcada. Valmorain decidiu manter a casa asseada e destinou vários escravos para fazer um jardim inspirado em Versalhes, embora o clima agreste não se prestasse à arte geométrica dos paisagistas da corte francesa.
Violette regressou a Le Cap com uma lista de compras. «Não gastes demasiado, esta casa é temporária. Assim que arranjar um bom administrador-geral, iremos para França», disse-lhe Valmorain, entregando-lhe uma quantia que lhe pareceu justa. Ela não ligou à advertência, porque não havia coisa de que mais gostasse do que fazer compras.
Pelo porto de Le Cap, saía o tesouro inesgotável da colónia e entravam os produtos legais e o contrabando. Uma multidão heterogénea acotovelava-se nas ruas enlameadas, a regatear em muitas línguas entre carroças, mulas, cavalos e matilhas de cães sem dono que se alimentavam de lixo. Ali vendia-se desde luxos de Paris e chinesices do Oriente, até ao espólio dos piratas, e todos os dias, menos ao domingo, rematavam-se escravos para cobrir a procura: entre vinte e trinta mil por ano, só para manter o número estável, porque duravam pouco. Violette gastou o que tinha na bolsa, e continuou a adquirir a crédito com o nome de Valmorain como garantia. Apesar da sua juventude, escolhia com grande cuidado porque a vida mundana tinha-a forjado e tinha-lhe polido o gosto. Ao capitão de um barco que fazia a travessia entre as ilhas, encomendou talheres de prata, uma cristaleira e um serviço de porcelana para as visitas. A noiva devia trazer lençóis e toalhas bordadas, sem dúvida, desde a infância, pelo que não se ocupou com isso. Conseguiu móveis de França para o salão, uma pesada mesa americana com dezoito cadeiras destinada a durar várias gerações, tapetes holandeses, biombos laçados, arcas espanholas para a roupa, um excesso de candelabros de ferro e lamparinas de azeite, porque defendia que não era possível viver-se às escuras, louça de Portugal para o uso diário e um conjunto de adornos, mas nada de carpetes porque apodreciam com a humidade. Os comptoirs encarregaram-se de enviar as compras e entregar a conta a Valmorain. Em breve começaram a chegar à habitation Saint-Lazare carroças carregadas até cima com caixotes e canastras; por entre a palha, os escravos retiravam uma série interminável de objectos: relógios alemães, gaiolas de pássaros, caixas chinesas, réplicas de estátuas romanas mutiladas, espelhos venezianos, gravuras e pinturas de diversos estilos escolhidos pelo seu tema, uma vez que Violette nada sabia de arte, instrumentos musicais que ninguém sabia tocar e até um incompreensível conjunto de vidros grossos, tubos e rodinhas de bronze, que Valmorain montou como um quebra-cabeças e se revelou ser um binóculo para espiar os escravos a partir da arcada. Toulouse achou os móveis ostentosos e os adornos completamente inúteis, mas resignou-se porque não os podia devolver. Uma vez concluída a orgia de despesas, Violette cobrou a sua comissão e anunciou que a futura esposa de Valmorain ia necessitar de serviço doméstico, uma boa cozinheira, criados para a casa e uma donzela. Era o mínimo exigido, como lhe tinha garantido Madame Delphine Pascal, que conhecia toda a gente da boa sociedade em Le Cap.
— Menos a mim — indicou Valmorain.
— Queres que te ajude ou não? — Está bem, vou ordenar a Prosper Cambray que treine alguns escravos.
— Não, homem! Nisto não podes poupar! Os do campo não servem, estão embrutecidos. Eu mesma me encarregarei de te encontrar os domésticos — decidiu Violette.
Zarité ia fazer nove anos quando Violette a comprou a Madame Delphine, uma francesa de caracóis suaves como algodão e peito de pavão, já madura mas bem conservada, tendo em conta os estragos que o clima causava. Delphine Pascal era viúva de um modesto funcionário civil francês, mas dava-se ares de pessoa de berço devido às suas relações com os grands blancs, embora estes só recorressem a ela para negócios sujos. Estava ao corrente de muitos segredos, que lhe davam vantagem no momento de obter favores. Aparentemente, vivia da pensão do seu falecido marido e das aulas de clavicórdio que dava a senhoritas, mas, pela calada, revendia objectos roubados, servia de parteira e, em caso de emergência, fazia abortos. Também à socapa, ensinava francês a algumas cocottes que pretendiam passar por brancas e, apesar de terem a cor apropriada, eram atraiçoadas pelo sotaque. Foi assim que conheceu Violette Boisier, uma das mais claras entre as suas alunas, mas sem qualquer pretensão de se afrancesar; pelo contrário, a rapariga referia sem complexos a sua avó senegalesa. Interessava-lhe falar francês correctamente para se fazer respeitar entre os seus amigos brancos. Madame Delphine só tinha dois escravos: Honoré, um velho para todo o serviço, cozinha incluída, adquirido muito barato porque tinha os ossos tortos, e Zarité — Tété — uma mulatinha que chegou às suas mãos com poucas semanas de vida e não lhe tinha custado nada. Quando Violette a obteve para Eugenia Garcia del Solar, a rapariguinha estava fraca, puras linhas verticais e ângulos, com uma mata de cabelo farto e impenetrável, mas movimentava-se com graça, tinha um rosto nobre e belos olhos cor de mel. Talvez descendesse de uma senegalesa como ela, pensava Violette. Tété tinha aprendido muito cedo as vantagens de calar e cumprir ordens com expressão vazia, sem dar mostras de entender o que se passava à sua volta, mas Violette suspeitou sempre que era muito mais espevitada do que se podia calcular à primeira vista. Habitualmente, não reparava nos escravos — à excepção de Loula, considerava-os mercadoria -, mas aquela criatura despertava-lhe simpatia. Em alguns aspectos, eram parecidas, embora ela fosse livre, bela, e com a vantagem de ter sido mimada pela sua mãe e desejada por todos os homens que se cruzaram no seu caminho. Tété não tinha nada disso; era apenas uma escrava esfarrapada, mas Violette intuiu a sua força de carácter. Com a idade de Tété, também ela tinha sido um molho de ossos, até que na puberdade ganhou formas, as arestas converteram-se em curvas e definiram-se as formas que lhe dariam fama. Então, a mãe começou a treiná-la na profissão que lhe tinha dado benefícios, assim não daria cabo das costas como criada. Violette revelou-se uma boa aluna e, na época em que a mãe foi assassinada, já podia valer-se sozinha com a ajuda de Loula, que a defendia com zelosa lealdade. Graças a essa boa mulher, não necessitava da protecção de um chulo e prosperava num negócio ingrato em que outras jovens deixavam a saúde e às vezes a vida. Assim que surgiu a ideia de arranjar uma escrava pessoal para a esposa de Toulouse Valmorain, lembrou-se de Tété.
— Porque te interessas tanto por essa ranhosa? — perguntou-lhe Loula, sempre desconfiada, quando ficou ao corrente das suas intenções.
— É uma intuição, creio que um dia os nossos caminhos se vão cruzar — foi a única explicação que ocorreu a Violette. Loula consultou as conchas de búzio sem obter uma resposta satisfatória; esse método de adivinhação não se prestava para esclarecer assuntos fundamentais, só os de pouca monta.
Madame Delphine recebeu Violette numa minúscula sala, onde o clavicórdio parecia do tamanho de um paquiderme. Sentaram-se em frágeis cadeiras de pernas curvas a tomar café em chávenas para anões, pintadas com flores, e a conversar de tudo e de nada, como tinham feito outras vezes. Depois de alguns rodeios, Violette expôs o motivo da sua visita. A viúva ficou surpreendida por alguém reparar na insignificante Tété, mas era rápida e cheirou de imediato a possibilidade de algum lucro.
— Não estava a pensar vender Tété, mas tratando-se de si, uma amiga tão querida...
— Espero que a rapariga seja saudável. Está muito magra -interrompeu-a Violette.
— Não é por falta de comida! — exclamou a viúva, ofendida. Serviu mais café, e a seguir falaram do preço, que a Violette pareceu exagerado. Quanto mais pagasse, maior seria a sua comissão, mas não podia vigarizar Valmorain tão descaradamente; toda a gente sabia o preço dos escravos, especialmente os plantadores, que estavam sempre a comprá-los. Uma ranhosa esquálida não era um artigo de valor, mas sim algo que se oferece para retribuir uma atenção.
— Tenho pena de me desprender de Tété — suspirou Madame Delphine, a limpar uma lágrima invisível, depois de terem acertado o valor. — É uma boa rapariga, não rouba e fala francês como deve ser. Nunca lhe permiti que se dirigisse a mim na algaraviada dos negros. Em minha casa ninguém dá cabo da bela língua de Molière.
— Não sei para que é que isso lhe vai servir — comentou Violette, divertida.
— Como, para quê! Uma donzela que fala francês é muito elegante. Tété vai servi-la bem, garanto-lhe. Por outro lado, mademoiselle, confesso-lhe que tinha de lhe dar algumas tareias para lhe tirar o péssimo hábito de fugir.
— Isso é grave! Dizem que não tem remédio...
— Assim é com alguns boçais que antes eram livres, mas Tété nasceu escrava. Liberdade?! Que arrogância! — exclamou a viúva, espetando os seus olhitos de galinha na rapariguinha, que esperava de pé junto à porta. — Mas não se preocupe, mademoiselle, não voltará a tentar. Da última vez, andou perdida vários dias, e, quando ma trouxeram, tinha sido mordida por um cão e ardia em febre. Não faz ideia do trabalho que tive para a curar, mas não se livrou do castigo! — Quando foi isso? — perguntou Violette, tomando nota do silêncio da escrava.
— Há um ano. Agora não se lembraria de semelhante disparate, mas em todo o caso, vigie-a. Tem o maldito sangue da mãe. Não seja branda com ela, precisa de mão dura.
— O que me disse da mãe? — Era uma rainha. Dizem todas que lá em África eram rainhas — troçou a viúva. — Chegou prenhe; é sempre assim, são como cadelas com cio.
— Apariade. Os marinheiros violam-nas nos barcos, como a senhora sabe. Nenhuma se livra — replicou Violette com um calafrio, a pensar na sua própria avó, que tinha sobrevivido à travessia do oceano.
— Essa mulher chegou ao ponto de querer matar a filha. Imagine! Tiveram de lha tirar das mãos. Monsieur Pascal, meu esposo, que Deus o tenha na sua glória, trouxe-me a miudinha como prenda.
— Que idade tinha nessa altura? — Um par de meses, não me recordo. Honoré, o meu outro escravo, pôs-lhe esse nome tão esquisito, Zarité, e criou-a com leite de burra; por isso, é forte e trabalhadora, embora também teimosa. Ensinei-lhe todas as tarefas domésticas. Vale mais do que lhe estou a pedir por ela, Mademoiselle Boisier. Só lha vendo porque penso regressar em breve a Marselha, ainda posso refazer a minha vida, não acha? — Com toda a certeza, madame — replicou Violette, examinando a cara empoada da mulher.
Levou Tété nesse mesmo dia, sem outros bens além dos farrapos que vestia e uma tosca boneca de pau das que os escravos usavam para as suas cerimónias vodu.
— Não sei onde encontrou essa porcaria — comentou Madame Delphine, tentando tirar-lha, mas a menina agarrou-se ao seu único tesouro com um tal desespero que Violette interveio. Honoré despediu-se de Tété a chorar e prometeu-lhe que iria visitá-la se lho permitissem.
Toulouse Valmorain não conseguiu evitar uma exclamação de desagrado quando Violette lhe mostrou quem tinha escolhido para criada da sua mulher. Esperava alguém mais velho, com melhor aspecto e experiência, não aquela criatura desgrenhada, marcada pela pancada, que se encolheu como um caracol quando ele lhe perguntou o nome, mas Violette garantiu-lhe que a sua esposa ia ficar muito satisfeita assim que ela a preparasse como devia ser.
— E quanto é que isso me vai custar? — O que acordarmos, quando Tété estiver pronta.
Três dias mais tarde, Tété decidiu-se a falar pela primeira vez para perguntar se aquele senhor ia ser o seu amo; julgava que Violette a tinha comprado para ela. «Não faças perguntas e não penses no futuro. Para os escravos só conta o dia de hoje», avisou-a Loula. A admiração que Tété sentia por Violette venceu a sua resistência e rapidamente se entregou entusiasmada ao ritmo da casa. Comia com a voracidade de quem tinha vivido com fome, e poucas semanas depois apresentava já um pouco de carne sobre o esqueleto. Estava ávida de aprender. Seguia Violette como um cão, devorando-a com os olhos, enquanto alimentava no mais secreto do seu coração o desejo impossível de vir a ser como ela, tão bonita e elegante, mas, acima de tudo, livre. Violette ensinou-a a fazer os elaborados penteados que estavam na moda, a dar massagens, engomar e passar a roupa delicada, e tudo o mais que a sua futura ama lhe podia exigir. Segundo Loula, não era necessário empenhar-se tanto, porque as espanholas careciam do refinamento das francesas, eram muito grosseiras. Ela mesma rapou o cabelo imundo de Tété e obrigava-a a tomar banho com frequência, hábito desconhecido para a rapariga, porque, segundo Madame Delphine, a água enfraquece; ela só passava um trapo húmido pelas partes escondidas e borrifava-se com perfume. Loula sentia-se invadida pela miúda, mal cabiam as duas no quartito que partilhavam de noite. Humilhava-a com ordens e insultos, mais por hábito do que por maldade, e costumava dar-lhe cachaços quando Violette estava ausente, mas não lhe regateava comida. «Quanto mais depressa engordares, mais depressa te vais embora», dizia-lhe. Em contrapartida, era de uma amabilidade requintada com o velho Honoré quando aparecia timidamente de visita. Instalava-o na sala, no melhor cadeirão, servia-lhe rum de qualidade e ouvia-o embevecida falar de tambores e artrite. «Este Honoré é um verdadeiro senhor. Quem nos dera que alguns dos teus amigos fossem tão finos como ele!», comentava depois a Violette.
Zarité
Durante um tempo, duas ou três semanas, não pensei fugir. Mademoiselle era divertida e bonita, tinha vestidos com muitas cores, cheirava aflores e saía à noite com os seus amigos, que depois vinham para casa e faziam das deles, enquanto eu tapava os ouvidos no quarto de Loula, embora os ouvisse na mesma. Quando mademoiselle despertava, por volta do meio-dia, levava-lhe a merenda à varanda, como me tinha ordenado, e nessa altura falava-me das suas festas e mostrava-me as prendas dos seus admiradores. Polia-lhe as unhas com um pedacinho de camurça e ficavam brilhantes como conchas, penteava-lhe o cabelo ondulado e esfregava-a com óleo de coco. Tinha apele como creme caramel, a sobremesa de leite e gema de ovos que Honoré às vezes me preparava nas costas de Madame Delphine. Aprendi depressa. Mademoiselle dizia que sou esperta e nunca me batia. Talvez não tivesse fugido se fosse ela a minha ama, mas estava a ensinar-me para servir uma espanhola numa plantação longe de Le Cap. O ela ser espanhola não era nada bom; segundo Loula, que sabia tudo e era adivinha, viu-me nos olhos que ia fugir antes de eu mesma o decidir, e anunciou-o a mademoiselle, mas ela não ligou. «Perdemos muito dinheiro! Que vamos fazer agora?», gritou Loula quando desapareci. «Esperamos», respondeu-lhe mademoiselle, e continuou a beber o seu café, muito tranquila. Em vez de contratar um caçador de negros fugidos, como se faz sempre, pediu ao seu noivo, o capitão Relais, que mandasse os seus guardas procurarem-me sem dar nas vistas, e que não me fizessem mal. Foi assim que me contaram. Foi muito fácil sair daquela casa. Embrulhei uma manga e um pão num lenço, saí pela porta da frente e fui-me embora sem correr, para não chamar a atenção. Também levei a minha boneca, que era sagrada, como os santos de Madame Delphine, mas mais poderosa, como me disse Honoré quando a talhou para mim. Honoré estava sempre afalar-me da Guiné, dos loas, do vodu, e avisou-me para nunca me aproximar dos deuses dos brancos, porque são nossos inimigos. Explicou-me que, na língua dos seus pais, vodu quer dizer espírito divino. A minha boneca representava Erzuli, loa do amor e da maternidade. Madame Delphine fazia-me rezar à Virgem Maria, uma deusa que não dança, só chora, porque lhe mataram o filho e porque nunca chegou a ter o prazer de estar com um homem. Honoré cuidou de mim nos meus primeiros anos, até que os ossos lhe ficaram nodosos como ramos secos, e então passei eu a cuidar dele. Que será feito de Honoré? Deve estar com os seus antepassados na ilha debaixo do mar, porque desde a última vez que o vi, sentado na sala da casa de madame na Praça Clugny, a beber café com rum e a saborear os pastelinhos de Loula, passaram trinta anos. Espero que tenha sobrevivido à revolução, com todas as suas atrocidades, e tenha conseguido ser livre na República Negra do Haiti antes de morrer tranquilamente de velhice. Sonhava ter um pedaço de terra, criar uma parelha de animais e plantar os seus vegetais, como faziam os seus pais no Daomé. Eu chamava-lhe avô, porque, segundo ele, não é preciso ser do mesmo sangue nem da mesma tribo para ser da mesma família, mas, na realidade, devia ter-lhe chamado maman. Foi a única mãe que conheci.
Ninguém me deteve nas ruas quando me fui embora de casa de mademoiselle, andei várias horas e creio que atravessei a cidade inteira. Perdi-me no bairro do porto, mas as montanhas avistavam-se ao longe e era tudo uma questão de caminhar nessa direcção. Nós, os escravos, sabíamos que os cimarrones estavam atrás das montanhas, mas não sabíamos que por detrás dos primeiros cumes havia muitos mais, tantos que não era possível contar. Fez-se noite, comi o pão e guardei a manga. Escondi-me num estábulo, debaixo de uma meda de palha, apesar de ter medo dos cavalos, com as suas patas como martelos e as narinas a fumegar. Os animais estavam muito perto, podia sentir a sua respiração através da palha, um bafo verde e doce como as ervas do banho de mademoiselle. Agarrada à minha boneca Erzuli, mãe da Guiné, dormi a noite inteira sem maus sonhos, agasalhada pelo calor dos cavalos. Quando amanheceu, entrou um escravo no estábulo e encontrou-me a ressonar e com os pés a espreitar por entre a palha; agarrou-me pelos tornozelos e puxou-me com um esticão. Não sei o que esperava encontrar, mas seguramente que não uma rapariguinha, porque, em vez de me pegar levantou-me no ar, levou-me à luz e observou-me com a boca aberta. «Estás louca? O que é que te deu para te esconderes aqui?», perguntou-me por fim, sem levantar a voz. «Tenho de chegar às montanhas», expliquei-lhe, também num sussurro. O castigo por ajudar um escravo fugido era sobejamente conhecido, e o homem hesitou. «Solta-me, por favor. Ninguém saberá que estive aqui», roguei-lhe. Pensou um bocado e finalmente ordenou-me que ficasse quieta no estábulo, assegurou-se de que não havia ninguém pelos arredores e saiu. Logo regressou com uma bolacha dura e uma cabaça com café muito açucarado, esperou que comesse, e depois indicou-me a saída da cidade. Se me tivesse denunciado, tinham-lhe dado uma recompensa, mas não o fez. Espero que Papa Bondye o tenha premiado. Desatei a correr e deixei para trás as últimas casas de Le Cap. Nesse dia, andei sem parar, apesar de me sangrarem os pés, e transpirava apensar nos cães dos caçadores de negros fugidos, a Maréchaussée. O sol estava a pique quando entrei na selva, verde, tudo verde, não se via o céu e a luz mal atravessava as folhas. Sentia o barulho de animais e o murmúrio dos espíritos. O trilho foi-se apagando. Comi a manga, mas vomitei-a quase a seguir. Os guardas do capitão Relais não perderam o seu tempo a procurar-me, porque voltei sozinha depois de passar a noite agachada entre as raízes de uma árvore viva — podia ouvir o seu coração a bater como o de Honoré. É assim que me recordo.
Passei o dia a caminhar sem parar, a perguntar a tudo e a todos até chegar de volta à Praça Clugny. Entrei em casa de mademoiselle tão faminta e cansada que mal senti a bofetada de Loula, que me atirou para longe. Entretanto, apareceu mademoiselle, que se estava a preparar para sair, ainda envolta no seu déshabillé e com o cabelo solto. Pegou-me por um braço, levou-me pelo ar até ao seu quarto e sentou-me na sua cama com um safanão; era muito mais forte do que parecia. Ficou empe, com os braços na cintura, a olhar para mim sem dizer nada, e depois passou-me um lenço para que eu limpasse o sangue da bofetada. «Porque voltaste?», perguntou-me. Eu não tinha resposta. Passou-me um copo de água, e então vieram-me as lágrimas como chuva quente, misturando-se com o sangue do nariz. «Agradece que não te açoite como mereces, ranhosa tonta. Onde pensavas ir?Para as montanhas?Nunca lá chegarias. Só alguns homens o conseguem, os mais desesperados e valentes. Se, por um milagre, conseguisses sair da cidade, atravessar os bosques e os pântanos sem pisar as plantações, onde serias devorada pelos cães, evitar os milicianos, os demónios e as serpentes venenosas e chegasses às montanhas, os cimarrones matavam-te. Para que queriam uma rapariguita como tu? És capaz de caçar, de lutar, de empunhar uma catana? Sabes ao menos dar alegria a um homem?» Tive de admitir que não. Disse-me que tirasse proveito da minha sorte, que não era má. Supliquei-lhe que me permitisse ficar com ela, mas disse que não precisava de mim para nada. Aconselhou-me aportar-me bem se não queria acabar a cortar cana. Estava a treinar-me para escrava pessoal de Madame Valmorain, um trabalho leve: viveria na casa e comeria bem, estaria melhor do que com Madame Delphine. Acrescentou que não fizesse caso de Loula, que ser espanhola não era uma doença, apenas significava falar de uma maneira diferente da nossa. Ela conhecia o meu novo amo, disse, um cavalheiro decente; qualquer escrava estaria contente por lhe pertencer. «Eu quero ser livre, como a senhora», disse-lhe, entre soluços. Então, falou-me da sua avó, raptada no Senegal, onde se dá a gente mais bela do mundo. Foi comprada por um comerciante rico, um francês que tinha uma esposa em França, mas que se apaixonou por ela assim que a viu no mercado de negros. Ela deu-lhe vários filhos e ele emancipou-os a todos; pensava educá-los para que prosperassem, como tanta gente de cor em Saint-Domingue, mas morreu de repente e deixou-os na miséria, porque a sua esposa reclamou todos os seus bens. A avó senegalesa montou uma banca de fritos no porto para manter a família, mas a sua filha mais nova, com doze anos, não quis arruinar-se a amanhar peixe entre fumaradas de azeite rançoso, e optou por dedicar-se a atender cavalheiros. Essa menina, que herdou a nobre beleza da sua mãe, chegou a converter-se na cortesã mais solicitada da cidade, e, por sua vez, teve uma filha, Violette Boisier, a quem ensinou o que sabia. Assim mo contou mademoiselle. «Se não fossem os ciúmes de um branco que a matou, a minha mãe ainda hoje seria a rainha da noite em Le Cap. Mas não tenhas ilusões, Tété, histórias de amor como a da minha avó acontecem muito raramente. O escravo fica escravo. Se foge e tem sorte, morre na fuga. Se não a tem, apanham-no vivo. Tira a liberdade do coração, é o melhor que podes fazer», disse-me. A seguir, levou-me a Loula para que me desse de comer.
Quando o amo Valmorain me foi buscar umas semanas mais tarde, não me reconheceu, porque eu tinha engordado, estava limpa, com o cabelo curto e um vestido novo que Loula costurou para mim. Perguntou-me o nome e respondi-lhe com a minha voz mais firme, sem levantar os olhos, porque nunca se olha um branco na cara. «Zarité de Saint-Lazare, amo», como me tinha instruído mademoiselle. O meu novo amo sorriu e antes de partirmos deixou uma bolsa. Eu não soube quanto pagou por mim. Na rua esperava outro homem com dois cavalos, que me examinou de alto a baixo e me fez abrir a boca para me ver os dentes. Era Prosper Cambray, o chefe dos capatazes. Com um esticão, subiu-me para a garupa do seu corcel, um animal alto, largo e quente, que resfolegava, inquieto. As minhas pernas não tinham altura para me segurar e tive de me agarrar à cintura do homem. Nunca tinha andado a cavalo, mas engoli o medo: ninguém se importava com o que eu sentisse. O amo Valmorain também montou e afastámo-nos a passo. Voltei-me para olhar a casa. Mademoiselle estava à varanda, a despedir-se de mim com a mão, até que dobrámos a esquina e já não a consegui ver. É assim que me recordo.
A expiação
Suor e mosquitos, coaxar dos sapos e chicote, dias de cansaço e noites de medo para a caravana de escravos, capatazes, soldados a soldo dos amos, Toulouse e Eugenia Valmorain. Demorariam três longas jornadas desde a plantação até Le Cap, que continuava a ser o porto mais importante da colónia, embora já não fosse a capital, que tinha sido transferida para Port-au-Prince com a esperança de controlar melhor o território. A medida serviu de pouco: os colonos burlavam a lei, os piratas passeavam-se pela costa e milhares de escravos fugiam para as montanhas. Esses cimarrones, cada vez mais numerosos e atrevidos, abatiam-se sobre as plantações e os viajantes com justificada fúria. O capitão Étienne Relais, «o mastim de Saint-Domingue», tinha capturado cinco dos chefes, missão difícil, porque os fugitivos conheciam o terreno, moviam-se como a brisa e escondiam-se em pontos altos, inacessíveis aos cavalos. Armados só com facas, catanas e paus, não se atreviam a enfrentar os soldados em campo aberto; aquilo era uma guerra de escaramuças, assaltos de surpresa e retiradas, incursões nocturnas, roubos, incêndios e assassinatos, que esgotavam as forças regulares da Maréchaussée e do Exército. Os escravos das plantações protegiam-nos, uns porque esperavam juntar-se a eles, outros porque os temiam. Relais nunca descurava a vantagem dos cimarrones, gente desesperada que defendia a vida e a liberdade, sobre os seus soldados, que apenas obedeciam a ordens. O capitão era de ferro, seco, magro, forte, puro músculo e nervos, tenaz e corajoso, com olhos frios e sulcos profundos num rosto sempre exposto ao sol e ao vento, de poucas palavras, rigoroso, impaciente e severo. Ninguém se sentia à vontade na sua presença, nem os grands blancs cujos interesses protegia, nem os petits blancs a cuja classe pertencia, nem os affranchis que compunham a maior parte das suas tropas. Os civis respeitavam-no porque impunha a ordem e os soldados porque não lhes exigia nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Demorou a encontrar os rebeldes nas montanhas, seguindo inumeráveis pistas falsas, mas nunca duvidou de que conseguiria. Obtinha informações com métodos tão brutais, que em tempos normais não seriam mencionados na sociedade, mas, desde a época de Macandal, inclusive as damas se enfureciam com os escravos revoltados; as mesmas que desfaleciam perante um lacrau ou o cheiro a merda não perdiam os suplícios, e depois comentavam-nos entre copos de refresco e bolinhos.
Le Cap, com as suas casas de telhados vermelhos, ruelas buliçosas e mercados, com o porto onde havia sempre dúzias de barcos ancorados para voltar para a Europa com o tesouro do açúcar, tabaco, índigo e café, continuava a ser a Paris das Antilhas, como lhe chamavam os colonos franceses por piada, uma vez que a aspiração comum era fazer fortuna rápida e regressar a Paris para esquecer o ódio que pairava no ar da ilha, como as nuvens de mosquitos e o fedor de Abril. Alguns deixavam as plantações nas mãos de gerentes ou administradores, que tratavam delas como lhes apetecia, roubando e explorando os escravos até à morte, mas eram perdas calculadas, o preço por voltar para a civilização. Não era o caso de Toulouse Valmorain, que já estava enterrado há vários anos na habitation Saint-Lazare.
O chefe dos capatazes, Prosper Cambray, refreava a sua ambição e andava com cuidado porque o seu patrão era desconfiado e não se revelou presa fácil, como pensou a princípio, mas tinha a esperança de que não durasse muito na colónia: não tinha os tomates e o sangue grosso que uma plantação exige, e, além disso, carregava com a espanhola, aquela mulherzinha adoentada dos nervos cujo único desejo era fugir dali.
Durante a época seca, era possível fazer-se a travessia até Le Cap num dia inteiro, com bons cavalos, mas Toulouse Valmorain viajava com Eugenia numa liteira e os escravos a pé. Tinha deixado na plantação as mulheres, as crianças e os homens que já tinham perdido a vontade e não precisavam de uma expiação. Cambray tinha escolhido os mais jovens, os que ainda podiam sonhar com a liberdade. Por muito que os commandeurs fustigassem as pessoas, não podiam apurá-las mais do que a capacidade humana. A estrada era irregular e estavam em plena estação das chuvas. Só o instinto dos cães e o olho certeiro de Prosper Cambray, créole, nascido na colónia e conhecedor do terreno, impediam que se perdessem na vegetação, onde os sentidos se confundiam e se podia andar sempre às voltas. Iam todos assustados: Valmorain de um assalto dos cimarrones ou de uma rebelião dos seus escravos — não seria a primeira vez que, perante a possibilidade de fugir, os negros opunham o peito nu às armas de fogo -, os escravos temiam os chicotes e os espíritos maléficos do bosque, e Eugenia as suas próprias alucinações. Cambray só tremia perante os mortos-vivos, os zumbis, e esse temor não consistia na possibilidade de os enfrentar, porque eram muito escassos e tímidos, mas sim em acabar convertido num. O zumbi era escravo de um bruxo, um bokor, e nem a morte o podia libertar, porque já estava morto.
Prosper Cambray tinha percorrido muitas vezes aquela região, a perseguir fugitivos com outros milicianos da Maréchaussée. Sabia decifrar os sinais da Natureza, marcas invisíveis para outros olhos, conseguia seguir um rasto como o melhor dos sabujos, cheirar o medo e o suor de uma presa a várias horas de distância, ver de noite como os lobos, adivinhar uma rebelião, antes De esta fermentar, e demoli-la. Vangloriava-se de que sob o seu comando poucos escravos tinham fugido de Saint-Lazare. O seu método consistia em quebrar-lhes a alma e a vontade. Só o medo e o cansaço venciam a sedução da liberdade. Produzir, produzir, produzir até ao último fôlego, que não tardava muito a chegar, porque ninguém ali envelhecia os ossos três ou quatro anos, nunca mais de seis ou sete. «Não te excedas com os castigos, Cambray, porque me enfraqueces o pessoal», tinha-lhe ordenado Valmorain em mais de uma ocasião, enojado com as chagas purulentas e as amputações, que inutilizavam para o trabalho, mas nunca o contradizia diante dos escravos; a palavra do chefe dos capatazes devia ser inapelável para manter a disciplina. Assim o desejava Valmorain, porque tinha repugnância em relacionar-se com os negros. Preferia que Cambray fosse o verdugo, reservando para si o papel de amo benevolente, o que condizia com os ideais humanistas da sua juventude. Segundo Cambray, era mais rentável substituir os escravos do que tratá-los com consideração; uma vez amortizado o seu custo, era conveniente explorá-los até à morte e depois comprar outros mais jovens e fortes. Se alguém tinha dúvidas quanto à necessidade de aplicar mão dura, a história de Macandal, o mandinga(1) feiticeiro, dissipava-as.
Entre 1751 e 1757, quando Macandal semeou a morte entre os brancos da colónia, Toulouse Valmorain era um menino mimado que vivia nos arredores de Paris num pequeno château, propriedade da família há várias gerações, e nunca tinha ouvido falar em Macandal. Não sabia que o pai havia escapado por milagre dos envenenamentos colectivos em Saint-Domingue e que, se não tivessem apanhado Macandal, o vento da rebelião teria varrido a ilha. Protelaram a sua execução para dar tempo aos (1) O povo mandinga é originário da África Ocidental subsariana; «mandinga» é também sinónimo de feitiço ou feiticeiro, encantamento, bruxaria. (N. do T.) plantadores de chegarem até Le Cap com os seus escravos; assim, os negros convencer-se-iam de uma vez para sempre de que Macandal era mortal. «A história repete-se, nada muda nesta ilha maldita», disse Toulouse Valmorain à sua mulher, enquanto percorriam o mesmo caminho que o seu pai antes tinha feito pela mesma razão: para presenciar uma expiação. Explicou-lhe que essa era a melhor maneira de fazer esmorecer o ânimo dos revoltosos, como tinham decidido o governador e o intendente, que por uma vez estiveram de acordo em algo. Esperava que o espectáculo tranquilizasse Eugenia, mas não imaginou que a viagem se iria converter num pesadelo. Estava tentado a dar meia-volta e regressar a Saint-Lazare, mas não o podia fazer, os plantadores deviam apresentar uma frente unida contra os negros. Sabia que circulavam piadas nas suas costas, diziam que estava casado com uma espanhola um tanto louca, que era arrogante e aproveitava os privilégios da sua posição social, mas não cumpria com as suas obrigações na Assembleia Colonial, onde o cadeirão dos Valmorain permanecia desocupado desde a morte do seu pai. O Chevalier tinha sido um monárquico fanático, mas o seu filho desprezava Luís XVI, o monarca indeciso em cujas mãos gorduchas descansava a monarquia.
Macandal
A história de Macandal, contada pelo seu marido, desencadeou a demência de Eugenia, mas não a causou, porque lhe corria no sangue: ninguém tinha dito a Toulouse Valmorain, quando ainda aspirava à sua mão em Cuba, que havia várias lunáticas na família Garcia del Solar. Macandal era um boçal trazido de África, muçulmano, culto, lia e escrevia em árabe, tinha conhecimentos de medicina e de plantas. Perdeu o braço direito num horrendo acidente, que teria matado outro menos forte, e como ficou inutilizado para os canaviais, o seu amo mandou-o tratar do gado. Percorria a região alimentando-se de leite e de fruta, até que aprendeu a usar a mão esquerda e os dedos dos pés para fazer armadilhas e laços; passou assim a caçar roedores, répteis e pássaros. Na solidão e no silêncio, recuperou as imagens da sua adolescência, quando se treinava para a guerra e para a caça, como se impunha ao filho de um rei: cabeça levantada, peito erguido, pernas rápidas, olhos alerta e a lança empunhada com firmeza. A vegetação da ilha era diferente da das regiões encantadas da sua juventude, mas começou a provar folhas, raízes, cascas, cogumelos de muitas espécies e descobriu que uns serviam para curar, outros para provocar sonhos e estados de transe, alguns para matar. Soube sempre que iria fugir, porque preferia largar a pele nos piores sacrifícios do que continuar a ser escravo; mas preparou-se com cuidado e esperou com paciência o momento propício. Por fim, fugiu para as montanhas e, a partir dali, iniciou a sublevação de escravos que haveria de varrer a ilha como um terrível vendaval. Juntou-se a outros cimarrones e em breve se viram os efeitos da sua fúria e da sua astúcia: um ataque de surpresa na noite mais escura, resplendor de tochas, batidas de pés nus, gritos, metal contra correntes, fogo nos canaviais. O nome do mandinga andava de boca em boca, repetido pelos negros como uma oração de esperança. Macandal, o príncipe da Guiné, transformava-se em pássaro, lagartixa, mosca, peixe. O escravo amarrado a um poste via passar uma lebre antes de receber a chicotada que o mergulhava na inconsciência: era Macandal, testemunha do suplício. Uma iguana impassível observava a rapariga que jazia violada no pó. «Levanta-te, lava-te no rio e não esqueças, porque em breve virei com a vingança», sibilava a iguana. Macandal. Galos decapitados, símbolos pintados com sangue, archotes nas portas, uma noite sem Lua, mais um incêndio.
Primeiro começou a morrer o gado. Os colonos atribuíram-no a uma planta mortífera que crescia dissimulada nos campos e empregaram, sem resultados, botânicos europeus e feiticeiros locais para a descobrir e erradicar. Depois foram os cavalos dos estábulos, os cães selvagens e, por fim, caíram fulminadas famílias inteiras. As vítimas ficavam com o ventre inchado, as gengivas e as unhas negras, o sangue aguava-se, a pele soltava-se aos bocados e morriam no meio de convulsões atrozes. Os sintomas não se assemelhavam a nenhuma das doenças que assolavam as Antilhas, porém, só se manifestava nos brancos; então, acabaram-se as dúvidas de que era veneno. Macandal, outra vez Macandal. Os homens caíam ao beber um gole de licor, as mulheres e as crianças com uma chávena de chocolate, todos os convidados de um banquete antes de servirem a sobremesa. Não se podia confiar na fruta das árvores nem numa garrafa de vinho arrolhada, nem sequer num charuto, porque não se sabia de que maneira o veneno era ministrado. Torturaram centenas de escravos sem descobrir como a morte entrava nas casas, até que uma rapariguinha de quinze anos, uma entre tantas que o mandinga visitava durante a noite sob a forma de morcego, perante a ameaça de ser queimada viva, deu a pista para encontrar Macandal. Queimaram-na na mesma, e a sua confissão conduziu os milicianos à guarida de Macandal, escalando a pé, como cabras, por picos e desfiladeiros até aos cumes cinzentos dos antigos caciques aruaques. Apanharam-no vivo. Nessa altura, já tinha matado seis mil pessoas. «É o fim de Macandal», diziam os brancos. «Veremos», sussurravam os negros.
A praça tornou-se estreita para o público que acorreu das plantações. Os grands blancs instalaram-se sob os seus toldos, equipados com merendas e bebidas, os petits blancs resignaram-se com as arcadas, e os affranchis alugaram as varandas à volta da praça, que pertenciam a outra gente livre de cor. A melhor vista foi reservada para os escravos, para que verificassem que Macandal era apenas um pobre negro aleijado que seria assado como um porco. Amontoaram os africanos à volta da fogueira, vigiados pelos cães, que esticavam as correntes, enlouquecidos com o cheiro humano. A manhã da execução despertou nublada, quente e sem brisa. O fedor da multidão compacta misturava-se com o do açúcar queimado, gordura dos fritos e flores selvagens que cresciam enleadas nas árvores. Vários frades aspergiam com água benta e ofereciam uma filho por cada confissão. Os escravos tinham aprendido a enganar os frades com pecados confusos, porque as faltas admitidas iam parar às orelhas do amo, mas daquela vez ninguém estava com disposição para filhos. Esperavam radiantes por Macandal.
O céu encoberto ameaçava chuva, e o governador calculou que só teria tempo antes do aguaceiro, mas tinha de esperar pelo intendente, representante do governo civil. Finalmente, numa das duas tribunas de honra, apareceram o intendente e a sua esposa, uma jovem esmagada pelo pesado vestido, a touca de plumas e o desgosto; era a única francesa de Le Cap que não queria estar ali. O seu marido, ainda jovem embora com o dobro da sua idade, era cambaio, nadegudo e pançudo, mas tinha uma bela cabeça de antigo senador romano sob a sua complicada peruca. Um rufar de tambores anunciou o aparecimento do prisioneiro. Foi recebido por um coro de ameaças e insultos dos brancos, piadas dos mulatos e gritos frenéticos de entusiasmo dos africanos. Desafiando os cães, as chicotadas e as ordens dos capatazes e soldados, os escravos puseram-se de pé, aos saltos com os braços erguidos para o céu para saudar Macandal. Isso provocou uma reacção unânime, inclusive o governador e o intendente se levantaram.
Macandal era alto, muito escuro, com o corpo inteiramente marcado por cicatrizes, estava coberto apenas com um calção imundo e manchado de sangue seco. Ia acorrentado, mas erguido, altaneiro, indiferente. Desdenhou dos brancos, soldados, frades e cães; os seus olhos percorreram lentamente os escravos, e cada um soube que as suas pupilas negras o distinguiam, entregando-lhes o sopro do seu espírito indomável. Não era um escravo que ia ser executado, mas sim o único homem verdadeiramente livre entre a multidão. Foi assim que todos o intuíram, e um silêncio profundo abateu-se sobre a praça. Finalmente, os negros reagiram, e um coro incontrolável uivou o nome do herói: «Macandal, Macandal, Macandal». O governador compreendeu que era melhor acabar com aquilo depressa, antes que o planeado circo se convertesse num banho de sangue; deu o sinal e os soldados acorrentaram o prisioneiro ao poste da fogueira. O verdugo acendeu a palha e em breve a madeira engordurada ardia, levantando uma densa fumarada. Não se ouvia nem um suspiro na praça quando a voz profunda de Macandal se elevou: «Voltarei! Voltarei!» Que se passou então? Essa seria a pergunta mais frequente na ilha para o resto da sua história, como costumavam dizer os colonos. Brancos e mulatos viram Macandal soltar-se das correntes e saltar por cima dos troncos a arder, mas os soldados caíram-lhe em cima, subjugaram-no à pancada e conduziram-no de volta à pira, onde minutos mais tarde foi engolido pelas chamas e o fumo. Os negros viram Macandal soltar-se das correntes, saltar por cima dos troncos a arder e, quando os soldados lhe caíram em cima, transformou-se num mosquito e saiu a voar por entre a fumarada, deu uma volta completa à praça, para que todos se pudessem despedir dele, e a seguir perdeu-se no céu, precisamente antes do aguaceiro que ensopou a fogueira e apagou o fogo. Os brancos e affranchis viram o corpo chamuscado de Macandal. Os negros só viram o poste vazio. Os primeiros retiraram-se a correr de debaixo da chuva e os outros ficaram a cantar, lavados pela tempestade. Macandal tinha vencido e cumpriria a sua promessa. Macandal voltaria. E por isso, porque era necessário demolir para sempre essa lenda absurda, como disse Valmorain à sua desequilibrada esposa, iam com os seus escravos presenciar outra execução em Le Cap, vinte e três anos mais tarde.
A longa caravana era vigiada por quatro milicianos com mosquetes, Prosper Cambray e Toulouse Valmorain com pistolas, e os commandeurs, por serem escravos, só com sabres e catanas. Não eram de fiar, em caso de ataque podiam juntar-se aos cimarrones. Os negros, fracos e famintos, avançavam muito lentamente, levando os embrulhos às costas e unidos por uma corrente que entorpecia a marcha; ao amo parecia exagerado, mas não podia desautorizar o chefe dos capatazes. «Ninguém tentará fugir; os negros temem mais os demónios da selva do que as alimárias venenosas», explicou Valmorain à mulher, mas Eugenia não queria saber para nada de negros, demónios ou alimárias. A menina Tété ia solta, a caminhar junto da liteira da sua ama, carregada por dois escravos escolhidos entre os mais fortes. O trilho perdia-se no emaranhado da vegetação e na lama, e o cortejo era uma cobra triste que se arrastava para Le Cap em silêncio. De vez em quando, o ladrar dos cães, o relinchar dos cavalos ou o silvo seco de uma chicotada e um grito interrompiam o murmúrio da respiração humana e o rumor do bosque. A princípio, Prosper Cambray pretendia que os escravos fossem cantando para se animarem e espantar as serpentes, como faziam nos canaviais, mas Eugenia, entontecida pelo enjoo e a fadiga, não o aguentava.
No bosque escurecia cedo sob a densa cúpula das árvores e amanhecia tarde por causa da neblina enleada nos fetos. O dia tornava-se curto para Valmorain, mas eterno para os restantes. A comida dos escravos era umas papas de milho ou batata com carne seca e um púcaro de café, distribuídos à noite, quando acampavam. O amo tinha ordenado que acrescentassem ao café um torrão de açúcar e um pingo de tafia, a bebida de cana dos pobres, para aquecer as pessoas, que dormiam no chão ensopado de chuva e orvalho, expostas ao assalto de uma ponta de febre. Nesse ano, as epidemias tinham sido calamitosas na plantação: foi preciso substituir muitos escravos e nenhum recém-nascido sobreviveu. Cambray preveniu o seu patrão de que a bebida e o doce viciavam os escravos, e depois não havia maneira de evitar que chupassem cana. Existia uma pena especial para esse delito, mas Valmorain não era partidário de tormentos complicados, excepto para fugitivos, situação em que seguia à letra o Código Negro. A execução dos cimarrones em Le Cap parecia-lhe uma perda de tempo e de dinheiro: bastaria enforcá-los sem tanto alarido.
Os milicianos e os commandeurs revezavam-se em turnos durante a noite para vigiar o acampamento e as fogueiras, que mantinham à distância os animais e acalmavam as pessoas. Ninguém se sentia tranquilo na escuridão. Os amos dormiam em redes dentro de uma ampla tenda de lona encerada, com os seus baús e alguns móveis. Eugenia, antes gulosa, agora tinha apetite de pisco, mas sentava-se à mesa, porque ainda cumpria a etiqueta. Nessa noite ocupava uma cadeira de felpa azul, vestida de maneira simples, com o cabelo sujo apanhado num carrapito, a sorver limonada com rum. Em frente dela, o marido sem gibão, com a camisa aberta, barba por fazer e os olhos avermelhados, bebia o licor directamente da garrafa. A mulher mal conseguia conter as náuseas perante os pratos: cordeiro cozinhado com picante e especiarias para disfarçar o mau cheiro do segundo dia de viagem, feijões, arroz, tortas salgadas de milho e fruta em calda. Tété abanava-lhe o leque sem lhe conseguir evitar o mal-estar. Tinha-se acarinhado com Dona Eugenia, como esta preferia ser chamada. A ama não lhe batia e confiava-lhe as suas queixas, embora a princípio não a entendesse, porque lhe falava em espanhol. Contava-lhe como o marido a cortejou em Cuba com galanterias e ofertas, mas depois, em Saint-Domingue, mostrou o seu verdadeiro carácter: estava corrompido pelo mal do clima e a magia dos negros, como todos os colonos das Antilhas. Ela, pelo contrário, pertencia à melhor sociedade de Madrid, de família nobre e católica. Tété não suspeitava como seria a sua ama em Espanha ou em Cuba, mas notava que se ia degradando a olhos vistos. Quando a conheceu, Eugenia era uma jovem robusta disposta a adaptar-se à sua vida de recém-casada, mas em poucos meses adoeceu da alma. Assustava-se com tudo e chorava por nada.
Zarité
Os amos ceavam na tenda como na sala de jantar da casa grande. Um escravo varria os bichos do chão e espantava os mosquitos, enquanto outros dois se mantinham de pé atrás das cadeiras dos amos, descalços, com a libré ensopada e perucas brancas malcheirosas, prontos para os servir. O amo comia distraído, quase sem mastigar, enquanto Dona Eugenia cuspia os bocados inteiros no seu guardanapo, porque tudo lhe sabia a enxofre. O marido repetia-lhe que comesse sossegada, porque a rebelião tinha sido esmagada antes de começar e os cabecilhas estavam reclusos em Le Cap, com mais ferros em cima do que aqueles que podiam levantar, mas ela temia que quebrassem as correntes, como o feiticeiro Macandal. Foi má ideia do amo contar-lhe sobre Macandal, porque acabou por aterrorizá-la. Dona Eugenia tinha ouvido falar da queima de hereges que antes se praticava no seu país e não desejava presenciar semelhante horror. Nessa noite, queixou-se que um torniquete lhe apertava a cabeça, já não aguentava mais, queria ir para Cuba ver o irmão, podia ir sozinha, a viagem era curta. Quis secar-lhe a testa com um lenço, mas afastou-me. O amo respondeu-lhe que nem pensasse, que era muito perigoso e que não era apropriado que chegasse a Cuba sozinha. «Não se fala mais nisto!», exclamou, aborrecido, pondo-se de pé antes que o escravo conseguisse aparar-lhe a cadeira e saiu para dar as últimas instruções ao chefe dos capatazes. Ela fez-me um sinal, levantei o seu prato e levei-o para um canto, tapado com um trapo, para comer as sobras mais tarde, e a seguir preparei-a para a noite. Já não usava o corset, as meias e as combinações que enchiam os seus baús de noiva; na plantação, andava com batas ligeiras, mas arranjava-se sempre para cear. Despia-a, trouxe-lhe o bacio, lavei-a com um trapo molhado, polvilhei-a com cânfora para os mosquitos, pus-lhe leite na cara e nas mãos, tirei os ganchos que lhe mantinham o penteado e escovei-lhe o cabelo cem vezes, enquanto ela deixava fazer tudo com o olhar perdido. Estava transparente. O amo dizia que ela era muito bela, mas a mim, os seus olhos verdes e os seus dentes pontiagudos não me pareciam humanos. Quando acabei de a assear, fincou-se no seu genuflexório e rezou em voz alta um rosário, acompanhada por mim, como era minha obrigação. Tinha aprendido as orações, embora não entendesse o seu significado. Nessa altura, já sabia várias palavras em espanhol e podia obedecer-lhe, porque não dava ordens em francês ou créole. A obrigação de fazer o esforço de comunicar não lhe competia a ela, mas sim a nós. Era o que dizia. As contas de nácar passavam entre os seus dedos brancos, enquanto eu calculava quanto me faltava para comer e pôr-me a dormir. Por fim, beijou a cruz do rosário e guardou-o numa bolsa de couro, plana e larga como um sobrescrito, que costumava pendurar ao pescoço. Era a sua protecção, como a minha era a minha boneca Erzuli. Servi-lhe um cálice de porto para a ajudar a dormir, que bebeu com uma careta de nojo, ajudei-a a estender-se na rede, cobri-a com o mosquiteiro e comecei a embalá-la, a rogar que adormecesse depressa sem se distrair com o esvoaçar dos morcegos, os passinhos sigilosos dos animais e as vozes que, a essa hora, a acossavam. Não eram vozes humanas, assim mo tinha explicado; vinham das sombras, da selva, do subsolo, do inferno, de África, não falavam com palavras, mas com uivos e risadas descontroladas. «São os espectros invocados pelos negros», chorava, aterrada. «Chiu, Dona Eugenia; feche os olhos, reze...» Eu estava tão assustada como ela, embora nunca tivesse ouvido as vozes nem tivesse visto os espectros. «Nasceste aqui, Zarité, por isso tens os ouvidos surdos e os olhos cegos. Se tivesses vindo da Guiné, saberias que há espectros por todo o lado», garantia-me Tante Rose, a curandeira de Saint-Lazare. Nomearam-na minha madrinha quando cheguei à plantação, teve de me ensinar tudo e vigiar-me para que não fugisse. «E que nem te lembres de tentar, Zarité, perdias-te nos canaviais e as montanhas ficam mais longe do que a Lua.» Dona Eugenia adormeceu, e eu arrastei-me para o meu canto, onde não chegava a luz trémula das lamparinas de azeite, procurei o prato às apalpadelas, apanhei um pouco do guisado de cordeiro com os dedos e notei que as formigas se me tinham adiantado, mas agradava-me o seu sabor picante. Ia no segundo bocado quando entrou o amo acompanhado de um escravo, duas sombras compridas no pano da tenda e o intenso odor a couro, tabaco e cavalo, dos homens. Cobri o prato e esperei sem respirar, fazendo força com o coração para que não dessem por mim. «Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores», murmurou a ama em sonhos e acrescentou com um grito «puta do diabo!». Voltei a embalar a rede antes que despertasse.
O amo sentou-se na sua cadeira e o escravo tirou-lhe as botas; depois ajudou-o a libertar-se das calças e do resto da roupa, até que ficou só com a camisa, que lhe chegava às ancas e deixava o seu sexo à vista, rosado e flácido, como uma tripa de porco num ninho de pêlos de palha. O escravo segurou-lhe no bacio para urinar, esperou que o mandasse embora, apagou as lamparinas de azeite, mas deixou as velas, e retirou-se. Dona Eugenia voltou a agitar-se e desta vez acordou com os olhos espavoridos, mas eu já lhe tinha servido outro cálice de porto. Continuei a embalá-la e em breve voltou a adormecer. O amo aproximou-se com uma vela e alumiou a sua esposa; não sei o que procurava, talvez a rapariga que o tinha seduzido um ano antes. Fez intenção de lhe tocar, mas pensou melhor e limitou-se a observá-la com uma expressão estranha.
— Minha pobre Eugenia. Passa a noite atormentada por pesadelos e o dia atormentada pela realidade — murmurou.
— Sim, amo.
— Não compreendes nada do que digo, não é verdade, Tété?
— Não, amo.
— Melhor assim. Quantos anos tens?
— Não sei, amo. Mais ou menos dez.
— Então ainda te falta muito para seres mulher, não?
— É possível, amo.
O seu olhar percorreu-me de alto a baixo. Levou uma mão ao membro e segurou-o, como se o pesasse. Recuei com a cara a arder. Da vela caiu uma gota de cera sobre a sua mão e lançou uma maldição, logo a seguir ordenou-me que fosse dormir com um olho aberto para velar pela ama. Estendeu-se na sua rede, enquanto eu deslizava como um lagarto para o meu canto. Esperei que o amo adormecesse e comi com cuidado, sem o menor ruído. Lá fora começou a chover. É assim que me recordo.
O baile do intendente
Os extenuados viajantes de Saint-Lazare chegaram a Le Cap no dia anterior à execução dos cimarrones, quando a cidade palpitava de expectativa e se tinha juntado tanta gente que o ar tresandava a multidão e esterco dos cavalos. Não havia alojamento. Valmorain tinha enviado alguém na frente para reservar um barracão para a sua gente, mas chegou tarde e só conseguiu alugar espaço no ventre de uma escuna ancorada em frente do porto. Não foi fácil subir os escravos para os botes e dali para o barco, porque se atiraram para o chão a gritar de pavor, convencidos de que se iria repetir a viagem macabra que os tinha trazido de África. Prosper Cambray e os commandeurs arrearam-lhes com força e acorrentaram-nos ao porão para evitar que se atirassem ao mar. Os hotéis para brancos estavam cheios, tinham chegado com um dia de atraso e os amos não tinham quarto. Valmorain não podia levar Eugenia para uma pensão de affranchis. Se estivesse sozinho, não teria hesitado em recorrer a Violette Boisier, que lhe devia alguns favores. Já não eram amantes, mas a sua amizade tinha-se fortalecido com a decoração da casa de Saint-Lazare e um par de doações que ele lhe tinha feito para a ajudar a sair das suas dívidas. Violette divertia-se a comprar a crédito sem calcular as despesas, até que as reprimendas de Loula e Étienne Relais a tinham obrigado a viver com mais prudência.
Nessa noite, o intendente oferecia um jantar ao mais selecto da sociedade civil, enquanto a poucos quarteirões o governador recebia a fina-flor do Exército para celebrar antecipadamente o fim dos cimarrones. Tendo em conta as angustiantes circunstâncias, Valmorain apresentou-se na mansão do intendente para pedir albergue. Faltavam três horas para a recepção e reinava o estado de espírito apressado que precede um furacão: os escravos corriam com garrafas de licor, jarrões de flores, móveis à última da hora, candeeiros e candelabros, enquanto os músicos, todos mulatos, instalavam os seus instrumentos sob as ordens de um director francês, e o mordomo, lista na mão, contava os talheres de ouro para a mesa. A infeliz Eugenia chegou meio desmaiada na sua liteira, seguida de Tété, com um frasco de sais e um bacio. Assim que o intendente se recompôs da surpresa de os ver tão cedo diante da sua porta, deu-lhes as boas-vindas, embora mal os conhecesse, abalado pelo prestigioso nome de Valmorain e o lamentável estado da sua mulher. O homem tinha envelhecido prematuramente, devia ter cinquenta e tal anos, mas mal vividos. A barriga impedia-o de ver os pés, caminhava com as pernas direitas e afastadas, os braços ficavam-lhe curtos para apertar a jaqueta, resfolegava como um fole e o seu aristocrático perfil estava perdido entre bochechas coloridas e um nariz bulboso de fura-vidas, mas a sua esposa tinha mudado pouco. Estava pronta para a recepção, ataviada à última moda de Paris, com uma peruca adornada com mariposas e um vestido cheio de laços e cascatas de rendas, em cujo decote profundo se insinuavam os seus peitos de menina. Continuava a ser o mesmo pardal insignificante que era aos dezanove anos, quando assistiu numa tribuna de honra à queima de Macandal. Desde então, tinha presenciado tormentos suficientes para alimentar o resto das suas noites de pesadelos. Arrastando o peso do vestido, guiou os hóspedes para o segundo piso, instalou Eugenia num quarto e ordenou que lhe preparassem um banho, mas a sua hóspede só desejava descansar.
Um par de horas mais tarde, começaram a chegar os convidados e a mansão animou-se logo de música e vozes, que a Eugenia, deitada na cama, chegavam em surdina. As náuseas impediam-na de se mexer, enquanto Tété lhe aplicava compressas de água fria na testa e lhe abanava o leque. Sobre um sofá, esperavam-na o seu complicado atavio de brocado, que uma escrava da casa tinha passado a ferro, as meias de seda branca e os seus escarpins de tafetá preto com saltos altos. No primeiro piso, as damas bebiam champanhe de pé, porque a amplitude das saias e a estreiteza do corpete lhes dificultava sentarem-se, e os cavalheiros comentavam o espectáculo do dia seguinte em tom comedido, porque não era de bom gosto excitar-se em demasia com o suplício de uns negros sublevados. Pouco depois, os músicos interromperam a conversa com uma chamada de corneta e o intendente fez um brinde pelo retorno da normalidade à colónia. Todos levantaram as taças e Valmorain levantou a sua, interrogando-se que diabo significava normalidade: brancos e negros, livres e escravos, viviam todos doentes de medo.
O mordomo, com um teatral uniforme de almirante, bateu três vezes no chão com um bastão de ouro para anunciar a ceia com a devida pompa. Com vinte e cinco anos, aquele homem era demasiado novo para um posto com tanta responsabilidade e brilho. Também não era francês, como seria de esperar, mas um belo escravo com os dentes perfeitos, a quem algumas damas já tinham piscado o olho. E como não haviam de reparar nele... Media quase dois metros e comportava-se com mais donaire e autoridade que o mais distinto dos convidados. Depois do brinde, a comitiva deslizou para a faustosa sala de jantar, iluminada por centenas de velas. Lá fora a noite tinha refrescado, mas lá dentro o calor ia aumentando. Valmorain, engasgado com o odor pegajoso a suor e perfumes, viu as compridas mesas, refulgentes de ouro e de prata, cristaleira de Baccarat e porcelana de Sèvres, os escravos de libré, um atrás de cada cadeira e outros alinhados contra as paredes para escancear o vinho, passar as travessas e levantar os pratos, e calculou que ia ser uma noite muito longa; o excesso de etiqueta provocava-lhe tanta impaciência como a conversa banal. Talvez fosse verdade que se estava a converter num canibal, como o acusava a sua mulher. Os convidados demoravam a acomodar-se no meio de um barulho de cadeiras arrastadas, roçar de sedas, conversa e música. Por fim, entrou uma dupla fila de criados com o primeiro dos quinze pratos anunciados no menu com letras de ouro: minúsculas codornizes recheadas com ameixas e apresentadas entre as chamas azuis de conhaque a arder. Valmorain ainda não tinha acabado de esgravatar entre os ossinhos da sua ave quando o admirável mordomo se aproximou e lhe sussurrou que a sua esposa se encontrava indisposta. O mesmo anunciou nesse instante outro criado à anfitriã, que lhe tinha feito um sinal do lado oposto da mesa. Ambos se levantaram sem chamar a atenção da fofoquice de vozes e do bulício de talheres contra a porcelana, e subiram ao segundo piso.
Eugenia estava verde e o quarto tresandava a vómito e excrementos. A mulher do intendente sugeriu que fosse atendida pelo doutor Parmentier, que felizmente se encontrava na sala de jantar, e de imediato o escravo de guarda à porta partiu para o ir buscar. O médico, com uns quarenta anos, pequeno, magro, com feições quase femininas, era o homem de confiança dos grands blancs de Le Cap pela sua discrição e os seus êxitos profissionais, embora os seus métodos não fossem os mais ortodoxos: preferia utilizar o herbário dos pobres em vez de purgantes, sangrias, clisteres, cataplasmas e remédios de fantasia da medicina europeia. Parmentier tinha conseguido desacreditar o elixir de lagarto com pós de ouro, que tinha a reputação de curar a febre-amarela só dos ricos, uma vez que os outros não o podiam pagar.
Conseguiu provar que essa beberagem era tão tóxica que, se o paciente sobrevivesse ao mal de Sião, morria envenenado. Não se fez rogado para subir e ver Madame Valmorain; pelo menos, podia respirar um par de golfadas de ar menos denso do que o da sala de jantar. Encontrou-a exangue entre os almo-fadões do leito e começou a examiná-la, enquanto Tété retirava as bacias e os trapos que tinha usado para a limpar.
— Viajámos três dias para o espectáculo de amanhã, e olhe o estado em que está a minha esposa — comentou Valmorain da entrada, com um lenço no nariz.
— Madame não vai poder assistir à execução, precisa de fazer repouso uma ou duas semanas — anunciou Parmentier.
— Outra vez os seus nervos? — perguntou o marido, irritado.
— Necessita de descansar para evitar complicações. Está grávida — disse o médico, cobrindo Eugenia com o lençol.
— Um filho! — exclamou Valmorain, avançando para acariciar as mãos inertes da mulher. — Ficaremos aqui todo o tempo que o senhor determinar, doutor. Alugarei uma casa para não impormos a nossa presença ao senhor intendente e à sua gentil esposa.
Quando o ouviu, Eugenia abriu os olhos e levantou-se com inesperada energia.
— Vamos embora agora mesmo! — gritou.
— Impossível, ma chérie, a senhora não pode viajar nestas condições. Depois da execução, Cambray vai levar os escravos para Saint-Lazare e eu ficarei aqui para cuidar de si.
— Tété, ajuda-me a vestir! — gritou, puxando o lençol para o lado.
Toulouse tentou segurá-la, mas ela deu-lhe um empurrão e, com os olhos em chamas, exigiu-lhe que fugissem imediatamente, porque os exércitos de Macandal já estavam em marcha para resgatar os cimarrones do calabouço e vingar-se dos brancos.
O marido rogou-lhe que baixasse a voz para que não a ouvissem no resto da casa, mas continuou a uivar. O intendente acorreu para averiguar o que se passava e encontrou a hóspede quase nua, a lutar com o marido. O doutor Parmentier tirou um frasco da sua maleta e, entre os três homens, obrigaram-na a engolir uma dose de láudano capaz de adormecer um corsário. Dezassete horas mais tarde, o cheiro a chamusco que entrava pela janela despertou Eugenia Valmorain. A sua roupa e a cama estavam ensanguentadas; terminou assim a ilusão do primeiro filho. E Tété livrou-se de presenciar a execução dos condenados, que pereceram na fogueira, como Macandal.
A louca da plantação
Sete anos mais tarde, no Agosto ardente e fustigado por furacões de 1787, Eugenia Valmorain deu à luz o seu primeiro filho vivo, depois de várias gravidezes frustradas que lhe custaram a saúde. Esse filho tão desejado chegou-lhe quando já não queria tê-lo. Nessa altura, era um feixe de nervos e caía em estados lunáticos em que vagueava por outros mundos durante dias, às vezes semanas. Nesses períodos de desvario, sedavam-na com tintura de ópio, e o resto do tempo acalmavam-na com as infusões de plantas de Tante Rose, a sábia curandeira de Saint-Lazare, que trocavam a angústia de Eugenia pela perplexidade, mais suportável para quem tinha de viver com ela. A princípio, Valmorain troçava das «ervas dos negros», mas mudou de opinião ao comprovar o respeito do doutor Parmentier por Tante Rose. O médico ia à plantação quando o seu trabalho lho permitia, apesar do descalabro que a cavalgada provocava no seu frágil organismo, com o pretexto de examinar Eugenia, mas, na realidade, ia estudar os métodos de Tante Rose. Depois experimentava-os no seu hospital, anotando com fastidiosa precisão os resultados, porque pensava escrever um tratado sobre remédios naturais das Antilhas, limitado à botânica, uma vez que os seus colegas jamais levariam a sério a feitiçaria, que a ele o intrigava tanto como as plantas. Assim que Tante Rose se habituou à curiosidade daquele branco, costumava permitir-lhe que a acompanhasse a procurar ingredientes no bosque. Valmorain dispensava-lhes mulas e duas pistolas, que Parmentier levava cruzadas no cinto, embora não as soubesse usar. A curandeira não deixava que um commandeur armado os acompanhasse porque era a melhor maneira de atrair os bandidos, segundo ela. Se Tante Rose não falava o necessário nas suas excursões e não tinha oportunidade de ir a Le Cap, encarregava-se o médico; assim, veio a conhecer como a palma da mão as milhentas lojas de ervas e de feitiçaria do porto, que abasteciam as pessoas de todas as cores. Parmentier passava horas a conversar com os «doutores de ervas» nas bancas da rua e nos recantos escondidos atrás dos balcões, onde vendiam os remédios da Natureza, poções de encantamento, fetiches vodu e cristãos, drogas e venenos, artigos de boa sorte e outros para amaldiçoar, pó de asas de anjo e de corno do demónio. Tinha visto Tante Rose curar feridas que ele teria resolvido amputando, efectuar com limpeza amputações que a ele se teriam gangrenado, e tratar com êxito as febres e o fluxo ou disenteria, que costumavam causar estragos entre os soldados franceses amontoados nos quartéis. «Que não bebam água. Dê-lhes muito café aguado e sopa de arroz», ensinou-lhe Tante Rose. Parmentier deduziu que era tudo uma questão de ferver a água, mas apercebeu-se de que, sem a infusão de ervas da curandeira, não havia recuperação. Os negros defendiam-se melhor contra esses males, mas os brancos caíam fulminados, e quando não pereciam em poucos dias, ficavam tresloucados durante meses. No entanto, para as alterações mentais tão profundas como as de Eugenia, os doutores negros não possuíam mais recursos do que os europeus. As velas benzidas, as defumações de salva e as esfregas com banha de cobra resultavam tão inúteis como as soluções de mercúrio e os banhos de água gelada recomendados pelos compêndios de medicina. No asilo de loucos de Charenton, onde Parmentier tinha feito uma breve prática na sua juventude, não existia tratamento para os inadaptados.
Aos vinte e sete anos, Eugenia tinha perdido a beleza que apaixonou Toulouse Valmorain naquele baile do Consulado em Cuba, estava consumida por obsessões e debilitada pelo clima e pelos abortos espontâneos. A sua degradação começou a manifestar-se pouco tempo depois de chegar à plantação e acentuou-se com cada gravidez que não chegou a bom termo. Ganhou horror aos insectos, cuja variedade era infinita em Saint-Lazare, usava luvas, chapéus de aba ampla, com um denso véu até ao chão, e camisas de mangas largas. Dois meninos escravos faziam turnos para lhe abanar o leque e esmagar qualquer bicho que aparecesse na sua proximidade. Um escaravelho podia provocar-lhe uma crise. A mania chegou a ser tão extrema que raras vezes saía de casa, especialmente ao entardecer, a hora dos mosquitos. Ficava ensimesmada e sofria momentos de terror ou de exaltação religiosa, seguidos por outros de impaciência, em que batia em qualquer um ao seu alcance, mas nunca a Tété. Dependia da rapariga para tudo, inclusive as tarefas mais íntimas; era a sua confidente, a única que permanecia a seu lado quando os demónios a atormentavam. Tété cumpria os seus desejos antes de terem sido formulados, estava sempre alerta para lhe passar o copo de limonada assim que a sede se manifestava, apanhar no ar o prato que atirava ao chão, ajeitar-lhe os ganchos que se lhe espetavam na cabeça, limpar-lhe o suor ou sentá-la no bacio. Eugenia não notava a presença da sua escrava, só a sua ausência. Nos seus ataques de espanto, quando gritava até ficar sem voz, Tété fechava-se com ela a cantar-lhe ou a rezar até que se lhe dissipava o fanico e se abatia num sono profundo, donde emergia sem recordações. Nos seus longos períodos de melancolia, a menina introduzia-se no seu leito para a acariciar como um amante, até que se esgotava de chorar. «Que vida tão penosa a de Dona Eugenia! É mais escrava do que eu porque não consegue fugir aos seus terrores», comentou uma vez Tété para Tante Rose. A curandeira conhecia de sobra os seus sonhos de liberdade, porque lhe tinha calhado segurá-la várias vezes, mas, desde há um par de anos, a rapariga parecia resignada ao seu destino e não voltara a mencionar a sua ideia de fugir.
Tété foi a primeira a dar-se conta de que as crises da sua ama coincidiam com a chamada dos tambores nas noites de calenda, quando os negros se reuniam para dançar. Essas calendas costumavam converter-se em cerimónias vodu, que estavam proibidas, mas Cambray e os commandeurs não tentavam impedi-las, com medo dos poderes sobrenaturais da mambo, Tante Rose. Para Eugenia, os tambores anunciavam-lhe espectros, feitiçarias e maldições, o vodu era o culpado de todas as suas desgraças. Em vão o doutor Parmentier lhe tinha explicado que o vodu nada tinha de assustador, era um conjunto de crenças e rituais, como havia em qualquer religião, inclusive a católica, e muito necessário, porque dava sentido à miserável existência dos escravos. «Herege! Tinha de ser francês para comparar a santa fé de Cristo com as superstições destes selvagens», clamava Eugenia. Para Valmorain, racionalista e ateu, os transes dos negros encontravam-se na mesma categoria dos rosários da sua mulher, e, em princípio, não se opunha a nenhum dos dois. Tolerava com igual imparcialidade as cerimónias vodu e as missas dos frades que costumavam aparecer na plantação, atraídos pelo rum fino da sua destilaria. Os africanos recebiam o baptismo em massa, assim que desembarcavam no porto, como exigia o Código Negro, mas o seu contacto com o cristianismo não passava disso e daquelas missas a correr dos frades transumantes. Se o vodu os consolava, não havia razão para o impedir, opinava Toulouse Valmorain.
Confrontado com a inexorável degradação de Eugenia, o marido quis levá-la para Cuba, a ver se a mudança de ambiente a aliviava, mas o seu cunhado, Sancho, explicou-lhe por carta que o bom nome dos Valmorain e dos Garcia del Solar estava em jogo. Discrição acima de tudo. Seria muito inconveniente para os negócios de ambos que a gritaria da sua irmã fosse comentada. Ao mesmo tempo, manifestou como se sentia envergonhado por lhe ter dado em casamento uma mulher tão destrambelhada. Na verdade, não o suspeitava, porque, no convento, a irmã nunca apresentou sintomas perturbadores e, quando lha mandaram, parecia normal, embora bastante curta de vistas. Não se lembrou dos antecedentes familiares. Como poderia imaginar que a melancolia religiosa da avó e a histeria delirante da mãe fossem hereditárias? Toulouse Valmorain não fez caso da advertência do seu cunhado, levou a doente para Havana e entregou-a ao cuidado das freiras durante oito meses. Ao longo desse tempo, Eugenia nunca mencionou o seu marido, mas costumava perguntar por Tété, que tinha ficado em Saint-Lazare. Na paz e no silêncio do convento, tranquilizou-se, e quando o marido a foi buscar, encontrou-a mais saudável e contente. A boa saúde durou pouco tempo em Saint-Domingue. Rapidamente voltou a ficar grávida, repetiu-se o drama de perder a criança e foi novamente salva da morte devido à intervenção de Tante Rose.
Nas breves temporadas em que Eugenia parecia restabelecida do seu transtorno, o pessoal da casa grande respirava aliviado e até os escravos nos canaviais, que só a avistavam ao longe quando assomava ao ar livre, envolta no seu mosquiteiro, sentiam a melhoria. «Ainda sou bonita?», perguntava a Tété, apalpando o corpo que tinha perdido toda a voluptuosidade. «Sim, muito bonita», garantia-lhe a jovem, mas impedia-a de se olhar no espelho veneziano do salão antes de lhe dar banho, lavar-lhe o cabelo, vestir-lhe um dos seus vestidos delicados, embora fora de moda, e maquilhá-la com carmim nas faces e carvão nas pálpebras. «Fecha os postigos da casa e queima folhas de tabaco por causa dos insectos, vou jantar com o meu marido», — 85 ordenava-lhe Eugenia, mais animada. Assim ataviada, hesitante, com os olhos desorbitados e as mãos trémulas pelo ópio, apresentava-se na sala de jantar, onde havia semanas que não punha os pés. Valmorain recebia-a com um misto de surpresa e desconfiança, porque nunca se sabia como terminariam essas esporádicas reconciliações. Depois de tantos dissabores matrimoniais, tinha optado por pô-la de lado, como se aquele fantasma entra-pado não estivesse relacionado com ele, mas quando Eugenia aparecia vestida de festa na aconchegadora luz dos candelabros, ele voltava a ter a ilusão por uns instantes. Já não a amava, mas era a sua esposa e teriam de permanecer juntos até à morte. Aqueles lampejos de normalidade costumavam conduzi-los à cama, onde ele a assaltava sem preâmbulos, com urgência de marinheiro. Esses abraços não conseguiam uni-los nem trazer Eugenia de volta ao terreno da razão, mas às vezes conduziam a outra gravidez, e repetia-se assim o ciclo da esperança e da frustração. Em Junho desse ano, soube que estava grávida de novo e ninguém, muito menos ela, se animou a festejar a notícia. Por coincidência, houve uma calenda na mesma noite em que Tante Rose lhe confirmou o seu estado, e ela acreditou que os tambores lhe anunciavam a gestação de um monstro. A criatura no seu ventre estava amaldiçoada pelo vodu, era uma criança zumbi, um morto-vivo. Não houve maneira de a acalmar e a sua alucinação chegou a ser tão vívida que contagiou Tété. «E se fosse verdade?», perguntou ela a Tante Rose, a tremer. A curandeira assegurou-lhe que nunca ninguém gerara um zumbi, tinham de ser feitos de um cadáver fresco, um procedimento nada fácil, e propôs-se fazer uma cerimónia para o mal da imaginação de que sofria a ama. Esperaram que Valmorain se ausentasse e Tante Rose fez reverter a suposta magia negra dos tambores com complicados rituais e encantamentos destinados a transformar o pequeno zumbi num bebé normal. «Como é que vamos saber se isto deu resultado?», perguntou Eugenia, no final. Tante Rose deu-lhe a beber uma tisana nauseabunda e disse-lhe que, se urinasse azul, tudo tinha corrido bem. No dia seguinte, Tété retirou um bacio com um líquido azul que deixou Eugenia meio tranquilizada, porque julgou que lhe tinham posto algo no bacio. O doutor Parmentier, a quem não disseram uma única palavra sobre a intervenção de Tante Rose, ordenou que mantivessem Eugenia Valmorain numa longa semivigília até dar à luz. Nessa altura, já havia perdido a esperança de a curar, acreditava que o ambiente da ilha a estava a matar pouco a pouco.
Mestre-de-cerimónias
A drástica medida de manter Eugenia dopada deu melhor resultado do que o próprio Parmentier esperava. Nos meses seguintes, o ventre inchou-se-lhe com normalidade, enquanto passava o tempo deitada debaixo de um mosquiteiro num divã da arcada, a dormitar ou distraída com a passagem das nuvens, completamente desligada do prodígio que ocorria dentro de si. «Se estivesse sempre assim tão calma, seria perfeito», ouviu Tété dizer ao amo. Alimentava-se de açúcar e de um caldo concentrado de galinha e vegetais moídos na pedra de um almofariz, capaz de ressuscitar um morto, inventado por Tante Mathilde, a cozinheira. Tété cumpria as suas tarefas da casa e depois instalava-se na arcada a costurar o enxoval do bebé e a cantar com a sua voz rouca os hinos religiosos de que Eugenia gostava. Às vezes, quando estavam sozinhas, Prosper Cambray vinha visitá-las com o pretexto de pedir um copo de limonada, que bebia com absorta lentidão, sentado com uma perna na varanda, a bater nas botas com o chicote enrolado. Os olhos sempre avermelhados do chefe dos capatazes passeavam-se pelo corpo de Tété.
— Estás a avaliar o preço, Cambray? Não está à venda — surpreendeu-o uma tarde Toulouse Valmorain, aparecendo de súbito na arcada.
— Como diz que disse, senhor? — respondeu o mulato, em tom provocador, sem mudar de posição.
Valmorain chamou-o com um gesto e o outro seguiu-o contrariado para o escritório. Tété não soube do que falaram; o seu amo apenas lhe comunicou que não queria ninguém a rondar a casa sem a sua autorização, nem mesmo o chefe dos capatazes. A atitude insolente de Cambray não mudou depois daquela contrariedade com o patrão; a sua única precaução antes de se aproximar da arcada para pedir uma bebida e despir Tété com os olhos era assegurar-se de que ele não estava por perto. Há muito tempo que tinha perdido o respeito a Valmorain, mas não se atrevia a esticar a corda, porque continuava a alimentar a ambição de que o nomeasse administrador-geral.
Quando Dezembro chegou, Valmorain mandou chamar o doutor Parmentier, para que ficasse na plantação o tempo necessário até que Eugenia desse à luz, porque não queria deixar o assunto nas mãos de Tante Rose. «Ela sabe mais do que eu nesta matéria», argumentou o médico, mas aceitou o convite porque lhe daria tempo para descansar, ler e anotar novos remédios da curandeira para o seu livro. Tante Rose era consultada por outras plantações e atendia da mesma maneira escravos e animais, combatia infecções, cosia feridas, aliviava febres e acidentes, ajudava nos partos e tentava salvar a vida dos negros castigados. Permitiam-lhe ir longe buscar as suas plantas e costumavam levá-la a Le Cap para comprar ingredientes, onde a deixavam com algumas moedas e apanhavam-na um par de horas mais tarde. Era a mambo, a oficiante das calendas, a quem recorriam negros de outras plantações, e Valmorain também não se opunha a isso, apesar do seu chefe dos capatazes o ter avisado de que aquilo acabava em orgias sexuais ou com dezenas de possuídos a rebolar no chão com os olhos em branco. «Não sejas tão severo, Cambray, deixa-os desabafar; assim voltam mais dóceis ao trabalho», replicava o amo, bem-disposto. Tante Rose perdia-se durante dias, e quando o chefe dos capatazes anunciava que a mulher tinha fugido com os cimarrones ou atravessado o rio para território espanhol, regressava a coxear, — 89 extenuada e com a sua bolsa cheia. Tante Rose e Tété não estavam sob a autoridade de Cambray, porque ele temia que a primeira o convertesse num zumbi, e a segunda era a escrava pessoal da ama, indispensável na casa grande. «Ninguém te vigia. Porque não foges, madrinha?», perguntou-lhe uma vez Tété. «Como posso correr com a minha perna doente? E o que seria da gente que precisa dos meus cuidados? Além disso, não me serve de nada ser livre e os outros serem escravos», respondeu-lhe a curandeira. Aquilo ainda não tinha passado pela cabeça de Tété e ficou a rondá-la como um moscardo. Voltou muitas vezes a falar com a sua madrinha, mas nunca conseguiu aceitar a ideia de que a sua liberdade estava irremissivelmente ligada à de todos os outros escravos. Se pudesse fugir, fazia-o sem pensar nos que ficavam para trás; quanto a isso, estava segura. Depois das suas excursões, Tante Rose mandava-a ir à sua cabana e fechavam-se a fazer remédios que requeriam matéria fresca da Natureza, preparação exacta e ritos adequados. Feitiçaria, dizia Cambray, era o que aquelas duas mulheres faziam, nada que ele não pudesse resolver com uma boa surra. Mas não se atrevia a tocar-lhes.
Um dia, o doutor Parmentier, depois de ter passado as horas mais quentes do dia mergulhado no torpor da sesta, foi visitar Tante Rose com a intenção de averiguar se havia cura para a picada da centopeia. Como Eugenia estava calma e vigiada por uma enfermeira, pediu a Tété que o acompanhasse. Encontraram a curandeira sentada numa cadeira de verga em frente da porta da sua cabana, desengonçada pelas últimas tempestades, a cantarolar numa língua africana, enquanto separava as folhas de um ramo seco e as colocava em cima de um trapo, tão concentrada na tarefa que só os viu quando chegaram à frente dela. Fez intenção de se levantar, mas Parmentier deteve-a com um gesto. O médico limpou o suor da testa e do pescoço com um lenço e a curandeira ofereceu-lhe água, que tinha na cabana. Era mais ampla do que parecia por fora, muito arrumada, cada coisa num lugar preciso, escura e fresca. O mobiliário era esplêndido, comparado com o de outros escravos: uma mesa de tábuas, um velho armário holandês, um baú de latão enferrujado, várias caixas que Valmorain lhe tinha dispensado para guardar os seus remédios e uma colecção de panelinhas de barro destinadas aos seus conhecimentos. Um monte de folhas secas e palha, coberto com um pano aos quadrados e uma manta leve, servia de cama. Do tecto de palma pendiam ramos, feixes de ervas, répteis dissecados, penas, colares de contas, sementes, conchas, e outras coisas necessárias para a sua ciência. O médico bebeu dois goles de uma cabaça, esperou uns minutos até recuperar o fôlego e, quando se sentiu mais aliviado, aproximou-se para observar o altar, onde havia oferendas de flores de papel, pedaços de camote, um dedal com água e tabaco para os loas. Sabia que a cruz não era cristã, representava as encruzilhadas, mas não teve dúvidas de que a estatueta de gesso pintado era a da Virgem Maria. Tété explicou-lhe que fora ela que a tinha dado à sua madrinha, era uma prenda da ama. «Mas eu prefiro Erzuli e a minha madrinha também», acrescentou. O médico fez intenção de pegar no sagrado asson do vodu, uma cabaça pintada de símbolos, montada numa vara, decorada com contas e cheia com ossinhos de um falecido recém-nascido, mas conteve-se a tempo. Ninguém lhe devia tocar sem autorização do dono. «Isto confirma o que ouvi: Tante Rose é uma sacerdotisa, uma mambo», comentou. Habitualmente, o asson estava em poder do houngan, mas, em Saint-Lazare, não havia um houngan, e era Tante Rose quem conduzia as cerimónias. O médico bebeu mais água, molhou o lenço e atou-o ao pescoço antes de se lançar outra vez ao calor. Tante Rose não levantou os olhos da sua meticulosa tarefa e também não os convidou para se sentarem, porque só contava com uma cadeira. Era difícil calcular a sua idade, tinha o rosto jovem, mas o corpo maltratado. Os seus braços eram magros e fortes, os peitos pendiam como papaias sob a camisa, tinha a pele muito escura, o nariz direito e largo na base, os lábios bem delineados e o olhar intenso. Cobria a cabeça com um lenço, sob o qual se adivinhava a massa abundante do cabelo, que nunca cortara e usava dividido em rolos ásperos e apertados, como cordas de sisal. Uma carroça tinha-lhe passado por cima de uma perna aos catorze anos, partindo-lhe vários ossos que soldaram mal, por isso, caminhava com esforço, apoiada na bengala que um escravo agradecido talhou para ela. A mulher considerava que o acidente fora um golpe de sorte, porque a livrou dos canaviais. Qualquer outra escrava aleijada teria acabado a revolver o melaço a ferver ou a lavar roupa no rio, mas ela foi a excepção, porque, desde muito nova, os loas distinguiram-na como mambo. Parmentier nunca a vira numa cerimónia, mas era-lhe possível imaginá-la em transe, transformada. No vodu, todos eram oficiantes e podiam experimentar a divindade quando eram montados pelos loas, o papel do hougan ou da mambo consistia apenas em preparar o hounfort para a cerimónia. Valmorain havia manifestado a Parmentier as suas dúvidas de que Tante Rose fosse uma charlatã que se valia da ignorância dos seus pacientes. «O que importa são os resultados. Ela acerta mais com os seus métodos do que eu com os meus», respondeu-lhe o médico.
Vindas dos campos, chegavam as vozes dos escravos a cortar cana, todos ao mesmo ritmo. O trabalho começava antes do amanhecer, porque tinham de ir buscar forragem para os animais e lenha para as fogueiras, depois laboravam de sol a sol, com uma pausa de duas horas ao meio-dia, quando o sol ficava branco e a terra suava. Cambray tinha pretendido eliminar esse descanso, estipulado pelo Código Negro e recusado pela maior parte dos plantadores, mas Valmorain considerava-o necessário. Também lhes dava um dia de descanso por semana para que cultivassem os seus vegetais e um pouco de comida, nunca a suficiente, mas mais do que em algumas plantações, onde se partia do pressuposto de que os escravos deviam sobreviver com o cultivo das suas hortas. Tété tinha ouvido comentar uma reforma do Código Negro: três dias de feriado por semana e abolição do chicote, mas também ouvira que nenhum colono acataria essa lei, no hipotético caso de que o Rei a aprovasse. Quem ia trabalhar para outro sem chicote? O doutor não entendia as palavras da canção dos trabalhadores. Estava há muitos anos na ilha e tinha acostumado o ouvido ao créole da cidade, uma derivação do francês, entrecortado e com ritmo africano, mas o créole das plantações tornava-se-lhe incompreensível, porque os escravos o haviam convertido numa língua codificada para excluir os brancos; por isso, necessitava de Tété como tradutora. Inclinou-se para observar uma das folhas que Tante Rose estava a separar: «Para que servem?», perguntou-lhe. Ela explicou-lhe que o koulant é para os tambores do peito, os barulhos da cabeça, o cansaço do entardecer e o desespero. «Seria bom para mim? Falha-me o coração», disse ele. «Servia-lhe, porque o koulant também tira os peidos», replicou ela e desataram-se os três a rir. Nesse momento, ouviram o galopar de um cavalo que se aproximava. Era um dos commandeurs que vinha à procura de Tante Rose porque tinha havido um acidente no moinho. «Séraphine meteu a mão onde não devia!», gritou de cima da montada e partiu de imediato, sem se oferecer para levar a curandeira. Ela envolveu delicadamente as folhas com o trapo e pô-las na sua cabana, pegou na bolsa, que estava sempre preparada , e pôs-se a andar o mais depressa possível, seguida por Tété e o médico.
Pelo caminho, ultrapassaram várias carroças que avançavam com o passo lento dos bois, carregadas até cima com um molho de canas acabadas de cortar, que não podia esperar mais de dois dias para ser processada. Quando se aproximaram dos toscos edifícios de madeira do moinho, o cheiro denso do melaço colou-se-lhes à pele. Dos dois lados do caminho, os escravos trabalhavam com facas e catanas, vigiados pelos commandeurs. Ao mais pequeno sinal de fraqueza dos seus capatazes, Cambray mandava-os voltar a cortar cana e substituía-os por outros. Para reforçar os seus escravos, Valmorain alugara duas quadrilhas do seu vizinho Lacroix, e como Cambray não se importava quanto tempo duravam, a sua sorte era pior. Várias crianças percorriam as filas a distribuir água com baldes e uma concha. Muitos negros estavam pele e osso, os homens sem mais roupa do que um calção de serapilheira e um chapéu de palha, as mulheres com uma camisa comprida e um lenço na cabeça. As mães cortavam cana, dobradas pela cintura com os filhos às costas. Tinham os minutos contados para os amamentar nos dois primeiros meses e depois deviam deixá-los num alpendre, entregues a uma velha e aos miúdos mais velhos, que tratavam deles como podiam. Muitos morriam de tétano, paralisados, com os queixos travados, outros dos mistérios da ilha, porque os brancos não padeciam desse mal. Os amos não suspeitavam que se pudesse provocar esses sintomas sem deixar marca espetando uma agulha num ponto mole do crânio, antes dos ossos se soldarem, assim, a criança ia contente para a ilha debaixo do mar sem sofrer a escravidão. Era raro ver negros com o cabelo grisalho, como Tante Mathilde, a cozinheira de Saint-Lazare, que nunca trabalhara nos campos. Quando Violette Boisier a adquiriu para Valmorain, já contava uns anos, mas, no seu caso, a idade não importava, só a experiência, e ela tinha servido na cozinha de um dos affranchis mais ricos de Le Cap, um mulato educado em França que controlava a exportação de índigo.
No moinho, encontraram uma jovem deitada no chão no meio de uma nuvem de moscas e o estrépito das máquinas movidas por mulas. O processo, delicado, era confiado aos escravos mais hábeis, que deviam determinar a quantidade exacta de cal a usar e o tempo de fervura do mosto para obter açúcar de qualidade. No moinho, davam-se os piores acidentes e, dessa vez, a vítima, Séraphine, estava tão ensanguentada que Parmentier julgou que lhe tinha rebentado o peito, mas logo a seguir viu que o sangue brotava do toco do braço, que ela apertava contra o seu ventre redondo. Com um gesto rápido, Tante Rose tirou o trapo da cabeça e amarrou-lho acima do cotovelo, murmurando uma invocação. A cabeça de Séraphine caiu nos joelhos do doutor e Tante Rose mexeu-se para a acomodar no seu próprio regaço, abriu-lhe a boca e verteu-lhe um gole escuro de um frasco da sua bolsa. «É só melaço, para a reanimar», disse, embora ele não lhe tivesse perguntado. Um escravo explicou que a jovem estava a empurrar cana para a trituradora, distraiu-se por um momento e as rodas dentadas apanharam-lhe a mão. Os seus gritos alertaram-no e conseguiu parar as mulas antes que a sucção da máquina lhe levasse o braço até ao ombro. Para a libertar, teve de lhe cortar a mão com a catana que estava pendurada num gancho para esse fim. «É preciso estancar o sangue. Se não infectar, viverá», determinou o doutor, e mandou o escravo ir à casa grande buscar a sua maleta. O homem hesitou porque só recebia ordens dos commandeurs, mas bastou uma palavra de Tante Rose para ir a correr. Séraphine tinha aberto um pouco os olhos e dizia algo entre dentes que o doutor mal conseguiu captar. Tante Rose debruçou-se sobre ela para a ouvir.
«Não posso,já p'tite, o branco está aqui, não posso», respondeu-lhe, num sussurro. Dois escravos levantaram Séraphine e levaram-na para uma barraca de tábuas, onde a deitaram em cima de uma mesa de madeira grossa. Tété espantou as galinhas e um porco, que fariscavam entre o lixo do chão, enquanto os homens seguravam Séraphine e a curandeira a lavava com água de um balde. «Não posso, p 'tite, não posso», repetia-lhe de vez em quando ao ouvido. Outro homem trouxe umas brasas do moinho. Felizmente, Séraphine tinha perdido os sentidos quando Tante Rose começou a cauterizar o toco. O doutor notou que estava prenhe de uns seis ou sete meses e pensou que, com a perda de sangue, abortaria seguramente.
Nessa altura, apareceu na ombreira do telheiro a figura de um ginete; um dos escravos correu para pegar nas rédeas e o homem saltou para o chão. Era Prosper Cambray, com uma pistola no cinto e o seu chicote na mão, vestido com calças escuras e camisa de tecido ordinário, mas com botas de couro e um chapéu americano de boa confecção, idêntico ao de Valmorain. Cego pela luz de lá de fora, não reconheceu o doutor Parmentier. «Que algazarra vem a ser esta?», perguntou, com a sua voz suave, que se tornava tão ameaçadora a bater com o chicote nas botas, como sempre fazia. Afastaram-se todos para que ele mesmo visse, e então distinguiu o doutor e mudou de tom.
— Não se incomode com esse disparate, doutor. Tante Rose ocupar-se-á de tudo. Permita-me que o acompanhe à casa grande. Onde está o seu cavalo? — perguntou-lhe, com amabilidade.
— Levem esta jovem para a cabana de Tante Rose para tratar dela. Está prenhe — replicou o doutor.
— Isso não é nenhuma novidade para mim — riu-se Cambray.
— Se a ferida gangrenar, vai ser necessário cortar-lhe o braço -insistiu Parmentier, corado de indignação. — Repito-lhe que a devem levar imediatamente para a cabana de Tante Rose.
— Para isto serve o hospital, doutor — respondeu-lhe Cambray.
— Isto não é um hospital, mas sim um estábulo imundo! O chefe dos capatazes percorreu o telheiro com uma expressão de curiosidade, como se o visse pela primeira vez.
— Não vale a pena preocupar-se com esta mulher, doutor; seja como for, já não serve para o açúcar e terei de a ocupar com outra coisa...
— Não me entendeu, Cambray — interrompeu-o o médico, desafiador: — Quer que recorra a Monsieur Valmorain para resolver isto? Tété não se atreveu a espreitar a expressão do chefe dos capatazes; nunca tinha ouvido ninguém falar-lhe naquele tom, nem mesmo o amo, e temeu que levantasse o punho contra o branco, mas, quando respondeu, a sua voz era humilde, como a de um criado.
— Tem razão, doutor. Se Tante Rose a salvar, pelo menos teremos a cria — decidiu, tocando com o cabo do chicote na barriga ensanguentada de Séraphine.
Um ser que não é humano
O jardim de Saint-Lazare, que surgiu como uma ideia impulsiva de Valmorain, pouco depois de se casar, com os anos tinha-se convertido no seu projecto favorito. Desenhou-o copiando ilustrações de um livro sobre os palácios de Luís XIV, mas, nas Antilhas, não se davam as flores da Europa e teve de contratar um botânico de Cuba, amigo de Sancho Garcia del Solar, para o assessorar. O jardim resultou colorido e abundante, mas precisava de ser defendido da voracidade do trópico por três infatigáveis escravos, que também se ocupavam das orquídeas, cultivadas à sombra. Tété saía todos os dias antes da canícula para cortar flores para os frestões da casa. Nessa manhã, Valmorain passeava com o doutor Parmentier pelo estreito trilho do jardim, que dividia os canteiros geométricos de arbustos e flores, a explicar-lhe que, depois do furacão do ano anterior, teve de plantar tudo de novo, mas a mente do médico andava por outro lado. Parmentier carecia de olho artístico para apreciar plantas decorativas, considerava-as um desperdício da Natureza; interessavam-lhe muito mais as feias matas da horta de Tante Rose, que tinham o poder de curar ou matar. Também o intrigavam os encantamentos da curandeira, porque tinha comprovado os seus benefícios nos escravos. Confessou a Valmorain que sentira mais do que uma vez a tentação de tratar um doente com os métodos dos bruxos negros, mas impediam-no o seu pragmatismo francês e o medo do ridículo.
— Essas superstições não merecem a atenção de um cientista como o senhor, doutor — troçou Valmorain.
— Vi curas prodigiosas, mon ami, assim como vi gente morrer sem qualquer causa, só porque se crêem vítimas da magia negra.
— Os africanos são muito sugestionáveis.
— E também os brancos. A sua esposa, para não irmos mais longe...
— Há uma diferença fundamental entre um africano e a minha esposa, por muito desequilibrada que esteja, doutor! Não me vai dizer que acredita que os negros são como nós, não é verdade? — interrompeu-o Valmorain.
— Sob o ponto de vista biológico, é evidente que são.
— Nota-se que o senhor lida pouco com eles. Os negros têm constituição para trabalhos pesados, sentem menos a dor e a fadiga, o seu cérebro é limitado, não sabem discernir, são violentos, desordeiros, preguiçosos, não têm ambição e sentimentos nobres.
— Poder-se-ia dizer o mesmo de um branco embrutecido pela escravidão, monsieur.
— Que argumento tão absurdo! — sorriu o outro, desdenhoso. — Os negros precisam de mão firme. E que conste que me refiro a firmeza, não a brutalidade.
— Nisto não há meios-termos. Uma vez aceite a noção de escravatura, o trato vem a dar no mesmo — rebateu o médico.
— Não estou de acordo. A escravidão é um mal necessário, a única forma de tratar de uma plantação, mas pode ser feita de forma humanitária.
— Possuir e explorar outra pessoa não pode ser humano — replicou Parmentier.
— Nunca teve um escravo, doutor?
— Não. E também não o terei no futuro.
— Felicito-o. O senhor tem a boa estrela de não ser um plantador — disse Valmorain. — Não gosto da escravidão, garanto-lhe, e ainda gosto menos de viver aqui, mas alguém tem de tratar das colónias para que o senhor possa adoçar o seu café e fumar um charuto. Em França, aproveitam os nossos produtos, mas ninguém quer saber como se obtêm. Prefiro a honestidade dos ingleses e dos americanos, que aceitam a escravidão com sentido prático — concluiu Valmorain.
— Em Inglaterra e nos Estados Unidos, também há quem questione seriamente a escravidão e se recuse a consumir os produtos das ilhas, em especial o açúcar — recordou-lhe Parmentier.
— São um número insignificante, doutor. Acabo de ler numa revista científica que os negros pertencem a uma raça diferente da nossa.
— Como explica o autor que duas espécies diferentes tenham crias? — perguntou-lhe o doutor.
— Quando se cruza um potro com uma burra obtém-se uma mula, que não é um nem outro. Da mistura de brancos e negros nascem mulatos — disse Valmorain.
— As mulas não se podem reproduzir, monsieur, os mulatos sim. Diga-me, um filho seu com uma escrava seria humano? Teria uma alma imortal?
Irritado, Toulouse Valmorain voltou-lhe as costas e dirigiu-se para casa. Só se voltaram a ver à noite. Parmentier vestiu-se para jantar e apresentou-se na sala com a dor de cabeça tenaz que o atormentava desde a sua chegada à plantação, treze dias antes. Sofria de enxaquecas e desfalecimentos, dizia que o seu organismo não suportava o clima da ilha; no entanto, não contraíra nenhuma das doenças que dizimavam outros brancos. O ambiente de Saint-Lazare oprimia-o e a discussão com Valmorain tinha-o deixado mal-humorado. Desejava voltar para Le Cap, onde o aguardavam outros pacientes e o consolo discreto da sua doce Adèle, mas tinha-se comprometido a assistir Eugenia e pensava cumprir a sua palavra. Tinha-a examinado nessa manhã e calculava que o parto ocorreria muito em breve. O seu anfitrião esperava-o e recebeu-o sorridente, como se a desagradável discussão do meio-dia nunca tivesse acontecido. Durante a refeição, falaram de livros e da política na Europa, cada dia mais incompreensível, e estiveram de acordo que a Revolução Americana de 1776 tinha tido uma enorme influência em França, onde alguns grupos atacavam a monarquia em termos tão devastadores como os que os americanos tinham usado na sua Declaração da Independência. Parmentier não ocultava a sua admiração pelos Estados Unidos e Valmorain partilhava-a, embora apostasse que a Inglaterra recuperaria o controlo da sua colónia americana com pólvora e sangue, como faria qualquer império com intenções de o continuar a ser. E se Saint-Domingue se tornasse independente de França, como os americanos se tornaram independentes da Inglaterra?, especulou Valmorain, esclarecendo logo a seguir que era uma pergunta retórica, de maneira alguma um apelo à sedição. Também se referiram ao acidente no moinho, e o médico afirmou que se poderia evitar acidentes se os turnos fossem mais curtos, porque o trabalho brutal das trituradoras e o calor dos caldeirões perturbava o entendimento. Disse-lhe que a hemorragia de Séraphine tinha sido estancada e era muito cedo para se detectar sinais de infecção, mas perdera muito sangue, estava perturbada e tão fraca que não reagia; porém, absteve-se de acrescentar que seguramente Tante Rose a mantinha adormecida com as suas poções. Não pensava voltar ao tema da escravidão, que tanto tinha desgostado o seu anfitrião, mas, depois do jantar, instalados na arcada a gozar a frescura da noite, conhaque e charutos, foi o próprio Valmorain a referi-lo.
— Desculpe a minha exaltação desta manhã, doutor. Receio que, nesta solidão, tenha perdido o bom hábito da conversação intelectual. Não quis ofendê-lo.
— Não me ofendeu, monsieur.
— Não vai acreditar, doutor, mas, antes de vir para aqui, eu admirava Voltaire, Diderot e Rousseau — contou-lhe Valmorain.
— Agora não?
— Agora ponho em dúvida as especulações dos humanistas. A vida na ilha endureceu-me, ou digamos que me tornei mais realista. Não consigo aceitar que os negros sejam tão humanos como nós, embora tenham inteligência e alma. A raça branca criou a nossa civilização. A África é um continente escuro e primitivo.
— Já lá esteve, mon ami?
— Não.
— Eu sim. Passei dois anos em África, a viajar de um lado para o outro — contou o doutor. — Na Europa, sabe-se muito pouco sobre esse continente com um imenso e variado território. Em África, já existia uma complexa civilização quando nós, os europeus, vivíamos em grutas, cobertos de peles. Concedo-lhe que, num aspecto, a raça branca é superior: somos mais agressivos e ambiciosos. Isso explica o nosso poderio e a extensão dos nossos impérios.
— Muito antes dos europeus terem chegado a África, os negros escravizavam-se uns aos outros, e ainda o fazem — disse Valmorain.
— Tal como os brancos se escravizam uns aos outros, monsieur — refutou o médico. — Nem todos os negros são escravos e nem todos os escravos são negros. A África é um continente de gente livre. Há milhões de negros submetidos à escravidão, mas há muitos mais que são livres. O seu destino não é a escravidão, assim como também o não é o dos milhares de brancos que também são escravos.
— Compreendo a sua repugnância pela escravidão, doutor — disse Valmorain. — Também a mim me agrada a ideia de a substituir por outro sistema de trabalho, mas receio que, em certos casos, como as plantações, não o haja. A economia do mundo assenta nela, não se pode abolir.
— Talvez não da noite para o dia, mas podia fazer-se de forma gradual. Em Saint-Domingue, passa-se o contrário, aqui o número de escravos aumenta todos os anos. Já imaginou quando se sublevarem? — perguntou Parmentier.
— O senhor é um pessimista — comentou o outro, bebendo o resto do seu licor.
— Como poderia não o ser? Estou há muito tempo em Saint-Domingue, monsieur, para lhe ser franco, estou farto. Vi horrores. Para não irmos mais longe, há pouco estive na habitation Lacroix, onde, nos últimos dois meses, se suicidaram dois escravos. Dois lançaram-se para dentro do caldeirão do melaço a ferver, tal o ponto a que estavam desesperados.
— Nada o retém aqui, doutor. Com a sua licença real pode exercer a sua ciência onde desejar.
— Suponho que um dia me irei embora — respondeu o médico, a pensar que não podia mencionar a única razão para ficar na ilha: Adèle e os filhos.
— Eu também desejo levar a minha família para Paris — acrescentou Valmorain, mas sabia que essa possibilidade era remota.
A França estava em crise. Nesse ano, o director-geral do Tesouro tinha convocado uma Assembleia de Notáveis para obrigar a nobreza e o clero a pagarem impostos e partilharem a carga económica, mas a sua iniciativa caiu em saco roto. À distância, Valmorain podia ver como o sistema político se desmoronava.
Não era o momento para voltar para França e também não podia deixar a plantação nas mãos de Prosper Cambray. Não confiava nele, mas sentia a sua falta porque estava há muitos anos ao seu serviço, e trocá-lo seria pior do que suportá-lo. A verdade, que jamais teria admitido, era que tinha medo dele. O doutor também bebeu o resto do seu conhaque, saboreando o formigueiro no palato e a ilusão de bem-estar que o invadia por breves instantes. Latejavam-lhe as fontes da cabeça e a dor tinha-se alojado nas crateras dos olhos. Pensou nas palavras de Séraphine, que conseguira escutar no moinho, a pedir a Tante Rose que a ajudasse a ir com o seu filho nonato para o lugar dos Mortos e dos Mistérios, de volta à Guiné. «Não posso, p'tite.» Interrogou-se o que teria feito aquela mulher se ele não tivesse estado presente. Talvez a tivesse ajudado, mesmo correndo o risco de ser surpreendida e pagá-lo caro. Há maneiras discretas de o fazer, pensou o doutor, muito cansado.
— Desculpe por insistir na nossa conversa da manhã, monsieur. A sua esposa julga-se vítima do vodu, diz que os escravos a enfeitiçaram. Penso que podemos usar essa obsessão a seu favor.
— Não o entendo — disse Valmorain.
— Poderíamos convencê-la de que Tante Rose consegue contrariar a magia negra. Não perdemos nada em experimentar.
— Vou pensar nisso, doutor. Depois de Eugenia dar à luz, trataremos dos seus nervos — replicou Valmorain, com um suspiro.
Nesse momento, a silhueta de Tété passou pelo pátio, iluminada pela luz da Lua e das tochas, que eram mantidas acesas durante a noite para a vigilância. Os homens seguiram-na com o olhar. Valmorain chamou-a com um assobio e, um instante depois, ela apresentou-se na arcada, tão silenciosa e leve como um gato. Vestia uma saia rejeitada pela ama, debotada e remendada, mas de boa confecção, e um engenhoso turbante com vários nós que acrescentavam um palmo à sua altura. Era uma jovem esbelta, de faces proeminentes, olhos alongados com pálpebras adormecidas e pupilas douradas, com graça natural e movimentos precisos e fluidos. Irradiava uma poderosa energia, que o doutor sentiu na pele. Adivinhou que, sob a sua aparência austera, ocultava-se a energia contida de um felino em repouso. Valmorain apontou para o copo e ela foi ao aparador da sala de jantar, regressou com a garrafa de conhaque e serviu-os aos dois.
— Como está madame? — perguntou Valmorain.
— Tranquila, amo — respondeu ela e recuou para se retirar.
— Espera, Tété. A ver se nos ajudas a resolver uma dúvida. O doutor Parmentier defende que os negros são tão humanos como os brancos e eu digo o contrário. O que é que tu achas? — perguntou-lhe Valmorain, num tom que ao médico pareceu mais paternal do que sarcástico.
Ela permaneceu muda, com os olhos no chão e as mãos juntas.
— Vamos, Tété, responde sem medo. Estou à espera...
— O amo tem sempre razão — murmurou ela, por fim.
— Ou seja, és de opinião de que os negros não são completamente humanos...
— Um ser que não é humano não tem opinião, amo.
O doutor Parmentier não pôde evitar uma gargalhada espontânea e Toulouse Valmorain, depois de um momento de hesitação, riu-se também. Com um gesto da mão, mandou a escrava embora, que se esfumou na sombra.
Zarité
No dia seguinte, a meio da tarde, Dona Eugenia deu à luz. Foi rápido, embora ela só tenha cooperado no último momento. O doutor estava a seu lado, a olhar de uma cadeira, porque agarrar bebés não é coisa de homens, como ele mesmo nos disse. O amo Valmorain acreditava que uma licença de médico com um selo real valia mais do que a experiência e não quis chamar Tante Rose, a melhor parteira do Norte da ilha; até as mulheres brancas recorriam a ela quando chegavam ao fim do tempo. Segurei a minha ama, refresquei-a, rezei em espanhol com ela e dei-lhe a água benta que lhe mandaram de Cuba. O doutor conseguia ouvir nitidamente o latejar do coração do bebé, estava pronto para nascer, mas Dona Eugenia recusava-se a ajudar. Expliquei-lhe que a minha ama ia parir um zumbi e que o Baron Samedi tinha vindo para o levar, e desatou a rir-se com tanta vontade que as lágrimas lhe corriam. Aquele branco andava há anos a estudar o vodu, sabia que o Baron Samedi é o servidor e parceiro de Guédé, loa do Mundo dos Mortos; não sei porque achava tanta piada agora. «Que ideia tão grotesca! Não vejo barão nenhum!» O Baron não se mostra diante dos que não o respeitam. Compreendeu rapidamente que o assunto não era para brincadeiras, porque Dona Eugenia estava muito agitada. Mandou-me ir buscar Tante Rose. Encontrei o amo num cadeirão da sala, adormecido com vários cálices de conhaque; autorizou-me a chamar a minha madrinha e fui a voar buscá-la. Estava pronta à minha espera, com o seu vestido branco de cerimónia, a sua boba, os seus colares e o asson. Dirigiu-se à casa grande sem me fazer perguntas, subiu a arcada e entrou pela porta dos escravos. Para chegar ao quarto de Dona Eugenia, tinha de passar pela sala, e as pancadas da sua bengala nas tábuas do chão despertaram o amo. «Cuidado com o que fazes a madame», avisou-a com voz trôpega, mas ela não lhe ligou e continuou em frente, percorreu o corredor às apalpadelas e deu com o quarto onde tinha estado muitas vezes para atender Dona Eugenia. Desta vez não vinha como curandeira, mas como mambo, ia enfrentar o parceiro da Morte.
Do umbral, Tante Rose viu o Baron Samedi efoi sacudida por um calafrio, mas não recuou. Cumprimentou-o com uma vénia, agitando o asson com o seu chocalhar de ossinhos, e pediu-lhe autorização para se aproximar da cama. O loa dos cemitérios e das encruzilhadas, com o seu rosto branco de caveira e o seu chapéu preto, afastou-se, convidando-a a aproximar-se de Dona Eugenia, que boquejava como um peixe, molhada, com os olhos vermelhos de terror, a lutar contra o seu corpo que se esmerava a soltar a criança, enquanto ela apertava com força para o reter. Tante Rose colocou-lhe ao pescoço um dos seus colares de sementes e conchas e disse-lhe umas palavras de consolo, que repeti em espanhol. Depois, voltou-se para o Baron.
O doutor Parmentier observava, fascinado, apesar de só ver aparte que dizia respeito a Tante Rose; pelo contrário, eu via tudo. A minha madrinha acendeu um charuto e abanou-o, enchendo o ar com umafumarada que impedia a respiração, porque a janela permanecia sempre fechada para impedir a entrada dos mosquitos; a seguir, desenhou um círculo de carvão à volta da cama epôs-se a rodar compassos de dança, a apontar para os quatro cantos com o asson. Uma vez concluída a sua saudação aos espíritos, fez um altar com vários objectos sagrados da sua bolsa, onde colocou oferendas de rum e contas, e,por último, sentou-se aos pés da cama, pronta para negociar com o Baron. Enredaram-se ambos num prolongado regateio em créole, tão cerrado e veloz que pouco entendi, embora tenha escutado várias vezes o nome Séraphine. Discutiam, aborreciam-se, riam-se, ela fumava o charuto e soprava o fumo, que ele engolia à boca cheia. Continuaram assim durante um grande bocado e o doutor Parmentier começou a perder a paciência. Procurou abrir a janela, mas não era usada há muito tempo e estava trancada. A tossir e a lacrimejar por causa do fumo, tomou o pulso a Dona Eugenia, como se não soubesse que as crianças saem por baixo, muito longe do pulso.
Finalmente, Tante Rose e o Baron chegaram a um acordo. Ela dirigiu-se para aporta e, com uma profunda vénia, despediu-se do loa, que saiu com os seus saltinhos de rã. Depois, Tante Rose explicou a situação à ama: o que tinha na barriga não era carne de cemitério, mas sim um bebé normal que o Baron Samedi não levaria. Dona Eugenia deixou de se debater e concentrou-se a fazer força com todo o seu ânimo, e, de repente, um jacto de líquido amarelado e sangue mancharam os lençóis. Quando a cabeça do infante assomou, a minha madrinha pegou-lhe suavemente e ajudou a sair o resto do corpo. Entregou-me o recém-nascido e anunciou à mãe que era um rapagão, mas ela nem o quis ver, voltou a cara para a parede e fechou os olhos, extenuada. Eu apertei-o contra o meu peito, segurando-o bem, porque estava coberto de gordura e escorregadio. Tive a certeza absoluta de vir a amar aquela criança como se fosse minha e agora, depois de tantos anos e tanto amor, sei que não me enganei. Pus-me a chorar.
Tante Rose esperou que a ama expulsasse o que ainda tinha dentro dela e limpou-a, depois bebeu um gole da oferenda de rum do altar, pôs os seus haveres dentro da boba e saiu do quarto apoiada na sua bengala. O doutor escrevia depressa no seu caderno, enquanto eu continuava a chorar e a lavar o bebé, que era leve como um gatinho. Agasalhei-o com a manta tecida nas minhas tardes na arcada e levei-o ao pai para que o conhecesse, mas o amo tinha tanto conhaque no corpo que não consegui despertá-lo. No corredor, aguardava uma escrava com os seios inchados, acabada de tomar banho e com a cabeça rapada por causa dos piolhos, que daria o seu leite ao filho dos amos na casa grande, enquanto o dela era criado com água de arroz no sector dos negros. Nenhuma branca cria os seus filhos, pensava eu então. A mulher sentou-se no chão, com as pernas cruzadas, abriu a blusa e recebeu o pequenito, que se agarrou ao seu seio. Eu senti a pele a arder-me e endureciam-se-me os mamilos: o meu corpo estava pronto para essa criança.
A essa mesma hora, na cabana de Tante Rose, Séraphine morreu sozinha, sem se dar conta, porque estava a dormir. Assim foi.
A concubina
Puseram-lhe o nome de Maurice. O pai estava comovido até aos ossos com aquela inesperada oferta do céu, que vinha combater a sua solidão e despertar-lhe a ambição. Esse filho ia prolongar a dinastia Valmorain. Declarou dia de festa, ninguém trabalhou na plantação, mandou assar vários animais e dispensou três ajudantes a Tante Mathilde para que não faltassem pratos picantes de milho e uma variedade de vegetais e bolos para toda a gente. Autorizou uma calenda no pátio principal, em frente à casa grande, que se encheu de uma multidão buliçosa. Os escravos enfeitaram-se com o pouco que possuíam — um trapo de cor, um colar de conchas, uma flor -, levaram os seus tambores e outros instrumentos improvisados, e, pouco depois, havia música e gente a dançar sob o olhar trocista de Cambray. O amo mandou distribuir dois barris de tafia e cada escravo recebeu na sua cabaça uma boa dose para brindar. Tété apareceu na arcada com a criança envolta numa mantilha e o pai pegou-lhe para o levantar acima da cabeça e mostrá-lo aos escravos. «Este é o meu herdeiro! Vai chamar-se Maurice Valmorain, como o meu pai!», exclamou, rouco de emoção e ainda um pouco ressacado pela bebedeira da noite anterior. Um silêncio de fundo de mar acolheu as suas palavras. Até Cambray se assustou. Aquele branco ignorante tinha cometido a incrível imprudência de dar ao seu filho o nome de um avô defunto que, ao ser chamado, podia sair da tumba e raptar o neto para o levar para o Mundo dos Mortos. Valmorain acreditou que o silêncio se devia ao respeito e ordenou que se passasse uma segunda rodada de tafia e se continuasse com o folguedo. Tété recuperou o recém-nas-cido e levou-o a correr, aspergindo-lhe a cara com uma chuva de saliva para o proteger da desgraça invocada pela imprudência do pai.
No dia seguinte, quando os escravos domésticos limpavam o pátio do lixo do carnaval e os outros tinham voltado aos canaviais, o doutor Parmentier preparou-se para regressar à cidade. O pequeno Maurice mamava na sua ama, como um vitelo, e Eugenia não apresentava sintomas da fatal febre do ventre. Tété esfregara-lhe os peitos com uma mistura de banha e mel e vendara-os com um pano vermelho, método de Tante Rose para secar o leite antes que começasse a fluir. Na mesinha-de-cabeceira de Eugenia, alinhavam-se os frascos de gotas para o sono, de obreias(1) para a angústia e de xaropes para suportar o medo, nada que a pudesse curar, como o próprio médico admitia, mas aliviavam a sua existência. A espanhola era uma sombra de pele cinzenta e rosto desfigurado, mais devido à tintura de ópio do que ao desequilíbrio da sua mente. Maurice tinha sofrido dentro da mãe os efeitos da droga, explicou o médico a Valmorain, por isso, nasceu tão pequeno e tão frágil, seguramente, seria pouco saudável, necessitava de ar, sol e boa alimentação. Ordenou que dessem três gemas de ovo por dia à ama para fortalecer o leite. «Agora, a ama e o bebé ficam a teu cargo, Tété. Não podiam estar em melhores mãos», acrescentou. Toulouse Valmorain pagou-lhe sobejamente os seus serviços e despediu-se com pesar, porque estimava verdadeiramente aquele homem culto e de boa índole com quem tinha desfrutado incontáveis partidas de cartas nas longas tardes de Saint-Lazare. Iria sentir falta das conversas com ele, especialmente aquelas em que não estavam de acordo, (1) Folha delgada de massa de farinha para colar papéis e fazer hóstias. (N. do T.) porque o obrigavam a exercitar-se na esquecida arte de argumentar por prazer. Destacou dois capatazes armados para acompanhar o médico de volta a Le Cap.
Parmentier estava a empacotar, tarefa que não delegava nos escravos, porque era muito meticuloso com os seus haveres, quando Tété bateu discretamente à porta e perguntou, com a voz num sumiço, se podiam ter uma pequena conversa em privado. Parmentier tinha estado com ela muitas vezes, usava-a para comunicar com Eugenia, que parecia ter esquecido o francês, e com os escravos, em especial com Tante Rose. «És uma boa enfermeira, Tété, mas não trates a tua ama como uma inválida, tem de começar a tomar conta de si sozinha», avisou-a quando a viu a dar-lhe papa com uma colher na boca e soube que a sentava no bacio e lhe limpava o traseiro para que não se sujasse de pé. A jovem respondia às suas perguntas com precisão, num francês correcto, mas nunca iniciava um diálogo nem o olhava de frente, o que lhe tinha permitido observá-la com prazer. Devia ter uns dezassete anos, embora o seu corpo não parecesse o de uma adolescente, mas o de uma mulher. Valmorain contara-lhe a história de Tété durante uma das caçadas que fizeram juntos. Sabia que a mãe da escrava chegara prenhe à ilha e que foi comprada por um affranchi, dono de um negócio de cavalos em Le Cap. A mulher tentou provocar um aborto, pelo que recebeu mais açoites do que outra no seu estado teria suportado, mas a criatura no seu ventre era tenaz e nasceu sã no seu devido tempo. Assim que a mãe conseguiu levantar-se, tentou esborrachá-la contra o chão, mas arrancaram-lha a tempo. Uma outra escrava cuidou dela durante algumas semanas, até que o dono resolveu utilizá-la para pagar uma dívida de jogo a um funcionário francês de apelido Pascal, mas a mãe nunca o veio a saber, porque se tinha atirado ao mar de um parapeito. Valmorain disse que comprou Tété para donzela da sua mulher e saiu premiado, porque a rapariga acabou por ser enfermeira e governanta. Pelos vistos, agora seria também a ama de Maurice.
— O que queres, Tété? — perguntou-lhe o doutor, enquanto colocava com cuidado os seus valiosos instrumentos de prata e de bronze numa caixa de madeira polida.
Ela fechou a porta e contou-lhe com o mínimo de palavras e sem qualquer expressão no rosto, que tinha um filho com pouco mais de um ano, que só vira por um instante quando nasceu. A Parmentier pareceu que avoz se lhe embargava, mas quando voltou a falar para lhe explicar que teve a criança enquanto a sua ama descansava num convento em Cuba, usou o mesmo tom neutro de anteriormente.
— O amo proibiu-me de mencionar a criança. Dona Eugenia não sabe de nada — concluiu Tété.
— Monsieur Valmorain fez bem. A sua esposa não podia ter filhos e ficava muito perturbada quando via crianças. Alguém sabe do teu filho?
— Só Tante Rose. Creio que o chefe dos capatazes suspeita, mas não conseguiu confirmar.
— Agora que madame tem o seu próprio bebé, a situação mudou. Seguramente que o teu amo vai querer recuperar o teu filho, Tété. Bem vistas as coisas, é propriedade sua, não? — comentou Parmentier.
— Sim, é propriedade sua. E também é seu filho.
«Como é que não me ocorreu o mais óbvio!», pensou o doutor. Não tinha vislumbrado nem o menor sinal de intimidade entre Valmorain e a escrava, mas era de supor que, com uma esposa no estado da sua, o homem se consolaria com qualquer mulher ao alcance da sua mão. Tété era muito atraente, tinha o seu quê de enigmático e sensual. Mulheres como ela são gemas que só um olho treinado sabe distinguir entre pedregulhos, pensou, são caixas fechadas que o amante deve abrir pouco a pouco para revelar os seus mistérios. Qualquer homem poderia sentir-se muito afortunado com o seu afecto, mas duvidava que Valmorain a soubesse apreciar. Recordou a sua Adèle, com nostalgia. Também ela era um diamante em bruto. Tinha-lhe dado três filhos e muitos anos de companhia tão discreta que ele nunca precisou de dar explicações à mesquinha sociedade onde exercia a sua ciência. Se soubessem que tinha uma concubina e filhos de cor, os brancos tê-lo-iam repudiado; em contrapartida, aceitavam com a maior naturalidade os boatos de que era maricas e por isso estava solteiro e desaparecia com frequência nos bairros dos affranchis, onde os chulos ofereciam meninos para todos os caprichos. Por amor a Adèle e aos filhos, não podia voltar para França, por muito desesperado que se sentisse na ilha. «Com que então, o pequeno Maurice tem um irmão... Na minha profissão, acabamos por saber tudo», murmurou entre dentes. Valmorain não tinha mandado a mulher para Cuba para que recuperasse a saúde, como anunciou nessa ocasião, mas para lhe ocultar o que se passava na sua própria casa. Para quê tantos melindres? Era uma situação comum e aceite, a ilha estava cheia de bastardos de raças misturadas, inclusive, pareceu-lhe ver um par de mulatitos entre os escravos de Saint-Lazare. A única explicação era que Eugenia nunca teria suportado que o seu marido se deitasse com Tété, a sua única âncora na profunda confusão da sua loucura. Valmorain deve ter adivinhado que isso acabaria por matá-la e foi capaz de aceitar o cinismo de que, na realidade, a sua mulher estaria melhor morta. Enfim, não era assunto da sua competência, decidiu o médico. Valmorain devia ter os seus motivos e não lhe competia a ele averiguá-los, mas intrigava-o saber se tinha vendido o filho ou se apenas pretendia mantê-lo afastado durante um tempo prudente.
— O que posso eu fazer, Tété? — perguntou Parmentier.
— Por favor, doutor, pode perguntar a Monsieur Valmorain? Preciso de saber se o meu filho está vivo, se o vendeu e a quem...
— Não me compete fazer isso, seria uma descortesia. No teu lugar, eu não pensaria mais nele.
— Sim, doutor — respondeu ela, numa voz quase inaudível.
— Não te preocupes, estou seguro de que está em boas mãos -acrescentou Parmentier, condoído.
Tété saiu do quarto e fechou a porta sem fazer barulho.
Com o nascimento de Maurice, as rotinas da casa mudaram. Se Eugenia permanecia calma, Tété vestia-a, levava-a a dar uns passos pelo pátio e depois instalava-a na galeria, com Maurice no seu berço. Ao longe, Eugenia parecia uma mãe normal a vigiar o sono do filho, salvo pelos mosquiteiros que os cobriam a ambos, mas essa ilusão desvanecia-se ao aproximar-se e ver a expressão ausente da mulher. Poucas semanas depois de dar à luz, sofreu outra das suas crises e não quis sair mais para o ar livre, convencida de que os escravos a espiavam para a assassinar. Passava o dia no quarto, oscilando entre o aturdimento do láudano e o delírio da sua demência, tão perdida que se lembrava muito pouco do seu filho. Nunca perguntou como era alimentado e ninguém lhe disse que Maurice estava a ser criado agarrado ao mamilo de uma africana, porque teria concluído que mamava leite empeçonhado. Valmorain esperava que o implacável instinto da maternidade conseguisse devolver o juízo à sua mulher, como um vendaval que lhe chegaria aos ossos e ao coração, deixando-a limpa por dentro, mas quando a viu abanar Maurice como um boneco de trapos para o fazer calar, correndo o risco de lhe partir o pescoço, compreendeu que a pior ameaça para a criança era a sua própria mãe. Arrancou-lho e, sem se conseguir conter, deu-lhe uma bofetada na cara que a fez cair de costas. Nunca tinha batido a Eugenia e ele mesmo se surpreendeu com a sua violência. Tété levantou a ama do chão, que chorava sem compreender o que se tinha passado, deitou-a na cama e foi preparar-lhe uma infusão para os nervos. Toulouse encontrou-a no meio do caminho e pôs-lhe a criança nos braços.
— A partir de agora, tomas conta do meu filho. Qualquer coisa que lhe aconteça, irás pagá-lo muito caro. Não permitas que Eugenia lhe volte a tocar! — bramiu.
— E o que farei quando a ama pedir o seu filho? — perguntou Tété, apertando o minúsculo Maurice contra o peito.
— Não me importa o que faças! Maurice é o meu único filho e não deixarei que essa imbecil lhe faça mal.
Tété cumpriu em parte o que lhe foi pedido. Levava a criança a Eugenia durante curtos momentos e deixava-a pegar-lhe, enquanto ela vigiava. A mãe ficava imóvel com o volumezinho nos joelhos, a olhá-lo com uma expressão de assombro, que em breve dava lugar à impaciência. Poucos instantes depois, devolvia-o a Tété e a sua atenção vagueava noutra direcção. Tante Rose teve a ideia de envolver uma boneca de trapos na manta de Maurice e verificaram que a mãe não notava a diferença, podendo assim espaçar as visitas até que deixaram de ser necessárias. Instalaram Maurice noutro quarto, onde dormia com a sua ama, e, durante o dia, Tété pendurava-o às costas, envolto num lenço, como as africanas. Se Valmorain estava em casa, punha-o no berço, na sala ou na arcada, para que o pudesse ver. O cheiro de Tété foi o único que Maurice identificou durante os seus primeiros meses de vida; a ama tinha de vestir uma blusa usada por Tété para que a criança aceitasse o seu peito.
Na segunda semana de Julho, Eugenia saiu antes do amanhecer, descalça e em camisa, e dirigiu-se a cambalear em direcção ao rio pela avenida dos cacaueiros, que dava acesso à casa grande. Tété deu a voz de alarme e formaram-se de imediato quadrilhas para a procurar, que se uniram às patrulhas de vigilância da propriedade. Os sabujos conduziram-nos ao rio, onde a descobriram com a água pelo pescoço e os pés colados na lama do fundo. Ninguém conseguiu entender como tinha ido tão longe, porque temia a escuridão. À noite, os seus uivos de endemoninhada costumavam chegar até às choças dos escravos, pondo-os com pele de galinha. Valmorain deduziu que Tété não lhe dava gotas suficientes do frasco azul, porque, dopada, não se teria escapado, e ameaçou açoitá-la pela primeira vez. Ela passou vários dias à espera do castigo, aterrorizada, mas ele nunca deu a ordem.
Em breve, Eugenia acabou por se desligar do mundo, só tolerava Tété, que dormia de noite a seu lado, enrodilhada no chão, pronta para a resgatar dos seus pesadelos. Quando Valmorain desejava a escrava, indicava-lho com um gesto durante o jantar. Ela esperava que a doente tivesse adormecido, atravessava a casa sigilosamente e chegava ao quarto principal, na outra extremidade. Numa dessas vezes, em que despertou sozinha no quarto, Eugenia fugiu para o rio e, talvez por isso, o seu marido não fez Tété pagar a falta. Esses abraços nocturnos à porta fechada, entre o amo e a escrava na cama matrimonial, escolhida anos antes por Violette Boisier, nunca eram mencionados à luz do dia, só existiam no plano dos sonhos. À segunda tentativa de suicídio de Eugenia, desta vez com um incêndio, que por pouco não destruiu a casa, a situação ficou definida e nunca mais ninguém tentou manter as aparências. Na colónia veio a saber-se que Madame Valmorain tinha perdido o juízo e poucos se surpreenderam, porque há anos que corriam boatos de que a espanhola vinha de uma família de doidas varridas. Além disso, não era raro que as mulheres vindas de fora se transtornassem na colónia. Os maridos mandavam-nas recomporem-se noutro clima e eles consolavam-se com a variedade de raparigas de todos os tons que a ilha oferecia. As créoles, em contrapartida, desabrochavam nesse ambiente decadente, onde se podia sucumbir às tentações sem pagar as consequências. No caso de Eugenia, já era tarde para a mandar para qualquer lugar, excepto para um asilo, opção que Valmorain jamais teria considerado por sentido de responsabilidade e orgulho: a roupa suja lava-se em casa. A dele contava com muitas divisões, salão e sala de jantar, um escritório e duas caves, de maneira que podia passar semanas sem ver a mulher. Confiou-a a Tété e ele dedicou-se ao filho. Nunca imaginou que fosse possível amar tanto outro ser, mais do que a soma de todos os afectos anteriores, mais do que a si mesmo. Nenhum sentimento se assemelhava ao que Maurice lhe provocava. Podia passar horas a contemplá-lo, surpreendia-se a todo o momento a pensar nele e uma vez deu meia-volta quando ia a caminho de Le Cap e regressou a galope com o pressentimento de que tinha acontecido uma desgraça ao seu filho. O alívio de confirmar que não era verdade foi tão perturbador que desatou a chorar. Instalava-se na poltrona com o filho nos braços, a sentir o peso doce da cabeça no seu ombro e a respiração quente no seu pescoço, a aspirar o cheiro a leite azedo e suor infantil. Tremia só de pensar nos acidentes ou pestes que lho podiam arrebatar. Metade das crianças em Saint-Domingue morriam antes de completar cinco anos, eram as primeiras vítimas de uma epidemia, para não contar com os perigos incontáveis das maldições, de que ele só troçava por fora, ou uma insurreição dos escravos em que pereceriam, até ao último branco, como Eugenia profetizara durante anos.
Escrava para todo o serviço
A Valmorain, a doença mental da sua mulher deu-lhe uma boa desculpa para evitar a vida social, que o aborrecia, e três anos depois do nascimento do filho estava convertido num recluso. Os seus negócios obrigavam-no a ir a Le Cap e de vez em quando a Cuba, mas tornava-se perigoso movimentar-se devido aos numerosos bandos de negros que desciam das montanhas e assolavam os caminhos. A queima dos cimarrones em 1780 e outras posteriores não tinham conseguido desanimar os escravos de fugir nem os cimarrones de atacar as plantações e os viajantes. Preferia ficar em Saint-Lazare. «Não preciso de ninguém», dizia para consigo mesmo, com o orgulho obstinado dos vocacionados para a solidão. A medida que passavam os anos, desencantava-se mais com as pessoas; toda a gente, menos o doutor Parmentier, lhe parecia estúpida ou subornável. Só tinha relações comerciais com o seu agente judeu em Le Cap ou o seu banqueiro em Cuba. A outra excepção, além de Parmentier, era o seu cunhado Sancho Garcia del Solar, com quem mantinha fluente correspondência, mas viam-se pouco. Sancho divertia-o e os negócios que tinham empreendido resultaram lucrativos para ambos. Segundo confessava Sancho com muito bom humor, isso era um verdadeiro milagre, porque a ele nada lhe havia corrido bem até conhecer Valmorain. «Prepara-te, cunhado, porque qualquer dia afundo-te na ruína», parodiava, mas, logo a seguir, continuava a pedir-lhe dinheiro emprestado e, ao cabo de algum tempo, devolvia-lho multiplicado.
Tété dirigia os escravos domésticos com amabilidade e firmeza, minimizando os problemas para evitar a intervenção do amo. A sua figura magra, vestida com saia escura, blusa de algodão fino e um tignon engomado na cabeça, com o seu chocalho de chaves à cintura e o peso de Maurice às cavalitas na anca ou agarrado às suas saias quando aprendeu a caminhar, parecia estar em todo o lado ao mesmo tempo. Nada escapava à sua atenção, nem as instruções para a cozinha, nem a barrela da roupa, nem o trabalho das costureiras, nem as urgências do amo ou da criança. Sabia dar ordens e conseguiu treinar uma escrava, já sem préstimo nos canaviais, para a ajudar com Eugenia e libertá-la de dormir no quarto da doente. A mulher acompanhava-a, mas Tété ministrava-lhe os medicamentos e lavava-a, porque Eugenia não deixava que mais ninguém lhe tocasse. A única coisa de que Tété não prescindia era tratar de Maurice. Adorava, com ciúmes de mãe, aquele rapazito caprichoso, delicado e sentimental. Nessa altura, a ama-de-leite já tinha voltado para o telheiro dos escravos e Tété partilhava o quarto com o petiz. Deitava-se numa tarimba no chão e Maurice, que se recusava a ocupar a sua cama, encolhia-se a seu lado, apertado contra o seu corpo grande e cálido, aos seus seios generosos. Às vezes, ela acordava com a respiração do menino e acariciava-o na escuridão, comovida até ao pranto com o seu cheiro, as suas risadas alvoroçadas, as suas mãozinhas caídas, o seu corpo abandonado ao sono, a pensar no próprio filho e se acaso haveria outra mulher em algum lado a proporcionar-lhe o mesmo carinho. Dava a Maurice tudo aquilo que Eugenia não podia dar-lhe: contos, canções, risos, beijos e, de vez em quando, um carolo para que lhe obedecesse. Nessas raras ocasiões em que se zangava com ele, o miúdo atirava-se de bruços ao chão a espernear e ameaçava acusá-la ao pai, mas nunca o fez, porque, de certo modo, pressentia que as consequências seriam graves para essa mulher que era todo o seu universo.
Prosper Cambray não tinha conseguido impor a sua lei do terror entre a criadagem da casa, porque se havia criado uma fronteira tácita entre o pequeno território de Tété e o resto da plantação. A parte dela funcionava como uma escola, a dele como uma prisão. Na casa, existiam tarefas precisas atribuídas a cada escravo, que eram cumpridas com fluidez e com calma. Nos canaviais, as pessoas caminhavam em filas sob o chicote sempre pronto dos commandeurs, obedeciam sem hesitar e viviam num estado de alerta, porque qualquer descuido era pago com sangue. Cambray encarregava-se pessoalmente da disciplina. Valmorain não levantava a mão contra os escravos, considerava-o degradante, mas assistia aos castigos para estabelecer a sua autoridade e assegurar-se de que o chefe dos capatazes não se excedia. Nunca lhe fazia uma repreensão em público, mas a sua presença em frente do poste dos tormentos impunha-lhe um certo comedimento. A casa e os campos eram mundos à parte, mas a Tété e ao chefe dos capatazes não faltavam ocasiões para se encontrarem; então, o ar ficava carregado com a energia ameaçadora de uma tempestade. Cambray procurava-a, excitado pelo desprezo evidente da jovem, e ela evitava-o, preocupada com a sua lascívia descarada. «Se Cambray pisar o risco contigo, quero sabê-lo imediatamente, percebeste?», avisou-a mais de uma vez Valmorain, mas ela nunca se deu por achada; não lhe convinha provocar a ira do chefe dos capatazes.
Por ordem do seu amo, que não tolerava ouvir Maurice parler nèg, falar como os negros, Tété usava sempre o francês em casa. Com o resto das pessoas na plantação, entendia-se em créole e, com Eugenia, num espanhol que se ia reduzindo a uma meia dúzia de palavras indispensáveis. A doente estava mergulhada numa melancolia tão persistente e numa total indiferença dos sentidos que, se Tété não a alimentasse e lavasse, teria acabado desfalecida de fome e suja como um porco, e se não a movesse para a mudar de posição, os ossos teriam soldado, e se não a incitasse a falar, estaria muda. Já não sofria ataques de pânico; passava os dias, sonâmbula, num cadeirão, com o olhar fixo, como um boneco grande. Ainda rezava o rosário, que trazia sempre na bolsinha de couro pendurada ao pescoço, embora já não soubesse o que dizia. «Quando eu morrer, ficas com o meu rosário, não deixes que ninguém to tire porque foi benzido pelo Papa», dizia a Tété. Nos seus raros momentos de lucidez, rezava para que Deus a levasse. Segundo Tante Rose, o seu ti-bon-ange estava atascado neste mundo e era necessário um serviço especial para o libertar, nada doloroso ou complicado, mas Tété não se decidia por uma solução tão irrevogável. Desejava ajudar a sua desventurada ama, mas a responsabilidade da sua morte seria um peso angustiante, mesmo partilhado com Tante Rose. Talvez o ti-bon-ange de Dona Eugenia ainda tivesse algo para fazer no seu corpo; era preciso dar-lhe tempo para se ir soltando sozinho. Toulouse Valmorain impunha os seus abraços a Tété com frequência, mais pelo hábito do que pelo carinho ou desejo, sem o constrangimento da época em que ela entrou na puberdade e ele ficou transtornado por uma paixão súbita. Só a demência de Eugenia explicava que não se tivesse dado conta do que se passava diante dos seus olhos. «A ama suspeita, mas o que há-de fazer? Não o pode impedir», opinou Tante Rose, a única pessoa a quem Tété se atreveu a confiar quando ficou grávida. Temia a reacção da ama quando se começasse a notar, mas, antes que isso acontecesse, Valmorain levou a mulher para Cuba, onde a teria deixado de boa vontade para sempre se as freiras do convento tivessem aceitado tomar conta dela. Quando a trouxe de volta para a plantação, o recém-nascido de Tété tinha desaparecido e Eugenia nunca perguntou porque é que as lágrimas da sua escrava caíam como contas. A sensualidade de Valmorain era glutona e apressada na cama. Saciava-se sem perder tempo com preâmbulos. Tal como o aborrecia o ritual de toalha comprida e candelabros de prata, que Eugenia antes impunha para o jantar, também lhe parecia inútil o jogo amoroso.
Para Tété, era uma tarefa mais, que cumpria em poucos minutos, excepto naquelas vezes em que o diabo parecia que se apoderava do seu amo, o que não ocorria com frequência, embora ela estivesse sempre à espera, com temor. Agradecia a sua sorte, porque Lacroix, o dono da plantação vizinha de Saint-Lazare, mantinha um gineceu de meninas acorrentadas numa barraca para satisfazer as suas fantasias, em que participavam os seus convidados e uns negros que ele chamava «os meus potros». Valmorain tinha assistido só uma vez a esses cruéis serões e ficou tão profundamente transtornado que nunca mais voltou. Não era um homem escrupuloso, mas estava ciente de que os crimes fundamentais pagam-se mais tarde ou mais cedo, e não queria estar perto de Lacroix quando chegasse a vez de ele pagar os seus. Era seu amigo, tinham interesses comuns, desde a criação de animais até ao aluguer de escravos na safra; assistia às suas festas, aos seus rodeos e lutas de animais, mas não queria pôr os pés naquela barraca. Lacroix confiava absolutamente nele e entregava-lhe as suas poupanças, sem outra garantia além de um simples recibo assinado, para que as depositasse numa conta secreta quando ia a Cuba, longe das garras da sua mulher e dos seus parentes. Valmorain via-se obrigado a empregar muito tacto para recusar, uma e outra vez, os convites para as suas orgias.
Tété tinha aprendido a deixar-se usar com passividade de ovelha, o corpo mole, sem opor resistência, enquanto a sua mente e a sua alma voavam para outro lado; assim, o amo terminava depressa e depois desabava num sono de morte. Sabia que o álcool era seu aliado, se o administrasse na medida precisa.
Com uma ou duas taças, o amo excitava-se, com a terceira, devia ter cuidado porque ficava violento, com a quarta, ficava envolvido pela neblina da embriaguez e, se ela o evitasse com delicadeza, adormecia antes de lhe tocar.
Valmorain nunca se questionou sobre o que é que ela sentia durante esses encontros, como também não lhe teria ocorrido questionar-se o que sentia o seu cavalo quando o montava. Estava habituado a ela e raramente procurava outras mulheres. Às vezes, despertava com uma vaga angústia no leito vazio, onde ainda restava a marca quase imperceptível do corpo tíbio de Tété; então, evocava as suas remotas noites com Violette Boisier ou alguns namoricos da sua juventude em França, que lhe pareciam terem ocorrido a outro homem, alguém que se deixava levar pela imaginação perante a vista de um tornozelo feminino e era capaz de espojar-se com renovados brios. Agora isso era-lhe impossível. Tété já não o excitava como antes, mas não lhe passava pela cabeça substituí-la, porque não lhe dava trabalho e era homem de hábitos arraigados. Às vezes, apanhava uma escrava jovem à mão de semear, mas o assunto não ia mais além de uma violação apressada e menos agradável do que uma página do livro que andava a ler. Atribuía a sua falta de vontade a um ataque de malária que quase o despachou para o outro mundo e o deixou debilitado. O doutor Parmentier preveniu-o contra os efeitos do álcool, tão pernicioso como a febre dos trópicos, mas ele não bebia demasiado, quanto a isso, tinha a certeza, só o indispensável para paliar o fastio e a solidão. Nem se dava conta da insistência de Tété em encher-lhe a taça. Antes, quando ainda ia a Le Cap com frequência, aproveitava para se divertir com alguma cortesã da berra, uma daquelas lindas poules que lhe acendiam a paixão, mas que o deixavam defraudado. Pelo caminho, prometia-se prazeres que, uma vez consumados, não conseguia recordar, em parte porque, durante essas viagens, se embriagava a sério. Pagava àquelas raparigas para fazer o mesmo que, ao fim e ao cabo, fazia com Tété, o mesmo abraço grosseiro, a mesma urgência, e, no final, ia-se embora a cambalear, com a impressão de ter sido vigarizado. Com Violette teria sido diferente, mas ela tinha largado a profissão desde que vivia com Relais. Valmorain regressava a Saint-Lazare antes do previsto, a pensar em Maurice e ansioso por recuperar a segurança das suas rotinas.
«Estou a ficar velho», murmurava Valmorain, ao estudar-se ao espelho quando o seu escravo o barbeava e a ver a teia de aranha de finas rugas à volta dos olhos e o começo de uma papada. Tinha quarenta anos, a mesma idade de Prosper Cambray, mas carecia da sua energia e estava a engordar. «Este maldito clima é que tem a culpa», acrescentava. Sentia que a sua vida era uma navegação à deriva, à espera de algo que não sabia nomear. Detestava aquela ilha. Durante o dia, mantinha-se ocupado com a marcha da plantação, mas as tardes e as noites eram intermináveis. Punha-se o Sol, caía a escuridão e as horas começavam a arrastar-se com a sua carga de recordações, medos, arrependimentos e fantasmas. Enganava o tempo a ler e a jogar às cartas com Tété. Eram os únicos momentos em que ela baixava as defesas e se abandonava ao entusiasmo do jogo. A princípio, quando ele a ensinou a jogar, ganhava sempre, mas adivinhou que ela perdia de propósito com receio de o aborrecer. «Assim não tem graça nenhuma para mim. Procura ganhar-me», exigiu-lhe, e então começou a perder sem parar. Interrogava-se com assombro como é que aquela mulata podia competir, mano a mano, com ele num jogo de lógica, astúcia e cálculo. Ninguém tinha ensinado aritmética a Tété, mas calculava as cartas por instinto, como administrava as despesas da casa. A possibilidade de que fosse tão hábil quanto ele perturbava-o e confundia-o.
O amo ceava cedo na sala de jantar, três pratos simples e concludentes, a sua refeição forte do dia, servida por dois escravos silenciosos. Bebia umas taças de bom vinho, o mesmo que enviava por contrabando ao seu cunhado Sancho e era vendido em Cuba pelo dobro do preço que lhe custava em Saint-Domingue. Depois da sobremesa, Tété trazia-lhe a garrafa de conhaque e punha-o ao corrente dos assuntos domésticos. A jovem deslizava com os seus pés descalços como se flutuasse, mas ele sentia o tilintar delicado das chaves, o roçar das suas saias e o calor da sua presença antes de entrar. «Senta-te, não gosto que fales comigo por cima da minha cabeça», repetia-lhe todas as noites. Ela esperava essa ordem para se sentar a curta distância, muito direita na cadeira, as mãos na saia e as pálpebras baixas. À luz das velas, o seu rosto harmonioso e o seu pescoço delgado pareciam talhados em madeira. Os seus olhos alongados e adormecidos brilhavam com reflexos dourados. Respondia às suas perguntas sem ênfase, excepto quando falava de Maurice; então, animava-se, festejando cada travessura do pequenito como uma proeza. «Todos os miúdos correm atrás das galinhas, Tété», troçava ele, mas, no fundo, partilhava a sua convicção de que estavam a criar um génio. Por isso, acima de tudo, Valmorain apreciava-a: o seu filho não podia estar em melhores mãos. Apesar da sua maneira de ser, porque não era partidário de excesso de mimos, comovia-se quando os via juntos nessa cumplicidade de carícias e segredos entre as mães e os filhos. Maurice retribuía o carinho de Tété com uma fidelidade tão excludente que o pai costumava sentir-se ciumento. Valmorain tinha-o proibido de lhe chamar maman, mas Maurice desobedecia-lhe. «Maman, jura-me que nunca, nunca nos vamos separar», tinha ouvido o seu filho sussurrar nas suas costas. «Juro-te, meu filho.» A falta de outro interlocutor, habituou-se a confiar a Tété as suas preocupações de negócios, da condução da plantação e dos escravos.
Não se tratava de conversas, uma vez que não esperava resposta, mas monólogos para desabafar e escutar o som de uma voz humana, nem que fosse só a própria. Às vezes, trocavam ideias e parecia-lhe que ela não acrescentava nada, porque não se dava conta de como era manipulado com poucas frases.
— Viste a mercadoria que Cambray trouxe ontem?
— Sim, amo. Ajudei Tante Rose a inspeccioná-los.
— E?
— Não estão bem.
— Acabam de chegar, perdem muito peso na viagem. Cambray comprou-os por atacado, todos pelo mesmo preço. Esse método é péssimo, é impossível examiná-los e vendem-nos gato por lebre; os negreiros são especialistas em fraudes. Mas enfim, suponho que o chefe dos capatazes sabe o que faz. O que diz Tante Rose?
— Há dois com fluxo, não se conseguem segurar de pé. Diz para os deixar uma semana com ela para os curar.
— Uma semana!
— É preferível a perdê-los, amo. É o que diz Tante Rose.
— Há alguma mulher no lote? Precisamos de outra para a cozinha.
— Não, mas há um rapaz com uns catorze anos...
— Foi esse que Cambray açoitou no caminho? Disse que quis fugir e teve de lhe dar uma lição ali mesmo.
— Assim o diz o senhor Cambray, amo.
— E tu, Tété, o que achas que se passou?
— Não sei, amo, mas penso que o rapaz renderia mais na cozinha do que no campo.
— Aqui tentaria voltar a fugir, há pouca vigilância.
— Ainda nenhum escravo se escapou desta casa, amo.
O diálogo ficava inconclusivo, mas, mais tarde, quando Valmorain examinava as suas novas aquisições, distinguia o rapaz e tomava uma decisão. Terminado o jantar, Tété partia para verificar que Eugenia estava limpa e tranquila na sua cama e para acompanhar Maurice até que ele adormecesse. Valmorain instalava-se na arcada, se o clima o permitisse, ou no sombrio salão, a acariciar o seu terceiro copo de conhaque, mal iluminado por um candeeiro de azeite, com um livro ou um jornal. As notícias chegavam com semanas de atraso, mas ele não se importava, os acontecimentos passavam-se noutro universo. Mandava embora os domésticos, porque, ao final do dia, já estava farto que lhe adivinhassem o pensamento, e ficava a ler sozinho. Mais tarde, quando o céu era um manto negro impenetrável e só se ouvia o sibilar constante dos canaviais, o murmúrio das sombras dentro da casa e, às vezes, a vibração secreta de tambores distantes, ia para o seu quarto e despia-se à luz só de uma vela. Tété não tardaria a chegar.
Zarité
É assim que me recordo. Lá fora os grilos e o canto do mocho, lá dentro a luz da Lua a iluminar com riscas precisas o seu corpo adormecido. Tão jovem! Cuida-me dele, Erzuli, loa das águas mais profundas, esfregando a minha boneca, a que me deu o meu avô Honoréeque então ainda me acompanhava. Vem, Erzuli, mãe, amante, com os teus colares de ouro puro, a tua capa de penas de tucano, a tua coroa de flores e os teus três anéis, um para cada esposo. Ajuda-nos, loa dos sonhos e das esperanças. Protege-o de Cambray, torna-o invisível aos olhos do amo, fá-lo cauteloso em frente aos outros, mas soberbo nos meus braços, cala o seu néscio coração à luz do dia, para que sobreviva, e dá-lhe bravura à noite, para que não perca a ânsia da liberdade. Olha-nos com benevolência, Erzuli, loa dos céus. Não nos invejes, porque esta felicidade é frágil como asas de mosca. Ele irá. Se não for, morrerá, tu sabe-lo, mas não mo tires ainda, deixa-me acariciar as suas costas delgadas de rapaz antes que se convertam nas de um homem.
Era um guerreiro, esse meu amor, como o nome que o seu pai lhe deu, Gambo, que quer dizer guerreiro. Eu sussurrava o seu nome proibido quando estávamos sós, Gambo, e essa palavra ressoava nas minhas veias. Custou-lhe muita pancada responder pelo nome que lhe deram aqui e ocultar o seu nome verdadeiro. Gambo, disse-me, batendo no peito, a primeira vez que nos amámos. Gambo, Gambo, repetiu até que me atrevi a dizê-lo. Então ele falava na sua língua e eu respondia-lhe na minha. Demorou tempo a aprender créole e a ensinar-me um pouco do seu idioma, o que a minha mãe não me chegou a dar, mas desde o começo não precisámos de falar. O amor tem palavras mudas, mais transparentes do que o rio.
Gambo tinha acabado de chegar, parecia uma criança, estava pele e osso, espantado. Outros cativos maiores e mais fortes ficaram a flutuar à deriva no mar amargo, à procura da rota para a Guiné. Como aguentou ele a travessia? Vinha em carne viva por causa dos açoites, o método de Cambray para quebrar os novos, o mesmo que usava com os cães e os cavalos. No peito, sobre o coração, tinha a marca aferro com as iniciais da companhia negreira, que lhe puseram em África antes de o embarcar, e ainda não tinha cicatrizado. Tante Rose indicou-me que lhe lavasse as feridas com água, muita água, e as cobrisse com emplastros de erva-moura, aloé e banha. Deviam fechar de dentro para fora. Na queimadura, nada de água, só gordura. Ninguém sabia curar como ela, até o doutor Parmentier pretendia averiguar os seus segredos e ela dava-lhos, mesmo que fossem para aliviar outros brancos, porque o conhecimento vem de Papa Bondye, pertence a todos, e, se não é partilhado, perde-se. Naquela altura, ela estava ocupada com os escravos que chegaram doentes, e a mim calhou-me curar Gambo.
A primeira vez que o vi, estava estendido de barriga para baixo no hospital dos escravos, coberto de moscas. Levantei-o com dificuldade para lhe dar um gole de tafia e uma colherinha das gotas da ama, que tinha roubado do seu frasco azul. A seguir, comecei a tarefa ingrata de o limpar. As feridas não estavam demasiado inflamadas, porque Cambray não lhes pôde deitar sal e vinagre, mas a dor devia ser terrível. Gambo mordia os lábios, sem se queixar. Depois sentei-me a seu lado para lhe cantar, já que não conhecia as palavras de consolo na sua língua. Queria explicar-lhe como se faz para não provocar a mão que empunha o chicote, como se trabalhava e se obedece, enquanto se vai alimentando a vingança, essa fogueira que arde por dentro. A minha madrinha convenceu Cambray de que o rapaz tinha peste e mais valia deixá-lo sozinho, não fosse pegá-la aos outros da quadrilha. O chefe dos capatazes autorizou-a a instalá-lo na sua cabana, porque não perdia as esperanças de que Tante Rose se contagiasse com alguma febre fatal, mas ela era imune, tinha um acordo com Légbé, o loa dos encantamentos. Entretanto, eu comecei a soprar ao amo a ideia de por Gambo na cozinha. Não ia durar nada nos canaviais, porque o chefe dos capatazes tinha-o debaixo de mira desde o princípio.
Tante Rose deixava-nos sós na sua cabana durante as curas. Adivinhou. E ao quarto dia sucedeu. Gambo estava tão desfeito pela dor e por tudo o que tinha perdido — a sua terra, a sua família, a sua liberdade — que quis abraçá-lo como teria feito a sua mãe. O carinho ajuda a curar. Um movimento levou ao outro e fui-me deslizando debaixo dele sem lhe tocar nas costas, porque apoiara a cabeça no meu peito. Tinha o corpo a arder, ainda estava com muita febre, não creio que soubesse o que fazíamos. Eu não conhecia o amor. O que o amo fazia comigo era escuro e vergonhoso, assim lho disse, mas não acreditava em mim. Com o amo, a minha alma, o meu ti-bon-ange, soltava-se e ia-se embora a voar para outro lado e só o meu corps-cadavre estava naquela cama. Gambo. O seu corpo leve sobre o meu, as suas mãos na minha cintura, o seu hálito na minha boca, os seus olhos a olharem-me do outro lado do mar, desde a Guiné, era isso o amor. Erzuli, loa do amor, salva-o de todo o mal, protege-o. Assim clamava eu.
Tempos revoltos
Tinham decorrido mais de trinta anos desde que Macandal, aquele bruxo lendário, plantara a semente da insurreição, e desde então o seu espírito viajava com o vento de uma extremidade da ilha à outra, introduzia-se nos barracões, nas cabanas, nas ajoupas, nos moinhos, a tentar os escravos com a promessa da liberdade. Adoptava forma de serpente, escaravelho, macaco, arbusto, consolava com o sussurro da chuva, clamava com o trovão, incitava à rebelião com o vozeirão da tempestade. Os brancos também o sentiam. Cada escravo era um inimigo, e eram já mais de um milhão, tendo dois terços deles vindo directamente de África com uma carga imensa de ressentimento e vivendo apenas para quebrar as suas correntes e vingarem-se. Chegavam milhares de escravos a Saint-Domingue, mas nunca eram suficientes para a insaciável procura das plantações. Chicote, fome, trabalho. Nem a vigilância nem a repressão mais brutal impediam que muitos fugissem; alguns faziam-no no porto, assim que desembarcavam e lhes tiravam as correntes para os baptizar. Arranjavam maneira de correr nus e doentes, com um só pensamento: fugir dos brancos. Atravessavam planícies arrastando-se nos pastos, penetravam na selva e trepavam as montanhas daquele território desconhecido. Se conseguiam juntar-se a um bando de cimarrones, salvavam-se da escravidão. Guerra, liberdade. Os boçais, nascidos livres em África e dispostos a morrer para voltar a sê-lo, contagiavam a sua coragem aos nascidos na ilha, que não conheciam a liberdade e para quem a Guiné era um reino vago debaixo do mar. Os plantadores viviam armados, à espera. O regimento de Le Cap tinha sido reforçado com quatro mil soldados franceses que, assim que pisaram terra firme, caíram fulminados pela cólera, a malária e a disenteria.
Os escravos acreditavam que os mosquitos, causadores dessa mortandade, eram os exércitos de Macandal a combater contra os brancos. Macandal tinha-se libertado da fogueira convertido em mosquito. Macandal voltara, como prometeu. De Saint-Lazare, haviam fugido menos escravos do que de outros sítios e Valmorain atribuía-o a ele não se enfurecer com os seus negros, nada de os untar com melaço e expô-los às formigas vermelhas, como fazia Lacroix. Nos seus estranhos monólogos, comentava a Tété que ninguém o podia acusar de crueldade, mas, se a situação continuasse a piorar, teria de dar carta branca a Cambray. Ela tinha o cuidado de não mencionar a palavra rebelião diante dele. Tante Rose tinha-lhe garantido que uma revolta generalizada dos escravos era apenas uma questão de tempo, e Saint-Lazare, como todas as outras plantações da ilha, ia desaparecer entre chamas.
Prosper Cambray tinha comentado esse improvável boato com o seu patrão. Desde que se lembrava, estava sempre a falar do mesmo e nunca se concretizava. Que podiam fazer uns miseráveis escravos contra a milícia e homens como ele próprio, decididos a tudo? Como é que se iam organizar e armar? Quem os ia dirigir? Impossível. Passava o dia a cavalo e dormia com duas pistolas ao alcance da mão e um olho aberto, sempre alerta. O chicote era um prolongamento do seu punho, a linguagem que melhor conhecia e todos temiam, nada lhe dava mais prazer como o medo que inspirava. Só os escrúpulos do patrão o tinham impedido de usar métodos de repressão mais imaginativos, mas isso estava a mudar desde que se haviam multiplicado os focos de insurreição. Chegara a oportunidade de demonstrar que podia conduzir a plantação mesmo nas piores condições, tinham decorrido demasiados anos à espera do posto de administrador. Não se podia queixar, porque forjara um capital nada desprezível, através de subornos, gatunices e contrabando. Valmorain não suspeitava quanto desaparecia das suas caves. Gabava-se de ser chulo, nenhuma rapariga se livrava de o servir na rede e ninguém se imiscuía nisso. Desde que não incomodasse Tété, podia fornicar com quem lhe desse na gana, mas a única que o incendiava de luxúria e despeito era ela, porque estava fora do seu alcance. Observava-a ao longe, espiava-a de perto, apanhava-a de repente quando se descuidava e ela escapava-lhe sempre.
— Tenha cuidado, senhor Cambray. Se me tocar, digo ao dono — avisava-o Tété, procurando dominar a voz trémula.
— Tem cuidado tu, puta, porque, quando te tiver nas minhas mãos, vais-mas pagar. Quem julgas tu que és, desgraçada? Já tens vinte anos, não tarda muito o teu amo vai-te substituir por outra mais jovem, e então será a minha vez. Vou comprar-te. Vou comprar-te barata, porque não vales nada, nem sequer és boa reprodutora. Ou será que o amo não tem tomates? Comigo vais ver como é bom. O teu amo ficará feliz por te vender — ameaçava, enquanto brincava com o chicote enrolado.
Entretanto, a Revolução Francesa chegou à colónia como a chicotada da cauda de um dragão, sacudindo-a até aos alicerces. Os grands blancs, conservadores e monárquicos, viam as mudanças com horror, mas os petits blancs apoiavam a República, que acabou com as diferenças de classes: liberdade, igualdade, fraternidade para os homens brancos. Por seu turno, os affranchis tinham enviado delegações a Paris para reclamar os seus direitos de cidadãos na Assembleia Nacional porque, em Saint-Domingue, nenhum branco, nem rico nem pobre, estava disposto a dar-lhos. Valmorain adiou indefinidamente o seu regresso a França quando compreendeu que já nada o ligava ao seu país.
Antes, enraivecia-se contra o esbanjamento da monarquia e agora fazia-o contra o caos republicano. Ao fim de tantos anos ao arrepio na colónia, tinha acabado por aceitar que o seu lugar era no Novo Mundo. Sancho Garcia del Solar escreveu-lhe com a sua habitual franqueza para lhe propor que se esquecesse da Europa em geral e da França em particular, onde não havia lugar para homens empreendedores, que o futuro estava na Louisiana. Contava com boas ligações em Nova Orleães, só lhe faltava o capital para pôr em marcha um projecto que já contava com vários interessados, mas desejava dar-lhe a preferência a ele, devido aos seus laços familiares e porque, onde punham o dedo juntos, o ouro brotava. Explicava-lhe que, no início, a Louisiana foi colónia francesa, e desde há uns vinte anos que o era de Espanha, mas a população mantinha-se obstinadamente leal às suas origens. O governo era espanhol, mas a cultura e a língua continuavam a ser francesas. O clima era semelhante ao das Antilhas e davam-se lá bem as mesmas culturas, com a vantagem de sobrar espaço e a terra estar por explorar; poderiam adquirir uma grande plantação e explorá-la sem problemas políticos nem escravos sublevados. Juntariam uma fortuna em poucos anos, prometeu-lhe. Depois de perder o seu primeiro filho, Tété queria ser estéril como as mulas do moinho. Para amar e sofrer como mãe bastava-lhe Maurice, aquele rapazinho delicado, capaz de chorar de emoção com a música e de se urinar de angústia perante a crueldade. Maurice temia Cambray, bastava-lhe ouvir o bater dos tacões das suas botas na arcada para ir a correr esconder-se. Tété recorria aos remédios de Tante Rose para evitar outra gravidez, tal como faziam outras escravas, mas nem sempre dava resultado. A curandeira dizia que algumas crianças insistem em vir ao mundo, porque não suspeitam o que as aguarda. Assim foi com o segundo bebé de Tété. De nada serviram os punhados de estopa impregnados em vinagre para o evitar, nem as infusões de borragem, as defumações de mostarda e o galo sacrificado aos loas para o abortar. À terceira lua sem menstruar, foi rogar à madrinha que acabasse com o seu problema através de um pau pontiagudo, mas ela recusou-se: o risco de uma infecção era enorme e, se fossem surpreendidas a atentar contra a propriedade do amo, Cambray teria um motivo perfeito para lhes arrancar a pele com chicotadas.
— Suponho que este também é filho do amo — comentou Tante Rose.
— Não estou segura, madrinha. Também pode ser de Gambo -murmurou Tété, confusa.
— De quem? — O ajudante da cozinheira. O seu verdadeiro nome é Gambo.
— É um ranhoso, mas estou a ver que já sabe fazer como os homens. Deve ser cinco ou seis anos mais novo do que tu.
— Que importância tem isso? O que importa é que, se a criança me sai negro, o amo vai matar os dois! — Muitas vezes, os filhos misturados saem escuros como os avós — afiançou-lhe Tante Rose.
Aterrada perante as possíveis consequências dessa gravidez, Tété imaginava que tinha um tumor dentro de si, mas, ao quarto mês, sentiu um adejar de pomba, um sopro obstinado, a primeira inconfundível manifestação de vida, e não conseguiu evitar o carinho e a compaixão pelo ser anichado no seu ventre. À noite, deitada ao lado de Maurice, pedia-lhe perdão em sussurros pela terrível ofensa de o trazer ao mundo como escravo. Desta vez, não foi necessário esconder a barriga nem que o amo saísse disparado com a sua esposa para Cuba, porque a infeliz já não se dava conta de nada. Há muito que Eugenia não tinha contacto com o marido e as poucas vezes que o vislumbrava no âmbito baço da sua loucura perguntava quem era aquele homem.
Também não reconhecia Maurice. Nos seus bons momentos, voltava à sua adolescência, tinha catorze anos e brincava com outras buliçosas colegiais no convento das freiras em Madrid, enquanto esperava o chocolate preto do pequeno-almoço. No resto do tempo, vagueava numa paisagem de neblina sem contornos precisos, onde já não sofria como antes. Tété decidiu por sua conta suprimir-lhe o ópio, pouco a pouco, e não se verificou nenhuma diferença no comportamento de Eugenia. Segundo Tante Rose, a ama havia cumprido a sua missão de dar Maurice à luz e já não tinha mais nada a fazer neste mundo.
Valmorain conhecia o corpo de Tété melhor do que conseguiu conhecer o de Eugenia ou de qualquer outra das suas fugazes amantes, e em breve se deu conta de que a cintura lhe estava a engrossar e tinha os seios inchados. Interrogou-a quando estavam na cama, depois de um desses coitos que ela suportava resignada e que para ele eram só um alívio nostálgico, e Tété pôs-se a chorar. A atitude surpreendeu-o porque não a tinha visto verter lágrimas desde que lhe tirou o seu primeiro filho. Tinha ouvido que os negros têm menos capacidade de sofrer, no entanto, a verdade era que nenhum branco aguentaria o que eles suportavam, e assim como se tiram os cachorros às cadelas ou os vitelos às vacas, se podia separar as escravas dos seus filhos; passado pouco tempo, recompunham-se da perda, e depois nem se recordavam. Nunca tinha pensado nos sentimentos de Tété, partia do princípio de que eram muito limitados. Na sua ausência, ela dissolvia-se, apagava-se, ficava suspensa no nada até que ele a exigia; então, materializava-se de novo, só existia para o servir. Já não era uma rapariga, mas parecia-lhe que não tinha mudado. Recordava vagamente a rapariguinha fraca que Violette Boisier lhe entregou anos antes, a rapariga frutífera que emergiu daquele casulo tão pouco prometedor e que ele desflorou num abrir e fechar de olhos no mesmo quarto onde Eugenia dormia drogada, a jovem que deu à luz sem um único queixume, com um pedaço de madeira entre os dentes, a mãe de dezasseis anos que se despediu com um beijo na testa do filho que nunca mais haveria de ver, a mulher que embalava Maurice com infinita ternura, a que fechava os olhos e mordia os lábios quando ele a penetrava, a que às vezes dormia a seu lado, extenuada pelas fadigas do dia, mas, de repente, despertava sobressaltada com o nome de Maurice nos lábios e se ia embora a correr. E todas essas imagens de Tété se fundiam numa só, como se o tempo para ela não passasse. Naquela noite em que apalpou as mudanças no seu corpo, ordenou-lhe que acendesse o candeeiro para a ver. Gostou do que viu, aquele corpo de linhas longas e firmes, a pele cor de bronze, as ancas generosas, os lábios sensuais, e concluiu que era a sua posse mais valiosa. Com um dedo, recolheu uma lágrima, que lhe deslizava ao longo do nariz e, sem pensar, levou-a aos lábios. Era salgada, como as de Maurice.
— O que tens? — perguntou-lhe.
— Nada, amo.
— Não chores. Desta vez poderás ficar com o teu bebé, porque já não pode ter importância para Eugenia.
— Se assim é, amo, porque não recupera o meu filho?
— Isso seria muito embaraçoso.
— Diga-me se está vivo...
— Claro que está vivo, mulher! Deve ter uns quatro ou cinco anos, não? Tu deves ocupar-te de Maurice. Não voltes a mencionar esse rapaz diante de mim e conforma-te que eu te permita criar o que tens dentro de ti.
Zarité
Gambo preferia cortar cana ao trabalho humilhante da cozinha. «Se o meu pai me visse, levantava-se entre os mortos para me cuspir nos pés e renegar-me, o seu filho mais velho, por fazer coisas de mulher. O meu pai morreu a lutar contra os atacantes da nossa aldeia, como é natural que os homens morram.» Assim me dizia. Os caçadores de escravos eram de outra tribo, vinham de longe, do Oeste, com cavalos e mosquetes como os do chefe dos capatazes. Outras aldeias tinham desaparecido incendiadas, levavam os jovens, matavam os velhos e as crianças pequenas, mas o seu pai julgava que eles estavam a salvo, protegidos pela distância e o bosque. Os caçadores vendiam os seus cativos a uns seres com presas de hiena e garras de crocodilo que se alimentavam de carne humana. Nunca mais ninguém regressava. Gambo foi o único da sua família que apanharam com vida, felizmente para mim e infelizmente para ele. Resistiu a primeira parte do trajecto, que durou dois ciclos completos da Lua, a pé, atado aos outros com cordas e com um jugo de madeira ao pescoço, espancado com paus, quase sem comer nem beber. Quando já não conseguia dar mais um passo, diante dos seus olhos surgiu o mar, que nenhum na longa fila de cativos conhecia, e um castelo imponente sobre a areia. Não tiveram tempo para se maravilharem diante da extensão e da cor da água, que se confundia com o céu no horizonte, porque os encerraram. Então, Gambo viu os brancos pela primeira vez e pensou que eram demónios; depois soube que eram gente, mas não acreditou que fossem humanos como nós. Estavam vestidos com trapos suados, peitilhos de metal e botas de couro, gritavam e batiam sem motivo. Nada de presas nem garras, mas tinham pêlos na cara, armas e chicotes e o seu cheiro era tão repugnante que enjoava os pássaros no céu. Foi assim que mo contou. Separaram-no das mulheres e das crianças, meteram-no num curral, quente de dia efrio de noite, com centenas de homens que não falavam a sua língua. Não soube quanto tempo esteve ali, porque se esqueceu de seguir as passagens da Lua, nem quantos morreram, porque ninguém tinha nome e ninguém os contava. A princípio, estavam tão apertados que não podiam deitar-se no chão, mas à medida que tiravam os cadáveres, houve mais espaço. Depois veio o pior, o que ele não queria recordar, mas voltava a vivê-lo em sonhos: o barco. Iam deitados uns ao lado dos outros, como troncos, em vários pisos de pranchas, com ferros no pescoço e correntes, sem saber para onde os levavam, nem porque é que aquela cabaça se bamboleava, todos a gemer, a vomitar, a cagar, a morrer. O fedor era tão grande que chegava até ao Mundo dos Mortos e o seu pai cheirava-o. Também ali, Gambo não soube calcular o tempo, embora estivesse debaixo do Sol e das estrelas várias vezes, quando os tiravam em grupos para a coberta para os lavar com baldes de água do mar e obrigá-los a dançar para que não se esquecessem do uso das pernas e dos braços.
Os marinheiros lançavam os mortos e os doentes pela borda fora, depois escolhiam alguns cativos e açoitavam-nos para se divertirem. Aos mais atrevidos, penduravam-nos pelos pulsos e desciam-nos lentamente à água, a fervilhar de tubarões, e quando os subiam só lhes restavam os braços. Gambo também viu o que faziam com as mulheres. Procurou a oportunidade para se lançar borda fora, pensando que, depois do festim dos tubarões que seguiram o barco desde África até às Antilhas, a sua alma iria a nadar para a ilha debaixo do mar reunir-se com o seu pai e o resto da sua família. «Se o meu pai soubesse que pretendia morrer sem lutar, voltaria a cuspir-me nos pés.» Foi assim que mo contou.
O seu único motivo para permanecer na cozinha de Tante Mathilde era porque andava a preparar-se para escapar. Sabia os riscos. Em Saint-Lazare, havia escravos sem nariz nem orelhas ou com grilhetas soldadas nos tornozelos; não as podiam tirar e era impossível correr com elas. Creio que adiava a sua fuga por minha causa, pela forma como nos olhávamos, as mensagens de pedrinhas no galinheiro, as guloseimas que roubava para mim na cozinha, a expectativa de nos abraçarmos, que era como pimenta a picar pelo corpo todo, e por aqueles raros momentos em que finalmente estávamos sós e nos tocávamos. «Vamos ser livres, Zarité, e estaremos sempre juntos. Quero-te mais do que a ninguém, mais do que ao meu pai e às minhas irmãs e aos meus irmãos, mais do que a eles todos juntos, mas não mais do que à minha honra.» Um guerreiro faz o que deve fazer, isso é mais importante do que o amor, como é que não haveria de entender. Nós, as mulheres, amamos mais profunda e longamente, também sei isso. Gambo era orgulhoso e não há maior perigo para um escravo do que o orgulho. Rogava-lhe que ficasse na cozinha se queria continuar a viver, que se tornasse invisível para evitar Cambray, mas isso era pedir-lhe demasiado, era pedir-lhe que levasse uma vida de cobarde. A vida está escrita na nossa z'étoile e não apodemos mudar. «Virás comigo, Zarité?» Não podia ir com ele, estava muito pesada e juntos não teríamos ido longe.
Os amantes
Havia vários anos que Violette Boisier tinha abandonado a vida nocturna de Le Cap, não por ter murchado, pois ainda podia competir com qualquer uma das suas rivais, mas por Étienne Relais. A relação convertera-se numa cumplicidade amorosa condimentada pela paixão dele e o bom humor dela. Estavam juntos quase há uma década, que lhes parecia muito curta. A princípio, viviam separados, só podiam ver-se durante as breves visitas de Relais entre campanhas militares. Durante um tempo ela continuou o seu ofício, mas só oferecia os seus magníficos serviços a um punhado de clientes, os mais generosos. Tornou-se tão selectiva que Loula devia suprimir da lista os impetuosos, os irremediavelmente feios e os com mau hálito; em troca, dava preferência aos velhos porque eram gratos. Poucos anos depois de conhecer Violette, Relais foi promovido a tenente-coronel e encarregaram-no da segurança no Norte; então, viajava por períodos mais curtos. Assim que pôde instalar-se em Le Cap, deixou de dormir no quartel e casou-se com ela. Fê-lo em tom de desafio, com pompa e cerimónia na igreja e anúncio num jornal, como as bodas dos grands blancs, perante o desconcerto dos seus companheiros de armas, incapazes de compreender os seus motivos para desposar uma mulher de cor, e ainda por cima de reputação duvidosa, quando podia mantê-la como amásia; mas nenhum lho perguntou na cara e ele não ofereceu explicações. Contava que ninguém se atreveria a causar desaires à sua mulher. Violette notificou os seus «amigos» de que já não estava disponível, distribuiu entre outras cocottes os vestidos de festa que não conseguiu transformar em peças mais discretas, vendeu o seu piso e foi viver com Loula numa casa alugada por Relais num bairro de petits blancs e affranchis. As suas novas amizades eram mulatos, alguns bastante ricos, proprietários de terras e de escravos, católicos, embora em segredo costumassem recorrer ao vodu. Descendiam dos mesmos brancos que os desprezavam, eram seus filhos ou netos, e imitavam-nos em tudo, mas negavam apenas até onde podiam o sangue africano das suas mães. Relais não era amistoso, só se sentia bem entre a rude camaradagem do quartel, mas, de vez em quando, acompanhava a sua mulher nas reuniões sociais. «Sorri, Étienne, para que os meus amigos percam o medo do mastim de Saint-Domingue», pedia-lhe ela. Violette comentou com Loula que sentia a falta do brilho das festas e espectáculos que antes enchiam as suas noites. «Nessa altura, tinhas dinheiro e divertias-te, meu anjo, agora és pobre e aborreces-te. O que ganhaste com o teu soldado?» Viviam com o salário do tenente-coronel, mas, sem que ele o soubesse, faziam negócios: pequenos contrabandos, empréstimos com juros. Assim, aumentavam o capital que Violette ganhara e que Loula sabia investir.
Étienne Relais não tinha esquecido os seus planos de regressar a França, especialmente agora, que a República dera poder a cidadãos comuns, como ele. Estava farto da vida na colónia, mas não tinha poupado dinheiro suficiente para se reformar do Exército. A guerra não lhe metia nojo, era um centauro de muitas batalhas, habituado a sofrer e a fazer sofrer, mas estava cansado do sobressalto. Não entendia a situação em Saint-Domingue: faziam-se e desfaziam-se alianças de uma hora para a outra, os brancos lutavam entre si e contra os affranchis, ninguém dava importância à crescente insurreição dos negros, que ele considerava o mais grave de tudo. Apesar da anarquia e da violência, o casal encontrou uma felicidade aprazível que nenhum dos dois conhecia. Evitavam falar de filhos, ela não podia concebê-los e ele não estava interessado, mas, uma tarde inesquecível, quando Toulouse Valmorain se apresentou em sua casa com um recém-nascido envolto numa mantilha, receberam-no como uma mascote que encheria as horas de Violette e Loula, sem suspeitar que se ia converter no filho que não se tinham atrevido a sonhar. Valmorain levou-o a Violette porque não lhe ocorreu outra solução para o fazer desaparecer antes de Eugenia regressar de Cuba. Tinha de impedir que a sua mulher viesse a saber que o bebé de Tété também era seu. Não podia ser de outro, porque ele era o único branco em Saint-Lazare. Ignorava que Violette se tinha casado com o militar. Não a encontrou no piso da Praça Clugny, que agora pertencia a outro proprietário, mas foi-lhe fácil averiguar o seu novo paradeiro, e ali chegou com o pequeno e uma ama que conseguiu do seu vizinho Lacroix. Colocou a questão ao casal como uma situação temporária, sem fazer ideia de como a ia resolver mais adiante; por isso, foi ura alívio que Violette aceitasse o infante sem perguntar mais nada além do seu nome. «Não o baptizei, podeis pôr-lhe o nome que quiserdes», disse nessa ocasião.
Étienne continuava tão duro, vigoroso e saudável como na sua juventude. Era o mesmo feixe de músculos e fibra, com uma mata de cabelo grisalho e o carácter de ferro que o incorporou no Exército e o fez ganhar várias medalhas. Primeiro, tinha servido o Rei, e agora servia a República com igual lealdade. Ainda desejava fazer amor com Violette muitas vezes e ela acompanhava-o de boa vontade nessas cabriolas de amantes, que, segundo Loula, eram impróprias de esposos maduros. Era notável o contraste entre a sua reputação de impiedoso e a brandura recôndita que esbanjava com a sua mulher e a criança, que rapidamente conquistou o seu coração, esse órgão que a ele lhe faltava, segundo afirmavam no seu quartel. «Este miudinho podia ser meu neto», dizia muitas vezes e, na verdade, tinha pieguices de avô. Violette e o menino eram as duas únicas pessoas que tinha amado na vida e, se o apertavam um pouco, admitia que também gostava de Loula, aquela africana mandona que tanta guerra lhe deu a princípio, quando pretendia que Violette arranjasse um noivo mais conveniente. Relais ofereceu-lhe a emancipação; a reacção de Loula foi atirar-se ao chão a gemer que pretendia desfazer-se dela, como tantos escravos inúteis por serem velhos ou doentes, que os amos abandonavam na rua para não terem de os manter, que tinha passado a sua vida a cuidar de Violette e, quando já não precisavam dela, iam condená-la a pedir esmola ou a morrer de fome, e tudo isto dito sempre em altos gritos. Finalmente, Relais conseguiu fazer-se ouvir para lhe garantir que podia continuar a ser escrava até ao seu último suspiro, se assim o desejava. A partir dessa promessa, a atitude da mulher mudou, e em vez de lhe pôr bonecos espetados com alfinetes debaixo da cama, esmerou-se a preparar-lhe os seus pratos favoritos.
Violette tinha amadurecido como as mangas, lentamente. Com os anos não havia perdido a sua frescura, o seu porte altivo ou o seu riso caudaloso, apenas engordara um pouco, o que encantava o seu marido. Tinha a atitude confiante dos que gozam o amor. Com o tempo e a estratégia de boatos de Loula, tinha-se convertido numa lenda e, onde quer que fosse, seguiam-na os olhares e os murmúrios, inclusive das próprias pessoas que não a recebiam nas suas casas. «Devem estar a interrogar-se sobre o ovo de pomba», ria-se Violette. Os homens mais soberbos tiravam-lhe o chapéu à sua passagem, quando iam sozinhos, muitos recordavam as noites ardentes no piso da Praça Clugny, mas as mulheres de qualquer cor afastavam os olhos com inveja. Violette vestia-se com cores alegres e os seus únicos adornos eram o anel de opala, oferta do marido, e pesadas argolas de ouro nas orelhas, que lhe faziam sobressair os traços magníficos e o marfim da sua pele, resultado de uma vida sem se expor aos raios directos do Sol. Não possuía outras jóias, tinha-as vendido todas para aumentar o capital indispensável aos seus negócios de usurária. Acumulara as suas poupanças durante anos num buraco do pátio, em sólidas moedas de ouro, sem levantar a suspeita do marido, até que chegou o momento de partir. Estavam deitados na cama, um domingo à hora da sesta, sem se tocarem porque fazia demasiado calor, quando ela lhe anunciou que, se, na realidade, desejava regressar a França, como vinha a dizer desde há uma eternidade, contavam com os meios para o fazer. Nessa mesma noite, amparada pela escuridão, desenterrou o tesouro com Loula. Assim que o tenente-coronel tomou o peso à bolsa de moedas, se recompôs do assombro e pôs de lado as suas objecções de varão humilhado pela astúcia das fêmeas, decidiu apresentar a sua demissão ao Exército. Tinha cumprido de sobra com França. Então, o casal começou a planear a viagem e Loula teve de se resignar com a ideia de ser livre, porque em França havia sido abolida a escravatura.
Os filhos do amo
Nessa tarde, o casal Relais esperava a visita mais importante das suas vidas, como Violette explicou a Loula. A casa do militar era um pouco mais ampla do que o apartamento de três divisões na Praça Clungy, cómoda, mas sem luxos. A simplicidade adoptada por Violette no vestuário estendia-se à sua casa, decorada com móveis de artesãos locais e sem as chinesices que antes tanto lhe agradavam. A casa era acolhedora, com taças de frutas, floreiras, gaiolas com pássaros e vários gatos. O primeiro a apresentar-se nessa tarde foi o notário, com o seu jovem escrivão e um calhamaço com capas azuis. Violette instalou-os num quarto contíguo à sala principal, que servia de escritório a Relais, e ofereceu-lhes café com delicados beignets das freiras que, segundo Loula, eram só massa frita, e ela sabia fazê-los melhor. Pouco depois, bateu à porta Toulouse Valmorain. Estava com vários quilos em cima e notava-se mais envelhecido e largo do que Violette se recordava, mas conservava intacta a sua arrogância de grand blanc, que a ela lhe pareceu sempre cómica, porque estava treinada para despir os homens só com um olhar, e nus, nem os títulos, o poder, a fortuna ou a raça tinham valor; só contava o estado físico e as intenções. Valmorain cumprimentou-a fazendo um gesto para lhe beijar a mão, mas sem lhe tocar com os lábios, o que teria sido uma descortesia diante de Relais, e aceitou o assento e o copo de sumo de fruta que lhe ofereceram.
— Passaram uns quantos anos desde a última vez que nos vimos, monsieur — disse ela, com uma formalidade nova entre eles, procurando disfarçar a ansiedade que lhe oprimia o peito.
— O tempo em si deteve-se, madame; está na mesma.
— Não me ofenda, sei ver-me — sorriu ela, assombrada porque o homem corou; talvez estivesse tão nervoso como ela.
— Como sabe pela minha carta, Monsieur Valmorain, pensamos ir para França, dentro em breve — começou Étienne Relais, de uniforme, teso como um poste na sua cadeira.
— Sim, sim — interrompeu-o Valmorain. — Primeiro que tudo, devo agradecer a ambos terem cuidado do rapaz durante estes anos. Como se chama? — Jean-Martin — disse Relais.
— Suponho que já é um verdadeiro homenzinho. Gostaria de o ver, se fosse possível.
— Dentro de um momento. Anda a passear com Loula e regressarão dentro em breve.
Violette esticou a saia do seu sóbrio vestido de crepe verde-escuro, debruado a violeta, e serviu mais sumo. Tremiam-lhe as mãos. Durante uns dois eternos minutos, ninguém falou. Um dos canários começou a cantar na sua gaiola, quebrando o pesado silêncio. Valmorain observou disfarçadamente Violette, tomando nota das mudanças naquele corpo que chegou a empenhar-se em amar, embora já não se lembrasse muito bem do que faziam então na cama. Interrogou-se que idade teria e se, por acaso, não usava um misterioso bálsamo para preservar a beleza, como tinha lido em qualquer lado que assim faziam as antigas rainhas do Egipto, que no fim de contas acabavam mumificadas. Sentiu inveja ao imaginar a felicidade de Relais com ela.
— Não podemos levar Jean-Martin nas actuais condições, Toulouse — disse finalmente Violette, no tom familiar que empregava quando eram amantes, pondo-lhe uma mão no ombro.
— Não nos pertence — acrescentou o tenente-coronel, com um ricto na boca e os olhos fixos no seu antigo rival.
— Queremos muito a este menino e ele crê que somos seus pais. Quisemos sempre ter filhos, Toulouse, mas Deus não no-los deu. Por isso, desejamos comprar Jean-Martin, emancipá-lo e levá-lo para França com o apelido Relais, como nosso filho legítimo — disse Violette e pôs-se de imediato a chorar, sacudida pelos soluços.
Nenhum dos dois homens fez um gesto para a consolar. Ficaram a olhar para os canários, incomodados, até que ela conseguiu acalmar-se, justamente quando Loula entrava com o pequeno pela mão. Era bonito. Correu para Relais para lhe mostrar algo que apertava no punho, a palrar excitado, com as faces avermelhadas. Relais indicou-lhe o visitante e o pequeno aproximou-se, estendeu-lhe uma mão gorducha e cumprimentou-o sem timidez. Valmorain estudou-o, comprazido, e confirmou que não era nada parecido com ele nem com o seu filho Maurice.
— O que tens aí? — perguntou-lhe.
— Um caracol.
— Ofereces-mo?
— Não posso, é para o meu papá — respondeu Jean-Martin, regressando para junto de Relais para lhe trepar para os joelhos.
— Vai com a Loula, filho — ordenou-lhe o militar. O menino obedeceu de imediato, segurou a mulher pela saia e ambos desapareceram.
— Se estás de acordo... Bom, convocámos um notário para o caso de aceitares a nossa proposta, Toulouse. Depois temos de ir ter com um juiz — balbuciou Violette, prestes a chorar de novo.
Valmorain deslocara-se para a entrevista sem um plano. Sabia o que lhe iam pedir, porque Relais o explicava na sua carta, mas não havia tomado uma posição, desejava ver o rapaz primeiro. Causara-lhe muito boa impressão, era bonito e, pelos vistos, não lhe faltava carácter, valia bastante dinheiro, mas para ele seria um furúnculo. Tinham-no mimado desde que nasceu, isso era evidente, e não suspeitava da sua verdadeira posição na sociedade. O que faria com aquele pequeno mestiço com o sangue misturado? Teria de mantê-lo em casa durante os primeiros anos. Não imaginava como reagiria Tété; seguramente, voltar-se-ia para o seu filho, e Maurice, que até esse momento fora criado como filho único, sentir-se-ia abandonado. O delicado equilíbrio do seu lar podia vir abaixo. Também pensou em Violette Boisier, na recordação imprecisa do amor que teve por ela, nos serviços que se tinham prestado mutuamente ao longo dos anos e na simples verdade de que ela era muito mais mãe de Jean-Martin do que Tété. Os Relais ofereciam à criança o que ele não pensava dar-lhe: liberdade, educação, um apelido e uma situação respeitável.
— Por favor, monsieur, venda-nos Jean-Martin. Pagaremos o que pedir, embora, como o senhor vê, não sejamos gente de fortuna -rogou-lhe Étienne Relais, crispado e tenso, enquanto Violette tremia apoiada na ombreira da porta que os separava do notário.
— Diga-me, senhor, quanto gastou para o manter durante estes anos? — perguntou Valmorain.
— Nunca fiz essas contas — respondeu Relais surpreendido.
— Bom, é isso quanto vale o pequeno. Estamos pagos. É seu o seu filho.
A gravidez de Tété decorreu sem mudanças para ela; continuou a trabalhar de sol a sol, como sempre, e a acorrer ao leito do seu amo de cada vez que a ele lhe apetecia fazer como os cães, até a barriga se converter num obstáculo. Tété amaldiçoava-o intimamente, mas também temia que a substituísse por outra escrava e a vendesse a Cambray, a pior sorte que podia imaginar.
— Não te preocupes, Zarité, chegado esse momento, eu encarrego-me do chefe dos capatazes — prometeu-lhe Tante Rose.
— Porque não o faz agora, madrinha? — perguntou-lhe a jovem.
— Porque não se deve matar sem uma boa razão.
Nessa tarde, Tété estava inchada, com a sensação de andar com uma melancia dentro dela, a costurar num canto a poucos passos de Valmorain, que lia e fumava no seu cadeirão. A fragrância picante do tabaco, que em tempos normais lhe agradava, agora revolvia-lhe o estômago. Havia meses que não chegava ninguém de visita a Saint-Lazare, porque até mesmo o hóspede mais assíduo, o doutor Parmentier, temia o caminho; era impossível viajar pelo Norte da ilha sem forte protecção. Valmorain tinha estabelecido o hábito de que Tété o acompanhasse depois de jantar, uma obrigação mais entre as muitas que lhe impunha. Àquela hora, ela só desejava estender-se, aninhada com Maurice, e dormir. Mal podia com o seu corpo sempre quente, cansado, suado, com a criatura a pressionar-lhe os ossos, a dor nas costas, os seios duros, os mamilos a arder. Esse dia tinha sido o pior, faltava-lhe o ar para respirar. Ainda era cedo, mas, como uma tempestade tinha precipitado a noite e a obrigara a fechar os postigos, a casa parecia angustiante como uma prisão. Há meia hora que Eugenia dormia acompanhada pela mulher que dela cuidava e Maurice esperava-a, mas tinha aprendido a não a chamar porque o seu pai ficava indignado.
A tempestade acabou tão depressa como tinha começado, calou-se o gotejar da água e o fustigar do vento, que deram lugar a um coro de sapos. Tété dirigiu-se a uma das janelas e abriu os postigos, aspirando a plenos pulmões o bafo de humidade e frescura que varreu a sala. O dia parecia eterno. Tinha assomado um par de vezes à cozinha, com a desculpa de falar com Tante Rose, mas não tinha visto Gambo. Onde se havia metido o rapaz? Temia por ele. Chegavam rumores a Saint-Lazare, levados de boca em boca pelos negros e abertamente comentados pelos brancos, que nunca tinham cuidado com o que diziam diante dos seus escravos. A última notícia era a Declaração dos Direitos do Homem proclamada em França. Os brancos estavam inquietos e os affranchis, que tinham sido sempre marginalizados, viam finalmente uma possibilidade de igualdade com os brancos. Os direitos do homem não incluíam os negros, como explicou Tante Rose às pessoas reunidas numa calenda, a liberdade não era grátis, era preciso lutar por ela. Todos sabiam que tinham desaparecido centenas de escravos das plantações próximas, para se juntarem aos bandos de rebeldes. Em Saint-Lazare, fugiram vinte, mas Prosper Cambray e os seus homens deram-lhes caça e voltaram com catorze. Os outros seis foram abatidos a tiro, segundo o chefe dos capatazes, mas ninguém viu os corpos e Tante Rose estava convencida de que tinham conseguido chegar às montanhas. Isso fortaleceu a vontade de fugir em Gambo. Tété já não conseguia segurá-lo e tinha começado o calvário de se despedir e arrancá-lo do coração. Não há pior sofrimento do que amar com medo, dizia Tante Rose.
Valmorain afastou os olhos da página para beber outro gole de conhaque e os seus olhos fixaram-se na sua escrava, que estava há um bom bocado de pé junto da janela aberta. A luz débil dos candeeiros, viu-a a ofegar, transpirada, com as mãos contraídas sobre a barriga. De repente, Tété abafou um gemido e puxou a saia acima dos joelhos, a olhar desconcertada para a poça que se espalhava pelo chão e ensopava os seus pés nus. «Está na hora», murmurou e saiu apoiando-se nos móveis em direcção à arcada. Dois minutos mais tarde, acorreu outra escrava apressada para limpar o chão.
— Vai chamar a Tante Rose — ordenou-lhe Valmorain.
— Já a foram buscar, amo.
— Avisa-me assim que nascer. E traz-me mais conhaque.
Zarité
Rosette nasceu no mesmo dia em que Gambo desapareceu. Assim foi.
Rosette ajudou-me a suportar a angústia de que o apanhassem vivo e o vazio que ele deixou no meu corpo. Estava absorta na minha menina. Gambo a correr pelos bosques perseguido pelos cães de Cambray ocupava apenas uma parte do meu pensamento. Erzuli, loa mãe, cuida desta menina. Nunca tinha sentido essa forma de amor, porque não cheguei a pôr ao peito o meu primeiro filho. O amo avisou Tante Rose que eu não devia vê-lo, assim a separação seria mais fácil, mas ela deixou-me segurá-lo um momento, antes de o levar. Depois disse-me, enquanto me limpava, que era um menino saudável e forte. Com Rosette, compreendi melhor o que tinha perdido. Se também ma tirassem, enlouqueceria, como Dona Eugenia. Procurava não o imaginar, porque isso pode fazer com que as coisas aconteçam, mas uma escrava vive sempre com essa incerteza. Não podemos proteger os filhos nem prometer-lhes que estaremos com eles enquanto precisarem de nós. Perdemo-los demasiado depressa, por isso, é melhor não lhes dar vida. Por fim, acabei por perdoar à minha mãe, que não quis passar por esse tormento.
Soube sempre que Gambo partiria sem mim. Na cabeça, os dois tínhamo-lo aceitado, mas não no coração. Gambo conseguiria salvar-se sozinho, estava escrito na sua z'étoile e os loas permitiam-lho, mas nem todos os loas juntos poderiam evitar que o apanhassem se fosse comigo. Gambo punha-me a mão na barriga e sentia a criança mexer-se, seguro de que era seu e que se chamaria Honoré, em memória do escravo que me criou em casa de Madame Delphine. Não podia pôr-lhe o nome do seu próprio pai, que estava com os Mortos e os Mistérios, mas Honoré não era do meu sangue, por isso, não era uma imprudência usar o seu nome. Honoré é um nome adequado para alguém que põe a honra acima de tudo, inclusive o amor. «Sem liberdade, não há honra para um guerreiro. Vem comigo, Zarité.» Eu não o podia fazer com a barriga cheia, também não podia deixar Dona Eugenia, que já não passava de um boneco na sua cama, e muito menos Maurice, o meu filho, a quem tinha prometido que nunca nos separaríamos.
Gambo não chegou a saber que dei à luz porque, enquanto eu fazia força na cabana de Tante Rose, ele corria como o vento. Tinha planeado bem. Fugiu ao entardecer, antes que os vigilantes saíssem com os cães. Tante Mathilde só deu a voz de alarme no dia seguinte ao meio-dia, embora tivesse notado a sua ausência ao amanhecer, e isso deu-lhe várias horas de vantagem. Era a madrinha de Gambo. Em Saint-Lazare, como noutras plantações, os boçais delegavam noutro escravo para os ensinar a obedecer, um padrinho, mas como puseram Gambo na cozinha, entregaram-no a Tante Mathilde, que já tinha os seus anos, tinha perdido os seus filhos e que lhe ganhou carinho, por isso o ajudou. Prosper Cambray andava com um grupo da Maréchaussée a perseguir os escravos que tinham fugido pouco antes. Como afirmava que os tinha matado, ninguém compreendia o seu empenho em continuar a procurá-los. Gambo partiu na direcção oposta e o chefe dos capatazes demorou algum tempo a organizar-se para o incluir na caçada. Partiu nessa noite porque os loas lho indicaram: coincidiu com a ausência de Cambray e a lua cheia; não se pode correr numa noite sem luar. Assim o creio.
A minha filha nasceu com os olhos abertos e alongados, da cor dos meus. Demorou a ganhar fôlego, mas, quando o fez, os seus berros fizeram tremer a chamazinha da vela. Antes de a lavar, Tante Rose colocou-ma sobre o peito, ainda ligada a mim por uma tripa grossa. Pus-lhe o nome de Rosette por causa de Tante Rose, a quem pedi que fosse sua avó, uma vez que não tínhamos mais família. No outro dia, o amo baptizou-a dei-tando-lhe água na testa e murmurando umas palavras cristãs, mas, no domingo a seguir, Tante Rose organizou uma verdadeira cerimónia Rada para Rosette. O amo autorizou-nos a fazer uma calenda e deu-nos duas cabras para assar. Assim foi. Era uma honra, porque, nas plantações, não se festejava os nascimentos de escravos. As mulheres prepararam a comida e os homens acenderam fogueiras e tochas e tocaram os tambores no hounfort de Tante Rose. Com uma fina linha de farinha de milho, a minha madrinha desenhou na terra a escritura sagrada do vévé à volta do poste central, o poteau-mitan, e os loas desceram por ali e montaram vários servidores, mas não a mim. Tante Rose sacrificou uma galinha: primeiro partiu-lhe as asas e depois arrancou-lhe a cabeça com os dentes, como se deve fazer. Ofereci a minha filha a Erzuli. Dancei e voltei a dançar, os peitos pesados, os braços erguidos, as ancas loucas, as pernas separadas do meu pensamento, a responder aos tambores.
A princípio, o amo não se interessou nada por Rosette. Incomodava-o ouvi-la chorar e que eu me ocupasse dela. Também não me deixava andar com ela pendurada às costas, como tinha feito com Maurice; tinha de a deixar num caixote enquanto trabalhava. Não demorou muito até o amo me voltar a chamar ao seu quarto, porque se excitava com os meus seios, que tinham crescido o dobro e bastava olhá-los para que soltassem leite. Mais tarde, começou a reparar em Rosette porque Maurice se ligou a ela. Quando Maurice nasceu, era apenas um ratinho pálido e silencioso que me cabia todo numa só mão, muito diferente da minha filha, grande e chorona. Fez bem a Maurice passar os primeiros meses agarrado a mim, como as crianças africanas que, segundo me disseram, só tocam no chão quando aprendem a caminhar, andam sempre ao colo. Com o calor do meu corpo e o seu bom apetite, cresceu saudável e livrou-se das doenças que matam tantas crianças. Era esperto, entendia tudo, e desde os dois anos que fazia perguntas a que nem o pai sabia responder. Ninguém lhe ensinou créole, mas falava-o como o francês. O amo não lhe permitia que se misturasse com os escravos, mas escapava-se para brincar com os poucos negritos da plantação e eu não conseguia repreendê-lo porque não há nada mais triste do que uma criança solitária. Maurice converteu-se, desde o princípio, no guardião de Rosette. Não se descolava do lado dela, excepto quando o amo o levava a percorrer a propriedade para lhe mostrar as suas terras. O amo empenhou-se sempre muito na sua herança, por isso, sofreu tanto anos mais tarde com a traição do filho. Maurice instalava-se durante horas a brincar com os seus blocos e o seu cavalinho de madeira junto do caixote de Rosette, chorava se ela chorava, fazia-lhe cócegas e escangalhava-se de riso se ela respondia. O amo proibiu-me de dizer que ela era sua filha, o que de maneira nenhuma me tinha ocorrido, mas Maurice adivinhou-o ou inventou-o, porque lhe chamava irmã. O pai esfregava-lhe a boca com sabão, mas não conseguiu tirar-lhe o hábito, como lhe tinha tirado o de me chamar maman. Tinha medo da sua verdadeira mãe, não a queria ver, chamava-lhe «a senhora doente». Maurice aprendeu a chamar-me Tété, como toda a gente, menos alguns que me conhecem por dentro e me chamam Zarité.
O guerreiro
Após vários dias a perseguir Gambo, Prosper Cambray estava vermelho de ira. Não havia rasto do rapaz e tinha nas mãos uma matilha de cães dementes, meio cegos e com o focinho em chagas. Deitou a culpa a Tété. Era a primeira vez que a acusava directamente e sabia que, nesse momento, se cortava algo fundamental entre o patrão e ele. Até então, bastava uma palavra sua para que a condenação de um escravo fosse inapelável e o castigo imediato, mas com Tété nunca se tinha atrevido.
— A casa não se governa como a plantação, Cambray — expôs Valmorain.
— Ela é a responsável pelos domésticos! — insistiu o outro. -Se não fizermos uma expiação, vão desaparecer muitos mais.
— Resolverei isto à minha maneira — replicou o patrão, pouco disposto a abrir mão de Tété, que acabava de parir e tinha sido sempre uma governanta impecável. A casa funcionava suavemente e a criadagem cumpria as suas tarefas de bom grado. Além disso, havia Maurice, naturalmente, e o carinho que o pequeno sentia por essa mulher. Açoitá-la, como pretendia Cambray, seria como açoitar Maurice.
— Já há algum tempo que o avisei, patrão, que esse negro tem má índole; por algum motivo tive de quebrá-lo assim que o comprei, mas não fui suficientemente duro.
— Está bem, Cambray, quando o apanhares, podes fazer o que te apetecer com ele — autorizou-o Valmorain, enquanto Tété, que escutava de pé num canto como um réu, tentava disfarçar a sua angústia.
Valmorain andava demasiado preocupado com os seus negócios e o estado da colónia para se empenhar com um escravo a mais ou a menos. Nem sequer se lembrava dele, era impossível distinguir um entre centenas. Tété tinha-se referido um par de vezes ao «menino da cozinha» e ele ficou com a ideia de que era um ranhoso, mas não o devia ser se se atreveu a tanto, era preciso ter «tomates» para fugir. Estava seguro de que Cambray não tardaria a dar com ele, tinha experiência de sobra a caçar negros fugidos. O chefe dos capatazes tinha razão: deviam aumentar a disciplina; já havia problemas suficientes na ilha entre as pessoas livres para se permitir atrevimentos aos escravos. A Assembleia Nacional, em França, tinha tirado à colónia o pouco poder autónomo de que gozava, quer dizer, uns burocratas em Paris, que nunca tinham posto os pés nas Antilhas e mal sabiam limpar o cu, como ele afirmava, agora tomavam decisões sobre assuntos de enorme gravidade. Nenhum grand blanc estava disposto a aceitar os absurdos decretos de que se lembravam. Era preciso levar em conta a ignorância dessa gente! O resultado era o malefício e o caos, como o que se passou com um tal Vincent Ogé, um mulato rico que foi a Paris exigir igualdade de direitos para os affranchis e voltou com o rabo entre as pernas, como era de esperar, porque onde é que iríamos parar se se apagassem as distinções naturais de classes e de raças. Ogé e o seu compincha Chavanes, com a ajuda de uns abolicionistas, daqueles que aparecem sempre, instigaram uma rebelião no Norte, muito perto de Saint-Lazare. Trezentos mulatos bem armados! Foi necessário o peso todo do regimento de Le Cap para os derrotar, comentou Valmorain a Tété numa das suas conversas nocturnas. Acrescentou que o herói da jornada tinha sido um conhecido seu, o te-nente-coronel Etienne Relais, militar com experiência e coragem, mas ideias republicanas. Os sobreviventes foram capturados numa manobra veloz e, nos dias seguintes, levantaram-se centenas de patíbulos no centro da cidade, um bosque de enforcados que se desfizeram pouco depois com o calor, um festim de abutres. Os dois chefes foram lentamente supliciados na praça pública, sem um golpe de misericórdia. E não é que ele fosse partidário de castigos truculentos, mas às vezes tornavam-se edificantes para a população. Tété escutava muda, a pensar no então capitão Relais, de que mal se recordava e não conseguiria reconhecer se o visse, porque só se encontrou um par de vezes com ele no piso da Praça Clugny, há anos. Se o homem ainda amava Violette, não lhe deve ter sido fácil combater os affranchis! Ogé poderia ser seu amigo ou parente.
Antes de fugir, tinham atribuído a Gambo a tarefa de tratar dos homens capturados por Cambray, que estavam no telheiro que servia de hospital. As mulheres da plantação alimentavam-nos com milho, batata, quiabo, mandioca e banana das suas provisões, mas Tante Rose apresentou-se perante o amo, uma vez que, com a mediação de Cambray, seria inútil para lhe dizer que não sobreviveriam sem uma sopa de ossos, ervas e o fígado dos animais que se consumiam na casa grande. Valmorain levantou os olhos do seu livro sobre os jardins do Rei-Sol, aborrecido com a interrupção, mas aquela estranha mulher conseguia intimidá-lo, e escutou-a. «Esses negros já receberam a sua lição. Dá-lhes a tua sopa, mulher; se os salvares, eu não terei perdido tanto», respondeu-lhe. Nos primeiros dias, Gambo alimentava-os, porque não podiam fazê-lo sozinhos, e distribuía-lhes uma pasta de ervas e cinza de quinino, que, segundo Tante Rose, deviam manter a rodar na boca como uma bola para suportar a dor e dar-lhes energia. Era um segredo dos caciques aruaques, que, de alguma maneira, tinha sobrevivido trezentos anos e que só alguns curandeiros conheciam. A planta era muito rara, não se vendia nos mercados de magia e Tante Rose não a tinha conseguido cultivar na sua horta, por isso, reservava-a para os piores casos.
Gambo aproveitava esses momentos a sós com os escravos castigados para averiguar como tinham fugido, porque os tinham apanhado e o que se passou com os seis que faltavam. Os que podiam falar contaram-lhe que se tinham separado quando saíram da plantação e alguns encaminharam-se para o rio com a ideia de nadar pela corrente acima, mas só se consegue lutar contra ela durante um bocado, no final, ela vence sempre. Ouviram tiros e não tinham a certeza se haviam matado os outros, mas qualquer que fosse a sua sorte, era sem dúvida preferível à deles. Interrogou-os sobre o bosque, as árvores, as lianas, a lama, as pedras, a força do vento, a temperatura e a luz. Cambray e outros caçadores de negros fugidos conheciam a região a dedo, mas havia lugares que evitavam, como os pântanos e as encruzilhadas dos mortos — onde também não entravam os fugitivos, por muito desesperados que estivessem — e os sítios inacessíveis a mulas e cavalos. Dependiam por completo dos seus animais e das suas armas de fogo, que às vezes se tornavam embaraçosas. Os cavalos partiam os tornozelos e era preciso matá-los. Carregar um mosquete exigia vários segundos, costumavam falhar ou a pólvora humedecia e, entretanto, o homem nu com uma faca de cortar cana aproveitava a vantagem. Gambo compreendeu que o perigo mais iminente eram os cães, capazes de distinguir o cheiro de um homem a um quilómetro de distância. Não havia nada tão aterrador como um coro de latidos a aproximar-se.
Em Saint-Lazare, os canis encontravam-se atrás dos estábulos, num dos pátios da casa grande. Os cães de caça e de guarda permaneciam fechados de dia, para não se familiarizarem com as pessoas, e soltavam-nos durante as rondas nocturnas. Os dois mastins da Jamaica, cobertos de cicatrizes e treinados para matar, pertenciam a Prosper Cambray. Adquirira-os para lutas de cães, que tinham o duplo mérito de satisfazer o seu prazer pela crueldade e dar-lhe lucros. Tinha substituído o torneio de escravos por esse desporto, que foi obrigado a abandonar porque Valmorain o proibia. Um bom campeão africano, capaz de matar o seu adversário com as mãos nuas, podia ser muito lucrativo para o seu dono. Cambray tinha os seus truques, alimentava-os com carne crua, enlouquecia-os com uma mistura de tafia, pólvora e piripíri, antes de cada torneio, premiava-os com mulheres depois de uma vitória e fazia-lhes pagar caro se eram derrotados. Com os seus campeões, um congolês e um mandinga, tinha arredondado o seu salário quando era caçador de negros fugidos, mas depois vendeu-os e comprou os mastins, cuja fama tinha chegado a Le Cap. Mantinha-os com fome e com sede, amarrados para que não se desfizessem um ao outro. Gambo precisava de os eliminar, mas, se os envenenasse, Cambray torturaria cinco escravos por cada cão, até que alguém confessasse.
A hora da sesta, quando Cambray se ia refrescar ao rio, o rapaz dirigiu-se à cabana do chefe dos capatazes, situada no final da avenida dos coqueiros e separada da casa grande e dos alojamentos dos escravos domésticos. Tinha averiguado o nome das concubinas que o chefe dos capatazes tinha escolhido nessa semana, umas meninas acabadas de despertar para a puberdade e que já andavam encolhidas como bestas sovadas. Receberam-no assustadas, mas tranquilizou-as com um pedaço de bolo que roubou na cozinha, e pediu-lhes café para o acompanhar. Elas começaram a avivar o lume enquanto ele deslizava para o interior da vivenda. Era de proporções reduzidas, mas confortável, orientada para aproveitar a brisa e construída sobre uma elevação do terreno, como a casa grande, para evitar os danos das inundações. Os móveis, escassos e simples, eram alguns dos que Valmorain se tinha desfeito quando se casou. Gambo percorreu-a em menos de um minuto. Pensava roubar uma manta, mas viu num canto um cesto com roupa suja e tirou rapidamente uma camisa do chefe dos capatazes, fez uma bola e atirou-a pela janela para o mato, depois bebeu o seu café sem pressas e despediu-se das meninas com a promessa de lhes trazer mais bolo assim que pudesse. Ao anoitecer, regressou para ir buscar a camisa. Na despensa, cujas chaves andavam sempre penduradas à cintura de Tété, guardava-se um saco de piripíri, um pó tóxico para combater lacraus e roedores, que, depois de o cheirarem, acordavam secos. Se Tété se deu conta de que se estava a consumir demasiado piripíri, não disse nada.
No dia indicado pelos loas, o rapaz partiu ao entardecer, com a última recordação da luz. Teve de passar pela aldeia dos escravos, que lhe recordou aquela onde tinha vivido os primeiros quinze anos de vida e que ardia como uma fogueira, da última vez que a viu. As pessoas ainda não tinham regressado dos campos e estava quase vazia. Uma mulher, que carregava dois grandes baldes de água, não se surpreendeu perante uma cara desconhecida, porque os escravos eram muitos e estavam sempre a chegar novos. Essas primeiras horas marcariam a diferença entre a liberdade e a morte, para Gambo. Tante Rose, que podia andar de noite por onde outros não se aventuravam de dia, tinha-lhe descrito o terreno com o pretexto de lhe falar das plantas medicinais e também as que era necessário evitar: cogumelos venenosos, árvores cujas folhas arrancam a pele a seco, anémonas onde se ocultam sapos que provocam a cegueira com uma cuspidela. Explicou-lhe como sobreviver no bosque com frutos secos, nozes, raízes e talos tão suculentos como um pedaço de cabra assada e como guiar-se com os pirilampos, as estrelas e o sibilar do vento. Gambo nunca tinha saído de Saint-Lazare, mas, graças a Tante Rose, podia situar na sua cabeça a região dos mangais e dos pântanos, onde todas as víboras eram venenosas, e os sítios com encruzilhadas entre dois mundos, onde esperavam os Invisíveis. «Estive lá e vi com os meus olhos Kalfou e Guédé, mas não tive medo. Devem ser cumprimentados com respeito, pedir-lhes licença para passar e perguntar-lhes o caminho. Se não for a tua hora de morrer, ajudam-te. A decisão é deles», disse-lhe a curandeira. O rapaz perguntou-lhe pelos zumbis, de quem tinha ouvido falar pela primeira vez na ilha; ninguém suspeitava da sua existência em África. Ela esclareceu-o que se reconhecem pelo seu aspecto cadavérico, o seu cheiro a podre e a sua maneira de caminhar, com as pernas e os braços esticados. «Devemos ter mais medo de alguns vivos, como Cambray, do que dos zumbis»; a mensagem não escapou a Gambo.
Quando a Lua despontou, o rapaz desatou a correr aos ziguezagues. Entretanto, deixava um pedaço da camisa do chefe dos capatazes na vegetação para confundir os mastins, que só identificavam o seu cheiro, porque mais ninguém se aproximava deles, e desorientar os outros cães. Duas horas mais tarde, chegou ao rio. Meteu-se na água até ao pescoço com um gemido de alívio, mas manteve a bolsa seca em cima da cabeça. Lavou-se do suor e do sangue dos arranhões das árvores e dos cortes dos pedregulhos, e aproveitou para beber e urinar. Avançou pela água sem se aproximar da margem, embora isso não despistasse os cães, que farejariam em círculos cada vez mais amplos até dar com a pista, mas podia atrasá-los. Não tentou atravessar para o outro lado. A corrente era implacável e havia poucos lugares onde um bom nadador se podia arriscar, mas ele não os conhecia e não sabia nadar. Pela posição da Lua, adivinhou que era mais ou menos meia-noite e calculou a distância percorrida; então saiu da água e começou a espalhar pó de piripíri. Não sentia a fadiga, ia bêbado de liberdade.
Viajou três dias e outras tantas noites sem outro alimento além das folhas mágicas de Tante Rose. A bola negra que levava na boca adormecia-lhe as gengivas e mantinha-o desperto e sem fome. Dos canaviais passou para o bosque, a selva, os pântanos, bordejando a planície em direcção às montanhas. Não ouvia latidos de cães e isso animava-o. Bebia água nas poças, quando as encontrava, mas teve de aguentar o terceiro dia a seco, com um sol de fogo que pintou o mundo de um branco incandescente. Quando já não conseguia dar mais um passo, caiu um aguaceiro do céu, breve e frio, que o ressuscitou. Nessa altura, seguia a campo aberto, a rota que só um demente se atreveria a empreender e que, por isso mesmo, Cambray não consideraria. Não podia perder tempo a procurar alimento e, se descansasse, não conseguiria voltar a pôr-se de pé. As suas pernas moviam-se sozinhas, impulsionadas pelo delírio da esperança e a bola de folhas na boca. Já não pensava, não sentia a dor, tinha esquecido o medo e tudo o que deixou para trás, inclusive a forma do corpo de Zarité; só recordava o seu próprio nome de guerreiro. Caminhou alguns troços com calma, para não se esgotar nem se perder, como lhe tinha dito Tante Rose. A certa altura, pareceu-lhe que chorava sem parar, mas não tinha a certeza, podia ser a recordação do orvalho ou da chuva sobre a pele. Viu uma cabra a balir entre dois penhascos com uma pata partida e resistiu à tentação de a degolar e de lhe beber o sangue, assim como recusou esconder-se nos cerros, que pareciam ao alcance da mão, e a pôr-se a dormir por um momento na paz da noite. Sabia onde devia chegar. Cada passo, cada minuto, contavam.
Finalmente, alcançou a base das montanhas e começou a esforçada subida, pedra a pedra, sem olhar para baixo para não sucumbir à vertigem, nem para cima para não esmorecer.
Cuspiu o último bocado de folhas e a sede assaltou-o de novo. Tinha os lábios inchados e gretados. O ar fervia, estava confuso, enjoado, mal conseguia recordar as instruções de Tante Rose e clamava por sombra e água, mas continuou a trepar agarrado a rochas e raízes. De repente, encontrou-se perto da sua aldeia, nas planícies infinitas, a criar gado de cornos compridos e a preparar-se para a comida que as suas mães estariam a servir na vivenda do pai, o centro do conjunto familiar. Só ele, Gambo, o filho mais velho, comia com o pai, lado a lado, como iguais. Estava a ser preparado desde o seu nascimento para o substituir; um dia também ele seria juiz e chefe. Um tropeção e a dor aguda de uma pancada contra as pedras devolveu-o a Saint-Domingue; desapareceram as vacas, a sua aldeia, a sua família, e o seu ti-bon-ange sentiu-se de novo apanhado no sonho mau do cativeiro, que já durava um ano. Subiu as escarpadas ladeiras durante horas, até que já não era ele quem se movia, mas sim outro: o seu pai. A voz do pai repetia o seu nome, Gambo. E era o pai quem mantinha à distância o pássaro negro de cachaço pelado que voava em círculos sobre a sua cabeça.
Chegou a um trilho empinado e estreito que contornava um precipício, a serpentear entre penhascos e fendas. Na volta de uma curva, deparou-se com a sugestão de degraus talhados na rocha viva, um dos caminhos escondidos dos caciques, que, segundo Tante Rose, não desapareceram quando os brancos os mataram, porque eram imortais. Pouco antes do anoitecer, encontrou-se numa das temíveis encruzilhadas. Os sinais avisaram-no antes de a ver: uma cruz formada por duas estacas, uma caveira humana, ossos, um punhado de penas e pêlos, outra cruz. O vento trazia uma ressonância de lobos por entre as rochas e duas aves de rapina negras tinham-se juntado ao primeiro, espreitando-o lá de cima. O medo que mantivera nas costas durante três dias atacou-o de frente, mas já não podia retroceder.
Os dentes tiritavam-lhe e o suor gelou. De súbito, o frágil trilho dos caciques desapareceu, frente a uma lança espetada na terra, segura por um monte de pedras: o poteau-mitan, a intersecção entre o céu e o lugar mais abaixo, entre o mundo dos loas e o dos humanos. E então viu-os. Primeiro duas sombras, depois o brilho do metal, facas ou catanas. Não levantou os olhos. Saudou com humildade repetindo a contra-senha que Tante Rose lhe tinha dado. Não houve resposta, mas sentiu o calor daqueles seres tão próximos, tanto que, se estendesse uma mão, poderia tocá-los. Não tresandavam a podridão nem a cemitério, emanavam o mesmo cheiro das pessoas dos canaviais. Pediu licença a Kalfou e Guédé para continuar e também não obteve resposta. Por último, com a pouca voz que conseguiu sacar por entre a areia áspera que lhe fechava a garganta, perguntou qual era o caminho a seguir. Sentiu que o agarravam pelos braços.
Gambo acordou muito mais tarde na escuridão. Quis levantar-se, mas doíam-lhe as fibras todas do corpo e não conseguiu mexer-se. Escapou-se-lhe um queixume, voltou a fechar os olhos e mergulhou no Mundo dos Mistérios, de onde entrava e saía sem vontade, às vezes encolhido de dor, outras a flutuar num espaço escuro e profundo como o firmamento numa noite sem luar. Recuperou a consciência, pouco a pouco, envolto em bruma, intumescido. Ficou imóvel e em silêncio, para ver na penumbra. Nem lua nem estrelas, nenhum murmúrio na brisa, silêncio, frio. Só conseguiu recordar a lança na encruzilhada. Entretanto, notou uma luz vacilante a mover-se a curta distância e pouco depois uma figura com uma lamparina debruçou-se a seu lado, uma voz de mulher disse-lhe algo incompreensível, um braço ajudou-o a levantar-se e uma mão aproximou-lhe uma cabaça com água aos lábios. Bebeu o conteúdo todo, desesperadamente. Foi assim que soube que tinha chegado ao seu destino: estava numa das grutas sagradas dos aruaques, que servia de posto de vigilância aos cimarrones.
Nos dias, semanas, meses que se seguiram, Gambo iria descobrindo o mundo dos fugitivos, que existia na mesma ilha e ao mesmo tempo, mas, noutra dimensão, um mundo como o de África, embora muito mais primitivo e miserável, escutaria línguas familiares e histórias conhecidas, comeria o fufu(1) das suas mães, voltaria a sentar-se junto de uma fogueira a afiar as suas armas de guerra, como fazia com o seu pai, mas debaixo de outras estrelas. Os acampamentos estavam espalhados no mais impenetrável das montanhas, verdadeiras aldeolas, milhares e milhares de homens e mulheres fugidos da escravidão, e os seus filhos, nascidos livres. Viviam à defesa e desconfiavam dos escravos fugidos das plantações, porque podiam atraiçoá-los, mas Tante Rose tinha-lhes comunicado através de misteriosos canais que Gambo ia a caminho. Dos vinte fugitivos de Saint-Lazare, só seis chegaram até à encruzilhada e dois deles tão feridos que não sobreviveram. Então, Gambo confirmou a sua suspeita de que Tante Rose servia de contacto entre os escravos e os bandos de cimarrones. Nenhum suplício arrancara o nome de Tante Rose aos homens que Cambray havia prendido.
(1) Banana frita em inhame. (N. do T.)
A conspiração
Oito meses mais tarde, na casa grande, habitation Saint-Lazare, morreu sem espaventos nem angústia Eugenia Garcia del Solar. Tinha trinta e um anos, havia passado sete desmiolada e quatro na semivigília do ópio. Nessa madrugada, a escrava que cuidava dela deixou-se adormecer e calhou a Tété, que entrou como de costume para lhe dar a papa, encontrá-la encolhida como um recém-nascido entre os seus almofadões. A sua ama sorria e no contentamento de morrer tinha recuperado um certo ar de beleza e juventude. Tété foi a única que lhe lamentou a morte, porque de tanto a cuidar acabara por gostar mesmo dela. Lavou-a, vestiu-a, penteou-a pela última vez, depois pôs-lhe o missal entre as mãos cruzadas sobre o peito. Guardou o rosário abençoado na bolsa de camurça, a herança que a sua dama lhe tinha deixado, e pendurou-a ao pescoço, debaixo do corpinho. Antes de se despedir dela, tirou-lhe uma pequena medalha de ouro com a imagem da Virgem, que Eugenia usava sempre, para a dar a Maurice. Depois foi chamar Valmorain.
O pequeno Maurice não se deu conta da morte da mãe porque há meses que «a senhora doente» permanecia recolhida e impediram-no de ver o cadáver. Enquanto tiravam de casa o ataúde de nogueira com ornamentos de prata, que o pai comprou no contrabando a um americano, na época em que a ela lhe deu para se suicidar, Maurice estava no pátio com Rosette a improvisar um funeral para um gato morto. Nunca presenciara ritos desse género, mas tinha imaginação de sobra e foi-lhe possível enterrar o animal com mais sentimento e solenidade do que teve a sua mãe.
Rosette era atrevida e precoce. Gatinhava pelo chão com uma velocidade surpreendente sobre os joelhos gorduchos, seguida por Maurice, que não a largava um segundo. Tété mandou trancar as arcas e os móveis, onde podia entalar os dedos, e bloquear os acessos à arcada com rede de capoeira para a impedir de fugir lá para fora. Resignou-se com os ratos e os lacraus, porque a filha podia aproximar o nariz do pó fatídico, ideia que a Maurice, muito mais prudente, nunca lhe ocorreria. Era uma menina bonita. A mãe admitia-o com pesar, porque a beleza era uma desgraça para uma escrava, a invisibilidade era muito mais conveniente. Tété, que aos dez anos tanto tinha desejado ser como Violette Boisier, verificou maravilhada que, como num truque de ilusionismo, Rosette era parecida com essa bela mulher, com o seu cabelo ondulado e o seu cativante sorriso com covinhas. Na complicada classificação racial da ilha, era uma mestiça, filha de branco e de mulata, e tinha saído mais ao pai do que à mãe, na cor. Com essa idade, Rosette murmurava uma algaraviada que soava como língua de renegados e que Maurice traduzia sem dificuldade. O menino consentia os seus caprichos com paciência de avô, que depois se transformou num carinho empenhado que haveria de marcar as suas vidas. Ele seria o seu único amigo, iria consolá-la nas suas dores e ensinar-lhe o indispensável, desde evitar os cães selvagens até às letras do alfabeto, mas isso verificar-se-ia mais tarde. O essencial que lhe ensinou desde o começo foi o caminho directo para o coração do pai. Maurice fez o que Tété não se atreveu, impôs a menina a Valmorain de maneira inapelável. O amo deixou de a considerar mais uma entre as suas propriedades e começou a procurar nos seus traços e no seu carácter algo que fosse seu. Não o encontrou, mas, em todo o caso, ganhou-lhe esse carinho tolerante que as mascotes inspiram e permitiu-lhe que vivesse na casa grande, em vez de a enviar para o sector dos escravos. Ao contrário de sua mãe, cuja seriedade era quase um defeito, Rosette revelou-se tagarela e sedutora, um remoinho de actividade que alegrava a casa, o melhor antídoto contra a incerteza desencadeada nesses anos.
Quando a França dissolveu a Assembleia Colonial de Saint-Domingue, os patriotas, como se designavam os colonos monárquicos, recusaram submeter-se às autoridades de Paris. Depois de ter passado muito tempo isolado na sua plantação, Valmorain começou a conviver com os seus pares. Como ia a Le Cap com frequência, alugou a casa mobilada de um rico comerciante português que tinha regressado temporariamente ao seu país. Ficava perto do porto e era-lhe confortável, mas pensava adquirir casa própria muito em breve, com a ajuda do agente que negociava a sua produção de açúcar, o mesmo velho judeu extremamente honrado que servira o seu pai.
Foi Valmorain quem iniciou conversações secretas com os ingleses. Quando era jovem, tinha conhecido um marinheiro que agora comandava a frota britânica no Caribe, cujas instruções consistiam em intervir na colónia francesa assim que se desse a oportunidade. Nessa altura, os confrontos entre brancos e mulatos iam atingindo uma violência inconcebível, enquanto os negros aproveitavam o caos para se revoltar, primeiro no Ocidente da ilha e depois no Norte, em Limbé. Os patriotas seguiam os acontecimentos com grande atenção, esperando ansiosos a conjuntura para atraiçoar o governo francês.
Valmorain estava instalado há um mês em Le Cap com Tété, as crianças e o féretro de Eugenia. Viajava sempre com o filho e, por sua vez, Maurice não ia para lado nenhum sem Rosette e Tété. A situação política era demasiado instável para se separar da criança e também não queria deixar Tété à mercê de Prosper Cambray, que a trazia debaixo de olho e que tinha inclusive pretendido comprá-la. Valmorain calculava que qualquer outro na sua situação lha venderia para o deixar contente e, ao mesmo tempo, libertar-se-ia de uma escrava que já não o excitava, mas Maurice queria-lhe como a uma mãe. Por outro lado, esse assunto tinha-se transformado numa muda luta de vontades entre ele e o chefe dos capatazes. Durante essas semanas tinha participado nas reuniões políticas dos patriotas, que eram levadas a cabo em sua casa num ambiente de segredo e conspiração, embora na realidade ninguém os espiasse. Planeava arranjar um tutor para Maurice, que ia fazer cinco anos em estado selvagem. Devia dar-lhe os rudimentos de educação que lhe permitissem mais tarde ser internado num colégio em França. Tété rogava que esse momento nunca chegasse, convencida de que Maurice morreria longe dela e de Rosette. Também tinha de se libertar de Eugenia. As crianças habituaram-se ao ataúde atravessado nos corredores e aceitaram com naturalidade que continha os restos mortais da «senhora doente». Não perguntaram o que eram exactamente os restos mortais, poupando a Tété a necessidade de explicar uma coisa que teria provocado novos pesadelos em Maurice, mas quando Valmorain os surpreendeu a tentar abri-lo com uma faca de cozinha, compreendeu que chegara a hora de tomar uma decisão. Ordenou ao seu agente que o enviasse para o cemitério das freiras em Cuba, onde Sancho havia adquirido um nicho, porque Eugenia tinha-o feito jurar que não a enterraria em Saint-Domingue, onde os seus ossos podiam acabar num tambor de negros. O agente pensava aproveitar um barco que seguisse nessa direcção para mandar o ataúde e, entretanto, colocou-o num canto da cave, onde permaneceu esquecido até ser consumido pelas chamas dois anos mais tarde.
Sublevação no Norte
Na plantação, Prosper Cambray despertou ao amanhecer com um incêndio nos canaviais e a gritaria dos escravos, muitos dos quais não sabiam o que se passava, porque não tinham sido incluídos no segredo da sublevação. Cambray aproveitou a desorientação geral para rodear o sector dos alojamentos e submeter as pessoas, que não tiveram tempo para reagir. Os criados domésticos não participaram em nada, formaram pelotões à volta da casa grande à espera do pior. Cambray ordenou que as mulheres e as crianças fossem encerradas e ele mesmo levou a cabo a purga entre os homens. Não havia muito a lamentar, o incêndio foi controlado rapidamente, queimaram-se só dois carrés de cana seca; foi muito mais grave noutras plantações do Norte. Quando chegaram os primeiros destacamentos da Maréchaussée com a missão de restabelecer a ordem na zona, Prosper Cambray limitou-se a entregar-lhes os que considerou suspeitos. Teria preferido tratar deles pessoalmente, mas a ideia consistia em coordenar os esforços e esmagar a revolta de raiz. Levaram-nos para Le Cap para lhes arrancar o nome dos cabecilhas.
O chefe dos capatazes só se deu conta do desaparecimento de Tante Rose no dia seguinte, quando foi preciso começar a tratar dos açoitados em Saint-Lazare.
Entretanto, em Le Cap, Violette Boisier e Loula acabaram de empacotar os haveres da família e guardaram-nos numa cave do porto à espera do barco que conduziria a família a França.
Finalmente, quase dez anos depois de tanto tempo de espera, trabalho, poupança, usura e paciência, cumprir-se-ia o plano concebido por Etienne Relais nos primeiros tempos da sua relação com Violette. Já começavam a despedir-se dos amigos quando o militar foi convocado ao gabinete do governador, o visconde de Blanchelande. O edifício carecia dos luxos da administração, tinha a austeridade de um quartel e cheirava a couro e a metal. O visconde era um homem maduro, com uma impressionante carreira militar, tinha sido marechal-de-campo e governador de Trinidad antes de ser enviado para Saint-Domingue. Acabava de chegar e começava a tomar o pulso ao ambiente; não sabia que estava em marcha uma revolução nos arredores da cidade. Contava com as credenciais da Assembleia Nacional em Paris, cujos caprichosos delegados podiam retirar-lhe a confiança com a mesma prontidão com que lha tinham outorgado. A sua origem nobre e a sua fortuna pesavam contra ele entre os grupos mais radicais, os jacobinos, que pretendiam acabar com qualquer vestígio do regime monárquico. Etienne Relais foi conduzido ao gabinete do visconde através de várias salas quase nuas, com escuros quadros de batalhas com multidões, enegrecidos pela fuligem dos candeeiros. O governador, vestido à civil e sem peruca, desaparecia atrás de uma tosca mesa de quartel, desengonçada por muitos anos de uso. Nas suas costas estava pendurada a bandeira de França coroada pelo escudo da Revolução, e à sua esquerda, na outra parede, estava aberto o mapa fantasioso das Antilhas, ilustrado com monstros marinhos e galeões antigos.
— Tenente-coronel Etienne Relais, do Regimento de Le Cap -apresentou-se o oficial, em uniforme de gala e com todas as suas condecorações, sentindo-se ridículo perante a simplicidade do seu superior.
— Sente-se. Tenente-coronel, suponho que deseja um café -suspirou o visconde, que parecia ter passado mal a noite.
Saiu de trás da mesa e conduziu-o até dois estafados cadeirões de couro. De imediato, surgiu do nada uma ordenança e três escravos, quatro pessoas para duas chaveninhas: um dos escravos segurava a bandeja, outro vertia o café e o terceiro oferecia açúcar. Depois de terem servido, os escravos retiraram-se recuando, mas a ordenança pôs-se em sentido entre os dois cadeirões. O governador era um homem de estatura média, magro, com rugas profundas e pouco cabelo grisalho. Visto de perto, metia muito menos impressão do que a cavalo, com chapéu emplumado, coberto de medalhas e a banda do seu cargo atravessada no peito. Relais sentia-se muito desconfortável na beira do cadeirão, segurando desajeitadamente a chávena de porcelana que podia fazer-se em fanicos com um suspiro. Não estava habituado a prescindir da rígida etiqueta militar imposta pelo posto.
— Deve estar a interrogar-se para que o convoquei, tenente-coronel Relais — disse Blanchelande a mexer o açúcar do café. — O que pensa da situação em Saint-Domingue?
— O que penso? — repetiu Relais, desconcertado.
— Há colonos que desejam tornar-se independentes e temos uma frota inglesa à vista do porto, disposta a ajudá-los. A Inglaterra não quer outra coisa a não ser anexar Saint-Domingue! O senhor deve saber a quem me refiro, pode dar-me os nomes dos sediciosos.
— A lista incluiria umas quinze mil pessoas, marechal: todos os proprietários e gente com dinheiro, tanto brancos como affranchis.
— Era o que temia. Faltam-me tropas suficientes para defender a colónia e fazer cumprir as novas leis de França. Serei franco com o senhor: alguns decretos parecem-me absurdos, como o de quinze de Maio, que dá direitos políticos aos mulatos.
— Só afecta os affranchis filhos de pais livres e proprietários de terra, menos de quatrocentos homens.
— Não é essa a questão! — interrompeu-o o visconde. — A questão é que os brancos jamais aceitarão igualdade com os mulatos e não os culpo por isso. Isto desestabiliza a colónia. Não há nada claro na política de França e nós sofremos as consequências do descalabro. Os decretos mudam todos os dias, tenente-coronel. Um barco traz-me instruções e o barco seguinte traz-me a contra-ordem.
— E há o problema dos escravos rebeldes — acrescentou Relais.
— Ah! Os negros... Não posso ocupar-me com isso agora. A rebelião de Limbé foi esmagada e em breve teremos os cabecilhas.
— Nenhum dos prisioneiros revelou nomes, senhor. Não falarão.
— Veremos. A Maréchaussée sabe tratar desses assuntos.
— Com todo o respeito, marechal, creio que isto merece a sua atenção — insistiu Etienne Relais, colocando a chávena sobre uma mesinha. — A situação em Saint-Domingue é diferente da de outras colónias. Aqui os escravos nunca aceitaram a sua sorte, têm-se sublevado sempre desde há quase um século, há dezenas de milhares de cimarrones nas montanhas. Actualmente, temos meio milhão de escravos. Sabem que a República aboliu a escravatura em França e estão dispostos a lutar para obter aqui o mesmo. A Maréchaussée não conseguirá controlá-los.
— Propõe-me que utilizemos o Exército contra os negros, tenente-coronel?
— É preciso usar o Exército para impor a ordem, senhor marechal.
— Como pretende que o façamos? Mandam-me uma décima parte dos soldados que peço e, assim que tocam terra, adoecem. Era a isto que queria chegar, tenente-coronel Relais: não posso aceitar a sua reforma neste momento.
Etienne Relais pôs-se de pé, pálido. O governador imitou-o e mediram-se os dois durante uns segundos.
— Senhor marechal, alistei-me no Exército aos dezassete anos, servi durante trinta e cinco, fui ferido seis vezes e já tenho cinquenta e um anos — disse Relais.
— Eu tenho cinquenta e cinco e também gostaria de me retirar para a minha propriedade em Dijon, mas a França precisa de mim, tal como precisa do senhor — replicou secamente o visconde.
— A minha reforma foi assinada pelo seu antecessor, o governador De Peiner. Já não tenho casa, senhor, estou com a minha família numa pensão, prontos para embarcarmos na próxima quinta-feira na escuna Marie-Thérèse.
Os olhos azuis de Blanchelande espetaram-se nos do tenente-coronel, que por último baixou os seus e pôs-se em sentido.
— As suas ordens, governador — aceitou Relais, vencido.
Blanchelande voltou a suspirar e esfregou os olhos, exausto; a seguir, indicou com um gesto à ordenança que chamasse o seu secretário e dirigiu-se para a mesa.
— Não se preocupe, a governação vai arranjar-lhe uma casa, tenente-coronel Relais. E agora venha aqui e mostre-me no mapa os pontos mais vulneráveis da ilha. Ninguém conhece o terreno como o senhor.
Zarité
Assim mo contaram. Assim aconteceu em Bois Cayman. Assim está escrito na lenda do lugar a que agora chamam Haiti, a primeira república independente dos negros. Não sei o que isso significa, mas deve ser importante, porque os negros dizem-no aplaudindo e os brancos dizem-no com raiva. Bois Cayman fica no Norte, perto das grandes planícies, a caminho de Le Cap, a várias horas de distância da habitation Saint-Lazare. É um bosque imenso, um lugar de encruzilhadas e árvores sagradas, onde se aloja Dambala na sua forma de serpente, loa das fontes e dos rios, guardiã do bosque. Em Bois Cayman, vivem os espíritos da Natureza e dos escravos mortos que não encontraram o caminho para a Guiné. Nessa noite, também chegaram ao bosque outros espíritos que estavam bem instalados entre os Mortos e os Mistérios, mas acudiram dispostos a combater, porque foram chamados. Havia um exército de centenas de milhares de espíritos a lutar ao lado dos negros, por isso, no final, derrotaram os brancos. Nisso estamos todos de acordo, inclusive os soldados franceses, que sentiram a sua fúria. O amo Valmorain, que não acreditava no que não entendia e como entendia muito pouco não acreditava em nada, convenceu-se também de que os mortos ajudavam os rebeldes. Tal explicava que pudessem ter vencido o melhor exército da Europa, como dizia. O encontro dos escravos em Bois Cayman ocorreu em meados de Agosto, numa noite quente, molhada pelo suor da terra e dos homens. Como correu a voz? Dizem que a mensagem foi levada pelos tambores, de calenda em calenda, de hounfort em hounfort, de ajoupa em ajoupa, o som dos tambores viajava mais longe é mais rápido do que o barulho de uma tempestade e toda a gente conhecia a sua linguagem. Os escravos acorreram das plantações do Norte, apesar de os amos e a Maréchaussée estarem alerta desde o levantamento em Limbé, poucos dias antes. Tinham apanhado vários rebeldes vivos e supunha-se que lhes tinham arrancado informação, ninguém aguenta sem confessar nos calabouços de Le Cap. Em poucas horas os cimarrones transferiram os seus acampamentos para os cumes altos para iludir os ginetes da Maréchaussée e reuniram-se em assembleia em Bois Cayman. Não sabiam que nenhum dos prisioneiros falara e que não falariam.
Milhares de cimarrones desceram das montanhas. Gambo chegou como grupo de Zambo Boukman, um gigante que inspirava duplo respeito por ser chefe de guerra e houngan. Durante o ano e meio que estava livre, Gambo atingira a estatura de homem, tinha costas largas, pernas incansáveis e uma catana para matar. Tinha conquistado a confiança de Boukman. Introduzia-se nas plantações para roubar alimentos, ferramentas, armas e animais, mas nunca tentou ver-me. Era arriscado. Chegavam-me notícias dele por Tante Rose. A minha madrinha não me esclarecia como recebia as mensagens e cheguei a temer que as inventava para me tranquilizar, porque, nessa altura, a minha necessidade de estar com Gambo tinha voltado e queimava-me como brasas. «Dá-me um remédio contra este amor, Tante Rose.» Mas não há remédio contra isso. Deitava-me esgotada com as tarefas do dia, com uma criança de cada lado, mas não conseguia dormir. Durante horas, escutava a respiração inquieta de Maurice e o ronronar de Rosette, os ruídos da casa, o ladrar dos cães, o coaxar dos sapos, o canto dos galos e, quando finalmente adormecia, era como se me fundisse em melaço. Digo isto sem vergonha: às vezes, quando dormia com o amo, imaginava que estava com Gambo. Mordia os lábios para segurar o seu nome e, no espaço escuro dos olhos fechados, fingia que o cheiro a álcool do branco era o hálito aposto verde de Gambo, que ainda não tinha os dentes podres por comer peixe estragado, que o homem peludo e pesado, ofegante em cima de mim, era Gambo, magro e ágil, com a sua pele jovem riscada de cicatrizes, os seus lábios doces, a sua língua curiosa, a sua voz sussurrante. Então o meu corpo abria-se e ondulava a recordar o prazer. Depois o amo dava-me uma palmada nas nádegas e ria-se comprazido, então o meu ti-bon-ange voltava para essa cama e para esse homem e eu abria os olhos e dava-me conta aonde estava. Corria para o pátio e lavava-me com fúria antes de me ir deitar com as crianças.
As pessoas andaram horas e horas para chegar a Bois Cayman, alguns saíram das suas plantações de dia, outros vieram das enseadas da costa, chegaram todos noite cerrada. Dizem que um bando de cimarrones viajou desde Port-au-Prince, mas isso é muito longe e não o creio. O bosque estava cheio, homens e mulheres sigilosos a deslizarem por entre as árvores no mais completo silêncio, misturados com os mortos e as sombras, mas, quando sentiram nos pés a vibração dos primeiros tambores, animaram-se, avivaram o passo, a falar em sussurros e depois aos gritos, saudavam-se, chamavam-se pelos nomes. O bosque iluminou-se com tochas. Alguns conheciam o caminho e guiaram os outros para a grande clareira que Boukman, o houngan, tinha escolhido. Um colar de fogueiras e tochas iluminava o hounfort. Os homens haviam preparado o sagrado poteau-mitan, um tronco grosso e alto, porque o caminho devia ser largo para os loas. Uma longa fila de raparigas vestidas de branco, as hounsis, chegaram escoltando Tante Rose, também de branco, com o asson da cerimónia. As pessoas inclinavam-se para tocar-lhe a roda da saia ou as pulseiras que tilintavam nos seus braços. Tinha rejuvenescido, porque Erzuli a acompanhava desde que abandonou a habitation Saint-Lazare: tinha-se tornado incansável para andar de um lado para o outro sem bengala, e invisível para que a Maréchaussée não desse com ela. Os tambores em semicírculo chamavam, tam-tam-tam. As pessoas juntavam-se em grupos e comentava-se o que se passara em Limbé e o sofrimento dos prisioneiros em Le Cap. Boukman tomou a palavra para invocar o deus supremo, Papa Bondye, e pedir-lhe que os conduzisse à vitória. «Escutai a voz da liberdade, que canta em todos os nossos corações!», gritou e os escravos responderam com um clamor que fez balançar a ilha. Assim mo contaram.
Os tambores começaram a falar e a responder uns aos outros, a marcar o ritmo para a cerimónia. As hounsis dançaram à volta do poteau-mitan movendo-se como flamingos, agachando-se, levantando-se, os pescoços ondulantes, os braços levantados, e cantaram a chamar os loas, primeiro Légbé, como se faz sempre, depois, um a um, os restantes. A mambo, Tante Rose, traçou o vévé à volta do poste sagrado com uma mistura de farinha, para alimentar os loas, e de cinza para honrar os mortos. Os tambores aumentaram a sua intenção, o ritmo acelerou-se e o bosque inteiro palpitava desde as raízes mais profundas até às estrelas mais remotas. Então, Ogun desceu com espírito de guerra, Ogun-Ferraille, deus viril das armas, agressivo, irritado, perigoso e Erzuli saltou de Tante Rose para dar lugar a Ogun, que a montou. Todos viram a transformação. Tante Rose ergueu-se direita, com o dobro do seu tamanho, sem coxear nem dobrada pelos anos de vida, com os olhos em branco, deu um salto inacreditável e caiu especada a três metros de distância em frente de uma fogueira. Da boca de Ogun saiu um bramido de trovão e o loa dançou levantando-se do chão, caiu a saltitar como uma bola, com a força dos loas, acompanhado pelo estrondo dos tambores. Aproximaram-se dois homens, os mais fortes, para lhe dar açúcar para o acalmar, mas o loa agarrou-os como bonecos e atirou-os para longe. Tinha vindo para entregar uma mensagem de guerra, justiça e sangue. Ogun pegou com os dedos num carvão em brasa, pô-lo na boca, deu uma volta completa a chupar fogo e depois cuspiu-o sem queimar os lábios. A seguir, tirou uma grande faca ao homem mais próximo, deitou o asson por terra, dirigiu-se para o porco preto do sacrifício atado a uma árvore e, com um só golpe, degolou-o com o seu braço de guerreiro, separando a grande cabeça do tronco e ensopando-se com o seu sangue. Nessa altura, muitos servidores tinham sido montados e o bosque encheu-se de Invisíveis, Mortos e Mistérios, de loas e espíritos misturados com os humanos, todos revoltados, a cantar, a dançar, a saltar e a rebolar-se com os tambores, pisando as brasas a arder, a lamber folhas de facas aquecidas ao rubro e a comer malagueta aos punhados. O ar da noite estava pesado, como uma terrível tempestade, mas não soprava nem uma brisa. Os archotes iluminavam como ao meio-dia, mas a Maréchaussée, que rondava por perto, não os viu. Assim mo contaram.
Passado um grande bocado, quando a imensa multidão estremecia como uma só pessoa, Ogun lançou um rugido de leão para impor silêncio. Os tambores calaram-se de imediato, todos menos a mambo voltaram a ser os mesmos e os loas retiraram-se para as copas das árvores. Ogun-Ferraille levantou o asson para o céu e a voz do loa mais poderoso rebentou na boca de Tante Rose para exigir o fim da escravatura, chamar à rebelião total e nomear os chefes: Boukman,Jean-François,Jeannot, Boisseau, Célestin e vários outros. Não nomeou Toussaint, porque nesse momento o homem que se iria converter na alma dos rebeldes estava na plantação em Bréda, onde servia como cocheiro. Só se juntou à revolta várias semanas mais tarde, após pôr a salvo a família completa do amo. Eu só ouvi o nome de Toussaint um ano depois.
Foi assim o começo da revolução. Passaram muitos anos e continua a correr sangue que ensopa a terra do Haiti, mas já lá não estou para chorar.
A vingança
Assim que tomou conhecimento do levantamento dos escravos e do caso dos prisioneiros de Limbé, que morreram sem confessar, Toulouse Valmorain ordenou a Tété que preparasse depressa o regresso a Saint-Lazare, ignorando as advertências de toda a gente, em especial do doutor Parmentier, sobre o perigo que os brancos corriam nas plantações. «Não exagere, doutor. Os negros foram sempre revoltosos. Prosper Cambray têm-nos controlados», replicou Valmorain com ênfase, embora tivesse dúvidas. Enquanto o eco dos tambores ressoava no Norte, a chamar os escravos para a convocatória de Bois Cayman, o coche de Valmorain, protegido por uma guarda reforçada, dirigia-se a trote para a plantação. Chegaram numa nuvem de pó, acalorados, ansiosos, com as crianças a desfalecer e Tété atordoada pelo bambolear do veículo. O amo saltou da carruagem e fechou-se com o chefe dos capatazes no escritório para receber o relatório das perdas, que, na realidade, eram insignificantes, e depois foi percorrer a propriedade e confrontar-se com os escravos que, segundo Cambray, se tinham amotinado, mas não o suficiente para os entregar à Maréchaussée, como fizera com outros. Era o tipo de situação em que Valmorain se sentia inadaptado e, nos últimos tempos, se repetia com frequência. O chefe dos capatazes defendia os interesses de Saint-Lazare melhor do que o proprietário, actuava com firmeza e sem contemplações, enquanto ele hesitava, pouco disposto a sujar as mãos com sangue.
Uma vez mais, manifestava a sua inépcia. Nos vinte e muitos anos que levava na colónia, não se adaptara, continuava com a sensação de estar de passagem e os escravos eram o seu peso mais desagradável. Não se achava capaz de ordenar que queimassem um homem em lume lento, embora essa medida parecesse indispensável a Cambray. O seu argumento frente ao chefe dos capatazes e aos grands blancs, porque teve de se justificar mais de uma vez, era que a crueldade resultava ineficaz, os escravos sabotavam o que podiam, desde o gume das facas à própria saúde, suicidavam-se ou comiam carne podre e enfraqueciam com vómitos e merda, extremos que ele procurava evitar. Questionava-se se as suas considerações tinham algum préstimo, ou se era tão odiado como Lacroix. Talvez Parmentier tivesse razão e a violência, o medo e o ódio fossem inerentes à escravidão, mas um plantador não se podia dar ao luxo de ter escrúpulos. Nas raras ocasiões em que se deitava sóbrio, não conseguia dormir, atormentado por visões. A fortuna da família, iniciada pelo pai, estava ensanguentada. Ao contrário de outros grands blancs, não conseguia ignorar as vozes que se levantavam na Europa e na América para denunciar o inferno das plantações das Antilhas.
Em finais de Setembro, a rebelião tinha-se generalizado entre o Norte, os escravos fugiam em massa e, antes de partir, deitavam fogo a tudo. Faltavam braços nos campos e os plantadores não queriam continuar a comprar escravos que fugiam ao primeiro descuido. O mercado de negros em Le Cap estava quase paralisado. Prosper Cambray duplicou o número de commandeurs e levou ao extremo a vigilância e a disciplina, enquanto Valmorain sucumbia à ferocidade do seu empregado sem intervir. Em Saint-Lazare, ninguém dormia tranquilo. A vida, que nunca foi folgada, converteu-se unicamente em esforço e sofrimento. As calendas e as horas de descanso foram suprimidas, embora, durante o torpor insuportável do meio-dia, o trabalho não rendesse. Desde que Tante Rose desapareceu, não havia quem curasse, desse conselhos ou ajuda espiritual. Prosper Cambray era o único que se comprazia com a ausência da mambo, que não fez a menor intenção de a perseguir, porque, quanto mais longe estivesse essa bruxa capaz de converter um mortal num zumbi, melhor seria. Para que outro fim coleccionava pós de sepultura, fígado de peixe-porco, sapos e plantas peçonhentas, a não ser para essas aberrações? Por isso, o chefe dos capatazes nunca tirava as botas. Punham vidros partidos no chão, o veneno entrava pelas dobras nas plantas dos pés e, na noite a seguir ao funeral, desenterravam o cadáver convertido em zumbi e ressuscitavam-no através de uma tareia monumental. «Suponho que não acreditas nessas patranhas!», riu-se Valmorain, uma vez, quando falaram sobre o assunto. «Quanto a crer, não creio, monsieur, mas que há zumbis, há», respondeu o chefe dos capatazes.
Em Saint-Lazare, como no resto da ilha, vivia-se num compasso de espera. Tété ouvia boatos repetidos pelo seu amo ou entre os escravos, mas, sem Tante Rose, não os sabia interpretar. A plantação tinha-se fechado sobre si mesma, como um punho. Os dias tornavam-se pesados e as noites pareciam nunca mais acabar. Até da louca sentiam falta. A morte de Eugenia deixou um vazio, sobravam horas e espaço, a casa parecia enorme e nem as crianças, com as suas traquinices, a conseguiam encher. Na fragilidade dessa época, as regras afrouxaram e as distâncias encurtaram-se. Valmorain habituou-se à presença de Rosette e acabou por tolerar a familiaridade com ela. Não lhe chama amo, mas monsieur, pronunciado como um miado de gato. «Quando for grande, vou casar-me com Rosette», dizia Maurice. Mais adiante, haveria tempo para pôr as coisas no seu lugar, pensava o pai. Tété procurou inculcar nas crianças a diferença fundamental entre ambos: Maurice tinha privilégios vedados a Rosette, como entrar num quarto sem pedir licença ou sentar-se nos joelhos do amo sem ser chamada. O rapazinho estava na idade de exigir explicações e Tété respondia sempre às suas perguntas sem omitir a verdade. «Porque és filho legítimo do amo, és varão, branco, livre e rico, mas Rosette não.» Longe de o conformar, isso provocava ataques de choro a Maurice. «Porquê, porquê?», repetia entre soluços. «Porque a vida é mesmo quilhada, meu menino. Anda cá para te limpar o ranho», replicava Tété. Valmorain considerava que o filho já tinha idade suficiente para dormir só, mas, de cada vez que tentaram forçá-lo, davam-lhe achaques e ficava com febre. Continuou a dormir com Tété e Rosette enquanto a situação se normalizava, como o avisou o pai, mas o clima na ilha estava longe de se normalizar.
Uma tarde, chegaram vários milicianos, que andavam a percorrer o Norte procurando controlar a anarquia, e entre eles vinha Parmentier. O doutor viajava muito pouco para fora de Le Cap, devido aos perigos do caminho e aos seus deveres com os soldados franceses que agonizavam no seu hospital. Num dos quartéis, houve um surto de febre-amarela, que foi possível controlar antes que se convertesse em epidemia, mas a malária, a cólera e o dengue causavam estragos. Parmentier juntou-se aos milicianos, única forma de viajar com alguma segurança, não tanto para visitar Valmorain, que costumava ver em Le Cap, mas para consultar Tante Rose. Levou com um balde de água fria quando soube do desaparecimento da sua mestra. Valmorain ofereceu hospitalidade ao seu amigo e aos milicianos, que vinham cobertos de pó, sedentos e extenuados. Durante dois dias, a casa grande encheu-se de actividade, de vozes masculinas e até de música, porque vários homens tocavam instrumentos de corda. Finalmente, pôde dar-se uso aos que Violette Boisier tinha comprado por capricho quando decorou a casa, treze anos antes, que estavam desafinados, mas utilizáveis. Tante Mathilde esvaziou a despensa do seu melhor conteúdo e preparou tartes de fruta e complicados guisados créoles, gordurosos e picantes, que não fazia há muito tempo. Prosper Cambray encarregou-se de assar um cordeiro, dos poucos disponíveis, porque desapareciam misteriosamente. Também os porcos se esfumavam, e como era impossível que os cimarrones conseguissem roubar esses pesados animais sem a cumplicidade dos escravos da plantação, quando faltava um, Cambray escolhia dez ao acaso e mandava-os açoitar; alguém tinha de pagar pela falta. Nesses meses, o chefe dos capatazes, investido de mais poder do que nunca, actuava como se fosse ele o verdadeiro amo de Saint-Lazare e a sua insolência com Tété, cada vez mais descarada, era a sua forma de desafiar o patrão, que se tinha encolhido desde o rebentamento da rebelião. A inesperada visita dos milicianos, todos mulatos como ele, aumentou a sua bazófia: servia o licor de Valmorain sem o consultar, dava ordens peremptórias aos domésticos na sua presença e troçava à sua custa. O doutor Parmentier notou isso, como notou que Tété e as crianças tremiam diante do chefe dos capatazes, e esteve quase a fazer um comentário ao seu anfitrião, mas a experiência tinha-o tornado reservado. Cada plantação era um mundo à parte, com o seu próprio sistema de relações, os seus segredos e os seus vícios. Por exemplo, Rosette, aquela menina de pele tão clara, só podia ser filha de Valmorain. E o que tinha sido feito do outro filho de Tété? Gostaria de o ter averiguado, mas nunca se atreveu a perguntar a Valmorain; as relações entre os brancos com as suas escravas era um tema proibido na boa sociedade.
— Suponho que pôde apreciar os estragos da rebelião, doutor -comentou Valmorain. — Os bandos assolaram a região.
— É verdade. Quando vínhamos para cá, vimos a fumarada de um incêndio na plantação Lacroix — contou-lhe Parmentier. -Quando nos aproximámos, notámos que os canaviais ainda estavam a arder. Não se via vivalma. O silêncio era aterrador.
— Bem sei, doutor, porque fui dos primeiros a chegar à habitation Lacroix depois do assalto — explicou-lhe Valmorain. -Toda a família Lacroix, os seus capatazes e domésticos foram assassinados; os restantes escravos desapareceram. Fizemos uma fossa e enterrámos os corpos provisoriamente, até que as autoridades investiguem o que se passou. Não podíamos deixá-los esticados como carniça. Os negros tiveram a sua orgia de sangue.
— Não teme que aconteça algo semelhante aqui? — perguntou Parmentier.
— Estamos armados e atentos, e confio na capacidade de Cambray — replicou Valmorain. — Mas confesso-lhe que estou muito preocupado. Os negros assanharam-se com Lacroix e a sua família.
— O seu amigo Lacroix tinha reputação de cruel — interrompeu-o o médico. — Isso exacerbou ainda mais os assaltantes, mas, nesta guerra, ninguém está com considerações com ninguém, mon ami. É preciso estarmos preparados para o pior.
— Sabia que o estandarte dos rebeldes é um menino branco trespassado por uma baioneta, doutor?
— Toda a gente o sabe. A França reage com horror a estes acontecimentos. Os escravos já não contam com nenhum simpatizante na Assembleia, até a Sociedade de Amigos dos Negros está calada, mas estas atrocidades são a resposta lógica às que nós perpetuámos contra eles.
— Não nos inclua, doutor! — exclamou Valmorain. — O senhor e eu jamais cometemos esses excessos!
— Não me refiro a ninguém em particular, mas sim à regra que impusemos. O ajuste de contas dos negros era inevitável. Envergonho-me de ser francês — disse Parmentier, tristemente.
— Se de ajuste de contas se trata, chegámos ao ponto de escolher entre eles ou nós. Nós, os plantadores, defenderemos as nossas terras e os nossos investimentos. Vamos recuperar a colónia seja como for. Não ficaremos de braços cruzados! Os braços não estavam cruzados. Os colonos, a Maréchaussée e o Exército saíam à caça, e negro rebelde que apanhassem, esfolavam-no vivo. Importaram mil e quinhentos cães da Jamaica e o dobro de mulas da Martinica, treinadas para subir montanhas a arrastar canhões.
O terror
Uma atrás da outra, as plantações do Norte começaram a arder. O incêndio durou meses, o clarão das chamas avistava-se à noite, em Cuba, e a densa fumarada asfixiou Le Cap e, segundo os negros, chegou até à Guiné. O tenente-coronel Relais, que estava encarregado de informar o governador das baixas, no final de Dezembro tinha contado mais de dois mil entre os brancos e, se os seus cálculos estavam correctos, havia mais dez mil entre os negros. Em França, a opinião pública sofreu uma reviravolta quando se soube da sorte que cabia aos colonos de Saint-Domingue, e a Assembleia Nacional anulou o recente decreto que outorgava direitos políticos aos affranchis. Como Relais disse a Violette, essa decisão carecia completamente de lógica, uma vez que os mulatos nada tinham a ver com a rebelião, eram os piores inimigos dos negros e formavam-se como aliados naturais dos grands blancs, com quem tinham tudo em comum menos a cor. O governador Blanchelande, cuja simpatia não se identificava com os republicanos, teve de utilizar o Exército para sufocar a revolta dos escravos, que adquiria proporções de catástrofe, e para intervir no bárbaro conflito entre brancos e mulatos que deflagrou em Port-au-Prince. Os petits blancs organizaram uma matança contra os affranchis e estes responderam cometendo piores selvajarias do que os negros e os brancos juntos. A ilha inteira trepidava com o fragor de um ódio antigo que esperava um tal pretexto para explodir em chamas.
Em Le Cap, a chusma branca, revoltada com o que tinha acontecido em Port-au-Prince, atacou a gente de cor nas ruas, entraram de rompante nas suas casas, ultrajaram as mulheres, degolaram as crianças e enforcaram os homens nas suas próprias varandas. A pestilência dos cadáveres podia cheirar-se nos barcos ancorados ao largo do porto. Num bilhete que Parmentier enviou a Valmorain, comentou-lhe as notícias da cidade: «Não há nada tão perigoso como a impunidade, meu amigo, é nessa altura que as pessoas enlouquecem e são cometidas as piores bestialidades; não importa a cor da pele, são todos iguais. Se o senhor visse o que eu vi, seria obrigado a questionar a superioridade da raça branca, que tantas vezes discutimos.» Aterrado com aquele descalabro, o doutor pediu audiência e apresentou-se no espartano gabinete de Etienne Relais, que conhecia por trabalhar no hospital militar. Sabia que se tinha casado com uma mulher de cor e mostrava-se com ela de braço dado sem se importar com as más-línguas, o que ele próprio nunca se atrevera a fazer com Adèle. Calculou que esse homem entenderia melhor do que ninguém a sua situação e dispôs-se a contar-lhe o seu segredo. O oficial pediu-lhe que se sentasse na única cadeira disponível.
— Desculpe por me atrever a incomodá-lo com um assunto de ordem pessoal, tenente-coronel... — gaguejou Parmentier.
— Em que posso ajudá-lo, doutor? — respondeu amavelmente Relais, que devia ao médico as vidas de vários dos seus subalternos.
— A verdade é que tenho uma família. A minha mulher chama-se Adèle. Não é exactamente minha esposa; o senhor entende, não é verdade? Mas vivemos juntos há muitos anos e temos três filhos. Ela é uma affranchie.
— Já sabia, doutor — disse Relais.
— Sabia, como? — exclamou o outro, desconcertado.
— O meu posto exige estar informado e a minha esposa, Violette Boisier, conhece Adèle. Comprou-lhe vários vestidos.
— Adèle é uma excelente costureira — acrescentou o doutor.
— Suponho que me veio falar dos ataques contra os affranchis. Não posso prometer-lhe que a situação vá melhorar em breve, doutor. Estamos a tentar controlar a população, mas o Exército não conta com recursos suficientes. Estou muito preocupado. A minha esposa há duas semanas que não assoma o nariz fora de casa.
— Temo por Adèle e pelas crianças.
— No que me diz respeito, creio que a única forma de proteger a minha família é enviá-la para Cuba até que passe a tempestade. Vão partir de barco, amanhã. Posso oferecer o mesmo à sua, se achar bem. Não é cómodo, mas a viagem é curta.
Nessa noite, um pelotão de soldados escoltou as mulheres e as crianças ao barco. Adèle era uma mulata escura e gorda, pouco atraente à primeira vista, mas de uma doçura e um bom humor inesgotáveis. Ninguém deixaria de notar a diferença entre ela, vestida como uma criada e decidida a permanecer na sombra para cuidar da reputação do pai dos seus filhos, e a bela Violette com o seu porte de rainha. Não eram da mesma classe social, separavam-nas vários graus de cor, que em Saint-Domingue determinavam o destino, assim como o facto de uma ser costureira, e a outra, sua cliente; mas abraçaram-se com simpatia, uma vez que enfrentariam juntas as contingências do exílio. Loula choramingava com Jean-Martin agarrado pela mão. Tinha-lhe pendurado fetiches católicos e vodu debaixo da blusa, para que Relais, agnóstico convicto, não os visse. A escrava nunca tinha subido para um bote, muito menos para um barco, e horrorizava-a aventurar-se num mar cheio de tubarões dentro daquele molho de paus mal atados com umas velas que pareciam combinações. Enquanto o doutor Parmentier fazia discretos sinais de adeus, ao longe, à sua família, Etienne Relais despediu-se em frente dos seus soldados de Violette, a única mulher que tinha amado na vida, com um beijo desesperado e o juramento de que se uniriam muito em breve. Não voltaria a vê-la.
No acampamento de Zambo Boukman, já ninguém passava fome e as pessoas começavam a fortalecer-se: os homens não tinham as costelas à mostra, as poucas crianças que havia não eram esqueletos com ventres dilatados e olhos de além-túmulo, e as mulheres começaram a ficar prenhes. Antes da rebelião, quando os cimarrones viviam escondidos nos buracos das montanhas, mitigava-se a fome dormindo e a sede com gotas de chuva. As mulheres cultivavam umas matas raquíticas de milho, que muitas vezes tinham de abandonar antes da colheita, e defendiam com as suas próprias vidas as cabras disponíveis, porque havia várias crianças, nascidas em liberdade, mas destinadas a uma vida muito curta se lhes faltasse o leite desses nobres animais. Gambo e outros cinco homens, os mais atrevidos, estavam encarregados de arranjar provisões. Um deles levava um mosquete e era capaz de abater uma lebre em corrida a uma distância impossível, mas as escassas munições reservavam-se para as peças maiores. Os homens introduziam-se de noite nas plantações, onde os escravos partilhavam com eles as suas provisões, a bem ou a mal, mas existia o perigo tremendo de serem atraiçoados ou surpreendidos. Se conseguiam entrar no sector das cozinhas ou dos domésticos, podiam subtrair um par de sacos de farinha ou um barril de peixe seco, o que não era muito, embora fosse pior mastigar lagartixas. Gambo, que tinha mão mágica para lidar com animais, costumava arrear uma das velhas mulas do moinho, que depois era aproveitada até ao último osso. Essa manobra requeria tanta sorte como audácia porque, se a mula ficava teimosa, não havia maneira de a fazer andar e, se era dócil, tinha de a disfarçar até chegar com ela às sombras da selva, onde lhe pedia perdão por lhe tirar a vida, como lhe ensinara o pai quando iam à caça, e depois sacrificava-a. Carregavam a carne entre todos, pela montanha acima, apagando o rasto para enganar os seus perseguidores. Aquelas incursões desesperadas tinham agora outro cariz. Já ninguém se lhes opunha nas plantações, quase todas abandonadas, podiam sacar o que se tivesse salvado do incêndio. Graças a isso, no acampamento não faltavam porcos, galinhas, mais de cem cabras, sacos de milho, mandioca, batata e feijão, inclusive rum, o café todo que lhes apetecesse, e açúcar, que muitos escravos nunca tinham provado, embora tivessem passado anos a produzi-lo. Os fugitivos de antes eram agora os revolucionários. Já não se tratava de bandidos esquálidos, mas sim de guerreiros decididos, porque não havia como voltar atrás: morria-se a lutar ou morria-se supliciado. Só podiam apostar na vitória.
O acampamento estava cercado de estacas com caveiras e corpos empalados a macerar ao sol. Mantinham os prisioneiros brancos num grande curral à espera da sua vez para serem executados. As mulheres eram convertidas em escravas ou concubinas, tal como antes acontecia às negras nas plantações. Gambo não sentia compaixão pelos cativos, ele mesmo acabaria com eles se se apresentasse a necessidade de o fazer, mas não lhe tinham dado essa ordem. A ele, que tinha pernas velozes e muita perícia, Boukman também o enviava com mensagens a outros chefes e para espiar. A região estava semeada de bandos, que o jovem conhecia bem. O pior acampamento para os brancos era o de Jeannot, onde todos os dias seleccionavam vários para lhes dar uma morte lenta e macabra, inspirada na tradição de atrocidades iniciada pelos próprios colonos. Jeannot, como Boukman, era um poderoso houngan, mas a guerra tinha-o transtornado e o apetite de crueldade tornou-se insaciável. Gabava-se de beber o sangue das suas vítimas numa caveira humana. Até a sua própria gente se sentia aterrorizada perante ele. Gambo ouviu outros chefes discutir sobre a necessidade de o eliminar antes que as suas aberrações irritassem Papa Bondye, mas não o repetiu, porque, como espião, dava valor à discrição.
Num dos acampamentos, conheceu Toussaint, que exercia a dupla função de conselheiro de guerra e doutor, porque tinha conhecimentos de plantas curativas e exercia uma influência notável sobre os chefes, embora, nessa altura, ainda se mantivesse em segundo plano. Era um dos poucos que sabiam ler e escrever; ficava assim ao corrente, embora com atraso, do que se passava na ilha e em França. Ninguém conhecia melhor do que ele a mentalidade dos brancos. Tinha nascido e vivido escravo numa plantação em Bréda, educou-se sozinho, abraçou com fervor a religião cristã e conquistou a estima do seu amo, a quem, inclusive, confiou a família quando chegou o momento de fugir. Essa relação provocava suspeitas, muitos achavam que Toussaint se submetia aos brancos como um criado, mas Gambo ouviu-o dizer muitas vezes que o propósito da sua vida era terminar com a escravatura em Saint-Domingue e nada nem ninguém o faria desistir. A sua personalidade atraiu Gambo desde o princípio e decidiu que, se Toussaint se convertesse em chefe, ele mudaria de bando sem hesitar. Boukman, aquele gigante com vozeirão de tempestade, o eleito de Ogun-Ferraille, foi a chispa que acendeu a fogueira da rebelião em Bois Cayman, mas Gambo adivinhou que a estrela mais brilhante do céu era a de Toussaint, aquele homenzinho feio, com a queixada protuberante e pernas arqueadas, que falava como um pregador e rezava ao Jesus dos brancos. E não se equivocou porque, uns meses mais tarde, Boukman, o invencível, que enfrentava o fogo inimigo desviando as balas à chicotada com a cauda de um boi como se fossem moscas, foi preso pelo Exército numa escaramuça. Etienne Relais mandou executá-lo de imediato, para se antecipar à reacção dos rebeldes de outros acampamentos. Levaram a cabeça enfiada numa lança e colocaram-na no centro da praça de Le Cap, onde ninguém quis deixar de a ver. Gambo foi o único que escapou da morte nessa emboscada, graças à sua espantosa velocidade, e pôde levar a notícia. Depois juntou-se ao acampamento onde estava Toussaint, embora o de Jeannot fosse muito mais numeroso. Sabia que Jeannot tinha os dias contados. E, com efeito, atacaram-no ao amanhecer e enforcaram-no sem lhe aplicar os tormentos que ele tinha imposto às suas vítimas porque não lhes deu tempo; estavam a preparar-se para parlamentar com o inimigo. Gambo julgou que, depois da morte de Jeannot e vários dos seus oficiais, também havia chegado a hora dos cativos brancos, mas prevaleceu a ideia de Toussaint de mantê-los vivos e usá-los como reféns para negociar.
Tendo em conta o desastre na colónia, a França enviou uma comissão para falar com os chefes negros, que se manifestaram dispostos a devolver os reféns em sinal de boa vontade. O encontro foi marcado numa plantação do Norte. Quando os prisioneiros brancos, que tinham sobrevivido durante meses no inferno inventado por Jeannot, se encontraram perto da casa e compreenderam que não os levavam para matá-los de uma maneira horrenda, mas sim para os libertar, verificou-se uma debandada e mulheres e crianças foram atropeladas pelos homens que corriam para se pôr a salvo. Gambo arranjou maneira para continuar junto de Toussaint e dos outros encarregados de conferenciar com os comissários. Meia dúzia de grands blancs, em representação do resto dos colonos, acompanhavam as autoridades recém-chegadas de Paris, que ainda não faziam uma ideia cabal de como se tratavam as coisas em Saint-Domingue. Com um sobressalto, Gambo reconheceu entre eles o seu antigo amo e recuou para se esconder, mas adivinhou logo que Valmorain não tinha reparado nele e que, se o fizesse, não o reconheceria.
As conversações foram levadas a cabo ao ar livre, sob as árvores do pátio, e a tensão tornou-se palpável desde as primeiras palavras. Reinava a desconfiança e o rancor entre os rebeldes e a soberba cega entre os colonos. Pasmado, Gambo escutou os termos de paz propostos pelos seus chefes: liberdade para eles e um punhado dos seus seguidores, em troca do resto dos rebeldes voltar tranquilamente à escravidão nas plantações. Os comissários de Paris aceitaram de imediato — a cláusula não podia ser mais vantajosa -, mas os grands blancs de Saint-Domingue não estavam dispostos a outorgar nada: pretendiam que os escravos se rendessem em massa, sem condições. «Quem é que eles se julgam! Que vamos negociar com os negros? Que se conformem em salvar a vida!», exclamou um deles. Valmorain procurou raciocinar com os seus pares, mas, no final, prevaleceu a voz da maioria e decidiram não dar nada a esses negros sublevados. Os líderes rebeldes retiraram-se agastados e Gambo seguiu-os, a arder de fúria quando soube que estavam dispostos a atraiçoar as pessoas com quem conviviam e lutavam. «Assim que se me apresentar a ocasião, mato-os a todos, um a um», prometeu a si mesmo, intimamente. Perdera a fé na revolução. Não podia imaginar que, nesse momento, se definia o futuro da ilha, porque a intransigência dos colonos obrigaria os rebeldes a continuar a guerra durante muitos anos até à vitória e ao fim da escravatura.
Os comissários, impotentes perante a anarquia, acabaram por abandonar Saint-Domingue e, pouco depois, outros três delegados encabeçados por Sonthonax, um jovem advogado, opulento de carnes, chegaram com seis mil soldados de reforço e novas instruções de Paris. Tinha voltado a mudar a lei para outorgar aos mulatos livres os direitos de qualquer cidadão francês, que pouco antes lhes haviam negado. Vários affranchis foram nomeados oficiais do Exército e muitos militares brancos recusaram servir sob as suas ordens e desertaram. Isso atiçou os ânimos, e o ódio centenário entre brancos e affranchis atingiu proporções bíblicas. A Assembleia Colonial, que até então tinha manobrado os assuntos internos da ilha, foi substituída por uma comissão composta por seis brancos, cinco mulatos e um negro livre. No meio da violência crescente, que já ninguém conseguia controlar, o governador Blanchelande foi acusado de não obedecer às ordens do governo republicano e favorecer os monárquicos. Foi deportado para França, com grilhetas nos pés, e pouco depois perdeu a cabeça na guilhotina.
O sabor da liberdade
Estavam as coisas nestes termos, no Verão do ano seguinte, quando, uma noite, Tété despertou de súbito com uma mão forte a tapar-lhe a boca. Pensou que o assalto tinha finalmente chegado à plantação, temido durante tanto tempo, e rogou que a morte fosse rápida, pelo menos para Maurice e Rosette, adormecidos a seu lado. Esperou sem procurar defender-se para não despertar as crianças, e pela remota possibilidade de se tratar de um pesadelo, até que conseguiu distinguir a figura debruçada sobre ela no ténue reflexo dos archotes do pátio, que se filtrava através do papel encerado da janela. Não o reconheceu porque, ano e meio depois de se terem separado, o rapaz já não era o mesmo, mas, nessa altura, ele sussurrou o seu nome, Zarité, e ela sentiu um fogacho no peito, já não de terror, mas de felicidade. Levantou as mãos para o puxar e sentiu o metal da faca que ele segurava com os dentes. Tirou-lho e ele, com um gemido, deixou-se cair sobre aquele corpo que se ajeitava para o receber. Os lábios de Gambo procuravam os dela com a sede acumulada de tanta ausência, a sua língua abriu caminho na sua boca e as mãos agarraram-lhe os seios através da delicada camisa. Ela sentiu-o duro entre as suas coxas e abriu-se para ele, mas lembrou-se das crianças, de quem se tinha esquecido por momentos, e empurrou-o. «Vem comigo», sussurrou-lhe.
Levantaram-se com cuidado e passaram por cima de Maurice. Gambo recuperou a faca e pô-la na tira de couro de cabra do cinto, enquanto ela puxava o mosquiteiro para proteger as crianças. Tété fez-lhe sinal para que esperasse e saiu para se certificar de que o amo estava no seu quarto, tal como o tinha deixado umas duas horas antes, a seguir, soprou a lamparina do corredor e voltou para ir buscar o seu amante. Conduziu-o a tactear até ao quarto da louca, na outra extremidade da casa, desocupado desde a sua morte.
Caíram abraçados sobre o colchão, cheio de humidade e abandono, e amaram-se na escuridão, num silêncio total, sufocados de palavras mudas e gritos de prazer que se desfaziam em suspiros. Enquanto estiveram separados, Gambo tinha-se aliviado com outras mulheres dos acampamentos, mas não havia conseguido apaziguar o seu apetite de amor insatisfeito. Tinha dezassete anos e vivia abrasado pelo desejo persistente de Zarité. Recordava-a alta, abundante, generosa, mas agora era mais pequena do que ele e aqueles seios, que antes lhe pareciam enormes, caíam-lhe pendurados nas mãos. Zarité transformava-se em espuma debaixo dele. Na vertigem e voracidade do amor tão longamente contido, não conseguiu penetrá-la e a vida esvaiu-se-lhe num só estalido. Enterrou-se no vazio, até que o hálito a ferver de Zarité no seu ouvido o trouxe de volta ao quarto da louca. Ela mimou-o, dando-lhe pancadinhas nas costas, como fazia com Maurice para o consolar, e quando sentiu que começava a renascer, voltou-o na cama, imobilizando-o com uma mão no ventre, enquanto com a outra e os seus lábios mórbidos e a sua língua faminta o massajava e o chupava, levando-o ao céu, onde se perdeu nas estrelas fugazes do amor imaginado em cada instante de repouso e em cada pausa das batalhas e em cada amanhecer enevoado nas grutas milenárias dos caciques, onde tantas vezes permanecia de guarda. Incapaz de se aguentar mais tempo, o rapaz levantou-a pela cintura e ela montou-o às cava-litas, espetando-se nesse membro em brasa que tanto tinha ansiado, inclinando-se para lhe cobrir a cara de beijos, lamber-lhe as orelhas, acariciá-lo com os mamilos, baloiçar-se nas suas ancas aturdidas, espremê-lo com as suas coxas de amazona, a ondular como enguia no fundo arenoso do mar. Brincaram como se fosse a primeira e a última vez, inventando novos passos de uma dança antiga. O ar do quarto ficou saturado com a fragrância de sémen e suor, com a violência prudente do prazer e os excessos do amor, com queixumes abafados, risos canalhas, arremetidas desesperadas e arquejos de moribundo que se convertiam logo a seguir em beijos alegres. Talvez não fizessem nada que não tivessem feito com outros, mas é muito diferente fazer amor amando.
Esgotados de felicidade, adormeceram apertados num nó de braços e pernas, atordoados pelo calor pesado dessa noite de Julho. Gambo despertou poucos minutos depois, aterrado por ter baixado a guarda daquela maneira, mas, ao sentir a mulher abandonada, a ronronar no sono, concedeu-se tempo para a apalpar ao de leve, sem a despertar, e perceber as mudanças naquele corpo, que, quando partiu, estava deformado pela gravidez. Os seios ainda tinham leite, mas estavam mais flácidos e com os mamilos chupados, a cintura pareceu-lhe muito estreita, porque não se recordava como era antes da sua gravidez, o ventre, as ancas, as nádegas e as coxas eram pura opulência e suavidade. O aroma de Tété também tinha mudado, já não cheirava a sabão, mas a leite, e, nesse momento, estava impregnado do cheiro de ambos. Enterrou o nariz no pescoço dela, sentindo o fluir do seu sangue nas veias, o ritmo da sua respiração, o pulsar do seu coração. Tété esticou-se com um suspiro satisfeito. Estava a sonhar com Gambo e demorou um instante a dar-se conta de que, na verdade, estavam juntos e não precisava de imaginá-lo.
— Vim buscar-te, Zarité. É tempo de partirmos — sussurrou Gambo.
Explicou-lhe que não pudera vir antes porque não tinha para onde levá-la, mas que já não conseguia esperar mais. Não sabia se os brancos lograriam esmagar a rebelião, mas teriam de matar até ao último negro para proclamar vitória. Nenhum dos rebeldes estava disposto a voltar à escravidão. A morte andava à solta e à espreita, na ilha. Não existia um único canto seguro, mas pior do que o medo e a guerra era continuarem separados. Contou-lhe que não confiava nos chefes, nem mesmo em Toussaint, não lhes devia nada e pensava lutar à sua maneira, mudando de bando ou desertando, dependendo de como as coisas corressem. Durante um tempo, poderiam viver juntos no acampamento, disse-lhe; tinha construído uma ajoupa com estacas e folhas de palmeira e não lhes faltaria comida. Só lhe podia oferecer uma vida dura e ela estava habituada às comodidades da casa do branco, mas nunca se arrependeria porque, quando se prova a liberdade, não é possível voltar atrás. Sentiu lágrimas quentes na cara de Tété.
— Não posso deixar as crianças, Gambo — disse-lhe.
— Nós levaremos o meu filho.
— É uma menina, chama-se Rosette e não é tua filha, mas do amo.
Gambo levantou-se, surpreendido. Durante esse ano e meio, tinha pensado no seu filho, o menino negro a que chamava Honoré, não lhe passou pela mente a alternativa de que fosse uma mulata filha do amo.
— Não podemos levar Maurice, porque é branco, e tão-pouco Rosette, que é muito pequenina para passar penúrias — explicou-lhe Tété.
— Tens de vir comigo, Zarité. E tem de ser esta mesma noite, porque amanhã será tarde. Essas crianças são filhos do branco. Esquece-os. Pensa em nós e nos filhos que teremos, pensa na liberdade.
— Porque dizes que amanhã será tarde? — perguntou-lhe ela, limpando as lágrimas com as costas da mão.
— Porque irão atacar a plantação. É a última que resta, todas as outras foram destruídas.
Então ela compreendeu a dimensão do que Gambo lhe pedia, era muito mais do que separar-se das crianças, era abandoná-los a uma sorte horrenda. Enfrentou-o com uma ira tão intensa como a paixão de minutos antes: jamais os deixaria, nem por ele nem pela liberdade. Gambo apertou-a contra o peito, como se pretendesse levá-la no ar. Disse-lhe que Maurice estava perdido, de todos os modos, mas no acampamento poderiam aceitar Rosette, desde que não fosse demasiado clara.
— Nenhum dos dois sobreviria entre os rebeldes, Gambo. A única forma de os salvar é o amo levá-los. Estou segura de que protegerá Maurice com a sua vida, mas não Rosette.
— Não há tempo para isso, o teu amo já é um cadáver, Zarité — replicou ele.
— Se ele morre, os meninos também morrerão. Temos de tirar os três de Saint-Lazare antes do amanhecer. Se não queres ajudar-nos, faço-o sozinha — decidiu Tété, a vestir a camisa na penumbra.
O seu plano era de uma simplicidade pueril, mas expôs-lho com tanta determinação que Gambo acabou por ceder. Não podia forçá-la a ir com ele e também não a podia deixar. Ele conhecia a região, estava habituado a esconder-se, podia mover-se de noite, evitar perigos e defender-se, mas ela não.
— Achas que o branco se prestará a isso? — perguntou-lhe, por fim.
— Que outra saída tem? Se fica, arrancam-lhe a pele, a ele e a Maurice. Não só aceitará, como também pagará um preço. Espera-me aqui — replicou ela.
Zarité
Tinha o corpo quente e húmido, a cara inchada de beijos e lágrimas, a pele a cheirar ao que tinha feito com Gambo, mas não me importei. No corredor, acendi uma das lamparinas de azeite, fui ao seu quarto e entrei sem bater, o que antes nunca tinha feito. Encontrei-o ensopado de licor, deitado de costas, a boca aberta com um fio de saliva no queixo, uma barba de dois dias e o cabelo pálido revolto. Toda a repulsa que sentia por ele revolveu-se e julguei que ia vomitar. A minha presença e a luz demoraram um instante a atravessar a neblina do conhaque; despertou com um grito e com uma palmada rápida tirou a pistola que mantinha debaixo da almofada. Quando me reconheceu, baixou o cano, mas não largou a arma. «Que se passa, Tété?», increpou-me, saindo da cama com um salto. «Venho propor-lhe uma coisa, amo», disse-lhe. Não me tremia a voz nem a lamparina tremia na minha mão. Não me perguntou como me passava pela cabeça acordá-lo a meio da noite, pressentiu que se tratava de algo muito grave. Sentou-se na cama com a pistola nos joelhos e expliquei-lhe que, dentro de duas horas, os rebeldes atacariam Saint-Lazare. Era inútil alertar Cambray, seria preciso um exército para detê-los. Como noutros sítios, os seus escravos juntar-se-iam aos atacantes, haveria uma matança e um incêndio, por isso tínhamos de fugir de imediato com as crianças ou no dia seguinte estaríamos mortos. E isso seria com sorte; pior seria estar a agonizar. Assim lho disse. Como é que o sabia? Um dos seus escravos, que tinha fugido há mais de um ano, tinha voltado para me avisar. Esse homem ia guiar-nos porque, sozinhos, nunca chegaríamos a Le Cap, a região estava tomada pelos rebeldes.
— Quem é? — perguntou-me, enquanto se vestia depressa.
— Chama-se Gambo e é meu amante...
Voltou-me a cara com um bofetão que quase me deixou atordoada, mas, quando me ia bater de novo, agarrei-lhe o pulso com uma força que eu mesma desconhecia. Até esse momento, nunca o olhara de frente e não sabia que tinha os olhos claros, como céu enevoado.
— Vamos procurar salvar a sua vida e a de Maurice, mas o meu preço é a minha liberdade e a de Rosette — disse-lhe, pronunciando bem cada palavra para que me entendesse.
Espetou-me os dedos nos braços, aproximando a cara, ameaçadora. Rangia os dentes enquanto me insultava, desnorteado pela raiva. Passou um longo bocado, eterno, e voltei a sentir náuseas, mas não afastei os olhos. Finalmente, sentou-se de novo, com a cabeça entre as mãos, vencido.
— Vai-te embora com esse maldito. Não necessitas que eu te dê a liberdade.
— E Maurice? O senhor não pode protegê-lo. Não quero viver sempre a fugir, quero ser livre.
— Está bem, terás o que pedes. Vamos, apressa-te, veste-te e prepara as crianças. Onde está esse escravo? — perguntou-me.
— Já não é escravo. Vou chamá-lo, mas antes escreva-me um papel com a minha liberdade e a de Rosette.
Sem acrescentar palavra, sentou-se à mesa e escreveu a correr numa folha, depois secou a tinta com talco, soprou-a e selou-a a lacre com o seu anel, como eu o tinha visto fazer sempre com os documentos importantes. Leu-me em voz alta, já que eu não podia fazê-lo. Senti a garganta seca, o coração começou a bater-me no peito: aquele pedaço de papel tinha o poder de mudar a minha vida e a da minha filha. Dobrei-o com cuidado em quatro partes e pu-lo na bolsa do rosário de Dona Eugenia, que trazia sempre pendurada ao pescoço, debaixo da blusa. Tive de deixar o rosário, e espero que Dona Eugenia me perdoe.
— Agora dê-me a pistola — pedi-lhe.
Não quis separar-se da arma; explicou-me que não pretendia usá-la contra Gambo, ele era a nossa salvação. Não recordo muito bem como nos organizámos, mas, em poucos minutos, ele armou-se com outras duas pistolas e tirou todas as moedas de ouro da secretária, enquanto eu dava láudano às crianças de um dos frascos azuis de Dona Eugenia, que ainda tínhamos. Ficaram como mortos e temi ter-lhes dado demasiado. Não me preocupei com os escravos do campo, amanhã seria o seu primeiro dia de liberdade, mas, nesses assaltos, a sorte dos domésticos costumava ser tão atroz como a dos amos. Gambo decidiu avisar Tante Mathilde. A cozinheira tinha-lhe dado uma vantagem de várias horas quando ele fugiu, pelo que foi castigada; agora era a vez de ele lhe devolver o favor. Passada meia hora, quando nos tivéssemos afastado o suficiente, ela poderia reunir os domésticos e misturarem-se com os escravos do campo. Atei Maurice às costas do pai, entreguei dois pacotes com provisões a Gambo e eu carreguei com Rosette. O amo considerou uma loucura partir a pé, podíamos tirar os cavalos do estábulo, mas, segundo Gambo, isso atrairia os vigilantes e a rota que íamos tomar não era para cavalos. Atravessámos o pátio à sombra dos edifícios, evitámos a avenida dos coqueiros, onde um guarda se passeava, e encaminhámo-nos para os canaviais. As ratazanas com caudas asquerosas que infestam os campos atravessavam-se à nossa frente. O amo hesitou, mas Gambo encostou-lhe a faca ao pescoço e não o matou porque lhe segurei o braço. Precisávamos dele para proteger as crianças, recordei-lhe.
Mergulhámos no ciciar inquietante da cana agitada pela brisa, assobios, facadas, demónios escondidos nas matas, serpentes, lacraus, um labirinto onde os sons se distorciam e as distâncias se enroscavam e alguém pode perder-se para sempre; mesmo que grite e grite, nunca será encontrado. Por isso, os canaviais estão divididos em quartos ou quarteirões e corta-se sempre a cana das margens para o centro. Um dos castigos de Cambray consistia em abandonar um escravo de noite nos canaviais e, ao amanhecer, soltar-lhe os cães. Não sei como Gambo nos guiou, talvez por instinto ou pela experiência de roubar noutras plantações. íamos em fila, colados uns aos outros para não nos perdermos, protegendo-nos como podíamos das folhas afiadas, até que, porfim, muito depois, saímos da plantação e entrámos na selva. Andávamos há horas, mas avançávamos pouco.
Ao amanhecer, vimos nitidamente o céu alaranjado pelo incêndio de Saint-Lazare e fomos sufocados pelo fumo picante e adocicado arrastado pelo vento. As crianças adormecidas pesavam-nos como pedras nos ombros. Erzuli, loa mãe, ajuda-nos.
Andei sempre descalça, mas não estava habituada àquele terreno, tinha os pés ensanguentados. Caía de fadiga; em contrapartida, o amo, vinte anos mais velho, caminhava sem se deter, com o peso de Maurice às costas. Por fim, Gambo, o mais jovem e forte dos três, disse que devíamos descansar. Ajudou-nos a desatar as crianças e pusemo-las sobre um monte de folhas, depois de as esgravatar com um pau para espantar as cobras. Gambo queria as pistolas do amo, mas ele convenceu-o de que eram mais úteis nas suas mãos porque Gambo não percebia nada daquelas armas. Pactuaram que ele levaria uma, e o amo, as outras duas. Estávamos perto dos pântanos e os raios de sol quase não entravam através da vegetação. O ar era como água quente. O lodo movediço podia engolir um homem em dois minutos, mas Gambo não parecia preocupado. Encontrou uma poça, bebemos, molhámos a roupa e a das crianças, que continuavam atordoadas, distribuímos entre nós pães das provisões e descansámos um bocado.
Logo a seguir, Gambo pôs-nos de novo em marcha e o amo, que nunca tinha recebido ordens, obedeceu calado. Os pântanos não eram um lamaçal, como eu imaginava, mas sim água suja estagnada e vapor malcheiroso. O lodo estava no fundo. Recordei-me de Dona Eugenia, que teria preferido cair nas mãos dos rebeldes do que passar por aquela densa neblina de mosquitos; por sorte, já estava no céu dos cristãos. Gambo conhecia todos os passos, mas não era fácil segui-lo com as crianças. Erzuli, loa da água, salva-nos. Gambo rasgou o meu tignon, forrou-rne os pés com folhas e envolveu-mos com o pano. O amo tinha botas de cano alto e Gambo acreditava que as presas das alimárias não penetravam os calos dos seus pés. Assim caminhámos.
Maurice despertou primeiro, quando ainda estávamos nos pântanos, e assustou-se. Quando Rosette despertou, dei-lhe um pouco de peito sem deixar de andar e voltou a adormecer. Andámos o dia inteiro e chegámos a Bois Cayman, onde não havia o perigo de desaparecer no lodo, mas podíamos ser atacados. Gambo tinha visto ali o começo da rebelião, quando a minha madrinha, montada por Ogun, apelou à guerra e designou os chefes. Assim mo contou Gambo. Desde então, Tante Rose ia de um acampamento a outro para curar, celebrar serviços para os loas e ver o futuro, temida e respeitada por todos, cumprindo o destino marcado na sua l'étoile. Ela tinha dito a Gambo que se acolhesse debaixo da asa de Toussaint, porque ele seria o novo rei quando a guerra acabasse. Gambo perguntou-lhe se então seríamos livres e ela garantiu-lhe que sim, mas antes seria preciso matar os brancos todos, inclusive os recém-nascidos, e haveria tanto sangue na terra que as maçarocas brotariam tingidas.
Dei mais gotas aos meninos e acomodámo-los entre as raízes de uma árvore grande. Gambo temia mais as matilhas de cães selvagens do que os humanos ou os espíritos, mas não nos atrevemos a acender uma fogueira para os manter afastados. Deixámos o amo com as crianças, e as três pistolas carregadas, seguros de que não se moveria do lado de Maurice, enquanto Gambo e eu nos afastávamos um pouco para fazer o que queríamos fazer. O ódio deformou a cara do amo quando me decidi a seguir Gambo, mas não disse nada. Temi o que me ia acontecer depois, porque conheço a crueldade dos brancos chegada a hora da vingança, e essa hora chegar-me-ia mais tarde ou mais cedo. Estava esgotada e dorida por causa do peso de Rosette, mas tudo o que desejava era o abraço de Gambo. Nesse momento, nada mais me importava. Erzuli, loa do prazer, permite que esta noite dure para sempre. É assim que o recordo.
Fugitivos
Os rebeldes caíram sobre Saint-Lazare à hora imprecisa em que a noite recua, momentos antes do sino do trabalho acordar as pessoas. A princípio, foi a resplandecente cauda de um cometa, pontos de luz a moverem-se depressa: os archotes. Os canaviais ocultavam as figuras humanas, mas, quando começaram a emergir da densa vegetação, viu-se que eram centenas. Um dos vigilantes conseguiu chegar até ao sino, mas vinte mãos a brandir catanas reduziram-no a uma papa irreconhecível. As canas secas arderam primeiro, com o calor pegaram às outras e, em menos de vinte minutos, o incêndio cobria os campos e avançava para a casa grande. As chamas saltavam em todas as direcções, tão altas e poderosas que o corta-fogo dos pátios não conseguiu detê-las. Ao clamor do incêndio somou-se a gritaria ensurdecedora dos assaltantes e o uivo lúgubre dos búzios que sopravam a anunciar guerra. Corriam nus ou apenas cobertos com roupa em farrapos, armados de catanas, facas, estacas, baionetas, mosquetes sem bala, que hasteavam como garrotes. Muitos estavam sarapintados de fuligem, outros em transe ou ébrios, mas dentro da anarquia havia uma única determinação: destruir tudo. Os escravos do campo, misturados com os domésticos, que foram avisados a tempo pela cozinheira, abandonaram as suas cabanas e uniram-se à turba para participar nessa orgia de vingança e devastação. A princípio, alguns hesitavam, temerosos da violência imparável dos rebeldes e da inevitável represália do amo, mas já não tinham escolha. Se recuassem, pereciam.
Os commandeurs caíram um a um nas mãos da horda, mas Prosper Cambray e outros dois homens entrincheiraram-se nas caves da casa grande com armas e munições para se defenderem várias horas. Estavam confiantes de que o incêndio atrairia a Maréchaussée ou os soldados que percorriam a região. As investidas dos negros tinham a fúria e a pressa de um tufão, duravam um par de horas e, a seguir, dispersavam-se. O chefe dos capatazes estranhou que a casa estivesse desocupada, pensou que Valmorain tinha preparado com antecedência um refúgio subterrâneo e estaria ali agachado com o filho, Tété e a menina. Deixou os seus homens e foi ao escritório, que estava sempre fechado à chave, mas encontrou-o aberto. Desconhecia a combinação da caixa forte e decidiu fazê-la abrir aos tiros, já que ninguém saberia quem roubara o ouro, mas também estava aberta. Teve então a primeira suspeita de que Valmorain tinha fugido sem o avisar. «Maldito cobarde!», exclamou, furioso. Para salvar a sua mísera pele abandonara a plantação. Sem tempo para se lamentar, juntou-se aos outros precisamente quando já tinham a vozearia do assalto em cima.
Cambray ouviu o relinchar dos cavalos e o ladrar dos cães e conseguiu distingui-lo do dos seus mastins assassinos, mais roucos e ferozes. Calculou que os seus valiosos animais cobrariam várias vítimas antes de perecer. A casa estava cercada, os assaltantes tinham invadido os pátios e espezinhado o jardim, não restava uma única das preciosas orquídeas do patrão. O chefe dos capatazes sentiu-os na arcada; estavam a espreitar por debaixo das portas, a meterem-se pelas janelas e a demolir o que encontravam pela frente, a espatifar os móveis franceses, a rasgar os tapetes holandeses, a despejar os baús espanhóis, a fazer em pedaços os biombos chineses e a porcelana em fanicos, os relógios alemães, as gaiolas douradas, as estátuas romanas e os espelhos venezianos, tudo adquirido anteriormente por Violette Boisier. E quando se cansaram do caos, começaram a procurar a família. Cambray e os dois commandeurs tinham barricado a porta da cave com sacos, barris e móveis, e começaram a disparar por entre as grades de ferro que protegiam as pequenas janelas. Só as tábuas das paredes os separavam dos rebeldes, soberbos de liberdade e indiferentes às balas. Na luz da alba, viram cair vários, tão perto que podiam cheirá-los, apesar da fétida fumarada a cana queimada. Caíam uns e passavam outros por cima, antes que Cambray e os seus homens conseguissem recarregar. Sentiram as pancadas contra a porta, as madeiras ribombavam, sacudidas por um furacão de ódio a acumular forças no Caribe. Dez minutos mais tarde, a casa grande ardia numa imensa fogueira. Os escravos rebeldes esperaram no pátio e quando os commandeurs saíram para fugir das chamas, prenderam-nos vivos. A Prosper Cambray, no entanto, não conseguiram fazê-lo pagar os tormentos que devia, preferiu meter o cano da pistola na boca e fazer a cabeça voar.
Entretanto, Gambo e o seu pequeno grupo trepavam agarrados a rochas, troncos, raízes e lianas, atravessavam precipícios e metiam-se até à cintura em caudalosas ribeiras. Gambo não tinha exagerado, não era rota para ginetes mas sim para macacos. Nesse verde profundo, de repente surgiam pinceladas de cor: o bico amarelo e laranja de um tucano, penas iridescentes de papagaios e guacamayas(1), flores tropicais penduradas nos ramos. Havia água por todos os lados, riachos, poças, chuva, cascatas cristalinas cruzadas pelo arco-íris que caíam do céu e se perdiam (1) Espécie de papagaio americano com plumagem vermelha, azul e amarela, e cauda muito comprida. (N. do T.) debaixo de uma massa densa de fetos brilhantes. Tété molhou um lenço e amarrou-o à cabeça, para tapar o olho negro devido ao bofetão de Valmorain. Disse a Gambo que um bicho lhe tinha picado na pálpebra, para evitar um confronto entre os dois homens. Valmorain tirou as botas ensopadas, porque tinha os pés em carne viva, e Gambo riu-se quando os viu, sem compreender como pudera o branco andar toda a vida com aqueles pés macios e rosados que pareciam coelhos esfolados. Poucos passos depois, Valmorain teve de voltar a calçar as botas. Já não conseguia carregar com Maurice. O rapaz caminhava uns trechos pela mão do pai e noutros ia montado nos ombros de Gambo, agarrado à massa dura do seu cabelo.
Tiveram de se esconder várias vezes dos rebeldes, que andavam por todo o lado. Uma ocasião, Gambo deixou os outros numa gruta e foi-se encontrar com um pequeno grupo que conhecia, porque tinham estado juntos no acampamento de Boukman. Um dos homens usava um colar de orelhas, algumas ressequidas como couro, outras frescas e rosadas. Partilharam as suas provisões com ele, batatas cozidas e umas postas de carne de cabra fumada, e descansaram um bocado, a comentar as vicissitudes da guerra e os rumores sobre um novo chefe, Toussaint. Disseram que não parecia humano, tinha coração de cão da selva, astuto e solitário; era indiferente às tentações do álcool, às mulheres e às medalhas douradas, que outros chefes ambicionavam; não dormia, alimentava-se de fruta e conseguia passar dois dias e duas noites em cima de um cavalo. Nunca levantava a voz, mas as pessoas tremiam na sua presença. Era doutor de ervas e adivinho, sabia decifrar as mensagens da Natureza, os sinais das estrelas e as intenções mais secretas dos homens; deste modo, livrava-se de traições e emboscadas. Ao entardecer, assim que começou a arrefecer, despediram-se. Gambo demorou algum tempo a situar-se, porque se afastara demasiado da gruta, mas, finalmente, juntou-se aos outros, que desfaleciam de sede e calor, mas não se tinham atrevido a assomar lá fora ou a procurar água. Conduziu-os a uma poça próxima e puderam beber até se fartarem, mas tiveram de racionar as poucas provisões.
Os pés de Valmorain eram uma só chaga dentro das botas, as pontadas de dor atravessavam-lhe as pernas e chorava de raiva, tentado a deixar-se morrer, mas seguia em frente com Maurice. Ao entardecer do segundo dia, viram dois homens nus, sem outro adorno além de uma tira de couro na cintura para segurar a faca, armados de catanas. Conseguiram esconder-se entre uns fetos, onde aguardaram mais de uma hora, até que aqueles se perderam na densidade. Gambo dirigiu-se a uma palmeira, cuja copa se elevava vários metros acima da vegetação, trepou pelo tronco direito, agarrado às escamas da casca, e arrancou um par de cocos, que caíram sem barulho sobre os fetos. As crianças puderam beber o leite e repartir a delicada polpa. Disse que, lá de cima, tinha visto a planície; Le Cap estava perto. Passaram a noite debaixo das árvores e guardaram as escassas provisões para o dia seguinte. Maurice e Rosette dormiram enroscados, vigiados por Valmorain, que, nesses dias, tinha envelhecido mil anos, sentia-se feito em farrapos, havia perdido a honra, o seu bom-nome, a sua alma e estava reduzido a um animal, carne e sofrimento, um frangalho ensanguentado que seguia, como um cão, um negro maldito que fornicava com a sua escrava a poucos passos de distância. Podia ouvi-los essa noite, como nas noites anteriores, nem sequer tinham cuidado por decência ou por temor a ele. Chegavam até ele, nitidamente, os suspiros do desejo, as palavras inventadas, o riso sufocado. Copulavam como bestas, uma, outra e outra vez, porque não era próprio de humanos tanto desejo e tanta energia; chorava de humilhação o amo. Imaginava o corpo conhecido de Tété, as suas pernas de caminhante, a garupa firme, a cintura estreita, os seios generosos, a pele lisa, suave, doce, húmida de suor, de desejo, de pecado, de insolência e provocação, parecia ver-lhe o rosto, nesses momentos, os olhos semicerrados, os lábios macios para dar e receber, a língua atrevida, as narinas dilatadas, a farejar esse homem. E apesar de tudo, apesar do tormento dos seus pés, da incomensurável fadiga, do orgulho espezinhado e do terror de morrer, Valmorain excitava-se.
— Amanhã deixaremos o branco e o filho na planície. A partir dali, só têm de andar em frente — anunciou Gambo a Tété, entre um beijo e outro, na escuridão.
— E se os rebeldes os encontram antes de chegarem a Le Cap?
— Eu cumpri a minha parte, tirei-os vivos da sua plantação. Agora eles que se arranjem sozinhos. Nós iremos para o acampamento de Toussaint. A sua l'étoile é a mais brilhante do céu.
— E Rosette?
— Vem connosco, se quiseres.
— Não posso, Gambo, tenho de ir com o branco. Perdoa-me... — sussurrou ela, vergada pela tristeza.
O rapaz afastou-a, incrédulo. Teve de repetir duas vezes para que compreendesse a firmeza da decisão, a única possível, porque, entre os rebeldes, Rosette seria uma miserável mestiça clara, repelida, faminta, exposta aos acasos da revolução; em contrapartida com Valmorain estaria mais segura. Explicou-lhe que não podia separar-se das crianças, mas Gambo não ouviu os seus argumentos, só captou que Zarité preferia o branco.
— E a liberdade? Isso não te importa? — Agarrou-a pelos ombros e abanou-a.
— Sou livre, Gambo. Tenho o documento nesta bolsa, escrito e selado. Rosette e eu somos livres. Continuarei a servir o amo durante um tempo, até terminar a guerra, e depois irei contigo para onde tu quiseres.
Separaram-se na planície. Gambo apoderou-se das pistolas, voltou-lhes as costas e desapareceu a correr rumo ao arvoredo, sem se despedir e sem se voltar para um último olhar, para não sucumbir à poderosa sensação de matar Valmorain e o filho. Tê-lo-ia feito sem vacilar, mas sabia que, se fizesse mal a Maurice, perdia Tété para sempre. Valmorain, a mulher e as crianças alcançaram o caminho, uma vereda com a largura de três cavalos, muito exposta, no caso de se encontrarem com negros rebeldes ou mulatos enraivecidos com os brancos. Valmorain não conseguia dar mais um passo com os pés esfolados, arrastava-se a gemer, seguido de Maurice, que chorava como ele. Tété encontrou uma sombra debaixo de uns arbustos, deu o último bocado das provisões a Maurice e explicou-lhe que voltaria para o vir buscar, mas poderia demorar e ele devia ter coragem. Deu-lhe um beijo, deixou-o ao pé do pai e pôs-se a andar pelo caminho com Rosette às costas. Dali em diante, era uma questão de sorte. O sol caía a pique sobre a sua cabeça descoberta. O terreno, de uma monotonia deprimente, estava salpicado de penhascos e arbustos baixos, esmagados pela força do vento, e coberto de pasto grosso, curto e duro. A terra era seca e granulada, não havia água em lado nenhum. Aquele caminho, muito transitado em tempos normais, desde a revolução que só era utilizado pelo Exército e pela Maréchaussée. Tété tinha uma vaga ideia da distância, mas não conseguia calcular quantas horas deveria andar até chegar às fortificações próximas de Le Cap, porque tinha feito sempre a viagem no coche de Valmorain. «Erzuli, loa da esperança, não me desampares.» Caminhou decidida, sem pensar no que lhe faltava mas apenas no que avançara. A paisagem era desoladora, não havia referências, era tudo igual, estava espetada no mesmo sítio, como nos sonhos maus. Rosette berrava por água com os lábios secos e os olhos vidrados. Deu-lhe mais gotas do frasco azul e embalou-a até que adormeceu e pôde continuar.
Caminhou três ou quatro horas sem parar, com a mente em branco. «Agua, não poderei seguir sem água.» Um passo, outro passo, e mais outro. «Erzuli, loa das águas doces e salgadas, não nos mates à sede.» As pernas moviam-se sozinhas, ouvia tambores: a chamada do boula, o contraponto do segon, o suspiro profundo do maman a quebrar o ritmo, os outros a voltarem a começar, variações, subtilezas, saltos, de repente, o som alegre das maracas, e de novo mãos invisíveis a bater a pele esticada dos tambores. O som foi-a enchendo por dentro e começou a mover-se com a música. Outra hora. Ia a flutuar num espaço incandescente. Cada vez mais solta, já não sentia as chicotadas nos ossos nem o barulho de pedras na cabeça. Mais um passo, mais uma hora. «Erzuli, loa da compaixão, ajuda-me.» De repente, quando os joelhos se lhe dobraram, o faiscar de um relâmpago sacudiu-a desde o crânio até aos pés, fogo, gelo, vento, silêncio. E então veio a deusa Erzuli como uma rajada poderosa e montou Zarité, sua serva.
Etienne Relais foi o primeiro a vê-la, porque ia à cabeça do seu pelotão de ginetes. Uma linha escura e delgada no caminho, uma ilusão, uma silhueta trémula na reverberação daquela luz implacável. Esporeou o cavalo e adiantou-se para ver quem se lembrava de fazer uma viagem tão perigosa naquela solidão e com aquele calor. Quando se aproximou, viu a mulher de costas, erguida, soberba, os braços estendidos para voar e a serpentear ao ritmo de uma dança secreta e gloriosa. Reparou no vulto que levava atado atrás e deduziu que era uma criança, talvez morta. Chamou-a com um grito e ela não respondeu, continuou a levitar como uma miragem até que ele lhe atravessou o cavalo em frente. Quando viu os olhos em branco, compreendeu que estava demente ou em transe. Tinha visto essa expressão exaltada nas calendas, mas julgava que só se verificava na histeria colectiva dos tambores. Como militar francês, pragmático e ateu, Relais sentia repugnância por essas possessões, que considerava uma prova mais da condição primitiva dos africanos. Erzuli ergueu-se diante do ginete, sedutora, bela, a sua língua de víbora entre os lábios vermelhos, o corpo uma única labareda. O cavaleiro levantou o pingalim, tocou-lhe no ombro e o encantamento desfez-se de imediato. Erzuli esfumou-se e Tété caiu desamparada sem um suspiro, um monte de trapos no pó do caminho. Os outros soldados tinham alcançado o seu chefe e os cavalos rodearam a mulher prostrada. Étienne Relais saltou para o chão, debruçou-se sobre ela e começou a puxar pela sua sacola improvisada, até que libertou a carga: uma menina a dormir ou inconsciente. Virou o vulto e viu uma mulata muito diferente da que dançava no caminho, uma pobre jovem coberta de sujidade e suor, o rosto desfigurado, um olho negro, os lábios gretados de sede, os pés ensanguentados a assomar entre farrapos. Um dos soldados desmontou também e agachou-se para verter um esguicho do seu cantil na boca da menina e outro na da mulher. Tété abriu os olhos e, durante vários minutos, não se lembrava de nada, nem da marcha forçada, nem da filha, nem dos tambores, nem de Erzuli. Ajudaram-na a levantar-se e deram-lhe mais água, até que se sentiu saciada e as visões na sua cabeça adquiriram algum sentido. «Rosette...», balbuciou. «Está viva, mas não responde e não conseguimos despertá-la», disse-lhe Relais. Então o espanto dos últimos dias voltou à memória da escrava: láudano, a plantação em chamas, Gambo, o seu amo e Maurice à espera dela.
Valmorain viu a poeirada no caminho e encolheu-se entre os arbustos, ofuscado por um medo visceral que começara diante do cadáver esfolado do seu vizinho Lacroix, e que tinha vindo a aumentar até ao momento em que perdeu a noção do tempo, do espaço e das distâncias; não sabia porque estava enterrado entre um matagal como uma lebre nem quem era aquele ranhoso desmaiado a seu lado. O grupo deteve-se perto e um dos ginetes chamou pelo seu nome a gritar, então, atreveu-se a deitar um olhar e viu os uniformes. Um frenesi de alívio brotou-lhe das entranhas. Saiu a gatinhar, desgrenhado, esfarrapado, coberto de arranhões, crostas e lama seca, a soluçar como uma criança, e ficou de joelhos diante dos cavalos a repetir «obrigado, obrigado, obrigado». Encandeado pela luz e desidratado como estava, não reconheceu Relais nem se deu conta de que todos os homens do pelotão eram mulatos, bastou-lhe ver os uniformes do Exército francês para compreender que estava a salvo. Puxou pela bolsa que levava amarrada à cintura e atirou um punhado de moedas para a frente dos soldados. O ouro ficou a brilhar no chão, «obrigado, obrigado». Enojado com aquele espectáculo, Etienne Relais ordenou-lhe que apanhasse o dinheiro, fez um gesto aos seus subalternos e um deles desceu para lhe dar água e ceder-lhe o seu cavalo. Tété, que ia na garupa de outro, desmontou com dificuldade, porque não estava habituada a cavalgar e levava Rosette às costas, e foi procurar Maurice. Encontrou-o feito num novelo, entre os arbustos, a delirar de sede.
Estavam perto de Le Cap, e poucas horas mais tarde entravam na cidade sem terem sofrido novos contratempos. Nesse hiato, Rosette despertou do torpor do láudano, Maurice dormiu extenuado nos braços de um ginete e Toulouse Valmorain recuperou a compostura. As imagens desses três dias começaram a esboçar-se e a história a mudar na sua mente. Quando teve oportunidade de explicar o que se passara, a sua versão não era parecida com a que Relais tinha ouvido a Tété: Gambo havia desaparecido de cena, ele tinha previsto o ataque dos rebeldes e, perante a impossibilidade de defender a sua plantação, fugira para proteger o filho, levando consigo a escrava que tinha criado Maurice e a sua filha. Era ele, e só ele, quem os salvara a todos. Relais não fez comentários.
A Paris das Antilhas
Le Cap estava a abarrotar de refugiados que tinham abandonado as plantações. O fumo dos incêndios, arrastado pelo vento, ficava a pairar no ar durante semanas. A Paris das Antilhas tresandava a lixo e excrementos, aos cadáveres executados a apodrecer nos patíbulos e às valas comuns das vítimas da guerra e das epidemias. O fornecimento era muito irregular e a população dependia dos barcos e dos botes pesqueiros para se alimentar, mas os grands blancs continuavam a viver com o mesmo luxo de sempre, só que agora custava-lhes mais caro. Nas suas mesas nada faltava, o racionamento era para os outros. As festas continuaram com guardas armados nas portas, não fecharam os teatros nem os bares, e as deslumbrantes cocottes ainda alegravam as noites. Não havia um único quarto livre para se alojar, mas Valmorain contava com a casa do português conseguida antes da insurreição, onde se instalou para se recompor do susto e das feridas físicas e morais. Era servido por seis escravos alugados, sob as ordens de Tété; não lhe convinha comprá-los precisamente quando planeava mudar de vida. Só adquiriu um cozinheiro treinado em França, que depois podia vender sem perder dinheiro; o preço de um bom cozinheiro era das poucas coisas estáveis que iam ficando. Estava seguro de que recuperaria a sua propriedade, não era o primeiro levantamento de escravos nas Antilhas e todos tinham sido esmagados; a França não ia permitir que uns bandidos negros arruinassem a colónia. Em todo o caso, mesmo que a situação voltasse a ser como era antes, ele partiria de Saint-Lazare, já o tinha decidido. Estava ao corrente da morte de Prosper Cambray, porque os milicianos tinham encontrado o seu corpo entre os escombros da plantação. «Não me teria livrado dele de outra maneira», pensou. A sua propriedade estava reduzida a cinzas, mas a terra continuava ali, ninguém a podia levar. Arranjaria um administrador, alguém habituado ao clima e com experiência, os tempos não estavam para gerentes trazidos de França, como explicou ao seu amigo Parmentier, enquanto este lhe curava os pés com as ervas cicatrizantes que tinha visto Tante Rose utilizar.
— Vai regressar a Paris, mon ami? — perguntou-lhe o médico.
— Não creio. Tenho interesses no Caribe, não em França. Associei-me a Sancho Garcia del Solar, irmão de Eugenia, que descanse em paz, e adquirimos umas terras na Louisiana. E o senhor, que planos tem, doutor?
— Se a situação não melhorar aqui, estou a pensar ir para Cuba.
— Tem lá família?
— Sim — admitiu o médico, corando.
— A paz da colónia depende do governo de França. Os republicanos têm toda a culpa do que se passou aqui; o Rei jamais teria permitido que se chegasse a estes extremos.
— Creio que a Revolução Francesa é irreversível — replicou o médico.
— A República não suspeita como se conduz esta colónia, doutor. Os comissários deportaram metade do regimento de Le Cap e substituíram-no por mulatos. É uma provocação, nenhum soldado branco aceitará colocar-se sob as ordens de um oficial de cor.
— Talvez seja o momento de brancos e affranchis aprenderem a conviver, uma vez que o inimigo comum são os negros.
— Pergunto-me o que pretendem esses selvagens — disse Valmorain.
— Liberdade, mon ami — explicou Parmentier. — Um dos chefes, parece que se chama Toussaint, defende que as plantações podem funcionar com mão-de-obra livre.
— Mesmo que lhes pagassem, os negros não trabalhariam! -exclamou Valmorain.
— Isso ninguém o pode afirmar, porque ainda não se experimentou. Toussaint diz que os africanos são camponeses, estão familiarizados com a terra, cultivar é o que sabem e querem fazer — insistiu Parmentier.
— O que sabem e querem fazer é matar e destruir, doutor! Além disso, esse Toussaint passou-se para o lado espanhol.
— Protege-se sob a bandeira espanhola porque os colonos franceses recusaram-se a negociar com os rebeldes — recordou-lhe o médico.
— Eu estava lá, doutor. Procurei, em vão, convencer os outros plantadores a aceitarmos os termos de paz propostos pelos negros, que só pediam a liberdade dos chefes e dos seus tenentes, uns duzentos, no total — contou-lhe Valmorain.
— Então, quem tem culpa da guerra não é a incompetência do governo republicano em França, mas o orgulho dos colonos em Saint-Domingue — argumentou Parmentier.
— Concedo-lhe que devemos ser mais razoáveis, mas não podemos negociar de igual para igual com os escravos, seria um mau precedente.
— Deveriam entender-se com Toussaint, que parece ser o mais razoável dos chefes rebeldes.
Tété prestava atenção quando se falava de Toussaint. Guardou no fundo da sua alma o amor por Gambo, resignada com a ideia de não o ver durante muito tempo, talvez nunca mais, mas tinha-o cravado no coração e calculava que se encontrava entre as fileiras desse Toussaint. Ouviu Valmorain dizer que nenhuma revolta de escravos na história tinha triunfado, mas atrevia-se a sonhar o contrário e a perguntar-se como seria a vida sem escravatura. Organizou a casa como sempre tinha feito, mas Valmorain explicou-lhe que não podiam continuar como em Saint-Lazare, onde só a comodidade importava e era-lhe indiferente se serviam à mesa com luvas ou sem elas. Em Le Cap havia que se viver com estilo. Por muito que a revolta ardesse às portas da cidade, ele devia retribuir as atenções das famílias que o convidavam com frequência e que se tinham atribuído a missão de lhe arranjar uma esposa.
O amo encetou averiguações e conseguiu um mentor para Tété: o mordomo da Intendência. Era o mesmo adónis africano que servia na mansão quando Valmorain chegou com Eugenia doente, a pedir hospitalidade em 1780, só que mais atraente, porque tinha amadurecido com uma graça extraordinária. Chamava-se Zacharie e tinha nascido e crescido entre essas paredes. Os pais foram escravos de outros intendentes, que os vendiam aos seus sucessores quando tinham de regressar a França; assim, acabaram por fazer parte do inventário. O pai de Zacharie, tão belo como ele, treinou-o desde muito jovem para o prestigioso cargo de mordomo, porque viu que possuía as virtudes essenciais para esse lugar: inteligência, astúcia, dignidade e prudência. Zacharie defendia-se dos ataques das mulheres brancas porque conhecia os riscos; tinha assim evitado muitos problemas. Valmorain ofereceu-se para pagar ao intendente pelos serviços do seu mordomo, mas este não quis ouvir falar do assunto. «Dê-lhe uma gorjeta, é quanto basta. Zacharie anda a poupar para comprar a sua liberdade, embora não entenda para que é que a quer. A sua situação actual não poderia ser mais vantajosa», disse-lhe. Combinaram que Tété iria todos os dias à Intendência para se refinar.
Zacharie recebeu-a com frieza, estabelecendo desde o princípio uma certa distância, uma vez que ele detinha o posto hierárquico mais elevado entre os domésticos de Saint-Domingue e ela era uma escrava sem nível, mas rapidamente atraiçoou o seu empenho didáctico e acabou por lhe entregar os segredos do ofício com uma generosidade que ultrapassava em muito a gorjeta de Valmorain. Surpreendeu-o que aquela jovem não parecesse nada impressionada com ele, estava habituado à admiração feminina. Fazia gala de ter muito tino para desviar piropos e recusar avanços das mulheres, mas com Tété foi-lhe possível descontrair-se numa relação sem segundas intenções. Tratavam-se com formalidade, Monsieur Zacharie e Mademoiselle Zarité.
Tété levantava-se com a alba, organizava os escravos, distribuía as tarefas domésticas, deixava as crianças entregues aos cuidados da ama-seca provisória que o amo tinha alugado, e partia para as suas aulas com a sua melhor blusa e o seu tignon acabado de engomar. Nunca soube quantos criados havia ao todo na Intendência; só na cozinha havia três cozinheiros e sete ajudantes, mas calculou que não seriam menos de cinquenta. Zacharie ocupava-se do orçamento e servia de ligação entre os amos e o serviço, era a autoridade máxima naquela complicada organização. Nenhum escravo se atrevia a dirigir-se a ele sem ser chamado, pelo que todos se ressentiram das visitas de Tété, que passados poucos dias, subvertia as regras e entrava directamente no templo vedado, o minúsculo gabinete do mordomo. Sem se dar conta, Zacharie começou a esperar por ela, porque gostava de a ensinar. Ela apresentava-se à hora em ponto, tomavam café e a seguir ele ministrava-lhe os seus conhecimentos. Percorriam as dependências da mansão para observar o serviço. A aluna aprendia depressa e em breve dominava as oito taças indispensáveis num banquete, a diferença entre um garfo para caracóis e outro parecido para a lagosta, de que lado se põe a bacia para lavar as mãos e a sequência dos diversos tipos de queijo, assim como a forma mais discreta de colocar os bacios numa festa, o que fazer com uma dama ébria e a hierarquia dos convivas à mesa. Terminada a lição, Zacharie convidava-a para tomar outro café e aproveitava para lhe falar de política, o assunto que mais o apaixonava. A princípio, ela escutava-o por cortesia, a pensar no que poderia importar a um escravo as desordens entre gente livre, até que ele referiu a possibilidade da escravatura ser abolida. «Imagine, Mademoiselle Zarité, há anos que ando a poupar para a minha liberdade e é possível que ma dêem antes de a conseguir comprar», riu-se Zacharie. Estava ao corrente de tudo o que era falado na Intendência, inclusive os acordos à porta fechada. Sabia que na Assembleia Nacional de Paris se discutia a incongruência injustificável de manter a escravidão nas colónias depois de a ter abolido em França. «Sabe alguma coisa de Toussaint, monsieur?», perguntou-lhe Tété. O mordomo recitou-lhe a sua biografia, que tinha lido numa pasta confidencial do intendente, e acrescentou que o comissário Sonthonax e o governador teriam de chegar a um acordo com ele, porque comandava um exército muito organizado e contava com o apoio dos espanhóis do outro lado da ilha.
Noites de desgraça
Graças às aulas de Zacharie, passados dois meses o lar de Valmorain funcionava com um refinamento que já não gozava desde os seus tempos de rapaz, em Paris. Decidiu dar uma festa com os serviços caros, mas prestigiosos, da empresa fornecedora de banquetes de Monsieur Adrien, um mulato livre recomendado por Zacharie. Dois dias antes da festa, Monsieur Adrien invadiu a casa com uma equipa dos seus escravos, pôs o cozinheiro de lado e substituiu-o por cinco mandonas gordas que prepararam um menu de catorze pratos inspirado num banquete da Intendência. Embora a casa não se prestasse para ágapes de grande fausto, ficou elegante assim que os adornos horrorosos do proprietário português foram eliminados e a decoraram com palmeiras-anãs em floreiras, ramos de flores e balões chineses. Na noite marcada, o banqueteador apresentou-se com dúzias de criados de libré azul e ouro, que ocuparam os seus postos com a disciplina de um batalhão. A distância entre as casas dos grands blancs raras vezes excedia mais de dois quarteirões, mas os convidados chegaram de coche, e quando o desfile de carruagens terminou, a rua era um lamaçal de bosta de cavalo, que os lacaios limparam para evitar que o fedor interferisse com os perfumes das damas.
«Que tal estou?», perguntou Valmorain a Tété. Tinha vestido um colete com brocados de fios de ouro e de prata, renda suficiente nos punhos e no pescoço para uma toalha, meias cor-de-rosa e calçado de baile. Ela não respondeu, pasmada diante da peruca cor de lavanda. «Os parolos jacobinos pretendem terminar com as perucas, mas é o toque de elegância indispensável para uma recepção como esta. Foi o que me disse o meu cabeleireiro», informou-a Valmorain.
Monsieur Adrien tinha oferecido a segunda rodada de champanhe entre os comensais e a orquestra acabava de atacar outro menuet, quando um dos secretários da governação chegou a correr com a notícia incrível de que, em França, tinham guilhotinado Luís XVI e Maria Antonieta. As cabeças reais foram passeadas pelas ruas de Paris, assim como tinham passeado a de Boukman e tantos outros em Le Cap. Os acontecimentos, ocorridos em Janeiro, souberam-se no início de Março. Seguiu-se uma debandada em pânico, os convidados foram-se embora a correr e assim terminou, antes de se servir a comida, a primeira e única festa de Toulouse Valmorain naquela casa.
Nessa mesma noite, depois de Monsieur Adrien, monárquico fanático, se retirar com a sua gente, Tété apanhou a peruca cor de lavanda, que Valmorain calcara no chão, confirmou que Maurice estava calmo, trancou as portas e janelas e foi descansar para o quartinho que ocupava com Rosette. Valmorain tinha aproveitado a mudança de casa para tirar o filho do quarto de Tété, com a ideia de que dormisse sozinho, mas Maurice estava feito num feixe de nervos e, receando que voltasse a ficar com febre, instalou-o numa enxerga provisória num canto do seu quarto. Desde que chegaram a Le Cap, Valmorain não tinha mencionado Gambo, mas também não chamara Tété de noite. A sombra do amante interpunha-se. Demorou semanas a curar-se dos pés e, assim que pôde andar, saía todas as noites para esquecer os maus tratos. Pela roupa impregnada de pegajosas fragrâncias florais, Tété adivinhou que visitava as cocottes e calculou que, finalmente, para ela tinham terminado os humilhantes abraços do amo; por isso, afligiu-se quando o encontrou de pantufas e bata de veludo verde sentado aos pés da sua cama, onde Rosette ressonava esparramada com a impudicícia dos inocentes. «Vem comigo!», ordenou-lhe, arrastando-a por um braço em direcção a um dos quartos de hóspedes. Voltou-a com um empurrão, arrancou-lhe a roupa aos repelões e violou-a tropegamente no escuro, com uma urgência mais próxima do ódio do que do desejo.
Valmorain ficava enfurecido com a recordação de Tété a copular com Gambo, mas também lhe provocava visões irresistíveis. Aquele desalmado tinha-se atrevido a pôr as suas mãos imundas em nada menos do que propriedade sua. Quando o apanhasse, matá-lo-ia. Também a mulher merecia um castigo exemplar, mas tinham passado dois meses e ele não a fizera pagar o seu incrível descaramento. Porque não o tinha feito? Não tinha desculpa. Ela havia-o desafiado e era preciso corrigir essa aberração. No entanto, também estava em dívida para com ela. A sua escrava renunciara à própria liberdade para o salvar a ele e Maurice. Pela primeira vez, interrogou-se, sobre o que sentia aquela mulata por ele. Era-lhe possível reviver noites humilhantes na selva, quando ela dava reviravoltas com o amante, os abraços, os beijos, o ardor renovado, inclusive o cheiro dos corpos quando regressavam. Tété transformada num demónio, puro desejo, a lamber e a suar e a gemer. Enquanto a violava no quarto dos hóspedes, não conseguia arrancar essa cena da mente. Assaltou-a de novo, penetrando-a com fúria, surpreendido com a sua própria energia. Ela gemeu e ele começou a dar-lhe murros, com a ira dos ciúmes e o prazer da vingança, «cadela vadia, vou vender-te, puta, puta, e também vou vender a tua filha». Tété fechou os olhos e abandonou-se, o corpo flácido, sem opor resistência nem procurar evitar as pancadas, enquanto a sua alma voava para outro lado. «Erzuli, loa do desejo, faz com que acabe depressa.» Valmorain desmoronou-se em cima dela pela segunda vez, encharcado em suor. Tété esperou, sem se mexer, vários minutos. A respiração de ambos foi-se acalmando e ela começou a escorregar, pouco a pouco, para fora da cama, mas ele atalhou-a.
— Não te vás embora ainda — ordenou-lhe.
— Quer que acenda uma vela, monsieur? — perguntou-lhe ela, com a voz entrecortada, porque o ar ardia-lhe entre as costelas doridas.
— Não, prefiro assim.
Era a primeira vez que se dirigia a ele por monsieur, em vez de amo, e Valmorain notou mas deixou passar. Tété sentou-se na cama, a limpar o sangue e o nariz com a blusa, feita em farrapos com o ataque.
— Amanhã tiras Maurice do meu quarto — disse Valmorain. -Tem de dormir sozinho. Deste lhe demasiado mimo.
— Tem só cinco anos.
— Com essa idade, aprendi eu a ler, ia à caça no meu próprio cavalo e tinha aulas de esgrima.
Permaneceram na mesma posição um bocado e, finalmente, ela decidiu-se a fazer-lhe a pergunta que tinha nos lábios desde a chegada a Le Cap.
— Quando serei livre, monsieur? — perguntou, encolhendo-se à espera de outra tareia, mas ele levantou-se, sem lhe tocar.
— Não podes ser livre. Viverias de quê? Eu mantenho-te e protejo-te; comigo, tu e a tua filha estais seguras. Tratei-te sempre muito bem. De que te queixas?
— Não me queixo...
— A situação é muito perigosa. Já te esqueceste dos horrores que passámos? As atrocidades que foram cometidas? Responde-me!
— Não, monsieur.
— Liberdade, dizes? Será que queres abandonar Maurice? — Se o senhor achar bem, posso continuar a cuidar de Maurice como sempre, pelo menos até que o senhor se volte a casar.
— Casar-me? — riu-se ele. — Com Eugenia fiquei curado! Isso seria a última coisa que faria. Se vais continuar ao meu serviço, para que queres emancipar-te?
— Todos querem ser livres.
— As mulheres nunca o são, Tété. Precisam de um homem que cuide delas. Quando são solteiras, pertencem ao pai, e quando se casam, ao marido.
— O documento que o senhor me deu... É a minha liberdade, não? — insistiu ela.
— Naturalmente.
— Mas Zacharie diz que tem de ser assinado por um juiz para ser válido.
— Quem é esse?
— O mordomo da Intendência.
— Tem razão. Mas agora não é uma boa altura. Esperemos que a calma volte a Saint-Domingue. Não falemos mais nisso. Estou cansado. Já sabes: amanhã quero dormir sozinho, e que tudo volte a ser como antes, entendeste-me? O novo governador da ilha, o general Galbaud, chegou com a missão de resolver o caos na colónia. Tinha plenos poderes militares, mas a autoridade republicana estava representada por Sonthonax e outros dois comissários. Calhou a Etienne Relais dar-lhe o primeiro relatório. A produção da ilha estava reduzida a nada, o Norte era uma só fumarada e no Sul as matanças não paravam, a cidade de Port-au-Prince tinha sido toda queimada. Não havia transportes, portos eficientes, nem segurança para ninguém. Os negros rebeldes contavam com o apoio de Espanha e a armada britânica controlava o Caribe e preparava-se para se apoderar das cidades da costa. Estavam bloqueados, não podiam receber tropas nem provisões de França, era quase impossível defender-se. «Não se preocupe, tenente-coronel, encontraremos uma solução diplomática», replicou Galbaud. Andava em conversações com Toulouse Valmorain e o Clube de Patriotas, acérrimos partidários de tornar a colónia independente e colocá-la sob a protecção de Inglaterra. O governador estava de acordo com os conspiradores quanto aos republicanos de Paris não entenderem nada do que se passava na ilha e cometiam um disparate atrás do outro. Entre os mais graves, estava a dissolução da Assembleia Colonial; tinha-se perdido toda a autonomia e agora cada decisão demorava semanas a chegar de França. Galbaud possuía terras na ilha e estava casado com uma créole por quem se sentia apaixonado após vários anos de matrimónio; podia compreender, melhor do que ninguém, as tensões entre raças e classes sociais.
Os membros do Clube de Patriotas encontraram um aliado ideal no general, que se preocupava muito mais com a luta entre brancos e affranchis do que com a insurreição dos negros. Muitos grands blancs tinham negócios no Caribe e nos Estados Unidos, não precisavam da mãe-pátria para nada e consideravam a independência como a sua melhor opção, a menos que as coisas mudassem e se restaurasse uma monarquia forte em França. A execução do Rei tinha sido uma tragédia, mas também era uma estupenda oportunidade para conseguir um monarca menos tolo. Aos affranchis, pelo contrário, a independência não lhes convinha para nada, uma vez que só o governo republicano de França estava disposto a aceitá-los como cidadãos, o que jamais aconteceria se Saint-Domingue se colocasse sob a protecção de Inglaterra, dos Estados Unidos ou de Espanha. O general Galbaud acreditava que, assim que se resolvesse o problema entre brancos e mulatos, seria bastante simples esmagar os negros, acorrentá-los de novo e impor a ordem, mas não disse nada disto a Étienne Relais.
— Fale-me do comissário Sonthonax, tenente-coronel — pediu-lhe.
— Cumpre ordens do governo, general. O decreto de quatro de Abril deu direitos políticos à gente livre de cor. O comissário chegou aqui com seis mil soldados para fazer cumprir esse decreto.
— Sim, sim... Isso sei eu. Diga-me, confidencialmente, claro, que tipo de homem é este Sonthonax?
— Conheço-o mal, general, mas dizem que é muito esperto e leva a sério os interesses de Saint-Domingue.
— Sonthonax expressou que não tem a intenção de emancipar os escravos, mas ouvi rumores de que poderia fazê-lo — disse Galbaud, a estudar o rosto impassível do oficial. -Já se deu conta de que isso seria o fim da civilização na ilha, não é verdade? Imagine o caos: os negros soltos, os brancos exilados, os mulatos a fazerem o que lhes dá na gana e a terra abandonada.
— Não sei nada disso, general.
— Que faria o senhor nesse caso?
— Cumprir as minhas ordens, como sempre, general. Galbaud necessitava de oficiais de confiança no Exército para poder enfrentar o poder da metrópole, em França, mas não podia contar com Étienne Relais. Tinha averiguado que estava casado com uma mulata, provavelmente, simpatizava com a causa dos affranchis e, pelos vistos, admirava Sonthonax. , Pareceu-lhe um homem de vistas curtas, com mentalidade de funcionário e sem ambição, porque era preciso carecer dela por completo para se ter casado com uma mulher de cor. Era notável que tivesse ascendido na sua carreira com semelhante lastro.
Mas Relais interessava-lhe muito, porque contava com a lealdade dos seus soldados: era o único capaz de misturar nas suas fileiras, sem problemas, brancos, mulatos e até negros. Perguntou-se quanto valia esse homem; toda a gente tem um preço. Nessa mesma tarde, Toulouse Valmorain apresentou-se no quartel para falar com Relais, de amigo para amigo, como manifestou. Começou por agradecer ter-lhe salvado a vida quando teve de fugir da sua plantação.
— Estou em dívida com o senhor, tenente-coronel — disse-lhe, num tom que soava mais arrogante do que agradecido.
— Não está em dívida comigo, monsieur, mas com a sua escrava. Eu apenas passava por ali, foi ela quem o salvou — replicou Relais, incomodado.
Relais suspeitou de imediato que Valmorain tinha vindo suborná-lo e mencionava a família para lhe recordar que lhe tinha dado Jean-Martin. Tinha-o na mão, a vida de Valmorain pelo filho adoptado. Ficou tenso, como antes de uma batalha, cravou-lhe os olhos com uma frieza que fazia tremer os seus subalternos e ficou à espera, a ver o que pretendia exactamente o seu visitante. Valmorain ignorou o olhar de navalha e o silêncio.
— Nenhum affranchi está seguro nesta cidade — disse, afavelmente. — A sua esposa corre perigo, por isso, vim oferecer-lhe a minha ajuda. E quanto ao menino... como se chama?
— Jean-Martin Relais — respondeu o oficial, com os queixos cerrados.
— Claro, Jean-Martin. Desculpe, com tantos problemas na cabeça, esqueci-me. Tenho uma casa bastante confortável em frente ao porto, num bom bairro onde não há distúrbios. Posso receber a senhora sua esposa e o seu filho...
— Não se preocupe com eles, monsieur. Estão a salvo em Cuba — interrompeu-o Relais.
Valmorain ficou desconcertado, tinha perdido um trunfo na jogada, mas recompôs-se imediatamente.
— Ah! Vive lá o meu cunhado, Don Sancho Garcia del Solar. Vou escrever-lhe hoje mesmo para que ampare a sua família.
— Não será necessário, monsieur, obrigado.
— Naturalmente que é, tenente-coronel. Uma mulher sozinha precisa sempre da protecção de um cavalheiro, sobretudo uma tão bela como a sua.
Pálido de indignação perante o dissimulado insulto, Étienne Relais pôs-se de pé para dar por terminada a entrevista, mas Valmorain permaneceu sentado com a perna levantada como se aquele gabinete lhe pertencesse e começou a explicar-lhe, em termos corteses, mas directos, que os grands blancs iam recuperar o controlo da colónia, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, e tinha de se definir e tomar partido; ninguém, especialmente um militar de alta patente, podia permanecer indiferente ou neutral perante os terríveis acontecimentos que se tinham desencadeado e os que viessem em breve a suceder, que seriam sem dúvida piores. Ao Exército competia evitar uma guerra civil. Os ingleses tinham desembarcado no Sul e seria uma questão de dias até Saint-Domingue se declarar independente e abrigar-se sob a bandeira britânica. Isso poderia ser feito de forma civilizada ou a ferro e fogo, dependeria do Exército. Um oficial que apoiava a nobre causa da independência teria muito poder, seria o braço direito do governador Galbaud, e esse posto trazia consigo, naturalmente, posição económica e social. Ninguém causaria desaires a um homem casado com uma mulher de cor se esse homem fosse, por exemplo, o novo comandante-chefe das forças armadas da ilha.
— Em poucas palavras, monsieur, o senhor incita-me à traição -replicou Relais, sem conseguir evitar um sorriso irónico, que Valmorain interpretou como uma porta aberta para continuar o diálogo.
— Não se trata de atraiçoar a França, tenente-coronel Relais, mas sim de decidir o que é melhor para Saint-Domingue. Estamos a viver uma época de profundas mudanças não só aqui, mas também na Europa e na América. Temos de nos adaptar. Diga-me que ao menos vai pensar no que conversámos — disse Valmorain.
— Vou pensar muito cuidadosamente, monsieur — respondeu Relais, conduzindo-o à porta.
Zarité
O amo só ao fim de duas semanas conseguiu que Maurice dormisse sozinho. Acusou-me de o criar cobarde como uma mulher e, num arrebato, respondi-lhe que nós, as mulheres, não somos cobardes. Levantou a mão, mas não me bateu. Algo tinha mudado. Creio que me ganhou respeito. Uma vez, em Saint-Lazare, soltou um dos seus canzarrões de guarda, que desfez uma galinha no pátio e se preparava para atacar outra, quando saiu ao seu encontro o cãozito de Tante Mathilde. Aquele cachorro com o porte de um gato enfrentou-o a grunhir com os dentes à mostra e o focinho a babar. Não sei o que passou pela cabeça da fera, mas deu meia-volta e foi-se embora a correr com o rabo entre as pernas, perseguido pelo cãozito. Depois, Prosper Cambray matou-o com um tiro por ser cobarde. O amo, habituado a ladrar alto e a inspirar medo, encolheu-se como esse canzarrão perante o primeiro que o enfrentou: Gambo. Creio que se preocupava tanto com a coragem de Maurice porque lhe faltava a ele. Assim que a tarde caía, Maurice começava a ficar nervoso com a ideia de ficar sozinho. Eu deitava-o com Rosette até adormecerem. Ela pegava no sono em dois minutos, agarrada ao irmão, enquanto ele se punha a ouvir os barulhos da casa e da rua. Na praça, levantavam os patíbulos dos condenados e os gritos coavam-se através das paredes e ficavam nas divisões, podíamos senti-los muitas horas depois da morte os ter silenciado. «Estás a ouvi-los, Tété?», perguntava-me Maurice, a tiritar. Eu também os ouvia, mas como é que lho podia dizer? «Não ouço nada, meu menino. Dorme», e cantava-lhe. Quando finalmente adormecia, esgotado, levava Rosette para o nosso quarto. Maurice mencionou diante do pai que os condenados passeavam pela casa e o amo fechou-o num armário, pôs a chave no bolso e foi-se embora.
Rosette e eu sentámo-nos ao pé do armário a falar-lhe de coisas alegres, não o deixámos só um único momento, mas os fantasmas meteram-se lá dentro, e quando o amo chegou e o tirou cá para fora, estava com febre de tanto chorar. Passou dois dias num estado febril, enquanto o pai não se descolava do lado da sua cama e procurava arrefecê-lo com compressas de água fria e infusões de tília.
O amo adorava Maurice, mas, nessa época, o coração deu-lhe uma volta: só lhe importava a política, não falava de outra coisa, e deixou de se ocupar do filho. Maurice não queria comer e começou a molhar a cama durante a noite. O doutor Parmentier, que era o único verdadeiro amigo do amo, disse que o menino estava doente de susto e precisava de carinho; então, o pai amoleceu e pude mudá-lo para a minha divisão. Dessa vez, o doutor ficou com Maurice, à espera que a febre baixasse, e pudemos conversar a sós. Fez-me muitas perguntas. Étienne Relais tinha-lhe contado que eu ajudei o amo a escapar da plantação, mas essa versão não coincidia com a do amo. Quis saber os pormenores. Tive de mencionar Gambo, mas não lhe falei do amor entre nós. Mostrei-lhe o documento da minha liberdade. «Protege-o, Tété, porque vale ouro», disse-me depois de o ler. Isso já eu sabia.
O amo reunia-se em casa com outros brancos. Madame Delphine, a minha primeira dona, ensinou-me a ser silenciosa, atenta e a antecipar-me às vontades dos amos; «uma escrava deve ser invisível», dizia. Foi assim que aprendi a espiar. Não compreendia muito o que o amo falava com os patriotas e, na realidade, só me interessavam as notícias dos rebeldes, mas Zacharie, de quem continuava a ser amiga depois das suas aulas na Intendência, pedia-me que lhe repetisse tudo o que falavam. «Os brancos crêem que os negros são surdos e as mulheres tontas. Isso é-nos muito conveniente. Preste atenção e conte-me, Mademoiselle Zarité.» Através dele, soube que havia milhares de rebeldes acampados nos arredores de Le Cap. A tentação de ir procurar Gambo não me deixava dormir, mas sabia que depois não podia regressar. Como é que eu ia abandonar os meus filhos? Pedi a Zacharie, que tinha contactos até na Lua, que averiguasse se Gambo estava entre os rebeldes, mas garantiu-me que não sabia nada sobre eles. Tive de me limitar a enviar mensagens a Gambo com o pensamento. Às vezes, tirava o meu documento da bolsa, desdobrava as suas oito dobras com as pontas dos dedos para não o estragar e observava-o como se pudesse sabê-lo de cor, mas não conhecia as letras.
A guerra civil estalou em Le Cap. O amo explicou-me que, numa guerra, lutam todos contra um inimigo comum e, numa guerra civil, as pessoas dividem-se — e também o Exército — e então matam-se entre si, como agora acontecia entre brancos e mulatos. Os negros não contavam porque não eram gente, mas sim propriedade. A guerra civil não se deu da noite para o dia, demorou mais de uma semana, e, nessa altura, acabaram-se os mercados e calendas de negros e a vida social dos brancos, muito poucas lojas abriam as suas portas e até os patíbulos da praça ficaram vazios. A desgraça pairava no ar. «Prepara-te, Tété, porque as coisas estão prestes a mudar», anunciou-me o amo. «Quer que me prepare como?», perguntei-lhe, mas ele próprio não sabia. Fiz como Zacharie, que andava a armazenar provisões e a embalar as coisas mais finas, para o caso de o intendente e a esposa se decidirem a embarcar rumo a França.
Uma noite, trouxeram pela porta de serviço um caixote cheio de pistolas e mosquetes; tínhamos munições que chegavam para um regimento, disse o amo. O calor ia aumentando; em casa, mantínhamos os ladrilhos do chão molhados e as crianças andavam nuas. Entretanto, chegou o general Galbaud sem se fazer anunciar, que quase não reconheci, embora tivesse participado muitas vezes nas reuniões de patriotas, porque não estava vestido com o seu colorido uniforme pejado de medalhas, mas com um escuro traje de viagem. Nunca gostei daquele branco, era muito altaneiro e estava sempre de mau humor, só se amolecia quando os seus olhos de rato se poisavam na sua esposa, uma jovem de cabelo vermelho. Enquanto lhes servia vinho, queijo e carnes frias, ouvi que o comissário Sonthonax tinha demitido o governador Galbaud, acusando-o de conspirar contra o governo legítimo da colónia. Sonthonax planeava uma deportação em massa dos seus inimigos políticos, já tinha quinhentos no porão dos barcos do porto a aguardarem a sua ordem para zarpar. Galbaud anunciou que tinha chegado a hora de actuar.
Pouco depois chegaram outros patriotas que tinham sido avisados. Escutei que os soldados brancos do Exército regular e quase três mil marinheiros do porto estavam prontos para lutar ao lado de Galbaud. Sonthonax contava apenas com o apoio de guardas nacionais e tropas de mulatos. O general prometeu que, se a batalha fosse resolvida em poucas horas e Saint-Domingue se tornasse independente, Sonthonax veria o seu último dia, os direitos dos affranchis seriam revogados e os escravos voltariam às plantações. Puseram-se todos de pé para brindar. Eu voltei a encher as taças, saí calada e corri para Zacharie, que me fez repetir tudo, palavra por palavra. Tenho boa memória. Deu-me um gole de limonada para a aflição e mandou-me de regresso com instruções de fechar a boca e trancar a casa com um malho. Assim fiz.
Guerra civil
O comissário Sonthonax, a suar de calor e de nervos, enfiado dentro da sua casaca preta e da sua camisa de colarinho apertado, explicou a situação a Étienne Relais em poucas palavras. Omitiu-lhe, no entanto, que não estava ao corrente da conspiração de Galbaud através da sua complexa rede de espiões, mas graças a um mexerico do mordomo da Intendência. Apareceu no seu gabinete um negro muito alto e bonito, vestido como um grand blanc, tão fresco e perfumado como se acabasse de sair do banho, que se apresentou como Zacharie e insistiu para falar a sós com ele. Sonthonax conduziu-o a uma divisão contígua, um buraco sufocante e sem janela entre quatro paredes nuas, com um beliche de quartel, uma cadeira, um jarro de água e uma bacia no chão. Dormia ali há meses. Sentou-se na cama e indicou a única cadeira ao visitante, mas este preferiu permanecer de pé. Sonthonax, de baixa estatura e rechonchudo, reparou com uma certa inveja na figura alta e distinta do outro, cuja cabeça roçava o tecto. Zacharie repetiu as palavras de Tété.
— Porque me conta isto? — perguntou Sonthonax, desconfiado. Não conseguia classificar aquele homem, que se tinha apresentado apenas com um nome de baptismo e sem apelido, como um escravo, mas tinha a atitude de uma pessoa livre e o comportamento da classe alta.
— Porque simpatizo com o governo republicano — foi a resposta simples de Zacharie.
— Como obteve essa informação? Tem provas?
— A informação procede directamente do general Galbaud. As provas tê-las-ão os senhores em menos de uma hora, quando ouvirem os primeiros tiros.
Sonthonax molhou o lenço no jarro de água e enxaguou a cara e o pescoço. Doía-lhe a barriga, a mesma dor surda e persistente, uma garra nas tripas que o atormentava quando estava sob pressão, isto é, desde que pisou pela primeira vez Saint-Domingue.
— Venha ver-me quando souber algo mais. Tomarei as medidas necessárias — disse, dando por concluída a entrevista.
— Se precisar de mim, já sabe que estou na Intendência, comissário — despediu-se Zacharie.
Sonthonax mandou chamar de imediato Étienne Relais e recebeu-o no mesmo quarto, porque o resto do edifício fora invadido por funcionários civis e militares. Relais, o oficial de mais alta patente com quem podia contar para enfrentar Galbaud, tinha actuado sempre com impecável lealdade ao governo francês em vigor.
— Desertaram alguns dos seus soldados brancos, tenente-coronel? — perguntou-lhe.
— Acabo de verificar que desertaram todos hoje ao amanhecer, comissário. Conto apenas com as tropas de mulatos.
Sonthonax repetiu-lhe o que Zacharie lhe acabava de contar.
— Quer dizer, teremos de combater os brancos em todas as pelejas, civis e militares, além dos marinheiros de Galbaud, que somam três mil — concluiu.
— Estamos em grande desvantagem, comissário. Necessitaremos de reforços — disse Relais.
— Não os temos. O senhor toma conta da defesa, tenente-coronel. Depois da vitória, ocupar-me-ei para que o promovam -prometeu-lhe Sonthonax.
Relais aceitou a tarefa com a sua habitual serenidade, depois de negociar com o comissário que, em vez de uma patente superior, lhe permitisse reformar-se do Exército. Estava há muitos anos ao serviço e, francamente, já não dava para mais; a mulher e o filho esperavam-no em Cuba, não via a hora de se juntar a eles, disse-lhe. Sonthonax garantiu-lhe que assim se faria, embora não tivesse a menor intenção de o cumprir; a situação não permitia ocupar-se com os problemas pessoais de ninguém.
Entretanto, o porto converteu-se num formigueiro de botes de marinheiros armados que assaltaram Le Cap como uma horda de piratas. Formavam um estranho lote de várias nacionalidades, homens sem lei que andavam há meses no mar alto e esperavam ansiosamente por uns dias de borga desenfreada. Não lutavam por convicção, porque nem sequer estavam seguros das cores da sua bandeira, mas pelo prazer de pisar terra firme e entregarem-se à destruição e ao saque. Há muito que não lhes pagavam, e aquela rica cidade oferecia desde mulheres e rum, até ouro, se conseguissem encontrá-lo. Galbaud contava com a sua experiência militar para organizar o ataque, apoiado pelas tropas regulares de brancos, que se juntaram de imediato ao seu bando, fartos das humilhações que lhes tinham feito passar os soldados de cor. Os grands blancs mantiveram-se invisíveis, enquanto os petits blancs e os marinheiros percorriam as ruas, bairro a bairro, enfrentando grupos de escravos, que tinham aproveitado o burburinho para também irem saquear. Os negros tinham-se declarado partidários de Sonthonax para desafiar os seus amos e gozar umas quantas horas de pândega, porque era-lhes indiferente quem ganhasse essa luta na qual não estavam incluídos. Ambas as facções de rufiões improvisados assaltaram os depósitos do porto, onde eram armazenados os barris de rum de cana para exportação, e em breve o álcool corria pelo empedrado das ruas. Entre os ébrios circulavam ratazanas e cães desorientados, que, depois de lamber o licor, andavam aos tropeções. As famílias de affranchis entrincheiraram-se nas suas casas para se defenderem como pudessem.
Toulouse Valmorain despediu os escravos que, para todos os efeitos, iam fugir, como tinha feito a maioria. Preferia não ter o inimigo dentro de casa, como lhe disse Tété. Não eram seus, mas alugados, e o problema de os recuperar seria dos donos. «Voltarão arrastando-se quando se estabelecer a ordem. Vai haver muito trabalho na prisão», comentou. Na cidade, os amos preferiam não sujar as mãos e mandavam os escravos culpados para a prisão, para que os verdugos do Estado se encarregassem de lhes aplicar o castigo por um preço modesto. O cozinheiro não se quis ir embora e escondeu-se na lenha do pátio. Nenhuma ameaça conseguiu tirá-lo do buraco onde estava encolhido, não puderam contar com ele para fazer uma sopa e Tété, que mal sabia acender o lume, porque entre as suas múltiplas tarefas nunca se incluiu a de cozinhar, deu às crianças pão, fruta e queijo. Deitou-os cedo, fingindo calma, para não os assustar, embora ela própria tremesse. Nas horas seguintes, Valmorain ensinou-lhe a carregar as armas de fogo, tarefa complicada que qualquer soldado efectuava em poucos segundos e ela demorava vários minutos. Valmorain tinha distribuído parte das suas armas entre outros patriotas, mas ficou com uma dúzia para se defender. No fundo, estava seguro de que não haveria necessidade de usá-las, o seu papel não era bater-se; para o fazer, havia os soldados e marinheiros de Galbaud.
Pouco depois do pôr do Sol, chegaram três jovens conspiradores, que Tété tinha visto com frequência nas reuniões políticas, com a notícia de que Galbaud tomara o arsenal e libertara os prisioneiros que Sonthonax mantinha nos barcos para os deportar e, naturalmente, tinham-se posto todos às ordens do general. Decidiram usar a casa como quartel, pela sua situação privilegiada, com vista total do porto, onde se podia contar uma centena de barcos e numerosos botes num vaivém, a carregar homens. Depois de uma refeição leve, partiram para combater, como disseram, mas o entusiasmo durou-lhes pouco e regressaram em menos de uma hora para partilhar umas garrafas e porem-se a dormir por turnos.
Das janelas viam passar a turba de assaltantes, mas só se viram obrigados a usar as armas uma vez para se protegerem, e não foi contra bandos de escravos nem contra soldados de Sonthonax, mas contra os seus próprios aliados, uns marinheiros bêbados com intenções de saquear. Assustaram-nos disparando para o ar e Valmorain acalmou-os oferecendo-lhes tafia. Calhou a um dos patriotas assomar à rua, a rolar um barril de licor, enquanto os outros apontavam para a chusma desde as janelas. Os marinheiros destaparam o tonel ali mesmo e, ao primeiro gole, caíram no chão, no mais completo estado de intoxicação, porque só tinham bebido água desde manhã. Finalmente, foram-se embora, a anunciar aos gritos que a suposta batalha havia sido um fiasco, não tinham com quem se medir. Era verdade. A maior parte das tropas de Sonthonax tinham abandonado as ruas sem dar a cara e estavam estacionadas nos arredores da cidade.
Na manhã do dia seguinte, Étienne Relais, ferido no ombro por uma bala, mas firme no seu uniforme ensanguentado, explicou uma vez mais a Sonthonax, refugiado com os seus altos quadros numa plantação próxima, que, sem qualquer tipo de ajuda, não conseguiriam derrotar o inimigo. O assalto já não tinha o cariz de carnaval do primeiro dia; Galbaud conseguira organizar a sua gente e estava pronto a apoderar-se da cidade. O irascível comissário recusara-se a ouvir razões no dia anterior, quando já era evidente a esmagadora superioridade da força inimiga, mas, desta vez, escutou até ao fim. A informação de Zacharie cumpria-se à letra.
— Vamos ter de negociar uma saída honrosa, comissário, porque não vejo onde vamos arranjar reforços — concluiu Relais, pálido e olheirento, com o braço amarrado ao peito com uma faixa improvisada e a manga da casaca, pendurada e vazia.
— Eu sim, tenente-coronel Relais, tenho tudo bem pensado. Nos arredores de Le Cap há mais de quinze mil rebeldes acampados. Eles serão os reforços de que necessitamos — respondeu Sonthonax.
— Os negros? Não creio que queiram envolver-se nisto — replicou Relais.
— Fá-lo-ão em troca da emancipação. Liberdade para eles e para as suas famílias.
A ideia não era sua, tinha ocorrido a Zacharie, que arranjou maneira para ser recebido por ele pela segunda vez. Nessa altura, Sonthonax já havia averiguado que Zacharie era escravo e compreendeu que fazia jogo limpo, porque, se Galbaud saísse vitorioso, como parecia inevitável, e se se viesse a saber o seu papel de informador, seria espatifado com pancadas de maço na roda da praça pública. Tal como lhe explicou Zacharie, a única ajuda que Sonthonax podia conseguir vinha dos negros rebeldes. Só era preciso dar-lhes incentivo suficiente.
— Além disso, terão direito a pilhar a cidade. Que lhe parece, tenente-coronel? — anunciou Sonthonax a Relais, com ar de triunfo.
— Arriscado.
— Há centenas de milhares de negros rebeldes espalhados pela ilha e vou conseguir que se juntem a nós.
— A maioria está do lado espanhol — recordou-lhe Relais. — Em troca da liberdade, irão pôr-se sob o estandarte francês, garanto-lhe. Sei que Toussaint, entre outros, deseja regressar ao seio de França. Seleccione um pequeno destacamento de soldados negros e acompanhe-me para parlamentar com os rebeldes. Estão a uma hora de marcha daqui. E trate desse braço, homem, não vá infectar.
Étienne Relais, que não confiava no plano, surpreendeu-se quando viu a prontidão com que os rebeldes aceitaram a oferta. Tinham sido repetidas vezes atraiçoados pelos brancos; no entanto, agarraram-se a essa frágil promessa de emancipação. A pilhagem foi um isco quase tão poderoso como a liberdade, porque estavam inactivos há semanas e o aborrecimento começava a minar-lhes os ânimos.
Sangue e cinza
Toulouse Valmorain foi o primeiro a ver, desde a janela da varanda, a massa escura que avançava do cerro para a cidade. Teve dificuldade em dar-se conta do que se tratava, porque a sua vista já não era tão boa como antes, tinha-se levantado uma ténue neblina e o ar vibrava de calor e humidade.
— Tété! Chega aqui e diz-me o que é aquilo! — ordenou-lhe.
— Negros, monsieur. Milhares de negros — respondeu ela, sem conseguir evitar um estremecimento, misto de pavor perante o que lhes caía em cima e a esperança de que Gambo estivesse entre eles.
Valmorain despertou os patriotas que ressonavam na sala e mandou-os dar a voz de alarme. Os vizinhos meteram-se rapidamente nas suas casas, trancando portas e janelas, enquanto os homens do general Galbaud despertavam da bebedeira e se preparavam para uma batalha que estava perdida antes de começar. Não o sabiam ainda, mas havia cinco negros para cada soldado branco e vinham inflamados da coragem demente que Ogun lhes atribuía. Primeiro ouviram uma arrepiante algazarra de uivos e a chamada aguda dos búzios de guerra, que foi aumentando de volume. Os rebeldes eram muito mais numerosos e estavam mais perto do que alguém havia suspeitado. Chegaram a Le Cap no meio de um tumulto ensurdecedor, quase nus, mal armados, sem rei nem roque, dispostos a arrasar tudo. Podiam vingar-se e destruir como lhes apetecesse com total impunidade. Em menos de um ai, surgiram milhares de archotes e a cidade converteu-se numa única labareda: as casas de madeira ardiam por contágio, uma rua atrás da outra, bairros inteiros. O calor tornou-se insuportável, o céu e o mar tingiram-se de vermelho e cor de laranja. Entre o crepitar das chamas e o estrépito dos edifícios que se desmoronavam envolvidos em fumo, ouviam-se nitidamente os gritos de triunfo dos negros e o terror visceral das suas vítimas. As ruas encheram-se de corpos espezinhados pelos atacantes daqueles que fugiam espavoridos e por centenas de cavalos fugidos dos estábulos. Ninguém conseguiu opor resistência a semelhante embate. Na sua maioria, os marinheiros foram aniquilados nas primeiras horas, enquanto as tropas regulares de Galbaud tentavam pôr a salvo os civis brancos. Milhares de refugiados fugiam para o porto. Alguns tentavam carregar embrulhos, mas, poucos passos depois, deixavam-nos ali com a pressa de fugir.
Da janela do segundo piso, a Valmorain bastou-lhe olhar para poder dar-se conta da situação. O incêndio já estava muito próximo, bastaria uma faúlha para converter a sua casa numa fogueira. Nas ruas laterais, corriam bandos de negros ensopados em suor e sangue, enfrentando sem hesitar as armas dos poucos soldados que ainda restavam de pé. Os assaltantes caíam às dezenas, mas vinham outros por detrás, saltando por cima dos corpos amontoados dos seus companheiros. Valmorain viu um grupo cercar uma família que procurava chegar ao molhe, duas mulheres e várias crianças protegidas por um homem mais velho, seguramente o pai, e mais dois rapazes. Os brancos, armados com pistolas, conseguiram disparar um tiro à queima-roupa contra cada um, e a seguir foram invadidos pela horda e desapareceram. Enquanto vários negros recolhiam as cabeças decepadas pelos cabelos, outros deitaram abaixo a porta de uma casa, cujo tecto já estava a arder, e entraram a vociferar. Lançaram pela janela uma mulher degolada, móveis e objectos, até que as chamas os obrigaram a sair. Momentos depois, Valmorain ouviu as primeiras coronhadas contra a porta principal da sua própria casa. O terror que o paralisava não lhe era desconhecido, tinha-o sofrido, idêntico, quando escapou da sua plantação para seguir Gambo. Não compreendia como é que as coisas pudessem ter dado a volta e o motim buliçoso de marinheiros ébrios e soldados brancos nas ruas, que, segundo Galbaud, duraria só umas horas e terminaria com uma vitória segura, se tivesse transformado naquele pesadelo de negros embravecidos. Apertava as armas com os dedos tão fechados que não teria conseguido dispará-las. Estava encharcado num suor ácido cujo fedor conseguia reconhecer: era o cheiro da impotência e o terror dos escravos martirizados por Cambray. Sentiu que a sua sorte estava lançada e, como os escravos nas suas plantações, não tinha escapatória. Lutou contra os vómitos e contra a tentação insuportável de se aninhar num canto, paralisado pela abjecta cobardia. Um líquido quente molhou-lhe as calças.
Tété estava de pé no meio do quarto, com as crianças escondidas nas suas saias, e segurava uma pistola com as duas mãos, com o cano para cima. Tinha perdido a esperança de se encontrar com Gambo porque, se estava na cidade, jamais a alcançaria antes da chusma. Sozinha não conseguia defender Maurice e Rosette. Quando viu Valmorain a urinar-se com medo, compreendeu que o sacrifício de se ter separado de Gambo tinha sido inútil, porque o amo era incapaz de protegê-los. Antes tivesse partido com os rebeldes e corrido o risco de levar as crianças consigo. A visão do que estava prestes a acontecer aos seus filhos deu-lhe uma coragem cega e a terrível calma dos que se decidem a morrer. O porto estava só a dois quarteirões e, embora a distância parecesse insuperável nestas circunstâncias, não havia outra salvação. «Vamos sair pelas traseiras, pela porta dos domésticos», anunciou Tété com voz firme. A porta principal ribombava e ouvia-se o barulho dos vidros das janelas no primeiro piso, mas Valmorain acreditava que lá dentro estavam mais seguros, talvez pudessem esconder-se nalgum lado. «Vão queimar a casa. Eu vou-me embora com as crianças», replicou ela, voltando-lhe as costas. Nesse instante, Maurice assomou a sua carita suja de lágrimas e ranho entre as saias de Tété e correu a abraçar-se às pernas do pai. Valmorain foi sacudido por um choque de amor por aquele menino e tomou consciência do seu estado vergonhoso. Não podia permitir que, se o seu filho sobrevivesse por milagre, o recordasse como um cobarde. Respirou fundo procurando conter a tremura do seu corpo, encaixou uma pistola ao cinto, engatilhou a outra, pegou na mão de Maurice e levou-o quase no ar atrás de Tété, que descia com Rosette nos braços pela inclinada escada de caracol que ligava o segundo piso com os quartos dos escravos na cave.
Assomaram pela porta de serviço à ruela traseira, cheia de escombros e cinza dos edifícios a arder, mas vazia. Valmorain sentiu-se desorientado, nunca tinha usado aquela porta nem aquela passagem e não sabia onde conduzia, mas Tété seguia na frente, sem hesitar, dirigindo-se à conflagração da batalha. Nesse instante, quando o encontro com a turba parecia inevitável, ouviram um tiroteio e viram um reduzido pelotão de tropas regulares de Galbaud, que já não tentava defender a cidade e que agora batia em retirada para os barcos. Disparavam ordenados, serenos, sem quebrar fileiras. Os negros rebeldes ocupavam parte da rua, mas os balázios mantinham-nos à distância. Então, Valmorain conseguiu pensar com uma certa nitidez pela primeira vez e viu que não havia tempo para hesitar. «Vamos! Corram!», gritou. Lançaram-se atrás dos soldados, resguardando-se entre eles, e assim, saltando por cima de corpos caídos e escombros em chamas, percorreram aqueles dois quarteirões, os mais longos das suas vidas, enquanto as armas de fogo lhes iam abrindo caminho. Sem saber como, encontraram-se no porto, iluminado como um dia claro pelo incêndio, onde já se amontoavam milhares de refugiados e continuavam a chegar mais. Várias filas de soldados protegiam os brancos disparando contra os negros, que atacavam por três lados, enquanto a multidão lutava ferozmente para subir para os botes disponíveis. Ninguém estava encarregado de organizar a retirada, era um tropel espavorido. No meio do desespero, alguns lançavam-se à água e tentavam nadar para os barcos, mas o mar fervilhava de tubarões atraídos pelo cheiro a sangue.
Nisto apareceu o general Galbaud a cavalo, com a mulher na garupa, rodeado por uma pequena guarda pretoriana que o protegia e libertava a passagem, batendo na multidão com as suas armas. O ataque dos negros tinha apanhado Galbaud de surpresa, era a última coisa que esperava, mas deu-se imediatamente conta de que a situação tinha dado a volta e que só lhe restava pôr-se a salvo. Teve apenas o tempo suficiente para resgatar a sua esposa, que estava de cama há dois dias a recompor-se de um ataque de malária e não suspeitava do que se passava lá fora. Ia coberta com um xaile sobre o déshabillé, descalça, com o cabelo apanhado numa trança que lhe pendia pelas costas e uma expressão indiferente, como se não desse pela batalha e o incêndio. De qualquer maneira, havia chegado até ali intacta; em contrapartida, o marido tinha a barba e o cabelo chamuscados e a roupa rasgada, manchada de sangue e fuligem.
Valmorain correu para o militar, com a pistola erguida, conseguiu passar entre os guardas, pôs-se em frente dele e agarrou-lhe a perna com a mão livre. «Um bote! Um bote!», suplicou a quem considerava seu amigo, mas Galbaud respondeu-lhe afastando-o com um pontapé no peito. Um lampejo de ira e desespero cegou Valmorain. Desmoronou-se o andaime de boas maneiras que ele tinha mantido durante os seus quarenta e três anos de vida e converteu-se numa fera acossada. Com uma força e uma agilidade desconhecidas deu um salto, agarrou a esposa do general pela cintura e desmontou-a com um puxão violento. A senhora caiu esparramada no empedrado quente e, antes que a guarda tivesse tempo para reagir, encostou-lhe a pistola à cabeça. «Um bote ou mato-a aqui mesmo!», ameaçou, com tal determinação que ninguém teve dúvidas de que o faria. Galbaud deteve os seus soldados. «Está bem, amigo, acalme-se, arranjo-lhe um bote», disse, com a voz rouca pelo fumo e a pólvora. Valmorain agarrou a mulher pelo cabelo, levantou-a do chão e obrigou-a a caminhar na frente, com a pistola na nuca. O xaile ficou no chão e, através do tecido do déshabillé, transparente na luz alaranjada dessa noite endemoninhada, via-se o seu corpo magro a avançar aos tropeções, na ponta dos pés, suspensa no ar pela trança. Assim chegaram ao bote que aguardava Galbaud. No último momento, o general tentou negociar: só havia um buraco para Valmorain e o seu filho, alegou, não podiam dar preferência à mulata enquanto milhares de brancos empurravam para subir. Valmorain assomou a esposa do general à beira do molhe sobre as águas vermelhas pelo reflexo do fogo e do sangue. Galbaud compreendeu que, à menor hesitação, aquele homem transtornado lançá-la-ia aos tubarões, e cedeu. Valmorain subiu com os seus para o bote.
Ajudar a morrer
Um mês mais tarde, sobre os fumegantes restos de Le Cap reduzido a escombros e cinzas, Sonthonax proclamou a emancipação dos escravos em Saint-Domingue. Sem eles não podia lutar contra os seus inimigos internos e contra os ingleses, que já ocupavam o Sul. Nesse mesmo dia, Toussaint declarou também a emancipação desde o seu acampamento em território espanhol. Assinou o documento como Toussaint Louverture, o nome com o qual entraria na História. As suas fileiras iam aumentando, exercia mais influência do que qualquer dos outros chefes rebeldes e, nessa altura, já andava a pensar mudar de bandeira, porque só a França republicana reconhecia a liberdade da sua gente, que nenhum outro país estava disposto a tolerar. Zacharie tinha esperado essa oportunidade desde que fazia uso da razão, havia vivido obcecado com a liberdade, embora o seu pai se tenha encarregado de lhe sublinhar desde o berço o orgulho de ser mordomo da Intendência, posição que normalmente era ocupada por um branco. Tirou o seu uniforme de almirante de opereta, pegou nas suas poupanças e embarcou no primeiro barco que zarpou do porto sem perguntar para onde ia. Deu-se conta de que a emancipação era apenas uma cartada política que podia ser revogada em qualquer momento e decidiu não se encontrar ali quando isso acontecesse. Tinha convivido tanto com os brancos que os conhecia a fundo e calculou que, se os monárquicos triunfassem nas próximas eleições da Assembleia em França, demitiriam Sonthonax do seu posto, votariam contra a emancipação e os negros na colónia teriam de continuar a lutar pela sua liberdade. Mas ele não desejava sacrificar-se, a guerra parecia-lhe um desperdício de recursos e vidas, a forma menos razoável de resolver conflitos. Em todo o caso, a sua experiência de mordomo carecia de valor nessa ilha dilacerada pela violência desde os tempos de Colombo e devia aproveitar a oportunidade para procurar outros horizontes. Tinha trinta e oito anos e estava pronto para mudar de vida.
Etienne Relais ficou ao corrente da dupla proclamação horas antes de morrer. A ferida no ombro piorou rapidamente durante os dias em que Le Cap foi saqueado e queimado até aos alicerces, e quando finalmente se pôde ocupar dela, a gangrena tinha começado. O doutor Parmentier, que passara esses dias sem descansar, a atender centenas de feridos com a ajuda das freiras que sobreviveram às violações, examinou-o quando já era tarde. Tinha a clavícula pulverizada e, pela posição da ferida, não se colocava a solução extrema de amputar. Os remédios que aprendera com Tante Rose e outros curandeiros eram inúteis. Etienne Relais tinha visto várias feridas de diversos géneros e pelo cheiro soube que estava a morrer; o que mais lamentou foi saber que não poderia proteger Violette das vicissitudes do futuro. Deitado de costas numa tarimba, sem colchão, do hospital, respirava com dificuldade, encharcado pelo suor pegajoso da agonia. O cheiro teria sido intolerável para outro, mas ele tinha sido ferido anteriormente, por várias vezes, levava uma vida de privações e sentia um desprezo estóico pelas misérias do seu corpo. Não se queixava. Com os olhos cerrados, evocava Violette, as suas mãos frescas, o seu riso rouco, a sua cintura escorregadia, as suas orelhas translúcidas, os seus mamilos escuros, e sorria sentindo-se o homem mais feliz deste mundo, porque a teve durante catorze anos, Violette apaixonada, bela, eterna, sua. Parmentier não tentou distraí-lo, limitou-se a oferecer-lhe ópio, o único calmante disponível, ou uma beberagem fulminante para acabar com aquele suplício em questão de minutos; era uma opção que, como médico, não devia propor, mas tinha presenciado tanto sofrimento naquela ilha que o juramento de preservar a vida a todo o custo tinha perdido sentido; em certos casos, era mais ético ajudar a morrer. «Veneno, desde que não faça falta para outro soldado», escolheu o ferido. O médico inclinou-se muito de perto para ouvi-lo, porque a voz era só um murmúrio. «Procure Violette, diga-lhe que a amo», acrescentou Etienne Relais antes que o outro lhe esvaziasse o frasquito na boca.
Em Cuba, nesse mesmo instante, Violette Boisier bateu com a mão direita contra a fonte de pedra onde tinha ido buscar água, e a opala do anel, que usara durante catorze anos, desfez-se em estilhaços. Caiu sentada junto da fonte, com um grito engasgado e a mão apertada contra o coração. Adèle, que estava com ela, julgou que lhe tinha mordido algum lacrau. «Etienne, Etienne...», balbuciou Violette, desfeita em lágrimas.
A cinco quarteirões da fonte onde Violette soube que tinha ficado viúva, Tété estava de pé debaixo de um toldo no jardim do melhor hotel de Havana, ao pé da mesa onde Maurice e Rosette bebiam sumo de ananás. Não lhe era permitido sentar-se entre os hóspedes e a Rosette também não, mas a menina passava por espanhola, ninguém suspeitava da sua verdadeira condição. Maurice contribuía para o engano tratando-a como sua irmã mais nova. Noutra mesa, Toulouse Valmorain falava com o seu cunhado Sancho e o seu banqueiro. A frota de refugiados que o general Galbaud tirou de Le Cap, naquela noite fatídica, navegou rumo a Baltimore a todo o pano, sob uma chuva de cinza, mas vários daqueles barcos encaminharam-se para Cuba com os grands blancs que tinham família ou interesses ali. Da noite para o dia, milhares de famílias francesas desembarcaram na ilha para iludir o temporal político de Saint-Domingue.
Foram recebidos com generosa hospitalidade pelos cubanos e espanhóis, que nunca pensaram que os espavoridos visitantes se viriam a converter em refugiados permanentes. Entre eles estavam Valmorain, Tété e as crianças. Sancho Garcia del Solar levou-os para sua casa, que durante esses anos se tinha deteriorado ainda mais, sem que ninguém se ocupasse em recuperá-la. Tendo em conta as baratas, Valmorain preferiu instalar-se com os seus no melhor hotel de Havana, onde ele e Maurice ocupavam uma suíte com duas varandas com vista para o mar, enquanto Tété e Rosette dormiam nos alojamentos dos escravos que acompanhavam os seus amos nas viagens, quartos com chão de terra e sem janela.
Sancho levava a existência folgada de um solteiro determinado; gastava mais do que o conveniente em festas, mulheres, cavalos e mesas de jogo, mas continuava a sonhar, como na sua juventude, em fazer fortuna e devolver ao seu apelido o prestígio do tempo dos seus avós. Andava sempre à caça de oportunidades para fazer dinheiro; assim, há uns dois anos que lhe tinha ocorrido comprar terras na Louisiana com os meios que Valmorain lhe facilitou. O seu contributo era visão comercial, contactos sociais e trabalho, desde que não fosse demasiado, como disse a rir-se, enquanto o seu cunhado contribuía com o capital. Concretizada a ideia, tinha viajado com frequência a Nova Orleães e adquirira uma propriedade nas margens do Mississipi. A princípio, Valmorain referia-se ao projecto como uma aventura disparatada, mas agora era o único seguro que tinha nas mãos e decidiu-se a converter essa terra abandonada numa grande plantação de açúcar. Tinha perdido bastante em Saint-Domingue, mas não lhe faltavam recursos, graças aos seus investimentos, aos negócios com Sancho e à ponderação do seu agente judeu e do seu banqueiro cubano. Era essa a explicação que tinha oferecido a Sancho e a quem teve a indiscrição de perguntar. Sozinho em frente do espelho, não podia iludir a verdade que o acusava do fundo dos seus olhos: a maior parte desse capital não era seu, havia pertencido a Lacroix. Repetia a si mesmo que tinha a consciência limpa, porque nunca tentou beneficiar com a tragédia do seu amigo nem apoderar-se desse dinheiro; caiu-lhe simplesmente do céu. Quando a família Lacroix foi assassinada pelos rebeldes em Saint-Domingue e os recibos que ele tinha assinado pelo dinheiro recebido se queimaram no incêndio, deparou-se na posse de uma conta em pesos de ouro que ele próprio tinha aberto em Havana para esconder as poupanças de Lacroix e de cuja existência ninguém suspeitava. Em cada uma das suas viagens, tinha depositado o dinheiro que o seu vizinho lhe entregava e o seu banqueiro colocava numa conta identificada só com um número. O banqueiro nada sabia de Lacroix e, mais tarde, não colocou objecção quando Valmorain transferiu os fundos para a sua própria conta, porque partiu do princípio de que eram seus. Lacroix tinha herdeiros em França que tinham pleno direito a esses bens, mas Valmorain analisou as circunstâncias e decidiu que não era da sua competência procurá-los e que seria estúpido deixar aquele ouro enterrado na abóbada de um banco. Era um desses raros caos em que a fortuna bate à porta e só um parvo a deixaria passar.
Catorze dias depois, quando as notícias de Saint-Domingue não deixavam dúvidas quanto à cruel anarquia que imperava na colónia, Valmorain decidiu ir à Louisiana com Sancho. A vida em Havana prometia muito entretenimento para alguém disposto a gastar, mas ele não podia perder mais tempo. Compreendeu que, se seguisse Sancho de baiuca em baiuca e de bordel em bordel, acabaria por queimar as suas poupanças e a sua saúde. Mais valia levar esse cunhado encantador para longe dos seus amiguinhos e dar-lhe um projecto à medida da sua ambição. A plantação da Louisiana podia acender em Sancho as brasas da força moral que quase todo o mundo possui, pensou. Durante esses anos, tinha criado carinho de irmão mais velho por esse homem, de cujos defeitos e virtudes ele carecia. Por isso se davam bem. Sancho era loquaz, aventureiro, imaginativo e corajoso, o tipo de homem capaz de lidar de igual para igual com príncipes e corsários, um velhaco de coração leviano. Valmorain não dava Saint-Lazare como perdida, mas, enquanto não conseguisse recuperá-la, podia concentrar a sua energia no projecto de Sancho na Louisiana. A política já não lhe interessava — o fiasco de Galbaud deixou-o escaldado. Tinha chegado a hora de voltar a produzir açúcar, a única coisa que sabia fazer.
O castigo
Valmorain notificou Tété de que partiriam numa escuna americana dentro de dois dias e deu-lhe dinheiro para abastecer a família de roupa.
— Passa-se alguma coisa contigo? — perguntou-lhe ao ver que a mulher não se mexia para pegar na bolsa com moedas.
— Desculpe, monsieur, mas... não quero ir para esse lugar — balbuciou ela.
— Como dizes, idiota? Obedece e cala-te!
— O documento da minha liberdade lá também é válido? — atreveu-se Tété a inquirir.
— É isso o que te preocupa? Claro que é válido, lá e em qualquer lugar. Tem a minha assinatura e o meu selo, até na China é legal.
— Louisiana fica muito longe de Saint-Domingue, não? — insistiu Tété.
— Não vamos voltar a Saint-Domingue, se é isso que estás a pensar. Não te bastou tudo o que lá passámos? És mais estúpida do que eu pensava! — exclamou Valmorain, irritado.
Tété foi preparar a viagem, cabisbaixa. A boneca de madeira que o escravo Honoré lhe havia talhado na infância tinha ficado em Saint-Lazare, e agora esse fetiche da boa sorte fazia-lhe falta. «Voltarei a ver Gambo, Erzuli? Vamos para mais longe, mais água entre nós.» Depois da sesta, esperou que a brisa do mar refrescasse a tarde e foi com as crianças às compras. Por ordem do amo, que não queria ver Maurice a brincar com uma miúda esfarrapada, vestia os dois com roupa da mesma qualidade, e, aos olhos de qualquer um, pareciam duas crianças ricas com a sua ama-seca. Segundo os planos de Sancho, instalar-se-iam em Nova Orleães, uma vez que a nova plantação ficava apenas a um dia de distância da cidade. Já possuíam a terra, mas faltava o essencial: moinhos, máquinas, ferramentas, escravos, alojamentos e a casa principal. Era necessário preparar os terrenos e plantar, antes de uns dois anos não haveria produção, mas, graças às reservas de Valmorain, não passariam dificuldades. Tal como dizia Sancho, o dinheiro não compra a felicidade, mas compra quase tudo o resto. Não queriam chegar a Nova Orleães com o aspecto de quem vem a fugir de qualquer lado, eram investidores e não refugiados. Tinham saído de Le Cap com o que tinham no corpo e em Cuba haviam comprado o mínimo, mas, antes da viagem para Nova Orleães, necessitavam de um guarda-roupa completo, baús e malas. «Tudo da melhor qualidade, Tété. Também um par de vestidos para ti; não quero ver-te como uma pedinte. E calça sapatos!», ordenou-lhe, mas os únicos botins que possuía eram um tormento. Nos comptoirs do centro, Tété adquiriu o necessário, depois de muito regatear, como era costume em Saint-Domingue, e calculou que também o seria em Cuba. Na rua falava-se espanhol, e embora ela falasse um pouco dessa língua desde o trato com Eugenia, não entendia o sotaque cubano, escorregadio e cantado, muito diferente do castelhano duro e sonoro da sua falecida ama. No mercado popular tinha sido incapaz de regatear, mas nos estabelecimentos comerciais também se falava francês.
Quando terminou as compras, pediu que lhas entregassem no hotel, de acordo com as instruções do seu amo. As crianças estavam famintas e ela cansada, mas, quando saíram, ouviram tambores e não conseguiu resistir ao apelo. De uma ruela para outra, deram com uma pequena praça onde se tinha juntado uma multidão de gente de cor que dançava desenfreadamente ao som de uma banda. Havia muito tempo que Tété não sentia o impulso vulcânico da dança numa calenda, tinha passado mais de um ano assustada na plantação, acossada pelos gritos dos condenados em Le Cap, a fugir, a despedir-se, à espera. O ritmo subiu-lhe desde a planta dos pés nus até ao nó do seu tignon, o corpo todo possuído pelos tambores com o mesmo júbilo que sentia quando fazia amor com Gambo. Largou as crianças e juntou-se à algazarra: escravo que dança é livre enquanto dança, como lhe tinha ensinado Honoré. Mas ela já não era escrava, era livre, só faltava a assinatura do juiz. Livre, livre! E toca a mexer com os pés colados ao chão, as pernas e as ancas exaltadas, as nádegas a rodar provocadoras, os braços como asas de gaivotas, os seios sacudidos e a cabeça perdida. O sangue africano de Rosette também respondeu à formidável exigência da música e a menina de três anos saltou para o meio dos dançarinos, a vibrar com o mesmo gozo e abandono da sua mãe. Maurice, pelo contrário, recuou até ficar colado a uma parede. Tinha presenciado alguns bailes de escravos na habitation Saint-Lazare como espectador, a salvo da mão do pai, mas, naquela praça desconhecida, estava só, sugado por uma massa humana frenética, aturdido pelos tambores, esquecido por Tété, a sua Tété, que se tinha transformado num furacão de saias e braços, também esquecido por Rosette, que desaparecera entre as pernas dos bailarinos, esquecido por todos. Desatou a chorar aos gritos. Um negro trocista, apenas coberto com uma tanga e três voltas de vistosos colares, pôs-se à frente dele aos saltos e a agitar uma maraca com a intenção de o distrair, o que só conseguiu aterrorizá-lo ainda mais. Maurice fugiu a voar com toda a força das suas pernas. Os tambores continuaram a ribombar durante horas e Tété talvez tivesse dançado até que o último se calasse ao amanhecer se quatro mãos fortes não a tivessem agarrado pelos braços e arrastado para fora da folia.
Tinham passado quase três horas desde que Maurice saiu a correr por instinto até ao mar, que tinha visto desde as varandas da suíte. Estava transtornado pelo susto, não se lembrava do hotel, mas um menino louro e bem-vestido, a chorar encolhido na rua, não podia passar despercebido. Alguém se deteve para o ajudar, averiguou o nome do seu pai e perguntou em vários estabelecimentos até que deu com Toulouse Valmorain, que não tinha tido tempo para pensar nele; com Tété, o seu filho estava seguro. Quando conseguiu arrancar ao rapaz, entre soluços, o que lhe tinha acontecido, partiu como uma flecha à procura da mulher, mas ainda não tinha percorrido um quarteirão quando se deu conta de que não conhecia a cidade e não conseguiria localizá-la; então, recorreu à guarda. Dois homens foram à caça de Tété, valendo-se das vagas indicações de Maurice, e em breve deram com ela no baile na praça pelo barulho dos tambores. Levaram-na a espernear para um calabouço, e como Rosette os seguiu a choramingar que soltassem a sua mamã, encerraram-na também.
Na escuridão sufocante da cela, a tresandar a urina e excrementos, Tété encolheu-se num canto com Rosette nos braços. Apercebeu-se de que havia outras pessoas, mas demorou algum tempo a distinguir na penumbra uma mulher e três homens, silenciosos e imóveis, que esperavam a sua vez para receberem os açoites ordenados pelos seus amos. Um dos homens levava vários dias para se recompor dos primeiros vinte e cinco, para sofrer os que lhe faltavam quando os conseguisse suportar. A mulher perguntou-lhe algo em espanhol, que Tété não entendeu.
Acabava de começar a medir as consequências do que tinha feito: abandonou Maurice, na voragem do baile. Se algo de mal tinha sucedido à criança, ela iria pagá-lo com a morte, por isso a tinham prendido e estava naquele buraco asqueroso. Mais do que a sua vida, importava-lhe a sorte do seu menino. «Erzuli, loa mãe, faz com que Maurice esteja a salvo.» E o que ia ser de Rosette? Tocou na bolsa debaixo do corpete. Ainda não eram livres, nenhum juiz tinha assinado o documento, a sua filha podia ser vendida. Passaram o resto dessa noite no calabouço, a mais longa de que Tété se conseguia recordar. Rosette cansou-se de chorar e de pedir água e, por fim, adormeceu, febril. Ao amanhecer, a luz implacável do Caribe entrou por entre as grossas grades e um corvo poisou-se a picotar insectos na cercadura de pedra do único postigo. A mulher começou a gemer e Tété não soube se era por causa do mau agoiro daquele pássaro negro ou porque nesse dia chegava a sua vez. Passaram-se horas, o calor aumentou, o ar tornou-se tão escasso e quente que Tété sentiu a cabeça cheia de algodão. Não sabia como acalmar a sede da sua filha, pô-la ao peito, mas já não tinha leite.
Por volta do meio-dia, abriu-se a grade e uma figura gorda bloqueou a porta e chamou-a pelo seu nome. À segunda tentativa, Tété conseguiu pôr-se de pé; fraquejavam-lhe as pernas e a sede fazia-a ter visões. Sem largar Rosette, avançou aos tropeções para a saída. Nas suas costas, ouviu a mulher despedir-se com palavras conhecidas, porque as tinha ouvido a Eugenia: Virgem Maria, rogai por nós, pobres pecadores. Tété respondeu intimamente, porque a voz não lhe saiu por entre os lábios secos: «Erzuli, loa da compaixão, protege Rosette.» Levaram-na para um pequeno pátio, com uma só porta de acesso e rodeado de altos muros, onde se levantava um patíbulo com uma forca, um poste e um tronco negro do sangue seco para as amputações. O verdugo era um congolês largo como um armário, com as faces cruzadas de cicatrizes rituais, os dentes afiados em ponta, o tronco nu e um avental de couro coberto de manchas escuras. Antes que o homem lhe tocasse, Tété empurrou Rosette e ordenou-lhe que fosse para longe. A menina obedeceu a choramingar, demasiado fraca para fazer perguntas. «Sou livre! Sou livre!», gritou Tété no pouco espanhol que sabia, mostrando ao verdugo a bolsa que trazia ao pescoço, mas a manápula do homem arrancou-lha juntamente com a blusa e o corpete, que se rasgaram ao primeiro puxão. A segunda palmada arrancou-lhe a saia e ficou nua. Não tentou cobrir-se. Disse a Rosette que voltasse a cara para o muro e não a virasse por motivo nenhum; depois, deixou-se conduzir para o poste e ela mesma estendeu as mãos para que lhe atassem os pulsos com cordas de sisal. Ouviu o assobio do chicote no ar e pensou em Gambo.
Valmorain estava à espera do outro lado da porta. De acordo com as instruções dadas ao verdugo, com o pagamento habitual e uma gorjeta, pregaria um susto inesquecível à sua escrava, mas sem a magoar. Nada de sério tinha acontecido a Maurice, ainda bem, e, dentro de dois dias, partiam de viagem; precisava de Tété mais do que nunca e não podia levá-la acabada de ser açoitada. O chicote estatelou-se contra o empedrado do pátio a soltar faíscas, mas Tété sentiu-o nas costas, no coração, nas entranhas, na alma. Dobraram-se-lhe os joelhos e ficou pendurada pelos pulsos. De muito longe, chegou-lhe a risada do verdugo e um grito de Rosette: «Monsieuú Monsieur!» Com um esforço brutal, conseguiu abrir os olhos e voltar a cabeça. Valmorain estava a poucos passos e Rosette tinha-lhe abraçado os joelhos, com o rosto enterrado nas suas pernas, sufocada pelos soluços. Ele acariciou-lhe a cabeça e pegou-a ao colo, onde a menina se abandonou, inerte. Sem uma palavra para a escrava, fez um sinal ao verdugo e deu meia-volta rumo à porta. O congolês desatou Tété, pegou na sua roupa rasgada e deu-lha. Ela, que instantes antes não conseguia mexer-se, seguiu Valmorain depressa, a cambalear, com a energia nascida do terror, nua, a segurar os trapos contra o peito. O verdugo acompanhou-a à saída e entregou-lhe a bolsa de couro com a sua liberdade.
SEGUNDA PARTE
Louisiana, 1793-1810
Créoles de bom sangue
A casa, no coração de Nova Orleães, na zona onde viviam os créoles de ascendência francesa e sangue antigo, foi um achado de Sancho Garcia del Solar. Cada família era uma sociedade patriarcal, numerosa e fechada, que só se misturava com os do seu mesmo nível. O dinheiro não abria aquelas portas, contrariamente ao que Sancho defendia, embora devesse estar mais bem informado, porque também as não abria aos espanhóis de casta social semelhante; mas, quando começaram a chegar os refugiados de Saint-Domingue, houve um resquício por onde infiltrar-se. A princípio, antes de se converter numa avalanche humana, algumas famílias créoles recebiam os grands blancs que tinham perdido as suas plantações, compadecidos e espantados com as trágicas notícias que chegavam da ilha. Não conseguiam imaginar nada pior do que um levantamento de negros. Valmorain limpou o pó ao título de chevedier para se apresentar na sociedade e o seu encarregado foi incumbido de mencionar o château de Paris, infelizmente abandonado desde que a mãe de Valmorain se radicara em Itália, para fugir do terror imposto pelo jacobino Robespierre. A propensão para decapitar pessoas pelos seus ideais ou os seus títulos, como acontecia em França, dava a volta às tripas de Sancho. Não simpatizava com a nobreza, tão-pouco com a chusma; a república francesa parecia-lhe tão vulgar como a democracia americana. Uns meses mais tarde, quando soube que tinham decapitado Robespierre, na própria guilhotina onde pereceram milhares de vítimas suas, festejou a notícia com uma bebedeira de dois dias. Foi a última vez, porque entre os créoles ninguém era abstémio, mas não consentiam a embriaguez; um homem que perdia a compostura com a bebida não merecia ser aceite em lado nenhum. Valmorain, que tinha ignorado durante anos as advertências do doutor Parmentier sobre o álcool, também teve de se conter, e então descobriu que não bebia por vício, como ele no fundo suspeitava, mas como paliativo para a solidão.
Tal como tinha decidido, os cunhados não chegaram a Nova Orleães misturados com os outros refugiados, mas como donos de uma plantação de açúcar, o mais privilegiado escalão no sistema de castas. A visão de Sancho para adquirir terras resultara providencial. «Não te esqueças que o futuro está no algodão, cunhado. O açúcar tem má fama», avisou Valmorain. Circulavam histórias pavorosas sobre a escravidão nas Antilhas e os abolicionistas estavam empenhados numa campanha internacional para sabotar o açúcar contaminado pelo sangue. «Crê em mim, Sancho, mesmo que os torrões fossem coloridos, o consumo continuará a aumentar. O ouro doce é mais viciante do que o ópio», tranquilizou-o Valmorain. Ninguém falava sobre isso no fechado círculo da boa sociedade. Os créoles afirmavam que as atrocidades das ilhas não aconteciam na Louisiana. Entre essa gente, ligada por uma complicada trama de relações familiares, onde não se podia manter segredos — mais tarde ou mais cedo, sabia-se tudo -, a crueldade era malvista e inconveniente, porque só um néscio danificava a sua propriedade. Por outro lado, o clero, encabeçado pelo religioso espanhol Frei António de Sedella, conhecido como Père Antoine, temido pela sua fama de santo, encarregava-se de insistir na sua responsabilidade perante Deus pelos corpos e as almas dos seus escravos.
Quando iniciou contactos para adquirir mão-de-obra para a plantação, Valmorain deparou-se com uma realidade muito diferente da de Saint-Domingue, porque o preço dos escravos era alto. Isso significava um investimento maior do que o calculado e tinha de ser prudente com as despesas, mas sentiu-se secretamente aliviado. Agora existia uma razão prática para cuidar dos escravos, não apenas escrúpulos humanitários, que podiam ser interpretados como fraqueza. O pior dos vinte e três anos em Saint-Lazare, pior do que a loucura da mulher, o clima que corroía a saúde e esmigalhava os princípios do homem mais decente, a solidão e a fome de livros e conversação, tinha sido o poder absoluto que exercia sobre outras vidas, com a sua carga de tentações e degradação. Assim como o doutor Parmentier defendia, a revolução de Saint-Domingue era a desforra inevitável dos escravos contra a brutalidade dos colonos. A Louisiana oferecia a Valmorain a oportunidade de reviver os seus ideais da juventude, adormecidos no rescaldo da memória. Começou a sonhar com uma plantação-modelo capaz de produzir tanto açúcar como Saint-Lazare, mas onde os escravos levassem uma vida humana. Desta vez, teria o máximo cuidado com a escolha dos capatazes e do seu chefe. Não desejava outro Prosper Cambray.
Sancho empenhou-se a cultivar amizades entre os créoles, sem as quais não podiam prosperar, e em pouco tempo converteu-se na alma das tertúlias, com a sua voz de seda para as canções à guitarra, a sua boa capacidade para perder nas mesas de jogo, os olhos lânguidos e o humor fino com as matriarcas, que não olhava a meios para as lisonjear porque, sem a sua aprovação, ninguém atravessava a ombreira das suas casas. Jogava bilhar, backgammon, dominó e cartas, dançava com graça, nenhum assunto o apanhava desprevenido e tinha a arte de se apresentar sempre no lugar e no momento certos. O seu passeio favorito era o caminho arborizado do dique que protegia a cidade de inundações, onde se misturava com toda a gente, desde as famílias distintas até à plebe ruidosa de marinheiros, escravos, gente livre de cor e inevitáveis kaintocks(1), com a sua reputação de ébrios, criminosos e mulherengos. Esses homens desciam pelo Mississipi desde o Kentucky e outras regiões do Norte para vender os seus produtos, tabaco, algodão, peles, madeira, enfrentando pelo caminho índios hostis e mil outros perigos; precisamente por isso, andavam bem armados. Em Nova Orleães, vendiam os botes como lenha, divertiam-se umas duas semanas e depois empreendiam a árdua viagem de regresso.
Apenas para ser visto, Sancho assistia aos espectáculos de teatro e ópera, assim como ia à missa aos domingos. O seu simples fato preto, o cabelo apanhado em rabo-de-cavalo e o bigode bem cofiado contrastavam com as indumentárias de brocados e rendas dos franceses, dando-lhe um ar levemente perigoso que atraía as mulheres. As suas atitudes eram impecáveis, requisito essencial na classe alta, onde o uso correcto do garfo era mais importante do que as condições morais de um indivíduo. Tão esplêndidas virtudes de nada teriam servido a esse espanhol algo excêntrico sem o parentesco com Valmorain, francês de pura cepa e rico, mas, assim que entrava nos salões, ninguém pensava em expulsá-lo. Valmorain era viúvo, apenas com quarenta e cinco anos, nada malparecido, embora com vários quilos a mais, e naturalmente as matriarcas do Vieux Carré procuraram caçá-lo para uma filha ou sobrinha. Também o cunhado de apelido impronunciável era candidato, porque era preferível um genro espanhol à vergonha de uma filha solteira.
Fizeram-se comentários, mas ninguém se opôs quando esses dois estrangeiros alugaram uma das mansões do bairro e quando, mais tarde, o proprietário lha vendeu. Tinha dois pisos e mansarda, mas não dispunha de cave porque Nova Orleães estava (1) Nome dado pelos créoles aos naturais do Kentucky. (N. do T.) construída sobre a água e bastava cavar um palmo para se ficar molhado. Os mausoléus do cemitério ficavam altos para que os mortos não saíssem a navegar cada vez que havia um temporal. Como muitas outras, a casa de Valmorain era de tijolo e madeira, ao estilo espanhol, com uma larga entrada para o coche, pátio empedrado com paralelepípedos, uma fonte de azulejos e frescas varandas com grades de ferro cobertas com fragrantes trepadeiras. Valmorain decorou-a evitando a ostentação, sinal de novo-riquismo. Nem sequer era capaz de assobiar, mas investiu em instrumentos musicais porque, nos serões sociais, as senhoritas brilhavam ao piano, harpa ou clavicórdio, e os cavalheiros à guitarra.
Maurice e Rosette tiveram de aprender música e dança com tutores privados, como outras crianças ricas. Um refugiado de Saint-Domingue dava-lhes aulas de música batendo-lhes com uma vara, e um gordito melindroso ensinava-lhes as danças na moda batendo-lhes também com uma vara. No futuro, isso seria tão útil a Maurice como a esgrima, para se bater em duelo e jogos de salão, e a Rosette servir-lhe-ia para entreter as visitas, mas sem nunca competir com as meninas brancas. Tinha graça e boa voz; em contrapartida, Maurice herdara o péssimo ouvido do pai e assistia às aulas com a atitude resignada de um prisioneiro num galeão. Preferia os livros, que de pouco lhe serviam em Nova Orleães, onde o intelecto era visto como suspeito; muito mais apreciado era o talento para a conversa fútil, a galanteria e a boa-vida.
A Valmorain, habituado a uma existência de eremita em Saint-Lazare, as horas de conversa banal nos cafés e bares para onde Sancho o arrastava pareciam perdidas. Tinha de fazer um esforço para participar em jogos e apostas, detestava a luta de galos, que deixavam a assistência salpicada de sangue, e as corridas de cavalos e de galgos, onde perdia sempre. Em todos os dias da semana havia uma tertúlia num salão diferente, presidida por uma matrona que geria os participantes e as piadas. Os homens solteiros andavam de casa em casa, sempre com uma prenda, regra geral uma sobremesa monstruosa de açúcar e nozes, pesada como uma cabeça de vaca. Segundo Sancho, as tertúlias eram obrigatórias nessa sociedade fechada. Danças, soirées, piqueniques, sempre as mesmas caras e nada para dizer. Valmorain preferia a plantação, mas compreendeu que a sua tendência para se excluir seria interpretada na Louisiana como avareza.
Os salões e a sala de jantar da casa da cidade ficavam no primeiro piso, os quartos no segundo e a cozinha e o alojamento dos escravos no pátio traseiro, separados. As janelas davam acesso a um jardim pequeno, mas bem tratado. A divisão mais espaçosa era a sala de jantar, como em todas as casas créoles, onde a vida girava à volta da mesa e o orgulho da hospitalidade. Uma família respeitável possuía baixela para vinte e quatro comensais, pelo menos. Um dos quartos do primeiro piso dispunha de entrada separada e destinava-se aos filhos solteiros; assim podiam andar na pândega sem ofender as damas da família. Nas plantações, essas garçonnières eram pavilhões octogonais, em vez de um quarto entre o do pai e o do tio Sancho.
Tété e Rosette não estavam alojadas com os outros sete escravos — cozinheira, lavadeira, cocheiro, costureira, duas criadas de quarto e um rapaz para os recados — e dormiam as duas na mansarda, entre as grandes arcas de roupa da família. Como de costume, Tété tomava conta da casa. Uma campainha com um cordão ligava os quartos e servia para Valmorain a chamar à noite.
Sancho adivinhou, assim que viu Rosette, a relação do seu cunhado com a escrava e antecipou o problema. «O que vais fazer com Tété quando te casares?», perguntou a Valmorain de supetão, que nunca tinha mencionado o assunto diante de ninguém e que, apanhado de surpresa, murmurou que não pensava casar-se. «Se continuarmos a viver debaixo do mesmo tecto, um dos dois vai ter de o fazer ou vão pensar que somos invertidos», concluiu Sancho.
Na confusão da fuga de Le Cap, naquela noite fatídica, Valmorain tinha perdido o seu cozinheiro, que permaneceu escondido quando ele fugiu com Tété e as crianças, mas não o lamentou, porque em Nova Orleães necessitava de alguém conhecedor da cuisine créole. As suas novas amizades avisaram-no que não deveria comprar a primeira cozinheira que lhe oferecessem no Maspero Echange, apesar de ser o melhor mercado de escravos da América, ou nos estabelecimentos da Rua Chartres, onde os disfarçavam com roupa elegante para impressionar os clientes, mas não havia garantia nenhuma quanto à qualidade. Os melhores escravos eram negociados em privado entre familiares ou amigos. Foi assim que adquiriu Célestine, com cerca de quarenta anos, mãos mágicas para refogados e pastelaria, treinada por um dos exímios cozinheiros franceses do marquês de Marigny e vendida porque ninguém aguentava as suas birras. Tinha atirado um prato de gumbo(1) de marisco aos pés do imprudente marquês porque se atreveu a pedir mais sal. Essa rábula não assustou Valmorain, pois a tarefa de lidar com ela seria de Tété. Célestine era fraca, seca e ciumenta, não permitia que ninguém pusesse os pés na sua cozinha e na sua despensa, ela mesma escolhia os vinhos e licores e não admitia sugestões quanto ao menu. Tété explicou-lhe que devia ter cuidado com as especiarias porque o amo sofria de dores de estômago. «Que se aguente. Se quer canja de doente, preparas-lha tu», respondeu-lhe, mas, desde que ela reinava entre as panelas, Valmorain estava saudável. Célestine cheirava a canela e, em segredo para que ninguém suspeitasse da sua fraqueza, preparava para as crianças beignets leves como suspiros, tarte tatin com maçãs caramelizadas, crepes de tangerinas com creme, mousse au chocolat com bolachas de mel, e outras delícias, que confirmavam a teoria de que a humanidade nunca se cansaria de consumir açúcar. Maurice e Rosette eram os únicos habitantes da casa que não temiam a cozinheira.
(1) Guisado típico da cozinha cajun. (N. do T.)
A existência de um cavalheiro créole decorria ociosa, o trabalho era um vício dos protestantes em geral e dos americanos em particular. Valmorain e Sancho viam-se em apertos para disfarçar os esforços que exigia pôr a andar a plantação, abandonada há mais de dez anos, desde a morte do dono e a falência escalonada dos herdeiros.
A primeira coisa a tratar foi arranjar escravos, uns cento e cinquenta para começar, bastante menos do que os que havia em Saint-Lazare. Valmorain instalou-se num canto da casa em ruínas, enquanto construíam outra segundo a planta de um arquitecto francês. As barracas de escravos, carcomidas pelo caruncho e a humidade, foram demolidas e substituídas por cabanas de madeira, com tectos salientes para fazer sombra e proteger da chuva, com três divisões para albergar duas famílias cada uma, alinhadas em ruelas paralelas e perpendiculares com uma pequena praça central. Os cunhados visitaram outras plantações, como tanta gente que chegava sem convite aos fins-de-semana, aproveitando a tradição da hospitalidade. Valmorain concluiu que, comparados com os de Saint-Domingue, os escravos da Louisiana não podiam queixar-se, mas Sancho averiguou que alguns amos mantinham a sua gente quase nua, alimentada com uma mistela que despejavam numa manjedoura, como o pasto dos animais, de onde cada um retirava a sua porção com conchas de ostras, pedaços de telhas ou à mão, porque não dispunham nem de uma colher.
Demoraram dois anos a construir o básico: plantar, instalar um moinho e organizar o trabalho. Valmorain tinha planos grandiosos, mas teve de se concentrar no imediato, mais adiante haveria tempo para tornar realidade a sua fantasia de um jardim, alegretes e pequenas praças, uma ponte decorativa sobre o rio e outros pontos agradáveis. Vivia obcecado com os pormenores, que discutia com Sancho e comentava com Maurice.
— Repara, filho, tudo isto será teu — dizia, indicando os canaviais de cima do seu cavalo. — O açúcar não cai do céu, exige muito trabalho para ser obtido.
— O trabalho é feito pelos negros — observava Maurice.
— Não te iludas. Eles fazem o trabalho manual porque não sabem fazer outra coisa, mas o amo é o único responsável. O êxito da plantação depende de mim e, em certa medida, do teu tio Sancho. Não se corta uma única cana sem o meu conhecimento. Fixa isto bem, porque um dia será a tua vez de tomar decisões e comandar a tua gente.
— Porque não se governam eles sozinhos, papá?
— Não podem, Maurice. Há que lhes dar ordens, são escravos, filho.
— Não gostava de ser como eles.
— Nunca o serás, Maurice — sorriu o pai. — És um Valmorain. Não teria podido mostrar Saint-Lazare ao filho com o mesmo orgulho. Estava decidido a corrigir os erros, fraquezas e omissões do passado e, secretamente, expiar os pecados atrozes de Lacroix, cujo capital tinha usado para comprar aquela terra. Por cada homem torturado e cada menina manchada por Lacroix, haveria um escravo saudável e bem tratado na plantação Valmorain. Isso justificava ter-se apropriado do dinheiro do seu vizinho, que não podia estar mais bem investido.
Sancho não estava demasiado interessado nos planos do seu cunhado, porque não carregava com esse peso na consciência, e só pensava em entreter-se. O conteúdo da sopa dos escravos ou a cor das suas cabanas era-lhe indiferente. Valmorain tinha embarcado numa mudança de vida, mas, para o espanhol, essa aventura era apenas mais uma entre muitas empreendidas com entusiasmo e abandonadas sem arrependimento. Como não tinha nada a perder, uma vez que o seu sócio assumia os riscos, ocorriam-lhe ideias audazes, que costumavam dar resultados surpreendentes, como uma refinaria, que lhes permitiu vender açúcar branco, muito mais rentável do que o melaço de outros plantadores.
Sancho arranjou para chefe de capatazes um irlandês que o assessorou na compra da mão-de-obra. Chamava-se Owen Murphy e estabeleceu, desde o princípio, que os escravos deviam assistir à missa. Era preciso construir uma capela e arranjar padres itinerantes, disse, para fortalecer o catolicismo antes que os americanos se metessem a pregar as suas heresias e aquela gente inocente se condenasse ao inferno. «A moral é o mais importante», anunciou. Murphy esteve completamente de acordo com a ideia de Valmorain de não abusar do chicote. Aquele homenzarrão com aspecto de janízaro(1), coberto de lenços pretos, com cabelo e barba da mesma cor, tinha uma alma doce. Instalou-se com a sua numerosa família numa tenda de campanha, enquanto acabavam de construir a sua casa. A mulher, Leanne, chegava-lhe à cintura, parecia uma adolescente mal alimentada com cara de mosca, mas a sua fragilidade era enganosa: já havia dado à luz seis rapazes e estava à espera do sétimo. Sabia que era do sexo masculino, porque Deus tinha decidido experimentar a sua paciência. Nunca levantava a voz: com um só olhar seu obedeciam os filhos e o marido. Valmorain pensou que Maurice teria, finalmente, com quem brincar e não viveria na sombra de Rosette; aquela manada de irlandeses era de classe social muito inferior à sua, mas eram brancos e livres. Não imaginou que os seis Murphy também viessem a andar pelo beicinho de Rosette, que tinha feito cinco anos e possuía a sufocante personalidade que o seu pai teria desejado para Maurice.
(1) Soldado turco da antiga guarda do sultão, habitualmente amedrontador e violento. (N. do T.)
Owen Murphy tinha trabalhado desde os dezassete anos a dirigir escravos e sabia de cor o que estava errado e certo desse ingrato labor.
— Devem ser tratados como os filhos. Autoridade e justiça, regras claras, castigo, recompensa e um pouco de tempo livre; se não adoecerem — disse ao seu patrão e acrescentou que os escravos tinham o direito de recorrer ao amo por uma sentença de mais de quinze açoites.
— Confio em si, senhor Murphy, isso não será necessário -replicou Valmorain, pouco disposto a adoptar o papel de juiz.
— Para a minha própria tranquilidade, prefiro que seja assim, senhor. Demasiado poder destrói a alma de qualquer cristão, e a minha é fraca — explicou-lhe o irlandês.
Na Louisiana, a mão-de-obra de uma plantação custava um terço do valor da terra, era preciso cuidar dela. A produção estava à mercê de desgraças imprevisíveis, furacões, seca, inundações, pestes, ratos, altas e baixas do preço do açúcar, problemas com a maquinaria e os animais, empréstimos bancários, e outras incertezas; não se devia acrescentar a má saúde ou desânimo dos escravos, disse Murphy. Era tão diferente de Cambray que Valmorain se interrogou se não estaria enganado com ele, mas confirmou que trabalhava sem descanso e impunha a sua presença, sem brutalidade. Os seus capatazes, vigiados de perto, seguiam-lhe o exemplo, e o resultado era que os escravos rendiam mais do que sob o regime de terror de Prosper Cambray. Murphy organizou-os com um sistema de turnos para descansarem da demolidora jornada nos campos. O patrão anterior tinha-o despedido porque lhe ordenou que disciplinasse uma escrava e, enquanto ela gritava a plenos pulmões para impressionar, o chicote de Murphy estalava contra o chão sem lhe tocar. A escrava estava grávida e, como se fazia nesses casos, tinham-na deitado no chão com a barriga num buraco. «Prometi à minha mulher que nunca açoitarei crianças nem mulheres prenhes», foi a explicação do irlandês quando Valmorain lhe perguntou.
Deram dois dias de descanso semanal às pessoas para cultivar as suas hortas, tratar dos seus animais e levar a cabo as suas tarefas domésticas, mas, ao domingo, era obrigatório assistir à missa imposta por Murphy. Podiam tocar música e dançar nas suas horas livres, inclusive assistir de vez em quando — sob a supervisão do chefe dos capatazes — às bambousses, modestas festas de escravos por ocasião de um casamento, um funeral ou outra celebração. Em princípio, os escravos não podiam visitar outras propriedades, mas, na Louisiana, poucos amos ligavam a esse regulamento. O pequeno-almoço na plantação Valmorain consistia numa sopa com carne ou toucinho — nada do fétido peixe seco de Saint-Lazare -, o almoço era tarte de milho, carne salgada ou fresca e pudim, e a ceia uma sopa reconstituinte. Equiparam uma cabana para servir de hospital e conseguiram um médico que vinha uma vez por mês por prevenção e quando o chamavam para uma emergência. Às mulheres grávidas era-lhes dada mais comida e descanso. Valmorain não sabia, porque nunca tinha perguntado, que em Saint-Lazare as escravas pariam de cócoras entre os canaviais, havia mais abortos do que nascimentos e a maior parte das crianças morria antes de fazer três meses. Na nova plantação, Leanne Murphy desempenhava as funções de parteira e cuidava das crianças.
Zarité
No barco, Nova Orleães apareceu como uma lua em quarto minguante a flutuar no mar, branca e luminosa. Quando a vi, soube que não voltaria a Saint-Domingue. Às vezes, tenho estas premonições e não as esqueço, assim, estou preparada para quando se cumprem. A dor de ter perdido Gambo era como uma lança no peito. No porto, esperava-nos Don Sancho, o irmão de Dona Eugenia, que chegara uns dias antes de nós e já tinha a casa onde íamos viver. A rua cheirava a jasmims, não a fumo e sangue, como Le Cap quando foi incendiado pelos rebeldes, que depois se retiraram para continuar a sua revolução noutros lugares. Na primeira semana em Nova Orleães, fiz o trabalho sozinha, ajudada aos poucos por um escravo que nos foi emprestado por uma família conhecida de Don Sancho, mas depois o amo e o cunhado compraram criados. Designaram um tutor para Maurice, Gaspard Sévérin, refugiado de Saint-Domingue como nós, mas pobre. Os refugiados iam chegando pouco a pouco, primeiro os homens para se instalarem como pudessem, e depois as mulheres e os filhos. Alguns traziam as suas famílias de cor e escravos. Nessa altura, eram já aos milhares, porém, as pessoas da Louisiana rejeitavam-nos. O tutor não aprovava a escravatura, creio que era um desses abolicionistas que Monsieur Valmorain detestava. Tinha vinte e sete anos, vivia numa pensão de negros, usava sempre o mesmo traje e tinha as mãos trémulas por causa do medo que passou em Saint-Domingue. Às vezes, quando o amo não estava, eu lavava-lhe a camisa e limpava-lhe as nódoas da casaca, mas nunca consegui tirar o cheiro a suor da sua roupa. Também lhe dava comida para levar, disfarçadamente, para não o ofender. Recebia-a como se me fizesse um favor, mas ficava agradecido e, por isso, permitia que Rosette assistisse às suas aulas. Roguei ao amo que a deixasse estudar e, por fim, cedeu, embora seja proibido educar os escravos, porque tinha planos para ela: queria que tomasse conta dele na velhice e lesse para ele quando lhe faltasse a vista. Tinha-se esquecido que nos devia a liberdade? Rosette não sabia que o amo era seu pai, mas adorava-o na mesma e suponho que, à sua maneira, ele também gostava dela, porque ninguém resistia ao feitiço da minha filha. Rosette foi sempre sedutora, desde pequenina. Gostava de se admirar ao espelho, um hábito perigoso.
Nessa altura, havia muita gente de cor livre em Nova Orleães, porque, sob o governo espanhol, não era difícil obter ou comprar a liberdade; os americanos ainda não nos tinham imposto as suas leis. Eu passava a maior parte do tempo na cidade a tratar da casa e de Maurice, que tinha de estudar, enquanto o amo se deixava ficar na plantação. Não perdia as bambousses dos domingos na Praça do Congo, tambores e dança, apoucos quarteirões da zona onde vivíamos. Agora, muitos são baptistas, porque podem cantar e dançar nas suas igrejas, e assim dá gosto adorar Jesus. O vodu estava a começar, trazido pelos escravos de Saint-Domingue, e misturou-se tanto com as crenças dos cristãos que me custa reconhecê-lo. Na Praça do Congo, dançávamos desde o meio-dia até à noite e os brancos vinham para se escandalizarem, porque, para lhes provocar maus pensamentos, abanávamos o traseiro como um remoinho, e para lhes provocar inveja, esfregávamo-nos como namorados.
De manhã, depois de receber a água e a lenha que distribuem de casa em casa com uma grande carroça, eu saía às compras. O Mercado Francês tinha um par de anos de existência, mas já ocupava vários quarteirões e era o sítio preferido para a vida social, depois do dique. Continua na mesma. Ainda se vende de tudo, desde comida até jóias, e instalaram-se ali adivinhos, feiticeiros e doutores de ervas. Não faltam charlatães, que curam com água tingida com corantes e um tónico de salsaparrilha para a esterilidade, dores de parto, febres reumáticas, vómitos de sangue, cansaço do coração, ossos quebradiços, e quase todas as outras desgraças do corpo humano. Não confio nesse tónico. Se fosse assim tão milagroso, Tante Rose tinha-o usado, mas nunca se interessou pelo arbusto da salsaparrilha, embora se desse nos arredores de Saint-Lazare.
No mercado, fiz amizade com outros escravos e assim aprendi os hábitos da Louisiana. Como em Saint-Domingue, muitas pessoas de cor livres têm educação, vivem dos seus ofícios e profissões, e alguns são donos de plantações. Dizem que costumam ser mais cruéis do que os brancos com os seus escravos, mas nunca me calhou ver. Assim mo contaram. No mercado, vêem-se senhoras brancas e de cor com os seus domésticos carregados de canastras. Não levam nada nas mãos, a não ser luvas e um saquinho bordado com missangas para o dinheiro. Por lei, as mulatas vestem-se com modéstia para não provocar as brancas, mas reservam as suas sedas e as suas jóias para a noite. Os cavalheiros usam gravatas com três voltas, calças de lã, botas altas, luvas de cabrito e chapéu de pêlo de coelho. Segundo Don Sancho, as mestiças de Nova Orleães são as mulheres mais belas do mundo. «Tu podias ser como elas, Tété. Repara como caminham, leves, ondulando as ancas, a cabeça erguida, a garupa alçada, o peito desafiante. Parecem potras de raça. Nenhuma mulher branca consegue andar assim», dizia-me.
Eu nunca serei como essas mulheres, mas Rosette talvez sim. O que ia ser da minha filha? Isso mesmo me perguntou o amo quando voltei a mencionar-lhe a minha liberdade. «Queres que a tua filha viva na miséria? Não se pode emancipar um escravo antes de ter feito trinta anos. Faltam-te seis, por isso, não voltes a incomodar-me com isto.» Seis anos! Eu não conhecia essa lei. Para mim era uma eternidade, mas daria tempo para que Rosette crescesse protegida pelo seu pai.
Os festejos
Em 1795, a plantação Valmorain foi inaugurada com uma festa campestre de três dias, um esbanjamento, tal como Sancho queria e se usava na Louisiana. A casa, de inspiração grega, era rectangular, de dois pisos, rodeada de colunas, com uma arcada no rés-do-chão e uma varanda coberta no andar superior, que dava a volta pelos quatro lados, com quartos luminosos e soalhos de mogno, pintada em tons pastel, como preferiam os créoles franceses e católicos, ao contrário das casas americanas protestantes, que eram sempre brancas. Segundo Sancho, parecia uma réplica açucarada da Acrópole, mas a opinião geral catalogou-a como uma das mais belas mansões do Mississipi. Ainda lhe faltavam adornos, mas não estava nua, porque a encheram de flores e acenderam tantas luzes que as três noites de festejos se tornaram claras como dias. Assistiu a família completa, inclusive o tutor, Gaspard Sévérin, com uma casaca nova, oferta de Sancho, e um ar menos patético, porque no campo comia e apanhava sol. Nos meses de Verão, quando o levaram à plantação para que Maurice continuasse as suas aulas, conseguia enviar o salário inteiro aos seus irmãos, em Saint-Domingue. Valmorain alugou duas barcaças com doze remadores decoradas com toldos às cores para transportar os seus convidados, que chegaram com os seus baús e escravos pessoais, inclusive os seus cabeleireiros. Contratou orquestras de mulatos livres, que se rendiam para que houvesse sempre música, e conseguiu pratos de porcelana e talheres de prata que chegavam para um regimento.
Houve passeios, cavalgadas, caçadas, jogos de salão, danças, e a alma do folguedo foi o infatigável Sancho, muito mais hospitaleiro do que Valmorain, capaz de se sentir à vontade tanto nas pândegas de delinquentes em El Pântano como em festas de etiqueta. As mulheres passavam a manhã a descansar, saíam ao ar livre depois da sesta, com véus espessos e luvas, e à noite ataviavam-se com as suas melhores roupas de gala. À luz suave dos candeeiros, pareciam todas belezas naturais de olhos escuros, brilhantes cabeleiras e pele nacarada, nada de caras sarapintadas e sinais postiços como em França, mas na intimidade do boudoir escureciam as sobrancelhas com carvão, esfregavam pétalas de rosas nas faces, retocavam os lábios com carmim, cobriam as cãs, se as tinham, com borra de café, e metade dos caracóis que transportavam tinham pertencido a outra cabeça. Usavam cores claras e tecidos leves; nem as viúvas recentes se vestiam de preto, uma cor lúgubre que não favorece nem consola.
Nos bailes nocturnos, as damas competiam em elegância, algumas seguidas por um negrito que lhes levava a cauda. Maurice e Rosette, com oito e cinco anos, fizeram a demonstração de uma valsa, polca e cotilhão, que justificou as varadas do mestre e provocou exclamações de deleite entre os presentes. Tété ouviu o comentário de que a menina devia ser espanhola, filha do cunhado, como se chamava? Sancho ou coisa do género. Rosette, vestida de seda branca e sapatilhas pretas e com um laço cor-de-rosa no seu cabelo comprido, bailava com aprumo, enquanto Maurice transpirava de vergonha no seu fato de gala, a contar os passos: dois saltinhos à esquerda, um à direita, vénia e meia-volta, atrás, à frente e vénia. Repetir. Ela conduzia-o, pronta para disfarçar, com uma pirueta de inspiração própria, os tropeções do seu companheiro. «Quando eu for grande, irei a bailes todas as noites, Maurice. Se queres casar-te comigo, é melhor aprenderes», avisava-o nos ensaios.
Valmorain tinha adquirido um mordomo para a plantação e Tété cumpria impecavelmente a mesma função em Nova Orleães, graças às lições do famoso Zacharie em Le Cap. Ambos respeitavam os limites da recíproca autoridade e nas festas calhou-lhes colaborar para que o serviço fosse aceite. Destinaram três escravas só para carregar água e retirar bacios e um rapaz para limpar as caganitas dos dois caniches pertencentes a Mademoiselle Hortense Guizot, que adoeceram. Valmorain contratou dois cozinheiros, mulatos livres, e destinou vários ajudantes a Célestine, a cozinheira da casa. Entre todos, apenas prestaram auxílio na preparação dos peixes e mariscos, aves domésticas e de caça, guisados créoles e sobremesas. Abateram um vitelo e Owen Murphy dirigiu os assados na grelha. Valmorain mostrou, aos seus convidados a fábrica de açúcar, a destilaria de rum e os estábulos, mas o que exibiu com mais orgulho foram as instalações dos escravos. Murphy tinha-lhes dado três dias feriados, roupa e doces, e depois pô-los a cantar em honra da Virgem Maria. Várias senhoras comoveram-se até às lágrimas com o fervor religioso dos negros. Os participantes felicitaram Valmorain, embora mais do que um tenha comentado nas suas costas que, com tanto idealismo, acabaria por se arruinar.
A princípio, Tété não distinguiu Hortense Guizot entre as outras damas, excepto pelos enjoativos cãezitos cagões; falhou-lhe o instinto para adivinhar o papel que essa mulher teria na sua vida. Hortense tinha feito vinte e oito anos e ainda estava solteira, não por ser feia nem pobre, mas porque o noivo, quando ela tinha vinte e quatro, caiu do cavalo, a fazer cabriolas para a impressionar, e partiu o pescoço. Tinha sido um estranho noivado de amor e não por conveniência, como era o habitual entre créoles aristocratas. Denise, a sua escrava pessoal, contou a Tété que Hortense foi a primeira a acudir, a correr, e a vê-lo morto.
«Não conseguiu despedir-se dele», acrescentou. Terminado o luto oficial, o pai de Hortense empenhou-se em procurar-lhe outro pretendente. O nome da jovem andara de boca em boca devido à morte prematura do noivo, mas tinha um passado irrepreensível. Era alta, loira, rosada e robusta, como tantas mulheres da Louisiana, que comiam com apetite e se moviam pouco. O corpete levantava-lhe os seios como melões no decote, para gozo dos olhares masculinos. Hortense Guizot passou os dias a mudar de roupa de duas em duas ou três em três horas, alegre, porque a recordação do noivo não a seguiu na festa. Apoderou-se do piano, cantou com voz de soprano e dançou com brio até ao amanhecer, esgotando todos os seus pares, menos Sancho. Não tinha ainda nascido a mulher capaz de o vergar, como ele dizia, mas admitiu que Hortense era uma adversária formidável. Ao terceiro dia, quando as embarcações tinham partido com a sua carga de cansados visitantes, músicos, criados e cães fraldiqueiros, e os escravos andavam a apanhar o esbanjamento de lixo, chegou Owen Murphy afogueado com a notícia de que um bando de cimarrones vinha rio acima a matar brancos e a incitar os negros à revolta. Tinha-se conhecimento de escravos fugidos apoiados por tribos de índios americanos, mas outros sobreviviam nos pântanos transformados em seres de lama, água e algas, imunes aos mosquitos e ao veneno das serpentes, invisíveis aos olhos dos seus perseguidores, armados com facas e catanas enferrujadas, com pedras cortantes, enlouquecidos de fome e liberdade. Primeiro, pensou-se que os assaltantes eram à volta de trinta, mas duas horas mais tarde já se falava de cento e cinquenta.
— Chegarão até aqui, Murphy? Acha que os nossos negros se podem sublevar? — perguntou-lhe Valmorain.
— Não sei, senhor. Estão perto e podem invadir-nos. Quanto à nossa gente, ninguém pode prever como reagirão.
— Como, não se pode prever? Aqui recebem toda a espécie de considerações, não estariam melhor em lado nenhum! Vá falar com eles! — exclamou Valmorain a passear muito transtornado pela sala.
— Isto não se resolve com conversa, senhor — explicou-lhe Murphy.
— Este pesadelo persegue-me! É inútil tratá-los bem! Estes negros são todos incorrigíveis!
— Calma, cunhado — interrompeu-o Sancho. — Ainda não aconteceu nada. Estamos na Louisiana, não em Saint-Domingue, onde havia meio milhão de negros furiosos e um punhado de brancos impiedosos.
— Devo pôr Maurice a salvo. Prepare um bote, Murphy, vou imediatamente para a cidade — ordenou-lhe Valmorain.
— Isso é que não! — gritou Sancho. — Daqui ninguém sai. Não vamos sair de casa a correr como ratos. Além disso, o rio não é seguro, os revoltosos têm botes. Senhor Murphy, vamos proteger a propriedade. Traga todas as armas de fogo disponíveis.
Alinharam as mesas em cima da mesa da sala de jantar; os dois filhos mais velhos de Murphy, com treze e oito anos, carregaram-nas e depois distribuíram-nas entre os quatro brancos, incluindo Gaspard Sévérin, que nunca tinha apertado um gatilho e não conseguia apontar com as suas mãos trémulas. Murphy dispensou os escravos, os homens fechados nos estábulos e as crianças na casa do amo; as mulheres não sairiam das cabanas sem os seus filhos. O mordomo e Té té ocuparam-se dos domésticos, alvoroçados com a notícia. Todos os escravos da Louisiana tinham ouvido os brancos referir o perigo de uma revolta, mas julgavam que isso só sucedia em lugares exóticos e não conseguiam imaginá-la. Tété destinou duas mulheres para cuidar das crianças, depois ajudou o mordomo a trancar portas e janelas. Célestine reagiu melhor do que se esperava, dado o seu carácter. Tinha trabalhado no duro durante a festa, encolerizada e despótica, a competir com os cozinheiros de fora, uns frouxos descarados que recebiam salário pelo mesmo que ela tinha de fazer de borla, como murmurava. Estava a pôr os pés de molho quando Tété chegou para a informar do que se passava. «Ninguém passará fome», anunciou secamente e pôs-se em acção com os seus ajudantes para os alimentar a todos.
Esperaram esse dia todo, Valmorain, Sancho e o espantado Gaspard Sévérin com as pistolas nas mãos, enquanto Murphy montava guarda em frente dos estábulos e os filhos vigiavam o rio para dar a voz de alarme em caso de necessidade. Leanne Murphy acalmou as mulheres com a promessa de que os seus filhos estavam seguros na casa, onde lhes dariam chávenas de chocolate. Às dez da noite, quando nenhum se conseguia manter de pé por causa do cansaço, chegou Brandan, o mais velho dos filhos de Murphy, a cavalo com um archote numa mão e uma pistola à cintura e a anunciar que se aproximava um grupo de patrulhadores. Dez minutos mais tarde, os homens desmontaram em frente da casa. Valmorain, que durante essas horas tinha revivido os horrores de Saint-Lazare e de Le Cap, recebeu-os com tais manifestações de alívio que Sancho sentiu vergonha dele. Recebeu a informação dos patrulhadores e ordenou que se abrissem garrafas do seu melhor licor para festejar. A crise tinha passado: dezanove negros rebeldes foram detidos, onze estavam mortos e os outros seriam enforcados ao amanhecer. O resto tinha-se dispersado e, provavelmente, dirigiam-se para os seus refúgios nos pântanos. Um dos milicianos, um ruivo com uns dezoito anos, excitado com a aventura da noite e o álcool, garantiu a Gaspard Sévérin que, de tanto viverem no lodo, os enforcados tinham patas de sapo, guelras de peixe e dentes de caimão.
Vários plantadores da zona juntaram-se com entusiasmo às patrulhas para lhes dar caça, um desporto que raras vezes tinham a oportunidade de praticar em grande escala. Tinham jurado esmagar esses negros sublevados até ao último homem. As baixas entre os brancos eram insignificantes: um capataz assassinado, um plantador e três patrulhadores feridos e um cavalo com uma pata partida. Foi possível sufocar a revolta rapidamente porque um escravo doméstico tinha dado a voz de alarme. «Amanhã, quando os rebeldes estiverem pendurados nas cordas, esse homem será livre», pensou Tété.
O fidalgo espanhol
Sancho Garcia del Solar ia e vinha entre a plantação e a cidade, passava mais tempo de bote ou a cavalo do que em qualquer um dos destinos. Tété nunca sabia quando ele ia aparecer na casa da cidade, de dia ou de noite, com o cavalo extenuado, sempre sorridente, buliçoso, glutão. Uma segunda-feira de madrugada, bateu-se em duelo com outro espanhol, um funcionário do governo, nos jardins de Saint-Antoine, o sítio habitual dos cavalheiros para se matarem ou, pelo menos, ferirem-se, única forma de limpar a honra. Era um dos passatempos favoritos e os jardins, com os seus frondosos arbustos, ofereciam a privacidade necessária. Em casa só se soube à hora do pequeno-almoço, quando Sancho chegou com a camisa ensanguentada, a pedir café e conhaque. À gargalhada, anunciou a Tété que só tinha recebido um rasgão nas costelas; em contrapartida, o seu rival ficou com a cara marcada. «Porque se bateram?», perguntou-lhe ela, enquanto lhe limpava o corte da estocada, tão próximo do coração que, se tivesse entrado um pouco mais, teria de o vestir para o cemitério. «Porque me olhou de lado», foi a sua explicação. Depois Tété veio a saber que se tinham batido em duelo por Adi Soupir, uma rapariga mestiça, de curvas perturbadoras, que ambos os homens pretendiam.
Sancho acordava as crianças a meio da noite para lhes ensinar truques com as cartas e, se Tété se opunha, levantava-a pela cintura, dava-lhe duas voltas no ar e começava a explicar-lhe que não é possível sobreviver neste mundo sem armar trapaças, por isso, era melhor aprendê-las o mais cedo possível. De repente, lembrava-se de comer cabrito assado às seis da manhã, pelo que era preciso ir a correr ao mercado à procura do animal, ou anunciava que ia ao alfaiate, perdia-se durante dois dias e regressava ensopado em álcool, acompanhado por vários dos seus compinchas, a quem tinha oferecido hospitalidade. Vestia-se com esmero, embora sobriamente, sondando cada pormenor do seu aspecto no espelho. Treinou o escravo dos recados, um miúdo de catorze anos, a cofiar-lhe o bigode e a barbear-lhe as faces com a navalha espanhola com punho de ouro que pertencia à família Garcia del Solar há três gerações. «Vais casar-te comigo quando eu for grande, tio Sancho?», perguntava-lhe Rosette. «Amanhã mesmo, se quiseres, preciosa», e pregava-lhe um par de beijos sonoros. Tratava Tété como uma parente pobre, com um misto de familiaridade e respeito, salpicado de piadas. Às vezes, quando suspeitava que ela tinha atingido o limite da paciência, trazia-lhe uma prenda e oferecia-lha com um piropo e um beijo na mão, que ela recebia envergonhada. «Cresce depressa, Rosette, antes que me case com a tua mãe», ameaçava, trocista.
De manhã, Sancho ia até ao Café des Emigres, onde se juntava com outros a jogar dominó. As suas divertidas fanfarronices de fidalgo e o seu inalterável optimismo contrastavam com os emigrantes franceses, diminuídos e empobrecidos pelo exílio, que passavam a vida a lamentar a perda dos seus bens, reais ou exagerados, e a discutir política. As más notícias eram que Saint-Domingue continuava mergulhado na violência, tendo os ingleses invadido várias cidades da costa, mas que não conseguiram ocupar o centro do país e, portanto, a possibilidade de tornar a colónia independente parecia mais remota. «Toussaint... Como se chama agora esse maldito? Louverture? Que raio de nome inventou! Bom, esse tal Toussaint, que estava com os espanhóis, trocou de bandeira e agora luta ao lado dos franceses republicanos, que, sem a sua ajuda, estariam quilhados. Antes de se mudar, Toussaint aniquilou as tropas espanholas que estavam sob o seu comando. Os senhores vejam bem se se pode confiar nesta gentalha! O general Laveaux promoveu-o a general e comandante do Cordão Ocidental e agora aquele macaco anda de chapéu emplumado, é de se morrer a rir. Ao que chegámos, compatriotas! A França aliada com os negros! Que humilhação histórica», exclamavam os refugiados entre duas partidas de dominó.
Mas também havia algumas notícias optimistas para os emigrados, como a de que em França a influência dos colonos monárquicos ia aumentando, e o público não queria ouvir nem mais uma palavra sobre os direitos dos negros. Se os colonos obtivessem os votos necessários, a Assembleia seria obrigada a enviar tropas suficientes para Saint-Domingue e a acabar com a revolta. A ilha era uma mosca no mapa, diziam, jamais poderia enfrentar o poderio do Exército francês. Com a vitória, os emigrados poderiam retornar e tudo voltaria a ser como antes. Nessa altura, não haveria misericórdia para os negros, matavam-nos a todos e mandariam vir carne fresca de África.
Por sua vez, Tété ficava ao corrente dos mexericos do Mercado Francês. Toussaint era bruxo e adivinho, podia lançar uma maldição de longe e matar com o pensamento. Toussaint ganhava batalhas umas atrás das outras e as balas não o penetravam. Toussaint gozava da protecção de Jesus, que era muito poderoso. Tété perguntou a Sancho, porque não se atrevia a tocar no tema com Valmorain, se algum dia regressariam a Saint-Lazare, e ele respondeu-lhe que era preciso estar doente para se ir meter naquela carnificina. Isso confirmou o seu pressentimento de que não voltaria a ver Gambo, embora tivesse ouvido o amo fazer planos para recuperar a sua propriedade na colónia.
Valmorain estava concentrado na plantação, que surgiu das ruínas da anterior, onde passava boa parte do ano. Na temporada de Inverno, transferia-se, contrariado, para a casa da cidade, porque Sancho insistia na importância das relações sociais. Tété e as crianças viviam em Nova Orleães e só iam à plantação nos meses de calor e epidemias, quando todas as famílias abastadas escapavam da cidade. Sancho fazia visitas apressadas ao campo, porque continuava com a ideia de plantar algodão. Nunca tinha visto algodão no seu estado primitivo, só nas suas camisas engomadas, e tinha uma visão poética do projecto que não incluía esforço pessoal. Contratou um agrónomo americano e, antes de ter posto a primeira planta na terra, já planeava comprar uma debulhadora de algodão recentemente inventada que, segundo cria, ia revolucionar o mercado. O americano e Murphy propunham alterar os cultivos; assim, quando o solo se cansasse com a cana, plantava-se algodão, e vice-versa.
O único afecto constante no caprichoso coração de Sancho Garcia del Solar era o seu sobrinho. Quando nasceu, Maurice era pequeno e frágil, mas veio a ser mais saudável do que prognosticou o doutor Parmentier, e as únicas febres que teve foram de nervos. O que lhe sobrava em saúde faltava-lhe em dureza. Era estudioso, sensível e chorão, preferia ficar a contemplar um formigueiro no jardim ou a ler histórias a Rosette do que participar nos jogos bruscos dos Murphy. Sancho, cuja personalidade não podia ser mais diferente, defendia-o das críticas de Valmorain. Para não defraudar o pai, Maurice nadava em água gelada, montava cavalos selvagens, espiava as escravas quando tomavam banho e rebolava-se no pó com os Murphy até sangrar pelo nariz, mas era incapaz de matar lebres a tiro ou estripar um sapo vivo para ver como era por dentro. Não tinha nada de arrogante, frívolo ou fanfarrão, como outras crianças criadas com a mesma indulgência. Valmorain andava preocupado porque o seu filho era tão calado e com o coração tão doce, sempre disposto a proteger os mais vulneráveis; pareciam-lhe sinais de fraqueza de carácter.
A escravatura chocava Maurice e nenhum argumento tinha conseguido fazê-lo mudar de opinião. «Onde foi ele buscar essas ideias se viveu sempre rodeado de escravos?», interrogava-se o pai. O rapaz tinha uma profunda e irremediável vocação de justiça, mas aprendeu cedo a não fazer demasiadas perguntas a esse respeito, porque o assunto não era bem aceite e as respostas deixavam-no insatisfeito. «Não é justo!», repetia, magoado perante qualquer forma de abuso. «Quem te disse que a vida é justa, Maurice?», replicava-lhe o seu tio Sancho. Era o mesmo que Tété lhe dizia. O pai impingia-lhe complicados discursos sobre as categorias impostas pela Natureza, que separam os seres humanos e são necessárias para o equilíbrio da sociedade; mais tarde, dar-se-ia conta de que mandar era muito difícil, que obedecer tornava-se muito mais simples.
O menino não tinha maturidade nem vocabulário para rebatê-lo. Tinha uma vaga noção de que Rosette não era livre, como ele, embora, em termos práticos, a diferença fosse imperceptível. Não associava a menina ou Tété com os escravos domésticos, muito menos com os do campo. Tanto sabão lhe esfregaram na boca que deixou de lhe chamar irmã, porém, não tanto pelo mau bocado que passava mas por se sentir apaixonado. Amava-a com esse amor terrível, possessivo, absoluto com que amam as crianças solitárias, e Rosette correspondia-lhe com um carinho sem ciúmes nem angústia. Maurice não imaginava a sua existência sem ela, sem o seu incessante palrar, a sua curiosidade, as suas carícias infantis e a cega admiração que ela lhe manifestava. Com Rosette, sentia-se forte, protector e sábio, porque era assim que ela o via. Tudo lhe provocava ciúmes. Sofria se ela prestava atenção, nem que fosse por um instante, a qualquer um dos filhos de Murphy, se tomava uma iniciativa sem o consultar, se guardava algum segredo. Necessitava de partilhar com ela até os mais íntimos pensamentos, temores e desejos, dominá-la e, ao mesmo tempo, servi-la com total abnegação. Os três anos de idade que os separavam não se notavam, porque ela parecia mais velha e ele parecia mais novo; ela era alta, forte, astuta, vivaz, atrevida, e ele era pequeno, ingénuo, concentrado, tímido; ela pretendia engolir o mundo e ele vivia afligido pela realidade. Ele lamentava de antemão as desgraças que podiam separá-los, mas ela ainda era demasiado criança para imaginar o futuro. Ambos compreendiam, por instinto, que a sua cumplicidade estava proibida, era de vidro, translúcida e quebradiça, e tinham de defendê-la com permanente disfarce. Em frente aos adultos, mantinham uma reserva que a Tété parecia suspeita, por isso os espiava. Se os surpreendia escondidos a acariciarem-se, puxava-lhes as orelhas com uma fúria desproporcionada e depois, arrependida, devorava-os com beijos. Não conseguia explicar-lhes a razão por que essas brincadeiras privadas, tão comuns entre outras crianças, entre eles eram pecado. Na época em que os três partilhavam o quarto, os meninos procuravam-se às apalpadelas no escuro, e depois, quando Maurice dormia sozinho, Rosette visitava-o na sua cama. Tété despertava a meio da noite sem Rosette ao seu lado e tinha de ir buscá-la em bicos dos pés ao quarto do rapaz. Encontrava-os a dormir abraçados, ainda em plena infância, inocentes, mas não o suficiente para ignorar o que faziam. «Se te apanho outra vez na cama de Maurice, vou dar-te uma tareia com uma vara que vais recordar para o resto dos teus dias. Ouviste bem?», ameaçava Tété, aterrada com as consequências que esse amor podia ter. «Não sei como vim aqui ter, mamã», Rosette chorava com uma tal convicção que a mãe chegou a crer que caminhava sonâmbula.
Valmorain vigiava de perto o comportamento do filho, temia que fosse fraco ou padecesse de distúrbios mentais, como a mãe. Essas dúvidas do cunhado pareciam absurdas para Sancho. Pôs o sobrinho em aulas de esgrima e propôs-se ensinar-lhe a sua versão de pugilismo, que consistia em murros e pontapés impunemente. «O primeiro que bate, bate duas vezes, Maurice. Não esperes que te provoquem, atira o primeiro pontapé direito aos tomates», explicava-lhe, enquanto o pequeno choramingava, procurando evitar as pancadas. Maurice era mau para os desportos e, em troca, tinha o capricho pela leitura, herdado do seu pai, o único plantador da Louisiana que incluíra uma biblioteca na configuração da sua casa. Valmorain, em princípio, não se opunha aos livros, ele próprio os coleccionava, mas temia que, de tanto ler, o filho se transformasse num janota. «Acorda, Maurice! Tens de te fazer um homem!», e começava a informá-lo que as mulheres nascem mulheres, mas os homens fazem-se com coragem e dureza. «Deixa-o, Toulouse. Quando chegar o momento, eu próprio me encarregarei de iniciá-lo em coisas de homem», troçava Sancho, mas Tété não lhe achava piada.
Madrasta
Hortense Guizot converteu-se na madrasta de Maurice um ano depois da festa na plantação. Andava há meses a planear a sua estratégia com a cumplicidade de uma dúzia de irmãs, tias e primas determinadas a resolver o drama do seu celibato, que afligia igualmente o seu pai, agora encantado com a perspectiva de atrair Valmorain para o seu galinheiro. Os Guizot eram de uma respeitabilidade irrepreensível, mas não tão ricos como procuravam parecer, e uma união com Valmorain tinha muitas vantagens para eles. A princípio, este não se deu conta da estratégia para caçá-lo e julgou que as atenções da família Guizot se destinavam a Sancho, mais jovem e mais bonito do que ele. Quando o próprio Sancho lhe fez ver o erro, quis fugir para outro continente; sentia-se muito confortável com as suas rotinas de solteirão e espantava-o algo tão irreversível como o casamento.
— Mal conheço essa senhorita, vi-a muito pouco — alegou.
— Também não conhecias a minha irmã e casaste-te logo com ela — recordou-lhe Sancho.
— E olha como me correu mal!
— Os homens solteiros são suspeitos, Toulouse. Hortense é uma mulher estupenda.
— Se te agrada tanto, casa-te tu com ela — replicou Valmorain.
— Os Guizot já me farejaram, cunhado. Sabem que sou um pobre diabo de hábitos dissipadores.
— Menos dissipadores do que os de outros por aqui, Sancho. Em todo o caso, não penso casar-me.
Mas a ideia já estava enraizada e, nas semanas seguintes, começou a considerá-la, primeiro como um disparate e depois como uma possibilidade. Ainda estava a tempo de ter mais filhos, quis sempre uma família numerosa, e a voluptuosidade de Hortense parecia-lhe um bom sinal — a jovem estava pronta para a maternidade. Não sabia que mentia na idade: na realidade, tinha trinta.
Hortense era uma créole de linhagem impecável e suficiente educação; as Ursulinas(1) tinham-lhe ensinado os fundamentos de leitura e escrita, geografia, história, artes domésticas, bordado e catequese, dançava com graça e tinha uma voz agradável. Ninguém duvidava da sua virtude e contava com a simpatia geral, devido ao facto de, pela falta de aptidão daquele noivo incapaz de segurar num cavalo, ter enviuvado antes de se casar. Os Guizot eram pilares da tradição, o pai herdara uma plantação e os dois irmãos mais velhos de Hortense tinham um prestigiado escritório de advogados, única profissão aceitável na sua classe. A linhagem de Hortense compensava a escassez do seu dote e Valmorain desejava ser aceite na sociedade, não tanto por causa dele, mas para preparar o caminho de Maurice.
Apanhado na firme teia urdida pelas mulheres, Valmorain aceitou que Sancho o guiasse nas sinuosidades da corte, mais subtis do que as de Saint-Domingue ou Cuba, onde se apaixonou por Eugenia. «Por enquanto, nada de prendas nem recados para Hortense; concentra-te na mãe. A sua aprovação é essencial», alertou-o Sancho. As raparigas casadouras apresentavam-se muito pouco em público, só umas duas vezes na ópera, acompanhadas pela família em peso, porque, se eram muito vistas, «queimavam-se» e podiam acabar solteiras, a tomar conta dos filhos das irmãs, mas Hortense contava com um pouco mais de liberdade.
(1) Religiosas pertencentes à congregação fundada por Santa Angela de Bréscia, no século XVI. (N. do T.)
Tinha deixado para trás a idade de merecer — entre os dezasseis e vinte e quatro anos — e entrado na categoria de «passada».
Sancho e as harpias casamenteiras arranjaram maneira de convidar Valmorain e Hortense para soirées, como eram apelidados os jantares dançantes de familiares e amigos na intimidade dos lares, onde puderam trocar algumas palavras, embora nunca a sós. O protocolo obrigava Valmorain a anunciar as suas intenções com prontidão. Sancho acompanhou-o para falar com Monsieur Guizot e, em privado, estabeleceram os termos económicos do enlace, cordialmente, mas com claridade. Pouco depois, o compromisso foi celebrado com um déjeuner defiançailles, um almoço onde Valmorain entregou à sua noiva o anel na moda, um rubi rodeado de diamantes engastados em ouro.
Père Antoine, o clérigo mais notável da Louisiana, casou-os numa terça-feira à tarde na catedral, sem mais testemunhas além da restrita família Guizot, ao todo só noventa e duas pessoas. A noiva preferia uma boda privada. Entraram na catedral escoltados pela guarda do governador, e Hortense fez brilhar o vestido de seda bordado com pérolas que tinha sido usado antes pela sua avó, a sua mãe e várias das suas irmãs. Ficava-lhe bastante apertado, embora tivesse ido à costureira. Depois da cerimónia, o bouquet de flores de laranjeira e jasmins foi entregue às freiras para colocar aos pés da Virgem, na capela. A recepção teve lugar em casa dos Guizot, com abundância de pratos sumptuosos preparados pelos mesmos banqueteadores que Valmorain tinha contratado para a festa na sua plantação: faisão recheado com castanhas, patos de escabeche, caranguejos a arder em licor, ostras frescas, peixes de várias espécies, sopa de tartaruga e mais de quarenta sobremesas, além do bolo de casamento, um indestrutível edifício de maçapão e frutos secos.
Depois de os familiares se terem despedido, Hortense esperou pelo seu marido ataviada com uma camisa de musselina e com a sua melena loura solta sobre os ombros, no seu quarto de solteira, onde os seus pais tinham substituído a cama por outra com bal-daquino. Nessa época, faziam furor as camas de noiva com dossel de seda celeste, a imitar um céu límpido de horizonte liberto, e uma profusão de cupidos rechonchudos com arcos e flechas, raminhos de flores artificiais e laços de renda.
Os recém-casados passaram três dias encerrados nessa divisão, como exigia o costume, atendidos por um par de escravos que lhes levavam a comida e lhes retiravam os bacios. Teria sido embaraçoso que a noiva se apresentasse em público, inclusive diante da sua família, enquanto se iniciava nos segredos do amor. Sufocado de calor, aborrecido com a clausura, com dores de cabeça por ter feito, com a sua idade, cabriolas juvenis, e consciente de que lá fora havia uma dúzia de parentes com a orelha colada à parede, Valmorain compreendeu que não se casara só com Hortense, mas com a tribo Guizot. Finalmente, ao quarto dia conseguiu sair daquela prisão e fugir com a sua mulher para a plantação, onde aprenderiam a conhecer-se com mais espaço e mais ar. Nessa semana, precisamente, iniciava-se a temporada do Verão e toda a gente fugia da cidade.
Hortense nunca duvidou que apanharia Valmorain. Antes que as implacáveis alcoviteiras se pusessem em acção, ela mandara bordar, às freiras, lençóis com as iniciais de ambos entrelaçadas. Os que guardava já há uns anos num baú da esperança, perfumados com lavanda, com as iniciais do noivo anterior, não se perderam; mandou-lhes simplesmente coser uma aplicação de flores em cima das letras e foram destinados aos quartos das visitas. Como parte do seu enxoval, levou Denise, a escrava que a servia desde os quinze anos, a única que sabia penteá-la e passar os seus vestidos a ferro como gostava, e outro escravo da casa, que o pai lhe ofereceu como prenda de casamento quando ela lhe manifestou reservas sobre o mordomo da plantação Valmorain. Desejava alguém da sua absoluta confiança.
Sancho voltou a perguntar a Valmorain o que pensava fazer com Tété e Rosette, já que não era possível disfarçar a situação. Muitos brancos mantinham mulheres de cor, mas sempre separadas da família legal. O caso de uma concubina escrava era diferente. Quando o amo se casava, a relação terminava e tornava-se urgente livrar-se da mulher, que era vendida ou enviada para os campos, onde a esposa não a visse, mas isso de ter a amante e a filha na mesma casa, como pretendia Valmorain, era inaceitável. A família Guizot e a própria Hortense compreenderiam que se tivesse consolado com uma escrava durante os seus anos de viuvez, mas agora devia resolver o problema.
Hortense tinha visto Rosette a dançar com Maurice na festa e talvez albergasse suspeitas, embora Valmorain julgasse que não tivesse reparado demasiado no meio do folguedo e da confusão. «Não sejas ingénuo, cunhado, as mulheres têm instinto para estas coisas», replicou Sancho. No dia em que Hortense foi conhecer a casa na cidade, acompanhada pela sua corte de irmãs, Valmorain ordenou a Tété que desaparecesse com Rosette até ao fim da visita. Não desejava fazer nada à pressa, explicou a Sancho. Fiel ao seu carácter, preferiu adiar a decisão, à espera que as coisas se compusessem sozinhas. Não referiu o assunto a Hortense.
Durante um tempo, o amo continuou a deitar-se com Tété quando estavam debaixo do mesmo tecto, mas não lhe pareceu necessário dizer-lhe que pensava casar-se: ela ficou ao corrente pelas piadas que circulavam como uma ventania. Na festa da plantação, tinha conversado com Denise, mulher de língua solta, que voltou a ver no Mercado Francês em mais do que uma ocasião e, através dela, soube que a sua futura ama era de génio arrebatado e ciumenta. Sabia que qualquer mudança seria desfavorável e não conseguiria proteger Rosette. Uma vez mais, verificou, esmagada pela ira e o temor, como era profunda a sua impotência. Se o seu amo lhe tivesse dado oportunidade, ter-se-ia prostrado aos seus pés, ter-se-ia submetido agradecida a todos os seus caprichos, o que quer que fosse desde que a situação se mantivesse como estava, mas logo que foi anunciado o noivado com Hortense Guizot, este não voltou a chamá-la para a cama. «Erzuli, loa mãe, ao menos ampara Rosette.» Pressionado por Sancho, ocorreu a Valmorain a solução temporária de Tété ficar com a menina a tomar conta da casa da cidade, entre Junho a Novembro, enquanto ele ia com a família para a plantação; assim, teria tempo para preparar o ânimo de Hortense. Isso significava mais seis meses de incerteza para Tété.
Hortense instalou-se num quarto decorado a azul imperial, onde dormia sozinha, porque nem ela nem o seu marido tinham o hábito de o fazer acompanhados; e, depois da sufocante lua-de-mel, necessitavam do seu próprio espaço. Os seus brinquedos de criança, as suas arrepiantes bonecas com olhos de vidro e cabelo humano, enfeitavam o seu quarto e os seus caniches dormiam em cima da cama, um móvel com dois metros de largura, pilares trabalhados, baldaquino, almofadas, cortinas, franjas e pompons, mais uma cabeceira de tecido que ela própria tinha bordado a ponto de cruz no colégio das Ursulinas. De cima pendia o mesmo céu de seda com anjinhos gordos que os pais lhe tinham oferecido para o casamento.
A recém-casada levantava-se depois do almoço e passava dois terços da sua vida na cama, onde manejava os destinos alheios.
Na primeira noite de casados, quando ainda estava na casa paterna, recebeu o marido com um déshabillé com peninhas de cisne no decote, muito vincado, mas fatal para ele, porque as penas provocaram-lhe um ataque incontrolável de espirros. Tão mau começo não impediu que consumassem o casamento, e Valmorain teve a agradável surpresa de a sua esposa responder aos seus desejos com mais generosidade do que Eugenia ou Tété alguma vez manifestaram.
Hortense era virgem, mas só. De certo modo, arranjara maneira de burlar a vigilância familiar e ficar ao corrente de coisas de que as solteiras não suspeitavam. O noivo falecido foi para a cova sem saber que ela se lhe tinha entregado ardentemente na sua imaginação e continuaria a fazê-lo nos anos seguintes na privacidade da sua cama, martirizada pelo desejo insatisfeito e o amor frustrado. As suas irmãs casadas tinham-lhe fornecido informação didáctica. Não eram especialistas, mas pelo menos sabiam que qualquer homem aprecia certas manifestações de entusiasmo, embora não demasiadas, para evitar suspeitas. Hortense decidiu por sua conta que nem ela nem o seu marido tinham idade para hipocrisias. As suas irmãs disseram-lhe que a melhor maneira de dominar o marido era fazer-se de tonta e dar-lhe prazer na cama. O primeiro preceito haveria de se revelar muito mais difícil para ela do que o segundo, que de tonta não tinha nem um pêlo.
Valmorain aceitou como uma prenda a sensualidade da sua mulher sem lhe fazer perguntas, cujas respostas preferia não saber. O corpo contundente de Hortense, com as suas curvas e reentrâncias, recordava-lhe o de Eugenia antes da loucura, quando ainda transbordava do vestido e nua parecia feita de massa de amêndoa: pálida, macia, fragrante, tudo abundância e doçura. Depois, a infeliz reduziu-se a um espantalho e só a conseguia abraçar se estava embrutecido pelo álcool e desesperado. No resplendor dourado das velas, Hortense era um gozo para a vista, uma ninfa opulenta das pinturas mitológicas. Sentiu renascer a sua vitalidade, que já dava como irremediavelmente diminuída. A sua esposa excitava-o como antes o fizeram Violette Boisier no seu piso da Praça Clugny e Tété na sua voluptuosa adolescência. Espantava-o aquele ardor renovado todas as noites e, às vezes, inclusive ao meio-dia, quando chegava de supetão, com as botas enlameadas, e a surpreendia a bordar entre os almofadões da sua cama, expulsava os cães com a mão e deixava-se cair em cima dela com a alegria de voltar a sentir-se com dezoito anos. Numa dessas piruetas, soltou-se um cupido do céu da cama e caiu-lhe na nuca, aturdindo-o por breves minutos. Despertou coberto de suores frios, porque nas brumas da inconsciência apareceu-lhe o seu antigo amigo Lacroix a exigir-lhe o tesouro que lhe tinha roubado.
Na cama, Hortense exibia a melhor parte do seu carácter: inventou piadas levianas, como tecer a croché um primoroso carapuço com lacinhos para o pirilau do marido, e outras mais pesadas, como assomar uma tripa de frango pelo rabo e anunciar que lhe estavam a sair os intestinos. Tanto se enredaram nos lençóis com as iniciais das freiras que acabaram por gostar mesmo um do outro, tal como ela tinha previsto. Estavam feitos para a cumplicidade do matrimónio, porque eram essencialmente diferentes: ele receoso, indeciso e fácil de manipular; ela possuía a determinação implacável que a ele lhe faltava. Juntos moveriam montanhas.
Sancho, que tanto lutou pelo casório do cunhado, foi o primeiro a captar a personalidade de Hortense e a arrepender-se. Fora do seu quarto azul, Hortense era outra pessoa, mesquinha, avarenta e aborrecida. Só a música conseguia elevá-la por breves instantes acima do seu devastador senso comum, iluminando-a com um fulgor angélico, enquanto a casa se enchia de trinados trémulos que pasmavam os escravos e provocavam uivos nos cães fraldiqueiros. Tinha passado vários anos no ingrato papel de solteirona e estava farta de ser tratada com disfarçado desdém; desejava ser invejada e, para isso, o seu marido tinha de se posicionar alto. Valmorain precisaria de muito dinheiro para compensar a sua falta de raízes entre as antigas famílias créoles e o lamentável facto de ser oriundo de Saint-Domingue.
Sancho propôs-se evitar que aquela mulher destruísse a camaradagem fraterna entre ele e o cunhado, e empenhou-se a lisonjeá-la com rodeios, mas Hortense revelou-se imune a esse desbarato de encanto que, a seus olhos, carecia de um fim prático imediato. Não gostava de Sancho e mantinha-o à distância, embora o tratasse com cortesia para não magoar o marido, cuja fraqueza por aquele cunhado lhe era incompreensível. Para que é que precisava de Sancho? A plantação e a casa da cidade eram suas, podia libertar-se desse sócio que não contribuía com nada. «O plano de vir para a Louisiana foi de Sancho, ocorreu-lhe antes da revolução em Saint-Domingue e comprou a terra. Eu não estaria aqui se não fosse ele», explicou-lhe Valmorain quando lhe perguntou. Para ela, essa lealdade masculina era de um sentimentalismo inútil e dispendioso. A plantação começava a dar frutos, faltavam pelo menos três anos até poder declará-la um êxito, e enquanto o marido investia capital, trabalhava e poupava, o outro gastava como um duque. «Sancho é como se fosse meu irmão», disse-lhe Valmorain, com vontade de encerrar o assunto. «Mas não é», replicou ela.
Hortense fechou tudo à chave, partindo do princípio de que os criados roubavam, e impôs medidas de poupança drásticas, que paralisaram a casa. Os torrões de açúcar, que eram cortados com um cinzel de ponta dura como pedra, pendurado num gancho no tecto, eram contados antes de serem colocados no açucareiro e alguém tomava conta do consumo. A comida que sobrava da mesa já não era distribuída entre os escravos, como sempre, mas transformada noutros pratos. Célestine encolerizou-se. «Se querem comer restos de restos e pouco de pouco, não precisam de mim, qualquer negro dos canaviais pode servir-lhes de cozinheiro», anunciou. A sua ama não podia nem vê-la, mas tinha corrido o boato de que as suas pernas de rã com alho, frangos com laranja, gumbo de porco e pastéis de massa folhada com lagostins eram incomparáveis, e quando surgiram dois interessados para comprar Célestine por um preço exorbitante, decidiu deixá-la em paz e voltou a sua atenção para os escravos do campo. Calculou que podiam reduzir paulatinamente a comida, na mesma medida em que aumentava a disciplina, sem afectar demasiado a produtividade. Se dava resultado com as mulas, valia a pena tentá-lo com os escravos. Valmorain opôs-se, no início, a essas medidas, porque não condizia com o seu projecto original, mas a esposa argumentou que era assim que se fazia na Louisiana. O plano durou uma semana, até que Owen Murphy explodiu com uma birra que fez estremecer as árvores e a ama teve de aceitar, contrariada, que os campos, como a cozinha da sua casa, também não eram da sua competência. Murphy impôs-se, mas o clima na plantação mudou. Os escravos da casa andavam em bicos dos pés e os do campo temiam que a ama despedisse Murphy.
Hortense substituía e eliminava os criados como num infindável jogo de xadrez, nunca se sabia a quem pedir algo e ninguém sabia ao certo as suas obrigações. Isso irritava-a e acabava por bater com um pingalim de cavalo, com que andava na mão como outras senhoras usavam o leque. Convenceu Valmorain a vender o mordomo e substituiu-o pelo escravo que trouxe de casa dos seus pais. Esse homem andava com os chaveiros, espiava o resto do pessoal e mantinha-a informada. O processo de mudança demorou pouco, porque ela contava com o beneplácito incondicional do marido, a quem notificava das suas decisões entre duas cambalhotas de trapezista na cama, «anda cá, meu amor, para me mostrares como se aliviam os seminaristas». Então, quando a casa funcionava a seu gosto, Hortense preparou-se para abordar os três problemas pendentes: Maurice, Tété e Rosette.
Zarité
O amo casou-se, foi com a sua esposa e Maurice para a plantação, e eu fiquei vários meses sozinha com Rosette na casa da cidade. Às crianças deu-lhes um fanico quando os separaram, e depois andaram zangados durante semanas, a culpar Madame Hortense. A minha filha não a conhecia, mas Maurice tinha-lha descrito, a troçar dos seus cantos, dos seus cãezitos, dos seus vestidos e das suas atitudes; era a bruxa, a intrusa, a madrasta, a gorda. Recusou-se a chamar-lhe maman e, como o pai não lhe permitia dirigir-se a ela de outra forma, deixou de lhe falar. Impuseram-lhe que a cumprimentasse com um beijo e ele arranjava sempre maneira de lhe deixar restos de saliva ou comida na cara, até que a própria Madame Hortense o libertou dessa obrigação. Maurice escrevia bilhetes e enviava prendinhas a Rosette, que lhe chegavam através de Don Sancho, e ela respondia-lhe com desenhos e as palavras que sabia escrever. Foi um tempo de incerteza, mas também de liberdade, porque ninguém me controlava. Don Sancho passava boa parte do seu tempo em Nova Orleães, mas não reparava nos pormenores; bastava-lhe ser atendido no pouco que pedia. Tinha-se enamorado pela mestiça por quem se bateu em duelo, uma tal Adi Soupir, e estava mais com ela do que connosco. Fiz averiguações sobre a mulher e não gostei nada do que ouvi. Aos dezoito anos, já tinha fama de frívola, de ambiciosa e de ter tirado a fortuna a vários pretendentes. Foi assim que mo contaram. Não me atrevi a prevenir Don Sancho porque teria ficado furioso. De manhã, ia com Rosette ao Mercado Francês, onde me juntava com outras escravas, e sentávamo-nos à sombra a conversar. Algumas faziam batota com o troco dos seus amos e compravam um copo de refresco ou uma dúzia de ostras frescas temperadas com limão, mas a mim ninguém me pedia contas, pelo que não precisava de roubar. Isso foi antes de Madame Hortense vir para a casa da cidade. Muitas pessoas reparavam em Rosette, que parecia uma menina de boas famílias, com o seu vestido de tafetá e os seus botins de verniz. Gostei sempre do mercado, com as bancas de fruta e legumes, as frituras de comida picante, o ruidoso gentio de compradores, pregadores e charlatães, índios imundos a vender canastras, mendigos mutilados, piratas tatuados, frades e freiras, músicos de rua.
Numa quartafeira, cheguei ao mercado com os olhos inchados, porque tinha chorado muito na noite anterior apensar no futuro de Rosette. Tanto perguntaram as minhas amigas que acabei por admitir os receios que não me deixavam dormir. As escravas aconselharam-me a arranjar um gris-gris para protecção, mas eu já tinha um desses amuletos, um saquito com ervas, ossos, unhas minhas e da minha filha, preparado por um oficiante de vodu. Não me tinha servido para nada. Alguém me falou de Père Antoine, um religioso espanhol com um coração enorme, que servia da mesma maneira senhores e escravos. As pessoas adoravam-no. «Vai confessar-te a ele, tem magia», disseram-me. Nunca me tinha confessado, porque em Saint-Domingue os escravos que o faziam acabavam por pagar os seus pecados neste mundo e não no outro, mas não tinha ninguém a quem recorrer e, por isso, fui vê-lo com Rosette. Esperei um bom bocado, fui a última da fila de suplicantes, cada um com as suas culpas e os seus pedidos. Quando chegou a minha vez não soube o que fazer, nunca tinha estado tão próximo de um houngan católico. Père Antoine ainda era jovem, mas com cara de velho, nariz comprido, olhos escuros e bondosos, barba como crinas de cavalo e patas de tartaruga em sandálias muito usadas. Chamou-nos com um gesto, levantou Rosette e sentou-a nos seus joelhos. A minha filha não o recusou, embora ele cheirasse a alho e o seu hábito estivesse sebento.
— Olha, maman. Tem pêlos no nariz e migalhas na barba — comentou Rosette, deixando-me horrorizada.
— Sou muito feio — respondeu ele, a rir-se.
— Eu sou bonita — disse ela.
— Isso é verdade, filha, e, no teu caso, Deus perdoa o pecado da vaidade. O seu francês soava como espanhol com catarro. Depois de se divertir uns minutos com Rosette, perguntou-me em que podia ajudar-me. Mandei a minha filha brincar lá para fora, para que não ouvisse. Erzuli, loa amiga, perdoa-me, não pensava aproximar-me do Jesus dos brancos, mas a voz carinhosa de Père Antoine desarmou-me e comecei a chorar de novo, apesar de ter desperdiçado muito pranto durante a noite. As lágrimas nunca acabam. Contei-lhe que a nossa sorte pendia de um fio, a nova ama era dura de sentimentos e, quando suspeitasse que Rosette era filha do seu marido, não se ia vingar nele, mas sim em nós.
— Como sabes isso, minha filha? — perguntou-me.
— Tudo se sabe, mon père.
— Ninguém sabe o futuro, só Deus. As vezes, o que mais tememos acaba por ser uma bênção. As portas desta igreja estão sempre abertas, podes vir quando quiseres. Talvez Deus me permita ajudar-te, quando chegar o momento.
— Tenho medo do deus dos brancos, Père Antoine. É mais cruel do que Prosper Cambray.
— Quem?
— O chefe dos capatazes da plantação em Saint-Domingue. Não sou serva de Jesus, mon père. Sirvo os loas que acompanharam a minha mãe desde a Guiné. Pertenço a Erzuli.
— Sim, filha, conheço a tua Erzuli — sorriu o sacerdote. — O meu Deus é igual ao teu Papa Bondye, mas com outro nome. Os teus loas são como os meus santos. No coração humano há espaço para todas as divindades.
— O vodu era proibido em Saint-Domingue, mon père.
— Aqui podes continuar com o teu vodu, minha filha, porque ninguém se importa, desde que não haja escândalo. O domingo é o dia de Deus; vem à missa de manhã e à tarde vais à Praça do Congo dançar com os teus loas. Qual é o problema? Passou-me um trapo imundo, o seu lenço, para que eu limpasse as lágrimas, mas preferi usar a roda da minha saia. Quando nos íamos embora, falou-me das freiras Ursulinas. Nessa mesma noite, falou com Don Sancho. Foi assim.
Época de furacões
Hortense Guizot protagonizou um vendaval de renovação na vida de Valmorain que o encheu de optimismo, ao contrário do que sentiu o resto da família e o pessoal da plantação. Alguns fins-de-semana, o casal recebia hóspedes no campo, segundo a hospitalidade créole, mas as visitas foram diminuindo e terminariam em breve quando se tornou evidente o desgosto de Hortense quando alguém aparecia sem ser convidado. Os Valmorain passavam os dias sós. Oficialmente, Sancho vivia com eles, como tantos outros solteiros próximos de uma família, mas viam-se pouco. Sancho arranjava pretextos para evitá-los e Valmorain sentia falta da camaradagem que sempre tinham partilhado. Agora as suas horas decorriam a jogar às cartas com a mulher, a ouvi-la a trinar no piano, ou a ler, enquanto ela pintava um quadrinho atrás do outro, de donzelas em balances e gatinhos com bolas de lã. Hortense esgrimia a agulha de croché a fazer napperons para cobrir todas as superfícies disponíveis. Tinha mãos brancas e delicadas, gorduchas, com unhas impecáveis, mãos laboriosas para lavores femininos e para bordar, ágeis no teclado, audazes no amor. Falavam pouco, mas entendiam-se com olhares afectuosos e beijinhos soprados de uma cadeira para a outra na enorme sala de jantar, onde ceavam sozinhos, porque Sancho raras vezes aparecia em casa e ela tinha sugerido que Maurice, quando estava com eles, comesse com o seu tutor na pérgula do jardim, se o tempo o permitia, ou na sala de jantar diária, pois assim aproveitava esse bocado para continuar a estudar as lições.
Maurice tinha nove anos, mas agia como uma criança, segundo Hortense, que tinha uma dúzia de sobrinhos e que se considerava especializada na criação de crianças. Fazia-lhe falta conviver com outros rapazes da sua classe social, não só com esses Murphy, tão ordinários. Estava muito mimado, parecia uma menina, era preciso expô-lo aos rigores da vida, dizia.
Valmorain rejuvenesceu, tirou as patilhas e perdeu um pouco de peso com as cambalhotas nocturnas e as quantidades raquíticas que agora eram servidas na sua mesa. Tinha encontrado a felicidade conjugal que não teve com Eugenia. Até o temor de uma rebelião de escravos, que o perseguia desde Saint-Domingue, passou para segundo plano. A plantação não lhe tirava o sono, porque Owen Murphy era de uma competência inexcedível, e o que não conseguia fazer, encarregava o seu filho Brandan, um adolescente forte como o seu pai e prático como a sua mãe, que trabalhava desde os seis anos como uma besta.
Leanne Murphy tinha dado à luz o sétimo filho, idêntico aos seus irmãos, robusto e de cabelo preto, mas arranjava tempo para atender no hospital de escravos, onde ia diariamente com o seu bebé num carrinho. Não podia ver a sua patroa nem pintada. Da primeira vez que Hortense tentou imiscuir-se no seu território, Leanne especou-se em frente dela, com os braços cruzados e uma expressão de calma gélida. Fora assim que dominara o bando dos Murphy durante mais de quinze anos, e também resultou com Hortense. Se o chefe dos capatazes não fosse tão bom empregado, Hortense Guizot tê-los-ia despedido a todos só para esmagar esse insecto da irlandesa, mas estava mais interessada na produção. O seu pai, um plantador com ideias antiquadas, dizia que o açúcar mantivera os Guizot durante gerações e não havia necessidade de experiências, mas ela tinha estudado as vantagens do algodão com o agrónomo americano e, como Sancho, andava a considerar as vantagens desse cultivo. Não podia prescindir de Owen Murphy.
Um forte furacão de Agosto inundou uma boa parte de Nova Orleães; nada de grave, acontecia com frequência e ninguém ficava demasiado preocupado com as ruas convertidas em canais e a água suja a passear-se pelos pátios. A vida continuava a levá-los como sempre, só que encharcados. Nesse ano, os danos foram pequenos, só os mortos pobres emergiram das suas covas a flutuar numa sopa de barro, mas os mortos ricos continuaram a descansar em paz nos seus mausoléus, sem se verem expostos à indignidade de perder os ossos nas mandíbulas de cães vadios. Nalgumas ruas, a água chegou até aos joelhos e vários homens ocuparam-se a transportar gente às costas, de um lado para o outro, enquanto as crianças se divertiam a rebolar nas poças, entre lixo e bosta de cavalo.
Os médicos, sempre alarmistas, avisaram que iria haver uma pavorosa epidemia, mas Père Antoine organizou uma procissão com o Santíssimo à cabeça e ninguém se atreveu a fazer troça desse método para dominar o clima, porque dava sempre resultado. Nessa altura, o sacerdote já tinha fama de santo, embora só estivesse instalado na cidade há três anos. Tinha ali vivido por um breve período, em 1790, quando a Inquisição o enviou para Nova Orleães com a missão de expulsar os judeus, castigar os hereges e propagar a fé a ferro e fogo, mas não tinha nada de fanático e alegrou-se quando os indignados cidadãos da Louisiana, pouco dispostos a aturar um inquisidor, o deportaram para Espanha sem contemplações. Regressou em 1795, como reitor da catedral de Saint-Louis, recentemente construída depois do incêndio da anterior. Chegou disposto a tolerar os judeus, a fazer vista grossa aos hereges e a propagar a fé com compaixão e caridade. Atendia todos por igual, sem distinguir entre livres e escravos, criminosos e cidadãos exemplares, damas virtuosas e de vida fácil, ladrões, corsários, advogados, verdugos, usurários e excomungados. Cabiam todos, lado a lado, na sua igreja.
Os bispos detestavam-no por ser insubordinado, mas o rebanho dos seus fiéis defendia-o com lealdade. Père Antoine, com o seu hábito de capuchinho e a sua barba de apóstolo, era o archote espiritual daquela cidade pecaminosa. No dia a seguir à sua procissão, a água recuou nas ruas e, nesse ano, não houve epidemia.
A casa dos Valmorain foi a única da cidade afectada pela inundação. A água não veio da rua, surgindo sim do solo a borbotar como um suor espesso. Os alicerces tinham resistido heroicamente à perniciosa humidade durante anos, mas aquele ataque insidioso venceu-os. Sancho arranjou um mestre-de-obras e uma equipa de pedreiros e carpinteiros que invadiram o primeiro andar com andaimes, alavancas e roldanas. Transportaram o mobiliário para o segundo andar, onde se amontoaram gavetas e móveis cobertos com lençóis. Tiveram de levantar os paralelepípedos do pátio, fazer drenagens e demolir os alojamentos dos escravos domésticos, enterrados no lamaçal.
Apesar dos transtornos e da despesa, Valmorain estava satisfeito, porque aquele inconveniente dava-lhe mais tempo para abordar o problema de Tété. Durante as visitas que fazia com a sua mulher a Nova Orleães, ele por negócios e ela para fazer vida social, ficavam em casa dos Guizot, um pouco apertada, mas melhor do que um hotel. Hortense não manifestou qualquer curiosidade em ver as obras, mas exigiu que a casa estivesse pronta em Outubro; assim, a família poderia passar a temporada na cidade. A vida no campo era muito saudável; porém, necessitava de afirmar a sua presença entre as pessoas de bem, isto é, os da sua classe. Tinham estado ausentes demasiado tempo.
Sancho chegou à plantação, aquando da conclusão das reparações da casa, alvoroçado como sempre, mas com a impaciência contida de quem tem de resolver um assunto muito desagradável. Hortense notou e soube, por instinto, que se tratava da escrava cujo nome pairava no ar, a concubina. De cada vez que Maurice perguntava por ela ou por Rosette, Valmorain ficava corado. Hortense prolongou o jantar e o jogo de dominó para não dar aos homens a oportunidade de falarem sozinhos. Temia a influência de Sancho, que considerava nefasta, e precisava de preparar o ânimo do seu marido na cama para qualquer eventualidade. Às onze da noite, Valmorain esticou-se a bocejar e anunciou que tinha chegado a hora de ir dormir.
— Preciso de falar contigo em privado, Toulouse — anunciou-lhe Sancho, pondo-se de pé.
— Em privado? Não tenho segredos com Hortense — respondeu-lhe o outro, bem-humorado.
— Claro que não, mas isto é assunto de homens. Vamos para a biblioteca. Desculpe-me, Hortense — disse Sancho, desafiando a mulher com o olhar.
Na biblioteca, esperava-os o mordomo de luvas brancas com a desculpa de servir conhaque, mas Sancho ordenou-lhe que se retirasse e fechasse a porta, depois voltou-se para o seu cunhado e intimou-o a decidir o destino de Tété. Faltavam só onze dias para Outubro e a casa estava pronta para receber a família.
— Não penso fazer mudanças. Essa escrava continuará a servir como sempre e é melhor que o faça de boa vontade — explicou-lhe Valmorain, encurralado.
— Prometeste-lhe a liberdade, Toulouse, inclusive assinaste um documento.
— Sim, mas não quero que me pressione. Fá-lo-ei a seu devido tempo. Se for necessário, contarei tudo a Hortense. Estou seguro de que compreenderá. Porque te interessa tanto este assunto, Sancho? — Porque seria lamentável que afectasse o teu casamento.
— Isso não acontecerá. Até parece que sou o primeiro que se deitou com uma escrava, Sancho, por amor de Deus!
— E Rosette? A sua presença será humilhante para Hortense — insistiu Sancho. — É óbvio que é tua filha. Mas tenho uma maneira de a tirar do meio. As Ursulinas recebem meninas de cor e educam-nas tão bem como às brancas, mas separadas, claro. Rosette podia passar os próximos anos internada nas freiras.
— Não me parece necessário, Sancho.
— O documento que Tété me mostrou inclui Rosette. Quando for livre, vai ter de ganhar a vida, e para isso exige-se uma certa educação, Toulouse. Ou pretendes continuar a mantê-la para sempre? Nessa mesma altura, foi decretado em Saint-Domingue que os colonos residentes fora da ilha, em qualquer lugar menos em França, eram considerados traidores e as suas propriedades seriam confiscadas. Alguns emigrados estiveram dispostos a voltar para reclamar as suas terras, mas Valmorain tinha dúvidas: não havia motivos para supor que o ódio racial tivesse diminuído. Decidiu aceitar o conselho do seu antigo agente em Le Cap, que lhe propôs que registasse temporariamente a habitation Saint-Lazare em seu nome, para evitar que lha tirassem. A Hortense, tal pareceu grotesco; era óbvio que o homem se apoderaria da plantação, mas Valmorain confiava no ancião, que tinha servido a sua família durante mais de trinta anos, e como ela não conseguiu oferecer uma alternativa, assim se fez.
Toussaint Louverture tinha-se convertido no comandante-chefe das forças armadas; entendia-se directamente com o governo de França e anunciara que daria baixa de metade das suas tropas para que regressassem às plantações como mão-de-obra livre. O livre era relativo: deviam cumprir pelo menos três anos de trabalho forçado sob o controlo militar e, aos olhos de muitos negros, isso era um regresso dissimulado à escravidão. Valmorain pensou fazer uma viagem rápida a Saint-Domingue para avaliar a situação por si mesmo, mas Hortense soltou um grito de bradar aos céus. Estava grávida de cinco meses; o seu marido não podia abandoná-la naquele estado e expor a sua vida naquela ilha desgraçada, ainda por cima a navegar no mar alto em plena época de furacões. Valmorain adiou a viagem e prometeu-lhe que se recuperasse a sua propriedade em Saint-Domingue a colocaria nas mãos de um administrador e eles ficariam na Louisiana. Isso tranquilizou a mulher durante um par de meses, mas depois começou a matutar que não deviam ter investimentos em Saint-Domingue. Pela primeira vez, Sancho esteve de acordo com ela. Tinha a pior opinião da ilha, onde tinha estado duas vezes para visitar a sua irmã Eugenia. Propôs vender Saint-Lazare ao primeiro licitador e, com a ajuda de Hortense, deu a volta a Valmorain, que acabou por ceder depois de semanas de indecisão.
Aquela terra estava ligada ao seu pai, ao nome da família, à sua juventude, disse, mas os seus argumentos estamparam-se contra a realidade irrefutável de que a colónia era um curro de gente de todas as cores a matarem-se mutuamente. O humilde Gaspard Sévérin voltou para Saint-Domingue sem ligar aos avisos de outros refugiados, que continuavam a chegar à Louisiana num triste gotejar. As notícias que traziam eram deprimentes, mas Sévérin não conseguira adaptar-se e preferiu voltar a reunir-se com a família, apesar de continuar com os seus pesadelos e as suas mãos trémulas. Teria regressado tão miserável como chegou se Sancho Garcia del Solar não lhe tivesse entregado uma quantia discreta como empréstimo, como disse, embora os dois soubessem que nunca seria devolvida. Sévérin levou a autorização de Valmorain para vender a terra ao agente. Encontrou-o no mesmo endereço que sempre teve, embora o edifício fosse novo, porque o anterior tinha sido reduzido a cinzas no incêndio de Le Cap. Entre os artigos armazenados para exportação que se queimaram nas caves, encontrava-se o féretro de nogueira e prata de Eugenia Garcia del Solar. O ancião continuava com os seus negócios, a vender o pouco que a colónia produzia e a importar casas de madeira de cipreste dos Estados Unidos, que chegavam aos bocados, prontas para serem montadas como brinquedos. A procura era insaciável, porque qualquer escaramuça entre inimigos terminava em incêndio. Já não havia compradores para os objectos que tanto lucro lhe deram no passado: tecidos, chapéus, ferramentas, móveis, óculos, grilhetas, caldeirões para ferver melaço...
Dois meses depois da partida do tutor, Valmorain recebeu a resposta do agente: tinha arranjado um comprador para Saint-Lazare, um mulato, oficial do exército de Toussaint. Podia pagar muito pouco, mas foi o único interessado, e o agente recomendou a Valmorain que aceitasse a oferta porque, desde a emancipação dos escravos e da guerra civil, ninguém dava nada pela terra. Hortense teve de admitir que se tinha enganado redondamente com o agente, que se revelou mais honrado do que seria de esperar naqueles tempos tormentosos em que a bússola andava enlouquecida. O agente vendeu a propriedade, cobrou a sua comissão e mandou o resto do pagamento a Valmorain.
À chicotada
Com a partida de Sévérin, terminaram as aulas privadas de Maurice e começou o seu calvário numa escola para crianças da classe alta em Nova Orleães, onde não aprendia nada mas tinha de se defender dos rufias que se metiam com ele, o que não o tornou mais atrevido, como esperavam o pai e a madrasta, mas mais prudente, como temia o tio Sancho. Voltou a padecer os seus pesadelos dos condenados de Le Cap e urinou duas vezes na cama, mas ninguém soube porque Tété se encarregou de lavar os lençóis às escondidas. Nem sequer contava com o consolo de Rosette, porque o pai não o deixou ir visitá-la às Ursulinas e proibiu-o de a mencionar em frente de Hortense.
Toulouse Valmorain tinha esperado com exagerada apreensão o encontro de Hortense com Tété, porque não sabia que na Louisiana uma coisa tão banal não merecia uma cena. Entre os Guizot, como em toda a família créole, ninguém se atrevia a questionar o patriarca; as mulheres suportavam os caprichos dos maridos desde que fossem discretos, e eram-no sempre. Só a esposa e os filhos legítimos contavam neste mundo e no próximo; seria indigno consumir ciúmes com uma escrava; era melhor reservá-los para as célebres mestiças livres de Nova Orleães, capazes de se apoderarem da vontade de um homem até ao seu último suspiro. Mas mesmo no caso dessas cortesãs, uma dama bem-nascida fingia ignorar e ficava muda; Hortense tinha sido criada assim. O seu mordomo, que ficou na plantação a tomar conta do numeroso pessoal doméstico, tinha-lhe confirmado as suas suspeitas sobre Tété.
— Monsieur Valmorain comprou-a quando ela tinha à volta de nove anos e trouxe-a de Saint-Domingue. É a única concubina que se lhe conhece, ama — disse-lhe.
— E a ranhosa? — Antes de se casar, monsieur tratava-a como uma filha e o jovem Maurice quer-lhe como a uma irmã.
— O meu enteado tem muito que aprender — murmurou Hortense.
Pareceu-lhe um mau sinal que o seu marido tivesse recorrido a complicadas estratégias para manter aquela mulher afastada durante meses; talvez ainda o perturbasse, mas, no dia em que entraram na casa da cidade, tranquilizou-se. Foram recebidos pelos criados em fila e de ponto em branco, com Tété à cabeça. Valmorain fez as apresentações com nervosa cordialidade, enquanto a sua mulher media a escrava de alto a baixo e por dentro e por fora, para finalmente decidir que não representava nenhuma tentação para ninguém e muito menos para o marido que lhe ia comer à mão. A mulata era três anos mais nova do que ela, mas estava gasta pelo trabalho e pela falta de cuidado, tinha calos nos pés, os seios flácidos e uma expressão sombria. Admitiu que era esbelta e digna para ser escrava e que tinha um rosto interessante. Lamentou que o marido fosse tão mole; as ideias tinham subido à cabeça daquela mulher. Nos dias seguintes, Valmorain esmagou Hortense com atenções, que ela interpretou como uma vontade expressa de humilhar a antiga concubina. «Não precisas de te incomodar» pensou, «eu encarregar-me-ei de a pôr no seu lugar.» Mas Tété não lhe deu motivo de queixa. A casa esperava-os impecável, não havia nem sombras da barulheira dos martelos, do lamaçal no pátio, das nuvens de pó e do suor dos pedreiros. Cada coisa estava no seu lugar, as lareiras limpas, as cortinas lavadas, as varandas com flores e os quartos arejados.
A princípio, Tété servia assustada e muda, mas, passada uma semana, começou a descontrair-se, porque aprendeu as rotinas e manias da sua nova ama e esmerou-se para não a provocar. Hortense era exigente e inflexível: uma vez dada uma ordem, por mais irracional que fosse, tinha de ser cumprida. Reparou nas mãos de Tété, compridas e elegantes, e pô-la a lavar roupa, enquanto a lavadeira passava o dia sem fazer nada no pátio, porque Célestine não a quis como ajudante; a mulher era de uma torpeza monumental e cheirava a água suja. Depois decidiu que Tété não podia retirar-se para descansar antes dela: tinha de esperar vestida até que eles regressassem da rua, apesar de se levantar ao amanhecer e ter de trabalhar o dia inteiro a tropeçar com o sono atrasado. Valmorain argumentou, debilmente, que aquilo não era necessário, porque a rapariga dos recados encarregava-se de apagar os candeeiros e fechar a casa e era Denise quem a despia, mas Hortense insistiu. Era déspota com os criados, que tinham de suportar os seus gritos e pancadas, mas faltava-lhe agilidade e tempo para impor-se à chicotada, como na plantação, porque estava inchada com a gravidez e muito ocupada com a sua vida social, soirées e espectáculos, além dos seus cuidados de beleza e saúde.
Depois de almoçar, Hortense ocupava umas horas com os seus exercícios de voz, a vestir-se e a pentear-se. Não emergia antes das quatro ou cinco da tarde, quando estava ataviada para sair e pronta para dedicar toda a sua atenção a Valmorain. A moda imposta por França assentava-lhe bem: vestidos de tecidos leves com cores claras, orlados com gregas, a cintura alta, a saia redonda e ampla com pregas e o imprescindível xaile de renda sobre os ombros. Os chapéus eram sólidas construções de penas de avestruz, fitas e tules que ela mesma transformava. Assim como tinha aprendido a usar as sobras da comida, reciclava os chapéus, tirava pompons de uns para pô-los noutros e tirava flores ao segundo para pôr no primeiro, inclusive tingia as penas sem que perdessem a forma, de maneira que todos os dias apresentava um diferente.
Num sábado à meia-noite, quando estavam há duas semanas na cidade e regressavam do teatro no coche, Hortense perguntou ao marido pela filha de Tété.
— Onde está essa mulatinha, querido? Não a vi desde que chegámos e Maurice não se cansa de perguntar por ela — disse num tom inocente.
— Referes-te a Rosette? — gaguejou Valmorain, desatando o laço do pescoço.
— É assim que se chama? Deve ter a idade de Maurice, não é verdade?
— Vai fazer sete. É bastante alta. Nunca pensei que te recordarias dela, viste-a só uma vez — replicou Valmorain.
— Era bem graciosa a dançar com Maurice. Já tem idade para trabalhar. Podemos obter um bom preço por ela — comentou Hortense, acariciando a nuca do marido.
— Não faço planos de a vender, Hortense.
— Mas já tenho compradora! A minha irmã Olivie ficou com ela debaixo de olho na festa e quer oferecê-la à filha quando fizer quinze anos, dentro de dois meses. Como vamos recusar-lha? — Rosette não está à venda — repetiu ele.
— Espero que não venhas a arrepender-te, Toulouse. Essa ranhosa não nos serve para nada e pode criar-nos problemas.
— Não quero falar mais sobre isso! — exclamou o marido.
— Por favor, não me grites... — murmurou Hortense quase a chorar, a segurar o ventre redondo com as suas mãos enluvadas.
— Perdoa-me, Hortense. Que calor faz neste coche! Mais adiante, tomaremos uma decisão, querida, não há pressa.
Ela compreendeu que tinha cometido um disparate. Tinha de actuar como a sua mãe e as suas irmãs, que moviam fios na sombra, com astúcia, sem se confrontarem com os maridos e fazendo-lhes crer que eram eles quem tomava as decisões. O casamento é como pisar ovos: era preciso andar com muito cuidado.
Quando a sua barriga se tornou evidente e teve de se recolher -nenhuma dama se apresentava em público com a prova de ter copulado -, Hortense permanecia resguardada, a tecer como uma tarântula. Sem se mexer, sabia exactamente o que se passava no seu feudo, as piadas da sociedade, as notícias locais, os segredos das suas amigas e cada passo do infeliz Maurice. Apenas Sancho escapava à sua vigilância, porque era tão desordenado e imprevisível que se tornava difícil seguir-lhe o rasto. Hortense deu à luz no Natal, atendida pelo médico com a melhor reputação de Nova Orleães, na casa invadida pelas mulheres Guizot. Tété e o resto dos domésticos não tinham mãos a medir para servir as visitas. Apesar do Inverno, o ambiente era sufocante e destinaram dois escravos para abanar as ventoinhas do salão e do quarto da senhora.
Hortense já não era nenhuma jovem e o médico avisou-a de que podiam apresentar-se complicações, mas em menos de quatro horas nasceu uma menina tão rubicunda como todos os Guizot. Toulouse Valmorain, ajoelhado ao pé da cama da sua esposa, anunciou que a pequena chamar-se-ia Marie-Hortense, como correspondia à primogénita, e todos aplaudiram emocionados, menos Hortense, que se pôs a chorar de raiva porque esperava um varão para competir com Maurice pela herança.
Puseram a ama-de-leite na mansarda e relegaram Tété para uma cela do pátio, que partilhava com outras escravas. Segundo Hortense, essa medida devia ter sido tomada muito antes para tirar a Maurice o mau hábito de se meter na cama da escrava.
A pequena Marie-Hortense recusava o mamilo com uma tal determinação que o médico aconselhou a substituição da ama de peito antes que a bebé morresse de inanição. Coincidiu com o seu baptismo, que foi festejado com o melhor repertório de Célestine: cabrito com cerejas, patos de escabeche, mariscos picantes, diversos tipos de gumbo, carapaça de tartaruga recheada com ostras, pastelaria de inspiração francesa e um bolo com vários andares coroado por um bercinho de porcelana. Por tradição, a madrinha pertencia à família da mãe, neste caso, uma das suas irmãs, e o padrinho à do pai, mas Hortense não quis que um homem tão desequilibrado como Sancho, único parente do seu marido, fosse o guardião moral da sua filha, e a honra recaiu num dos irmãos dela. Nesse dia, houve prendas para cada convidado — caixas de prata com o nome da menina cheias de amêndoas caramelizadas — e umas moedas para os escravos. Enquanto os convivas comiam à tripa forra, a baptizada bramava com fome, porque também tinha rejeitado a segunda ama de peito. A terceira não chegou a durar dois dias.
Tété tentou ignorar aquele pranto desesperado, mas fraquejou-lhe a vontade e apresentou-se diante de Valmorain para lhe explicar que Tante Rose tinha tratado um caso semelhante em Saint-Lazare com leite de cabra. Enquanto arranjavam uma cabra, pôs arroz a cozer até se desfazer, acrescentou-lhe uma pitada de sal e uma colherzinha de açúcar, coou-o e deu-o à menina. Quatro horas mais tarde, preparou outro cozinhado semelhante, desta vez de aveia, e assim, de papa em papa e com a cabra que ordenhava no pátio, salvou-a. «Às vezes, estas negras sabem mais do que nós», comentou o médico, espantado. Então, Hortense decidiu que Tété regressasse à mansarda para cuidar da sua filha a tempo inteiro. Como a sua ama ainda estava recolhida, Tété não tinha de aguardar pelo canto do galo para se deitar, e, como a menina não a incomodava de noite, pôde, finalmente, descansar.
A ama passou quase três meses de cama, com os cães em cima, a lareira acesa e as cortinas abertas para entrar o sol invernal, consolando-se do aborrecimento com visitas femininas e a comer doces. Nunca tinha apreciado tanto Célestine. Quando finalmente pôs termo ao seu repouso, a pedido da mãe e das irmãs, preocupadas com aquela preguiça de odalisca, nenhum vestido lhe servia, pelo que continuou a usar os mesmos da gravidez, com os arranjos necessários para que parecessem outros. Emergiu da sua prostração com novas presunções, disposta a aproveitar os prazeres da cidade antes que a temporada terminasse e tivessem de ir para a plantação. Saía acompanhada pelo seu marido ou pelos seus amigos para dar umas largas voltas pelo dique, chamado oportunamente o caminho mais longo do mundo, com as suas alamedas e recantos encantadores, onde havia sempre coches para passear, raparigas com as suas guardiãs e jovens a cavalo a espiá-las pelo canto do olho, além da chusma invisível para ela. Às vezes, mandava dois escravos na frente com a merenda e os cães, enquanto ela apanhava ar, seguida de Tété com Marie-Hortense nos braços.
Nessa altura, o marquês de Marigny ofereceu a sua esplêndida hospitalidade a Louis-Philippe, príncipe de França exilado desde 1793, durante a sua prolongada visita à Louisiana. Marigny tinha herdado uma fortuna descomunal quando tinha apenas quinze anos e dizia-se que era o homem mais rico da América. Se não o era, fazia o possível por parecê-lo: acendia os charutos com notas. Era tal o seu esbanjamento e extravagância que até a decadente classe alta de Nova Orleães estava estupefacta. Père Antoine denunciava aquelas exibições de opulência a partir do seu púlpito, recordando aos paroquianos que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico pela porta do céu, mas a sua mensagem de moderação entrava por um ouvido da congregação e saía pelo outro. As famílias mais soberbas arrastavam-se para conseguir um convite de Marigny; nenhum camelo, por muito bíblico que fosse, os faria renunciar a essas festas.
Hortense e Toulouse não foram convidados devido aos seus apelidos, como esperavam, mas graças a Sancho, que se tinha convertido em compincha de farra de Marigny e, entre dois copos, soprou-lhe que os seus cunhados desejavam conhecer o príncipe. Sancho tinha muito em comum com o jovem marquês, a mesma coragem heróica para arriscar o pêlo em duelos por ofensas imaginárias, a energia inesgotável para se divertir, o gosto desmesurado pelo jogo, os cavalos, as mulheres, a boa cozinha e o licor, o mesmo divino desprezo pelo dinheiro. Sancho Garcia del Solar merecia ser um créole de pura cepa, proclamava Marigny, que se gabava de reconhecer um verdadeiro cavalheiro com os olhos fechados.
No dia do baile, a casa Valmorain entrou em estado de emergência. Os criados andaram a trote desde o amanhecer a cumprir as ordens peremptórias de Hortense, escadas a cima e escadas a baixo, com baldes de água quente para o banho, cremes de massagens, infusões diuréticas para desfazer em três horas os pneus com vários anos, pomada para aclarar a cútis, sapatos, vestidos, xailes, fitas, jóias, maquilhagem. A costureira não dava vazão e o cabeleireiro francês teve um desmaio, sendo preciso ressuscitá-lo com esfregas de vinagre. Valmorain, encurralado pela frenética agitação colectiva, foi com Sancho matar o tempo no Café des Emigres, onde nunca faltavam amigos para apostar nas cartas. Finalmente, depois de o cabeleireiro e Denise terminarem de aprontar a torre de caracóis de Hortense, adornada com penas de faisão e um broche de ouro e diamante idêntico ao colar e aos brincos, chegou o momento solene de lhe colocar o vestido de Paris. Denise e a costureira vestiram-lho por baixo, para não tocar no penteado. Era um portento de véus e pregas profundas, que davam a Hortense o aspecto perturbador de uma enorme estátua greco-romana. Quando tentaram fechá-lo nas costas, com trinta e oito minúsculos botões de nácar, verificaram que, por muitos puxões e esforços, não lhe servia porque, apesar dos diuréticos, nessa semana tinha aumentado outro par de quilos com os nervos. Hortense soltou um grito que por pouco não fez os candeeiros em fanicos e atraiu todos os habitantes da casa.
Denise e a costureira recuaram para um canto e agacharam-se no chão à espera da morte, mas Tété, que conhecia mal a ama, teve a infeliz ideia de propor que prendessem o vestido com alfinetes disfarçados com o laço do cinto. Hortense respondeu com outro grito desafinado, pegou no pingalim, que tinha sempre à mão, e atirou-se-lhe em cima a cuspir insultos de marinheiro e a bater-lhe com o ressentimento acumulado contra ela, a concubina, e com a irritação que sentia consigo própria por ter engordado.
Tété caiu de joelhos, encolhida, cobrindo a cabeça com os braços. Zás!, zás!, soava o pingalim e cada gemido da escrava inflamava mais a fogueira da ama. Oito, nove, dez açoites caíram a ressoar como fogachos em brasa, sem que Hortense, vermelha e a transpirar, com a torre do penteado a desmoronar-se em madeixas patéticas, desse mostras de se saciar.
Nesse instante, Maurice irrompeu no quarto como um toiro, afastando quem presenciava a cena paralisado, e com um tremendo empurrão, totalmente inesperado num rapaz que tinha passado os onze anos da sua vida a procurar evitar a violência, atirou a madrasta ao chão. Arrancou-lhe o pingalim e deu-lhe uma pancada destinada a marcar-lhe a cara, mas acertou-lhe no pescoço, cortando-lhe o ar e o grito no peito. Levantou o braço para continuar a bater-lhe, tão fora de si como um segundo antes tinha estado ela, mas Tété arrastou-o como pôde, agarrou-o pelas pernas e puxou-o para trás. O segundo açoite do pingalim caiu sobre as pregas do vestido de musselina de Hortense.
Aldeia de escravos
Mandaram Maurice para um colégio interno em Boston, onde os severos professores americanos fariam dele um homem, como tantas vezes tinha ameaçado o seu pai, através de métodos didácticos e disciplinares de inspiração militar. Maurice partiu com os seus poucos haveres num baú, acompanhado por um guardião contratado para esse fim, que o deixou às portas do estabelecimento com uma palmadinha de consolo no ombro. O menino não conseguiu despedir-se de Tété porque, na manhã a seguir à tareia, a enviaram sem pensar duas vezes para a plantação, com instruções para Owen Murphy a pôr imediatamente a cortar cana. O chefe viu-a chegar cheia de vergões, cada um com a grossura de uma corda para puxar bois, mas, felizmente, nenhum na cara, e mandou-a para o hospital da sua mulher. Leanne, ocupada com um parto complicado, indicou-lhe que aplicasse uma pomada de aloé, enquanto ela se concentrava numa jovem que gritava, aterrada com a tempestade que sacudia o seu corpo há muitas horas.
Leanne, que havia parido sete filhos depressa e sem muitos espaventos, cuspidos pelo seu esqueleto de frango entre dois pais-nossos, apercebeu-se de que tinha uma desgraça entre mãos. Conduziu Tété à parte e explicou-lhe em voz baixa, para que a outra não ouvisse, que o bebé estava atravessado e assim não havia maneira de sair. «Nunca me morreu uma mulher num parto, esta será a primeira», disse num sussurro. «Deixe-me ver, senhora», replicou Tété. Convenceu a jovem a permitir-lhe que a examinasse, oleou uma mão e, com os seus dedos finos e espertos, confirmou que estava pronta e o diagnóstico de Leanne estava certo. Através da pele tensa adivinhava a forma do bebé, como se o visse. Fê-la pôr-se de joelhos com a cabeça apoiada no chão e o traseiro levantado, para aliviar a pressão na pélvis, enquanto lhe massajava o ventre, pressionando com as mãos para o rodar do lado de fora. Nunca tinha realizado esta manobra, mas tinha visto Tante Rose proceder desta forma e não se tinha esquecido. Nesse instante, Leanne não conteve um grito: uma mãozinha esticada tinha assomado pelo canal de nascimento. Tété empurrou-a para dentro da mãe, e continuou a sua tarefa com paciência. Passado algum tempo, que pareceu muito longo, sentiu o movimento da criaturinha, que se voltava lentamente e, por fim, encaixou a cabeça. Não conseguindo evitar um soluço de agradecimento, pareceu-lhe ver Tante Rose a sorrir a seu lado.
Leanne e ela seguraram a mãe, que tinha compreendido o que se estava a passar e colaborava, em vez de se debater louca de medo, e fizeram-na caminhar em círculos, a falar-lhe, a acariciá-la. Lá fora, o Sol tinha-se posto, dando-se conta de que estavam às escuras. Leanne acendeu uma lamparina de sebo e continuaram a passear, até que chegou o momento de receber o bebé. «Erzuli, loa mãe, ajuda-o a nascer», rogou Tété em voz alta. «São Raimundo Nonato, presta atenção, não vais permitir que uma santa africana se te adiante», respondeu Leanne no mesmo tom e as duas desataram-se a rir. Puseram a mãe de cócoras sobre um pano limpo, segurando-a pelos braços, mas dez minutos depois Tété tinha nas mãos um bebé arroxeado, que obrigou a respirar com uma palmada no rabo, enquanto Leanne cortava o cordão umbilical.
Logo que a mãe ficou limpa e com o filho ao peito, apanharam os trapos ensanguentados e os restos do parto e sentaram-se num banco à porta, a descansar sob um negro céu estrelado. Assim as encontrou Owen Murphy, que chegou a balancear com uma lanterna numa mão e um jarro de café quente na outra.
— Como vai esse assunto? — perguntou o homem, passando-lhe o café sem se aproximar muito, porque os mistérios femininos intimidavam-no.
— O teu patrão já tem mais um escravo e eu tenho uma ajudante — respondeu-lhe a mulher, apontando para Tété.
— Não me compliques a vida, Leanne. Tenho ordens para a pôr num grupo nos canaviais — murmurou Murphy.
— Desde quando obedeces às ordens de outro antes das minhas? — sorriu ela, pondo-se em bicos dos pés para beijá-lo no pescoço, onde terminava a sua barba preta.
Assim se fez e ninguém perguntou, porque Valmorain não queria saber e Hortense dera por concluído o aborrecido assunto da concubina e tinha-a tirado da mente.
Na plantação, Tété partilhava uma cabana com três mulheres e duas crianças. Levantava-se como os outros com os toques do sino ao amanhecer e passava o dia ocupada no hospital, na cozinha, com os animais domésticos e os milhares de tarefas de que a encarregavam o chefe dos capatazes e Leanne. O trabalho parecia-lhe leve, comparado com os caprichos de Hortense. Tinha servido sempre em casa e, quando a mandaram para o campo, julgou-se condenada a uma morte lenta, como tinha visto em Saint-Domingue. Não imaginou que encontraria algo semelhante à felicidade.
Havia quase duzentos escravos, alguns vindos de África ou das Antilhas, mas na sua maioria nascidos na Louisiana, unidos pela necessidade de se apoiarem e pela desgraça de pertencerem a outro. Depois do toque da tarde, quando os grupos regressavam dos campos, começava a verdadeira vida na comunidade. As famílias reuniam-se e, enquanto houvesse luz, ficavam lá fora porque nas cabanas não havia espaço nem ar. Da cozinha da plantação mandavam a sopa, que era distribuída num carro de mão, e as pessoas traziam legumes, ovos e, se havia algo para festejar, galinhas ou lebres. Tinham sempre tarefas pendentes: cozinhar, coser, regar a horta, reparar um tecto. A menos que chovesse ou fizesse muito frio, as mulheres tinham tempo para conversar e os homens para jogar com pedrinhas num tabuleiro desenhado no chão ou tocar banjo. As raparigas penteavam-se umas às outras, as crianças corriam, formavam-se grupos para ouvir uma história. Os contos favoritos eram os de Brás Coupé, que aterrorizavam por igual crianças e adultos, um negro manco e gigantesco que rondava os pântanos e se tinha livrado da morte mais de cem vezes.
Era uma sociedade hierárquica. Os mais apreciados eram os bons caçadores, que Murphy mandava à procura de carne, veados, aves e porcos selvagens, para a sopa. No cimo da pirâmide estavam os que possuíam um ofício, como ferreiros ou carpinteiros, e os menos cotados eram os recém-chegados. As avós mandavam, mas quem tinha mais autoridade era o pregador, com uns cinquenta anos e a pele tão escura que parecia azul, encarregado das mulas, dos bois e cavalos de tiro. Dirigia os cantos religiosos com uma irresistível voz de barítono, citava parábolas de santos que inventava e servia de árbitro nas disputas, porque ninguém queria expor os seus problemas fora da comunidade. Os capatazes, embora fossem escravos e vivessem como os outros, tinham poucos amigos. Os domésticos costumavam visitar os alojamentos, mas ninguém gostava deles, porque se davam ares, vestiam-se e comiam melhor e podiam ser espiões do amo. Receberam Tété com cauteloso respeito, porque se soube que tinha virado o bebé dentro da sua mãe. Ela disse que tinha sido um milagre combinado entre Erzuli e São Raimundo Nonato e todos ficaram satisfeitos com a sua explicação, inclusive Owen Murphy, que nunca tinha ouvido falar de Erzuli e a confundiu com uma santa católica.
Durante as horas de descanso os capatazes deixavam os escravos em paz, nada de homens armados a patrulhar, latidos exacerbados de cães selvagens, nem Prosper Cambray nem as sombras do seu chicote enrolado a exigir uma virgem de onze anos para a sua rede. Depois do jantar, Owen Murphy ia com o seu filho Brandan dar uma última vista de olhos e verificar se estava tudo em ordem antes de se retirar para casa, onde a família o esperava para comer e rezar. Não se dava por achado, quando a meio da noite o cheiro a carne assada lhe indicava que alguém tinha ido caçar sarigueias(1) na escuridão. Desde que o homem se apresentasse ao trabalho pontualmente ao amanhecer, não se preocupava.
(1) Mamífero marsupial da América, trepador de movimentos lentos e noctívago. (N. do T.)
Como em todos os sítios, os escravos descontentes partiam ferramentas, provocavam incêndios e maltratavam os animais, mas eram casos isolados. Outros embriagavam-se e havia sempre alguém que ia ao hospital com uma doença fingida para descansar um bocado. Os verdadeiros doentes confiavam nos remédios tradicionais: emplastros de papa aplicados onde doesse, banha de caimão para os ossos artríticos, espinhas cozidas para soltar os vermes intestinais e raízes índias para as cólicas. Foi inútil que Tété tentasse introduzir algumas das fórmulas de Tante Rose. Ninguém queria fazer experiências com a sua própria saúde.
Tété verificou que eram muito poucos os seus companheiros que sofriam da obsessão de fugir, como em Saint-Domingue, e, se o faziam, geralmente regressavam sozinhos ao fim de dois ou três dias, cansados de vaguear pelos pântanos, ou capturados pelos vigilantes de caminhos. Recebiam umas chicotadas e eram reintegrados na comunidade, humilhados, porque não encontravam muita simpatia, ninguém queria problemas. Os frades itinerantes e Owen Murphy massacravam-nos com a virtude da resignação, cuja recompensa estava no céu, onde todas as almas gozavam de igual felicidade. A Tété pareceu que isso era mais conveniente para os brancos do que para os negros; seria melhor que a felicidade estivesse bem distribuída neste mundo, mas não se atreveu a dizê-lo a Leanne, pela mesma razão que assistia às missas com boa cara, para não ofendê-la. Não confiava na religião dos amos. O vodu que ela praticava à sua maneira também era fatalista, mas pelo menos podia sentir o poder divino quando era montada pelos loas.
Até conviver com a gente do campo, a escrava não sabia quão solitária a sua existência tinha sido, sem outro carinho que o de Maurice e Rosette, sem ninguém com quem partilhar recordações e aspirações. Habituou-se rapidamente àquela comunidade, só sentia falta das duas crianças. Imaginava-as sozinhas de noite, assustadas, e a alma quebrava-se-lhe de dor.
— Da próxima vez que Owen for a Nova Orleães vai trazer-te notícias da tua filha — prometeu-lhe Leanne.
— Quando será isso, senhora?
— Terá de ser quando o patrão mandar, Tété. É muito caro ir à cidade e andamos a poupar cada cêntimo.
Os Murphy sonhavam comprar terra e trabalhá-la ombro a ombro com os seus filhos, como tantos outros emigrantes, como alguns mulatos e negros livres. Existiam poucas plantações tão grandes como a de Valmorain; a maioria eram campos médios ou pequenos cultivados por famílias modestas, que, embora possuíssem alguns escravos, estes levavam a mesma existência dos seus amos. Leanne contou a Tété que chegou à América nos braços dos seus pais, que tinham sido contratados como servos numa plantação durante dez anos, para pagar o preço da passagem de barco desde a Irlanda, o que na prática não era diferente da escravatura.
— Sabes que também há escravos brancos, Tété? Valem menos do que os negros, porque não são tão fortes. Pelas mulheres brancas pagam mais. Sabes bem para que são usadas.
— Nunca vi escravos brancos, senhora.
— Nas Barbados há muitos, e aqui também.
Os pais de Leanne não calcularam que os seus patrões lhes cobrariam cada pedaço de pão que punham na boca e que lhes descontariam cada dia que não trabalhassem, mesmo que fosse por culpa do clima, de maneira que a dívida, em vez de diminuir, foi aumentando.
— O meu pai morreu depois de doze anos de trabalho forçado, e a minha mãe e eu continuámos a servir vários anos mais, até que Deus nos enviou Owen, que se apaixonou por mim e gastou todas as suas poupanças para liquidar a nossa dívida. Foi assim que eu e a minha mãe recuperámos a liberdade.
— Nunca imaginei que a senhora tivesse sido escrava — disse Tété, comovida.
— A minha mãe estava doente e morreu pouco depois, mas conseguiu ver-me livre. Sei o que significa a escravidão. Perde-se tudo, a esperança, a dignidade e a fé — acrescentou Leanne.
— O senhor Murphy... — balbuciou Tété, sem saber como colocar a pergunta.
— O meu marido é um bom homem, Tété, procura aliviar a vida da sua gente. Não gosta da escravidão. Quando tivermos a nossa terra, vamos cultivá-la só com os nossos filhos. Iremos para o Norte, lá será mais fácil.
— Desejo-lhes sorte, senhora Murphy, mas aqui ficaremos todos desolados se os senhores se forem embora.
O capitão La Liberté
O doutor Parmentier chegou a Nova Orleães no começo do ano de 1800, três meses depois de Napoleão Bonaparte se ter proclamado Primeiro-Cônsul de França. O médico tinha saído de Saint-Domingue em 1794, depois da matança de mais de mil civis brancos às mãos dos rebeldes. Entre eles havia vários conhecidos seus, e isso, mais a certeza de que não conseguia viver sem Adèle e os seus filhos, decidiu-o a partir. Depois de mandar a sua família para Cuba, com a esperança irracional de que a tempestade amainaria e os seus pudessem voltar. Salvou-se de envolvimentos, conspirações, ataques e matanças por ser um dos poucos médicos que foram ficando, e Toussaint Louverture, que respeitava essa profissão como nenhuma outra, atribuiu-lhe protecção pessoal. Mais do que protecção, era uma ordem dissimulada de detenção, que Parmentier conseguiu violar com a cumplicidade secreta de um dos oficiais mais próximos de Toussaint, o seu homem de confiança, o capitão La Liberté. Apesar da sua juventude — acabava de fazer vinte anos — o capitão tinha dado provas de lealdade absoluta, havia estado ao lado do seu general noite e dia desde há vários anos e este apontava-o como exemplo de verdadeiro guerreiro, corajoso e cauteloso. Não seriam os heróis imprudentes que desafiavam a morte quem ganhariam aquela longa guerra, dizia Toussaint, mas sim homens como La Liberté, que queriam viver. Encarregava-o das missões mais delicadas, pela sua discrição, e as mais audazes, pelo seu sangue-frio.
O capitão era um adolescente quando se colocou sob as suas ordens, chegou quase nu e sem outro capital além de pernas velozes, uma faca de cortar cana afiada como uma navalha e o nome que o seu pai lhe tinha dado em África. Toussaint promoveu-o ao posto de capitão depois de o jovem lhe ter salvado a vida pela terceira vez, quando outro chefe rebelde lhe armou uma emboscada perto de Limbé, onde mataram o seu irmão Jean-Pierre. A vingança de Toussaint foi instantânea e definitiva: arrasou o acampamento do traidor. Numa conversa descontraída ao amanhecer, enquanto os sobreviventes cavavam fossas e as mulheres amontoavam os cadáveres, antes que os abutres ficassem com eles, Toussaint perguntou ao jovem por que motivo lutava.
— Pelo que lutamos todos, meu general, pela liberdade — respondeu este.
-— Já a temos, a escravidão foi abolida. Mas podemos perdê-la a qualquer momento.
— Só se nos atraiçoarmos uns aos outros, general. Unidos somos fortes.
— O caminho para a liberdade é tortuoso, filho. Às vezes dará a impressão que recuamos, pactuamos, perdemos de vista os princípios da revolução... — murmurou o general, observando-o com o seu olhar de punhal.
— Eu estava lá quando os chefes ofereceram aos brancos devolver os negros à escravidão em troca de liberdade para eles, as suas famílias e alguns dos seus oficiais — replicou o jovem, consciente de que as suas palavras podiam ser interpretadas como uma repreensão ou uma provocação.
— Na estratégia da guerra, muito poucas coisas são claras, movemo-nos por entre sombras — explicou Toussaint, sem se alterar. — Por vezes, é necessário negociar.
— Sim, meu general, mas não por esse preço. Nenhum dos seus soldados voltará a ser escravo, todos preferimos a morte.
— Eu também, filho — disse Toussaint.
— Lamento a morte do seu irmão Jean-Pierre, general. -Jean-Pierre e eu queríamo-nos muito, mas as vidas pessoais devem ser sacrificadas pela causa comum. És um bom soldado, rapaz. Vou promover-te a capitão. Gostavas de ter um apelido? Qual, por exemplo?
— La Liberté, meu general — respondeu o outro sem hesitar, pondo-se na posição militar de sentido, que as tropas de Toussaint copiavam dos franceses.
— Bom. A partir de agora serás Gambo La Liberté — disse Toussaint.
O capitão La Liberté decidiu ajudar o doutor Parmentier a sair discretamente da ilha, porque colocou na balança o estrito cumprimento do dever, que Toussaint lhe ensinara, e a dívida de gratidão que tinha para com o médico. Pesou mais a gratidão. Os brancos partiam assim que conseguiam um passaporte e ajeitavam as suas finanças. A maioria das mulheres e crianças partiram para outras ilhas ou para os Estados Unidos, mas para os homens era muito difícil conseguir um passaporte, porque Toussaint precisava deles para engrossar as suas tropas e dirigir as plantações. A colónia estava quase paralisada, faltavam artesãos, agricultores, comerciantes, funcionários e profissionais de todos os ramos, só sobravam bandidos e cortesãs, que sobreviviam em qualquer circunstância. Gambo La Liberté devia ao discreto doutor uma mão do general Toussaint e a sua própria vida. Depois das freiras terem emigrado da ilha, Parmentier dirigia o hospital militar com uma equipa de enfermeiras treinadas por ele. Era o único médico e o único branco do hospital.
No ataque ao forte Belair, uma bala de canhão destruiu os dedos de Toussaint, uma ferida complicada e suja, cuja solução evidente teria sido amputar, mas o general considerava que isso devia ser o último recurso. Com a sua experiência como «doutor de ervas», Toussaint preferia manter os seus pacientes inteiros, enquanto fosse possível. Envolveu a mão com um cataplasma de ervas, montou o seu nobre cavalo, o famoso BelArgent, e Gambo La Liberte conduziu-o a todo o galope ao hospital de Le Cap. Parmentier examinou a ferida assombrado por, sem tratamento e exposta ao pó do caminho, não se ter infectado. Pediu meio litro de rum para atordoar o paciente e duas ordenanças para o segurar, mas Toussaint rejeitou a ajuda. Era abstémio e não permitia que ninguém lhe tocasse, fora da sua família. Parmentier realizou a dolorosa tarefa de limpar as feridas e colocar os ossos, um a um, no seu sítio, sob o olho atento do general, que como único consolo apertava um pedaço de couro entre os dentes. Quando terminou de o ligar e pôr-lhe o braço ao peito, Toussaint cuspiu o couro mastigado, agradeceu-lhe cortesmente e indicou-lhe que tratasse do seu capitão. Então, Parmentier voltou-se pela primeira vez para o homem que tinha levado o general até ao hospital e viu-o apoiado contra a parede, com os olhos vidrados, numa poça de sangue.
Gambo esteve com um pé para a cova duas vezes, durante as cinco semanas em que Parmentier o reteve no hospital, e devolveu-o as duas vezes à vida a sorrir e com a recordação intacta do que tinha visto no paraíso da Guiné, onde o esperava o seu pai e havia sempre música, onde as árvores se dobravam de fruta, os vegetais cresciam sozinhos e os peixes saltavam da água e podiam apanhar-se sem esforço, onde todos eram livres: a ilha debaixo do mar. Tinha perdido muito sangue pelos três buracos de bala que lhe perfuravam o corpo, dois numa coxa e o terceiro no peito. Parmentier passou dias e noites inteiras a seu lado, a lutar com armas desiguais contra a morte, sem nunca se dar por vencido, porque gostou do capitão. Era de uma coragem excepcional, como ele gostaria de ter sido.
— Parece-me que já o vi antes nalgum lugar, capitão — disse-lhe durante um dos terríveis tratamentos.
— Ah! Estou a ver que o senhor não é um desses brancos incapazes de distinguirem um negro de outro — troçou Gambo.
— Neste trabalho, a cor da pele é o menos, sangram todos da mesma maneira, mas confesso-lhe que às vezes me custa distinguir um branco de outro — replicou Parmentier.
— Tem boa memória, doutor. Deve ter-me visto na plantação Saint-Lazare. Eu era o ajudante da cozinheira.
— Não me recordo, mas a sua cara é-me familiar — disse o médico. — Nessa época, eu visitava o meu amigo Valmorain e Tante Rose, a curandeira. Creio que fugiu antes de os rebeldes atacarem a plantação. Não a voltei a ver, mas penso sempre nela. Antes de a conhecer, eu teria começado por lhe cortar esta perna, capitão, e depois tentaria curá-lo com sangrias. Matava-o imediatamente e com a melhor das intenções. Se continua vivo, deve-o aos métodos que ela me ensinou. Tem notícias dela?
— É doutora de ervas e mambo. Tenho-a visto várias vezes, porque até o meu general a consulta. Anda de um acampamento para outro a curar e a aconselhar. E o senhor, doutor, sabe alguma coisa de Zarité?
— De quem?
— Uma escrava do branco Valmorain. Chamavam-lhe Tété.
— Sim, conheci-a. Partiu com o seu amo depois do incêndio de Le Cap, creio que para Cuba — disse Parmentier.
— Já não é escrava, doutor. Tem a sua liberdade num papel assinado e selado.
— Tété mostrou-me esse documento, mas quando saíram daqui ainda não tinham legalizado a sua emancipação — esclareceu-lhe o doutor.
Durante essas cinco semanas, Toussaint Louverture costumava perguntar pelo capitão e a resposta de Parmentier era sempre a mesma, «se quer que lho devolva, não me pressione, general». As enfermeiras estavam apaixonadas por La Liberté e, assim que se pôde sentar, mais de uma deslizava para a sua cama durante a noite, subia para cima dele sem o esmagar e ministrava-lhe com doses comedidas o melhor remédio contra a anemia, enquanto ele murmurava o nome de Zarité. Parmentier não o ignorava, mas concluiu que se o ferido se ia curando assim, pois que continuassem a amá-lo. Finalmente, Gambo recuperou-se o suficiente para subir para o seu corcel, pôr um mosquete ao ombro e partir para se juntar ao seu general.
— Obrigado, doutor. Nunca pensei que viria a conhecer um branco decente — disse-lhe quando se despediu.
— Eu nunca pensei que viria a conhecer um negro agradecido — replicou o doutor, a sorrir.
— Nunca esqueço um favor nem uma ofensa. Espero poder pagar-lhe o que fez por mim. Conte comigo.
— Pode retribuir agora mesmo, capitão, se assim o deseja. Preciso de me juntar à minha família em Cuba e o senhor bem sabe que é quase impossível sair daqui.
Onze dias depois, o bote de um pescador levou o doutor Parmentier a golpes de remo, numa noite sem lua, até a uma fragata ancorada a certa distância do porto. O capitão Gambo La Liberté tinha-lhe conseguido um salvo-conduto e a passagem, uma das poucas manobras que fez nas costas de Toussaint Louverture durante a sua resplandecente carreira militar. Pôs como condição ao médico que, se voltasse a ver Tété, lhe desse um recado: «Diga-lhe que a minha é a guerra e não o amor; que não me espere, porque já a esqueci.» Parmentier sorriu perante a contradição da mensagem.
Ventos adversos empurraram para a Jamaica a fragata em que viajava Parmentier com outros refugiados franceses, mas ali não lhes permitiram desembarcar e, depois de muitas voltas nas correntes traiçoeiras do Caribe, evitando tufões e corsários, chegaram a Santiago de Cuba. O doutor foi por terra até Havana, à procura de Adèle. Durante o tempo em que estiveram separados, não tinha podido enviar-lhe dinheiro e não sabia em que estado de miséria ia encontrar a sua família. Tinha um endereço em seu poder, que ela lhe tinha indicado por carta vários meses antes, e assim chegou a um bairro de casas modestas, mas bem mantidas, numa rua de paralelepípedos, onde as casas eram oficinas de diversos ofícios: correeiros, fabricantes de perucas, sapateiros, marceneiros, pintores e cozinheiras que preparavam comida nos seus pátios para vender na rua. Negras grandes e majestosas, com os seus vestidos de algodão engomado e os seus tignons de cores brilhantes, impregnadas da fragrância de especiarias e açúcar, saíam das suas casas a balançar canastras e bandejas com os seus deliciosos pratos e bolos, rodeadas de crianças nuas e cães. As casas não tinham número, mas Parmentier tinha com ele a descrição e não teve dificuldade em dar com a de Adèle, pintada de azul-cobalto, com tecto de telhas vermelhas, uma porta e duas janelas enfeitadas com vasos de begónias. Um cartaz pendurado na fachada anunciava com letras grandes em espanhol: «Madame Adèle, moda de Paris». Bateu com o coração a galopar, ouviu um latido, uns passos a correr, abriu-se a porta e deparou-se com a sua filha mais nova, um palmo mais alta do que se recordava. A menina deu um grito e atirou-se-lhe ao pescoço, louca de alegria, e poucos segundos depois a família rodeava-o, enquanto os joelhos se lhe dobravam de cansaço e de amor. Tinha imaginado muitas vezes que nunca mais os voltaria a ver.
Refugiados
Adèle tinha mudado tão pouco que usava o mesmo vestido com que partira um ano e meio antes de Saint-Domingue. Ganhava a vida a costurar, como tinha feito sempre, e os seus modestos ganhos dificilmente davam para pagar o aluguer e alimentar a sua prole, mas não fazia parte do seu carácter queixar-se do que lhe faltava, mas sim agradecer o que tinha. Adaptou-se com os seus filhos entre os numerosos negros livres da cidade e dentro em pouco tinha conseguido uma clientela fiel. Conhecia muito bem o ofício da agulha e do dedal, mas não percebia de moda. Violette Boisier encarregava-se dos desenhos. Partilhavam as duas essa intimidade que costuma unir no exílio os que não teriam lançado um segundo olhar ao seu lugar de origem.
Violette tinha-se instalado com Loula numa casa modesta, num bairro de brancos e mulatos, vários níveis mais elevados na hierarquia de classes do que o de Adèle, graças à sua maneira de ser e ao dinheiro poupado em Saint-Domingue. Tinha emancipado Loula contra a sua vontade e internado Jean-Martin numa escola de padres para lhe dar a melhor educação possível. Tinha planos ambiciosos para ele. Aos oito anos, o rapaz, um mulato de cor bronze, era de feições e atitudes tão harmoniosas que, se não usasse o cabelo muito curto, passaria por menina. Ninguém — e muito menos ele próprio — sabia que era adoptado; isso era um segredo selado entre Violette e Loula.
Assim que o seu filho ficou seguro nas mãos dos frades, Violette lançou as suas redes para entrar em contacto com as pessoas bem colocadas que podiam facilitar-lhe a existência em Havana. Movimentava-se entre franceses, porque os espanhóis e os cubanos desprezavam os refugiados que tinham invadido a ilha nos anos recentes. Os grands blancs que chegavam com dinheiro acabavam por partir para as províncias, onde sobrava terra e podiam plantar café ou cana-de-açúcar, mas o resto sobrevivia nas cidades, alguns das suas rendas ou do aluguer dos seus escravos, outros trabalhavam ou faziam negócios, nem sempre legítimos, enquanto o jornal denunciava a concorrência desleal dos estrangeiros, que ameaçava a estabilidade de Cuba.
Violette não precisava de fazer trabalhos mal pagos, como tantos compatriotas, mas a vida era cara e devia ser cuidadosa com as suas poupanças. Não tinha idade nem vontade de voltar à sua antiga profissão. Loula pretendia que caçasse um marido com dinheiro, mas ela continuava a amar Etienne Relais e não queria dar um padrasto a Jean-Martin. Tinha passado a vida a cultivar a arte de ser bem aceite e em breve contava com um grupo de amizades femininas a quem vendia as loções de beleza preparadas por Loula e os vestidos de Adèle; ganhava assim a vida. Essas duas mulheres acabaram por ser suas amigas íntimas, as irmãs que não teve. Tomava com elas o seu cafezinho dos domingos, de chinelas, debaixo do toldo no pátio, a fazer planos e contas.
— Vou ter de contar a Madame Relais que o seu marido morreu — disse Parmentier a Adèle, quando ouviu a história.
— Não é necessário, ela já sabe.
— Como é possível que o saiba?
— Porque se lhe quebrou a opala do anel — explicou-lhe Adèle, servindo-lhe uma segunda dose de arroz com banana frita e carne lardeada.
O doutor Parmentier que nas suas noites solitárias se tinha proposto compensar Adèle do amor sem condições, e sempre às escondidas, que lhe havia dado durante anos, em Havana repetiu a vida dupla que levava em Le Cap e instalou-se numa casa separada, ocultando a sua família aos olhos de toda a gente. Converteu-se num dos médicos mais solicitados entre os refugiados, embora não tenha conseguido aceder à alta sociedade créole. Era o único capaz de curar a cólera com água, sopa e chá, o único suficientemente honesto para admitir que não há remédio contra a sífilis nem o vómito negro, o único que conseguia parar uma infecção numa ferida e impedir que uma picada de um lacrau acabasse num funeral. Tinha o inconveniente de atender da mesma maneira gente de todas as cores. A sua clientela branca suportava-o porque no exílio as diferenças naturais tendem a apagar-se e não estavam em condições de exigir exclusividade, mas não lhe teriam perdoado uma esposa e filhos de sangue mestiço. Foi o que disse a Adèle, embora ela nunca lhe tivesse pedido explicações.
Parmentier alugou uma casa de dois andares num bairro de brancos e destinou o rés-do-chão para consultório e o primeiro para viver. Ninguém sabia que passava as noites a vários quarteirões de distância, numa casita azul-cobalto. Via Violette Boisier aos domingos, em casa de Adèle. A mulher tinha trinta e seis anos muito bem conservados e gozava da boa reputação de uma viúva virtuosa, entre a comunidade de emigrados. Se alguém julgava reconhecer nela uma célebre cocotte de Le Cap, punha a dúvida imediatamente de lado como uma impossibilidade. Violette continuava a usar o anel com a opala partida e não passava um único dia em que não pensasse em Étienne Relais.
Nenhum deles conseguiu adaptar-se em Cuba, e vários anos mais tarde continuavam a sentir-se tão estrangeiros como no primeiro dia, com a agravante de se ter exacerbado o ressentimento dos cubanos contra os refugiados, porque o seu número continuava a aumentar e já não eram grands blancs endinheirados, mas gente arruinada que se aglomerava em bairros, onde fermentavam crimes e doenças. Ninguém gostava deles. As autoridades espanholas perseguiam-nos e povoavam-lhes o caminho de obstáculos legais, com a esperança de que se mudassem de uma vez para sempre.
Um decreto do governo anulou as licenças profissionais que não tinham sido obtidas em Espanha e Parmentier deparou-se a exercer medicina de forma ilegal. De nada lhe servia o selo real de França no seu pergaminho; assim, nessas condições, só podia dar consulta a escravos e pobres, que raras vezes podiam pagar-lhe. Outro inconveniente era o de não ter aprendido uma única palavra de espanhol, ao contrário de Adèle e dos seus filhos, que o falavam a toda a velocidade com sotaque cubano.
Por seu turno, Violette Boisier acabou por ceder à pressão de Loula e esteve quase a casar-se com o dono de um hotel, um galego sessentão, rico e com pouca saúde, perfeito segundo Loula, porque ia despachar-se em breve de morte natural ou com um pouco de ajuda da sua parte e deixá-las seguras. O hoteleiro, com a cabeça perdida por esse amor tardio, não quis esclarecer os boatos de que Violette não era branca, porque lhe era indiferente. Nunca tinha desejado ninguém como aquela mulher voluptuosa, e quando finalmente a teve nos seus braços, descobriu que lhe provocava uma insensata ternura de avô, que para ela era perfeita, porque não competia com a memória de Étienne Relais. O galego abriu a bolsa para que gastasse como uma sultana, se lhe apetecesse, mas esqueceu-se de lhe mencionar que era casado. A sua esposa tinha ficado em Espanha com o filho dos dois, sacerdote dominicano, e nenhum deles estava interessado nesse homem que não viam há vinte e sete anos. Mãe e filho supunham que vivia em pecado mortal, a refocilar com mulheres cuzudas nas depravadas colónias do Caribe, mas desde que lhes mandasse dinheiro com regularidade não lhes importava o estado da sua alma. O hoteleiro julgou que, se casasse com a viúva Relais, a sua família jamais ficaria ao corrente, não fora a intervenção de um ambicioso advogado, que averiguou o seu passado e se propôs deixá-lo na penúria. Compreendeu que não conseguiria comprar o silêncio do legalista, porque a chantagem nunca mais acabaria. Armou-se um enredo epistolar e, uns meses mais tarde, apareceu de improviso o filho frade disposto a salvar o pai das garras de Satanás e a herança das garras daquela meretriz. Violette, aconselhada por Parmentier, renunciou ao casamento, embora continuasse a visitar de vez em quando o seu apaixonado para que não morresse de dor.
Nesse ano, Jean-Martin ia fazer treze anos e há cinco que dizia que ia seguir a carreira militar em França, como o seu pai. Orgulhoso e obstinado, como tinha sido sempre, recusou-se a ouvir as razões de Violette, que não queria separar-se dele e tinha horror ao Exército, onde um rapaz com tão bom aspecto podia acabar sodomizado por um sargento. A insistência de Jean-Martin foi tão determinada que, no final, a mãe acabou por ceder. Violette aproveitou a sua amizade com o capitão de um barco, que tinha conhecido em Le Cap, para o mandar para França. Ali foi recebido por um irmão de Étienne Relais, também militar, que o levou para a Escola de Cadetes de Paris, onde se tinham formado todos os homens da sua família. Sabia que o irmão se casara com uma natural das Antilhas e a cor do rapaz não lhe chamou a atenção; não seria o único com sangue mestiço na Academia.
Tendo em conta que a situação em Cuba se tornava cada vez mais difícil para os refugiados, o doutor Parmentier decidiu experimentar a sorte em Nova Orleães e, se as coisas corressem bem, levaria a família depois. Então, Adèle impôs-se pela primeira vez ao longo dos dezoito anos que estavam juntos e decidiu que não voltariam a separar-se: ou iam todos ou não ia ninguém. Estava disposta a continuar a viver escondida, como um pecado do homem que amava, mas não permitiria que a sua família se desintegrasse. Propôs-lhe que viajassem no mesmo barco, mas ela e as crianças em terceira classe, e que desembarcassem separados, para que não os vissem juntos. Ela própria conseguiu passaportes depois de subornar as respectivas autoridades, como era habitual, e de provar que era livre e mantinha os filhos com o seu trabalho. Não ia para Nova Orleães para pedir esmola, disse ao cônsul com a sua característica suavidade, mas para fazer vestidos.
Quando Violette Boisier soube que os seus amigos pensavam emigrar pela segunda vez, teve uma daquelas fulminantes birras de raiva e choro que costumavam dar-lhe na juventude e de que não tinha voltado a sofrer há muitos anos. Sentiu-se atraiçoada por Adèle.
— Como podes seguir esse homem que não te reconhece como a mãe dos seus filhos? — soluçou.
— Ama-me como lhe é possível — respondeu Adèle, sem se alterar.
— Ensinaste as crianças a fingir em público que não o conhecem! — exclamou Violette.
— Mas mantém-nos, educa-os e ama-os muito. É um bom pai. A minha vida está ligada a ele, Violette, e nunca mais nos vamos separar.
— E eu? O que será de mim aqui sozinha? — perguntou Violette, desconsolada.
— Poderias vir connosco... — sugeriu a amiga.
A ideia pareceu esplêndida a Violette. Tinha ouvido que em Nova Orleães existia uma florescente sociedade de gente de cor que era livre, onde todos poderiam prosperar. Sem perda de tempo, consolou Loula e ambas decidiram que nada as retinha em Cuba. Nova Orleães seria a última oportunidade de lançar raízes e fazer planos para a velhice.
Toulouse Valmorain, que tinha permanecido em contacto com Parmentier durante esses sete anos, através de cartas esporádicas, ofereceu-lhe a sua ajuda e hospitalidade, mas avisou-o de que em Nova Orleães havia mais médicos do que padeiros e a concorrência iria ser forte. Por sorte, a licença real de França era válida na Louisiana. «E aqui não precisará de falar espanhol, meu estimado doutor, porque a língua é o francês», acrescentou na sua carta. Parmentier desceu do barco e caiu nos braços do seu amigo, que o esperava no molhe. Não se viam desde 1793. Valmorain não se recordava dele tão pequeno e frágil e, por sua vez, Parmentier não se recordava dele tão redondo. Valmorain tinha um novo ar de satisfação, não restava nada daquele homem atormentado com quem mantinha intermináveis discussões filosóficas e políticas em Saint-Domingue.
Enquanto os restantes passageiros desembarcavam, eles esperaram pela bagagem. Valmorain nem sequer deu por Adèle, uma mulata escura com dois rapazes e uma menina, que procuravam arranjar um carro de mão alugado para transportar as suas coisas, mas distinguiu entre a multidão uma mulher com um elegante traje de viagem vermelhão, chapéu, bolsa e luvas da mesma cor, tão bela que teria sido impossível não reparar nela. Reconheceu-a imediatamente, embora aquele fosse o último lugar onde esperava voltar a vê-la. O seu nome escapou-se-lhe num grito e correu para a cumprimentar com o entusiasmo de uma criança. «Monsieur Valmorain, que surpresa!», exclamou Violette Boisier, estendendo-lhe a mão enluvada, mas ele agarrou-a pelos braços e espetou-lhe três beijos na cara, à francesa. Confirmou, encantado, que Violette mudara muito pouco e a idade tinha-a tornado ainda mais apetecível. Ela contou-lhe em poucas palavras que enviuvara e que Jean-Martin estava a estudar em França. Valmorain não se recordava de quem era esse Jean-Martin, mas quando soube que tinha chegado sozinha, sentiu-se acossado pelos desejos da sua juventude. «Espero que me concedas a honra de te visitar», despediu-se no tom de intimidade que não usava com ela desde há uma década. Nesse momento, foram interrompidos por Loula, que se debatia numa algaraviada com dois carregadores para que transportassem os seus baús. «As regras não mudaram, vai ter de se pôr na fila se pretende ser recebido por madame», disse-lhe, afastando-o com uma cotovelada.
Adèle comprou um chalé na Rua Rampart, onde viviam mulheres de cor livres, a maioria mantidas por um protector branco, segundo o tradicional sistema de plaçage ou «colocação», que tinha começado nos primeiros tempos da colónia, quando não era fácil convencer uma mulher europeia a seguir os homens nessas terras selvagens. Havia cerca de dois mil acordos deste género, na cidade. A casa de Adèle era semelhante às outras da mesma rua, pequena, confortável, bem arejada e equipada com um pátio nas traseiras, com as paredes cobertas de buganvílias. O doutor Parmentier tinha um apartamento a poucos quarteirões de distância, onde também instalara a sua clínica, mas passava as horas livres com a família de uma maneira muito mais aberta do que em Le Cap ou Havana. A única coisa estranha dessa situação era a idade dos participantes, porque a plaçage era um acordo entre brancos e mulatas com quinze anos; o doutor Parmentier ia fazer sessenta e Adèle parecia a avó de qualquer uma das suas vizinhas.
Violette e Loula conseguiram uma casa maior na Rua Chartres. Bastaram-lhe umas voltas pela Praça de Armas, o dique à hora dos passeios e a igreja de Père Antoine, no domingo ao meio-dia, para se aperceber da vaidade das mulheres. As brancas tinham conseguido fazer vingar uma lei que proibia às de cor o uso de chapéu, jóias ou vestidos ostentosos em público, sob pena de açoites. O resultado foi as mulatas atarem o seu tignon com uma tal graça que superava o mais elegante chapéu de Paris, exibiam um decote tentador que qualquer jóia teria sido uma distracção, e caminhavam com um tal garbo que as brancas pareciam lavadeiras, quando comparadas. Violette e Loula calcularam de imediato os lucros que podiam obter com as suas loções de beleza, em especial o creme de baba de caracol e as pérolas dissolvidas em sumo de limão para clarear a pele.
O colégio de Boston
A vergastada de pingalim que recebeu de Maurice não impediu Hortense Guizot de assistir ao célebre baile de Marigny, porque o disfarçou com um fino véu que lhe caía para trás, até ao chão, e cobria os alfinetes que fechavam o vestido nas costas, mas deixou-lhe uma feia marca arroxeada durante várias semanas. Com essa equimose, convenceu Valmorain a mandar o filho para Boston. Também tinha outro argumento: só havia tido menstruação uma vez desde o nascimento de Marie-Hortense, estava de novo grávida e precisava de cuidar dos nervos, pelo que era melhor afastar o rapaz durante um tempo. A sua fertilidade não era um prodígio, como pretendeu difundir entre as suas amigas, porque duas semanas depois de dar à luz já andava a dar cambalhotas com o seu marido com a mesma determinação da lua-de-mel. Desta vez, tratava-se de um menino, tinha a certeza, destinado a prolongar o apelido e a dinastia da família. Ninguém se atreveu a recordar-lhe que já existia Maurice Valmorain.
Maurice detestou o colégio desde o momento em que atravessou o umbral e se fechou nas suas costas a dupla porta de madeira pesada. O desgosto permaneceu intacto até ao terceiro ano, quando teve um professor excepcional. Chegou a Boston no Inverno, sob uma chuva miudinha gelada, e deparou-se com um mundo completamente cinzento, o céu encoberto, praças cobertas de geada e árvores esqueléticas com uns quantos passarocos entumecidos nos ramos nus. Não conhecia o verdadeiro frio. O Inverno eternizou-se, andava com os ossos doridos, as orelhas azuis e as mãos vermelhas de frieiras, não tirava o sobretudo nem para dormir e vivia a espiar o céu à espera de um raio de Sol misericordioso. O dormitório tinha um aquecedor a carvão em cada extremidade, que só acendiam duas horas à tarde para os rapazes secarem as meias. Os lençóis estavam sempre gelados, as paredes manchadas de uma flora esverdeada e era preciso partir uma crosta de gelo nas bacias para se lavar de manhã.
Os rapazes, barulhentos e brigões, com uniformes tão cinzentos como a paisagem, falavam um idioma que Maurice só conseguia decifrar graças ao seu tutor, Gaspard Sévérin, que conhecia umas quantas palavras em inglês e tinha improvisado o resto nas suas aulas mediante um dicionário. Passaram-se meses até que pudesse responder às perguntas dos professores e um ano até partilhar as piadas dos seus companheiros americanos, que lhe chamavam «o franciú» e o martirizavam com engenhosos suplícios. As peculiares lições de pugilismo do seu tio Sancho revelaram-se úteis, porque lhe permitiam defender-se dando pontapés nos testículos dos seus inimigos, e as aulas de esgrima serviram-lhe para sair vencedor nos torneios impostos pelo director do colégio, que fazia apostas com os professores e depois castigava o perdedor.
A comida cumpria o objectivo puramente didáctico de temperar o carácter. Quem fosse capaz de comer fígado cozido ou cabeças de frango com restos de penas, acompanhados de couve-flor e arroz queimado, podia enfrentar os azares da existência, inclusive a guerra, para a qual os americanos se andavam sempre a preparar. Maurice, habituado à refinada cozinha de Célestine, passou treze dias de jejum, como um faquir, sem que ninguém se importasse um chavo e, por último, quando desmaiou de fome, não teve outra alternativa a não ser comer o que lhe punham no prato.
A disciplina era tão férrea como absurda. Os infelizes rapazes tinham de saltar da cama ao amanhecer, espreguiçar-se com água gelada, dar três voltas a correr ao pátio a escorregar nas poças para aquecer — se calor se podia chamar ao formigueiro nas mãos -, estudar duas horas de latim antes de um pequeno-almoço de cacau, pão duro e aveia com grumos, aguentar várias horas de aulas e fazer desporto, do qual Maurice fora dispensado. No final do dia, quando as vítimas desfaleciam de cansaço, davam-lhes uma palestra moralizadora de uma ou duas horas, segundo a inspiração do director. O calvário terminava a recitarem em coro a Declaração de Independência.
Maurice, que tinha sido criado com o beneplácito de Tété, submeteu-se a esse regime prisional sem se queixar. O esforço de seguir o passo dos outros rapazes e de se defender dos rufias mantinha-o tão ocupado que se acabaram os pesadelos e não voltou a pensar nos patíbulos de Le Cap. Gostava de aprender. A princípio, disfarçou a sua avidez pelos livros para não pecar por arrogante, mas em breve começou a ajudar os outros nas tarefas e a tornar-se respeitado. Não confessou a ninguém que sabia tocar piano, bailar danças de salão e rimar versos, porque o teriam desfeito. Os seus camaradas viam-no escrever cartas com dedicação de monge medieval, mas não troçaram abertamente porque lhes disse que se destinavam à sua mãe inválida. A mãe, como a pátria, não se prestavam para larachas: era sagrada.
Maurice passou o Inverno a tossir, mas, com a Primavera, espevitou-se. Tinha permanecido durante meses acocorado dentro do seu sobretudo, com a cabeça metida entre os ombros, agachado, invisível. Quando o sol lhe amornou os ossos e pôde tirar os dois coletes, as cuecas de lã, o cachecol, as luvas, o sobretudo e caminhar direito, deu-se conta de que a roupa lhe ficava apertada e curta. Tinha dado um dos clássicos pulos da puberdade e, se era o mais franzino do seu curso, passou a converter-se num dos mais altos e fortes. Observar o mundo de cima, com vários centímetros de vantagem, deu-lhe segurança.
O Verão, com a sua humidade quente, não afectou Maurice, habituado ao clima a ferver do Caribe. O colégio ficou desocupado, os alunos e a maior parte dos professores partiram de férias, e Maurice ficou praticamente só à espera de instruções para regressar para junto da sua família. As instruções nunca chegaram; em contrapartida, o seu pai mandou Jules Beluche, o mesmo transportador que o tinha acompanhado ao longo da deprimente viagem de barco desde o seu lar em Nova Orleães, pelas águas do golfo do México, a contornar a península da Florida, a lidar o mar dos Sargaços e a enfrentar as ondas do oceano Atlântico, até ao colégio em Boston. O transportador, um parente afastado e irrelevante da família Guizot, era um homem na meia-idade, que teve pena do rapaz e procurou tornar-lhe a travessia o mais agradável possível, mas, na memória de Maurice, ficaria sempre associado ao seu exílio do lar paterno.
Beluche apresentou-se no colégio com uma carta de Valmorain a explicar ao seu filho as razões pelas quais não iria a casa nesse ano e com dinheiro suficiente para comprar roupa, livros e qualquer capricho que lhe apetecesse, como forma de consolo. As suas ordens consistiam em guiar Maurice numa viagem cultural à histórica cidade de Filadélfia, que todo o jovem da sua posição devia conhecer, porque tinha germinado ali a semente da nação americana, como anunciava pomposamente a carta de Valmorain. Maurice partiu com Beluche e durante essas semanas de turismo obrigado permaneceu silencioso e indiferente, procurando disfarçar o interesse que a viagem lhe suscitava e combater a simpatia que começava a sentir pelo pobre diabo do Beluche.
No Verão seguinte, o rapaz ficou novamente à espera duas semanas no colégio, com o seu baú pronto, até que se apresentou o mesmo transportador para o levar a Washington e outras cidades que não tinha vontade de visitar.
Harrison Cobb, um dos poucos professores que permaneciam no colégio durante a semana do Natal, reparou em Maurice Valmorain, porque era o único aluno que não recebia visitas nem prendas e passava as férias a ler sozinho no edifício quase vazio. Cobb pertencia a uma das mais antigas famílias de Boston, estabelecida na cidade desde meados do século XVII, de origem nobre, como todos sabiam, embora ele o negasse. Era um fanático defensor da república americana e abominava a nobreza. Foi o primeiro abolicionista que Maurice conheceu e que iria marcá-lo profundamente. Na Louisiana, o abolicionismo era mais malvisto do que a sífilis, mas no estado do Massachusetts a questão da escravatura era discutida constantemente, porque a sua Constituição, redigida vinte anos antes, tinha uma cláusula que a proibia.
Cobb encontrou em Maurice um interlocutor ávido e um coração ardente, onde os seus argumentos humanitários criaram raízes de imediato. Entre outros livros, deu-lhe a ler A Interessante Narrativa da Vida de Olaudah Equiano, publicado em Londres com enorme êxito, em 1789. Essa dramática história de um escravo africano, escrita na primeira pessoa, tinha comovido o público europeu e americano, mas poucos a conheceram na Louisiana e o rapaz não a ouvira sequer mencionar. O professor e o seu aluno passavam as tardes a estudar, a analisar e a discutir; Maurice pôde finalmente articular o desvario que a escravatura sempre lhe tinha provocado.
— O meu pai possui mais de duzentos escravos, que um dia serão meus — confessou Maurice a Cobb.
— É isso que queres, filho?
— Sim, porque poderei emancipá-los.
— Então haverá duzentos e tal negros abandonados à sua sorte e um rapaz imprudente na pobreza. O que é que se ganha com isso? — rebateu-o o professor. — A luta contra a escravatura não se faz plantação a plantação, Maurice, é preciso mudar a maneira de pensar das pessoas e as leis neste país e no mundo. Tens de estudar, preparar-te e participar na política.
— Eu não sirvo para isso, senhor!
— Como sabes? Todos temos dentro de nós uma insuspeita reserva de força que emerge quando a vida nos põe à prova.
Zarité
Estive na plantação quase dois anos, segundo os meus cálculos, até os meus amos me porem de novo a servir entre os domésticos. Durante todo esse tempo, não vi Maurice uma única vez, porque o pai não lhe permitia que viesse a casa durante as férias; arranjava sempre maneira de o mandar de viagem para outros lados e, por fim, quando acabou de estudar, levou-o a França para conhecer a avó. Mas isso foi mais tarde. O amo queria mantê-lo afastado de Madame Hortense. Também não consegui ver Rosette, mas o senhor Murphy trazia-me notícias dela de cada vez que ia a Nova Orleães. «O que vais fazer com aquela menina tão bonita, Tété? Devias mantê-la fechada para não vir a provocar tumultos na rua», dizia-me a brincar.
Madame Hortense deu à luz a sua segunda filha, Marie-Louise, que nasceu com o peito fechado. O clima não era bom para ela, mas como ninguém pode mudar o clima, salvo PèreAntoine em casos extremos, não se podia fazer muito para aliviá-la. Por causa dela, trouxeram-me de volta à casa da cidade. Nesse ano, chegou o doutor Parmentier, que tinha estado muito tempo em Cuba, e substituiu o médico da família Guizot. A primeira coisa que fez foi eliminar as sanguessugas e fricções com mostarda, que estavam a matar a menina, e a seguir perguntou por mim. Não sei como se lembrava de mim, tantos anos depois. Convenceu o amo de que eu era a mais indicada para cuidar de Marie-Louise, porque tinha aprendido muito com Tante Rose. Então, ordenaram ao chefe dos capatazes que me enviasse para a cidade. Despedi-me dos meus amigos e dos Murphy com muita pena e viajei pela primeira vez sozinha, com uma licença para não me prenderem.
Muitas coisas tinham mudado em Nova Orleães durante a minha ausência: havia mais lixo, coches e gente e uma febre de construir casas e alargar as ruas. Até o mercado tinha aumentado. Don Sancho já não vivia na casa de Valmorain; tinha-se mudado para um apartamento no mesmo bairro. Segundo Célestine, tinha esquecido Adi Soupir e andava apaixonado por uma cubana, que ninguém lá em casa tinha tido a oportunidade de ver. Instalei-me na mansarda com Marie-Louise, uma menininha pálida e tão fraca que não chorava. Lembrei-me de a atar ao corpo, porque tinha dado bom resultado com Maurice, que também nasceu doentio, mas Madame Hortense disse que isso era bom para os negros, não para a sua filha. Não quis pô-la num berço, porque teria morrido, e optei por andar sempre com ela ao colo.
Assim que pude, falei com o amo para lhe recordar que nesse ano fazia trinta anos e tinha direito à minha liberdade.
— Quem vai cuidar das minhas filhas? — perguntou-me.
— Eu, se achar bem, monsieur.
— Quer dizer, continuaria tudo na mesma.
— Na mesma não, monsieur, porque, se for livre, posso ir-me embora se quiser, os senhores não me podem bater e terão de me pagar qualquer coisa para que possa viver.
— Pagar-te! — exclamou, surpreendido.
— É assim que trabalham cocheiros, cozinheiras, enfermeiras, costureiras e outras pessoas livres, monsieur.
— Vejo que estás muito bem informada. Então sabes que ninguém emprega uma ama-de-leite, é sempre alguém que faz parte da família, como uma segunda mãe e depois como uma avó, Tété.
— Não sou da sua família, monsieur. Sou propriedade sua.
— Tratei-te sempre como se fosses da família! Enfim, se é isso o que pretendes, necessitarei de tempo para convencer Madame Hortense, embora seja um péssimo precedente e vá dar muito que falar. Farei o que puder.
Deu-me licença para ir ver Rosette. A minha filha foi sempre alta e aos onze anos parecia ter quinze. O senhor Murphy não me tinha mentido, era muito bonita. As freiras conseguiram domar-lhe a impetuosidade, mas não lhe apagaram o seu sorriso com covinhas e o seu olhar sedutor. Cumprimentou-me com uma vénia formal e, quando a abracei, ficou rígida, creio que estava com vergonha da sua mãe, uma escrava «café com leite». A minha filha era a coisa mais importante do mundo para mim. Tínhamos vivido coladas como um só corpo, uma só alma, até que o medo de que a vendessem ou que o seu próprio pai a violasse na puberdade, como tinha feito comigo, me obrigaram a separar-me dela. Tinha visto, mais de uma vez, o amo a apalpá-la como os homens apalpam as meninas para saber se já estão maduras. Isso foi antes de se casar com Madame Hortense, quando a minha Rosette era uma criança sem malícia e sentava-se-lhe no colo com carinho. A frieza da minha filha doeu-me: ao protegê-la, talvez a tivesse perdido.
Das suas raízes africanas, a Rosette não restava nada. Sabia dos meus loas e da Guiné, mas no colégio esqueceu-se de tudo isso e tornou-se católica; as freiras tinham quase tanto horror ao vodu como os protestantes, aos judeus e aos kaintocks. Como podia censurá-la por desejar uma vida melhor do que a minha?Ela queria ser como os Valmorain e não como eu. Falava-me com falsa cortesia, num tom que não reconheci, como se eu fosse uma estranha. É assim que a recordo. Comentou-me que gostava do colégio, que as freiras eram bondosas e lhe andavam a ensinar música, religião e a escrever com letra bonita, mas nada de dança, porque isso tentava o demónio. Perguntei-lhe por Maurice e disse-me que estava bem, mas sentia-se só e queria regressar. Ela tinha notícias dele porque se escreviam, como tinham feito sempre desde que se separaram. As cartas demoravam bastante, mas eles mandavam-nas seguidas, sem esperar resposta, como uma conversa de tontos. Rosette contou-me que às vezes chegava meia dúzia no mesmo dia, mas depois passavam várias semanas sem notícias. Agora, cinco anos depois, sei que nessa correspondência se chamavam irmãos para despistar as freiras, que abriam a correspondência das pupilas. Tinham um código religioso para se referirem aos seus sentimentos: o Espírito Santo significava amor, beijos eram rezas, Rosette fazia o papel de anjo da guarda, ele podia ser qualquer santo ou mártir do calendário católico e, logicamente, as Ursulinas eram demónios. Uma missiva típica de Maurice podia ser que o Espírito Santo o visitava de noite, quando ele sonhava com o anjo da guarda, e que despertava com vontade de rezar e rezar. Ela respondia-lhe que rezava por ele e devia ter cuidado com as hostes de demónios que estão sempre a ameaçar os mortais. Agora eu guardo essas cartas numa caixa e, embora não as possa ler, sei o que contêm, porque Maurice leu-me algumas partes, as que não são demasiado atrevidas.
Rosette agradecia-me as prendas de doces, fitas e livros que lhe chegavam, mas eu não sei se lhos tinha mandado. Como podia fazê-lo sem dinheiro? Calculei que quem lhos levava fosse o amo Valmorain, mas ela disse-me que nunca a tinha visitado. Era Don Sancho quem lhe dava prendas em meu nome. Que Bondye me abençoe o bom do Don Sancho? Erzuli, loa mãe, não tenho nada para oferecer à minha filha. Assim era.
Promessa por cumprir
Na primeira oportunidade em que Tété esteve disponível foi falar com Père Antoine. Teve de esperar por ele duas horas, porque andava pelos cárceres a visitar os presos. Levava-lhes comida e limpava-lhes as feridas, sem que os guardas se atrevessem a impedi-lo, porque correra a fama de que era santo e existiam testemunhos de que tinha sido visto em vários sítios ao mesmo tempo e, às vezes, andava com uma auréola luminosa a flutuar por cima da sua cabeça. Finalmente, o capuchinho chegou à casinha de pedra que lhes servia de habitação e gabinete, com a canastra vazia e uma vontade enorme de se deitar a descansar, mas aguardavam-no outras necessidades e ainda faltava algum tempo para o pôr do Sol, hora da oração em que os seus ossos repousavam, enquanto a sua alma subia ao céu. «Lamento muito, Irmã Lucie, que o ânimo não me permita rezar mais e melhor», costumava dizer à freira que o ajudava. «E para que precisa de rezar mais, monpère, seja é santo?», respondia-lhe ela, invariavelmente. Recebeu Tété com os braços abertos, como com toda a gente. Não mudara, tinha o mesmo olhar doce de cão grande e cheiro a alho, usava a mesma sotaina imunda, a sua cruz de madeira e barba de profeta.
— Que é feito de ti, Tété? — exclamou.
— O senhor tem milhares de paroquianos, monpère, e lembra-se do meu nome — notou ela, comovida.
Explicou-lhe que tinha estado na plantação, mostrou-lhe pela segunda vez o documento da sua liberdade, amarelado e estaladiço, que guardava há anos e que não lhe tinha servido de nada, porque o seu amo encontrava sempre um motivo para adiar o prometido. Père Antoine pôs uns grossos óculos de astrónomo, aproximou o papel da única vela do quarto e leu atentamente.
— Quem mais tem conhecimento disto, Tété? Refiro-me a alguém que viva em Nova Orleães.
— O doutor Parmentier viu-o quando estávamos em Saint-Domingue, mas agora vive aqui. Também o mostrei a Don Sancho, o cunhado do meu amo.
O frade sentou-se numa mesinha com pernas trémulas e escreveu com dificuldade, porque via as coisas deste mundo envoltas numa certa névoa, embora as do outro as sentisse com nitidez. Entregou-lhe duas mensagens salpicadas de borrões de tinta, com instruções para as entregar em mão a esses cavalheiros.
— O que dizem estas cartas, monpère? — quis saber Tété.
— Para virem falar comigo. E tu também tens de vir aqui no próximo domingo, depois da missa. Entretanto, eu guardarei este documento — disse o frade.
— Perdoe-me, monpère, mas nunca me separei desse papel... -replicou Tété, apreensiva.
— Então esta vai ser a primeira vez — sorriu o capuchinho, pondo-o numa gaveta da mesinha. — Não te preocupes, filha, aqui ficará seguro.
Aquela mesa desengonçada não parecia o melhor lugar para o seu bem mais valioso, mas Tété não se atreveu a manifestar dúvidas.
Ao domingo, meia cidade juntava-se na catedral, inclusive as famílias Guizot e Valmorain, com vários dos seus domésticos. Era o único lugar em Nova Orleães, além do mercado, onde gente branca e de cor, livres e escravos, se misturavam, embora as mulheres ficassem de um lado e os homens do outro. Um pastor protestante, de visita à cidade, tinha escrito num jornal que a igreja de Père Antoine era o lugar mais tolerante da cristandade. Tété nem sempre podia assistir à missa; estava dependente da asma de Marie-Louise, mas, nesse dia, a pequena acordou bem e puderam tirá-la de casa. Depois da cerimónia, entregou as meninas a Denise e anunciou à sua ama que ia demorar-se um pouco porque tinha de falar com o santo.
Hortense não se opôs, pensando que aquela mulher ia finalmente confessar-se. Tété tinha trazido as suas satânicas superstições de Saint-Domingue e ninguém possuía mais autoridade do que Père Antoine para salvar a sua alma do vodu. Ela e as suas irmãs comentavam muitas vezes que os escravos das Antilhas estavam a introduzir esse temível culto africano na Louisiana, era o que tinham verificado quando iam com os seus maridos e amigos à Praça do Congo presenciar, por pura curiosidade, as orgias dos negros. Antes era puro maneio e barulho, agora havia uma feiticeira que dançava como possessa com uma cobra comprida e gorda enroscada no corpo, e metade dos participantes entrava em transe. Sanité Dédé era o seu nome e também tinha vindo de Saint-Domingue com outros negros e com o diabo no corpo. Era digno de se ver o grotesco espectáculo de homens e mulheres a espumar pela boca e com os olhos totalmente brancos, os mesmos que depois rastejavam para trás dos arbustos a rebolarem-se como animais. Essa gente adorava uma miscelânea de deuses africanos, santos católicos, Moisés, os planetas e um lugar chamado Guiné. Só Père Antoine entendia aquele rebuliço e, infelizmente, consentia-o. Se não fosse santo, ela mesma iniciaria uma campanha pública para que o afastassem da catedral, assegurava Hortense Guizot. Tinham-lhe contado sobre cerimónias vodu onde bebiam sangue de animais sacrificados e que aparecia o demónio em pessoa para copular com as mulheres pela frente e com homens por trás. Não se surpreenderia nada que a escrava, a quem ela confiava nada menos do que as suas inocentes filhas, participasse nessas bacanais. Na casinha de pedra, já lá estavam o capuchinho, Parmentier, Sancho e Valmorain nas suas cadeiras, intrigados, porque não sabiam para o que tinham sido convocados. O santo conhecia a vantagem estratégica do ataque de surpresa. A velha Irmã Lucie, que chegou a arrastar as chinelas e a equilibrar com dificuldade uma bandeja, serviu-lhes um vinho ordinário numas esborcinadas malguinhas de barro e retirou-se. Era esse o sinal que Tété esperava para entrar, como lhe tinha ordenado o frade.
— Chamei-os a esta casa de Deus para se corrigir um mal-entendido, meus filhos — disse Père Antoine, tirando o papel da gaveta. — Esta boa mulher, Tété, devia ter sido emancipada há sete anos, segundo este documento. Não é verdade, Monsieur Valmorain?
— Sete anos? Mas se Tété acaba de fazer trinta anos! Não podia libertá-la antes! — exclamou o aludido.
— Segundo o Código Negro, um escravo que salva a vida a um membro da família do amo tem direito à sua imediata liberdade, seja qual for a sua idade. Tété salvou a vida do senhor e do seu filho Maurice.
— Isso não se pode provar, monpère — replicou Valmorain com uma expressão desdenhosa.
— A sua plantação em Saint-Domingue foi queimada, os seus capatazes foram assassinados, todos os seus escravos fugiram para se juntarem aos rebeldes. Diga-me, meu filho, o senhor acredita que teria conseguido sobreviver sem a ajuda desta mulher? Valmorain pegou no papel e deu-lhe uma olhada por alto, a resfolgar.
— Isto não tem data, monpère.
— É verdade, parece que o senhor se esqueceu de a pôr com a pressa e a angústia da fuga. É muito compreensível. Felizmente, o doutor Parmentier viu este papel em 1793, em Le Cap, e, sendo assim, é possível estabelecermos que data desse tempo. Mas isso é o menos. Estamos entre cavalheiros cristãos, homens de fé e bem-intencionados. Peço-lhe, Monsieur Valmorain, em nome de Deus, que cumpra a sua palavra — e os olhos profundos do santo despiram-lhe a alma.
Valmorain voltou-se para Parmentier, que tinha os olhos fixos na sua malguinha de vinho, paralisado entre a lealdade ao seu amigo, a quem tanto devia, e a sua própria nobreza, à qual Père Antoine acabava de recorrer magistralmente. Sancho, pelo contrário, mal conseguia conter um sorriso sob os seus atrevidos bigodes. Achava imensa piada ao assunto, porque andava há anos a lembrar ao seu cunhado a necessidade de resolver o problema da concubina, mas foi preciso nada menos do que a intervenção divina para que lhe desse importância. Não entendia a razão por que retinha Tété se já não a desejava e era um empecilho evidente para Hortense. Os Valmorain podiam escolher outra ama-de-leite para as suas filhas, entre as suas numerosas escravas.
— Não se preocupe, monpère, o meu cunhado fará o que for justo — interveio, depois de um breve silêncio. — O doutor Parmentier e eu seremos suas testemunhas. Amanhã iremos ao juiz para legalizar a emancipação de Tété.
— De acordo, meus filhos. Parabéns, Tété, a partir de amanhã serás livre — anunciou Père Antoine, levantando a sua malguinha para brindar.
Os homens manifestaram intenção de esvaziar as suas, mas nenhum conseguia engolir aquela zurrapa, e levantaram-se para sair. Tété deteve-os.
— Um momento, por favor. E Rosette? Ela também tem direito à liberdade. É o que diz o documento.
O sangue subiu à cabeça de Valmorain e faltou-lhe o ar entre as costelas. Apertou o castão da sua bengala com nós brancos, a controlar-se com dificuldade para não a levantar contra aquela escrava insolente, mas, antes que tivesse tempo de agir, o santo interveio.
— Naturalmente, Tété. Monsieur Valmorain sabe que Rosette está incluída. Amanhã também ela será livre. O doutor Parmentier e Don Sancho zelarão para que se faça tudo de acordo com a lei. Que Deus vos abençoe, meus filhos...
Os três homens saíram e o frade convidou Tété para beber uma chávena de chocolate para celebrar. Uma hora mais tarde, quando ela voltou para casa, os seus amos esperavam-na na sala, como dois severos magistrados, sentados lado a lado, em cadeiras de costas altas, Hortense cheia de raiva e Valmorain ofendido, porque não lhe passava pela cabeça que aquela mulher, com quem tinha contado durante vinte anos, o tivesse humilhado em frente do sacerdote e dos seus amigos mais próximos. Hortense anunciou que levaria o caso a tribunal, aquele documento tinha sido escrito sob pressão e não era válido, mas Valmorain não lhe permitiu continuar por esse caminho: não queria um escândalo.
Os amos disputaram a palavra para cobrir a escrava de recriminações que ela não escutava, porque tinha um alegre chocalhar de cascavéis na cabeça. «Mal-agradecida! Se tudo o que queres é ires-te embora, pois irás, imediatamente. Até a tua roupa nos pertence, mas podes levá-la para não saíres nua. Dou-te meia hora para deixares esta casa e proíbo-te de a voltares a pisar. Vamos ver o que vai ser de ti quando estiveres na rua! Ofereceres-te aos marinheiros como uma velhaca, é tudo o que podes fazer!», rugiu Hortense, a bater nas pernas da sua cadeira com o pingalim.
Tété retirou-se, fechou a porta com cuidado e foi para a cozinha, onde os restantes criados já sabiam o que se passava. Correndo o risco de levar com a ira da sua ama em cima, Denise ofereceu-lhe a sua cama para que dormisse e partisse só ao amanhecer, assim não passaria a noite na rua sem salvo-conduto. Ainda não era livre e, se a guarda a apanhasse, iria parar à prisão, mas ela não via a hora de partir. Abraçou cada um com a promessa de os ver na missa, na Praça do Congo ou no mercado; não pensava ir longe, Nova Orleães era a cidade perfeita para ela, disse.
— Não vais ter um amo que te proteja, Tété, pode acontecer-te qualquer coisa; lá fora há muito perigo. Vais viver de quê? — perguntou-lhe Célestine.
— Do que sempre vivi, do meu trabalho.
Não se deteve no seu quarto para apanhar os seus ínfimos bens, levou apenas o seu papel da liberdade e a cesta de comida que Célestine lhe preparou, atravessou a praça com ligeireza, deu a volta à catedral e bateu à porta da casita do santo. Quem abriu foi a Irmã Lucie, com uma vela na mão, e, sem fazer perguntas, conduziu-a pelo corredor que ligava a casa à igreja, até a uma sala mal iluminada, onde estava uma dúzia de indigentes sentados à mesa, com pratos de sopa e pão. Père Antoine estava a comer com eles. «Senta-te, filha, estávamos à tua espera. Para já, a Irmã Lucie vai arranjar-te um canto para dormires», disse-lhe.
No dia seguinte, o santo acompanhou-a ao tribunal. A hora exacta apresentaram-se Valmorain, Parmentier e Sancho, para legalizar a emancipação da «moça Zarité, a quem chamam Tété, mulata, trinta anos, bom comportamento, por serviços leais. Através desse documento, a sua filha Rosette, mestiça, com onze anos, pertence como escrava à dita Zarité». O juiz mandou publicar um edital público para que «as pessoas que oponham objecção legal se apresentem neste Tribunal no prazo máximo de quarenta dias a partir desta data». Terminado o processo, que demorou apenas nove minutos, retiraram-se todos com bom ânimo, inclusive Valmorain, porque durante a noite, assim que Hortense adormeceu cansada de rabiar e de se lamentar, teve tempo para pensar a fundo e compreendeu que Sancho tinha razão, e que devia libertar-se de Tété. Deteve-a à porta do edifício.
— Embora me tenhas causado um grave prejuízo, não te guardo rancor, mulher — disse-lhe em tom paternal, satisfeito com a sua própria generosidade. — Suponho que vais acabar a mendigar, mas, pelo menos, salvarei Rosette. Continuará nas Ursulinas até completar a sua educação.
— A sua filha ficar-lhe-á grata, monsieur — replicou ela e partiu rua fora, a dançar.
O santo de Nova Orleães
Nas duas primeiras semanas, Tété ganhou a comida e uma enxerga de palha para dormir, ajudando Père Antoine nas suas múltiplas tarefas de caridade. Levantava-se antes do amanhecer, quando ele já rezava há um bom bocado, e acompanhava-o à prisão, ao hospital, ao asilo de loucos, ao orfanato e a algumas casas particulares para dar a comunhão a anciãos e doentes acamados. O dia inteiro, fizesse sol ou chuva, a figura mirrada do frade, com a sua túnica castanha e a sua barba emaranhada, circulava pela cidade; era visto nas mansões dos ricos e nas barracas miseráveis, nos conventos e nos bordéis, a pedir esmola no mercado e nos cafés, a oferecer pão aos mutilados e água aos escravos dos leilões no Maspero Echange, sempre seguido por uma matilha de cães famélicos. Nunca se esquecia de consolar os castigados nos cepos instalados na rua, atrás do Cabido, as ovelhas mais desgraçadas do seu rebanho, a quem limpava as feridas com uma tão grande falta de jeito, porque via mal, que Tété tinha de intervir.
— Que mãos de anjo que tu tens, Tété! O Senhor destinou-te para que sejas enfermeira. Vais ter de ficar a trabalhar comigo -propôs-lhe o santo.
— Não sou freira, monpère, não posso trabalhar sem ganhar, preciso de manter a minha filha.
— Não sucumbas à cobiça, filha, servir o próximo é pago no céu, como prometeu Jesus.
— Diga-lhe que é melhor que me pague antes aqui, mesmo que seja pouca coisa.
— Dir-lhe-ei, filha, mas Jesus tem muitas despesas — respondeu o frade, com um sorriso matreiro.
Ao entardecer, voltava para a casinha de pedra, onde os esperava a Irmã Lucie com água e sabão, para se lavarem antes de comerem com os indigentes. Tété ia demolhar os pés num balde com água e cortar tiras para fazer ligaduras, enquanto ele ouvia confissões, actuava como árbitro, resolvia conflitos e dissipava animosidades. Não dava conselhos porque, segundo a sua experiência, era uma perda de tempo, cada um comete os seus próprios erros e aprende com eles.
A noite, o santo cobria-se com uma manta minada pelas traças e saía com Tété para conversar com a chusma mais perigosa, equipado com uma lanterna, porque nenhum dos oitenta candeeiros da cidade estava colocado onde pudesse ser-lhe útil. Os delinquentes aceitavam-no porque respondia aos palavrões com bênçãos sarcásticas e ninguém conseguia intimidá-lo. Não chegava com a presunção das condenações nem a intenção de salvar almas, mas para ligar esfaqueados, separar violentos, impedir suicídios, socorrer mulheres, recolher cadáveres e carregar crianças para o orfanato das freiras. Se, por ignorância, algum dos kaintocks se atrevia a tocar-lhe, levantavam-se cem punhos para ensinar ao forasteiro quem era Père Antoine. Entrava no bairro de El Pântano, o pior antro de depravação do Mississipi, protegido pela sua imperturbável inocência e a sua auréola imprevisível. Ali juntavam-se em baiucas de jogo e lupanares dos remadores dos botes, piratas, chulos, putas, desertores do Exército, jogadores, marinheiros de borga, ladrões e assassinos. Tété, aterrada, avançava pelo meio da lama, vómito, merda e ratazanas, protegida com o hábito do capuchinho, a invocar Erzuli em voz alta, enquanto ele saboreava o prazer do perigo. «Jesus vela por nós, Tété», garantia-lhe, feliz. «E se se distrai, monpère?» Ao fim de uma semana, Tété tinha os pés em chaga, a espinha derreada, o coração oprimido com as misérias humanas e a suspeita de que era muito mais leve cortar cana do que distribuir caridade entre os mal-agradecidos. Numa terça-feira, encontrou, na Praça de Armas, Sancho Garcia del Solar, vestido de preto e tão perfumado que nem as moscas se aproximavam dele, muito contente porque acabava de ganhar um jogo de écarte a um americano demasiado confiante. Cumprimentou-a com uma espampanante vénia e um beijo na mão, diante de vários mirones espantados, e depois convidou-a para tomar um café.
— Vai ter de ser rápido, Don Sancho, porque estou à espera de monpère, que anda a curar as pústulas de um pecador e não creio que vá demorar muito.
— Não o ajudas, Tété?
— Sim, mas este pecador tem o mal espanhol e monpère não me deixa ver-lhe as partes privadas. Como se fosse uma novidade para mim! — O santo tem toda a razão, Tété. Se fosse atacado por essa doença, oxalá Deus não o permita!, não gostaria que uma bela mulher ofendesse o meu pudor.
— Não troce, Don Sancho, olhe que essa doença pode calhar a qualquer um. Menos a Père Antoine, claro.
Sentaram-se numa mesinha em frente da praça. O proprietário da cafetaria, um mulato livre conhecido de Sancho, não escondeu a sua surpresa perante o contraste entre o espanhol e a sua acompanhante, ele com ar de realeza e ela como uma mendiga. Também Sancho notou o aspecto patético de Tété, e quando ela lhe contou o que tinha sido a sua vida nessas duas semanas, soltou uma sonora gargalhada.
— A santidade é, com toda a certeza, uma angústia. Tens de fugir de Père Antoine ou vais acabar tão decrépita como a Irmã Lucie — disse.
— Não posso abusar da gentileza de Père Antoine por muito mais tempo, Don Sancho. Partirei assim que se cumpram os quarenta dias do edital do juiz e tiver a minha liberdade. Nessa altura, verei o que fazer, tenho de conseguir trabalho.
— E Rosette?
— Continua nas Ursulinas. Sei que o senhor a visita e lhe leva prendas em meu nome. Como posso pagar-lhe todo o bem que nos tem feito, Don Sancho? — Não me deves nada, Tété.
— Preciso de fazer poupanças para receber Rosette quando sair do colégio.
— O que diz Père Antoine em relação a isso? — perguntou-lhe Sancho, deitando cinco colheres de açúcar e um cheirinho de conhaque na sua chávena de café.
— Que Deus zelará.
— Espero que assim seja, mas, em todo o caso, seria bom que tivesses um plano alternativo. Preciso de uma governanta, a minha casa é um desastre, mas, se te desse emprego, os Valmorain nunca me perdoariam.
— Entendo, senhor. Alguém me irá dar emprego, tenho a certeza.
— O trabalho pesado é feito pelos escravos, desde cultivar os campos até criar crianças. Sabias que há três mil escravos em Nova Orleães? — E quantas pessoas livres, senhor?
— Uns cinco mil brancos e dois mil de cor, segundo dizem.
— Ou seja, há mais do dobro de pessoas livres do que escravos — calculou ela. — Como é que vou encontrar alguém que precise de mim! Um abolicionista, por exemplo.
— Abolicionista na Louisiana? Se os há, estão bem escondidos — riu-se Sancho.
— Não sei ler, nem escrever nem cozinhar, senhor, mas sei fazer os trabalhos da casa, trazer bebés ao mundo, coser feridas e curar doentes — insistiu ela.
— Não será fácil, mulher, mas vou procurar ajudar-te — disse-lhe Sancho.
— Uma amiga minha defende que os escravos ficam mais caros do que os empregados. São precisos vários escravos para fazer, com má vontade, o trabalho que uma pessoa livre faz de bom grado. Compreendes?
— Mais ou menos — admitiu ela, memorizando cada palavra para a repetir a Père Antoine.
— O escravo precisa de incentivos, convém-lhe trabalhar devagar e mal, porque o seu esforço só beneficia o amo, mas as pessoas livres trabalham para poupar e progredir, é esse o seu incentivo.
— O incentivo em Saint-Lazare era o chicote do senhor Cambray — comentou ela.
— E viste bem como acabou essa colónia, Tété. Não é possível impor-se o terror indefinidamente.
— O senhor deve ser um abolicionista disfarçado, Don Sancho, porque fala como o tutor Gaspard Sévérin e Monsieur Zacharie, em Le Cap.
— Não repitas isso em público porque me vais arranjar problemas. Amanhã quero ver-te aqui, limpa e bem-vestida. Iremos visitar a minha amiga.
No outro dia, Père Antoine partiu sozinho para as suas tarefas, enquanto Tété, com o seu único vestido acabado de lavar e o seu tignon engomado, ia com Don Sancho à procura de emprego, pela primeira vez. Não foram muito longe, apenas uns quarteirões abaixo pela buliçosa Rua Chartres, com as suas lojas de chapéus, rendas, tecidos e tudo quanto existe para alimentar o coquetismo feminino, e pararam em frente de uma casa com dois andares, pintada de amarelo, com grades de ferro verdes nas varandas.
Sancho bateu à porta com uma pequena aldraba em forma de sapo e abriu-lhes uma negra gorda, que, assim que reconheceu Sancho, mudou de expressão de mau humor para um enorme sorriso. Tété julgou que tinha percorrido vinte anos aos círculos para acabar no mesmo lugar onde estava quando deixou a casa de Madame Delphine. Era Loula. A mulher não a reconheceu, isso teria sido impossível, mas como vinha com Don Sancho, deu-lhe as boas-vindas e conduziu-os à sala. «Madame virá em breve, Don Sancho. Está à sua espera», disse e desapareceu fazendo ribombar as pranchas do chão com os seus passos de elefanta.
Minutos mais tarde, Tété, com o coração aos pulos, viu entrar a mesma Violette Boisier de Le Cap, tão bela como então e com a segurança concedida pelos anos e as recordações. Sancho transformou-se imediatamente. Desapareceu a sua fanfarronice de macho espanhol e reduziu-se a um rapaz tímido que se inclinava para beijar a mão da bela, enquanto a ponta do seu espadachim derrubava uma mesinha. Tété conseguiu apanhar no ar um trovador medieval de porcelana e segurou-o contra o peito, a observar, pasmada, Violette. «Suponho que é esta a mulher de que me falaste, Sancho», disse ela. Tété notou a familiaridade do tratamento e a perturbação de Sancho, recordou as piadas e compreendeu que Violette era a cubana que, segundo Célestine, tinha substituído Adi Soupir no coração namoradeiro do espanhol.
— Madame... Conhecemo-nos há muito tempo. A senhora comprou-me a Madame Delphine quando eu era criança — conseguiu articular Tété.
— Sim? Não me recordo — titubeou Violette.
— Em Le Cap. A senhora comprou-me para Monsieur Valmorain. Sou Zarité.
— Claro! Aproxima-te da janela para te ver bem. Como haveria de te reconhecer? Nessa altura, eras uma miúda fraca, obcecada em fugir.
— Agora sou livre. Bom, quase livre.
— Meu Deus, esta coincidência é demasiado estranha. Loula! Vem ver quem aqui está! — gritou Violette.
Loula entrou a arrastar o seu corpanzil e, quando percebeu de quem se tratava, espremeu-a com um abraço de gorila. Duas lágrimas sentimentais assomaram nos olhos da mulher ao recordar Honoré, associado na sua memória com a miúda que Tété tinha sido. Contou-lhe que, antes de voltar para França, Madame Delphine tentou vendê-lo, mas não valia nada, era um velho doente, e teve de o libertar para que se arranjasse a pedir esmola.
— Juntou-se aos rebeldes antes da revolução. Veio despedir-se de mim, éramos amigos. Um verdadeiro cavalheiro, esse Honoré. Não sei se conseguiu chegar às montanhas, porque o caminho era íngreme e ele tinha os ossos cambaios. Se chegou, sabe-se lá se o aceitaram, porque não estava em condições de lutar em guerra nenhuma — suspirou Loula.
— De certeza que o aceitaram, porque sabia tocar tambores e cozinhar. Isso é mais importante do que empunhar uma arma — consolou-a Tété.
Despediu-se do sacerdote e da velha Irmã Lucie com a promessa de os ajudar com os doentes quando pudesse, e foi viver com Violette e Loula, como tanto tinha desejado aos dez anos. Para satisfazer uma curiosidade pendente há duas décadas, averiguou quanto é que Violette tinha pagado por ela a Madame Delphine e veio a saber que foi o preço de um par de cabras, embora o seu preço depois tenha aumentado quinze por cento quando foi cedida a Valmorain. «É mais do que valias, Tété. Eras uma rapariguita feia e malcriada», afirmou-lhe Loula com seriedade.
Atribuíram-lhe o único quarto de escravos da casa, uma cela sem ventilação, mas limpa, e Violette procurou entre as suas coisas e encontrou algo adequado para a vestir. As suas tarefas eram tantas que eram impossíveis de enumerar, mas basicamente consistiam em cumprir as ordens de Loula, que já não tinha idade nem força para trabalhos domésticos e passava o dia na cozinha a preparar unguentos para a formosura e xaropes para a sensualidade. Nenhum cartaz na rua apregoava o que se oferecia dentro daquelas paredes; bastava o boato de boca em boca, que atraía uma fila interminável de mulheres de todas as idades, a maior parte de cor, embora também viessem algumas brancas disfarçadas sob espessos véus.
Violette só atendia à tarde, não tinha perdido o hábito de dedicar as horas da manhã aos seus cuidados pessoais e ao ócio. A sua cútis, raras vezes tocada pela luz directa do Sol, continuava tão delicada como o creme caramel e as finas rugas dos olhos davam-lhe carácter; as suas mãos, que nunca lavaram roupa nem cozinharam, brilhavam, juvenis, e as suas formas tinham-se acentuado com vários quilos que a suavizavam sem lhe dar o aspecto de matrona. As loções misteriosas tinham preservado o tom azeviche do seu cabelo, que continuava a pentear num carrapito complicado, com alguns caracóis soltos para deleite da imaginação. Ainda provocava o desejo nos homens e ciúmes nas mulheres, e essa certeza acrescentava vaivém ao seu andar e ronronar no seu riso. Os seus clientes confiavam-lhe os seus desaires, pediam-lhe conselho a sussurrar e adquiriam as suas poções sem regatear, na mais absoluta confidencialidade. Tété acompanhava-a na compra dos ingredientes: desde pérolas para clarear a pele, que arranjava entre os piratas, até frascos de vidro pintado, que um capitão lhe trazia de Itália. «Vale mais a embalagem do que o conteúdo. O que importa é a aparência», comentou Violette a Tété. «Père Antoine defende o contrário», riu-se a outra.
Uma vez por semana iam a um escrivão e Violette ditava-lhe, em grandes traços, uma carta para o seu filho em França. O escrivão encarregava-se de pôr os seus pensamentos em frases floridas e com bela caligrafia. As cartas demoravam dois meses a chegar às mãos do jovem cadete, que respondia pontualmente com quatro frases em calão militar para dizer que o seu estado era positivo e andava a estudar a língua do inimigo, sem especificar que inimigo em particular, uma vez que a França contava com vários. «Jean-Marie, és igual ao teu pai», suspirava Violette, quando lia essas missivas escritas em código. Tété atreveu-se a perguntar-lhe como tinha conseguido que a maternidade não lhe tornasse as carnes flácidas, e Violette atribuiu-o à herança da sua avó senegalesa. Não lhe confessou que Jean-Marie era adoptado, assim como nunca mencionou os seus namoricos com Valmorain. No entanto, falou-lhe da sua longa relação com Etienne Relais, amante e marido, a cuja memória foi fiel até que apareceu Sancho Garcia del Solar, porque nenhum dos pretendentes em Cuba, inclusive aquele galego que esteve quase a casar-se com ela, conseguiu apaixoná-la.
— Tive sempre companhia na minha cama de viúva para me manter em forma. Por isso, tenho boa cútis e bom humor.
Tété calculou que, dentro em breve, estaria enrugada e melancólica, porque há anos que se consolava sozinha, sem outro incentivo além da recordação de Gambo.
— Don Sancho é um senhor muito bom, madame. Se o ama, porque não se casam?
— Em que mundo vives, Tété? Os brancos não se casam com mulheres de cor, é ilegal. Além disso, na minha idade não é preciso casar e muito menos com um borguista incurável, como Sancho.
— Poderiam viver juntos.
— Não quero mantê-lo. Sancho acabará por morrer pobre, enquanto eu penso morrer rica e ser enterrada num mausoléu coroado com um arcanjo de mármore.
Dois dias antes de terminar o prazo para a emancipação de Tété, Sancho e Violette acompanharam-na ao colégio das Ursulinas para contar a notícia a Rosette. Reuniram-se na sala de visitas, ampla e quase nua, com quatro cadeiras de madeira tosca e um grande crucifixo pendurado no tecto. Sobre uma mesinha havia chávenas de chocolate morno, com uma crosta de nata coagulada a flutuar em cima, e uma caixa para as esmolas que ajudavam a manter os mendigos perto do convento. Uma freira assistia à entrevista e vigiava pelo canto do olho, porque as alunas não podiam estar sem acompanhante em presença masculina, nem que fosse o bispo, e com motivos de sobra tratando-se de um fulano tão sedutor como aquele espanhol.
Tété raras vezes tinha tocado no assunto da escravidão com a sua filha. Rosette sabia, vagamente, que ela e a sua mãe pertenciam a Valmorain e faziam comparações com a situação de Maurice, que estava completamente dependente do pai e não podia tomar qualquer decisão por si próprio. Não achava estranho. Todas as mulheres e meninas que conhecia, livres ou não, pertenciam a um homem: pai, marido ou Jesus. No entanto, era esse o tema constante das cartas de Maurice que, sendo livre, vivia muito mais angustiado do que ela com a absoluta imoralidade da escravatura, como lhe chamava. Na infância, quando a diferença entre ambos era muito menos aparente, Maurice costumava mergulhar em estados de ânimo trágicos causados pelos dois temas que o obcecavam: a justiça e a escravidão. «Quando formos grandes, tu serás o meu amo, eu serei a tua escrava, e viveremos contentes», disse-lhe Rosette, numa ocasião. Maurice abanou-a, engasgado pelo choro: «Eu nunca terei escravos! Nunca! Nunca!» Rosette era uma das pequenas com a pele mais clara entre as estudantes de cor e ninguém duvidava que fosse filha de pais livres; só a madre superior conhecia a sua verdadeira condição e a tinha aceitado pela doação que Valmorain fez ao colégio e a promessa de que seria emancipada num futuro próximo. Aquela visita foi mais descontraída do que as anteriores, nas quais Tété tinha estado a sós com a filha sem nada para dizerem, ambas incomodadas. Rosette e Violette simpatizaram de imediato. Ao vê-las juntas, Tété pensou que, de certo modo, eram parecidas, não tanto pelos traços, mas pelo colorido e a atitude. Passaram a hora de visita a conversar animadamente, enquanto ela e Sancho as observavam, mudos.
— Que menina tão esperta e tão bonita que é a tua Rosette, Tété! É a filha que eu gostaria de ter tido! — exclamou Violette quando saíram.
— Que será dela quando sair do colégio, madame? Está habituada a viver como rica, nunca trabalhou e julga-se branca — suspirou Tété.
— Ainda falta muito para que isso suceda, mulher. Depois, veremos — replicou Violette.
Zarité
No dia marcado, pus-me aporta do tribunal à espera do juiz. O edital ainda estava afixado na parede, como o tinha visto todas as tardes durante esses quarenta dias, quando ia, com a alma por um fio e um gris-gris de boa sorte na mão, verificar se alguém se opunha à minha emancipação. Madame Hortense podia impedi-la, para ela era muito fácil; bastaria acusar-me de costumes dissipados ou má índole, mas parece que não se atreveu a desafiar o marido. Monsieur Valmorain tinha horror aos falatórios. Durante esses dias, tive tempo para pensar e tive muitas dúvidas. Soavam-me na cabeça os avisos de Célestine e as ameaças dos Valmorain: a liberdade significava que não podia contar com ajuda, não teria protecção nem segurança. Se não encontrasse trabalho ou adoecesse, acabaria na fila de mendigos alimentados pelas Ursulinas. E Rosette? «Calma, Tété. Confia em Deus, que nunca nos abandona», consolava-me Père Antoine. Ninguém se apresentou no tribunal para se opor e, no dia 30 de Novembro de 1800, o juiz assinou a minha liberdade e entregou-me Rosette. Só ali estava Père Antoine, porque Don Sancho e o doutor Parmentier, que me tinham prometido assistir, esqueceram-se. O juiz perguntou-me com que apelido queria inscrever-me e o santo autorizou-me a usar o seu. Zarité Sedella, trinta anos, mulata, livre. Rosette, onze anos, mestiça, escrava, propriedade de Zarité Sedella. Era isso que dizia o papel que Père Antoine me leu, palavra por palavra, antes de me dar a sua bênção e um abraço apertado. Foi assim.
O santo partiu logo a seguir para atender os seus necessitados e eu sentei-me num banquinho da Praça de Armas a chorar de alívio. Não sei quanto tempo assim estive, mas foi um choro longo, porque o Sol deslocou-se no céu e a cara secou-me à sombra. Então, senti que me tocavam no ombro e uma voz, que reconheci imediatamente, cumprimentou-me: «Finalmente, está mais calma, Mademoiselle Zarité! Julguei que se ia desfazer em lágrimas.» Era Zacharie, que tinha estado sentado noutro banco a observar-me sem aflição. Era o homem mais bonito do mundo, mas eu não o tinha notado antes porque estava cega de amor por Gambo. Na Intendência de Le Cap, com a sua libré de gala, era uma figura imponente e ali, na praça, com colete bordado de seda cor de musgo, camisa de baptista, botas com fivelas trabalhadas e vários anéis de ouro, via-se ainda melhor. «Zacharie! É realmente o senhor?» Parecia uma visão, muito distinto, com algumas cãs nas têmporas e uma bengala fina com castão de marfim. Sentou-se a meu lado e pediu-me que deixássemos o tratamento formal, «tu» era melhor do que «senhor», tendo em conta a nossa velha amizade. Contou-me que tinha saído a toda apressa de Saint-Domingue assim que foi anunciado o fim da escravatura e embarcara numa escuna americana que o deixou em Nova Iorque, onde não conhecia vivalma, tiritava de frio e não entendia uma palavra da algaraviada que falava aquela gente, como disse. Sabia que a maioria dos refugiados de Saint-Domingue estavam instalados em Nova Orleães,por isso, arranjou maneira de chegar até aqui. A vida corria-lhe bem. Dois dias antes, acidentalmente, tinha visto o edital da minha liberdade no tribunal, fez umas averiguações e quando teve a certeza de que se tratava da mesma Zarité que ele conhecia, escrava de Monsieur Valmorain, decidiu aparecer na data indicada, uma vez que, para todos os efeitos, o seu bote se encontrava ancorado em Nova Orleães. Viu-me entrar com Père Antoine no tribunal, esperou-me na Praça de Armas e depois teve a delicadeza de me deixar chorar à vontade, antes de me cumprimentar.
— Esperei trinta anos por este momento e agora que chega, em vez de dançar de alegria, ponho-me a chorar — disse, envergonhada.
— Não te faltará tempo para dançar, Zarité. Vamos festejar nesta mesma tarde — ofereceu-me.
— Não tenho nada para vestir!
— Terei de te comprar um vestido; é o mínimo que mereces neste dia, o mais importante da tua vida.
— És rico, Zacharie?
— Sou pobre, mas vivo como rico. Isso é mais sábio do que ser rico e viver como pobre — e desatou-se a rir. — Quando morrer, os meus amigos terão de fazer uma colecta para me enterrar, mas o meu epitáfio dirá com letras de ouro: «Aquijaz Zacharie, o negro mais rico do Mississipi.» Já mandei gravar essa lápide e tenho-a guardada debaixo da minha cama.
— Madame Violette Boisier deseja o mesmo: uma sepultura impressionante.
— É tudo o que resta, Zarité. Dentro de cem anos, os visitantes do cemitério poderão admirar as sepulturas de Violette e Zacharie e imaginar que tivemos uma boa vida.
Acompanhou-me a casa. A meio do caminho, cruzámo-nos com dois homens brancos, quase tão bem-vestidos como Zacharie, que o olharam de alto a baixo com expressão trocista. Um deles lançou uma cuspidela muito perto dos pés de Zacharie, mas ele não se deu conta ou preferiu ignorá-lo.
Não foi necessário que me comprasse um vestido, porque Madame Violette quis arranjar-me para o primeiro encontro da minha vida. Com Loula, banharam-me, massajaram-me com creme de amêndoas, arranjaram as minhas unhas e trataram dos meus pés o melhor possível, mas não conseguiram disfarçar os calos, por ter andado tantos anos descalça. Madame maquilhou-me, mas no espelho não surgiu a minha cara sarapintada, mas uma Zarité Sedella quase bonita. Pôs-me um vestido seu de corte império de musselina com capa da mesma cor de pêssego eprendeu-me, à sua maneira, um tignon de seda. Emprestou-me as suas sapatilhas de tafetá e as suas grandes argolas de ouro, a sua única jóia, aparte o anel de opala partida que nunca tirava do dedo. Não tive de ir de chinelas e levar as sapatilhas numa bolsa para não as sujar na rua, como se faz sempre, porque Zacharie chegou num coche alugado. Suponho que Violette, Loula e várias vizinhas acudiram para espreitar, a interrogarem-se por que motivo um cavalheiro como ele perdia o seu tempo com alguém tão insignificante como eu.
Zacharie trouxe-me duas gardénias, que Loula me prendeu ao pescoço, e fomos ao Teatro da Ópera. Nessa noite, apresentavam uma peça do compositor Saint-Georges, filho de um plantador de Guadalupe e da sua escrava africana. O rei Luís XVI nomeou-o director da Ópera de Paris, mas não durou muito, porque divas e tenores recusavam-se a cantar sob a sua batuta. Assim mo contou Zacharie. Talvez nenhum dos brancos do público, que tanto aplaudiram, soubesse que era música de um mulato. Tínhamos os melhores lugares na parte reservada à gente de cor, segundo piso ao centro. O ar denso do teatro cheirava a álcool, suor e tabaco, mas eu só cheirava as minhas gardénias. Nas bancadas havia vários kaintocks, que interrompiam com piadas, aos gritos, até que por fim os puseram fora aos empurrões e a música pôde continuar. Depois fomos ao Salão Orleães, onde tocavam valsas, quadrilhas e polcas, as mesmas danças que Maurice e Rosette aprenderam à força de varadas. Zacharie guiou-me sem me pisar os pés nem atropelar os outros pares, tínhamos de fazer figuras na pista sem esbracejar nem abanar o rabo. Havia alguns homens brancos, mas nenhuma mulher branca, sendo Zacharie o mais negro, além dos músicos e empregados de mesa, mas também o mais belo. Era mais alto do que toda agente, dançava como se flutuasse e sorria com os seus dentes perfeitos.
Ficámos no baile uma meia hora, porém, Zacharie apercebeu-se de que eu não condizia com aquilo de maneira nenhuma e fomos embora. A primeira coisa que fiz assim que entrei no coche foi tirar os sapatos.
Parámos perto do rio, numa ruazinha discreta longe do centro. Chamou-me a atenção que, em frente dela, houvesse vários coches com lacaios adormecidos nos assentos, como se estivessem à espera há um bom bocado. Detivemo-nos em frente de um muro coberto de hera e de uma porta estreita, mal iluminada por um candeeiro e vigiada por um branco armado com duas pistolas, que cumprimentou Zacharie com respeito. Entrámos num pátio onde estava uma dúzia de cavalos com sela e ouvimos os acordes de uma orquestra. A casa, que não era visível da rua, era de um bom tamanho mas sem pretensões, com o interior oculto por grossos cortinados nas janelas.
— Bem-vinda a Chez Fleur, a casa de jogo mais famosa de Nova Orleães — anunciou-me Zacharie com um gesto que abarcou a fachada. Logo a seguir, encontrámo-nos num amplo salão. Entre afumarada dos charutos, vi homens brancos e de cor, uns junto das mesas de jogo, outros a beber e alguns a dançar com mulheres decotadas. Alguém nos pôs taças de champanhe nas mãos. Não conseguíamos avançar, porque detinham Zacharie a cada passo para o cumprimentar.
Bruscamente, rebentou uma rixa entre vários jogadores e Zacharie fez intenção de intervir, mas antecipou-se-lhe uma pessoa enorme com uma mata de cabelo duro como palha seca, um charuto nos dentes e botas de lenhador, que distribuiu uns sonoros bofetões, e a luta dissolveu-se. Dois minutos mais tarde, os homens estavam sentados com as cartas na mão, a divertirem-se, como se não acabassem de ser esbofeteados. Zacharie apresentou-me a quem tinha imposto a ordem. Pensei que era um homem com seios, mas afinal era uma mulher com pêlos na cara. Tinha um delicado nome de flor e de pássaro, o que não correspondia ao seu aspecto: Fleur Hirondelle.
Zacharie explicou-me que, com o dinheiro que tinha poupado durante anos para comprar a sua liberdade, e que levou com ele quando se foi embora de Saint-Domingue, mais um empréstimo do banco, conseguido pela sua sócia Fleur Hirondelle, puderam comprar a casa, que estava em más condições, mas arranjaram-na com todas as comodidades e até um certo luxo. Não tinham problemas com as autoridades, porque uma parte do lucro destinava-se a subornos. Vendiam licor e comida, havia a música alegre de duas orquestras e ofereciam as damas da noite mais vistosas da Louisiana. Não eram empregadas da casa, mas sim artistas independentes, porque Chez Fleur não era um lupanar: havia muitos desses na cidade e não havia necessidade de mais um. Nas mesas perdiam-se e, às vezes, ganhavam-se fortunas, mas o grosso ficava na casa de jogo. Chez Fleur era um bom negócio, embora ainda estivessem apagar o empréstimo e tivessem muitas despesas.
— O meu sonho é ter várias casas de jogo, Zarité. Claro que precisaria de sócios brancos, como Fleur Hirondelle, para conseguir o dinheiro.
— Ela é branca? Parece um índio.
— Francesa de pura cepa, mas queimada pelo sol.
— Tiveste sorte com ela, Zacharie. Os sócios não são convenientes, é melhor pagar a alguém para que empreste o nome. É assim que faz Madame Violette para dar a volta à lei. Don Sancho dá a cara, mas ela não o deixa meter-se nos seus negócios.
Bailei no estabelecimento à minha maneira e a noite passou a voar. Quando Zacharie me levou de regresso a casa, estava a amanhecer. Teve de me segurar por um braço, porque tinha a cabeça às voltas de contente e de champanhe, que nunca antes tinha bebido. «Erzuli, loa do amor, não permitas que me apaixone por este homem, porque vou sofrer», roguei nessa noite, apensar como o olhavam as mulheres no Salão Orleães e se lhe ofereciam no Chez Fleur.
Pela janela do coche vimos Père Antoine a regressar à igreja, a arrastar as sandálias depois de uma noite de boas obras. Ia esgotado e parámos para levá-lo, embora tivesse vergonha do meu hálito a álcool e do meu vestido decotado. «Vejo que festejaste em grande o teu primeiro dia de liberdade, minha filha. Nada mais merecido no teu caso do que um pouco de dissipação», foi tudo o que disse antes de me dar a sua bênção.
Tal como Zacharie me tinha prometido, aquele dia foi feliz. É assim que o recordo.
A política do dia
Em Saint-Domingue, Pierre-François Toussaint, chamado Louverture pela sua habilidade para negociar, mantinha um precário domínio graças à sua ditadura militar, mas os sete anos de violência tinham devastado a colónia e empobrecido a França. Napoleão não ia permitir que aquele cambaio, como lhe chamava, lhe impusesse condições. Toussaint proclamara-se governador vitalício, inspirado no título napoleónico de primeiro-cônsul vitalício, e tratava-o de igual para igual. Bonaparte pensava esmagá-lo como a uma barata, pôr os negros a trabalhar nas plantações e recuperar a colónia sob o domínio dos brancos. No Café des Emigres, em Nova Orleães, os fregueses seguiam com fervorosa atenção os confusos acontecimentos dos meses seguintes, porque não perdiam a esperança de regressar à ilha. Napoleão enviou uma numerosa expedição sob o comando do seu cunhado, o general Leclerc, que levava consigo a sua bela esposa Pauline Bonaparte. A irmã de Napoleão viajava com cortesãos, músicos, acrobatas, artistas, móveis, adornos e tudo o desejável para instalar na colónia uma corte tão esplêndida como a que tinha deixado em Paris.
Saíram de Brest no final de 1801 e, dois meses mais tarde, Le Cap foi bombardeado pelos navios de Leclerc e reduzido a cinzas pela segunda vez, em dez anos. Toussaint Louverture nem pestanejou. Impassível, aguardava a cada exigência o momento preciso para atacar ou retirar e, quando isso acontecia, as suas tropas deixavam a terra arrasada, sem uma árvore de pé.
Os brancos que não conseguiam pôr-se sob a protecção de Leclerc eram aniquilados. Em Abril, a febre-amarela caiu como outra maldição sobre as tropas francesas, pouco habituadas ao clima e sem defesas contra a epidemia. Dos dezassete mil homens que Leclerc levava, quando começou a expedição, sobraram-lhe sete mil em condições lamentáveis; dos restantes, cinco mil agonizavam e outros cinco mil estavam debaixo da terra. Toussaint agradeceu novamente a oportuna ajuda dos exércitos alados de Macandal. Napoleão mandou reforços e, em Junho, outros três mil soldados e oficiais morreram com a mesma febre; não havia cal viva que chegasse para cobrir os corpos nas valas comuns, onde abutres e cães lhes arrancavam pedaços. No entanto, nesse mesmo mês, a L'étoile de Toussaint apagou-se no firmamento. O general caiu numa armadilha montada pelos franceses com o pretexto de parlamentar, foi detido e deportado para França com a sua família. Napoleão tinha vencido o «maior general negro da história», como era qualificado. Leclerc anunciou que a única maneira de restaurar a paz seria matar os negros todos da montanha e metade das planícies, homens e mulheres, e deixar vivas só as crianças menores de doze anos, mas não conseguiu executar o seu plano, porque adoeceu.
Os emigrantes brancos de Nova Orleães, inclusive os monárquicos, fizeram brindes a Napoleão, o invencível, enquanto Toussaint morria lentamente numa cela gelada num forte dos Alpes, a dois mil e novecentos metros de altitude, perto da fronteira com a Suíça. A guerra continuou implacável durante todo o ano de 1802 e muito poucos fizeram as contas de que, nessa breve campanha, Leclerc perdera quase trinta mil homens, antes de ele mesmo perecer com o mal do Sião, em Novembro. O primeiro-cônsul prometeu enviar outros trinta mil soldados para Saint-Domingue.
Uma tarde de Inverno de 1802, o doutor Parmentier e Tété estavam a conversar no pátio de Adèle, onde se encontravam com frequência. Três anos antes, quando o doutor viu Tété em casa dos Valmorain, pouco depois de ter chegado de Cuba, ao entregar-lhe a mensagem de Gambo. Contou-lhe as circunstâncias em que o tinha conhecido, as suas feridas horrendas e a longa convalescença, que lhes permitiu conhecerem-se. Também lhe contou a ajuda que o bravo capitão lhe tinha prestado para sair de Saint-Domingue, quando isso era quase impossível. «Disse para não esperares por ele, Tété, porque já te tinha esquecido, mas, se te mandou este recado, é porque não te tinha esquecido», comentou-lhe dessa vez. Julgava que Tété se havia livrado do fantasma desse amor. Conhecia Zacharie e qualquer um podia adivinhar os seus sentimentos por Tété, embora o doutor nunca tivesse surpreendido entre eles aquelas atitudes possessivas que denunciam intimidade. Talvez o hábito da cautela e disfarce, que lhes tinha servido durante a escravatura, tivesse raízes demasiado profundas. A casa de jogo mantinha Zacharie ocupado, que, além disso, viajava de vez em quando para Cuba e outras ilhas para se abastecer de licores, charutos e outras mercadorias para o seu negócio. Tété nunca estava preparada quando Zacharie aparecia na casa da Rua Chartres. Parmentier tinha-se encontrado várias vezes com ele, quando Violette o convidava para jantar. Era delicado e formal, e chegava sempre com o clássico bolo de amêndoas para coroar a mesa. Com ele, Zacharie falava de política, o seu tema predilecto; com Sancho, de apostas, cavalos e negócios no ar, e com as mulheres, de tudo o que as lisonjeava. De vez em quando, vinha acompanhado pela sua sócia, Fleur Hirondelle, que parecia ter uma curiosa afinidade com Violette. Deixava as suas armas na entrada, sentava-se a tomar chá na salinha e depois desaparecia no interior da casa, atrás dos passos de Violette. O doutor podia jurar que regressava sem véus na cara e uma vez tinha-a visto guardar um frasquinho na sua fraldiqueira da pólvora, seguramente um perfume, porque tinha ouvido dizer a Violette que todas as mulheres têm um brasido de coqueteria na alma e bastam umas gotas de fragrância para acendê-lo. Zacharie fazia de conta que não dava por essas fraquezas da sua sócia, enquanto esperava que Tété se engalanasse para sair com ele.
Uma vez, levaram o doutor ao Chez Fleur, e ali pôde ver Zacharie e Fleur Hirondelle no seu ambiente e apreciar a felicidade de Tété a bailar descalça. Tal como Parmentier tinha imaginado quando a conheceu na habitation Saint-Lazare, quando ela era muito nova, Tété possuía uma grande reserva de sensualidade, que nessa época ocultava sob a sua expressão severa. Ao vê-la a bailar, o médico concluiu que, quando fosse emancipada, não só teria mudado a sua condição legal, como libertaria essa característica da sua personalidade.
Em Nova Orleães, a relação de Parmentier com Adèle era normal, pois vários amigos seus e pacientes mantinham famílias de cor. Pela primeira vez, o doutor não necessitava de recorrer a estratégias indignas para visitar a sua mulher, nada de andar de madrugada com precauções de bandido para não ser visto. Jantava quase todos os dias com ela, dormia na sua cama e, no outro dia, ia com passo tranquilo às dez da manhã para o seu consultório, surdo aos comentários que pudesse suscitar. Tinha reconhecido os seus filhos, que agora usavam o seu apelido, e os dois rapazes já estavam a estudar em França, enquanto a menina o fazia nas Ursulinas. Adèle trabalhava como costureira e poupava, como tinha feito sempre. Duas mulheres ajudavam-na nos corpetes de Violette Boisier, umas armaduras reforçadas com espinhas de baleia, que davam curvas à mulher mais plana; para mais, não se notavam, de maneira que os vestidos pareciam flutuar sobre o corpo nu. As brancas interrogavam-se como era possível que uma moda inspirada na Grécia antiga pudesse resultar melhor nas africanas do que nelas. Tété andava num vaivém entre as duas casas, com desenhos, medidas, tecidos, corpetes e vestidos acabados, que depois Violette se encarregava de vender entre as suas clientes. Numa dessas oportunidades, Parmentier ficou à conversa com Tété e Adèle no pátio das buganvílias, que nessa época do ano eram uns paus secos sem flores nem folhas.
— Faz sete meses que morreu Toussaint Louverture. Outro crime de Napoleão. Mataram-no de fome, frio e solidão na prisão, mas não será esquecido: o general entrou para a história -disse o doutor.
Estavam a beber xerez depois de um jantar de bagre com legumes porque, entre muitas das suas virtudes, Adèle era uma boa cozinheira. O pátio era o lugar mais agradável da casa, inclusive nas noites frias como aquela. A luz ténue vinha de um brasido que Adèle tinha acendido para obter carvão para o ferro de engomar e, ao mesmo tempo, aquecer o pequeno círculo de amigos.
— A morte de Toussaint não significa o fim da revolução. Agora o general Dessalines está ao comando. Dizem que é um homem implacável — continuou o médico.
— Que terá sido feito de Gambo? Não confiava em ninguém, nem mesmo em Toussaint — comentou Tété.
— Depois, mudou de opinião em relação a Toussaint Louverture. Arriscou a vida mais de uma vez para o salvar, era o homem de confiança do general.
— Então estava com ele quando o prenderam — disse Tété.
— Toussaint foi a um encontro com os franceses para negociar uma saída política para a guerra, mas atraiçoaram-no.
Enquanto ele aguardava dentro de uma casa, lá fora assassinaram impunemente os seus guardas e os soldados que o acompanhavam. Receio que o capitão La Liberté tenha caído nesse dia a defender o seu general — explicou-lhe tristemente Parmentier.
— Antes, Gambo rondava-me, doutor.
— Como?
— Em sonhos — disse Tété, vagamente.
Não esclareceu que antes o chamava todas as noites com o pensamento, como uma oração, e às vezes conseguia invocá-lo tão certeiramente que acordava com o corpo pesado, quente, lânguido, com a felicidade de ter dormido abraçada ao seu amante. Sentia o calor e o cheiro de Gambo na sua própria pele e, nessas ocasiões, não se lavava, para prolongar a ilusão de ter estado com ele. Esses encontros no território do sonho eram o único consolo na solidão da sua cama, mas isso fora há muito tempo e já tinha aceitado a morte de Gambo, porque, se estivesse vivo, teria comunicado com ela de alguma maneira. Agora tinha Zacharie. Nas noites que partilhavam, quando ele estava disponível, ela descansava satisfeita e agradecida depois de ter feito amor, com a mão grande de Zacharie em cima. Desde que ele entrara na sua vida, não tinha voltado ao hábito secreto de se acariciar a chamar por Gambo, porque desejar os beijos de outro, mesmo que fosse um fantasma, teria sido uma traição que ele não merecia. O carinho seguro e tranquilo que partilhavam enchia a sua vida; não precisava de mais nada.
— Ninguém saiu com vida da armadilha que fizeram a Toussaint. Não houve prisioneiros, além do general e da sua família, que também foi detida — acrescentou Parmentier.
— Sei que não apanharam Gambo vivo, doutor, porque jamais se teria rendido. Tanto sacrifício e tanta guerra para, no final, ganharem os brancos!
— Ainda não ganharam. A revolução continua. O general Dessalines acaba de vencer as tropas de Napoleão e os franceses começaram a evacuar a ilha. Em breve teremos aqui outra vaga de refugiados e, desta vez, serão bonapartistas. Dessalines chamou os colonos brancos para recuperarem as suas plantações, porque precisa deles para produzir a riqueza que a colónia tinha antes.
— Essa história já a ouvimos várias vezes, doutor. Toussaint fez o mesmo. O senhor voltaria para Saint-Domingue? — perguntou-lhe Tété.
— A minha família está melhor aqui. Ficaremos. E tu?
— Eu também. Aqui sou livre e Rosette também o será em breve.
— Não é muito nova para ser emancipada?
— Père Antoine está a ajudar-me. Conhece meio mundo de uma ponta à outra do Mississipi e nenhum juiz se atreveria a recusar-lhe um favor.
Nessa noite, Parmentier disse a Tété qual era a sua relação com Tante Rose. Sabia que, além de a ajudar nos partos e curas, costumava ajudá-la na preparação de medicamentos e estava interessado nas receitas. Ela recordava-se da maioria e garantiu-lhe que não eram complicadas, sendo possível arranjar os ingredientes através dos «doutores de ervas», no Mercado Francês. Falaram sobre a forma de estancar hemorragias, baixar a febre e evitar infecções, das infusões para limpar o fígado e aliviar os cálculos da vesícula e dos rins, dos sais contra a enxaqueca, das ervas para abortar e curar o fluxo, dos diuréticos, laxantes e fórmulas para fortalecer o sangue, que Tété sabia de cor. Riram-se os dois do tónico de salsaparrilha que os créoles usavam para todos os seus males, e concordaram que os conhecimentos de Tante Rose faziam muita falta. No dia seguinte, Parmentier apresentou-se diante de Violette Boisier para lhe propor que alargasse o seu negócio de loções de beleza, com uma lista de produtos curativos da farmacopeia de Tante Rose, que Tété podia preparar na cozinha, comprometendo-se ele a comprá-los na totalidade. Violette não pensou duas vezes, o negócio pareceu-lhe correcto para todos os interessados: o doutor obteria os seus remédios, Tété cobraria a sua parte e ela ficaria com o resto, sem fazer o menor esforço.
Os americanos
Então, Nova Orleães foi sacudida pelo boato mais inverosímil. Nos cafés e tabernas, nas ruas e praças, as pessoas juntavam-se com os ânimos exacerbados a comentar a notícia, ainda incerta, de que Napoleão tinha vendido a Louisiana aos americanos. Com o correr dos dias, prevaleceu a ideia de que se tratava apenas de uma calúnia, mas continuaram a falar do maldito corso, «porque, lembrem-se, senhores, Napoleão é da Córsega; não se pode dizer que seja francês. Vendeu-nos aos kaintocks». Era a transacção de terreno mais formidável e barata da história: mais de dois milhões de quilómetros quadrados pela soma de quinze milhões de dólares, quer dizer, meia dúzia de centavos por hectare. A maior parte desse território, ocupada por tribos indígenas dispersas, não tinha sido devidamente explorada pelos brancos, e ninguém conseguia imaginá-lo, mas, quando Sancho Garcia del Solar fez circular um mapa do continente, até o mais lerdo conseguiu calcular que os americanos tinham aumentado para o dobro o tamanho do seu país. «E o que será de nós agora? Como é que Napoleão meteu a luva em semelhante negócio? Não somos uma colónia espanhola?» Três anos antes, a Espanha tinha entregado a Louisiana à França através do tratado secreto de Santo Ildefonso, mas a maioria não se tinha apercebido porque a vida continuou como sempre. A mudança de governo não se notou, as autoridades espanholas permaneceram nos seus postos, enquanto Napoleão guerreava contra turcos, austríacos, italianos e quem se pusesse à sua frente, além dos rebeldes em Saint-Domingue. Tinha de lutar em demasiadas frentes, inclusive contra a Inglaterra, o seu inimigo ancestral, e necessitava de tempo, tropas e dinheiro; não podia ocupar nem defender a Louisiana, temia que caísse nas mãos dos britânicos e preferiu vendê-la ao único interessado, o presidente Jefferson.
Em Nova Orleães, todos, menos os ociosos do Café des Emigres, que já estavam com um pé no barco para voltar para Saint-Domingue, receberam a notícia com espanto. Estavam convencidos de que os americanos eram uns bárbaros cobertos com peles de búfalo, que comiam com as botas em cima da mesa e careciam por completo de decência, compostura e honra. Para já nem falar de classe! Só estavam interessados em apostar, beber e dar tiros ou murros, eram diabolicamente desordeiros e, para cúmulo, protestantes. Além disso, não falavam francês. Bom, teriam de aprendê-lo, caso contrário, como é que pensavam viver em Nova Orleães? A cidade inteira esteve de acordo em que pertencer aos Estados Unidos equivalia ao fim da família, da cultura e da única religião verdadeira. Valmorain e Sancho, que lidavam com americanos por causa dos seus negócios, contribuíram com uma nota conciliadora naquele alvoroço, explicando que os kaintocks eram homens de fronteira, mais ou menos como corsários, e não se podia julgar os americanos todos tendo aqueles como exemplo. Com efeito, disse Valmorain, nas suas viagens tinha conhecido muitos americanos, pessoas com a melhor das educações, e calmas; quando muito, podia-se censurá-los por serem demasiado moralistas e espartanos nos seus hábitos, o oposto dos kaintocks. O seu defeito mais notável consistia em considerar o trabalho como uma virtude, inclusive o trabalho manual. Eram materialistas, triunfadores e animava-os um entusiasmo messiânico por reformar quem não pensasse como eles, mas não representavam um perigo imediato para a civilização. Ninguém os quis ouvir, à excepção de dois loucos como Bernard de Marigny, que farejou as enormes possibilidades comerciais em tornar-se amigo dos americanos, e Père Antoine, que vivia nas nuvens.
Primeiro, fez-se a transferência oficial, com três anos de atraso, da colónia espanhola para as autoridades francesas. De acordo com o exagerado discurso do perfeito perante a multidão que acorreu à cerimónia, os habitantes da Louisiana tinham «as almas inundadas com o delírio de extrema felicidade». Festejaram com bailes, concertos, banquetes e espectáculos teatrais, na melhor tradição créole, uma verdadeira concorrência de cortesia, nobreza e exuberância entre o deposto governo espanhol e o flamejante governo francês, mas durou pouco, porque, justamente quando estavam a hastear a bandeira de França, atracou um barco proveniente de Bordéus com a confirmação da venda do território aos americanos. Vendidos como gado! Humilhação e fúria substituíram o espírito festivo do dia anterior. A segunda transferência, desta vez dos franceses para os americanos, que estavam acampados a duas milhas da cidade, prontos para ocupá-la, teve lugar dezassete dias mais tarde, no dia 20 de Dezembro de 1803, e não foi nenhum «delírio de extrema felicidade», mas sim um duelo colectivo.
Nesse mesmo mês, Dessalines proclamou a independência de Saint-Domingue com o nome de República Negra do Haiti, sob uma nova bandeira azul e vermelha. Haiti, «terra de montanhas», era o nome que os desaparecidos aruaques davam à sua ilha. Com a intenção de apagar o racismo, que tinha sido a maldição da colónia, todos os cidadãos, sem importar a cor da sua pele, denominavam-se nègs, e todos os que não eram cidadãos chamavam-se blancs.
— Creio que a Europa e até os Estados Unidos procurarão afundar essa pobre ilha, porque o seu exemplo pode incitar outras colónias a tornarem-se independentes. Também não permitirão que se propague a abolição da escravatura — comentou Parmentier ao seu amigo Valmorain.
— A nós, na Louisiana, convém-nos o desastre do Haiti, porque vendemos mais açúcar e a melhor preço — concluiu Valmorain, para quem o destino da ilha já não lhe dizia respeito, porque todos os seus investimentos estavam a salvo.
Os emigrados de Saint-Domingue em Nova Orleães não chegaram a ficar admirados com essa primeira república negra, porque os acontecimentos na cidade exigiam toda a sua atenção. Num brilhante dia de sol, juntou-se na Praça de Armas uma multidão multifacetada de créoles, franceses, espanhóis, índios e negros para ver as autoridades que entravam a cavalo, seguidas por um destacamento de dragões, duas companhias de infantaria e uma de carabineiros. Ninguém sentia simpatia por aqueles homens que se pavoneavam como se cada um deles tivesse posto do seu bolso os quinze milhões de dólares para comprar a Louisiana.
Numa breve cerimónia oficial em El Cabildo, entregaram as chaves da cidade ao novo governador e, logo a seguir, efectuou-se a troca de bandeiras na praça, desceram lentamente o pavilhão tricolor da França e hastearam a bandeira estrelada dos Estados Unidos. Quando as duas se cruzaram a meio, pararam um momento e um tiro de canhão deu o sinal, que foi respondido de imediato por um coro de fogachos dos barcos no mar. Uma banda de música tocou uma canção popular americana e as pessoas escutaram em silêncio; muitos choravam copiosamente e mais do que uma dama desfaleceu de dor. Os recém-chegados prepararam-se para ocupar a cidade da forma o menos agressiva possível, enquanto os nativos se preparavam para lhes tornar a vida muito difícil. Os Guizot já tinham posto a circular cartas para as pessoas com quem se relacionavam para que marginalizassem os forasteiros, ninguém devia colaborar com eles nem recebê-los em suas casas. Até o mais lamentável mendigo de Nova Orleães se sentia superior aos americanos.
Uma das medidas tomadas pelo governador Claiborne foi declarar o inglês língua oficial, o que foi recebido com trocista incredulidade pelos créoles. Inglês? Tinham vivido décadas como colónia espanhola a falar francês; os americanos deviam estar definitivamente dementes se estavam à espera que o seu calão gutural substituísse a língua mais melódica do mundo.
As freiras Ursulinas, aterrorizadas com a certeza de que os bonapartistas primeiro, e os kaintocks depois, iam arrasar a cidade, profanar a sua igreja e violá-las, prepararam-se para embarcar aos magotes para Cuba, apesar das súplicas das suas pupilas, dos seus órfãos e das centenas de indigentes que ajudavam. Só nove das vinte e cinco freiras ficaram, as outras dezasseis desfilaram cabisbaixas em direcção ao porto, envoltas nos seus véus e a chorar, rodeadas por um séquito de amigos, conhecidos e escravos que as acompanharam até ao barco.
Valmorain recebeu uma mensagem escrita à pressa a intimá-lo a retirar a sua protegida do colégio no prazo de vinte e quatro horas. Hortense, que esperava outro filho, com a esperança de que desta vez fosse o tão desejado varão, deu a entender ao seu marido, sem margem para dúvidas, que essa rapariga negra não pisaria a sua casa e que também não queria que ninguém a visse com ele. As pessoas eram mal-intencionadas e, seguramente, poriam a correr boatos — falsos, naturalmente — de que Rosette era sua filha.
Com a derrota das tropas napoleónicas no Haiti, chegou uma segunda avalanche de refugiados a Nova Orleães, tal como previu o doutor Parmentier; primeiro, centenas, e depois milhares. Eram bonapartistas, radicais e ateus, muito diferentes dos monárquicos católicos que tinham chegado antes. O choque entre emigrantes foi inevitável e coincidiu com a entrada dos emigrantes na cidade. O governador Claiborne, um militar jovem, de olhos azuis e curta melena amarela, não falava uma palavra de francês e não entendia a mentalidade dos créoles, que considerava preguiçosos e decadentes.
De Saint-Domingue chegavam barcos, uns atrás dos outros, carregados de civis e soldados doentes com febre, que representavam um perigo político pelas suas ideias revolucionárias, e para a saúde pública pela possibilidade de uma epidemia. Claiborne procurou isolá-los em acampamentos afastados, mas a medida foi muito criticada e não impediu a torrente de refugiados, que arranjavam maneira de chegar à cidade. Pôs na prisão os escravos que traíam os brancos, receando que incitassem os locais com o germe da rebelião; em breve, não houve espaço nas celas e foi ultrapassado pelo clamor dos amos, indignados porque a sua propriedade tinha sido confiscada. Alegavam que os seus negros eram leais e de comprovado bom carácter, caso contrário, não os teriam trazido. Além disso, faziam muita falta. Embora na Louisiana ninguém respeitasse a proibição de importar escravos e os piratas abastecessem o mercado, em todo o caso, havia muita procura. Claiborne, que não era partidário da escravatura, cedeu à pressão do público e dispôs-se a considerar cada caso individualmente, o que podia levar meses, enquanto Nova Orleães estava feita em fanicos.
Violette Boisier preparou-se para se adaptar ao impacto dos americanos. Adivinhou que os amáveis créoles, com a sua cultura do ócio, não resistiriam à pujança desses homens empreendedores e práticos. «Toma bem nota do que te digo, Sancho: dentro de pouco tempo, estes parvenus vão apagar-nos da face da Terra», avisou o seu amante. Tinha ouvido falar do espírito igualitário dos americanos, inseparável da democracia, e pensou que, se antes havia espaço para a gente de cor livre em Nova Orleães, com muito mais razão o haveria no futuro. «Não te iludas, são mais racistas do que os ingleses, franceses e espanhóis todos juntos», explicou-lhe Sancho, mas ela não acreditou nele.
Enquanto outros se recusavam a misturar-se com os americanos, Violette dedicou-se a estudá-los de perto, para ver o que aprendia com eles e como podia manter-se à tona perante as inevitáveis mudanças que trariam para Nova Orleães. Sentia-se satisfeita com a sua vida, tinha independência e conforto. Falava a sério quando dizia que ia morrer rica. Com os lucros dos seus cremes e conselhos de moda e beleza, tinha comprado, em menos de três anos, a casa da Rua Chartres e planeava adquirir outra. «É preciso investir em propriedades, é a única coisa que fica, tudo o resto é levado pelo vento», repetia a Sancho, que não possuía nada que fosse seu, porque a plantação era de Valmorain. O projecto de comprar terra e fazê-la produzir tinha parecido fascinante a Sancho no primeiro ano, suportável no segundo e, daí em diante, um tormento. O entusiasmo pelo algodão esfumou-se assim que Hortense mostrou interesse, porque preferia não ter ligações com essa mulher. Sabia que Hortense andava a conspirar para o tirar do meio e reconhecia que não lhe faltavam razões: ele era uma carga que Valmorain carregava aos ombros por amizade. Violette aconselhava-o a resolver os seus problemas com uma esposa rica. «Já não me queres?», replicava Sancho, ofendido. «Quero-te, mas não o suficiente para te manter. Casa-te e continuamos a ser amantes.» Loula não partilhava o entusiasmo de Violette pelas propriedades. Defendia que, naquela cidade de catástrofes onde estavam sujeitas aos caprichos do clima e dos incêndios, devia investir-se em ouro e dedicar-se a emprestar dinheiro, como tinham feito antes com tão bons resultados, mas, para Violette, não lhe convinha arranjar inimigos com manobras de usurária. Tinha atingido a idade da prudência e estava a construir a sua posição social. Só se preocupava com Jean-Martin que, segundo as suas codificadas missivas, continuava inamovível na sua intenção de seguir os passos do pai, cuja memória venerava. Ela pretendia algo melhor para o seu filho, conhecia de sobra a dureza da vida militar — bastava ver as condições desastrosas em que chegavam os soldados derrotados do Haiti. Não conseguia dissuadi-lo através de cartas ditadas a um escrivão; teria de ir a França e convencê-lo a estudar uma profissão rentável, por exemplo, advogado. Por muito incompetente que fosse, nenhum advogado acabava pobre. O facto de Jean-Martin não ter demonstrado interesse pela justiça não era importante, muito poucos advogados o tinham. Depois haveria de o casar em Nova Orleães com uma rapariga o mais branca possível, alguém como Rosette, mas com fortuna e de boas famílias. Segundo a sua experiência, a pele clara e o dinheiro facilitavam quase tudo. Queria que os seus netos viessem ao mundo com vantagem.
Rosette
Valmorain tinha visto Tété na rua — era impossível não se encontrarem naquela cidade — e tinha feito como se não a conhecesse, mas sabia que trabalhava para Violette Boisier. Tinha muito pouco contacto com a bela dos seus antigos amores porque, antes de conseguir retomar a amizade, como planeava, quando a viu chegar a Nova Orleães, Sancho tinha-se atravessado com a sua galanteria, a sua boa pinta e a vantagem de ser solteiro. Valmorain ainda não compreendia como o seu cunhado lhe tinha conseguido ganhar a jogada. A sua relação com Hortense havia perdido o brilho desde que ela, absorta na maternidade, tinha descuidado as acrobacias na grande cama matrimonial com anjinhos. Estava sempre prenhe, não acabava de se recuperar de uma menina e já estava à espera da seguinte, cada vez mais cansada, gorda e tirânica.
Para Valmorain, os meses em Nova Orleães tornavam-se entediantes, sufocava no ambiente feminino do seu lar e com a companhia constante dos Guizot; por isso, raspava-se para a plantação, deixando Hortense com as meninas na casa da cidade. No fundo, ela também preferia as coisas assim: o seu marido ocupava demasiado espaço. Na plantação, notava-se menos, mas na cidade as divisões tornavam-se-lhe estreitas e as horas muito longas. Ele tinha a sua própria vida fora de portas, mas ao contrário de outros homens da sua condição, não mantinha uma amásia que lhe adoçasse algumas tardes da semana. Quando viu Violette Boisier no molhe, pensou que seria a amante ideal, bela, discreta e infértil. A mulher já não era tão jovem, mas ele não desejava uma rapariga de quem depressa se cansaria. Violette foi sempre um desafio e, com a maturidade, era-o, sem dúvida, ainda mais; com ela nunca conseguiria aborrecer-se. No entanto, segundo uma regra entre cavalheiros, não tentou vê-la depois de Sancho se ter apaixonado por ela. Nesse dia, foi à casa amarela com a esperança de a ver, levando o bilhete das Ursulinas na jaqueta. Tété, com quem não tinha trocado palavra nos últimos três anos, abriu-lhe a porta.
— Madame Violette não está, neste momento — anunciou-lhe no umbral.
— Não tem importância, vim falar contigo.
Ela conduziu-o para a sala e ofereceu-lhe um café, que ele aceitou para recuperar o fôlego, embora o café lhe provocasse ardor no estômago. Sentou-se num cadeirão redondo, onde só conseguiu acomodar o traseiro, com a bengala entre as pernas, ofegante. Não fazia calor, mas, nos últimos tempos, faltava-lhe o ar com frequência. «Preciso de emagrecer um pouco», dizia para consigo todas as manhãs, quando lutava com o cinturão e o lenço de três voltas; até o calçado lhe apertava. Tété regressou com uma bandeja, serviu-lhe o café como ele gostava, bastante forte e amargo, depois serviu outra chávena para ela, com muito açúcar. Valmorain notou, entre divertido e irritado, uma expressão de superioridade na sua antiga escrava. Embora não o olhasse nos olhos e tenha cometido a insolência de se sentar, atrevia-se a beber café na sua presença sem lhe pedir licença, porém, não encontrou na voz a submissão de outrora. Admitiu que estava melhor do que nunca; seguramente tinha aprendido alguns truques com Violette, cuja recordação lhe agitou o coração: a sua pele de gardénia, a sua cabeleira negra, os seus olhos sombreados por longas pestanas. Tété não se podia comparar com ela, mas, agora que não era sua, parecia-lhe desejável.
— A que devo a sua visita, monsieur? — perguntou ela.
— Trata-se de Rosette. Não te alarmes. A tua filha está bem, mas amanhã sairá do colégio porque as freiras vão-se embora para Cuba por causa dos americanos. É uma reacção exagerada e voltarão, sem dúvida, mas agora tens de tomar conta de Rosette.
— Como posso fazer isso, monsieur? — disse Tété, irritada. — Não sei se Madame Violette irá aceitar que a traga para aqui.
— Isso não me diz respeito. Amanhã bem cedo deves ir buscá-la. Tu verás o que fazer com ela.
— Rosette também é da sua responsabilidade, monsieur.
— Essa rapariguinha tem vivido como uma senhorita e recebido a melhor educação graças a mim. Chegou a hora de enfrentar a realidade. Vai ter de trabalhar, a menos que arranje um marido.
— Tem catorze anos!
— Idade de sobra para se casar. As negras amadurecem cedo — disse, e pôs-se com dificuldade de pé, para se ir embora.
A indignação queimou Tété como uma labareda, mas trinta anos a obedecer àquele homem e o temor que sempre lhe inspirara, impediu-a de lhe dizer o que tinha na ponta da língua. Não tinha esquecido a primeira violação do amo, quando era uma criança, o ódio, a dor, a vergonha, nem os posteriores abusos, que aguentou durante anos. Calada, trémula, entregou-lhe o seu chapéu e conduziu-o à porta. No umbral, ele deteve-se.
— Serviu-te para alguma coisa a liberdade? Vives mais pobre do que antes, nem sequer contas com um tecto para a tua filha. Em minha casa, Rosette teve sempre o seu lugar.
— O lugar de uma escrava, monsieur. Prefiro que viva na miséria e seja livre — replicou Tété, contendo as lágrimas.
— O orgulho será a tua condenação, mulher. Não pertences a lado nenhum, não tens um ofício e já não és jovem. O que vais fazer? Fazes-me pena, por isso, vou ajudar a tua filha. Isto é para Rosette.
Entregou-lhe uma bolsa com dinheiro, desceu os cinco degraus que conduziam à rua e foi-se embora a caminhar, satisfeito, em direcção a sua casa. Dez passos mais adiante já se tinha esquecido do assunto, tinha outras coisas em que pensar.
Nessa altura, Violette Boisier andava com uma ideia fixa que tinha começado a dar-lhe voltas à cabeça um ano antes e se concretizou quando as Ursulinas puseram Rosette na rua. Ninguém conhecia melhor do que ela as fraquezas dos homens e as necessidades das mulheres, pensava aproveitar a sua experiência para fazer dinheiro e, ao mesmo tempo, oferecer um serviço que fazia muita falta em Nova Orleães. Com esse objectivo, ofereceu hospitalidade a Rosette. A rapariga chegou com o seu uniforme escolar, séria e altiva, seguida a dois passos de distância pela mãe, que carregava os embrulhos e não se cansava de abençoar Violette por as ter acolhido sob o seu tecto.
Rosette tinha os ossos nobres e os olhos com reflexos dourados da sua mãe, a pele de amêndoa das mulheres nas pinturas espanholas, os lábios cor de ameixa, o cabelo ondulado e comprido até meio das costas e as curvas suaves da adolescência. Aos catorze anos, conhecia plenamente o poder temível da sua beleza e, ao contrário de Tété, que tinha trabalhado desde a infância, parecia feita para ser servida. «Está bem arranjada, nasceu escrava e arma-se em rainha. Eu trato de a pôr no seu lugar», opinou Loula com um suspiro desdenhoso, mas Violette fez-lhe ver o potencial da sua ideia: investimento e lucro, conceitos dos americanos que Loula tinha adoptado como próprios, e convenceu-a a ceder o seu quarto a Rosette e a ir dormir com Tété, na cela de serviço. A menina iria precisar de muito descanso, disse.
— Uma vez, perguntaste-me o que irias fazer com a tua filha quando saísse do colégio. Ocorreu-me uma solução — anunciou Violette a Tété.
Recordou-lhe que as alternativas eram muito escassas para Rosette. Casá-la sem um bom dote equivalia a uma condenação de trabalho forçado junto de um marido pobretanas. Tinha de pôr de parte um negro, só podia ser um mulato e esses procuravam casar-se para melhorar a sua condição social ou financeira, o que Rosette não oferecia. Também não tinha vocação para costureira, cabeleireira, enfermeira ou outro dos ofícios próprios da sua condição. De momento, o seu único capital era a beleza, mas havia muitas raparigas bonitas em Nova Orleães.
— Vamos arranjar as coisas para que Rosette viva bem sem ter de trabalhar — anunciou Violette.
— Como faremos isso, madame? — sorriu Tété, incrédula.
— Plaçage. Rosette precisa de um homem branco que a mantenha.
Violette tinha estudado a mentalidade das clientes que compravam as suas loções de beleza, as suas armaduras com barbas de baleia e os vestidos vaporosos que Adèle cosia. Eram tão ambiciosas como ela e todas desejavam que a sua descendência prosperasse. Davam um ofício ou uma profissão aos filhos, mas tremiam quanto ao futuro das filhas. Colocá-las com um branco costumava ser mais conveniente do que casá-las com um homem de cor, mas havia dez raparigas disponíveis para cada branco solteiro e, sem bons conhecimentos, era muito difícil fazê-lo. O homem escolhia a menina e depois tratava-a como lhe apetecia, um arranjinho muito cómodo para ele e arriscado para ela. Habitualmente, a união durava até chegar a hora de ele se casar com alguém da sua classe, à volta dos trinta anos, mas também havia casos em que a relação continuava para o resto da vida, e outros em que, por amor a uma mulher de cor, o branco permanecia solteiro. De todas as formas, a sorte dela dependia do seu protector. O plano de Violette consistia em impor uma certa justiça: a rapariga placée devia exigir segurança para ela e para os seus filhos, uma vez que oferecia completa dedicação e fidelidade. Se o jovem não podia dar garantias, devia fazê-lo o seu pai, tal como a mãe da rapariga garantia a virtude e o comportamento da sua filha.
— Qual vai ser a opinião de Rosette em relação a isto, madame...'? — balbuciou Tété, assustada.
— A sua opinião não conta para nada. Pensa bem, mulher. Isto está muito longe de ser prostituição, como alguns dizem. Posso assegurar-te, por experiência própria, que a protecção de um branco é indispensável. A minha vida teria sido muito diferente sem Étienne Relais.
— Mas a senhora casou-se com ele... — alegou Tété.
— Isso aqui é impossível. Diz-me, Tété, que diferença há entre uma branca casada e uma rapariga de cor placée? São as duas mantidas, submetidas, destinadas a servir o homem e a dar-lhe filhos.
— O casamento significa segurança e respeito — alegou Tété.
— Aplaçage deveria ser o mesmo — disse Violette, enfática. -Tem de ser vantajoso para ambas as partes, não uma coutada de caça para os brancos. Vou começar com a tua filha, que não tem dinheiro nem é de boas famílias, mas é bonita e já é livre, graças a Père Antoine. Será a menina mais bem placée de Nova Orleães. Dentro de um ano, apresentamo-la à sociedade, disponho do tempo exacto para prepará-la.
— Não sei... — E Tété calou-se, porque não tinha nada mais conveniente para a sua filha e confiava em Violette Boisier.
Não consultaram Rosette, mas a menina revelou-se mais esperta do que esperavam, adivinhou-o e não se opôs porque ela também tinha um plano.
Nas semanas seguintes, Violette visitou, uma a uma, as mães de adolescentes de cor da classe alta, as matriarcas da Société du Cordon Bleu, e expôs-lhes a sua ideia. Essas mulheres mandavam no seu meio, muitas tinham negócios, terras e escravos que, nalguns casos, eram seus próprios parentes. As suas avós tinham sido escravas emancipadas que tiveram filhos com os seus amos, de quem receberam ajuda para prosperar. As relações de família, embora fossem de diferentes raças, era a estrutura que mantinha o complexo edifício da sociedade créole. A ideia de partilhar um homem com uma ou várias mulheres não era estranha para essas mestiças, cujas bisavós provinham de famílias polígamas de África. A sua obrigação consistia em dar bem-estar às suas filhas e netos, mesmo que esse bem-estar proviesse do marido de outra mulher.
Aquelas formidáveis mães-galinha, cinco vezes mais numerosas do que os homens da sua mesma classe, raras vezes conseguiam um genro apropriado; sabiam que a melhor forma de velar pelas suas filhas era colocá-las com alguém que pudesse protegê-las; de outro modo, ficavam à mercê de qualquer predador. O rapto, a violência física e a violação não eram crimes, se a vítima fosse uma mulher de cor, mesmo sendo livre.
Violette explicou às mães que a sua ideia era oferecer um baile luxuoso no melhor salão disponível, financiado por quotas entre elas. Os convidados seriam jovens brancos com fortuna e seriamente interessados na plaçage, acompanhados pelos seus pais, caso fosse necessário, nada de galantes soltos à procura de uma incauta para se divertirem sem compromisso. Mais de uma mãe sugeriu que os homens pagassem a entrada, mas, segundo Violette, isso abria a porta a indesejáveis, como sucedia nos bailes de Carnaval ou nos do Salão Orleães e no Teatro Francês, onde, por um preço módico, qualquer um entrava, desde que não fosse negro. Este baile seria tão selectivo como os das debutantes brancas. Haveria tempo para averiguar os antecedentes dos convidados, porque ninguém desejava entregar a sua filha a alguém com maus hábitos ou com dívidas. «Pela primeira vez, os brancos vão ter de aceitar as nossas condições», disse Violette.
Para não as inquietar, omitiu-lhes que, de futuro, pensava acrescentar americanos à lista de convidados, apesar de Sancho a ter avisado que nenhum protestante entenderia as vantagens daplaçage. Enfim, mais tarde haveria tempo para pensar nisso; de momento, precisava de se concentrar no primeiro baile.
O branco poderia dançar com a escolhida duas vezes e, se lhe agradasse, ele ou o seu pai deviam começar as negociações de imediato com a mãe da menina, nada de perder tempo com galanteios inúteis. O protector devia contribuir com uma casa, uma pensão anual e educar os filhos do casal. Uma vez acordados esses aspectos, a rapariga placée mudava-se para a sua nova casa e começava a convivência. Ela ofereceria discrição durante o tempo que estivessem juntos e a certeza de que não haveria drama quando terminasse a relação, o que dependia inteiramente dele. «Aplaçage deve ser um contrato de honra, convém a todos respeitar as regras», disse Violette. Os brancos não podiam abandonar na indigência as suas jovens amantes, porque fazia perigar o delicado equilíbrio do concubinato aceite. Não havia contrato escrito, mas, se um homem violasse a palavra empenhada, as mulheres encarregar-se-iam de arruinar a sua reputação. O baile chamar-se-ia Cordon Bleu e Violette comprometeu-se em convertê-lo no evento mais esperado do ano para os jovens de todas as cores.
Zarité
A cabei por aceitar a plaçage, que as mães das outras raparigas aceitavam com naturalidade, mas a mim chocava-me. Não me agradava para a minha filha, mas que outra coisa podia oferecer-lhe? Rosette compreendeu de imediato, quando me atrevi a dizer-lho. Tinha mais senso comum do que eu.
Madame Violette organizou o baile com a ajuda de uns franceses que montavam espectáculos. Também criou uma Academia de Etiqueta e Beleza, como passou a chamar-se a casa amarela, onde preparava as raparigas a quem dava aulas. Disse que essas seriam as mais solicitadas e poderiam regozijar-se com a escolha do protector, foi assim que convenceu as mães e ninguém se queixou do preço. Pela primeira vez nos seus quarenta e cinco anos, Madame Violette saía cedo da cama. Eu acordava-a com um café forte e saía a fugir antes que mo atirasse à cabeça. O mau humor durava-lhe meia manhã. Madame só aceitou uma dúzia de alunas, não tinha capacidade para mais, mas planeava arranjar um local apropriado no ano seguinte. Contratou professores de canto e de dança; as meninas andavam com uma malga de água à cabeça para melhorar a postura, ensinou-as a pentearem-se e maquilharem-se e, nas horas livres, eu explicava-lhes como se trata de uma casa, porque sei bastante sobre isso. Também lhes desenhou um vestuário a cada uma, segundo a sua figura e colorido, que depois Madame Adèle e as suas ajudantes costuravam. O doutor Parmentier propôs que as meninas também tivessem assuntos de conversa, mas, segundo Madame Violette, nenhum homem estava interessado no que diz uma mulher, e Don Sancho esteve de acordo. O doutor, pelo contrário, escuta sempre as opiniões de Adèle e segue os seus conselhos, porque ele só tem cabeça para curar. Ela toma as decisões da família.
Compraram a casa da Rua Rampart e estão a educar os filhos com o seu trabalho e os seus lucros, porque o dinheiro do doutor desfaz-se em fumo.
A meio do ano, as alunas tinham progredido tanto que Don Sancho apostou com os seus compinchas do Café des Emigres que seriam todas bem colocadas. Eu observava as aulas disfarçadamente, a ver se algo me podia servir para comprazer a Zacharie. Ao seu lado, pareço uma criada, não tenho o encanto de Madame Violette nem a inteligência de Adèle; não sou coquete, como me aconselhava Don Sancho, nem interessante para conversar, como desejaria o doutor Parmentier.
De dia, a minha filha andava presa com um corpete e à noite dormia betumada com creme branqueador, com uma fitinha para lhe esmagar as orelhas e uma cilha de cavalo para lhe estreitar a cintura. A beleza é ilusória, dizia madame, aos quinze anos são todas lindas, mas para continuar a sê-lo é exigida disciplina. Rosette tinha de ler em voz alta as listas dos carregamentos de barcos no porto, treinava-se assim para suportar com boa cara um homem aborrecido; quase não comia, alisava o cabelo com ferros quentes, depilava-se com caramelo, fazia esfoliações com aveia e limão, passava horas a ensaiar vénias, danças e jogos de salão. De que lhe servia ser livre se tinha de se comportar assim? Nenhum homem merece tanto, dizia eu, mas Madame Violette convenceu-me de que era a única forma de assegurar o seu futuro. A minha filha, que nunca tinha sido dócil, submetia-se sem se queixar. Algo tinha mudado nela, já não se esmerava por agradar a ninguém, tornara-se calada. Antes vivia a contemplar-se, agora só usava o espelho nas aulas, quando madame lho exigia.
Madame ensinava a forma de lisonjear sem servilismo, de calar as censuras, ocultar os ciúmes e vencer a tentação de provar outros beijos. O mais importante, segundo ela, era aproveitar o fogo que nós, as mulheres, temos no ventre. É isso que os homens mais temem e mais desejam. Aconselhava as meninas a conhecerem o seu corpo e a terem prazer com os dedos, porque sem prazer não há saúde nem beleza. Isso mesmo procurou ensinar-me Tante Rose, na época em que começaram as violações do amo Valmorain, mas não lhe liguei, eu era uma ranhosa e andava demasiado assustada. Tante Rose dava-me banhos de ervas e punha-me uma massa de argila na barriga e nas coxas, que a princípio sentia fria e pesada, mas, logo a seguir, aquecia e parecia ferver, como se estivesse viva. Era assim que me curava. A terra e a água curam o corpo e a alma. Suponho que com Gambo senti pela primeira vez aquilo que madame mencionava, mas separámo-nos demasiado depressa. Depois não senti nada durante anos, até que apareceu Zacharie para despertar o meu corpo. Gosta de mim e tem paciência. Além de Tante Rose, ele foi o único que contou as minhas cicatrizes nos sítios secretos onde algumas vezes o amo apagou o seu charuto. Madame Violette foi a única mulher a quem ouvi esta palavra: prazer. «Como é que vocês o vão dar a um homem se vocês não o conhecem?», dizia-lhes. Prazer do amor, de amamentar um filho, de dançar. Prazer é também esperar por Zacharie, sabendo que virá.
Nesse ano, estive muito ocupada com o meu trabalho em casa, além de atender as alunas, correr afazer recados para Madame Adèle e preparar os remédios para o doutor Parmentier. Em Dezembro, pouco antes do baile do Cordon Bleu,fiz as contas, e há três meses que não sangrava. A única coisa surpreendente foi que não tivesse ficado grávida antes, porque havia algum tempo que estava com Zacharie sem tomar as precauções que Tante Rose me tinha ensinado. Ele quis que nos casássemos assim que lho anunciei, mas, primeiro, eu tinha de colocar a minha Rosette.
Maurice
Durante as férias do quarto ano de colégio, Maurice esperou, como sempre, por Jules Beluche. Nessa altura, já não desejava estar com a família e a única razão para voltar para Nova Orleães era Rosette, embora a possibilidade de a ver fosse remota. As Ursulinas não permitiam as visitas espontâneas de ninguém e muito menos de um rapaz incapaz de provar um parentesco próximo. Sabia que o pai nunca lhe daria autorização, mas não perdeu a esperança de acompanhar o seu tio Sancho, que as freiras já conheciam, porque nunca tinha deixado de visitar Rosette. Através das cartas, ficou ao corrente de que Tété tinha sido desterrada para a plantação depois do incidente com Hortense e a culpa era toda sua; imaginava-a a cortar cana de sol a sol e sentia um nó apertado na boca do estômago. Não fora só ele e Rosette quem tinham pagado caro essa chibatada com o pingalim; pelos vistos, também Rosette caíra em desgraça. A rapariga tinha escrito várias vezes a Valmorain que a fosse visitar, mas nunca recebeu resposta. «O que fiz eu para perder a estima do seu pai? Antes era como sua filha, por que razão me esqueceu?», clamava repetidamente nas suas cartas a Maurice, mas ele não podia dar-lhe uma resposta honesta. «Não te esqueceu, Rosette, o papá quer-te como sempre e está preocupado com o teu bem-estar, mas a plantação e os seus negócios mantêm-no ocupado. Eu também há três anos que não o vejo.» Para quê dizer-lhe que Valmorain nunca a considerou sua filha? Antes de ser exilado para Boston, pediu ao pai que o levasse ao colégio para visitar a sua irmã e este replicou encolerizado que a sua única irmã era Marie-Hortense.
Nesse Verão, Jules Beluche não se apresentou em Boston; em contrapartida, chegou Sancho Garcia del Solar com um chapéu de aba larga, a galope apressado e com outro cavalo a reboque. Desmontou com um salto e sacudiu o pó da roupa à chapelada, antes de abraçar o seu sobrinho. Jules Beluche tinha sido esfaqueado por dívidas de jogo e os Guizot intervieram para evitar falatórios porque, por muito distante que fosse o parentesco que os unia, as más-línguas se encarregariam de associar Beluche ao ramo honrado da família. Fizeram o que qualquer créole da sua classe fazia em semelhantes circunstâncias: pagaram as duas dívidas, albergaram-no até que a ferida se curou e pôde cuidar de si mesmo, deram-lhe algum dinheiro e puseram-no no barco com instruções de só desembarcar depois do Texas e nunca mais regressar a Nova Orleães. Sancho contou tudo isto a Maurice, a torcer-se de riso.
— Eu poderia estar no lugar dele, Maurice. Até agora tenho tido sorte, mas qualquer dia dão-te a notícia de que o teu tio predilecto foi passado à navalha numa baiuca de má fama -acrescentou.
— Oxalá Deus não o permita, tio. Vai levar-me para casa? -perguntou-lhe Maurice com uma voz que passava de barítono a soprano na mesma frase.
— Como é possível lembrares-te de uma coisa dessas? Queres ir enterrar-te o Verão todo na plantação? Tu e eu vamos partir em viagem — anunciou-lhe Sancho.
— Ou seja, o mesmo que tenho feito com Beluche.
— Não me compares, Maurice. Não penso contribuir para a tua formação cívica a mostrar-te monumentos; estou a pensar perverter-te, que te parece?
— Como, tio?
— Em Cuba, sobrinho. Não há melhor lugar para um par de trapaceiros como nós os dois. Quantos anos tens?
— Quinze.
— E ainda não acabaste de mudar de voz?
— Já mudei, tio, mas tenho catarro — gaguejou o rapaz.
— Com a tua idade eu era um diabrete. Estás atrasado, Maurice. Prepara as tuas coisas, porque partimos amanhã mesmo -ordenou-lhe Sancho.
Tinha deixado numerosos amigos e não poucas amantes em Cuba, que se propuseram recebê-lo durante as férias e tolerar o seu acompanhante, aquele rapaz estranho que passava o dia a escrever cartas e propunha temas de conversa absurdos, como escravidão e democracia, sobre os quais nenhum deles tinha opinião formada. Divertiam-se a ver Sancho no papel de ama-seca, que cumpria com insuspeita dedicação. Abstinha-se das melhores farras para não deixar o sobrinho só e deixou de assistir a lutas de animais — toiros com ursos, serpentes com doninhas, galos com galos, cães com cães — porque deixavam Maurice fora de si. Sancho propôs-se ensinar o rapaz a beber e, a meio da noite, acabava a limpar-lhe os vómitos. Revelou-lhe todos os truques com as cartas, mas Maurice carecia de malícia e ele depois tinha de pagar as dívidas a outros mais vivaços que o depenavam. Pouco depois, também teve de abandonar a ideia de o iniciar nas lides do amor, porque, quando tentou, quase que o ia matando de susto. Tinha combinado os pormenores com uma amiga sua, nada jovem mas atraente e com bom coração, que se dispôs a servir de mestra ao sobrinho pelo puro gosto de fazer um favor ao tio. «Este ranhoso ainda está muito verde...», murmurou Sancho, envergonhado, quando Maurice fugiu a correr ao ver a mulher com um provocador vestido curto, reclinada num divã. «Nunca ninguém me tinha feito semelhante desfeita, Sancho. Fecha a porta e vem consolar-me», riu-se ela. Apesar dos tropeções, Maurice passou um Verão inesquecível e regressou ao colégio mais alto, forte, bronzeado e com definitiva voz de tenor. «Não estudes demasiado, porque estraga a vista e o carácter, e prepara-te para o próximo Verão. Vou levar-te à Nova Espanha», despediu-se Sancho. Cumpriu a sua palavra e, a partir de então, Maurice esperava ansioso pelo Verão.
Em 1805, último ano de colégio, Sancho não veio buscá-lo, como nas anteriores ocasiões, mas sim o seu pai. Maurice deduziu que vinha anunciar-lhe alguma desgraça e temeu por Tété ou Rosette, mas não se tratava de nada que se parecesse. Valmorain tinha organizado uma viagem a França para visitar a avó do jovem e duas hipotéticas tias que o seu filho nunca tinha ouvido mencionar. «E depois iremos para casa, monsieur?», perguntou-lhe Maurice, a pensar em Rosette, cujas cartas forravam o fundo do seu baú. Por sua vez, tinha-lhe escrito cento e noventa e três cartas, sem pensar nas inevitáveis mudanças que ela teria tido nesses sete anos de separação, recordava-a como a menina vestida com laços e rendas que vira pela última vez antes do casamento do seu pai com Hortense Guizot. Não conseguia imaginá-la com quinze, tal como ela não o imaginava a ele com dezoito. «Claro que iremos para casa, filho; a tua mãe e as tuas irmãs aguardam-te», mentiu Valmorain.
A travessia, primeiro num barco que teve de contornar as tempestades de Verão e escapar, com dificuldade, a um ataque dos ingleses, e depois de coche até Paris, não conseguiu aproximar o pai do filho. Valmorain tinha concebido a viagem para evitar, durante mais uns meses, o desagrado de se reencontrar com Maurice, mas não podia adiá-lo indefinidamente; em breve, teria de enfrentar uma situação que os anos não tinham suavizado. Hortense não perdia uma oportunidade para destilar veneno contra o enteado, que todos os anos procurava substituir com um filho próprio, enquanto continuava a procriar meninas.
Por ela, Valmorain tinha excluído Maurice da família e agora arrependia-se. Havia uma década que não se ocupava a sério com o seu filho, sempre absorto nos seus assuntos, primeiro em Saint-Domingue, depois na Louisiana e, finalmente, com Hortense e o nascimento das meninas. O rapaz era um desconhecido que respondia às suas cartas com duas frases formais sobre o progresso dos seus estudos e nunca perguntara por nenhum membro da família, como se quisesse vincar bem que já não pertencia a ela. Nem sequer se deu por achado quando ele lhe contou numa só linha que Tété e Rosette tinham sido emancipadas e já não tinha contacto com elas.
Valmorain temeu ter perdido o filho nalgum momento desses agitados anos. Aquele jovem introvertido, alto e bonito, com os mesmos traços da mãe, não se parecia em nada com o rapazito de faces coradas que ele tinha embalado nos braços, rogando aos céus que o protegessem de todo o mal. Amava-o como sempre, ou talvez mais, porque o sentimento estava maculado pela culpa. Procurava convencer-se de que o seu carinho de pai era retribuído por Maurice, embora estivessem temporalmente afastados, mas tinha dúvidas. Traçara planos ambiciosos para ele, embora ainda não lhe tivesse perguntado o que queria fazer na vida. Na realidade, nada sabia dos seus interesses ou experiências, há séculos que não conversavam. Desejava recuperá-lo, e imaginou que esses meses juntos a sós em França serviriam para estabelecer uma relação de adultos. Tinha de lhe provar o seu afecto e esclarecê-lo que Hortense e as suas filhas não modificavam a sua condição de herdeiro único, mas, de cada vez que quis tocar no assunto, não obteve resposta. «A tradição de morgadio é muito sábia, Maurice; os bens não se devem repartir entre os filhos, porque, com cada divisão, enfraquece-se a família. Por seres o primogénito, receberás a minha herança completa e terás de cuidar das tuas irmãs. Quando eu já não estiver, tu serás a cabeça dos Valmorain. É tempo de começar a preparar-te, aprenderás a investir dinheiro, a conduzir a plantação e a relacionares-te em sociedade», disse-lhe. Silêncio. As conversas morriam antes de começar. Valmorain deambulava de um monólogo para outro.
Maurice observou sem comentários a França napoleónica, sempre em guerra, os museus, palácios, parques e avenidas que o pai lhe quis mostrar. Visitaram o château em ruínas, onde a avó vivia os seus últimos anos a cuidar de duas filhas solteironas mais deterioradas do que ela pelo tempo e pela solidão. Era uma anciã orgulhosa, vestida à moda de Luís XVI, decidida a desdenhar as mudanças do mundo. Estava firmemente estacionada na época anterior à Revolução Francesa e tinha apagado da sua memória o Terror, a guilhotina, o exílio em Itália e o regresso a uma pátria irreconhecível. Quando viu Toulouse Valmorain, o filho ausente há mais de trinta anos, ofereceu-lhe a sua mão ossuda com anéis antiquados em cada dedo para que lha beijasse e, a seguir, deu ordens às filhas para que o chocolate fosse servido. Valmorain apresentou-lhe o neto e procurou resumir-lhe a sua própria história, desde que embarcou para as Antilhas aos vinte anos, até àquele momento. Ela escutou-o sem fazer comentários, enquanto as irmãs ofereciam chaveninhas a fumegar e pratos com bolos velhos, perscrutando Valmorain com cautela. Recordavam o jovem frívolo que se despediu delas com um beijo distraído para partir com o seu valet e vários baús para passar umas semanas com o pai em Saint-Domingue, e nunca mais voltou. Não reconheciam aquele irmão de cabelo ralo, com papada e barriga, que falava com um sotaque estranho. Sabiam qualquer coisa sobre a insurreição de escravos na colónia, tinham ouvido algumas frases soltas aqui e acolá sobre as atrocidades cometidas nessa ilha decadente, mas não conseguiam relacioná-las com um membro da sua família. Jamais tinham demonstrado curiosidade por averiguar a origem dos meios de que viviam. Açúcar ensanguentado, escravos rebeldes, plantações incendiadas, exílio, e tudo o mais que o irmão mencionava, era-lhes tão incompreensível como uma conversa em chinês.
A mãe, pelo contrário, sabia exactamente a que se referia Valmorain, mas já nada lhe interessava demasiado neste mundo; tinha o coração seco para os afectos e as novidades. Escutou-o com um silêncio indiferente e, no final, a única pergunta que lhe fez foi se podia contar com mais dinheiro, porque a quantia que lhes enviava regularmente mal lhes chegava. Era indispensável reparar aquele casarão murcho pelos anos e as vicissitudes, disse; não podia morrer e deixar as filhas ao deus-dará. Valmorain e Maurice ficaram dois dias entre aquelas paredes lúgubres, que lhes pareceram tão longos como duas semanas. «Já não nos voltaremos a ver. É melhor assim», foram as últimas palavras da velha dama quando se despediu do seu filho e do seu neto.
Maurice acompanhou o pai a todo o lado, menos a um bordel de luxo onde Valmorain planeava presenteá-lo com as profissionais mais caras de Paris.
— Que se passa contigo, filho? Isto é normal e necessário. É preciso descarregar os humores do corpo e despejar a mente, assim não te consegues concentrar noutras coisas.
— Não tenho dificuldade em concentrar-me, monsieur.
— Já te disse para me chamares papá, Maurice. Suponho que nas viagens com o teu tio Sancho... Bom, não te terão faltado oportunidades...
— Isso é um assunto privado — interrompeu-o Maurice.
— Espero que o colégio americano não te tenha tornado religioso nem efeminado — comentou o pai em tom de piada, mas saiu-lhe como um grunhido.
O rapaz não deu explicações. Graças ao tio, não era virgem, porque, nas últimas férias, Sancho tinha conseguido iniciá-lo através de um engenhoso recurso ditado pela necessidade. Suspeitava que o seu sobrinho padecia dos desejos e fantasias próprios da sua idade, mas era um romântico e repugnava-lhe o amor diminuído a uma transacção comercial. Tinha a obrigação de ajudá-lo, decidiu. Estavam no próspero porto de Savannah, na Georgia, que Sancho tanto desejava conhecer pelas incontáveis diversões que oferecia, e Maurice também, porque o professor Harrison Cobb citava-o como exemplo de moral negociável.
A Georgia, fundada em 1733, era a décima terceira e última colónia britânica na América do Norte, e Savannah era a sua principal cidade. Os recém-chegados estabeleceram relações amistosas com as tribos indígenas, evitando assim a violência que fustigava outras colónias. Nas suas origens, não só a escravatura era proibida na Georgia, também o eram o álcool e os advogados, mas rapidamente se deram conta de que o clima e a qualidade do solo eram ideais para o cultivo de arroz e algodão, e legalizaram a escravatura. Depois da independência, a Georgia converteu-se em estado da União e Savannah floresceu como porto de entrada do tráfico de africanos para abastecer as plantações da região. «Isto demonstra-te, Maurice, como a decência sucumbe rapidamente perante a cobiça. Quando se trata de enriquecer, a maior parte dos homens sacrifica a alma. Não podes imaginar como vivem os plantadores da Georgia graças ao trabalho dos seus escravos», perorava Harrison Cobb. O jovem não precisava de imaginá-lo, tinha-o vivido em Saint-Domingue e Nova Orleães, mas aceitou a proposta do seu tio Sancho para passar as férias em Savannah, para não decepcionar o professor. «O amor pela justiça não basta para derrotar a escravidão, Maurice, é preciso ver a realidade e conhecer a fundo as leis e as engrenagens da política», defendia Cobb, que o andava a preparar para que triunfasse onde ele falhara. O homem conhecia as suas próprias limitações, mas não tinha temperamento nem saúde para lutar no Congresso, como desejava na sua juventude, porém, era um bom mestre: sabia reconhecer o talento de um aluno e moldar-lhe o carácter.
Enquanto Sancho Garcia del Solar usufruía à larga o refinamento e a hospitalidade de Savannah, Maurice sofria a culpa de se sentir bem. O que ia dizer ao professor quando voltasse ao colégio? Que estivera num hotel encantador, atendido por um exército de criados solícitos e que as horas não lhe tinham chegado para se divertir como um irresponsável.
Estavam apenas há um dia em Savannah e Sancho já tinha feito amizade com uma viúva escocesa que residia a dois quarteirões do hotel. A dama ofereceu-se para lhes mostrar a cidade, com as suas mansões, monumentos, igrejas e parques, que tinham sido belamente reconstruídos depois de um incêndio devastador. Fiel à sua palavra, a viúva apareceu com a sua filha, a delicada Giselle, e foram os quatro dar um passeio, iniciando assim uma amizade muito conveniente para o tio e o sobrinho. Passaram muitas horas juntos.
Enquanto a mãe e Sancho jogavam intermináveis partidas de naipes e de vez em quando desapareciam do hotel sem dar explicações, Giselle encarregou-se de mostrar os arredores a Maurice. Faziam excursões a cavalo sozinhos, longe da vigilância da viúva escocesa, o que surpreendia Maurice, que nunca tinha visto tanta liberdade numa rapariga. Giselle conduziu-o várias vezes a uma praia solitária, onde partilhavam uma leve merenda e uma garrafa de vinho. Ela falava pouco e o que dizia era de uma banalidade tão categórica que Maurice não se sentia intimidado e brotavam-lhe em cascata as palavras que normalmente lhe obstruíam o peito. Finalmente, tinha uma interlocutora que não bocejava com os seus temas filosóficos e, para mais, escutava-o com evidente admiração. De vez em quando, os dedos femininos tocavam-lhe como por descuido, e desses toques a carícias mais atrevidas foi questão de três pores do Sol. Esses assaltos ao ar livre, picados pelos insectos, enrolados na roupa e receosos de serem descobertos, deixavam Maurice em êxtase e a ela bastante aborrecida.
O resto das férias passou demasiado depressa e, naturalmente, Maurice acabou apaixonado como adolescente que era. O amor exacerbou o remorso de ter manchado a honra de Giselle. Só existia uma forma cavalheiresca de emendar a sua falta, como explicou a Sancho assim que juntou coragem suficiente.
— Vou pedir a mão de Giselle — anunciou-lhe.
— Perdeste o juízo, Maurice? Como é que te vais casar se nem sequer te sabes assoar!
— Não me falte ao respeito, tio. Sou um homem feito e correcto.
— Porque te deitaste com a moça? — disse Sancho, e soltou uma estrondosa risada.
O tio mal conseguiu desviar-se do murro que Maurice lhe mandou à cara. O agravo resolveu-se pouco depois, quando a dama escocesa esclareceu que a rapariga estava longe de ser sua filha e Giselle confessou que esse era o seu nome artístico, que não tinha dezasseis anos, mas sim vinte e quatro, e que Sancho Garcia del Solar lhe pagara para entreter o seu sobrinho. O tio admitiu que havia cometido um disparate descomunal e procurou levá-lo na brincadeira, mas tinha-se excedido e Maurice, desfeito, jurou-lhe que nunca mais na vida voltaria a falar-lhe. No entanto, quando chegaram a Boston havia duas cartas de Rosette à sua espera e a paixão pela bela de Savannah diluiu-se; então, conseguiu perdoar ao tio. Quando se despediram, abraçaram-se com a camaradagem de sempre e a promessa de voltarem a ver-se em breve.
Na viagem a França, Maurice não contou nada ao pai do que se tinha passado em Savannah. Valmorain insistiu mais duas vezes para que se divertisse com damas do amanhecer, depois de amaciar o filho com licor, mas não conseguiu fazê-lo mudar de opinião e, por fim, decidiu não voltar a mencionar o tema até que chegassem a Nova Orleães, onde poria à sua disposição um apartamento de solteiro, como tinham os jovens créoles da sua condição social. Para já, não permitiria que a suspeita castidade do seu filho quebrasse o precário equilíbrio da sua relação.
Os espiões
Jean-Martin Relais apareceu em Nova Orleães quando faltavam três semanas para o primeiro baile do Cordon Bleu, organizado pela sua mãe. Vinha sem o uniforme da Academia Militar, que usava desde os treze anos, na qualidade de secretário de Isidore Morisset, um cientista que viajava para avaliar as condições do terreno nas Antilhas e na Florida, com a ideia de estabelecer novas plantações de açúcar, dadas as perdas da colónia de Saint-Domingue, que pareciam definitivas. Na nova República Negra do Haiti, o general Dessalines andava a aniquilar sistematicamente todos os brancos, os mesmos que tinha convidado a regressar. Se Napoleão pretendia chegar a um acordo comercial com o Haiti, já que não tinha conseguido ocupá-lo com as suas tropas, desistiu depois daquela pavorosa matança em que até as crianças acabavam em valas comuns.
Isidore Morisset era um homem de olhar impenetrável, nariz torto e costas de lutador, que rebentavam pelas costuras da sua jaqueta, vermelho como um camarão pelo sol implacável da travessia marítima e equipado com um vocabulário monossilábico que o tornava antipático mal abria a boca. As suas frases — sempre demasiado breves — soavam como estrondos. Respondia às perguntas com assopros elementares e a expressão desconfiada de quem espera o pior do próximo. Foi recebido de imediato pelo governador Claiborne, com as atenções devidas a um estrangeiro tão respeitável, como testemunhavam as cartas de recomendação de várias sociedades científicas que o secretário entregou numa pasta forrada com couro verde lavrado.
A Claiborne, vestido de luto pela morte da sua esposa e da sua filha, vítimas da recente epidemia de febre-amarela, chamou a atenção a cor escura do secretário. Pela forma como Morisset lho tinha apresentado, supôs que aquele mulato era livre e cumprimentou-o como tal. Nunca se sabe qual é a etiqueta devida para com esses povos mediterrâneos, pensou o governador. Não era homem capaz de apreciar facilmente a beleza viril, mas não pôde deixar de reparar nas feições delicadas do jovem — as pestanas espessas, a boca feminina, o queixo redondo com uma cova — que contrastavam com o seu corpo magro e elástico, com proporções sem dúvida masculinas. O jovem, culto e com atitudes impecáveis, serviu de intérprete porque Morisset só falava francês. O domínio da língua inglesa do secretário deixava bastante a desejar, mas foi o suficiente, uma vez que Morisset era de muito poucas palavras.
O faro apurado alertou o governador de que os visitantes ocultavam algo. A missão açucareira pareceu-lhe tão suspeita como o físico de desordeiro daquele homem, que não condizia com a sua ideia de um cientista, mas essas dúvidas não o dispensavam de lhe proporcionar, com todo o rigor, a hospitalidade de Nova Orleães. Depois do frugal almoço servido por negros livres, porque ele não possuía escravos, ofereceu-lhes alojamento. O secretário traduziu que não seria necessário, vinham por poucos dias e ficariam num hotel à espera do barco para regressar a França. Assim que se foram embora, Claiborne mandou segui-los discretamente e logo ficou ao corrente de que, à tarde, os dois homens saíram do hotel, o jovem de cor dirigiu-se a pé para a Rua Chartres e o musculoso Morisset, num cavalo alugado, para uma modesta serralharia no final da Rua Saint-Philippe.
As suspeitas do governador estavam certas: de cientista, Morisset não tinha nada, era um espião bonapartista. Em Dezembro de 1804, Napoleão tinha-se convertido em imperador de França, coroando-se a si mesmo, porque nem o Papa, especialmente convidado para a cerimónia, lhe tinha parecido digno de fazê-lo. Napoleão já tinha conquistado metade da Europa, mas tinha a Grã-Bretanha debaixo de olho, aquela pequena nação de clima horrendo e gente feia que o desafiava do outro lado do estreito chamado canal da Mancha. No dia 21 de Outubro de 1805, as duas nações enfrentaram-se no Sudoeste de Espanha, em Trafalgar, por um lado a frota franco-espanhola com trinta e três barcos e, por outro, os ingleses com vinte e seis, comandados pelo célebre almirante Horatio Nelson, génio da guerra marítima. Nelson morreu na contenda, depois de uma vitória espectacular em que destroçou a frota inimiga e acabou com o sonho napoleónico de invadir a Inglaterra. Precisamente nessa altura, Pauline Bonaparte visitou o irmão para lhe dar os pêsames pelo fiasco de Trafalgar. Pauline tinha cortado o cabelo para o colocar no ataúde do marido, o cornudo general Leclerc, morto pela febre em Saint-Domingue e enterrado em Paris. Esse gesto dramático da inconsolável viúva fez a Europa rir a bandeiras despregadas. Sem a sua longa cabeleira cor de mogno, que antes usava ao estilo das deusas gregas, Pauline tinha um aspecto irresistível e, muito em breve, o seu penteado entrou na moda. Nesse dia, chegou adornada com uma tiara dos célebres diamantes Borghese e acompanhada por Morisset.
Napoleão suspeitou que o visitante era mais um dos amantes da sua irmã e recebeu-o de mau humor, mas interessou-se de imediato quando Pauline lhe contou que o barco em que Morisset viajava pelo Caribe tinha sido atacado por piratas e que ele permaneceu prisioneiro de um tal Jean Laffitte durante vários meses, até conseguir pagar o seu resgate e voltar a França. No cativeiro criara uma certa amizade com Laffitte, baseada em torneios de xadrez. Napoleão interrogou o homem sobre a notável organização de Lafitte, que controlava o Caribe com a sua frota; nenhum barco estava a salvo, excepto os dos Estados Unidos que, devido a uma caprichosa lealdade do pirata para com os americanos, nunca eram atacados.
O imperador conduziu Morisset a uma salinha, onde passaram duas horas em privado. Talvez Laffitte fosse a solução para um dilema que o atormentava desde o desastre de Trafalgar: como impedir que os ingleses se apoderassem do comércio marítimo. Como não tinha capacidade naval para detê-los, havia pensado aliar-se aos americanos, que estavam em conflito com a Grã-Bretanha desde a Guerra da Independência, em 1775, mas o presidente Jefferson desejava consolidar o seu território e não desejava intervir nos conflitos europeus. Num fogacho de inspiração, como tantos que o conduziram das modestas fileiras do Exército aos píncaros do poder, Napoleão encarregou Isidore Morisset de recrutar piratas para hostilizar os barcos ingleses no Atlântico. Morisset compreendeu que se tratava de uma missão delicada, porque o imperador não podia aparecer como aliado dos facínoras, e admitiu que, com o seu disfarce de cientista, poderia viajar sem chamar demasiado a atenção. Os irmãos Jean e Pierre Laffitte tinham enriquecido impunemente durante anos com o espólio dos seus assaltos e toda a espécie de contrabandos, mas as autoridades americanas não toleravam a fuga aos impostos e, apesar da manifesta simpatia dos Laffitte pela democracia dos Estados Unidos, foram declarados fora-da-lei. Jean-Martin Relais não conhecia o homem que ia acompanhar através do Atlântico. Numa segunda-feira de manhã, o director da Academia Militar chamou-o ao seu gabinete, entregou-lhe dinheiro e ordenou-lhe que comprasse roupa civil e um baú, porque iria embarcar dentro de dois dias. «Não comente nem uma palavra sobre isto, Relais, é uma missão confidencial», esclareceu o director. Fiel à sua educação militar, o jovem obedeceu sem fazer perguntas. Mais tarde, soube que o tinham seleccionado por ser o aluno mais esperto do curso de inglês e porque o director deduziu que, como vinha das colónias, não cairia fulminado com a primeira picada de um mosquito tropical. O jovem viajou a galope até Marselha, onde o esperava Isidore Morisset com as passagens na mão. Agradeceu calado que o homem apenas o olhasse, porque estava nervoso a pensar que ambos partilhariam um estreito camarote durante a viagem. Nada feria tanto o seu enorme orgulho como as insinuações que costumava receber de outros homens.
— Não quer saber para onde vamos? — perguntou-lhe Morisset, quando já levavam vários dias no alto-mar sem trocarem mais do que umas quantas palavras de cortesia.
— Eu vou para onde a França me mandar — replicou Relais pondo-se em sentido, à defesa.
— Nada de saudações militares, jovem. Somo civis, entende?
— Positivo.
— Fale como gente, homem, por amor de Deus!
— Às suas ordens, senhor.
Jean-Martin descobriu muito em breve que Morisset, tão parco e desagradável em sociedade, podia ser fascinante em privado. O álcool soltava-lhe a língua e descontraía-o, ao ponto de parecer outro homem, amável, irónico, sorridente. Jogava bem às cartas e tinha mil histórias, que relatava sem enfeites, em poucas frases. Entre um e outro cálice de conhaque, foram-se conhecendo, pelo que nasceu entre eles uma natural intimidade de bons camaradas.
— Uma vez, Pauline Bonaparte convidou-me para o seu boudoir — contou-lhe Morisset. — Um negro das Antilhas, apenas coberto com uma tanga, trouxe-a em braços e deu-lhe banho diante de mim. A Bonaparte gaba-se de poder seduzir quem quer que seja, mas comigo não resultou.
— Porquê?
— Incomoda-me a estupidez feminina.
— Prefere a estupidez masculina? — troçou o jovem, com um toque coquete; também tinha bebido uns cálices e sentia-se à vontade.
— Prefiro os cavalos.
Mas Jean-Martin estava mais interessado nos piratas do que nas virtudes equinas, ou na higiene da bela Pauline, e arranjou maneira, uma vez mais, para voltar ao tema da aventura que o seu novo amigo viveu entre eles quando permaneceu sequestrado na ilha Barataria. Como Morisset sabia que nem os barcos europeus de guerra se atreviam a aproximar-se da ilha dos irmãos Laffitte, tinha posto de lado o plano de apresentar-se ali sem convite: seriam degolados antes de pisar a praia, sem lhes dar oportunidade de expor a intenção de semelhante ousadia. Além disso, não estava seguro de que o nome de Napoleão lhes abrisse as portas dos Laffitte; podia ser exactamente o contrário, por isso, tinha decidido abordá-los em Nova Orleães, um terreno mais neutral.
— Os Laffitte foram considerados fora-da-lei. Não sei como vamos encontrá-los — comentou Morisset a Jean-Martin.
— Será muito fácil, porque não se escondem — tranquilizou-o o jovem.
— Como o sabes?
— Pelas cartas da minha mãe.
Até esse momento, não tinha ocorrido a Relais mencionar que a sua mãe vivia naquela cidade, porque lhe parecia um pormenor insignificante na magnitude da missão encomendada pelo imperador.
— A sua mãe conhece os Laffitte?
— Toda a gente os conhece, são os reis do Mississipi — replicou Jean-Martin.
Às seis da tarde, Violette Boisier ainda descansava nua e molhada de prazer na cama de Sancho Garcia del Solar. Desde que Rosette e Tété viviam com ela e a sua casa estava invadida pelas alunas daplaçage, preferia o apartamento do seu amante para fazer amor ou só para dormir a sesta, se a disposição não lhes dava para mais. A princípio, Violette pretendeu embelezar o ambiente, mas carecia de vocação para criada e era absurdo perder horas preciosas de intimidade a procurar emendar a desordem monumental de Sancho. O único doméstico de Sancho só servia para lhe fazer café. Valmorain tinha-lho emprestado, porque era impossível vendê-lo: ninguém o teria comprado. Caíra de um telhado, ficara mal da cabeça e passava o dia a rir-se sozinho. Com razão, Hortense Guizot não conseguia suportá-lo. Sancho tolerava-o e até simpatizava com ele, pela qualidade do seu café e porque não roubava o troco quando ia às compras ao Mercado Francês. O homem deixava Violette inquieta: acreditava que os espiava quando faziam amor. «Ideias tuas, mulher. É tão lerdo que nem sequer tem cabeça para isso», tranquilizava-a o seu amante.
A essa mesma hora, Loula e Tété estavam instaladas em cadeiras de vime na rua, à porta da casa amarela, como faziam as vizinhas ao entardecer. As notas de um exercício de piano martelavam a paz da tarde outonal. Loula fumava o seu charuto de tabaco preto com os olhos semicerrados, a saborear o descanso que os seus olhos reclamavam, e Tété costurava uma camisa de bebé. A barriga ainda não se lhe notava, mas já tinha anunciado a sua gravidez ao reduzido círculo das suas amizades e a única que ficou surpreendida foi Rosette, porque andava tão ensimesmada que não se tinha apercebido dos amores da mãe com Zacharie. Ali as encontrou Jean-Martin Relais. Não tinha escrito a anunciar a sua viagem porque tinha ordens para a manter secreta e, além disso, a carta teria chegado depois dele.
Loula não o esperava e, como há vários anos que não o via, não o reconheceu. Quando ele se pôs em frente dela, limitou-se a dar outra fumaça no charuto. «Sou eu, Jean-Martin!», exclamou o jovem, emocionado. O mulherão demorou vários segundos a distingui-lo através do fumo e a compreender que, na verdade, era o seu menino, o seu príncipe, a luz dos seus velhos olhos. Os seus gritos de alegria abanaram a rua. Abraçou-o pela cintura, levantou-o no ar e cobriu-o de beijos e de lágrimas, enquanto ele procurava defender a sua dignidade em bicos dos pés. «Onde está a maman?», perguntou assim que conseguiu libertar-se e recuperar o seu chapéu pisado. «Na igreja, filho, a rezar pela alma do teu falecido pai. Entremos em casa, vou fazer-te um café, enquanto a minha amiga Tété vai buscá-la», replicou Loula sem hesitar um instante. Tété foi a correr em direcção ao apartamento de Sancho.
Em casa, na sala, Jean-Martin viu uma menina vestida de azul-celeste a tocar piano com uma taça em cima da cabeça. «Rosette! Olha quem aqui está! O meu menino, o meu Jean-Martin!», gritou Loula, em jeito de apresentação. Ela interrompeu os exercícios musicais e voltou-se lentamente. Cumprimentaram-se, ele com uma rígida inclinação de cabeça e um bater de tacões, como se ainda estivesse vestido com o uniforme, e ela com um pestanejar das suas pestanas de girafa. «Bem-vindo, monsieur. Não passa um dia sem que madame e Loula falem do senhor», disse Rosette com a forçada cortesia aprendida nas Ursulinas. Nada podia ser mais verdadeiro. A recordação do rapaz flutuava na casa como um fantasma e, de tanto ouvir mencioná-lo, Rosette já o conhecia. Loula encarregou-se logo da taça de Rosette e foi fazer café; vindas do pátio, ouviam-se as suas exclamações de júbilo. Rosette e Jean-Martin, sentados em silêncio à beira das suas cadeiras, lançavam-se olhares furtivos com a sensação de se terem conhecido antes. Vinte minutos mais tarde, quando Jean-Martin já ia na terceira fatia de bolo, chegou Violette, ofegante, com Tété no encalço. A Jean-Martin a mãe pareceu mais bela do que se recordava, e não se interrogou porque vinha da missa despenteada e com o vestido mal abotoado.
Desde o umbral, Tété olhava divertida para aquele jovem incomodado porque a mãe lhe dava beijinhos sem lhe soltar a mão e Loula beliscava-lhe as faces. Os ventos salgados da travessia marítima tinham escurecido Jean-Martin com vários tons, e os anos de formação militar haviam-lhe reforçado a rigidez, inspirada no homem que julgava ser o seu pai. Recordava Étienne Relais forte, estóico e severo; por isso mesmo, conservava a ternura que lhe tinha proporcionado na estrita intimidade do lar. A mãe e Loula, pelo contrário, tinham-no tratado sempre como uma criança e, pelos vistos, continuavam a fazê-lo. Para compensar a sua cara bonita, mantinha sempre uma distância exagerada, uma atitude gelada e aquela expressão de pedra que costumam ter os militares. Na infância tinha suportado que o confundissem com uma menina e, na adolescência, que os seus companheiros troçassem ou se apaixonassem por ele. Aquelas carícias domésticas diante de Rosette e da mulata, cujo nome não fixara, embaraçavam-no, mas não se atrevia a rejeitá-las. Tété não prestou atenção que Jean-Martin tivesse os mesmos traços de Rosette, porque pensou sempre que a sua filha era parecida com Violette Boisier, e essa semelhança tinha-se acentuado nos meses de treino para aplaçage, onde a rapariga emulava os gestos da sua mestra.
Entretanto, Morisset tinha-se dirigido para a serralharia da Rua Saint-Philippe, porque averiguou que era um disfarce para encobrir actividades piratas, mas não encontrou quem procurava.
Sentiu-se tentado a deixar um bilhete a Jean Laffitte a pedir-lhe que se encontrassem, mas compreendeu que seria um erro monumental. Há quase três meses que fazia espionagem disfarçado de cientista e ainda não se acostumara à cautela que a sua missão exigia; de duas em três vezes, surpreendia-se prestes a cometer uma imprudência. Mais tarde, nesse mesmo dia, quando Jean-Martin lhe apresentou a mãe, as suas precauções pareceram-lhe ridículas, porque ela ofereceu-se com toda a naturalidade para o levar onde estavam os piratas. Estavam na sala da casa amarela, que se tornara estreita para a família e para os que acorreram para conhecer Jean-Martin: o doutor Parmentier, Adèle, Sancho e duas vizinhas.
— Compreendo que tenham posto a cabeça dos Laffitte a prémio — disse o espião.
— Isso são coisas dos americanos, Monsieur Moriste! — riu-se Violette.
— Morisset. Isidore Morisset, madame.
— Os Laffitte são muito estimados porque vendem barato. Ninguém se lembraria de os denunciar pelos quinhentos dólares que oferecem pelas suas cabeças — interveio Sancho Garcia del Solar.
Acrescentou que Pierre tinha reputação de tosco, mas Jean era um cavalheiro da cabeça aos pés, galante com as mulheres e cortês com os homens, falava cinco línguas, escrevia com um estilo impecável e fazia gala da mais generosa hospitalidade. Era de uma coragem a toda a prova e os seus homens, que somavam cerca de três mil, deixavam-se matar por ele.
— Amanhã é sábado e vai haver leilão. Gostaria de ir a El Templo? — perguntou-lhe Violette.
— El Templo, disse? — É ali que fazem os seus leilões — esclareceu Parmentier.
— Se toda a gente sabe onde se encontram, porque não os prenderam? — interveio Jean-Martin.
— Ninguém se atreve. Claiborne pediu reforços porque esses homens são de temer, a violência é a sua lei e estão mais bem armados do que o Exército.
No dia seguinte, Violette, Morisset e Jean-Martin partiram em excursão, equipados com uma merenda e duas garrafas de vinho numa cesta. Violette arranjou maneira de deixar para trás Rosette com o pretexto dos exercícios de piano, porque se tinha apercebido de que Jean-Martin a olhava demasiado e o seu dever de mãe consistia em impedir qualquer fantasia inconveniente. Rosette era a sua melhor aluna, perfeita para a plaçage, mas completamente inadequada para o seu filho, que necessitava de entrar na Société du Cordon Bleu através de um bom casamento. Pensava escolher a sua nora com implacável noção da realidade, sem dar oportunidade a Jean-Martin de cometer erros sentimentais. Tété juntou-se à partida, subindo para o bote à última da hora e com algumas reclamações, porque sofria os enjoos habituais dos primeiros meses do seu estado e temia os caimões, as cobras que infestavam a água e outras que costumavam deixar-se cair dos mangais. A frágil embarcação era conduzida por um remador capaz de orientar-se com os olhos fechados naquele labirinto de canais, ilhas e pântanos, eternamente mergulhado num bafo pestilento e numa nuvem de mosquitos, ideal para negócios ilegais e traições imaginativas.
O bastardo
El Templo revelou-se uma ilhota entre os pântanos do delta, um cerro compacto de conchas moídas pelo tempo com um bosque de carvalhos, que antigamente era um lugar sagrado dos índios, e ainda perduravam aí os restos de um dos seus altares; vinha-lhe daí o nome. Os irmãos Laffitte tinham-se instalado muito cedo, como em todos os sábados do ano, excepto se calhava no Natal ou no dia da Ascensão da Virgem. Na margem alinhavam-se embarcações de baixa profundidade, botes de pescadores, chalupas, canoas, barquinhos privados com toldos para as damas e as toscas barcaças para o transporte dos produtos. Os piratas tinham montado várias tendas de lona onde exibiam os seus tesouros e distribuíam limonada gratuita para as damas, rum da Jamaica para os homens e doces para as crianças. O ar cheirava a água estagnada e às frituras de lagostins picantes, que eram distribuídos em folhas de milho. Pairava um ambiente de Carnaval, com músicos, bobos e um domador de cães. Num estrado, tinham à venda quatro escravos adultos e um menino nu, com uns dois ou três anos. Os interessados examinavam-lhes os dentes para lhes calcular a idade, o branco dos olhos para verificar a sua saúde, e o ânus para verificarem que não estava tapado com estopa, o truque mais corrente para disfarçar o fluxo. Uma senhora madura, com uma sombrinha de renda, estava a tomar o peso dos genitais de um dos homens com a mão enluvada.
Pierre Laffitte já havia iniciado o leilão da mercadoria, que à primeira vista carecia de lógica, como se tivesse sido seleccionada com o único objectivo de confundir a clientela: uma salganhada de candeeiros de cristal, sacos de café, roupa de mulher, armas, botas, estátuas de bronze, sabão, cachimbos e navalhas de barba, chaleiras de prata, bolsas com pimenta e canela, móveis, quadros, baunilha, taças e candelabros de igreja, caixotes de vinho, um macaco amestrado e dois papagaios. Ninguém se ia embora sem comprar, porque os Laffitte também faziam de banqueiros e penhoristas. Cada objecto era exclusivo, como gritava Pierre a plenos pulmões, e devia ser, porque provinham de assaltos no mar alto a barcos mercantes. «Olhem, damas e cavalheiros, este jarrão digno de um palácio real!» «E quanto dão por esta capa de brocado debruada com arminho?» «Não voltará a apresentar-se uma ocasião como esta!» O público replicava com dichotes e assobios, mas as ofertas iam subindo numa divertida rivalidade que Pierre sabia explorar.
Entretanto, Jean, vestido de preto, com imaculados punhos e colarinho de renda e pistolas à cintura, passeava-se por entre a multidão a seduzir incautos com o seu sorriso fácil e o seu olhar escuro de encantador de serpentes. Cumprimentou Violette Boisier com uma vénia teatral e ela respondeu-lhe com beijos nas faces, como velhos amigos em que se tinham transformado depois de vários anos de transacções e mútuos favores.
— Em que posso ser útil à única dama capaz de roubar o meu coração? — perguntou-lhe Jean.
— Não gaste as suas galanterias comigo, mon cher ami, porque, desta vez, não venho comprar — riu-se Violette apontando para Morisset, que se mantinha quatro passos atrás dela.
Jean Laffitte demorou um instante a identificá-lo, enganado pela indumentária de explorador, o rosto barbeado e os óculos de lentes grossas, porque o tinha conhecido com bigode e patilhas.
— Morisset? C'est vraiment vous! — exclamou, por fim, dando-lhe uma palmada nas costas.
O espião, incomodado, olhou em volta enterrando o chapéu até às sobrancelhas. Não lhe convinha que aquelas efusivas manifestações de amizade chegassem aos ouvidos do governador Claiborne, mas ninguém lhe prestava atenção, porque, nesse momento, Pierre leiloava um cavalo árabe que todos os homens cobiçavam. Jean Laffitte conduziu-o a uma das tendas, onde puderam falar em privado e refrescar-se com vinho branco. O espião comunicou-lhe a oferta de Napoleão: uma patente de corso, lettre de marque, que equivalia a uma autorização oficial para atacar outros barcos, em troca de se assanhar contra os ingleses. Laffitte respondeu amavelmente que, na realidade, não precisava de autorização para continuar a fazer o que sempre tinha feito, e a lettre de marque era uma limitação, uma vez que significava abster-se de atacar barcos franceses, com as consequentes perdas.
— As suas actividades passariam a ser legais. Não seriam piratas, mas sim corsários, mais aceitáveis para os americanos -argumentou Morisset.
— A única coisa que mudaria a nossa situação com os americanos seria pagar impostos e, francamente, ainda não considerámos essa possibilidade.
— Uma patente de corso é valiosa...
— Só se navegarmos com bandeira francesa.
O parco Morisset explicou-lhe que isso não estava incluído na oferta do imperador, teriam de continuar a usar a bandeira de Cartagena, mas contariam com impunidade e refúgio nos territórios franceses. Eram mais palavras seguidas do que as que tinha pronunciado durante muito tempo. Laffitte aceitou submetê-lo a consulta, porque esses assuntos eram decididos por votação entre os seus homens.
— Mas depois só contam os votos do senhor e do seu irmão -salientou Morisset.
— Está enganado. Somos mais democratas do que os americanos e certamente muito mais do que os franceses. Terá a sua resposta dentro de dois dias.
Lá fora, Pierre Laffitte tinha dado início ao leilão de escravos, o mais esperado da feira, e o clamor das ofertas ia subindo de tom. A única mulher do lote apertava o menino contra o seu corpo e implorava a um casal de compradores que não os separassem, que o seu filho era esperto e obediente, dizia, enquanto Pierre Laffitte a descrevia como boa reprodutora: tinha tido várias crias e continuava a ser muito fértil. Tété observava com um nó nas tripas e um grito atravessado na garganta, a pensar nos filhos que aquela desgraçada tinha perdido e a indignidade de ser leiloada. Ao menos ela não passara por isso e a sua Rosette estava a salvo. Alguém comentou que os escravos vinham do Haiti, entregues directamente aos Laffitte por agentes de Dessalines, que financiava assim as suas armas e, ao mesmo tempo, enriquecia vendendo a própria gente que lutara com ele pela liberdade. «Se Gambo visse isto, explodiria de raiva», pensou Tété.
Quando a venda estava quase a consumar-se, ouviu-se o vozeirão inconfundível de Owen Murphy a oferecer mais cinquenta dólares pela mãe e outros cem pelo pequeno. Pierre esperou o minuto regulamentar e como ninguém subiu o preço, gritou que pertenciam os dois ao cliente de barba negra. A mulher caiu na plataforma, meia desfalecida de alívio, sem largar o seu filho, que chorava aterrorizado. Um dos ajudantes de Pierre Laffitte pegou-lhe por um braço e entregou-a a Owen Murphy.
O irlandês afastava-se para os botes, seguido pela escrava e o menino, quando Tété saiu do seu assombro e correu atrás deles, chamando-o. Ele cumprimentou-a sem excessivas manifestações de afecto, mas a sua expressão denunciou o prazer que sentia por vê-la. Contou-lhe que Brandan, o seu filho mais velho, se tinha casado da noite para o dia e em breve os faria avós. Também lhe referiu a terra que ia comprar no Canadá, para onde pensava levar, logo que possível, a família toda, inclusive Brandan e a sua mulher, para começar uma vida nova.
— Imagino que Monsieur Valmorain não aprova que os senhores se vão embora — comentou Tété.
— Há muito tempo que Madame Hortense deseja substituir-me. Não partilhamos as mesmas ideias — respondeu Murphy. -Vai ficar aborrecida porque comprei este menino, mas limitei-me ao Código. Não tem idade para ser separado da mãe.
— Aqui não há lei que valha, senhor Murphy. Os piratas fazem o que lhes dá na gana.
— Por isso, prefiro não lidar com eles, mas não sou eu quem decide, Tété — informou-a o irlandês, apontando ao longe para Toulouse Valmorain.
Estava afastado da multidão, a conversar com Violette Boisier debaixo de um carvalho, ela protegida do sol por uma sombrinha japonesa, e ele apoiado numa bengala e a limpar o suor com um lenço. Tété recuou, mas era tarde: ele tinha-a visto e sentiu-se na obrigação de se aproximar. Seguiu-a Jean-Martin, que aguardava Morisset perto da tenda de Laffitte, e, um momento depois, reuniram-se todos sob a escassa sombra do carvalho. Tété cumprimentou o seu antigo amo sem olhá-lo de frente, mas conseguiu notar que estava ainda mais gordo e corado. Lamentou que o doutor Parmentier dispusesse dos remédios que ela própria preparava para arrefecer o sangue. Aquele homem podia demolir com uma só bengalada a precária existência dela e de Rosette. Era bem melhor que estivesse no cemitério.
Valmorain estava atento à apresentação que Violette Boisier fazia do seu filho. Observou Jean-Martin de alto a baixo, apreciando o seu porte esbelto, a elegância com que usava o seu traje de confecção modesta, a simetria perfeita do seu rosto. O jovem cumprimentou-o com uma vénia e respeito pela diferença de classe e de idade, mas o outro estendeu-lhe uma mão gorducha, salpicada de manchas amarelas, que teve de apertar. Valmorain segurou a mão entre as suas muito mais tempo do que seria aceitável, a sorrir com uma expressão indecifrável. Jean-Martin sentiu o rubor quente nas faces e afastou-se bruscamente. Não era a primeira vez que um homem se lhe insinuava e sabia lidar com esse tipo de embaraço sem problemas, mas o descaramento daquele inverti era-lhe particularmente ofensivo e envergonhava-o que a sua mãe testemunhasse a cena. Foi tão evidente o seu repúdio que Valmorain se deu conta de que tinha sido mal interpretado e, longe de se incomodar, soltou uma risada.
— Estou a ver que este filho de escrava saiu impertinente! -exclamou, divertido.
Um silêncio pesado caiu entre eles, enquanto aquelas palavras cravavam as suas garras de abutre nos presentes. O ar tornou-se mais quente, a luz mais ofuscante, o cheiro da feira mais nauseabundo, o barulho da multidão mais intenso, mas Valmorain não se apercebeu do efeito que tinha provocado.
— Como disse? — conseguiu articular Jean-Martin, lívido, quando recuperou a voz.
Violette pegou-lhe por um braço e procurou arrastá-lo dali, mas ele libertou-se para enfrentar Valmorain. Por hábito, levou a mão à anca, onde devia estar o punho da sua espada se estivesse de uniforme.
— Insultou a minha mãe! — exclamou, com voz rouca.
— Não me digas, Violette, que este rapaz ignora a sua origem — comentou Valmorain, ainda trocista.
Ela não respondeu. Tinha soltado a sombrinha, que rolou no chão de conchas, e tapava a boca com as mãos, com os olhos desorbitados.
— Deve-me uma reparação, monsieur. Espero vê-lo nos jardins de Saint-Antoine com os seus padrinhos num prazo máximo de dois dias, porque ao terceiro partirei de regresso a França — anunciou-lhe Jean-Martin, mastigando cada sílaba.
— Não sejas ridículo, filho. Não vou bater-me em duelo com alguém da tua classe. Disse a verdade. Pergunta à tua mãe -acrescentou Valmorain, apontando para as mulheres com a bengala antes de lhe voltar as costas e se afastar sem pressa para os botes, a bambolear-se sobre os seus joelhos inchados, para se juntar a Owen Murphy.
Jean-Martin tentou segui-lo com a intenção de lhe rebentar a cara a murro, mas Violette e Tété agarraram-se-lhe à roupa. Entretanto, chegou Isidore Morisset, que, ao ver o seu secretário a lutar com as mulheres, vermelho de fúria, imobilizou-o abraçando-o por trás. Tété conseguiu inventar que tinham tido uma discussão com um pirata e deviam ir-se embora imediatamente. O espião esteve de acordo — não queria pôr em perigo as suas conversações com Laffitte — e, segurando o jovem com as suas mãos de lenhador, conduziu-o, seguido pelas mulheres, para o bote, onde o esperava o remador com a cesta da merenda intacta.
Preocupado, Morisset pôs um braço nos ombros de Jean-Martin num gesto paternal e procurou saber o que lhe tinha acontecido, mas este soltou-se e voltou-lhe as costas, com o olhar fixo na água. Ninguém mais falou durante a hora e meia passada a navegar por aquele labirinto de pântanos até chegarem a Nova Orleães. Morisset encaminhou-se para o seu hotel. O seu secretário não obedeceu à ordem de acompanhá-lo e seguiu Violette e Tété até à Rua Chartres. Violette foi para o quarto, fechou a porta e deitou-se na cama a chorar até à última lágrima, enquanto Jean-Martin passeava como um leão no pátio, à espera que se acalmasse para a interrogar. «O que sabes do passado da minha mãe, Loula? Tens a obrigação de me dizer!», exigiu à sua antiga ama. Loula, que não suspeitava o que se tinha passado em El Templo, julgou que se referia à época gloriosa em que Violette fora apoule mais divina de Le Cap e o seu nome andava na boca de capitães por mares remotos, coisa que não pensava contar ao seu menino, ao seu príncipe, por muito que lhe gritasse. Violette tinha-se esmerado a apagar qualquer sinal do seu passado em Saint-Domingue e não seria ela, a fiel Loula, quem atraiçoaria o seu segredo.
Ao anoitecer, quando já não se ouvia o pranto, Tété levou uma tisana a Violette, para a dor de cabeça, ajudou-a a tirar a roupa, penteou-lhe o ninho de pássaros em que tinha convertido o seu penteado, aspergiu-a com água-de-rosas, vestiu-lhe uma camisa estreita e sentou-se a seu lado na cama. Na penumbra das persianas fechadas, atreveu-se a falar-lhe com a confiança cultivada dia a dia, durante os anos em que viviam e trabalhavam juntas.
— Não é assim tão grave, madame. Faça de conta que aquelas palavras nunca foram ditas. Ninguém as repetirá e a senhora e o seu filho poderão continuar a viver como sempre — consolou-a.
Julgava que Violette Boisier não nascera livre, como lhe contou uma vez, mas que fora escrava quando era jovem. Não podia culpá-la por o ter calado. Talvez tivesse tido Jean-Martin antes de Relais a emancipar e fazê-la sua esposa.
— Mas Jean-Martin já sabe! Jamais me perdoará por o ter enganado! — replicou Violette.
— Não é fácil admitir que fomos escravas, madame. O que importa é que agora são os dois livres.
— Nunca fui escrava, Tété. O que se passa é que não sou sua mãe. Jean-Martin nasceu escravo e o meu marido comprou-o. Loula é a única que sabe.
— E como o soube Monsieur Valmorain? Então, Violette Boisier contou-lhe as circunstâncias em que tinha recebido a criança, como Valmorain chegou com o recém-nascido envolto numa manta a pedir-lhe que tomasse conta dele por um tempo e como ela e o marido acabaram por adoptá-lo. Não averiguaram a sua procedência, mas imaginaram que era filho de Valmorain e de uma das suas escravas. Tété já não a escutava, porque sabia o resto. Tinha-se preparado em milhares de noites insones para o momento dessa revelação, quando finalmente soubesse do filho que lhe tinham tirado; mas agora, que o tinha ao alcance da mão, não sentiu nenhum relâmpago de felicidade, nem um soluço atravessado no peito, nem uma vaga irresistível de carinho, nem um impulso de correr para abraçá-lo, só um ruído surdo nos ouvidos, como as rodas de uma carroça no pó de um trilho. Fechou os olhos e evocou a imagem do jovem com curiosidade, surpreendida por não ter tido o menor indício da verdade; o seu instinto de nada a avisou, nem sequer quando notou a sua parecença com Rosette. Esgravatou nos seus sentimentos à procura do insondável amor maternal que conhecia muito bem, porque o tinha dado a Maurice e a Rosette, mas só encontrou alívio. O seu filho tinha nascido com uma boa estrela, com uma refulgente L'étoile, por isso, tinha caído nas mãos dos Relais e de Loula, que o mimaram e o educaram, por isso, o militar lhe tinha legado a legenda da sua vida e Violette trabalhava sem descanso para lhe assegurar um bom futuro. Alegrou-se sem sombra de ciúmes, porque ela não poderia ter-lhe dado nada disso.
O rancor contra Valmorain, aquele penhasco negro e duro que Tété transportava sempre incrustado no peito, pareceu encolher-se e o empenho em vingar-se do amo dissolveu-se no agradecimento para os que tinham cuidado tão bem do seu filho. Não precisou de pensar demasiado no que faria com a informação que acabava de receber, porque lho ditou a gratidão. O que é que ganhava em anunciar aos quatro ventos que era a mãe de Jean-Marie e reclamar um afecto que, em justiça, pertencia a outra mulher? Optou por confessar a verdade a Violette Boisier, sem se expandir no sofrimento que tanto a tinha angustiado no passado, porque nos últimos anos este se tinha mitigado. O jovem que naquele momento se passeava no pátio era um desconhecido para ela.
As duas mulheres choraram um bocado, de mãos dadas, unidas por uma delicada corrente de mútua compreensão. Por fim, acabou-se-lhes o pranto e concluíram que o que Valmorain disse não se podia apagar, mas elas tentaram suavizar o seu impacto em Jean-Martin. Para quê dizer ao jovem que Violette não era sua mãe, que nasceu escravo, bastardo de um branco e que foi vendido? Era melhor que continuasse a acreditar no que ouviu a Valmorain, porque, em essência, era verdade: a sua mãe tinha sido escrava. Também não precisava de saber que Violette foi uma cocotte ou que Relais teve reputação de cruel. Jean-Martin acreditaria que Violette lhe ocultou o estigma da escravidão para o proteger, mas continuaria orgulhoso de ser filho dos Relais. Dentro de dois dias, regressaria a França e à sua carreira no Exército, onde o preconceito contra a sua origem era menos daninho do que na América ou nas colónias, e onde as palavras de Valmorain poderiam ser relegadas para um canto perdido da memória.
— Vamos enterrar isto para sempre — disse Tété.
— E o que faremos com Toulouse Valmorain? — perguntou Violette.
-Vá vê-lo, madame. Explique-lhe que não lhe é conveniente divulgar certos segredos, porque a senhora mesma se encarregará que a sua esposa e toda a cidade saibam que é o pai de Jean-Martin e de Rosette.
— E também que os seus filhos podem exigir o apelido Valmorain e uma parte da sua herança — acrescentou Violette, com um trejeito de picardia.
— Isso é verdade?
— Não, Tété, mas o escândalo seria mortal para os Valmorain.
Medo da morte
Violette Boisier sabia que o primeiro baile do Cordon Bleu daria o mote para os futuros bailes e tinha de estabelecer, logo no começo, a diferença com as outras festas que animavam a cidade desde Outubro até finais de Abril. O amplo local foi decorado sem olhar a despesas. Acondicionaram palcos para os músicos, colocaram mesinhas com toalhas de linho bordado e cadeirões de felpa para as mães e damas de companhia, à volta da pista de dança. Construíram uma passerelle atapetada para a entrada triunfal das meninas no salão. No dia do baile, limparam as valetas da rua e cobriram-nas com pranchas, acenderam lanternas coloridas e animaram o bairro com músicos e bailarinos negros, como no Carnaval. O ambiente dentro do salão, no entanto, era muito sombrio.
Na casa dos Valmorain, no centro, ouvia-se o rumor distante da música de rua, mas Hortense Guizot, como todas as mulheres brancas da cidade, fingia que não o ouvia. Sabia do que se tratava, porque há várias semanas que não se falava de outra coisa. Acabava de jantar e estava a bordar na sala, rodeada pelas suas filhas, todas tão loiras e rosadas como ela era antes, que brincavam com bonecas, enquanto a mais pequena dormia no berço. Agora, gasta pela maternidade, usava carmim nas faces e ostentava um artístico carrapito postiço de cabelo amarelo, que a sua escrava Denise misturava com o seu cabelo cor de palha. O jantar tinha consistido em sopa, dois pratos principais, salada, queijos e três sobremesas, nada demasiado complicado porque estava sozinha. As meninas ainda não se sentavam à mesa e o seu marido também não, porque seguia uma dieta rigorosa e preferia não ser tentado. Tinham-lhe levado arroz e frango cozido sem sal à biblioteca, onde cumpria as estritas ordens do doutor Parmentier. Além de passar fome, devia fazer caminhadas e privar-se de álcool, charutos e café. Teria morrido de tédio sem o seu cunhado Sancho, que o visitava todos os dias para o pôr ao corrente das notícias e boatos, alegrá-lo com o seu bom humor e ganhar-lhe às cartas e ao dominó.
Parmentier, que se queixava tanto do seu próprio coração, não seguia o regime monástico que impunha ao seu paciente, porque Sanité Dédé, a sacerdotisa vodu da Praça do Congo, tinha-lhe lido o futuro nas conchas de caurim e, segundo a sua profecia, ia viver até aos oitenta e nove anos. «Tu, branco, vais fechar os olhos ao santo Père Antoine quando morrer em 1829.» Isso tranquilizou-o em relação à sua saúde, mas criou-lhe a angústia de perder nessa longa vida os seres mais queridos, como Adèle e talvez algum dos seus filhos.
O primeiro alarme de que algo não corria bem com Valmorain ocorreu durante a viagem a França. Terminada a lúgubre visita à sua mãe nonagenária e às suas irmãs solteironas, deixou Maurice em Paris e embarcou para Nova Orleães. No barco, sentiu-se várias vezes cansado, o que atribuiu ao balanceio das ondas, ao excesso de vinho e à má qualidade da comida. Quando chegou, o seu amigo Parmentier diagnosticou-lhe tensão alta, pulso irregular, péssima digestão, excesso de bílis, flatulência, humores pútridos e palpitações no coração. Anunciou-lhe, sem subterfúgios, que tinha de perder peso e mudar de vida ou acabaria no seu mausoléu do cemitério de Saint-Louis em menos de um ano. Aterrado, Valmorain submeteu-se às exigências do médico e ao despotismo da sua mulher, convertida em carcereira com o pretexto de cuidar dele. Em todo o caso, recorreu a «doutores de ervas» e feiticeiros, de quem tinha troçado sempre, até que o susto o fez mudar de opinião. Não perdia nada em experimentar, pensou. Tinha conseguido um gris-gris, tinha um altar pagão no seu quarto, bebia poções impossíveis de identificar que Célestine lhe trazia do mercado e tinha feito duas excursões nocturnas a uma ilhota nos pântanos para que Sanité Dédé o limpasse com o fumo do seu tabaco e os seus encantamentos. Parmentier não se sentia incomodado pela concorrência da sacerdotisa, fiel à sua ideia de que a mente tem o poder de curar e se o paciente confiava na feitiçaria, não havia motivo para lha recusar.
Maurice, que estava em França a trabalhar numa agência de importação de açúcar, onde Valmorain o colocou para se familiarizar com esse aspecto do negócio de família, embarcou no primeiro barco disponível assim que soube da doença do pai e chegou a Nova Orleães em finais de Outubro. Encontrou Valmorain transformado num volumoso lobo-marinho, numa poltrona junto da lareira, com um gorro de tecido na cabeça, um xaile nas pernas, uma cruz de madeira e um gris-gris de trapo pendurado ao pescoço, muito deteriorado, em comparação com o homem altaneiro e gastador que quis mostrar-lhe a vida dissipada de Paris. Ferrou-se ao pé do pai e este apertou-o num abraço trémulo. «Meu filho, finalmente chegaste, agora posso morrer tranquilo», murmurou. «Não digas disparates, Toulouse!», interrompeu-o Hortense Guizot, que os observava desgostosa. E este quase a acrescentar que ainda não ia morrer, infelizmente, mas conteve-se a tempo. Há três meses que cuidava do marido e tinha perdido a paciência. Valmorain massacrava-a o dia todo e acordava-a de noite com pesadelos recorrentes de um tal Lacroix, que lhe aparecia em carne-viva, a arrastar a pele pelo chão como uma camisa sangrenta.
A madrasta recebeu Maurice secamente e as suas irmãs cumprimentaram-no com educadas vénias, mantendo-se à distância, porque não faziam a menor ideia de quem era aquele irmão, que era muito raramente mencionado na família. A mais velha das cinco meninas, a única que Maurice tinha conhecido quando ela ainda não caminhava, tinha oito anos, e a mais nova estava nos braços de uma ama-de-leite. Como a casa era muito pequena para a família e os criados, Maurice alojou-se no apartamento do seu tio Sancho, solução ideal para todos menos para Toulouse Valmorain, que pretendia tê-lo a seu lado para lhe dar conselhos e passar-lhe a orientação dos seus bens. Era a última coisa que Maurice desejava, mas não era o momento para contrariar o seu pai.
Na noite do baile, Sancho e Maurice não jantaram em casa dos Valmorain, como faziam quase todos os dias, mais por obrigação do que por prazer. Nenhum dos dois se sentia à vontade com Hortense Guizot, que nunca tinha gostado do enteado e tolerava Sancho contrariada, com o seu bigode atrevido, o seu sotaque espanhol e a sua falta de vergonha, porque era preciso ser-se descarado para passear pela cidade com aquela cubana, uma cadela sang-mêlée, principal culpada do tão badalado baile do Cordon Bleu. Só a sua impecável educação impedia Hortense de rebentar em impropérios ao pensar nisso; nenhuma dama se dava por achada do fascínio que essas cortesãs de cor exerciam sobre os seus homens brancos ou da prática imoral de lhes oferecer as suas filhas. Sabia que o tio e o sobrinho se andavam a preparar para assistir ao baile, mas nem morta lhes teria feito um comentário. Também não podia falar sobre isso com o marido, porque seria admitir que espiava as suas conversas privadas, assim como lhes interceptava a correspondência e se imiscuía nos compartimentos secretos da sua secretária, onde guardava o dinheiro. Foi assim que soube que Sancho tinha obtido dois convites de Violette Boisier, porque Maurice desejava assistir ao baile. Sancho teve de discuti-lo com Valmorain, porque o intempestivo interesse do seu sobrinho pela plaçage exigia apoio financeiro.
Hortense, que escutava com a orelha colada a um buraco que ela mesmo tinha mandado perfurar na parede, ouviu o marido aprovar a ideia de imediato e calculou que isso desanuviava as suas dúvidas sobre a virilidade de Maurice. Ela mesma tinha contribuído para essas dúvidas, soltando a palavra efeminado em mais de uma conversa sobre o seu enteado. A plaçage pareceu apropriada a Valmorain, tendo em conta que Maurice nunca tinha manifestado inclinação por bordéis ou pelas escravas da família. Faltavam pelo menos dez anos para o jovem pensar em casar-se e, entretanto, precisava de desafogar os seus ímpetos masculinos, como lhes chamava Sancho. Uma rapariga de cor, limpa, virtuosa e fiel, oferecia muitas vantagens. Sancho explicou a Valmorain as condições económicas, que antes eram deixadas à boa vontade do protector e agora, desde que Violette tinha pegado nas rédeas do assunto, era estipulado um contrato de palavra, que embora carecesse de valor legal, de todas as maneiras, era inviolável. Valmorain não colocou objecções à despesa: Maurice merecia-a. Do outro lado da parede, foi por um triz que Hortense Guizot não desatou aos gritos.
O baile das sereias
Jean-Martin confessou a Isidore Morisset, com lágrimas de vergonha, o que Valmorain lhe tinha dito e que a sua mãe não o tinha desmentido; tinha-se, simplesmente, recusado a falar sobre o assunto. Morisset recebeu as suas palavras com uma gargalhada trocista — «que diabo de importância tem isso, filho!» -mas, a seguir, comoveu-se e ele próprio se surpreendeu com a emoção que o jovem lhe provocava: desejos de protegê-lo e de beijá-lo. Afastou-o com delicadeza, pegou no seu chapéu e foi caminhar até ao dique com passos largos para que a mente se lhe desanuviasse. Dois dias depois, partiriam para França. Jean-Martin despediu-se da sua pequena família com a rigidez habitual que mantinha em público, mas, no último momento, abraçou Violette e sussurrou-lhe que lhe escreveria.
O baile do Cordon Bleu resultou tão magnífico como Violette Boisier o tinha imaginado e os demais o tinham esperado. Os homens chegaram vestidos de gala, pontuais e correctos, e distribuíram-se em grupos debaixo dos candeeiros de cristal iluminados por centenas de velas, enquanto a orquestra tocava e os criados ofereciam bebidas leves e champanhe, nada de licores fortes. As mesas do banquete estavam preparadas numa sala anexa, mas teria sido uma grosseria atirar-se às bandejas antes do tempo. Violette Boisier, vestida sobriamente, deu-lhes as boas-vindas; logo a seguir, entraram as mães e as damas de companhia e instalaram-se nos cadeirões. A orquestra atacou uma fanfarra, abriu-se uma cortina teatral numa extremidade da sala e as raparigas fizeram a sua aparição na passerelle, avançando lentamente em fila indiana. Havia umas poucas mulatas escuras, várias sang-mêlée que passavam por europeias, inclusive duas ou três com olhos azuis, e uma vasta gama de mestiças em diversos tons, todas atraentes, recatadas, suaves, elegantes e educadas na fé católica. Algumas eram tão tímidas que não levantavam os olhos da carpete, mas outras, mais atrevidas, lançavam olhares de soslaio aos galãs alinhados contra as paredes. Apenas uma vinha muito direita, séria, com uma expressão desafiadora, quase hostil. Era Rosette. Os vestidos vaporosos de cores claras tinham sido encomendados em França ou perfeitamente copiados por Adèle, os penteados simples realçavam as lustrosas cabeleiras, os braços e os pescoços estavam nus e os rostos pareciam limpos de maquilhagem. Só as mulheres sabiam quanto esforço e arte custava esse aspecto inocente.
Um respeitoso silêncio recebeu as primeiras meninas, mas, poucos minutos depois, rebentou um aplauso espontâneo. Nunca se tinha visto uma colecção tão notável de sereias, comentariam no dia seguinte nos cafés e tabernas os afortunados que estiveram presentes. As candidatas kplaçage deslizaram como cisnes pelo salão, a orquestra abrandou as trompetas para tocar música dançável e os brancos começaram os seus avanços com inusitada etiqueta, nada da atrevida familiaridade com que costumavam irromper nas festas de mestiças. Podiam dançar com todas as meninas, mas tinham sido instruídos de que à segunda ou terceira dança com a mesma deviam decidir-se. As damas de companhia custodiavam com olhos de águia. Nenhum desses jovens arrogantes, habituados a fazer o que lhes dava na gana, se atreveu a violar as regras. Pela primeira vez na sua vida, sentiam-se intimidados.
Maurice não olhou para ninguém. Só a ideia de que aquelas raparigas estavam a ser oferecidas para benefício dos brancos deixava-o doente. Estava a suar e sentia pancadas de martelo nas têmporas. Só lhe interessava Rosette. Desde que desembarcou em Nova Orleães, vários dias antes, esperava o baile só para se encontrar com ela, tal como tinham combinado na sua correspondência secreta, mas como não puderam ver-se antes, temia que não se reconhecessem. O instinto e a nostalgia alimentada entre as paredes de pedra do colégio de Boston permitiram a Maurice adivinhar, ao primeiro olhar, que a altiva rapariga vestida de branco, a mais bonita de todas, era a sua Rosette. Quando conseguiu descolar os pés do chão, ela já estava rodeada por três ou quatro pretendentes, que esquadrinhava a procurar descobrir o único que desejava ver. Também ela tinha esperado ansiosamente por aquele momento. Desde a infância que tinha protegido o seu amor por Maurice com duplicidade, disfarçando-o de carinho fraternal, mas já não pensava continuar a fazê-lo. Aquela noite era a da verdade.
Maurice aproximou-se, abrindo caminho, rígido, e pôs-se em frente de Rosette com os olhos incendiados. Olharam-se à procura de quem se recordavam: ela, o rapaz magro de olhos verdes e chorão que a seguia como uma sombra na infância, e ele, a menina mandona que se metia na sua cama. Encontraram-se no rescaldo da memória e, num instante, voltaram a ser os mesmos de antes: Maurice sem palavras, trémulo, à espera, e Rosette a transgredir as regras para lhe pegar na mão e conduzi-lo para a pista.
Através das luvas brancas, a rapariga sentiu o calor inusitado da pele de Maurice, que a percorreu desde a nuca até aos pés, como se se tivesse aproximado de um fogão. Sentiu que as pernas lhe fraquejavam, perdeu o passo e teve de se segurar a ele para não cair de joelhos. A primeira valsa acabou sem se darem conta, não conseguiram dizer nada um ao outro, só tocar-se e medir-se, alheios por completo do resto dos pares. A música terminou e eles continuaram ensimesmados a moverem-se, torpes, como cegos, até que a orquestra recomeçou e voltaram a apanhar o ritmo. Nessa altura, várias pessoas olhavam-nos, no gozo, e Violette Boisier tinha-se dado conta de que algo ameaçava a rígida etiqueta da festa.
Com o último acorde, um jovem mais atrevido do que os outros interpôs-se para puxar Rosette para dançar. Ela nem sequer notou a interrupção, estava agarrada ao braço de Maurice, com os olhos presos nos seus, mas o homem insistiu. Então, Maurice pareceu despertar de um transe sonâmbulo, voltou-se subitamente e afastou o intruso com um empurrão tão inesperado que o seu rival tropeçou e caiu no chão. Uma exclamação colectiva paralisou os músicos. Maurice balbuciou uma desculpa e estendeu a mão para o caído a fim de ajudá-lo a pôr-se de pé, mas o insulto tinha sido demasiado evidente. Dois amigos do jovem já se haviam precipitado para a pista e enfrentavam Maurice. Antes que alguém tivesse tempo de desafiar para um duelo, como ocorria com demasiada frequência, Violette Boisier interveio, procurando dissipar a tensão com piadas e pancadinhas com o leque, e Sancho Garcia del Solar agarrou com firmeza o seu sobrinho por um braço e levou-o para a sala de jantar, onde os homens mais velhos já estavam a saborear os deliciosos pratos da melhor cuisine créole.
— Que estás tu a fazer, Maurice? Será que não sabes quem é essa menina? — perguntou-lhe Sancho.
— Rosette, quem haveria de ser? Esperei sete anos para vê-la.
— Não podes dançar com ela! Dança com outras raparigas, há várias muito lindas, e, assim que escolheres, eu encarrego-me do resto.
— Só vim por causa de Rosette, tio — esclareceu Maurice.
Sancho suspirou fundo, enchendo o peito com uma baforada de ar pesado pelos charutos e a fragrância adocicada das flores.
Não estava preparado para aquela contingência, nunca imaginou que teria de ser ele a abrir os olhos a Maurice e ainda menos que tão melodramática revelação ocorresse naquele lugar e tão depressa. Tinha adivinhado essa paixão desde que o viu com Rosette pela primeira vez em Cuba, em 1793, quando chegaram, fugidos de Le Cap, com a roupa rasgada e cinza do incêndio no cabelo. Nessa altura, eram uns ranhosos que andavam de mão dada, assustados com o horror que tinham presenciado, e já era evidente que estavam ligados por um amor ciumento e tenaz. Sancho não compreendia como é que outros não o tinham notado.
— Esquece-te de Rosette. É filha do teu pai. Rosette é tua irmã, Maurice — suspirou Sancho, com o olhar fixo na ponta das suas botas.
— Eu sei, tio — replicou o jovem serenamente. — Soubemo-lo sempre, mas isso não impede que nos possamos casar.
— Deves estar demente, filho. Isso é impossível.
— Veremos, tio.
Hortense Guizot nunca se atreveu a esperar que o céu a livrasse de Maurice sem intervenção directa da sua parte. Satisfazia o seu rancor concebendo formas de eliminar o seu enteado, a única ilusão que essa mulher prática se permitia, nada de que devesse confessar-se, porque esses hipotéticos crimes eram apenas sonhos, e sonhar não é pecado. Tinha procurado com tanto afã afastá-lo do seu pai e substituí-lo por um filho que nunca conseguiu conceber, que, quando Maurice se enterrou sozinho, deixando-lhe o terreno livre para dispor à sua maneira dos bens do seu marido, sentiu-se vagamente defraudada. Tinha passado a noite do baile na sua cama de rainha, sob o toldo com anjinhos, que transportavam entre a casa e a plantação todas as temporadas, a dar voltas na cama, sem conseguir dormir, a pensar que, nesse preciso momento, Maurice estava a escolher uma concubina, o sinal definitivo de que deixava para trás a adolescência e entrava em cheio na idade adulta. O seu enteado já era um homem e, naturalmente, começaria a tomar conta dos negócios da família, podendo minimizar o seu poder, porque ela não tinha sobre ele a influência que exercia sobre o seu marido. A última coisa que desejava era vê-lo a meter o nariz na contabilidade ou a pôr limite às suas despesas.
Hortense só conseguiu adormecer ao amanhecer, quando finalmente tomou umas gotas de láudano e pôde abandonar-se a um sonho inquieto, povoado de visões angustiantes. Despertou por volta do meio-dia, indisposta com a má noite e os maus presságios, e puxou o cordão para chamar Denise e pedir-lhe um bacio limpo e a sua chávena de chocolate. Pareceu-lhe escutar uma conversa em surdina e calculou que vinha da biblioteca, um andar mais abaixo. O canal do cordão para chamar os escravos, que atravessava os dois andares e a mansarda, tinha-lhe servido muitas vezes para ouvir o que se passava no resto da casa. Aproximou a orelha e ouviu vozes iradas, mas como não conseguiu distinguir as palavras, saiu sigilosamente do seu quarto. Na escada, deparou-se com a sua escrava, que, ao vê-la em camisa e descalça a deslizar como um ladrão, esmagou-se contra a parede, invisível e muda.
Sancho tinha-se antecipado para explicar a Toulouse Valmorain o que se passara no baile do Cordon Bleu e preparar-lhe o ânimo, mas não encontrou a maneira de lhe anunciar com tacto a despropositada pretensão de Maurice de se casar com Rosette e descarregou-lhe a notícia numa só frase. «Casar-se?», repetiu Valmorain, incrédulo. Pareceu-lhe francamente cómico e desatou a rir à gargalhada, mas à medida que Sancho lhe foi dando uma ideia da determinação do seu filho, o riso transformou-se em verdadeira indignação. Serviu-se de um longo esguicho de conhaque, o terceiro da manhã, apesar da proibição de Parmentier, esvaziou-o com um só gole que o deixou a tossir.
Pouco depois, chegou Maurice. Valmorain enfrentou-o de pé, a gesticular e a bater na mesa, com a mesma cantilena de sempre, mas desta vez aos gritos: que era o seu único herdeiro, destinado a usar com orgulho o título de Chevalier e a aumentar o poder e a fortuna da família, ganhos com muito esforço; era o último varão que podia perpetuar a dinastia, por isso o tinha formado, o tinha imbuído dos seus princípios e da sua noção de honra, oferecera-lhe tudo o que é possível dar a um filho; não lhe permitia que manchasse, com um impulso juvenil, o apelido ilustre dos Valmorain. Não, não era um impulso, corrigiu-se, mas sim um vício, uma perversão, tratava-se, nada menos, de incesto. Desmoronou-se na sua poltrona, sem fôlego. Do outro lado da parede, colada ao buraco da espionagem, Hortense Guizot abafou uma exclamação. Não esperava que o seu marido admitisse perante o seu filho a paternidade de Rosette, que tão cuidadosamente lhe tinha ocultado a ela.
— Incesto, monsieur? O senhor obrigava-me a engolir sabão quando chamava irmã a Rosette — argumentou Maurice.
— Sabes muito bem ao que me refiro!
— Vou casar-me com Rosette, mesmo que o senhor seja pai dela — disse Maurice, procurando manter um tom respeitoso.
— Mas como é possível que vás casar-te com uma mestiça! — rugiu Valmorain.
— Pelos vistos, monsieur, a cor de Rosette incomoda mais o senhor do que o nosso parentesco. Mas se o senhor gerou uma filha com uma mulher de cor, não deveria surpreendê-lo que eu ame outra.
— Insolente!
Sancho procurou apaziguá-los com atitudes conciliadoras. Valmorain compreendeu que por aquele caminho não iam chegar a lado nenhum e esforçou-se por parecer calmo e razoável.
— És um bom rapaz, Maurice, mas demasiado sensível e sonhador — disse. — Foi um erro mandar-te para aquele colégio americano. Não sei que ideias te meteram na cabeça, mas parece que ignoras quem és, qual é a tua posição e as responsabilidades que tens com a tua família e a sociedade.
— O colégio deu-me uma visão mais ampla do mundo, monsieur, mas isso não tem nada a ver com Rosette. Os meus sentimentos por ela são agora os mesmos que eram há quinze anos.
— Estes impulsos são normais na tua idade, filho. O teu caso não tem nada de original — assegurou-lhe Valmorain. — Ninguém se casa aos dezoito anos, Maurice. Vais escolher uma amante, como qualquer jovem da tua condição. Isso vai-te tranquilizar. Se há algo de sobra nesta cidade são belas mulatas...
— Não! Rosette é a única mulher para mim — interrompeu-o o seu filho.
— O incesto é muito grave, Maurice.
— Muito mais grave é a escravatura.
— O que é que tem a ver uma coisa com a outra?
— Muito, monsieur. Sem a escravatura, que permitiu ao senhor abusar da sua escrava, Rosette não seria minha irmã — explicou-lhe Maurice.
— Como te atreves a falar assim ao teu pai?
— Perdoe-me, monsieur — respondeu Maurice, com ironia. — Na realidade, os erros que o senhor cometeu não podem servir de desculpa para os meus.
— O que tens é sangue na guelra, filho — disse Valmorain, com um teatral suspiro. — Nada mais compreensível. Deves fazer o que todos fazemos nestes casos.
— O quê, monsieur?
— Suponho que não preciso de te explicar, Maurice. Deita-te com a moça de uma vez por todas e depois esquece-a. É assim que se faz. Que outra coisa haveria de ser com uma negra?
— É isso que deseja para a sua filha? — perguntou Maurice, pálido, com os dentes cerrados. Corriam-lhe pingos de suor pela cara e tinha a camisa molhada.
— É filha de uma escrava! Os meus filhos são brancos! — exclamou Valmorain.
Um silêncio gelado abateu-se na biblioteca. Sancho recuou, a coçar a cabeça, com a sensação de que estava tudo perdido. A infâmia do cunhado pareceu-lhe irremediável.
— Vou casar-me com ela — repetiu, por fim, Maurice e saiu com passos largos, sem fazer caso da ladainha de ameaças do seu pai.
A direita da Lua A Tété não tinha passado pela cabeça ir ao baile e também não a tinham convidado, porque estava subentendido que não era para gente da sua condição: as outras mães teriam ficado ofendidas e a sua filha teria passado uma vergonha. Chegou a um acordo com Violette para que actuasse como dama de companhia de Rosette. Os preparativos para essa noite, que tinham exigido meses de paciência e trabalho, deram os resultados esperados: Rosette parecia um anjo com o seu vestido etéreo e jasmins pendurados no cabelo. Antes de subir para o coche alugado, na presença dos vizinhos que tinham vindo para a rua para as aplaudir, Violette repetiu a Tété e a Loula que ia conseguir o melhor pretendente para Rosette. Ninguém imaginou que estaria de volta a arrastar a rapariga, uma hora mais tarde, quando alguns vizinhos ainda estavam na rua a comentar.
Rosette entrou em casa como um furacão, com a expressão de mula desconfiada que esse ano tinha substituído a sua coqueteria, arrancou o vestido aos puxões e fechou-se no seu quarto sem dizer uma palavra. Violette vinha histérica, a gritar que aquela galdéria lhas ia pagar, que foi por um triz que não lhe arruinou a festa, tinha-os enganado a todos, tinha-lhe feito perder tempo, esforço e dinheiro, porque nunca teve a intenção de ser placée, o baile fora um pretexto para se encontrar com esse desgraçado do Maurice. A mulher estava certa. Rosette e Maurice tinham chegado a um acordo de maneira inexplicável, porque a menina não saía sozinha para lado nenhum. Como enviava e recebia mensagens era um mistério que ela se recusou a revelar, apesar do cachaço que levou de Violette. Isso confirmou a suspeita que Tété sempre teve: as L'étoiles daquelas duas crianças estavam juntas no céu; nalgumas noites, eram nitidamente visíveis à direita da Lua.
Depois da cena na biblioteca da casa do seu pai, quando o enfrentou, Maurice retirou-se decidido a cortar para sempre os vínculos com a sua família. Sancho conseguiu tranquilizar um pouco Valmorain e depois seguiu o seu sobrinho até ao apartamento que partilhavam, onde o encontrou desorientado e a arder em febre. Com a ajuda do seu criado, Sancho tirou-lhe a roupa e levou-o para a cama, depois obrigou-o a engolir uma chávena de rum quente com açúcar e limão, remédio improvisado que lhe ocorreu como paliativo para as dores do amor e que mergulhou Maurice num longo sono. Ordenou ao seu doméstico que o refrescasse com panos molhados para lhe baixar a temperatura, mas isso não impediu que Maurice passasse o resto da tarde e boa parte da noite a delirar.
Na manhã seguinte, o jovem despertou com menos febre. O quarto estava escuro, porque tinham corrido as cortinas, mas não quis chamar o criado, embora precisasse de água e de uma chávena de café. Quando tentou levantar-se para usar o bacio, sentiu todos os músculos doridos, como se tivesse galopado durante uma semana, e preferiu voltar a deitar-se. Pouco depois, Sancho chegou com Parmentier. O doutor, que o conhecia desde criança, a única coisa que fez foi repetir a sabida observação de que o tempo é mais escorregadio do que o dinheiro. Para onde foram os anos? Maurice tinha saído por uma porta com calções e regressou por outra convertido num homem. Examinou-o meticulosamente sem chegar a um diagnóstico, o quadro ainda não era claro, disse, era preciso esperar. Ordenou-lhe que se mantivesse em repouso para ver como reagia. Uns dias antes, calhou-lhe atender dois marinheiros com tifo no hospital das freiras. Não se tratava de uma epidemia, assegurou, eram casos isolados, mas deviam ter em conta essa possibilidade. Os ratos dos barcos costumavam contagiar a doença e talvez Maurice se tivesse infectado na viagem.
— Tenho a certeza de que não é tifo, doutor — murmurou Maurice, envergonhado.
— O que é então? — sorriu Parmentier.
— Nervos.
— Nervos? — repetiu Sancho, muito divertido. — Aquilo de que sofrem as solteironas?
— Isto não me dava desde criança, doutor, mas não me esqueci e suponho que o senhor também não. Não se recorda de Le Cap? Então, Parmentier voltou a ver o rapazinho com poucos anos que Maurice era naquela época, a delirar de febre, acossado pelos fantasmas dos torturados, que se passeavam pela casa.
— Espero que tenhas razão — disse Parmentier. — O teu tio Sancho contou-me o que se passou no baile e a discussão que tiveste com o teu pai.
— Insultou Rosette! Tratou-a como uma rameira — disse Maurice.
— O meu cunhado estava muito transtornado, como é lógico -interrompeu Sancho. — Maurice disse-lhe que se ia casar com Rosette. Não só pretende desafiar o pai, como o mundo inteiro.
— Só pedimos que nos deixem em paz, tio — disse Maurice.
— Ninguém vos deixará em paz porque, se ides avante com a vossa ideia, pondes a sociedade em perigo. Imagina o exemplo que darias! Seria como um buraco num dique. Primeiro um pequeno jorro e depois uma aluvião que destruiria tudo à sua passagem.
— Iremos para longe, onde ninguém nos conheça — insistiu Maurice.
— Para onde? Viver com os índios, cobertos com peles hediondas e a comer milho? Vamos lá ver quanto tempo dura o amor nessas condições!
— És muito jovem, Maurice, tens a vida pela frente — argumentou fracamente o médico.
— A minha vida! Pelos vistos é a única coisa que conta! E Rosette? Será que a sua vida também não conta? Amo-a, doutor.
— Entendo-te melhor do que ninguém, filho. A minha companheira de toda a vida, a mãe dos meus três filhos, é mulata -confessou-lhe Parmentier.
— Está bem, mas não é sua irmã! — exclamou Sancho.
— Isso não importa — replicou Maurice.
— Explique-lhe, doutor, que dessas uniões nascem bebés tarados — insistiu Sancho.
— Nem sempre — murmurou o médico, pensativo.
Maurice tinha a boca seca e sentia o corpo de novo a arder.
Fechou os olhos, indignado consigo mesmo por não conseguir controlar aqueles arrepios, sem dúvida causados pela sua maldita imaginação. Não escutava o tio: tinha o barulho de um mar revolto nos ouvidos.
Parmentier interrompeu a lista de argumentos de Sancho. «Creio que há uma maneira satisfatória para todos, de modo a que Maurice e Rosette possam estar juntos.» Explicou que muito pouca gente sabia que eram meios-irmãos e, além disso, não seria a primeira vez que tal coisa acontecia. A promiscuidade dos amos com as suas escravas prestava-se a toda a espécie de relações confusas, acrescentou. Ninguém sabia ao certo o que se passava na intimidade das casas e menos ainda nas plantações. Os créoles não ligavam demasiada importância aos amores entre parentes de raças diferentes — não só entre irmãos, também entre pais e filhas — desde que não se falasse em público. Brancos com brancos, em contrapartida, era intolerável.
— Onde quer chegar, doutor? — perguntou Maurice.
— Plaçage. Pensa nisso, filho. Darias a Rosette o mesmo tratamento que a uma esposa e, embora não convivesses com ela abertamente, poderias visitá-la quando quisesses. Rosette seria respeitada no seu ambiente. Tu manterias a tua situação, podendo protegê-la muito melhor assim do que se fosses um pária da sociedade e, além disso pobre, como serias se te empenhasses em casar-te com ela.
— Brilhante, doutor! — exclamou Sancho, antes que Maurice tivesse tempo para abrir a boca. — Só falta que Toulouse Valmorain o aceite.
Nos dias seguintes, enquanto Maurice se debatia com o que resultou ser definitivamente tifo, Sancho procurou convencer o seu cunhado das vantagens da plaçage para Maurice e Rosette. Se antes Valmorain estava disposto a financiar as despesas com uma rapariga desconhecida, não havia razão para o recusar à única que Maurice desejava. Até esse ponto, Valmorain escutava-o cabisbaixo, mas atento.
— Além disso, foi criada no seio da tua família e sabes que é decente, fina e bem-educada — acrescentou Sancho, mas, assim que o disse, compreendeu o erro de lhe recordar que Rosette era sua filha; foi como se tivesse picado Valmorain.
— Prefiro ver Maurice morto a vê-lo amancebado com essa pega! — exclamou.
O espanhol persignou-se automaticamente: isso era tentar o diabo.
— Não faças caso, Sancho, saiu-me sem pensar — murmurou o outro, também estremecido por uma apreensão supersticiosa.
— Acalma-te, cunhado. Os filhos revoltam-se sempre, é normal, mas, mais tarde ou mais cedo, entram na razão — disse Sancho, servindo-se de um copo de conhaque. — A tua oposição só fortalece a ideia de Maurice. Só conseguirás afastá-lo de ti.
— Quem fica a perder é ele!
— Pensa bem. Tu também ficas a perder. Já não és novo e falta-te a saúde. Quem será o teu apoio na velhice? Quem tomará conta da plantação e dos teus negócios quando já não puderes fazê-lo? Quem cuidará de Hortense e das meninas?
— Tu.
— Eu? — Sancho soltou uma alegre gargalhada. — Eu sou um pícaro, Toulouse! Estás a ver me convertido em pilar da família? Oxalá Deus não o queira.
— Se Maurice me atraiçoar, tu terás de me ajudar, Sancho. És meu sócio e o meu único amigo.
— Por favor, não me assustes.
— Creio que tens razão: não devo atacar Maurice de frente, mas actuar com astúcia. O rapaz precisa de arrefecer, pensar no seu futuro, divertir-se como corresponde à sua idade e conhecer outras mulheres. Essa vadia tem de desaparecer.
— Como? — perguntou Sancho.
— Há várias formas.
— Quais?
— Por exemplo, oferecer-lhe uma boa soma para que vá para longe e deixe o meu filho em paz. O dinheiro compra tudo, Sancho, mas, se não resultasse... bom, tomaríamos outras medidas.
— Não contes comigo para nada disso! — exclamou Sancho, alarmado. — Maurice jamais te perdoaria.
— Não precisaria de saber.
— Eu dizia-lhe. Precisamente porque te quero como irmão, Toulouse, não vou permitir que cometas semelhante maldade. Irias arrepender-te por toda a tua vida — replicou Sancho.
— Não te ponhas assim, homem! Estava a brincar. Sabes que sou incapaz de fazer mal a uma mosca.
O sorriso de Valmorain soou como um latido. Sancho retirou-se, preocupado, e ele ficou a meditar sobre aplaçage. Parecia-lhe a alternativa mais lógica, mas apadrinhar o amancebamento entre irmãos era muito perigoso. Se viesse a saber-se, a sua honra ficaria irremediavelmente manchada e toda a gente voltaria as costas aos Valmorain. Com que cara iam apresentar-se em público? Devia pensar no futuro das suas cinco filhas, nos seus negócios e na sua posição social, como lhe tinha feito ver Hortense com claridade. Não suspeitava que a própria Hortense já tinha posto a notícia a circular. Confrontada a ter de escolher entre cuidar da reputação da sua família, principal prioridade de toda a dama créole, ou arruinar a do seu enteado, Hortense cedeu à tentação do segundo. Se estivesse nas suas mãos, ela própria teria casado Maurice com Rosette, só para destruí-lo. A plaçage que Sancho propunha não lhe convinha, porque assim que os ânimos se acalmassem, como acontecia sempre passado um tempo, Maurice poderia exercer os seus direitos de primogénito sem que ninguém se recordasse do seu deslize. As pessoas tinham má memória. A única solução prática era que o seu enteado fosse repudiado pelo pai. «Pretende casar-se com uma mestiça? Perfeito. Que o faça e que viva entre os negros, como convém», tinha comentado às suas irmãs e amigas, que, por sua vez, se encarregaram de repeti-lo.
Os enamorados
Tété e Rosette tinham deixado a casa amarela da Rua Chartres no dia a seguir à vergonha no baile do Cordon Bleu. Passou rapidamente a birra a Violette Boisier e perdoou Rosette porque os amores contrariados comoviam-na sempre, mas de qualquer das formas sentiu-se aliviada quando Tété lhe anunciou que não desejava continuar a abusar da sua hospitalidade. Era preferível criar uma certa distância entre elas, pensou. Tété foi com a filha para a pensão onde anos antes viveu o tutor Gaspard Sévérin, enquanto acabavam os arranjos da pequena moradia que Zacharie tinha comprado a dois quarteirões da de Adèle. Continuou a trabalhar com Violette, como sempre, e pôs Rosette a costurar com Adèle; já era tempo de a rapariga ganhar a vida. Sentia-se impotente perante o furacão que se tinha desencadeado. Sentia inevitável compaixão pela sua filha, mas não conseguia aproximar-se para ajudá-la, porque se havia fechado como um molusco. Rosette não falava com ninguém, costurava em pesado silêncio, à espera de Maurice com uma dureza de granito, cega à curiosidade alheia e surda aos conselhos das mulheres que a rodeavam: a sua mãe, Violette, Loula, Adèle e uma dúzia de vizinhas intrometidas.
Tété soube do confronto entre Maurice e Toulouse Valmorain através de Adèle, a quem lhe tinha contado Parmentier, e de Sancho, que lhe fez uma breve visita na pensão para lhe levar notícias de Maurice. Disse-lhe que o jovem estava debilitado pelo tifo, mas fora de perigo, e desejava ver Rosette o mais depressa possível.
— Pediu-me que intercedesse para que o recebas, Tété -acrescentou.
— Maurice é meu filho, Don Sancho, não precisa de me mandar recados. Fico à espera dele — respondeu-lhe ela.
Puderam falar com franqueza, aproveitando Rosette ter saído para entregar umas costuras. Há várias semanas que não tinham oportunidade de se ver, porque Sancho desaparecera do bairro. Não se atrevia a aparecer perto de Violette Boisier desde que ela o surpreendeu com Adi Soupir, a mesma negra de pé leve por quem já tinha estado pelo beicinho. Sancho não ganhou nada em jurar-lhe que só se tinham encontrado por mero acaso na Praça de Armas e que ele a convidara para tomar um inocente calicezinho de xerez, nada mais. Que mal havia nisso? Mas Violette não estava interessada em competir com nenhuma rival por aquele espanhol pinga-amor, e ainda menos com uma com metade da sua idade.
Segundo Sancho, Toulouse Valmorain tinha exigido que o seu filho fosse falar com ele assim que pudesse pôr-se de pé. Maurice arranjou forças para se vestir e foi a casa do pai, porque não podia continuar a protelar uma resolução. Enquanto não esclarecesse as coisas com ele, não se sentia liberto para se apresentar diante de Rosette. Quando viu o filho amarelo e com a roupa pendurada nos ossos, porque tinha perdido vários quilos durante a sua breve doença, Valmorain assustou-se. O antigo temor de que a morte lho roubasse, que tantas vezes o assaltara quando Maurice era pequeno, voltou a oprimir-lhe o peito. Espicaçado por Hortense Guizot, tinha-se preparado para lhe impor a sua autoridade, mas compreendeu que lhe queria demasiado: era preferível qualquer coisa a zangar-se com ele. Num impulso, optou pela plaçage, a que antes se tinha oposto por orgulho e a conselho da sua mulher. Viu com lucidez que era a única saída possível. «Ajudar-te-ei como mereces, filho. Terás o suficiente para comprar uma casa a essa moça e mantê-la como deve ser. Rezarei para que não haja escândalo, e que Deus vos perdoe. Só te peço que nunca a nomeies na minha presença e tão-pouco a mãe dela», anunciou-lhe Valmorain.
A reacção de Maurice não foi a que esperavam o seu pai nem Sancho, que também estava presente na biblioteca. Respondeu que agradecia a ajuda oferecida, mas não era esse o destino que desejava. Não pensava continuar a submeter-se à hipocrisia da sociedade nem submeter Rosette à injustiça daplaçage, onde ela ficaria condicionada, enquanto ele gozava de plena liberdade. Por outro lado, isso seria um estigma para a carreira política que ia seguir. Disse que regressaria a Boston, para viver entre gente mais civilizada, estudaria advocacia e depois, a partir do Congresso e dos jornais, tentaria mudar a Constituição, as leis e, finalmente, os costumes, não só nos Estados Unidos, como no mundo.
— De que é que estás a falar, Maurice? — interrompeu-o o pai, convencido de que lhe tinha voltado o delírio do tifo.
— Abolicionismo, monsieur. Vou dedicar a minha vida a lutar contra a escravidão — replicou Maurice com firmeza.
Isso foi um golpe mil vezes mais grave para Valmorain do que o assunto de Rosette: era um atentado directo contra os interesses da sua família. O seu filho estava mais desmiolado do que tinha imaginado, pretendia nada menos do que demolir o fundamento da civilização e da fortuna dos Valmorain. Os abolicionistas eram emplumados e enforcavam-nos, como mereciam. Eram uns loucos fanáticos que se atreviam a desafiar a sociedade, a história, inclusive a palavra divina, porque a escravidão aparecia na Bíblia. Um abolicionista na sua própria família? Nem pensar! Lançou-lhe a sua arenga aos gritos, sem tomar fôlego, e terminou ameaçando deserdá-lo.
— Faça-o, monsieur, porque, se eu herdasse os seus bens, a primeira coisa que faria seria emancipar os escravos e vender a plantação — respondeu Maurice, sem se alterar.
O jovem levantou-se apoiando-se nas costas da cadeira, porque estava um pouco enjoado, despediu-se com uma ligeira vénia e saiu da biblioteca procurando disfarçar a tremura das suas pernas. Os insultos do seu pai perseguiram-no até à rua.
Valmorain perdeu o controlo, a ira converteu-o num torvelinho: amaldiçoou o filho, gritou-lhe que para ele tinha morrido e que não receberia nem um centavo da sua fortuna. «Proíbo-te de voltar a pisar esta casa e de usares o apelido Valmorain! Já não pertences a esta família!» Não conseguiu continuar, porque caiu prostrado, arrastando um candeeiro de opalina, que se fez em fanicos contra a parede. Hortense e vários domésticos tinham acorrido aos seus gritos, encontrando-o com os olhos em branco e arroxeado, enquanto Sancho, ajoelhado a seu lado, procurava soltar-lhe a gravata, enterrada nas dobras da dupla papada.
Enlace de sangue
Uma hora mais tarde, Maurice apresentou-se sem avisar na pensão de Tété. Há sete anos que ela não o via, mas aquele jovem alto e sério, com o cabelo desordenado e lentes redondas, pareceu-lhe igual ao menino que ela havia criado. Maurice tinha a mesma intensidade e ternura da infância. Abraçaram-se longamente, ela a repetir o seu nome e ele a sussurrar «maman, maman», a palavra proibida. Estavam na poeirenta salita da pensão, que se mantinha numa penumbra eterna. A pouca luz filtrada entre as persianas punha em evidência os móveis desengonçados, a carpete esfiampada e o papel amarelecido das paredes.
Rosette, que tanto tinha aguardado Maurice, não o cumprimentou, aturdida de felicidade e desconcertada por vê-lo tão em baixo, tão diferente do jovem bem-posto com quem tinha dançado duas semanas antes. Muda, observava a cena como se a visita intempestiva do seu namorado não tivesse nada a ver com ela.
— Rosette e eu gostámos sempre um do outro, maman, a senhora sabe isso. Desde que éramos pequenos que falávamos em casarmo-nos, recorda-se? — disse Maurice.
— Sim, filho, recordo-me. Mas é pecado.
— Nunca lhe tinha ouvido dizer essa palavra. Será que se tornou católica?
— Os meus loas acompanham-me sempre, Maurice, mas também vou à missa de Père Antoine.
— Como é possível que o amor seja pecado? Deus pô-lo em nós. Antes de nascermos, já nos amávamos. Não temos a culpa de ter o mesmo pai. Não fomos nós que pecámos, mas sim ele.
— Há consequências... — murmurou Tété.
— Bem sei. Toda a gente se empenha em recordar-me que podemos ter filhos anormais. Estamos dispostos a correr esse risco, não é verdade, Rosette? A rapariga não respondeu. Maurice aproximou-se e pôs-lhe um braço sobre os ombros, numa atitude de protecção.
— O que vai ser de vocês? — perguntou Tété, angustiada.
— Somos livres e jovens. Iremos para Boston e, se lá nos correr mal, procuraremos outro lugar. A América é grande.
— E a cor? Não vos aceitarão em nenhum lugar. Dizem que nos estados livres o ódio é pior, porque brancos e negros não convivem nem se misturam.
— Certo, mas isso vai mudar, prometo-lhe. Há muitas pessoas a trabalhar para abolir a escravatura: filósofos, políticos, religiosos, toda a gente com um mínimo de decência...
— Não viverei para o ver, Maurice. Mas sei que, mesmo que emancipassem os escravos, não haveria igualdade.
— A longo prazo, terá de haver, maman. É como uma bola de neve, que começa a rolar, vai crescendo, ganha velocidade, e então já nada consegue detê-la. É assim que acontecem as grandes mudanças na História.
— Quem te disse isso, filho? — perguntou-lhe Tété, que não fazia a menor ideia do que era uma bola de neve.
— O meu professor, Harrison Cobb.
Tété compreendeu que era inútil raciocinar, porque as cartas tinham sido lançadas há quinze anos, quando ele se inclinou pela primeira vez para beijar a cara da menina recém-nascida que era Rosette.
— Não se preocupe, cá nos arranjaremos — acrescentou Maurice. — Mas necessitamos da sua bênção, maman. Não queremos fugir como bandidos.
— Tendes a minha bênção, filhos, mas não basta. Vamos pedir o conselho de Père Antoine, que sabe das coisas deste mundo e do outro — concluiu Tété.
Caminharam na brisa de Fevereiro até à casita do capuchinho, que acabava de terminar a sua ronda de caridade e estava a descansar um pouco. Recebeu-os sem mostras de surpresa, porque estava à espera deles desde que começaram a chegar até ele os boatos de que o herdeiro da fortuna Valmorain pretendia casar-se com uma mestiça. Como estava sempre ao corrente do que se passava na cidade, os seus fiéis supunham que o Espírito Santo lhe soprava a informação. Ofereceu-lhes o vinho da sua missa, amargo como verniz.
— Queremos casarmo-nos, mon père — anunciou Maurice.
— Mas existe o pormenor da raça, não é assim? — sorriu o frade.
— Sabemos que a lei... — continuou Maurice.
— Cometeram o pecado da carne? — interrompeu-o Père Antoine.
— Como pode crer numa coisa dessas, mon père? Dou-lhe a minha palavra de cavalheiro que a virtude de Rosette e a minha honra estão intactas — proclamou Maurice, excitado.
— Que pena, filhos! Se Rosette tivesse perdido a sua virgindade e tu desejasses reparar o dano perpetrado, eu seria obrigado a casar-vos para vos salvar a alma — explicou-lhes o santo.
Então, Rosette falou pela primeira vez desde o baile do Cordon Bleu.
— Tratamos disso esta mesma noite, monpère. Faça de conta que já sucedeu. E agora, por favor, salve-nos a alma — disse, com a cara vermelha e o tom decidido.
O santo possuía uma flexibilidade admirável para contornar as regras que considerava inconvenientes. Com a mesma imprudência infantil com que desafiava a Igreja, costumava desembaraçar-se da lei, e até àquele momento nenhuma autoridade religiosa ou civil se tinha atrevido a chamar-lhe a atenção. Tirou uma navalha de barbeiro de uma caixa, molhou a lâmina no seu copo de vinho e ordenou aos dois namorados que arregaçassem as mangas e lhe apresentassem um braço. Sem hesitar, fez um golpezito no pulso de Maurice com a destreza de quem realizou essa operação várias vezes. Maurice lançou uma exclamação e chupou o corte, enquanto Rosette apertava os lábios e fechava os olhos com a mão esticada. Depois, o frade juntou-lhes os braços, esfregando o sangue de Rosette na pequena ferida de Maurice.
— O sangue é sempre vermelho, como vedes, mas, se alguém perguntar, podeis dizer que tendes sangue negro, Maurice. Assim, o casamento será legal — esclareceu o frade, limpando a navalha à sua manga, enquanto Tété rasgava o seu lenço para lhes apertar os pulsos.
— Vamos à igreja. Pediremos à Irmã Lucie que seja testemunha deste casório — disse Père Antoine.
— Um momento, monpère — deteve-o Tété. — Não resolvemos o facto de estes dois pequenos serem meios-irmãos.
— Mas, que estás a dizer, filha? — exclamou o santo.
— O senhor conhece a história de Rosette, mon père. Contei-lhe que Monsieur Toulouse Valmorain era pai dela e o senhor sabe que também é pai de Maurice.
— Não me recordava. Falha-me a memória.
— Père Antoine deixou-se cair numa cadeira, derrotado.
— Não posso casar estes pequenos, Tété. Uma coisa é burlar a lei humana, que costuma ser absurda, mas outra é burlar a lei de Deus...
Saíram cabisbaixos da casita de Père Antoine. Rosette tentava conter o pranto e Maurice, desnorteado, segurava-a pela cintura. «Como eu gostaria de vos ajudar, pequenos! Mas não tenho poder para o fazer. Ninguém vos pode casar nesta terra», foi a triste despedida do santo. Enquanto os namorados arrastavam os pés, desconsolados, Tété caminhava mais dois passos atrás, a pensar na determinação que Père Antoine tinha colocado na última palavra. Talvez não tivesse havido ênfase, e que ela se tenha confundido com o sotaque golpeado com que o santo espanhol falava o francês, mas a frase pareceu-lhe rebuscada e voltava a ouvi-la como um eco dos seus pés nus a bater nos paralelepípedos da praça, até que, de tanto a repetir em silêncio, julgou interpretar um significado-chave. Mudou de direcção para se encaminhar para Chez Fleur.
Andaram quase uma hora e, quando chegaram à discreta porta da casa de jogo, viram uma fila de carregadores com fardos de mantimentos, vigiados por Fleur Hirondelle, que anotava cada embrulho no seu livro de contabilidade. A mulher recebeu-os carinhosa, como sempre, mas não podia atendê-los e indicou-lhes que fossem para o salão. Maurice apercebeu-se de que era um sítio de reputação duvidosa e achou pitoresco que a sua maman, sempre tão preocupada com a decência, se sentisse ali como na sua própria casa. Àquela hora, à luz cruel do dia, com as mesas vazias, sem clientes, sem cocottes nem músicos, sem o fumo, o barulho e o cheiro a perfume e licor, o salão parecia um teatro pobre.
— Que estamos a fazer aqui? — perguntou Maurice, com tom fúnebre.
— À espera que a nossa sorte mude, filho — disse Tété.
Momentos mais tarde, chegou Zacharie com roupa de trabalho e as mãos sujas, surpreendido com a visita. Já não era o homem belo de outrora, tinha a cara como uma máscara de Carnaval. Tinha ficado assim depois do assalto. Era de noite e esfaquearam-no à traição, não conseguiu ver os homens que lhe caíram em cima com garrotes, mas, como não lhe roubaram o dinheiro nem a bengala com punho de marfim, ficou a saber que não eram bandidos de El Pantano. Tété tinha-o avisado mais do que uma vez que a sua figura demasiado elegante e a sua largueza de dinheiro ofendia alguns brancos. Encontraram-no a tempo, estendido numa valeta, moído com pancada e a cara desfeita. O doutor Parmentier compô-lo com tanto cuidado que conseguiu pôr-lhe os ossos no sítio e salvar-lhe um olho, e Tété alimentou-o com um tubinho até que ele conseguisse mastigar. Essa desgraça não mudou a sua atitude triunfadora, mas tornou-o mais prudente e agora andava sempre armado.
— O que posso oferecer-vos? Rum? Sumo de fruta para a menina? — sorriu Zacharie com o seu novo sorriso de queixo torto.
— Um capitão é como um rei, pode fazer o que quiser no seu barco, inclusive enforcar alguém. Não é verdade? — perguntou-lhe Tété.
— Só quando está a navegar — esclareceu Zacharie, limpando-se com um trapo.
— Conheces algum?
— Vários. Para irmos mais longe, Fleur Hirondelle e eu somos sócios de Romeiro Toledano, um português que tem uma escuna.
— Sócios para quê, Zacharie?
— Digamos que para importação e transporte.
— Nunca me mencionaste esse tal de Toledano. É de confiança?
— Depende. Para umas coisas, sim; para outras, não.
— Onde posso falar com ele?
— Neste momento, a escuna está no porto. De certeza que virá esta noite para beber uns copos e jogar umas partidas. O que lhe queres, mulher?
— Preciso de um capitão que case Maurice e Rosette — ordenou-lhe Tété, perante o assombro dos dois interessados.
— Porque me pedes isso, Zarité?
— Porque mais ninguém o faria, Zacharie. E tem de ser agora mesmo, porque Maurice vai para Boston num barco que parte depois de amanhã.
— A escuna está no porto, onde mandam as autoridades de terra.
— Podes pedir a Toledano que solte as amarras, dirija o seu barco umas milhas mar adentro e case estas crianças? Assim, quatro horas mais tarde, a bordo de uma experimentada escuna com bandeira espanhola, o capitão Romeiro Toledano, um homenzinho que media menos de sete palmos, mas que compensava a indignidade da sua minúscula medida com uma barba negra que apenas deixava os olhos à vista, casou Rosette Sedella e Maurice. Foram testemunhas Zacharie, com traje de gala, mas ainda com as unhas sujas, e Fleur Hirondelle, que, para a ocasião, vestiu uma casaca de seda e pôs um colar de dentes de urso. Enquanto Zarité se desfazia em lágrimas, Maurice tirou a medalha de ouro da sua mãe, que usava sempre, e pô-la ao pescoço de Rosette. Fleur Hirondelle distribuiu taças de champanhe e Zacharie fez um brinde por «este casal que simboliza o futuro, quando as raças estiverem misturadas e todos os seres humanos forem livres e iguais perante a lei». Maurice, que tinha ouvido muitas vezes as mesmas palavras ao professor Cobb e tinha ficado muito sentimental com o tifo, soltou um longo e profundo soluço.
Duas noites de amor
À falta de outro lugar, os recém-casados passaram o único dia e as duas noites de amor que tiveram no estreito camarote da escuna de Romeiro Toledano, sem suspeitar que num compartimento secreto, debaixo do chão, estava um escravo agachado, que podia ouvi-los. A embarcação era a primeira etapa da perigosa viagem de liberdade de muitos fugitivos. Zacharie e Fleur Hirondelle acreditavam que a escravidão ia acabar muito em breve e, entretanto, ajudavam os mais desesperados que não conseguiam esperar até lá.
Nessa noite, Maurice e Rosette amaram-se num estreito beliche de madeira, embalados pelas correntes do delta, sob a luz atenuada por uma puída cortina de felpa vermelha que tapava a vigia. A princípio, tocavam-se inseguros, com timidez, embora tivessem crescido a explorarem-se e não existisse um único recanto das suas almas fechado para o outro. Tinham mudado, e agora viam-se obrigados a conhecer-se de novo. Perante a delícia de ter Rosette nos seus braços, Maurice esqueceu-se do pouco que tinha aprendido nas piruetas com Giselle, a embusteira de Savannah. Tremia. «É por causa do tifo», disse como desculpa. Comovida com aquela doce falta de jeito, Rosette tomou a iniciativa de começar a despir-se sem pressas, como lhe tinha ensinado Violette Boisier em privado. Quando pensou nisso, teve um ataque de riso, que Maurice interpretou como se estivesse a fazer troça dele.
— Não sejas tonto, Maurice, como é que podia estar a fazer troça de ti — replicou ela, a limpar as lágrimas de riso. — Estou a lembrar-me das aulas de fazer amor, de que Madame Violette se lembrou para as alunas do plaçage.
— Não me digas que lhes dava aulas!
— Claro, ou julgas que a sedução se improvisa?
— Maman tem conhecimento disto?
— Os pormenores, não.
— Que lhes ensinava essa mulher?
— Pouco, porque, por fim, madame teve de desistir das aulas práticas. Loula convenceu-a de que as mães não consentiriam e o baile iria por água abaixo. Mas conseguiu ensaiar o seu método comigo. Usava bananas e pepinos para me explicar.
— Explicar-te o quê? — exclamou Maurice, que começava a divertir-se.
— Como são os homens e como é fácil manipular-vos, porque tendes tudo cá fora. De certo modo, tinha de me ensinar, não te parece? Eu nunca vi um homem nu, Maurice. Bom, só a ti, mas, nessa altura, eras um ranhoso.
— Suponhamos que algo mudou desde então — sorriu ele. -Mas não esperes bananas ou pepinos. Pecarias por optimista.
— Não? Deixa-me ver.
No seu esconderijo, o escravo lamentou que não houvesse um buraco entre as tábuas do chão para colar o olho. As risadas seguiu-se um silêncio que lhe pareceu demasiado longo. Que estavam aqueles dois a fazer tão calados? Não conseguia imaginar porque, de acordo com a sua experiência, o amor era bastante mais ruidoso. Quando o capitão barbudo abriu a tampa para que saísse para comer e esticar as pernas, aproveitando a escuridão da noite, o fugitivo esteve quase para lhe dizer que não se incomodasse, que ele podia esperar.
Romeiro Toledano previu que os recém-casados, de acordo com o hábito imperante, não sairiam do seu aposento e, obedecendo às ordens de Zacharie, levou-lhes café e rosquilhas, que deixou discretamente à porta do camarote. Em circunstâncias normais, Rosette e Maurice teriam passado pelo menos três dias fechados, mas eles não dispunham de tanto tempo. Mais tarde, o bom capitão deixou-lhes uma bandeja com delícias do Mercado Francês que Tété lhe tinha feito chegar: mariscos, queijo, pão morno, fruta, doces e uma garrafa de vinho, que umas mãos não demoraram a arrastar para o interior.
Nas horas demasiado curtas desse único dia e duas noites que Maurice e Rosette passaram juntos, amaram-se com a ternura que tinham partilhado na infância e a paixão que agora os incendiava, improvisando isto e aquilo para se contentarem reciprocamente. Eram muito jovens, estavam apaixonados desde sempre e existia o terrível incentivo de que iam separar-se: não precisaram das instruções de Violette Boisier para nada. Durante algumas pausas, aproveitaram para falar, sempre abraçados, de determinadas coisas pendentes e planear o seu futuro imediato. A única coisa que lhes permitia suportar a separação era a certeza de que se iam juntar em breve, assim que Maurice tivesse trabalho e um lugar para receber Rosette.
Amanheceu o segundo dia e tiveram de vestir-se, beijar-se pela última vez e sair recatadamente para enfrentar o mundo. A escuna tinha atracado de novo; no porto, esperavam-nos Zacharie, Tété e Sancho, que tinha levado o baú com os haveres de Maurice. O tio também lhe entregou quatrocentos dólares, que se gabou de ter ganhado numa só noite a jogar às cartas. O jovem tinha comprado a passagem com o seu novo nome, Maurice Solar, o apelido da sua mãe abreviado e pronunciado à inglesa. Sancho achou-se um pouco ofendido, porque se sentia orgulhoso do sonoro Garcia del Solar, pronunciado como deve ser.
Rosette ficou em terra, desfeita de pena, mas a fingir a serena atitude de quem tem tudo o que se pode desejar neste mundo, enquanto Maurice lhe dizia adeus da coberta do clipper que o conduziria a Boston.
O purgatório
Valmorain perdeu o filho e perdeu a saúde com um só golpe.
No preciso momento em que Maurice saiu da casa paterna para nunca mais regressar, algo rebentou dentro de si. Quando Sancho e os outros conseguiram levantá-lo, verificaram que tinha um lado do corpo morto. O doutor Parmentier determinou que o coração não lhe tinha falhado, como tanto se temia, mas que tinha sofrido um ataque cerebral. Estava quase paralisado, babava-se e não controlava o esfíncter. «Com tempo e um pouco de sorte poderá melhorar bastante, mon ami, embora nunca volte a ser o mesmo», disse-lhe Parmentier. Acrescentou que conhecia pacientes que tinham vivido muitos anos depois de um ataque semelhante. Por sinais, Valmorain indicou-lhe que desejava falar a sós com ele, e Hortense Guizot, que o vigiava como um abutre, teve de sair da divisão e fechar a porta. O seu balbuciar era quase incompreensível, mas Parmentier conseguiu entender que tinha mais medo da sua mulher do que da sua doença. Hortense podia sentir-se tentada a precipitar-lhe a morte, porque preferia sem dúvida ficar viúva a ter de cuidar de um inválido que se mijava. «Não se preocupe, trato disso com três frases», tranquilizou-o Parmentier.
O médico deu a Hortense Guizot os remédios e as instruções necessárias para o doente e aconselhou-a a arranjar uma boa enfermeira, porque a recuperação do seu marido dependia muito dos cuidados que recebesse. Não deviam contrariá-lo nem dar-lhe preocupações: o descanso era fundamental. Quando se despediu, reteve a mão da mulher entre as suas num gesto de consolo paternal. «Desejo-lhe que o seu marido se recupere deste mau momento, madame, porque não creio que Maurice esteja preparado para substituí-lo», disse. E recordou-lhe que Valmorain não tinha chegado a fazer os trâmites para mudar o seu testamento e, legalmente, Maurice ainda era o único herdeiro da família.
Dias mais tarde, um mensageiro entregou um bilhete de Valmorain a Tété. Ela não esperou por Rosette para que lho lesse, foi ter directamente com Père Antoine. Tudo o que procedesse do seu antigo amo tinha o poder de lhe contrair o estômago de apreensão. Calculou que Valmorain já estivesse ao corrente do precipitado casamento e da partida do seu filho — toda a cidade o sabia — e a sua ira não teria só Maurice como alvo, que os fala-barato já tinham absolvido como vítima de uma feiticeira negra, mas também Rosette. Ela era a culpada por a dinastia dos Valmorain ficar sem continuidade e acabar sem glória. Depois da morte do patriarca, a fortuna passaria para as mãos dos Guizot e o apelido Valmorain só figuraria na lápide do mausoléu, porque as suas filhas não podiam transmiti-lo à sua descendência. Havia muitos motivos para temer a vingança de Valmorain, mas a ideia não tinha ocorrido a Tété, até que Sancho lhe sugeriu que vigiasse Rosette e não a deixasse sair sozinha à rua. Quis avisá-la de quê? A sua filha passava o dia com Adèle a costurar o seu modesto enxoval de recém-casada e a escrever a Maurice. Ali estava segura e ela ia sempre buscá-la à noite, mas, em todo o caso, andava com o coração nas mãos, sempre alerta: o longo braço do seu antigo amo podia chegar muito longe.
O bilhete que recebeu consistia em duas linhas de Hortense Guizot a notificá-la que o seu marido precisava de falar com ela.
— Muito deve ter custado a essa orgulhosa senhora chamar-te — comentou o frade.
— Prefiro não ir a essa casa, monpère.
— Não se perde nada em ouvir. Qual é a acção mais generosa que podes fazer neste caso, Tété?
— O senhor diz sempre o mesmo — suspirou ela resignada.
Père Antoine sabia que o doente se encontrava pasmado perante o silêncio abismal e a inconsolável solidão do sepulcro. Valmorain tinha deixado de acreditar em Deus aos treze anos e desde então gabava-se de um racionalismo prático onde não havia lugar para fantasias sobre o Mais Além, mas, quando se viu com um pé para a cova, recorreu à religião da sua infância. Atendendo à sua chamada, o capuchinho deu-lhe a extrema-unção. Na sua confissão, a murmurar entre soluços com a boca torta, Valmorain admitiu que se tinha apoderado do dinheiro de Lacroix, único pecado que lhe parecia relevante. «Fale-me dos seus escravos», intimou-o o religioso. «Acuso-me de fraqueza, mon père, porque em Saint-Domingue às vezes não pude evitar que o meu chefe de capatazes se excedesse nos castigos, mas não me acuso de crueldade. Fui sempre um amo bondoso.» Père Antoine deu-lhe a absolvição e prometeu-lhe rezar pela sua saúde, em troca de suculentas doações para os seus mendigos e órfãos, porque só a caridade amacia o olhar de Deus, como lhe explicou. Depois dessa primeira visita, Valmorain estava sempre a querer confessar-se, para que a morte não fosse surpreendê-lo mal preparado, mas o santo não tinha tempo nem paciência para escrúpulos tardios e só acedeu dar-lhe a comunhão duas vezes por semana através de outro religioso.
A casa dos Valmorain adquiriu o cheiro inconfundível da doença. Tété entrou pela porta de serviço e Denise conduziu-a à sala, onde Hortense Guizot a esperava de pé, com olheiras arroxeadas e o cabelo sujo, mais furiosa do que cansada. Tinha trinta e oito anos e parecia ter cinquenta. Tété conseguiu ver as quatro meninas, todas tão parecidas que não conseguiu distinguir as que conhecia. Em muito poucas palavras, cuspidas entre dentes, Hortense ordenou-lhe que subisse ao quarto do seu marido. Ela ficou a ruminar a frustração de ver aquela desgraçada na sua casa, aquela maldita que tinha conseguido levar a sua avante e desafiar nada menos do que os Valmorain, os Guizot, a sociedade inteira. Uma escrava! Não entendia como a situação se lhe escapou por entre os dedos. Se o seu marido lhe tivesse prestado atenção, teriam vendido a cadela da Rosette aos sete anos e isto jamais teria acontecido. Era tudo culpa do confiante Toulouse, que não soube educar o seu filho e não tratava os escravos como devia ser. Só podia ser emigrante! Chegam aqui e julgam que podem abanar-se com os nossos costumes. «Reparem que emancipou aquela negra e, ainda por cima, a sua filha!» Uma coisa destas jamais aconteceria entre os Guizot, isso podia ela jurá-lo.
Tété encontrou o doente enterrado entre almofadas, com a cara irreconhecível, o cabelo espetado, a pele cinzenta, os olhos lacrimosos e uma mão pendurada ao peito. O ataque tinha provocado uma intuição tão portentosa a Valmorain que era uma forma de clarividência. Supôs que tinha despertado de uma parte adormecida da sua mente, enquanto outra, a que antes calculava os lucros do açúcar em poucos segundos ou movia as peças do dominó, agora não funcionava. Com essa nova lucidez, adivinhava os motivos e as intenções dos outros, em especial da sua mulher, que já não podia manipulá-lo com a mesma facilidade de outrora. As emoções próprias e alheias adquiriam uma transparência de cristal e, nalguns instantes sublimes, parecia-lhe que atravessava a densa neblina do presente e se adiantava, aterrado, para o futuro. Esse futuro era um purgatório onde pagaria eternamente por faltas que tinha esquecido ou que talvez não tinha cometido. «Reze, reze, filho, e faça caridade», tinha-o aconselhado Père Antoine e repetia-lhe o outro frade que lhe dava a comunhão às terças e sábados.
O doente despediu a escrava que lhe fazia companhia com um grunhido. Caía-lhe a saliva pela comissura dos lábios, mas conseguia impor a sua vontade. Quando Tété se aproximou para ouvi-lo, porque não o entendia, agarrou-a com força pelo braço, empregando a sua mão sã, e obrigou-a a sentar-se a seu lado na cama. Não era um idoso desamparado, ainda era temível. «Vais ficar aqui a tratar de mim», exigiu-lhe. Era a última coisa que Tété esperava ouvir e ele teve de lho repetir. Espantada, compreendeu que o seu antigo amo não fazia a menor ideia de quanto ela o detestava, nada sabia da pedra negra que sentia no coração desde que a violou aos onze anos, não conhecia a culpa ou o remorso, talvez a mente dos brancos nem sequer registasse o sofrimento que causavam aos outros. O rancor só a tinha angustiado a ela, a ele não lhe tinha tocado. Valmorain, cuja nova clarividência não foi suficiente para adivinhar o sentimento que provocava em Tété, acrescentou que ela tinha cuidado de Eugenia durante muitos anos, aprendera com Tante Rose e, segundo Parmentier, não havia melhor enfermeira. Estas palavras foram acolhidas por um silêncio tão longo que Valmorain acabou por compreender que já não podia dar ordens àquela mulher e mudou de tom. «Pagarei o que for justo. Não. O que me pedires. Faz isso em nome de tudo o que passámos juntos e dos nossos filhos», disse-lhe entre baba e ranho.
Ela recordou o conselho habitual de Père Antoine e sondou bem fundo a sua alma, mas não conseguiu encontrar nem uma centelha de generosidade. Quis explicar a Valmorain que, por essas mesmas razões, não podia ajudá-lo: pelo que tinham passado juntos, pelo que sofreu quando era sua escrava e pelos seus filhos. O primeiro arrancou-lho assim que nasceu e a segunda iria destrui-la agora mesmo, se ela se descuidasse. Mas não conseguiu articular nada disso. «Não posso, perdoe-me, monsieur», foi tudo o que disse. Pôs-se de pé, vacilante, sacudida pelas pancadas do seu próprio coração, e, antes de sair, deixou em cima da cama de Valmorain a carga inútil do seu ódio, que já não desejava continuar a arrastar. Retirou-se caladamente daquela casa pela porta de serviço.
Longo Verão
Rosette não conseguiu juntar-se a Maurice com a prontidão que ambos tinham planeado, porque esse Inverno foi muito rigoroso no Norte e a viagem tornou-se impossível. A Primavera deixou-se ficar por outras latitudes e em Boston o gelo durou até finais de Abril. Nessa altura, ela já não podia embarcar. Ainda não se lhe notava a barriga, mas as mulheres que a rodeavam tinham adivinhado o seu estado, porque a sua beleza parecia sobrenatural. Estava rosada, com o cabelo brilhante como vidro, tinha os olhos mais profundos e doces, irradiava calor e luz! Segundo Loula, era normal: as mulheres prenhes têm mais sangue no corpo. «Onde julgam que o bebé vai buscar o sangue?», dizia Loula. Para Tété, essa explicação era-lhe irrefutável, porque tinha visto vários partos e ficava sempre assombrada com a quantidade de sangue que as mães davam. Mas ela própria não exibia os mesmos sintomas de Rosette. O ventre e os seios pesavam-lhe como pedras, tinha manchas escuras na cara, as veias tinham-lhe aparecido nas pernas e não conseguia andar mais do que dois quarteirões por causa dos pés inchados. Não recordava ter-se sentido tão fraca e tão feia nas suas duas anteriores gravidezes. Tinha vergonha por se encontrar no mesmo estado de Rosette; ia ser mãe e avó ao mesmo tempo.
Uma manhã, no Mercado Francês, viu um mendigo a bater com a sua única mão um par de tambores de lata. Também lhe faltava um pé. Pensou que talvez o seu amo o tivesse soltado para que ganhasse o pão como pudesse, já que se havia tornado inútil. Ainda era jovem, tinha um sorriso de dentadura completa e uma expressão travessa, que contrastava com a sua miserável condição. Tinha o ritmo na alma, na pele, no sangue. Tocava e cantava com uma tal alegria e desbocado entusiasmo que se tinha juntado um grupo à sua volta. As ancas das mulheres moviam-se sozinhas ao compasso daqueles irresistíveis tambores e as crianças de cor cantavam a letra em coro, que, pelos vistos, tinham ouvido muitas vezes, enquanto se batiam com espadas de madeira. A princípio, as palavras foram incompreensíveis para Tété, mas logo a seguir deu-se conta de que estavam no créole cerrado das plantações de Saint-Domingue e conseguiu traduzir mentalmente o estribilho para o francês:
Capitaine La Liberté/
protegé de Macandal/
c'est batu avec son sable /
pour sauver son general(1).
(1) «Capitão Liberdade / protegido de Macandal / bateu-se com o seu sabre / para salvar o seu general». (N. do T.)
Fraquejaram-lhe os joelhos e teve de se sentar num caixote de fruta, equilibrando com dificuldade a sua enorme barriga, onde esperou que o músico terminasse e recolhesse a esmola do público. Há muito que não usava o créole aprendido em Saint-Lazare, mas conseguiu comunicar com ele. O homem vinha do Haiti, que ele ainda chamava Saint-Domingue, e contou-lhe que tinha perdido a mão numa trituradora de cana e o pé debaixo do machado do verdugo, porque tentou fugir. Ela pediu-lhe que repetisse a letra da canção lentamente, para entendê-la bem, e foi assim que soube que Gambo se havia tornado lendário. Segundo a canção, tinha defendido Toussaint Louverture como um leão, lutando contra os soldados de Napoleão até, finalmente, cair com tantas feridas de bala e de aço que não se conseguiam contar. Mas o capitão, como Macandal, não morreu: levantou-se convertido em lobo, disposto a continuar a lutar para sempre pela liberdade.
— Muitos o viram, madame. Dizem que esse lobo ronda Dessalines e outros generais, porque atraiçoaram a revolução e estão a vender as pessoas como escravos.
Há muito que Tété tinha aceitado a possibilidade de Gambo ter morrido e a canção do mendigo confirmou-lha. Nessa noite, foi a casa de Adèle para ver o doutor Parmentier, a única pessoa com quem podia partilhar a sua dor, e contou-lhe o que tinha ouvido no mercado.
— Conheço essa canção, Tété, é cantada pelos bonapartistas quando se embebedam no Café des Émigrés, mas acrescentam-lhe uma estrofe.
— Qual?
— Algo sobre uma vala comum, onde apodrecem os negros e a liberdade, e que viva a França e viva Napoleão.
— Isso é horrível, doutor!
— Gambo foi um herói em vida e continua a sê-lo na morte, Tété. Enquanto essa canção circular, dará um exemplo de coragem.
Zacharie não se apercebeu do luto que a sua mulher vivia, porque ela encarregou-se de disfarçá-lo. Tété defendia como um segredo esse primeiro amor, o mais poderoso da sua vida. Raras vezes o mencionava, porque não podia oferecer a Zacharie uma paixão com a mesma intensidade, a relação que partilhavam era aprazível e sem urgência. Alheio a estas limitações, Zacharie apregoava aos sete ventos a sua futura paternidade. Estava habituado a exibir-se e a mandar, inclusive em Le Cap, onde foi escravo, e a tareia que quase o matara e lhe deixou a cara em pedaços mal colados não foi suficiente para a expiação: continuava a ser gastador e expansivo. Distribuía licor gratuitamente entre os clientes de Chez Fleur para que brindassem pelo menino que a sua Tété esperava. A sua sócia, Fleur Hirondelle teve de refreá-lo, porque não se viviam tempos para esbanjamentos nem para provocar invejas. Nada irritava tanto os americanos como um negro fanfarrão.
Rosette mantinha-os a par das notícias de Maurice, que chegavam com um atraso de dois ou três meses. O professor Harrison Cobb, depois de escutar os pormenores da história, ofereceu a Maurice hospitalidade em sua casa, onde vivia com uma irmã viúva e a mãe, uma idosa chanfrada que comia flores. Mais tarde, quando soube que Rosette estava grávida e daria à luz em Novembro, rogou-lhe que não procurasse outro alojamento, mas que trouxesse a sua família para conviver com eles. Agatha, a sua irmã, era a mais entusiasmada com a ideia, porque Rosette iria ajudá-la a tratar da sua mãe e a presença do bebé alegrá-los-ia a todos. Aquela casa enorme, atravessada por correntes de ar, com quartos vazios, onde ninguém tinha posto os pés durante muitos anos, e antepassados a vigiar desde os seus retratos nas paredes, necessitava de um casal apaixonado e um bebé, anunciou.
Maurice compreendeu que Rosette também não poderia viajar no Verão e resignou-se a uma separação que se prolongaria por mais de um ano, até que passasse o próximo Inverno, ela se tivesse restabelecido do parto e a criança pudesse suportar a travessia. Entretanto alimentava o amor com um rio de cartas, como tinha feito sempre, e concentrou-se a estudar a cada minuto livre. Harrison Cobb empregou-o como secretário, pagando-lhe muito mais do que tinha direito por classificar os seus papéis e ajudá-lo a preparar as suas aulas, um trabalho leve que deixava tempo a Maurice para estudar leis e para a única coisa que a Cobb parecia importante: o movimento abolicionista. Assistiam juntos a manifestações públicas, redigiam panfletos, percorriam jornais, comércios e escritórios, falavam em igrejas, clubes, teatros e universidades. Harrison Cobb encontrou nele o filho que nunca teve e o companheiro de luta que tinha sonhado. Com aquele jovem a seu lado, o triunfo dos seus ideais parecia-lhe ao alcance da mão. A sua irmã Agatha, também abolicionista como todos os Cobb, inclusive a dama que comia flores, contava os dias que faltavam para ir ao porto receber Rosette e o bebé. Uma família de sangue misturado era o melhor que lhes podia acontecer, era a encarnação da igualdade que pregavam, a prova mais contundente de que as raças podem e devem misturar-se e conviver em paz. Que impacto teria Maurice quando se apresentasse em público com a sua esposa de cor e o seu filho a defender a emancipação! Isso seria mais eloquente do que um milhão de panfletos. Para Maurice, os incendiados discursos dos seus benfeitores, pareciam-lhe um pouco absurdos, porque, na realidade, nunca tinha considerado Rosette diferente dele.
O Verão de 1806 tornou-se muito longo e trouxe para Nova Orleães uma epidemia de cólera e vários incêndios. Toulouse Valmorain, acompanhado da freira que cuidava dele, foi mudado para a plantação, onde a família se instalou para passar os piores calores da temporada. Parmentier diagnosticou que a saúde do paciente era estável e o campo iria aliviá-lo, seguramente. Os remédios, que Hortense lhe dissolvia na sopa, porque se recusava a tomá-los, não lhe tinham melhorado o carácter. Tornara-se raivoso, tanto que não se suportava a si mesmo. Tudo lhe provocava irritação, desde o ardor dos cueiros até ao riso inocente das suas filhas no jardim, mas, acima de tudo, Maurice. Tinha cada etapa da vida do seu filho, fresca, na memória. Recordava cada palavra que se disseram no final e revia-as mil vezes à procura de uma explicação para essa ruptura tão dolorosa e definitiva. Pensava que Maurice tinha herdado a loucura da sua família materna. Nas suas veias corria o sangue debilitado de Eugenia Garcia del Solar e não o sangue forte dos Valmorain. Não reconhecia nada que fosse seu nesse filho. Maurice era igual à mãe, com os mesmos olhos verdes, doentia propensão para a fantasia e o impulso de se destruir a si mesmo.
Contrariamente ao que supunha o doutor Parmentier, o seu paciente não encontrou descanso, mas sim preocupações na plantação, onde pôde confirmar a deterioração que Sancho lhe havia antecipado. Owen Murphy tinha partido para o Norte com toda a sua família, para ocupar a terra que comprara, com dificuldade, depois de trabalhar trinta anos como animal de carga. No seu lugar havia um capataz jovem recomendado pelo pai de Hortense. No dia seguinte à sua chegada, Valmorain decidiu procurar outro, porque o homem carecia de experiência para conduzir uma plantação com aquele tamanho. A produção tinha diminuído de forma notória e os escravos pareciam desafiantes. O que teria sido lógico era que Sancho se encarregasse desses problemas, mas tornou-se óbvio para Valmorain que o seu sócio só desempenhava um papel decorativo. Isso obrigou-o a apoiar-se em Hortense, mesmo sabendo que quanto mais poder ela tivesse, mais ele se enterraria na sua poltrona de hemiplégico.
Discretamente, Sancho tinha-se proposto reconciliar Valmorain com Maurice. Devia fazê-lo sem levantar as suspeitas de Hortense, para quem as coisas estavam a correr melhor do que tinha planeado e agora controlava o marido e todos os seus bens. Mantinha-se em contacto com o seu sobrinho através de cartas muito breves, porque não escrevia bem em francês; em espanhol fazia-o melhor do que Gôngora, afirmava, embora à sua volta ninguém soubesse quem era esse senhor(1). Maurice respondia-lhe com pormenores da sua vida em Boston e profusos agradecimentos pela ajuda que dava à sua mulher. Rosette (1) Luís de Gôngora, considerado um dos expoentes máximos da literatura barroca do Século de Ouro (século XVII), acabaria por ver o seu nome associado a essa corrente sob a designação de gongorismo. {N. do T.) tinha-lhe contado que recebia dinheiro do tio com frequência, que nunca o mencionava. Maurice também lhe comentava o passo de formiga com que avançava o movimento antiesclavagista e outro tema que o obcecara: a expedição de Lewis e Clarck, enviada pelo presidente Jefferson para explorar o rio Missuri. A missão consistia em estudar as tribos indígenas, a flora e a fauna dessa região quase desconhecida pelos brancos e alcançar, se fosse possível, a costa do Pacífico. Para Sancho, a ambição americana de ocupar cada vez mais terras deixava-o indiferente, «quem tudo quer, tudo perde», pensava, mas a Maurice inflamava-lhe a imaginação e, se não fosse Rosette, o bebé e o abolicionismo, teria partido na saga dos exploradores.
Na prisão
Tété teve a sua filha no sufocante mês de Junho, ajudada por Adèle e Rosette, que queria ver de perto o que a esperava a ela ao fim de alguns meses, enquanto Loula e Violette passeavam pela rua tão nervosas como Zacharie. Quando pegou na menina, Tété pôs-se a chorar de felicidade: podia amá-la sem medo que lha tirassem. Era sua. Deveria defendê-la de doenças, acidentes e outras desgraças naturais, como a todas as crianças, mas não de um amo com direito a dispor dela como lhe desse na gana.
A felicidade do pai foi exagerada e os festejos que organizou foram tão generosos que Tété se assustou: podiam atrair a má sorte. Por precaução, levou a recém-nascida à sacerdotisa Sanité Dédé, que cobrou quinze dólares por protegê-la com um ritual de cuspidelas e sangue de galo. Depois foram todos à igreja para que Père Antoine a baptizasse com o nome da madrinha: Violette.
O resto desse Verão húmido e quente tornou-se eterno para Rosette. A medida que o seu ventre crescia, mais falta lhe fazia Maurice. Vivia com a mãe na casita que Zacharie tinha comprado e estava rodeada de mulheres que nunca a deixavam só, mas sentia-se vulnerável. Fora sempre forte — julgava-se muito afortunada — mas agora tornara-se medrosa, sofria pesadelos e era assaltada por pensamentos nefastos. «Porque não fui com Maurice em Fevereiro? E se lhe acontece alguma coisa? Se não nos voltarmos a ver? Nunca nos devíamos ter separado!», chorava. «Não penses em coisas más, Rosette, porque o pensamento faz com que aconteçam», dizia-lhe Tété.
Em Setembro, algumas famílias que fugiam para o campo já estavam de regresso e, entre eles, Hortense Guizot com as suas filhas. Valmorain ficou na plantação, porque ainda não tinha conseguido substituir o capataz e porque já estava farto da sua mulher e ela dele. Não lhe faltava só o capataz, também não podia contar com Sancho para que o acompanhasse, porque tinha ido a Espanha. Haviam-no informado que podia recuperar umas terras com um certo valor, embora abandonadas, pertencentes aos Garcia del Solar. Essa insuspeita herança era apenas uma dor de cabeça para Sancho, mas sentia vontade de voltar a ver o seu país, onde não ia há trinta e dois anos.
Valmorain ia-se recuperando, pouco a pouco, do ataque graças aos cuidados da freira, uma alemã severa e completamente imune às birras do seu paciente, que o obrigava a dar uns passos e a exercitar-se apertando uma bola de lã com a mão doente. Por outro lado, andava a curar-lhe a incontinência ao ponto de humilhá-lo com os cueiros. Entretanto, Hortense instalou-se com o seu séquito de amas-secas e escravos na casa da cidade e preparou-se para desfrutar a temporada social, livre do marido que lhe pesava como um cavalo morto. Talvez pudesse organizar-se para mantê-lo vivo, como era conveniente, mas sempre longe.
Tinha decorrido apenas uma semana desde que a família voltara a Nova Orleães, quando na Rua Chartres, onde fora com a sua irmã Olivie para comprar fitas e plumas, porque conservava o hábito de transformar os seus chapéus, Hortense Guizot se encontrou com Rosette. Nos últimos anos, tinha visto a jovem ao longe umas duas vezes e não teve dificuldade em reconhecê-la. Rosette estava vestida de felpa escura, com o xaile feito à mão nos ombros e o cabelo apanhado num carrapito, mas a modéstia da sua indumentária em nada diminuía a altivez do seu porte. Para Hortense, a beleza daquela jovem pareceu-lhe sempre uma provocação e agora mais do que nunca, quando ela se afogava na sua gordura. Sabia que Rosette não tinha ido com Maurice para Boston, mas ninguém lhe dissera que estava grávida. Sentiu imediatamente um sinal de alerta: aquele bebé, sobretudo se fosse varão, podia ameaçar o equilíbrio da sua vida. O seu marido, tão fraco de carácter, aproveitaria esse pretexto para se reconciliar com Maurice e perdoar-lhe tudo.
Rosette só reparou nas duas senhoras quando ficaram muito perto. Deu um passo para o lado, para as deixar passar, e cumprimentou-as com um «bom dia» cortês, mas sem nada da humildade que os brancos esperavam da gente de cor. Hortense colocou-se em frente dela, a desafiá-la. «Repara, Olivie, como esta é atrevida», disse à sua irmã, que se sobressaltou tanto como a própria Rosette. «E repara bem o que pôs, e é de ouro! As negras não podem usar jóias em público. Merece uns açoites, não te parece?», acrescentou. A irmã, sem perceber nada do que se passava, pegou-lhe num braço para se irem embora, mas ela soltou-se e, com um puxão, arrancou a medalha que Maurice tinha dado a Rosette. A jovem recuou, para proteger o pescoço, e então Hortense pregou-lhe uma bofetada na cara.
Rosette tinha vivido com os privilégios de uma menina livre, primeiro em casa de Valmorain e depois no colégio das Ursulinas. Nunca se sentira escrava e a sua beleza dava-lhe uma grande segurança. Até esse momento, nunca sofrera o abuso dos brancos e não suspeitava do poder que tinham sobre ela. Instintivamente, sem se dar conta do que fazia nem imaginar as consequências, devolveu a pancada àquela desconhecida que a tinha atacado. Hortense Guizot, apanhada de surpresa, cambaleou, dobrou-se-lhe um salto e por pouco não caiu. Pôs-se a gritar como endemoninhada e, num instante, formou-se uma multidão de curiosos. Rosette viu-se rodeada de gente e quis fugir, mas seguraram-na por trás e, momentos mais tarde, os guardas levaram-na detida.
Tété ficou ao corrente meia hora depois, porque muitas pessoas tinham presenciado o incidente, a notícia correu de boca em boca e chegou aos ouvidos de Loula e Violette, que viviam na mesma rua, mas só conseguiu ver a sua filha à noite, quando Père Antoine a acompanhou. O santo, que conhecia a prisão como a sua casa, afastou o guarda e conduziu Tété por um estreito corredor iluminado por um par de archotes. Através das grades, vislumbravam-se as celas dos homens e no final estava a cela comum onde as mulheres se amontoavam. Eram todas de cor, menos uma rapariga de cabelo amarelado, possivelmente uma serva, e havia dois meninos negros, esfarrapados, a dormir colados a uma das detidas. Outra tinha um bebé nos braços. O chão estava coberto por uma fina camada de palha, havia umas quantas mantas imundas, um balde para aliviar o corpo e um jarro com água suja para beber; o cheiro inconfundível de carne em decomposição contribuía para a fetidez do ambiente. Na luz pálida que se filtrava do corredor, Tété viu Rosette sentada num canto entre duas mulheres, envolta no seu xaile, com as mãos no ventre e o rosto inchado de chorar. Correu a abraçá-la, aterrada, e tropeçou nas pesadas grilhetas que tinham posto nos tornozelos da sua filha.
Père Antoine vinha preparado, porque conhecia sobejamente as condições em que se encontravam os presos. Na sua canastra, trazia pão e pedaços de açúcar para repartir entre as mulheres e uma manta para Rosette. «Amanhã mesmo tiramos-te daqui, Rosette, não é verdade, monpère?», disse Tété, a chorar. O capuchinho guardou silêncio.
A única explicação que Tété pôde imaginar para o ocorrido foi que Hortense quis vingar-se da ofensa que ela tinha feito à sua família ao recusar-se a cuidar de Valmorain. Não sabia que a simples existência dela e de Rosette era uma injúria para aquela mulher. Derrotada, foi a casa de Valmorain, onde tinha jurado não voltar a pôr os pés, e atirou-se ao chão diante da sua antiga ama para lhe suplicar que libertasse Rosette, e ela, em troca, cuidaria do seu marido, faria o que lhe pedisse, o que quer que fosse, «tenha piedade, senhora». A outra mulher, envenenada pelo rancor, teve o prazer de lhe dizer tudo o que lhe ocorreu e depois mandá-la expulsar de sua casa aos empurrões.
Tété fez o possível para aliviar Rosette, com os seus limitados recursos. Deixava a pequena Violette com Adèle ou com Loula e levava todos os dias comida à prisão para todas as mulheres, porque tinha a certeza de que Rosette partilharia o que recebesse e não podia suportar a ideia de que passasse fome. Tinha de deixar as provisões com os guardas, porque raras vezes a deixavam entrar, e não sabia quanto é que esses homens entregavam às detidas e com quanto ficavam. Violette e Zacharie suportavam a despesa e ela passava metade da noite a cozinhar. Como além disso trabalhava e cuidava da sua pequenita, vivia extenuada. Lembrou-se que Tante Rose prevenia doenças contagiosas com água fervida e rogou às mulheres que não tocassem na água do jarro, mesmo que estivessem a morrer de sede, bebessem apenas do chá que ela lhes levava. Nos meses anteriores, várias tinham morrido com cólera. Como à noite fazia frio, conseguiu roupa grossa e mais mantas para todas, porque a sua filha não podia ser a única agasalhada, mas a palha húmida do chão e a água que as paredes exumavam provocou dor de peito a Rosette e uma tosse persistente. Não era a única doente, outra estava pior, com uma chaga gangrenada provocada pelas grilhetas. Perante a insistência de Tété, Père Antoine conseguiu que lhe permitissem levar a mulher ao hospital das freiras. As outras já não a voltaram a ver, mas, uma semana mais tarde, souberam que lhe tinham cortado a perna.
Rosette não quis que avisassem Maurice sobre o que se passara, porque tinha a certeza de que ia sair em liberdade antes de ele ter recebido a carta, mas a justiça atrasava-se. Decorreram seis meses até o juiz rever o seu caso e actuou com relativa pressa somente porque se tratava de uma mulher livre e devido à pressão de Père Antoine. As outras detidas podiam esperar anos só para saberem por que razão tinham sido presas. Os irmãos de Hortense Guizot, advogados, tinham apresentado a acusação contra ela «por ter atacado à pancada uma senhora branca». A pena consistia em açoites e dois anos de prisão, mas o juiz cedeu perante o santo e suprimiu os açoites, tendo em conta que Rosette estava grávida e porque a própria Olivie Guizot descreveu os factos tal como se passaram e recusou-se a dar razão à sua irmã. O juiz também se comoveu com a dignidade da acusada, que se apresentou com um vestido limpo e respondeu à acusação sem se mostrar altaneira, mas sem fraquejar, apesar de lhe custar falar por causa da tosse e mal se segurar nas pernas.
Quando ouviu a sentença, um furacão acordou dentro de Tété. Rosette não sobreviveria dois anos dentro de uma cela imunda e muito menos o seu bebé. «Erzuli, loa mãe, dá-me forças.» Ia libertar a sua filha fosse como fosse, nem que tivesse de demolir as paredes do cárcere com as suas próprias mãos. Enlouquecida, anunciou a quem se pôs à frente dela que ia matar Hortense Guizot e toda essa maldita família; então, Père Antoine decidiu intervir antes que também ela fosse detida. Sem lhe dizer nada, foi à plantação falar com Valmorain. A decisão custou-lhe bastante, primeiro porque não podia abandonar durante vários dias o gentio que ajudava, e depois porque não sabia andar a cavalo, e viajar de bote no rio contra a corrente era caro e extenuante, mas ele lá arranjou maneira de chegar.
O santo encontrou Valmorain melhor do que esperava, embora ainda inválido e com a voz trôpega. Antes de precisar de o ameaçar com o inferno, deu-se conta de que o homem não fazia a menor ideia do que a sua mulher tinha feito em Nova Orleães. Quando ouviu o sucedido, Valmorain ficou mais indignado porque Hortense tinha arranjado maneira de lho ocultar, tal como ocultava tantas outras coisas, do que pela sorte de Rosette, a quem chamava «a pega». No entanto, a sua atitude mudou quando o sacerdote lhe esclareceu que a jovem estava grávida. Apercebeu-se de que não teria esperança de se reconciliar com Maurice se alguma coisa de mal acontecesse a Rosette ou ao bebé. Com a mão boa fez soar o chocalho de vaca para chamar a freira e ordenou-lhe que mandasse preparar o bote para ir imediatamente à cidade. Dois dias mais tarde, os advogados Guizot retiraram todas as acusações contra Rosette Sedella.
Zarité
Passaram quatro anos e estamos em 1810. Perdi o medo da liberdade, embora nunca venha a perder o medo dos brancos. Já não choro por Rosette, estou quase sempre contente.
Rosette saiu da prisão infestada de piolhos, escanzelada, doente e com úlceras nas pernas por causa da imobilidade e das grilhetas. Mantive-a na cama tratando dela dia e noite, fortaleci-a com sopas de tutano de boi e os guisados contundentes que as vizinhas nos traziam, mas nada disso impediu que desse à luz antes do tempo. O menino ainda não estava pronto para nascer, era minúsculo e tinha a pele translúcida como papel molhado. O nascimento foi rápido, mas Rosette estava fraca e perdeu muito sangue. Ao segundo dia, começou a febre e ao terceiro delirava a chamar por Maurice, então compreendi, desesperada, que a ia perder. Recorri a todos os conhecimentos que Tante Rose me legou, à sabedoria do doutor Parmentier, às rezas de Père Antoine e às invocações dos meus loas. Pus-lhe o recém-nascido ao peito para que a sua obrigação de mãe afizesse lutar pela sua própria vida, mas creio que não o sentiu. Agarrei-me à minha filha, procurando segurá-la, rogando-lhe que bebesse um gole de água, que abrisse os olhos, que me respondesse, Rosette, Rosette. Às três da madrugada, enquanto a segurava embalando-a com baladas africanas, notei que murmurava e inclinei-me sobre os seus lábios. «Amo-te, maman», disse-me, e a seguir apagou-se com um suspiro. Senti o seu corpo leve nos meus braços e vi o seu espírito soltar-se suavemente, como um fio de neblina, e deslizar lá para fora pela janela aberta.
A dor atroz que senti não se pode descrever, mas não preciso de fazê-lo: as mães conhecem-na, porque só umas poucas, as mais afortunadas, dão à luz, vivos, todos os seus filhos. Pela madrugada, chegou Adele para nos trazer sopa e foi ela quem soltou Rosette dos meus braços como garrotes e a estendeu na sua cama. Durante algum tempo, deixou-me gemer dobrada de dor no chão e depois pôs-me uma malga de sopa nas mãos e recordou-me as crianças. O meu pobre neto estava agachado ao lado da minha Violette, no mesmo berço, tão pequeno e desamparado que a qualquer momento podia ir atrás de Rosette. Então, tirei-lhe a roupa, coloquei-o no trapo largo do meu tignon e amarrei-o atravessado sobre o meu peito nu, colado ao meu coração, pele contra pele, para que julgasse que ainda estava dentro da sua mãe. Andei assim com ele várias semanas. O meu leite, assim como o meu carinho, chegava para a minha filha e para o meu neto. Quando tirei Justin do seu invólucro, estava pronto para viver neste mundo.
Um dia, Monsieur Valmorain veio a minha casa. Dois escravos desceram-no do seu coche e trouxeram-no no ar até à porta. Estava muito envelhecido. «Por favor, Tété, quero ver o menino», pediu-me, com a voz trôpega. E eu não tive coragem para o deixar lá fora.
— Lamento muito Rosette... Juro-te que não tive nada a ver com isso.
— Eu sei, monsieur.
Ficou muito tempo a olhar para o nosso neto e depois perguntou-me o seu nome.
— Justin Solar. Os seus pais escolheram esse nome, porque quer dizer justiça. Se tivesse sido uma menina, tinha-se chamado Justine — expliquei-lhe.
— Ai! Espero viver para conseguir emendar alguns dos meus erros -disse, e pareceu-me que ia chorar.
— Todos cometemos erros, monsieur.
— Este menino é um Valmorain, pelo lado do pai e da mãe. Tem olhos claros e pode passar por branco. Não deveria ser criado entre negros. Quero ajudá-lo, que tenha uma boa educação e que use o meu apelido, a que tem direito.
— Deve falar isso com Maurice, monsieur, e não comigo.
Maurice recebeu na mesma carta a notícia de que o seu filho tinha nascido e que Rosette tinha morrido. Embarcou de imediato, apesar de estarmos em pleno Inverno. Quando chegou, o pequeno tinha feito três meses e era um bebé calmo, com feições delicadas e olhos verdes, parecido com o seu pai e a sua avó, a pobre Dona Eugenia. Apertou-o num abraço demorado, mas Maurice estava como que ausente, seco por dentro, sem luz no olhar. «A senhora ficará a tomar conta dele por um tempo, maman», disse-me. Ficou menos de um mês e não quis falar com Monsieur Valmorain, apesar de o seu tio Sancho lhe ter pedido muito, logo que voltou de Espanha. Père Antoine, pelo contrário, que andava sempre a emendar erros, recusou-se a servir de intermediário entre pai e filho. Maurice decidiu que o avô podia verjustin de vez em quando, mas só na minha presença, e proibiu-me de aceitar o que quer que fosse dele: nem dinheiro, nem ajuda de espécie nenhuma e muito menos o seu apelido para o menino. Disse que falasse a Justin de Rosette, para que se sentisse sempre orgulhoso dela e do seu sangue misturado. Acreditava que o seu filho, fruto de um amor enorme, tinha o destino marcado e faria grandes coisas na vida, as mesmas que ele queria fazer até a morte de Rosette lhe ter quebrado a vontade. Por último, ordenou-me que o mantivesse afastado de Hortense Guizot. Não precisava de me avisar.
O meu Maurice foi-se embora depressa, mas não esqueceu os seus amigos de Boston, embora tenha abandonado os seus estudos e se tenha convertido num viajante incansável: percorreu mais terra do que o vento. Costuma escrever umas linhas, e assim ficamos a saber que está vivo, mas nestes quatro anos só veio ver o seu filho uma vez. Chegou vestido compeles, barbudo e escuro de sol, parecia um kaintock. Com a sua idade, ninguém morre de um coração despedaçado. Maurice só precisava de tempo para se cansar. A caminhar sem parar pelo mundo vai-se consolando, pouco apouco, e um dia, quando já não conseguir dar mais um passo de cansaço, irá dar-se conta de que não é possível fugir da dor; é preciso domesticá-la, para que não incomode. Então, poderá sentir Rosette a seu lado, a acompanhá-lo, como eu a sinto, e talvez recupere o seu filho e volte a interessar-se pelo fim da escravidão.
Zacharie e eu temos outro filho, Honoré, que já começa a dar os seus primeiros passos pela mão de Justin, o seu melhor amigo e também seu tio. Queremos mais filhos, embora esta casa nos comece a ficar apertada e já não sermos novos — o meu marido tem cinquenta e seis e eu quarenta -porque gostaríamos de envelhecer entre muitos filhos, netos e bisnetos, todos livres.
O meu marido e Fleur Hirondelle ainda têm a casa de jogo e continuam associados a Romeiro Toledano, que navega pelo Caribe a transportar contrabando e escravos fugidos. Zacharie não conseguiu crédito, porque as leis ficaram muito duras para a gente de cor, por isso, a ambição de possuir várias casas de jogo não resultou. Quanto a mim, vivo muito ocupada com as crianças, a casa e os remédios para o doutor Parmentier, que agora preparo na minha própria cozinha, mas à tarde arranjo tempo para um café com leite no pátio das buganvílias de Adele, onde acorrem as vizinhas para conversar. Vemos menos Madame Violette, porque agora junta-se principalmente com as damas da Société du Cordon Bleu, todas muito interessadas em cultivar a sua amizade, porque ela preside aos bailes e pode determinar a sorte das suas filhas na plaçage. Demorou mais de um ano a reconciliar-se com Don Sancho, porque queria castigá-lo pelos seus devaneios com Adi Soupir. Conhece a natureza dos homens e não espera que sejam fiéis, mas exige que, pelo menos, o seu amante não a humilhe a passear no dique com a sua rival. Madame não conseguiu casar Jean-Martin com uma mestiça rica, como planeava, porque o rapaz ficou na Europa e não pensa regressar. Loula, que mal consegue andar por causa da idade — deve ter mais de oitenta anos — contou-me que o seu príncipe deixou a carreira militar e vive com Isidore Morisset, esse pervertido, que não era um cientista, mas sim um agente de Napoleão ou dos Laffitte, um pirata de salão, como ela afirma entre suspiros. Madame Violette e eu nunca voltámos a falar do passado, e, de tanto guardar o segredo, acabámos convencidas de que ela é a mãe de Jean-Martin. Penso nisso muito raras vezes, mas gostava que um dia se juntassem todos os meus descendentes: Jean-Martin, Maurice, Violette, Justin e Honoré e os outros filhos e netos que terei. Nesse dia vou convidar os amigos, cozinharei o melhor gumbo créole de Nova Orleães e haverá música até ao amanhecer.
Zacharie e eu já temos história, podemos olhar para o passado e contar os dias que estivemos juntos, somar dores e alegrias; assim se vai construindo o amor, sem pressas, dia a dia. Amo-o como sempre, mas sinto-me mais à vontade do que antes. Quando era bonito, todos o admiravam, em especial as mulheres, que se lhe ofereciam com descaramento, e eu lutava contra o temor de que a vaidade e as tentações o afastassem de mim, embora ele nunca me tenha dado motivo para ter ciúmes. Agora é preciso conhecê-lo por dentro, como o conheço eu, para saber quanto vale. Não me recordo como era; gosto do seu estranho rosto partido, a pala no olho morto, as suas cicatrizes. Aprendemos a não discutir por ninharias, só pelo que é importante, que não é pouco. E para evitar preocupações e incómodos, aproveito as suas ausências para me divertir à minha maneira, é essa a vantagem de ter um marido muito ocupado. Não gosta que eu ande descalça na rua, porque já não sou escrava, que acompanhe Père Antoine a socorrer os pecadores no El Pantano, porque é perigoso, nem que assista às bambousses da Praça do Congo, que são muito ordinárias. Não lhe conto nada disso e ele não me pergunta. Ainda ontem estive a dançar na praça com os tambores mágicos de Sanité Dédé. Dançar e dançar. De vez em quando, aparece Erzuli, loa mãe, loa do amor, e monta Zarité. Então, vamos as duas a galopar visitar os meus mortos na ilha debaixo do mar. É assim.
Isabel Allende
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















