A INOCENCIA DO PADRE BROWN / G. K. Chesterton
A INOCENCIA DO PADRE BROWN / G. K. Chesterton
.
.
.
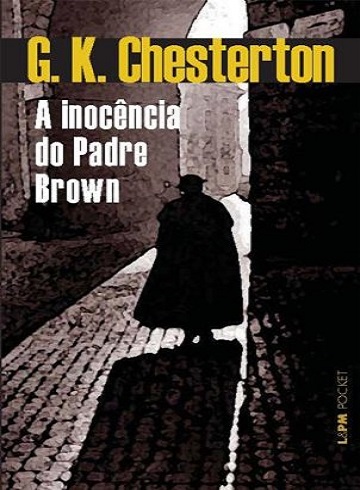
.
.
.
Foi ele quem fez funcionar a importante Companhia Leiteira Tirolesa em Londres, sem laticínios, nem vacas, nem carroças, nem leite, mas com alguns milhares de investidores. Conseguiu isso com a simples operação de mover as pequenas vasilhas de leite da porta das pessoas para a porta de seus próprios fregueses. Foi ele quem manteve uma correspondência inexplicável e íntima com uma jovem cuja mala postal era interceptada, utilizando-se do extraordinário truque de fotografar as mensagens em tamanho infinitesimalmente menor nas lâminas de um microscópio. Uma grande simplicidade, entretanto, marcava muitos de seus experimentos. Disseram que uma vez ele repintou todos os números em uma rua na calada da noite, apenas para atrair um viajante em uma cilada. É quase certo que ele inventou a caixa de correio portátil, que colocava nas esquinas dos bairros mais calmos, para o caso de forasteiros jogarem vales postais ali. Além disso, era conhecido por ser um acrobata surpreendente: apesar da enorme silhueta, podia saltar como um gafanhoto e desaparecer nas copas das árvores como um macaco. Por isso, o grande Valentin, quando saiu à caça de Flambeau, estava bem ciente de que suas aventuras não acabariam quando o encontrasse. Mas como ele o encontraria? Nesse aspecto as ideias do grande Valentin continuavam em processo de amadurecimento. Havia uma coisa que Flambeau, com toda sua destreza em disfarces, não conseguia esconder: a estatura peculiar. Se o olho rápido de Valentin tivesse percebido uma vendedora de maçãs altíssima, um soldado pernalta ou até mesmo uma duquesa de boa altura, poderia tê-los prendido no ato. Mas em todo o seu percurso não encontrou ninguém que pudesse ser um Flambeau disfarçado, a menos que girafas consigam se disfarçar de gatos. Quanto às pessoas da balsa, ele já estava satisfeito; e as pessoas que embarcaram no trem em Harwich ou nas estações do caminho com certeza se limitavam a seis. Havia um oficial de ferrovia, meio tampinha, viajando até o ponto final; três horticultores baixotes, que subiram a bordo duas estações depois; uma viúva nanica de uma cidadezinha de Essex e um padre católico bem baixinho, de um vilarejo também de Essex. Quando chegou ao último caso, Valentin desistiu e quase caiu na risada. O pequenino padre era a essência daquelas planícies do Leste: tinha o rosto tão redondo e opaco quanto um bolinho típico de Norfolk, olhos tão vagos quanto o Mar do Norte e vários embrulhos de papel pardo que mal conseguia carregar. Sem dúvida, o Congresso Eucarístico tinha atraído de seus lugarejos estagnados muitos tipos de criaturas, cegos e indefesos como toupeiras desenterradas. Valentin era um cético ao estilo severo da França e não conseguia gostar de padres. Mas podia ter pena deles, e aquele teria provocado pena em qualquer um. Levava um guarda-chuva grande e surrado, que caía a toda hora no chão. Parecia não saber qual era o destino exato do bilhete de volta. Explicou para todos no vagão, com a simplicidade de um bobo, que precisava ser cuidadoso, porque trazia consigo uma coisa feita de prata legítima, “incrustada com pedras azuis”, num dos embrulhos de papel pardo. Sua mistura pitoresca da monotonia de Essex com uma simplicidade impecável divertiu ininterruptamente o francês até o padre chegar (não se sabe como) em Stratford com todos os embrulhos, mas deixando o guarda-chuva para trás. Quando ele voltou para buscar, Valentin, generoso, alertou-o que contar a todos sobre a prata não era a melhor maneira de cuidar dela. Mas, seja com quem estivesse falando, Valentin ficava de olho nas pessoas ao redor; perscrutava qualquer pessoa, rica ou pobre, homem ou mulher, com mais de um metro e oitenta de altura, pois Flambeau tinha dez centímetros mais. De qualquer modo, Valentin desembarcou na Liverpool Street, muito seguro e certo de que não havia deixado escapar o criminoso até aquele momento. Depois foi à Scotland Yard para regularizar sua situação e conseguir ajuda caso fosse preciso. Então, acendeu outro cigarro e saiu para um longo passeio nas ruas de Londres. Quando estava andando nas ruas e praças do outro lado da Victoria Street, estacou de repente. Era uma praça tranquila, singular, típica de Londres, cheia de uma serenidade casual. As casas altas e retas em volta pareciam ao mesmo tempo prósperas e desabitadas; a praça de arbustos no centro parecia tão deserta quanto uma ilhota verde do Pacífico. Um dos quatro lados era muito mais alto que os outros, como um altar, e o traçado desse lado era interrompido por uma das mais admiráveis casualidades de Londres – um restaurante que parecia ter se desgarrado do Soho. Era um objeto atraente sem motivos, com bonsais em vasos e cortinas longas, listradas em amarelolimão e branco. Situava-se de modo especialmente elevado na rua e, no formato usual de colcha de retalhos de Londres, um lance de degraus subia da rua até a porta da frente, quase como uma escada de incêndio chega a uma janela do segundo piso. Valentin parou e fumou em frente às cortinas em amarelo e branco e achou-as compridas. O que há de mais inacreditável nos milagres é que eles acontecem. Algumas nuvens no céu agrupam-se para formar um olho humano. Uma árvore destaca-se na paisagem de uma jornada duvidosa na forma exata e elaborada de um sinal de interrogação. Eu mesmo vi as duas coisas nos últimos dias. Nelson morre, de fato, no instante da vitória; e um homem chamado Williams mata de forma completamente acidental um homem chamado Williams Jr.; isso soa meio como um infanticídio. Resumindo, na vida existe um elemento mágico nas coincidências que as pessoas ao pensar no prosaico talvez nunca notem. Como bem expressa o paradoxo de Poe, a sabedoria tem de levar em conta o inesperado. Aristide Valentin era francês por completo; e a inteligência francesa é uma inteligência especial e única. Ele não era uma “máquina de pensar”, pois isso é uma expressão estúpida do materialismo e do fatalismo modernos. Uma máquina só é uma máquina porque não consegue pensar. Mas ele era um homem pensante e comum ao mesmo tempo. Todos os seus maravilhosos sucessos, que pareciam magia, tinham sido obtidos por uma lógica criteriosa, por um pensamento francês comum e claro. Os franceses impressionam o mundo não por inventarem quaisquer paradoxos; eles deslumbram por agirem de acordo com truísmos. Eles levam os truísmos às últimas consequências – como na Revolução Francesa. Mas justo porque Valentin entendia a razão, entendia os limites da razão. Só um homem que não sabe nada sobre automóveis fala sobre automobilismo sem gasolina; só um homem que não sabe nada sobre a razão fala sobre raciocínio sem princípios básicos incontestáveis e fortes. Aqui ele não tinha princípios básicos fortes. Flambeau desapareceu em Harwich, e, de qualquer modo, se estava em Londres, podia ser qualquer um, desde um vagabundo alto no parque de Wimbledon até um recepcionista alto no Hôtel Métropole. Quando em tal estado puro de ignorância, Valentin tinha pontos de vista e métodos próprios. Em tais casos, ele contava com o inesperado. Em tais casos, quando não podia seguir o curso do razoável, de modo cuidadoso e frio, seguia o curso do irracional. Em vez de ir aos lugares certos: bancos, postos de polícia, prostíbulos, de modo sistemático, ele ia aos lugares errados; batia à porta de todas as casas desocupadas, entrava em todos os becos sem saída, subia cada ruela bloqueada com entulhos, circulava em cada rua curva que o desviava inutilmente para fora do caminho. Defendia esse trajeto louco de forma bastante lógica. Dizia que, se alguém tinha uma pista, esse era o pior caminho, mas se alguém não tinha pista nenhuma, então esse seria o melhor caminho, pois havia justamente a chance de que alguma esquisitice que chamasse a atenção do perseguidor também tivesse chamado a do perseguido. Um homem precisa de um lugar para começar, e seria melhor que fosse onde outro homem pudesse parar. Algo naquele lance de degraus subindo para o estabelecimento, algo na calma e excentricidade do restaurante despertou toda a sua rara imaginação romântica de detetive e o fez investir no acaso. Subiu os degraus, abancou-se a uma mesa junto à janela e pediu uma xícara de café preto. A manhã já estava na metade, e ele ainda não tomara café; restos de outros cafés da manhã estavam sobre a mesa para lembrá-lo de sua fome. Acrescentando ovos pochés ao seu pedido, distraidamente mexeu o açúcar no café, pensando o tempo todo em Flambeau. Recordou como Flambeau escapara uma vez usando um par de tesourinhas de unhas e outra vez por uma casa em chamas; uma vez tendo de pagar por uma carta sem selo e noutra conseguindo que as pessoas olhassem ao telescópio um cometa que poderia destruir o mundo. Valentin julgava seu cérebro de detetive tão bom quanto o do criminoso, o que era verdade. Mas percebia plenamente a desvantagem: “O criminoso é o artista criativo; o detetive, apenas o crítico”, murmurou com um sorriso amargo. Devagar, ergueu a xícara aos lábios e largou-a muito rápido. Havia colocado sal no café. Olhou para o pote do qual veio o pó prateado; com certeza era um açucareiro; sem dúvida, tão apropriado para o açúcar quanto uma garrafa de champanhe para o champanhe. Ficou imaginando por que serviriam sal no açucareiro. Olhou para ver se havia frascos mais ortodoxos. Sim, havia dois saleiros quase cheios. Porém, havia uma particularidade no condimento dos saleiros. Ele experimentou; era açúcar. Depois olhou em volta com revigorado ar de interesse pelo restaurante, para ver se havia quaisquer outros traços daquele peculiar gosto artístico que coloca açúcar no saleiro e sal no açucareiro. Exceto as manchas esquisitas de um líquido escuro no papel de parede branco, o lugar todo parecia comum, alegre e limpo. Tocou a sineta para chamar o garçom. Quando o funcionário se aproximou apressado, com o cabelo desarrumado e um olhar meio turvo já tão cedo, o detetive (com admiração pelas formas de humor mais simples) pediu para ele experimentar o açúcar e ver se o produto estava à altura da reputação do hotel. Como resultado, o garçom bocejou de repente e despertou. – É costume fazer essa brincadeira delicada com os fregueses todas as manhãs? – perguntou Valentin. – Nunca perde a graça trocar o açúcar pelo sal? Quando entendeu a ironia, o garçom assegurou gaguejando que o estabelecimento com certeza não tivera essa intenção, devia ser o mais curioso dos enganos. Pegou e observou o açucareiro; pegou e observou o saleiro; o rosto cada vez mais confuso. Por fim, ele se desculpou de forma abrupta e saiu rápido. Segundos depois, retornou com o dono, que também examinou o açucareiro e depois o saleiro com ar não menos confuso. De repente, o garçom balbuciou uma torrente de palavras: – Eu tô ajando – gaguejou ansioso –, eu ajo que foi aqueles dois badres. – Que dois padres? – Os dois badres – explicou o garçom – que jogaram soba na parede. – Sopa na parede? – repetiu Valentin, com a sensação de que aquilo devia ser uma singular metáfora italiana. – Sim, sim – reiterou o garçom empolgado, apontando as manchas escuras no papel de parede branco –, bem ali na barede. Valentin olhou com dúvida para o dono, que veio em seu socorro com o relato completo. – Sim, sim. É mesmo verdade, mas eu não imaginava que tinha algo a ver com o açúcar e o sal. Dois padres vieram aqui muito cedo, assim que os postigos foram abaixados, e tomaram sopa. Os dois eram muito calmos, pessoas respeitáveis; um deles pagou a conta e saiu; o outro, o vagão mais lento do comboio, ficou mais um tempinho juntando as coisas. Mas enfim foi saindo. Pois não é que, no instante antes de sair para a rua, ele ergueu a tigela ainda com sopa pela metade e, de propósito, jogou o líquido na parede? Eu estava no salão de trás, e o garçom também; só tive tempo de correr para cá e encontrar a parede respingada e o estabelecimento vazio. Isso não causou nenhum dano em especial, mas foi um atrevimento desconcertante. Eu tentei alcançar os homens na rua, mas eles já estavam muito longe; só reparei que dobraram na esquina com a Carstairs Street. O detetive agora estava de pé, chapéu na cabeça e bengala na mão. Já havia decidido que, na escuridão universal em que estava mergulhada a sua mente, a única coisa a fazer era seguir o primeiro dedo estranho que apontasse; e aquele dedo era estranho o suficiente. Pagando a conta e batendo a porta de vidro atrás de si, no instante seguinte enveredava na outra rua. Felizmente, até mesmo nesses momentos febris seu olho era frio e rápido. Algo na fachada de uma loja foi para ele como um lampejo; voltou para olhar. Era uma loja popular de frutas, verduras e uma série de mercadorias dispostas a céu aberto, etiquetadas com nomes e preços. Nos dois compartimentos mais proeminentes havia dois montes, um de laranjas e o outro de castanhas-do-pará. Na pilha de castanhas estava posicionado um cartaz de papelão, com letras escritas em giz azul forte: “As melhores laranjas, duas por um penny”. Nas laranjas, a mesma descrição clara e exata: “As melhores castanhas-do-pará, uma libra por quatro pences”. Monsieur Valentin olhou para esses dois cartazes e observou que havia visto antes aquela sutil manifestação de humor, há não muito tempo. Chamou a atenção sobre a troca dos cartazes ao fruteiro, que olhava emburrado para um lado e para o outro da rua. O fruteiro não disse nada, mas colocou cada papelão no lugar certo rispidamente. O detetive, apoiando-se com elegância na bengala, continuou a escrutinar a tenda. Enfim, falou: – Peço desculpas pela minha aparente impertinência, meu bom senhor, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta entre psicologia experimental e associação de ideias. – O vendedor irritado o fitou com olhar ameaçador, mas Valentin continuou alegremente, balançando a bengala. – Por que... – insistiu ele – por que duas placas ficam deslocadas numa quitanda como padres com chapéus de abas passeando em Londres? Ou, no caso de eu não ter sido claro, que associação mística conecta a ideia de castanhas-do-pará identificadas como laranjas com a ideia de dois padres, um alto e outro nanico? Os olhos do negociante saltaram como os de uma cobra; por um momento, pareceu mesmo que ele ia dar o bote no estranho. Enfim, gaguejou zangado: – Eu não sei o que o senhor tem a ver com isso, mas, se é amigo deles, pode dizer para aqueles dois palhaços que vou nocautear eles, padres ou não, na próxima vez que derrubarem minhas maçã. – Mesmo? – perguntou o detetive com imensa simpatia. – Derrubaram as maçãs? – Um deles, foi sim – disse o enfático vendedor –, e as maçã rolaram por toda a rua. Eu ia dar uma lição no idiota, mas tive que juntar tudo. – Para que lado esses padres foram? – perguntou Valentin. – Pegaram a segunda rua às esquerda e despois atravessaram a praça – disse o outro prontamente.
– Obrigado – respondeu Valentin e desapareceu como um duende. Do outro lado da segunda esquina, ele achou um policial e perguntou: – É urgente, policial! Não viu dois padres com chapéus de abas? O policial começou a gargalhar: – Vi, sim senhor! E, já que o senhor me pregunta, um deles tava bêbado. Ficou ali tonto, parado no meio da rua... – Para que lado eles foram? – interrompeu Valentin. – Pegaram um daqueles ônibus amarelo bem ali – respondeu o homem –, que depois vai pra Hampstead. Valentin mostrou seu distintivo e falou muito rápido: – Chame dois de seus homens para virem comigo em perseguição. E atravessou a rua com uma energia tão contagiante que o desajeitado policial foi movido por uma obediência quase ágil. Em um minuto e meio, o detetive francês estava acompanhado, do outro lado da calçada, por um inspetor e um policial à paisana. – Bem, senhor – disse o primeiro, com importância sorridente –, e o que podemos... Valentin apontou de repente com a bengala: – Vou lhe dizer a bordo daquele ônibus – disse ele correndo e esquivando-se em meio ao tráfego emaranhado. Quando os três desabaram ofegantes nos assentos do segundo andar do veículo amarelo, o inspetor disse: – A gente podia ir quatro vezes mais rápido num táxi. – É bem verdade – respondeu o líder com calma –, se tivéssemos pelo menos ideia de onde estamos indo. – Bom, mas aonde você está indo? – perguntou o outro, olhando-o espantado. Valentin fumou com um rosto sombrio por alguns segundos; depois, tirando o cigarro da boca, falou: – Se você sabe o que um homem está fazendo, chegue à frente dele, mas se você quer descobrir o que ele está fazendo, mantenha-se atrás dele. Perca-se quando ele se perder, pare quando ele parar, viaje tão devagar quanto ele. Então conseguirá ver o que ele viu e agir como ele agiu. O melhor a fazer é ficarmos atentos para alguma coisa estranha. – Que tipo de coisa estranha? – perguntou o inspetor. – Qualquer tipo de coisa estranha – respondeu Valentin e mergulhou num silêncio obstinado. O ônibus amarelo arrastou-se pelas ruas do norte da cidade pelo que pareceram horas a fio; o grande detetive não dava maiores explicações, e seus assistentes talvez estivessem sentindo uma dúvida crescente e silenciosa quanto à missão dele. Talvez, também, estivessem sentindo um desejo crescente e silencioso de almoçar, pois as horas se arrastaram muito além da hora normal de almoço. As longas avenidas dos subúrbios do norte de Londres pareciam se projetar quilômetro após quilômetro como um telescópio infernal. Era uma daquelas jornadas em que um homem sente todo o tempo que enfim chegou ao fim do universo, para depois descobrir que só chegou ao início do Parque Tufnell. Londres desapareceu em tabernas sujas e arbustos melancólicos e depois renasceu de forma enigmática em reluzentes avenidas e ruidosos hotéis. Foi como passar por treze cidades comuns, todas apenas se tocando. Embora o crepúsculo do inverno já estivesse ameaçando a estrada à frente deles, o detetive parisiense permaneceu sentado, silencioso e atento, olhando as fachadas das ruas que deslizavam de cada lado. Quando deixaram Camden Town para trás, os policiais estavam quase dormindo; ao menos, deram um pulo quando Valentin levantou-se, muito ereto, deu um tapinha no ombro de cada um e gritou para o motorista parar. Eles saltaram do degrau do ônibus para a rua sem entender por que haviam sido desalojados; quando olharam ao redor em busca de um esclarecimento, viram Valentin apontando triunfante em direção a uma janela do lado esquerdo da rua. Era uma janela grande, na longa fachada de uma hospedaria dourada e majestosa; era a parte reservada para jantares respeitáveis, denominada “Restaurant”. Essa janela, assim como toda a frente do hotel, era adornada com vidro jateado, mas no meio dela havia uma rachadura grande e preta, como uma estrela no gelo. – Afinal, nossa pista – gritou Valentin, agitando a bengala –, o lugar com a janela quebrada. – Que janela? Que pista? – perguntou seu assistente principal. – Por quê? Que prova há que isso tenha alguma coisa a ver com eles? Valentin quase quebrou sua bengala de bambu com raiva. – Prova! – ele gritou. – Meu bom Deus! O homem está procurando provas! Porque, é claro, as chances são de vinte para um que isso não tenha nada a ver com eles. Mas o que mais podemos fazer? Não vê que devemos seguir qualquer possibilidade absurda ou, do contrário, ir para casa? Ele entrou de maneira brusca no restaurante, seguido por seus companheiros, e logo estavam sentados para um almoço tardio a uma mesa pequena, olhando para a estrela no vidro quebrado. Embora aquilo não fosse muito informativo para eles. – Estou vendo que quebraram uma janela – disse Valentin para o garçom, quando pagou a conta. – Sim, senhor – respondeu o atendente, curvando-se com diligência sobre o pagamento, ao qual Valentin silenciosamente acrescentou uma generosa gorjeta. O garçom endireitou-se com discreta mas inconfundível animação. – Ah! Sim, senhor – disse. – Coisa muito estranha, aquilo, senhor. – É mesmo? Conte para nós – falou o detetive com despreocupada curiosidade. – Bem, dois senhores vestidos de preto entraram – disse o garçom. – Duas daquelas pessoas estranhas que andam por aí. Comeram tranquilos um lanche barato, um deles pagou e saiu. O outro já estava saindo para se juntar a ele quando olhei de novo o valor pago e descobri que haviam pago três vezes mais. “Ei!”, chamei o freguês que estava perto da porta, “o senhor pagou muito mais”. Ele disse bem calmo: “Ah! É mesmo?” Eu disse que sim e mostrei a conta a ele. Bem, aquilo foi um golpe. – O que você quer dizer? – perguntou seu interlocutor. – Bem, eu podia jurar sobre sete Bíblias que tinha colocado 4 xelins na conta. Mas então vi que tinha colocado 14 xelins, claro como água. – Sim? – gritou Valentin, movendo-se devagar, mas com olhos flamejantes. – E depois? – O senhor que estava na porta disse, muito sereno: “Desculpe por confundir suas contas, mas isso vai pagar pela janela”. Eu disse: “Que janela?”. Ele respondeu: “A que eu vou quebrar”, e bateu naquela vidraça abençoada com o guarda-chuva. Os três investigadores soltaram uma exclamação, e o inspetor sussurrou: – Estamos atrás de fugitivos malucos? O garçom prosseguiu com certa satisfação pela história ridícula: – Fui pego tão de surpresa que não pude fazer nada. O homem saiu daqui e se juntou ao amigo já quase na esquina. Depois eles subiram tão rápido a Bullock Street que não pude alcançá-los, apesar de eu ter contornado o balcão correndo. – Bullock Street – disse o detetive, e disparou pela rua tão rápido quanto a estranha dupla que perseguia. A jornada agora os conduziu por caminhos de tijolos aparentes, feito túneis; ruas com poucas luzes e igualmente poucas janelas; ruas que pareciam construídas nos espaços vazios por trás de todas as coisas e lugares. O anoitecer intensificava-se, e não era fácil nem mesmo para os policiais londrinos supor em que direção exata estavam caminhando. O inspetor, entretanto, estava certo de que poderiam eventualmente chegar à charneca Hampstead. De repente, uma vitrine com iluminação a gás quebrou o crepúsculo azul como uma claraboia, e Valentin parou um instante em frente a uma pequena e vistosa loja de doces. Após um instante de hesitação, ele entrou; ficou parado em meio às cores espalhafatosas da confeitaria na mais completa seriedade e comprou treze cigarros de chocolate com uma indubitável cautela. Estava, de forma clara, preparando um começo de conversa, mas não precisou preparar nada. Uma jovem balconista, envelhecida e magra, tinha saudado aquele homem elegante com uma simples indagação automática, mas, quando viu a porta atrás dele bloqueada com o uniforme azul do inspetor, seus olhos pareceram acordar. – Ah! – ela disse –, se vieram por causa do embrulho, eu já enviei. – Embrulho! – repetiu Valentin; e foi sua vez de olhar, questionando. – Quero dizer o embrulho que o cavalheiro esqueceu. O padre! – Por Deus – disse Valentin, inclinando-se para a frente com sua primeira confissão real de ansiedade –, pelo amor de Deus, conte-nos o que aconteceu.
– Bem – disse a mulher com certa dúvida –, os padres entraram faz uma meia hora, compraram balas de hortelã, conversaram um pouco e depois saíram na direção da charneca. Mas segundos depois um deles voltou correndo, entrou na loja e disse: “Esqueci um embrulho?” Bem, olhei em todos os lugares e não vi embrulho nenhum, então ele disse: “Não faz mal; mas se o embrulho aparecer, por favor, envie para este endereço”. E me deixou o endereço e um xelim pelo contratempo. E realmente, embora eu achasse que tinha olhado em todos os lugares, descobri que ele havia deixado um embrulho de papel pardo, então postei o embrulho para o lugar que ele falou. Não consigo me lembrar o endereço agora; era algum lugar em Westminster. Mas, como a coisa pareceu tão importante, pensei que talvez a polícia tenha vindo por causa disso. – Pois eles vieram – disse Valentin sucinto. – A charneca Hampstead fica perto daqui? – Exatos quinze minutos – disse a mulher. – Vão chegar na hora de abrir. Valentin saltou para fora da loja e começou a correr. Os outros detetives seguiram-no em um trote relutante. A rua onde tinham se enfiado era tão estreita e sombria que quando de repente saíram na via pública, deserta sob um amplo céu, espantaram-se de encontrar a noite ainda tão iluminada e clara. Uma cúpula verde-pavão perfeita afundava em ouro, no meio de árvores enegrecidas e um forte violeta. A tinta verde profundo era intensa o suficiente para revelar uma ou duas estrelas como pontinhos de cristal. Tudo que restou da luz do dia pousou em um resplendor dourado sobre a borda de Hampstead e sobre aquele vale popularmente chamado de Vale da Saúde. As pessoas que aproveitavam o fim de semana e passeavam na região ainda não haviam se dispersado por completo; alguns casais estavam sentados disformes nos bancos; aqui e ali uma menina ao longe ainda soltava gritinhos em um dos balanços. A glória do céu se intensificou e escureceu em torno da sublime mediocridade do homem; parado sobre o declive e olhando para o vale, Valentin contemplou aquilo que buscava. Entre os grupos escuros e dispersos naquela distância estava um especialmente escuro e não disperso – um grupo de duas figuras vestidas de clérigos. Embora parecessem pequenos como insetos, Valentin pôde ver que um deles era bem menor que o outro. Embora o outro tivesse um corpo de estudante e uma atitude insuspeita, ele notou que o homem tinha mais de um metro e oitenta de altura. Cerrou os dentes e seguiu em frente, rodopiando a bengala de modo impaciente. Quando reduziu de forma considerável a distância, e as duas figuras negras ficaram ampliadas como em um imenso microscópio, ele percebeu algo mais, algo que o surpreendeu e que de forma alguma havia suposto. Quem quer que fosse o padre alto, não poderia haver dúvida sobre a identidade do baixinho. Era seu amigo do trem de Harwich, o curé pequeno e roliço de Essex a quem havia advertido sobre os embrulhos de papel pardo. A essa altura, tudo se ajustava de forma bastante decisiva e racional. Valentin tinha descoberto por suas indagações, naquela manhã, que um certo Padre Brown de Essex trazia uma cruz de prata com safiras, relíquia de valor considerável, para mostrar a alguns dos padres estrangeiros no congresso. Sem dúvida era a “prata com pedras azuis”; e sem dúvida o Padre Brown era o homem simplório no trem. Não havia nada espantoso no fato de que Flambeau descobrira o que Valentin descobrira; afinal, Flambeau descobria tudo. Além disso, não havia nada espantoso no fato de que, quando Flambeau ouvisse falar na cruz de safira, tentasse roubá-la; isso era a coisa mais natural em toda a história natural. E ainda mais certo era que não houvesse nada espantoso no fato de Flambeau ter conseguido tudo isso à sua própria maneira, em se tratando do bobo cordeirinho com o guarda-chuva e os embrulhos. Ele era o tipo de homem que qualquer um poderia conduzir em uma corda até o Polo Norte; não era surpresa que um ator como Flambeau, vestido como outro padre, pudesse conduzi-lo para a charneca Hampstead. Até ali, o crime parecia bastante claro; e se por um lado o detetive lamentava a vulnerabilidade do padre, pelo outro quase desprezava Flambeau por se dignar a atacar uma vítima tão ingênua. Mas quando Valentin pensou em tudo que acontecera nesse meio-tempo, em tudo que o conduzira ao seu triunfo, exauriu seus miolos com os pequenos fatos inexplicáveis. O que o roubo de uma cruz azul e prateada de um padre de Essex tinha a ver com sopa atirada no papel de parede? O que isso tinha a ver com chamar laranjas de castanhas, ou com pagar por janelas antes e quebrá-las depois? Ele tinha chegado ao fim de sua perseguição, ainda que de alguma forma houvesse perdido o meio dela. Quando falhava (o que era raro), em geral tinha chegado à solução do enigma, embora perdesse o criminoso. Aqui ele havia chegado ao criminoso, mas ainda não conseguira chegar à solução do enigma. Os dois vultos que eles seguiam rastejavam como moscas pretas pelo grande contorno verde da montanha. Estavam, de forma evidente, imersos em conversações, e talvez não tivessem notado aonde estavam indo, mas com certeza rumavam ao cume mais silencioso e ermo da charneca. À medida que se aproximavam deles, seus perseguidores tiveram de adotar as atitudes indignas do caçador de cervos: armar o bote por detrás de capões de árvores e até mesmo rastejar na relva alta. Por meio dessas engenhosidades nada graciosas, os caçadores chegaram perto o suficiente da presa para ouvir os murmúrios da discussão, mas nenhuma palavra podia ser distinguida, a não ser a palavra “razão” evocada com frequência em uma voz aguda e quase infantil. Assim que alcançaram o topo de um abrupto declive e um denso emaranhado de moitas, os detetives efetivamente perderam os dois vultos de vista. Não encontraram o rastro de novo por dez agonizantes minutos, e isso os levou à borda do grande cume de uma montanha, com vista para um anfiteatro com um cenário de pôr do sol rico e desolador. Embaixo de uma árvore, nesse local grandioso ainda que negligenciado, havia um banco de madeira em ruínas. Nesse banco, estavam sentados os dois padres, imersos em sua calorosa conversação. O verde e o dourado ainda se uniam esplêndidos ao horizonte escurecido, mas o firmamento se transformava lentamente de verde-pavão em azul-pavão, e as estrelas destacavam-se cada vez mais como joias sólidas. Acenando em silêncio para os companheiros, Valentin rastejou por trás da árvore grande e cheia de galhos e lá, em silêncio mortal, escutou pela primeira vez as palavras dos estranhos padres. Depois de escutar por um minuto e meio, ele foi tomado por uma dúvida infernal. Talvez tivesse arrastado os dois policiais ingleses para o ponto mais ermo de uma charneca, à noite, em uma incumbência tão insensata como procurar figos em cardos. Porque os dois padres conversavam exatamente como padres, de forma respeitosa, com erudição e calma, sobre o mais abstrato enigma da teologia. O padre baixinho de Essex falava mais simples, com o rosto redondo virado para as estrelas intensificadas; o outro conversava com a cabeça curvada, como se não fosse digno o bastante para olhar. Mas não podia ser uma conversa mais inocente do que as que se ouve em qualquer convento italiano ou catedral negra espanhola. O que ele escutou primeiro foi a conclusão de uma frase de Padre Brown: – ... na verdade era isso que eles entendiam na Idade Média por “céus incorruptíveis”. O padre mais alto assentiu com a cabeça curvada e disse: – Ah! Sim, esses infiéis modernos apelam para a sua razão; mas quem seria capaz de olhar para aqueles milhares de mundos e não sentir que podem existir universos maravilhosos acima de nós, onde a razão é completamente irracional? – Não – disse o outro padre –, a razão é sempre racional, mesmo no último limbo, na fronteira perdida das coisas. Eu sei que as pessoas acusam a Igreja de desvalorizar a razão, mas na verdade é o contrário. Sozinha na Terra, a Igreja torna a razão realmente suprema. Sozinha na Terra, a Igreja afirma que o próprio Deus é limitado pela razão. O outro padre ergueu a face austera para o céu cintilante e disse: – Além disso, quem sabe se naquele universo infinito?... – Infinito apenas fisicamente – disse o pequenino padre, voltando-se com energia em seu banco –, não infinito no senso de escapar das leis da verdade. Valentin, atrás da árvore, roía as unhas com fúria silenciosa. Teve a impressão de quase escutar o riso abafado dos detetives ingleses, que levara tão longe em uma suposição fantástica, só para ouvir o mexerico metafísico de dois párocos velhos e gentis. Em sua impaciência, perdeu a resposta igualmente elaborada do padre alto. Quando escutou de novo, outra vez era o Padre Brown quem estava falando: – Razão e justiça controlam a estrela mais remota e solitária. Olhe para aquelas estrelas. Não parecem safiras e diamantes solitários? Bem, você pode imaginar qualquer maluquice botânica ou geológica que lhe agrade. Pensar em florestas de adamantino com folhas de brilhantes. Pensar que a lua é uma lua azul, uma enorme safira solitária. Mas não acredite que toda essa astronomia fanática possa fazer a mínima diferença para a razão e a justiça de conduta. Em planícies de opala, abaixo de penhascos cunhados em pérola, você ainda encontraria um aviso no mural: “Não roubarás”. Valentin estava prestes a sair de sua postura agachada e tensa para rastejar tão suave quanto possível, frustrado com o maior desatino de sua vida. Mas alguma coisa no silêncio do padre alto o fez esperar até ele falar. Por fim ele disse, com simplicidade, a cabeça curvada e as mãos nos joelhos: – Bem, ainda acho que talvez outros mundos possam ir além da nossa razão. O mistério do céu é insondável, e eu, como indivíduo, posso apenas curvar minha cabeça. Depois, com o semblante ainda inclinado e sem mudar nem pela mais tênue sombra a postura nem a voz, acrescentou: – Pode me passar a cruz de safiras, certo? Estamos sozinhos aqui. Posso lhe estraçalhar como uma boneca de palha. A voz e o comportamento completamente inalterados acrescentaram uma violência estranha àquela mudança chocante de discurso. Mas o guardião da relíquia apenas girou a cabeça um pequeno intervalo de circunferência. Seu rosto meio tolo parecia continuar olhando as estrelas. Talvez não tivesse entendido. Ou talvez tivesse entendido e permanecido sentado, rígido de terror. – Sim – disse o padre alto, na mesma voz baixa e ainda na mesma postura –, sim, eu sou Flambeau. Depois, após uma pausa, ele falou: – Vamos, não vai me dar a cruz? – Não – disse o outro, e o monossílabo teve um som estranho. Flambeau de repente abandonou todas as pretensões pontificais. O grande ladrão inclinou-se para trás em seu banco e gargalhou baixinho, mas longamente. – Não – gritou ele –, não vai me dar, seu prelado arrogante. Não vai me dar, seu celibatariozinho simplório. Posso dizer por que não vai me entregar? Porque já estou com ela aqui no meu bolso. O homenzinho de Essex virou o que pareceu ser um rosto atordoado ao cair da noite e disse, com a ansiedade tímida de O secretário particular.[2] – Tem... tem certeza? Flambeau gritou com deleite: – De fato, você é tão bom quanto uma farsa de três atos – gritou ele. – Sim, seu nabo, tenho certeza absoluta. Eu tive o bom senso de fazer uma réplica do embrulho certo. Agora, meu amigo, você tem a réplica e eu tenho as joias. Um velho artifício, Padre Brown, um velho artifício. – Sim – disse Padre Brown, e passou a mão no cabelo com o mesmo estranho jeito impreciso. – Sim, já ouvi falar nisso antes.
O colosso do crime inclinou-se sobre o rústico padrezinho com um quê de interesse repentino. – Ouviu falar nisso? – ele perguntou. – Onde ouviu falar? – Bem, não devo contar o nome dele, é claro –, disse de maneira simples o homenzinho. – Ele era um penitente, sabe? Viveu de forma próspera por cerca de vinte anos, tudo a partir de embrulhos de papel pardo duplicados. E então, veja, quando comecei a suspeitar de você, pensei logo no método medíocre do sujeito fazer isso. – Começou a suspeitar de mim? – repetiu o fora da lei com intensidade crescente. – Teve mesmo a presença de espírito de suspeitar de mim só porque eu lhe trouxe para esta parte isolada da charneca? – Não, não – disse Brown como quem se desculpa –, veja bem, suspeitei de você logo que nos conhecemos. Aquela pequena saliência na manga no lugar que vocês têm um bracelete com pontas. – Como! – gritou Flambeau. – Como é que você ouviu falar no bracelete com pontas? – Ah, nosso pequeno rebanho, sabe? – disse Padre Brown, arqueando as sobrancelhas de forma um pouco vaga. – Quando eu era cura na cidade de Hartlepool, havia três deles com braceletes com pontas. Então, como suspeitei de você desde o início e você não notou, me certifiquei de que a cruz ficasse a salvo. Receoso, eu o vigiei, sabe? Então finalmente vi você trocar os embrulhos. Depois troquei os embrulhos outra vez sem você notar. E então deixei o certo para trás. – Deixou para trás? – repetiu Flambeau, e pela primeira vez havia outro sinal na voz além de triunfo. – Bem, foi assim – disse o pequenino padre, falando do mesmo modo inalterado. – Voltei para a loja de doces e perguntei se não tinha deixado um embrulho e dei um endereço particular para o caso de o embrulho aparecer. Bem, eu sabia que não tinha deixado, mas, quando saí dali de novo, aí sim, deixei. Então, em vez de correrem atrás de mim com aquele embrulho valioso, o remeteram voando para meu amigo em Westminster. – Em seguida acrescentou, meio triste: – Também aprendi isso com um pobre camarada em Hartlepool. Ele costumava fazer isso com bolsas que roubava nas estações de trem, mas está em um mosteiro agora. A gente fica sabendo, sabe – acrescentou, esfregando a cabeça outra vez com o mesmo tipo de apologia desesperada. – Não temos culpa de ser padres. As pessoas vêm e nos contam essas coisas. Flambeau arrancou o embrulho de papel pardo do bolso interno e o dilacerou. Não havia nada além de papel e bastões de chumbo dentro. Ficou de pé num pulo gigantesco e gritou: – Não acredito em você. Não acredito que um matuto como você tenha planejado tudo isso. Acredito que a coisa ainda está aí. Se você não me entregar... ora, estamos sozinhos, e pegarei ela à força! – Não – limitou-se a dizer Padre Brown, levantando-se também –, você não vai pegar nada à força. Em primeiro lugar, porque eu de fato não estou mais com ela. E, segundo, porque não estamos sozinhos. Flambeau interrompeu seu passo à frente. – Atrás daquela árvore – falou Padre Brown, apontando –, estão dois policiais fortes e o melhor detetive vivo. Quer saber como eles chegaram aqui? Ora, eu os trouxe, claro! Como fiz isso? Ora, eu vou contar se você desejar! Deus lhe abençoe, temos que saber vinte tipos de coisas quando trabalhamos entre as classes criminosas! Bem, eu não tinha certeza de que você era um ladrão, e não é nem um pouco recomendável fazer um escândalo contra alguém do nosso próprio clero. Então só o testei para ver se alguma coisa o induzia a se mostrar. Um homem, em geral, faz uma pequena cena se descobre sal em seu café, se não faz, tem alguma razão para permanecer quieto. Troquei o sal e o açúcar, e você permaneceu calado. Um homem, em geral, contesta se sua conta é três vezes maior. Se ele paga, tem algum motivo para querer passar despercebido. Alterei sua conta, e você pagou. O mundo parecia esperar Flambeau saltar como um tigre. Mas ele se conteve, como por encanto, atordoado por uma curiosidade extrema. – Bem – continuou Padre Brown, com lucidez inconveniente –, como você não deixaria nenhuma pista para a polícia, é claro que alguém teria que fazer isso. Em todos os lugares que fomos, tive o cuidado de fazer algo que nos tornasse falados pelo resto do dia. Não causei muitos prejuízos: uma parede respingada, maçãs derrubadas, uma janela quebrada; mas salvei a cruz, como a cruz sempre será salva. Ela está em Westminster agora. Fico pensando por que você não a parou com o Assobio de Burro. – Com o quê? – perguntou Flambeau. – Estou feliz que você nunca tenha ouvido falar nisso – disse o padre, fazendo uma careta. – É um golpe baixo. Tenho certeza que você é um homem muito bom para ser um Assobiador. Nem mesmo com as Pintas eu poderia ter impedido isso. Não sou forte o suficiente nas pernas. – Do que diabos você está falando? – perguntou o outro. – Bem, eu pensei que você conhecesse as Pintas – disse Padre Brown, com agradável surpresa. – Ah, você não podia mesmo já estar tão desencaminhado! – Como é que você conhece todos esses golpes horríveis? – gritou Flambeau. A sombra de um sorriso perpassou o rosto simples e arredondado do seu oponente clerical. – Ah, sendo um celibatário simplório, suponho – ele disse. – Nunca imaginou que um homem que não faz quase nada além de escutar pecados verdadeiros dificilmente seria um completo ignorante sobre a maldade humana? Mas, na verdade, outra parte do meu ofício também me fez ter certeza de que você não era padre.
– O quê? – perguntou o ladrão boquiaberto. – Você atacou a razão – disse Padre Brown. – Isso é má teologia. E assim que ele se virou para apanhar seus pertences, os três policiais saíram de baixo das árvores do crepúsculo. Flambeau era artista e esportista. Recuou e fez uma grande reverência a Valentin. – Não me reverencie, mon ami – disse Valentin, com sutileza prateada. – Façamos nós dois uma reverência a nosso mestre. E os dois ficaram um instante sem chapéu, enquanto o pequenino padre de Essex corria o olhar ao redor, atrás de seu guarda-chuva.
[1] Provável referência ao imperador alemão Guilherme II, considerado na época o “homem mais interessante da Europa”. (N.T.)
[2] The Private Secretary, peça teatral de três atos, escrita por Sir Charles Henry Hawtrey (1858-1923). (N.T.)




Biblio VT




Entre o prateado da manhã e o verde cintilante do mar, a balsa atracou em Harwich e liberou um enxame de pessoas; no meio delas, o homem que devemos acompanhar não estava de modo algum evidente – nem desejava estar. Não havia nada de notável nele, exceto um leve contraste entre a alegria das roupas e a seriedade formal do rosto. O casaco leve cinza-claro, o colete branco e o chapéu de palha prateado com faixa azul-acinzentada deixavam sombrio o rosto magro, que terminava numa barba negra e curta à moda espanhola, lembrando um colarinho elisabetano. Fumava um cigarro com a seriedade de um desocupado. Nada nele sugeria o fato de que o casaco cinza escondia um revólver carregado e o colete branco, um distintivo policial, nem que o chapéu de palha cobria um dos intelectos mais poderosos da Europa. Tratava-se de Valentin em pessoa, o chefe da polícia parisiense e investigador mais famoso do mundo; vindo de Bruxelas para Londres com o objetivo de efetuar a maior prisão do século. Flambeau estava na Inglaterra. A polícia de três países havia finalmente encontrado o rastro do grande criminoso, desde Gante até Bruxelas e de Bruxelas até a cidade portuária de Hook van Holland; tudo indicava que ele pretendia se aproveitar da novidade e da confusão do Congresso Eucarístico que estava acontecendo em Londres. Era bem provável que ele viajasse como um clérigo subalterno ou secretário vinculado ao Congresso, mas, é claro, Valentin não podia ter certeza; ninguém podia ter certeza quanto a Flambeau. Já fazia um bom tempo desde que esse colosso do crime, de repente, cessara de colocar o mundo em polvorosa; e, quando ele cessou, assim como disseram após a morte de Rolando, fez-se um grande silêncio sobre a Terra. Mas em seus melhores dias (na verdade, é claro, em seus piores), Flambeau era uma figura tão imponente e internacional quanto o Kaiser.[1] Quase todas as manhãs, o jornal anunciava que ele havia escapado das consequências de um crime extraordinário cometendo outro. Era um gascão de estatura gigantesca e físico arrojado; e as histórias mais fantásticas eram contadas sobre seus rompantes vigorosos de humor; como quando ele agarrou o juiz de instrução pelos pés e o virou de cabeça para baixo, “para clarear as ideias”; como quando desceu a Rue de Rivoli com um policial debaixo de cada braço. É justo dizer que seu fantástico vigor físico em geral era empregado em cenas que não eram sanguinárias, embora fossem indignas; os seus crimes verdadeiros eram, sobretudo, aqueles roubos habilidosos e por atacado. Mas cada um de seus roubos era quase um novo pecado e constituía uma história que valia por si mesma.
.
.
.
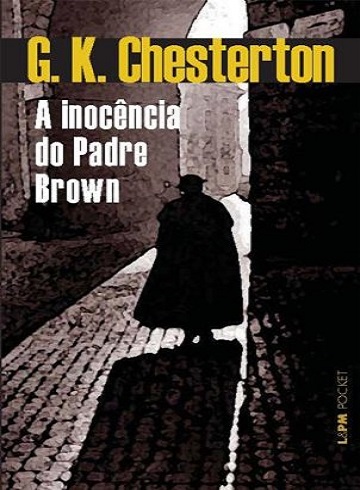
.
.
.
Foi ele quem fez funcionar a importante Companhia Leiteira Tirolesa em Londres, sem laticínios, nem vacas, nem carroças, nem leite, mas com alguns milhares de investidores. Conseguiu isso com a simples operação de mover as pequenas vasilhas de leite da porta das pessoas para a porta de seus próprios fregueses. Foi ele quem manteve uma correspondência inexplicável e íntima com uma jovem cuja mala postal era interceptada, utilizando-se do extraordinário truque de fotografar as mensagens em tamanho infinitesimalmente menor nas lâminas de um microscópio. Uma grande simplicidade, entretanto, marcava muitos de seus experimentos. Disseram que uma vez ele repintou todos os números em uma rua na calada da noite, apenas para atrair um viajante em uma cilada. É quase certo que ele inventou a caixa de correio portátil, que colocava nas esquinas dos bairros mais calmos, para o caso de forasteiros jogarem vales postais ali. Além disso, era conhecido por ser um acrobata surpreendente: apesar da enorme silhueta, podia saltar como um gafanhoto e desaparecer nas copas das árvores como um macaco. Por isso, o grande Valentin, quando saiu à caça de Flambeau, estava bem ciente de que suas aventuras não acabariam quando o encontrasse. Mas como ele o encontraria? Nesse aspecto as ideias do grande Valentin continuavam em processo de amadurecimento. Havia uma coisa que Flambeau, com toda sua destreza em disfarces, não conseguia esconder: a estatura peculiar. Se o olho rápido de Valentin tivesse percebido uma vendedora de maçãs altíssima, um soldado pernalta ou até mesmo uma duquesa de boa altura, poderia tê-los prendido no ato. Mas em todo o seu percurso não encontrou ninguém que pudesse ser um Flambeau disfarçado, a menos que girafas consigam se disfarçar de gatos. Quanto às pessoas da balsa, ele já estava satisfeito; e as pessoas que embarcaram no trem em Harwich ou nas estações do caminho com certeza se limitavam a seis. Havia um oficial de ferrovia, meio tampinha, viajando até o ponto final; três horticultores baixotes, que subiram a bordo duas estações depois; uma viúva nanica de uma cidadezinha de Essex e um padre católico bem baixinho, de um vilarejo também de Essex. Quando chegou ao último caso, Valentin desistiu e quase caiu na risada. O pequenino padre era a essência daquelas planícies do Leste: tinha o rosto tão redondo e opaco quanto um bolinho típico de Norfolk, olhos tão vagos quanto o Mar do Norte e vários embrulhos de papel pardo que mal conseguia carregar. Sem dúvida, o Congresso Eucarístico tinha atraído de seus lugarejos estagnados muitos tipos de criaturas, cegos e indefesos como toupeiras desenterradas. Valentin era um cético ao estilo severo da França e não conseguia gostar de padres. Mas podia ter pena deles, e aquele teria provocado pena em qualquer um. Levava um guarda-chuva grande e surrado, que caía a toda hora no chão. Parecia não saber qual era o destino exato do bilhete de volta. Explicou para todos no vagão, com a simplicidade de um bobo, que precisava ser cuidadoso, porque trazia consigo uma coisa feita de prata legítima, “incrustada com pedras azuis”, num dos embrulhos de papel pardo. Sua mistura pitoresca da monotonia de Essex com uma simplicidade impecável divertiu ininterruptamente o francês até o padre chegar (não se sabe como) em Stratford com todos os embrulhos, mas deixando o guarda-chuva para trás. Quando ele voltou para buscar, Valentin, generoso, alertou-o que contar a todos sobre a prata não era a melhor maneira de cuidar dela. Mas, seja com quem estivesse falando, Valentin ficava de olho nas pessoas ao redor; perscrutava qualquer pessoa, rica ou pobre, homem ou mulher, com mais de um metro e oitenta de altura, pois Flambeau tinha dez centímetros mais. De qualquer modo, Valentin desembarcou na Liverpool Street, muito seguro e certo de que não havia deixado escapar o criminoso até aquele momento. Depois foi à Scotland Yard para regularizar sua situação e conseguir ajuda caso fosse preciso. Então, acendeu outro cigarro e saiu para um longo passeio nas ruas de Londres. Quando estava andando nas ruas e praças do outro lado da Victoria Street, estacou de repente. Era uma praça tranquila, singular, típica de Londres, cheia de uma serenidade casual. As casas altas e retas em volta pareciam ao mesmo tempo prósperas e desabitadas; a praça de arbustos no centro parecia tão deserta quanto uma ilhota verde do Pacífico. Um dos quatro lados era muito mais alto que os outros, como um altar, e o traçado desse lado era interrompido por uma das mais admiráveis casualidades de Londres – um restaurante que parecia ter se desgarrado do Soho. Era um objeto atraente sem motivos, com bonsais em vasos e cortinas longas, listradas em amarelolimão e branco. Situava-se de modo especialmente elevado na rua e, no formato usual de colcha de retalhos de Londres, um lance de degraus subia da rua até a porta da frente, quase como uma escada de incêndio chega a uma janela do segundo piso. Valentin parou e fumou em frente às cortinas em amarelo e branco e achou-as compridas. O que há de mais inacreditável nos milagres é que eles acontecem. Algumas nuvens no céu agrupam-se para formar um olho humano. Uma árvore destaca-se na paisagem de uma jornada duvidosa na forma exata e elaborada de um sinal de interrogação. Eu mesmo vi as duas coisas nos últimos dias. Nelson morre, de fato, no instante da vitória; e um homem chamado Williams mata de forma completamente acidental um homem chamado Williams Jr.; isso soa meio como um infanticídio. Resumindo, na vida existe um elemento mágico nas coincidências que as pessoas ao pensar no prosaico talvez nunca notem. Como bem expressa o paradoxo de Poe, a sabedoria tem de levar em conta o inesperado. Aristide Valentin era francês por completo; e a inteligência francesa é uma inteligência especial e única. Ele não era uma “máquina de pensar”, pois isso é uma expressão estúpida do materialismo e do fatalismo modernos. Uma máquina só é uma máquina porque não consegue pensar. Mas ele era um homem pensante e comum ao mesmo tempo. Todos os seus maravilhosos sucessos, que pareciam magia, tinham sido obtidos por uma lógica criteriosa, por um pensamento francês comum e claro. Os franceses impressionam o mundo não por inventarem quaisquer paradoxos; eles deslumbram por agirem de acordo com truísmos. Eles levam os truísmos às últimas consequências – como na Revolução Francesa. Mas justo porque Valentin entendia a razão, entendia os limites da razão. Só um homem que não sabe nada sobre automóveis fala sobre automobilismo sem gasolina; só um homem que não sabe nada sobre a razão fala sobre raciocínio sem princípios básicos incontestáveis e fortes. Aqui ele não tinha princípios básicos fortes. Flambeau desapareceu em Harwich, e, de qualquer modo, se estava em Londres, podia ser qualquer um, desde um vagabundo alto no parque de Wimbledon até um recepcionista alto no Hôtel Métropole. Quando em tal estado puro de ignorância, Valentin tinha pontos de vista e métodos próprios. Em tais casos, ele contava com o inesperado. Em tais casos, quando não podia seguir o curso do razoável, de modo cuidadoso e frio, seguia o curso do irracional. Em vez de ir aos lugares certos: bancos, postos de polícia, prostíbulos, de modo sistemático, ele ia aos lugares errados; batia à porta de todas as casas desocupadas, entrava em todos os becos sem saída, subia cada ruela bloqueada com entulhos, circulava em cada rua curva que o desviava inutilmente para fora do caminho. Defendia esse trajeto louco de forma bastante lógica. Dizia que, se alguém tinha uma pista, esse era o pior caminho, mas se alguém não tinha pista nenhuma, então esse seria o melhor caminho, pois havia justamente a chance de que alguma esquisitice que chamasse a atenção do perseguidor também tivesse chamado a do perseguido. Um homem precisa de um lugar para começar, e seria melhor que fosse onde outro homem pudesse parar. Algo naquele lance de degraus subindo para o estabelecimento, algo na calma e excentricidade do restaurante despertou toda a sua rara imaginação romântica de detetive e o fez investir no acaso. Subiu os degraus, abancou-se a uma mesa junto à janela e pediu uma xícara de café preto. A manhã já estava na metade, e ele ainda não tomara café; restos de outros cafés da manhã estavam sobre a mesa para lembrá-lo de sua fome. Acrescentando ovos pochés ao seu pedido, distraidamente mexeu o açúcar no café, pensando o tempo todo em Flambeau. Recordou como Flambeau escapara uma vez usando um par de tesourinhas de unhas e outra vez por uma casa em chamas; uma vez tendo de pagar por uma carta sem selo e noutra conseguindo que as pessoas olhassem ao telescópio um cometa que poderia destruir o mundo. Valentin julgava seu cérebro de detetive tão bom quanto o do criminoso, o que era verdade. Mas percebia plenamente a desvantagem: “O criminoso é o artista criativo; o detetive, apenas o crítico”, murmurou com um sorriso amargo. Devagar, ergueu a xícara aos lábios e largou-a muito rápido. Havia colocado sal no café. Olhou para o pote do qual veio o pó prateado; com certeza era um açucareiro; sem dúvida, tão apropriado para o açúcar quanto uma garrafa de champanhe para o champanhe. Ficou imaginando por que serviriam sal no açucareiro. Olhou para ver se havia frascos mais ortodoxos. Sim, havia dois saleiros quase cheios. Porém, havia uma particularidade no condimento dos saleiros. Ele experimentou; era açúcar. Depois olhou em volta com revigorado ar de interesse pelo restaurante, para ver se havia quaisquer outros traços daquele peculiar gosto artístico que coloca açúcar no saleiro e sal no açucareiro. Exceto as manchas esquisitas de um líquido escuro no papel de parede branco, o lugar todo parecia comum, alegre e limpo. Tocou a sineta para chamar o garçom. Quando o funcionário se aproximou apressado, com o cabelo desarrumado e um olhar meio turvo já tão cedo, o detetive (com admiração pelas formas de humor mais simples) pediu para ele experimentar o açúcar e ver se o produto estava à altura da reputação do hotel. Como resultado, o garçom bocejou de repente e despertou. – É costume fazer essa brincadeira delicada com os fregueses todas as manhãs? – perguntou Valentin. – Nunca perde a graça trocar o açúcar pelo sal? Quando entendeu a ironia, o garçom assegurou gaguejando que o estabelecimento com certeza não tivera essa intenção, devia ser o mais curioso dos enganos. Pegou e observou o açucareiro; pegou e observou o saleiro; o rosto cada vez mais confuso. Por fim, ele se desculpou de forma abrupta e saiu rápido. Segundos depois, retornou com o dono, que também examinou o açucareiro e depois o saleiro com ar não menos confuso. De repente, o garçom balbuciou uma torrente de palavras: – Eu tô ajando – gaguejou ansioso –, eu ajo que foi aqueles dois badres. – Que dois padres? – Os dois badres – explicou o garçom – que jogaram soba na parede. – Sopa na parede? – repetiu Valentin, com a sensação de que aquilo devia ser uma singular metáfora italiana. – Sim, sim – reiterou o garçom empolgado, apontando as manchas escuras no papel de parede branco –, bem ali na barede. Valentin olhou com dúvida para o dono, que veio em seu socorro com o relato completo. – Sim, sim. É mesmo verdade, mas eu não imaginava que tinha algo a ver com o açúcar e o sal. Dois padres vieram aqui muito cedo, assim que os postigos foram abaixados, e tomaram sopa. Os dois eram muito calmos, pessoas respeitáveis; um deles pagou a conta e saiu; o outro, o vagão mais lento do comboio, ficou mais um tempinho juntando as coisas. Mas enfim foi saindo. Pois não é que, no instante antes de sair para a rua, ele ergueu a tigela ainda com sopa pela metade e, de propósito, jogou o líquido na parede? Eu estava no salão de trás, e o garçom também; só tive tempo de correr para cá e encontrar a parede respingada e o estabelecimento vazio. Isso não causou nenhum dano em especial, mas foi um atrevimento desconcertante. Eu tentei alcançar os homens na rua, mas eles já estavam muito longe; só reparei que dobraram na esquina com a Carstairs Street. O detetive agora estava de pé, chapéu na cabeça e bengala na mão. Já havia decidido que, na escuridão universal em que estava mergulhada a sua mente, a única coisa a fazer era seguir o primeiro dedo estranho que apontasse; e aquele dedo era estranho o suficiente. Pagando a conta e batendo a porta de vidro atrás de si, no instante seguinte enveredava na outra rua. Felizmente, até mesmo nesses momentos febris seu olho era frio e rápido. Algo na fachada de uma loja foi para ele como um lampejo; voltou para olhar. Era uma loja popular de frutas, verduras e uma série de mercadorias dispostas a céu aberto, etiquetadas com nomes e preços. Nos dois compartimentos mais proeminentes havia dois montes, um de laranjas e o outro de castanhas-do-pará. Na pilha de castanhas estava posicionado um cartaz de papelão, com letras escritas em giz azul forte: “As melhores laranjas, duas por um penny”. Nas laranjas, a mesma descrição clara e exata: “As melhores castanhas-do-pará, uma libra por quatro pences”. Monsieur Valentin olhou para esses dois cartazes e observou que havia visto antes aquela sutil manifestação de humor, há não muito tempo. Chamou a atenção sobre a troca dos cartazes ao fruteiro, que olhava emburrado para um lado e para o outro da rua. O fruteiro não disse nada, mas colocou cada papelão no lugar certo rispidamente. O detetive, apoiando-se com elegância na bengala, continuou a escrutinar a tenda. Enfim, falou: – Peço desculpas pela minha aparente impertinência, meu bom senhor, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta entre psicologia experimental e associação de ideias. – O vendedor irritado o fitou com olhar ameaçador, mas Valentin continuou alegremente, balançando a bengala. – Por que... – insistiu ele – por que duas placas ficam deslocadas numa quitanda como padres com chapéus de abas passeando em Londres? Ou, no caso de eu não ter sido claro, que associação mística conecta a ideia de castanhas-do-pará identificadas como laranjas com a ideia de dois padres, um alto e outro nanico? Os olhos do negociante saltaram como os de uma cobra; por um momento, pareceu mesmo que ele ia dar o bote no estranho. Enfim, gaguejou zangado: – Eu não sei o que o senhor tem a ver com isso, mas, se é amigo deles, pode dizer para aqueles dois palhaços que vou nocautear eles, padres ou não, na próxima vez que derrubarem minhas maçã. – Mesmo? – perguntou o detetive com imensa simpatia. – Derrubaram as maçãs? – Um deles, foi sim – disse o enfático vendedor –, e as maçã rolaram por toda a rua. Eu ia dar uma lição no idiota, mas tive que juntar tudo. – Para que lado esses padres foram? – perguntou Valentin. – Pegaram a segunda rua às esquerda e despois atravessaram a praça – disse o outro prontamente.
– Obrigado – respondeu Valentin e desapareceu como um duende. Do outro lado da segunda esquina, ele achou um policial e perguntou: – É urgente, policial! Não viu dois padres com chapéus de abas? O policial começou a gargalhar: – Vi, sim senhor! E, já que o senhor me pregunta, um deles tava bêbado. Ficou ali tonto, parado no meio da rua... – Para que lado eles foram? – interrompeu Valentin. – Pegaram um daqueles ônibus amarelo bem ali – respondeu o homem –, que depois vai pra Hampstead. Valentin mostrou seu distintivo e falou muito rápido: – Chame dois de seus homens para virem comigo em perseguição. E atravessou a rua com uma energia tão contagiante que o desajeitado policial foi movido por uma obediência quase ágil. Em um minuto e meio, o detetive francês estava acompanhado, do outro lado da calçada, por um inspetor e um policial à paisana. – Bem, senhor – disse o primeiro, com importância sorridente –, e o que podemos... Valentin apontou de repente com a bengala: – Vou lhe dizer a bordo daquele ônibus – disse ele correndo e esquivando-se em meio ao tráfego emaranhado. Quando os três desabaram ofegantes nos assentos do segundo andar do veículo amarelo, o inspetor disse: – A gente podia ir quatro vezes mais rápido num táxi. – É bem verdade – respondeu o líder com calma –, se tivéssemos pelo menos ideia de onde estamos indo. – Bom, mas aonde você está indo? – perguntou o outro, olhando-o espantado. Valentin fumou com um rosto sombrio por alguns segundos; depois, tirando o cigarro da boca, falou: – Se você sabe o que um homem está fazendo, chegue à frente dele, mas se você quer descobrir o que ele está fazendo, mantenha-se atrás dele. Perca-se quando ele se perder, pare quando ele parar, viaje tão devagar quanto ele. Então conseguirá ver o que ele viu e agir como ele agiu. O melhor a fazer é ficarmos atentos para alguma coisa estranha. – Que tipo de coisa estranha? – perguntou o inspetor. – Qualquer tipo de coisa estranha – respondeu Valentin e mergulhou num silêncio obstinado. O ônibus amarelo arrastou-se pelas ruas do norte da cidade pelo que pareceram horas a fio; o grande detetive não dava maiores explicações, e seus assistentes talvez estivessem sentindo uma dúvida crescente e silenciosa quanto à missão dele. Talvez, também, estivessem sentindo um desejo crescente e silencioso de almoçar, pois as horas se arrastaram muito além da hora normal de almoço. As longas avenidas dos subúrbios do norte de Londres pareciam se projetar quilômetro após quilômetro como um telescópio infernal. Era uma daquelas jornadas em que um homem sente todo o tempo que enfim chegou ao fim do universo, para depois descobrir que só chegou ao início do Parque Tufnell. Londres desapareceu em tabernas sujas e arbustos melancólicos e depois renasceu de forma enigmática em reluzentes avenidas e ruidosos hotéis. Foi como passar por treze cidades comuns, todas apenas se tocando. Embora o crepúsculo do inverno já estivesse ameaçando a estrada à frente deles, o detetive parisiense permaneceu sentado, silencioso e atento, olhando as fachadas das ruas que deslizavam de cada lado. Quando deixaram Camden Town para trás, os policiais estavam quase dormindo; ao menos, deram um pulo quando Valentin levantou-se, muito ereto, deu um tapinha no ombro de cada um e gritou para o motorista parar. Eles saltaram do degrau do ônibus para a rua sem entender por que haviam sido desalojados; quando olharam ao redor em busca de um esclarecimento, viram Valentin apontando triunfante em direção a uma janela do lado esquerdo da rua. Era uma janela grande, na longa fachada de uma hospedaria dourada e majestosa; era a parte reservada para jantares respeitáveis, denominada “Restaurant”. Essa janela, assim como toda a frente do hotel, era adornada com vidro jateado, mas no meio dela havia uma rachadura grande e preta, como uma estrela no gelo. – Afinal, nossa pista – gritou Valentin, agitando a bengala –, o lugar com a janela quebrada. – Que janela? Que pista? – perguntou seu assistente principal. – Por quê? Que prova há que isso tenha alguma coisa a ver com eles? Valentin quase quebrou sua bengala de bambu com raiva. – Prova! – ele gritou. – Meu bom Deus! O homem está procurando provas! Porque, é claro, as chances são de vinte para um que isso não tenha nada a ver com eles. Mas o que mais podemos fazer? Não vê que devemos seguir qualquer possibilidade absurda ou, do contrário, ir para casa? Ele entrou de maneira brusca no restaurante, seguido por seus companheiros, e logo estavam sentados para um almoço tardio a uma mesa pequena, olhando para a estrela no vidro quebrado. Embora aquilo não fosse muito informativo para eles. – Estou vendo que quebraram uma janela – disse Valentin para o garçom, quando pagou a conta. – Sim, senhor – respondeu o atendente, curvando-se com diligência sobre o pagamento, ao qual Valentin silenciosamente acrescentou uma generosa gorjeta. O garçom endireitou-se com discreta mas inconfundível animação. – Ah! Sim, senhor – disse. – Coisa muito estranha, aquilo, senhor. – É mesmo? Conte para nós – falou o detetive com despreocupada curiosidade. – Bem, dois senhores vestidos de preto entraram – disse o garçom. – Duas daquelas pessoas estranhas que andam por aí. Comeram tranquilos um lanche barato, um deles pagou e saiu. O outro já estava saindo para se juntar a ele quando olhei de novo o valor pago e descobri que haviam pago três vezes mais. “Ei!”, chamei o freguês que estava perto da porta, “o senhor pagou muito mais”. Ele disse bem calmo: “Ah! É mesmo?” Eu disse que sim e mostrei a conta a ele. Bem, aquilo foi um golpe. – O que você quer dizer? – perguntou seu interlocutor. – Bem, eu podia jurar sobre sete Bíblias que tinha colocado 4 xelins na conta. Mas então vi que tinha colocado 14 xelins, claro como água. – Sim? – gritou Valentin, movendo-se devagar, mas com olhos flamejantes. – E depois? – O senhor que estava na porta disse, muito sereno: “Desculpe por confundir suas contas, mas isso vai pagar pela janela”. Eu disse: “Que janela?”. Ele respondeu: “A que eu vou quebrar”, e bateu naquela vidraça abençoada com o guarda-chuva. Os três investigadores soltaram uma exclamação, e o inspetor sussurrou: – Estamos atrás de fugitivos malucos? O garçom prosseguiu com certa satisfação pela história ridícula: – Fui pego tão de surpresa que não pude fazer nada. O homem saiu daqui e se juntou ao amigo já quase na esquina. Depois eles subiram tão rápido a Bullock Street que não pude alcançá-los, apesar de eu ter contornado o balcão correndo. – Bullock Street – disse o detetive, e disparou pela rua tão rápido quanto a estranha dupla que perseguia. A jornada agora os conduziu por caminhos de tijolos aparentes, feito túneis; ruas com poucas luzes e igualmente poucas janelas; ruas que pareciam construídas nos espaços vazios por trás de todas as coisas e lugares. O anoitecer intensificava-se, e não era fácil nem mesmo para os policiais londrinos supor em que direção exata estavam caminhando. O inspetor, entretanto, estava certo de que poderiam eventualmente chegar à charneca Hampstead. De repente, uma vitrine com iluminação a gás quebrou o crepúsculo azul como uma claraboia, e Valentin parou um instante em frente a uma pequena e vistosa loja de doces. Após um instante de hesitação, ele entrou; ficou parado em meio às cores espalhafatosas da confeitaria na mais completa seriedade e comprou treze cigarros de chocolate com uma indubitável cautela. Estava, de forma clara, preparando um começo de conversa, mas não precisou preparar nada. Uma jovem balconista, envelhecida e magra, tinha saudado aquele homem elegante com uma simples indagação automática, mas, quando viu a porta atrás dele bloqueada com o uniforme azul do inspetor, seus olhos pareceram acordar. – Ah! – ela disse –, se vieram por causa do embrulho, eu já enviei. – Embrulho! – repetiu Valentin; e foi sua vez de olhar, questionando. – Quero dizer o embrulho que o cavalheiro esqueceu. O padre! – Por Deus – disse Valentin, inclinando-se para a frente com sua primeira confissão real de ansiedade –, pelo amor de Deus, conte-nos o que aconteceu.
– Bem – disse a mulher com certa dúvida –, os padres entraram faz uma meia hora, compraram balas de hortelã, conversaram um pouco e depois saíram na direção da charneca. Mas segundos depois um deles voltou correndo, entrou na loja e disse: “Esqueci um embrulho?” Bem, olhei em todos os lugares e não vi embrulho nenhum, então ele disse: “Não faz mal; mas se o embrulho aparecer, por favor, envie para este endereço”. E me deixou o endereço e um xelim pelo contratempo. E realmente, embora eu achasse que tinha olhado em todos os lugares, descobri que ele havia deixado um embrulho de papel pardo, então postei o embrulho para o lugar que ele falou. Não consigo me lembrar o endereço agora; era algum lugar em Westminster. Mas, como a coisa pareceu tão importante, pensei que talvez a polícia tenha vindo por causa disso. – Pois eles vieram – disse Valentin sucinto. – A charneca Hampstead fica perto daqui? – Exatos quinze minutos – disse a mulher. – Vão chegar na hora de abrir. Valentin saltou para fora da loja e começou a correr. Os outros detetives seguiram-no em um trote relutante. A rua onde tinham se enfiado era tão estreita e sombria que quando de repente saíram na via pública, deserta sob um amplo céu, espantaram-se de encontrar a noite ainda tão iluminada e clara. Uma cúpula verde-pavão perfeita afundava em ouro, no meio de árvores enegrecidas e um forte violeta. A tinta verde profundo era intensa o suficiente para revelar uma ou duas estrelas como pontinhos de cristal. Tudo que restou da luz do dia pousou em um resplendor dourado sobre a borda de Hampstead e sobre aquele vale popularmente chamado de Vale da Saúde. As pessoas que aproveitavam o fim de semana e passeavam na região ainda não haviam se dispersado por completo; alguns casais estavam sentados disformes nos bancos; aqui e ali uma menina ao longe ainda soltava gritinhos em um dos balanços. A glória do céu se intensificou e escureceu em torno da sublime mediocridade do homem; parado sobre o declive e olhando para o vale, Valentin contemplou aquilo que buscava. Entre os grupos escuros e dispersos naquela distância estava um especialmente escuro e não disperso – um grupo de duas figuras vestidas de clérigos. Embora parecessem pequenos como insetos, Valentin pôde ver que um deles era bem menor que o outro. Embora o outro tivesse um corpo de estudante e uma atitude insuspeita, ele notou que o homem tinha mais de um metro e oitenta de altura. Cerrou os dentes e seguiu em frente, rodopiando a bengala de modo impaciente. Quando reduziu de forma considerável a distância, e as duas figuras negras ficaram ampliadas como em um imenso microscópio, ele percebeu algo mais, algo que o surpreendeu e que de forma alguma havia suposto. Quem quer que fosse o padre alto, não poderia haver dúvida sobre a identidade do baixinho. Era seu amigo do trem de Harwich, o curé pequeno e roliço de Essex a quem havia advertido sobre os embrulhos de papel pardo. A essa altura, tudo se ajustava de forma bastante decisiva e racional. Valentin tinha descoberto por suas indagações, naquela manhã, que um certo Padre Brown de Essex trazia uma cruz de prata com safiras, relíquia de valor considerável, para mostrar a alguns dos padres estrangeiros no congresso. Sem dúvida era a “prata com pedras azuis”; e sem dúvida o Padre Brown era o homem simplório no trem. Não havia nada espantoso no fato de que Flambeau descobrira o que Valentin descobrira; afinal, Flambeau descobria tudo. Além disso, não havia nada espantoso no fato de que, quando Flambeau ouvisse falar na cruz de safira, tentasse roubá-la; isso era a coisa mais natural em toda a história natural. E ainda mais certo era que não houvesse nada espantoso no fato de Flambeau ter conseguido tudo isso à sua própria maneira, em se tratando do bobo cordeirinho com o guarda-chuva e os embrulhos. Ele era o tipo de homem que qualquer um poderia conduzir em uma corda até o Polo Norte; não era surpresa que um ator como Flambeau, vestido como outro padre, pudesse conduzi-lo para a charneca Hampstead. Até ali, o crime parecia bastante claro; e se por um lado o detetive lamentava a vulnerabilidade do padre, pelo outro quase desprezava Flambeau por se dignar a atacar uma vítima tão ingênua. Mas quando Valentin pensou em tudo que acontecera nesse meio-tempo, em tudo que o conduzira ao seu triunfo, exauriu seus miolos com os pequenos fatos inexplicáveis. O que o roubo de uma cruz azul e prateada de um padre de Essex tinha a ver com sopa atirada no papel de parede? O que isso tinha a ver com chamar laranjas de castanhas, ou com pagar por janelas antes e quebrá-las depois? Ele tinha chegado ao fim de sua perseguição, ainda que de alguma forma houvesse perdido o meio dela. Quando falhava (o que era raro), em geral tinha chegado à solução do enigma, embora perdesse o criminoso. Aqui ele havia chegado ao criminoso, mas ainda não conseguira chegar à solução do enigma. Os dois vultos que eles seguiam rastejavam como moscas pretas pelo grande contorno verde da montanha. Estavam, de forma evidente, imersos em conversações, e talvez não tivessem notado aonde estavam indo, mas com certeza rumavam ao cume mais silencioso e ermo da charneca. À medida que se aproximavam deles, seus perseguidores tiveram de adotar as atitudes indignas do caçador de cervos: armar o bote por detrás de capões de árvores e até mesmo rastejar na relva alta. Por meio dessas engenhosidades nada graciosas, os caçadores chegaram perto o suficiente da presa para ouvir os murmúrios da discussão, mas nenhuma palavra podia ser distinguida, a não ser a palavra “razão” evocada com frequência em uma voz aguda e quase infantil. Assim que alcançaram o topo de um abrupto declive e um denso emaranhado de moitas, os detetives efetivamente perderam os dois vultos de vista. Não encontraram o rastro de novo por dez agonizantes minutos, e isso os levou à borda do grande cume de uma montanha, com vista para um anfiteatro com um cenário de pôr do sol rico e desolador. Embaixo de uma árvore, nesse local grandioso ainda que negligenciado, havia um banco de madeira em ruínas. Nesse banco, estavam sentados os dois padres, imersos em sua calorosa conversação. O verde e o dourado ainda se uniam esplêndidos ao horizonte escurecido, mas o firmamento se transformava lentamente de verde-pavão em azul-pavão, e as estrelas destacavam-se cada vez mais como joias sólidas. Acenando em silêncio para os companheiros, Valentin rastejou por trás da árvore grande e cheia de galhos e lá, em silêncio mortal, escutou pela primeira vez as palavras dos estranhos padres. Depois de escutar por um minuto e meio, ele foi tomado por uma dúvida infernal. Talvez tivesse arrastado os dois policiais ingleses para o ponto mais ermo de uma charneca, à noite, em uma incumbência tão insensata como procurar figos em cardos. Porque os dois padres conversavam exatamente como padres, de forma respeitosa, com erudição e calma, sobre o mais abstrato enigma da teologia. O padre baixinho de Essex falava mais simples, com o rosto redondo virado para as estrelas intensificadas; o outro conversava com a cabeça curvada, como se não fosse digno o bastante para olhar. Mas não podia ser uma conversa mais inocente do que as que se ouve em qualquer convento italiano ou catedral negra espanhola. O que ele escutou primeiro foi a conclusão de uma frase de Padre Brown: – ... na verdade era isso que eles entendiam na Idade Média por “céus incorruptíveis”. O padre mais alto assentiu com a cabeça curvada e disse: – Ah! Sim, esses infiéis modernos apelam para a sua razão; mas quem seria capaz de olhar para aqueles milhares de mundos e não sentir que podem existir universos maravilhosos acima de nós, onde a razão é completamente irracional? – Não – disse o outro padre –, a razão é sempre racional, mesmo no último limbo, na fronteira perdida das coisas. Eu sei que as pessoas acusam a Igreja de desvalorizar a razão, mas na verdade é o contrário. Sozinha na Terra, a Igreja torna a razão realmente suprema. Sozinha na Terra, a Igreja afirma que o próprio Deus é limitado pela razão. O outro padre ergueu a face austera para o céu cintilante e disse: – Além disso, quem sabe se naquele universo infinito?... – Infinito apenas fisicamente – disse o pequenino padre, voltando-se com energia em seu banco –, não infinito no senso de escapar das leis da verdade. Valentin, atrás da árvore, roía as unhas com fúria silenciosa. Teve a impressão de quase escutar o riso abafado dos detetives ingleses, que levara tão longe em uma suposição fantástica, só para ouvir o mexerico metafísico de dois párocos velhos e gentis. Em sua impaciência, perdeu a resposta igualmente elaborada do padre alto. Quando escutou de novo, outra vez era o Padre Brown quem estava falando: – Razão e justiça controlam a estrela mais remota e solitária. Olhe para aquelas estrelas. Não parecem safiras e diamantes solitários? Bem, você pode imaginar qualquer maluquice botânica ou geológica que lhe agrade. Pensar em florestas de adamantino com folhas de brilhantes. Pensar que a lua é uma lua azul, uma enorme safira solitária. Mas não acredite que toda essa astronomia fanática possa fazer a mínima diferença para a razão e a justiça de conduta. Em planícies de opala, abaixo de penhascos cunhados em pérola, você ainda encontraria um aviso no mural: “Não roubarás”. Valentin estava prestes a sair de sua postura agachada e tensa para rastejar tão suave quanto possível, frustrado com o maior desatino de sua vida. Mas alguma coisa no silêncio do padre alto o fez esperar até ele falar. Por fim ele disse, com simplicidade, a cabeça curvada e as mãos nos joelhos: – Bem, ainda acho que talvez outros mundos possam ir além da nossa razão. O mistério do céu é insondável, e eu, como indivíduo, posso apenas curvar minha cabeça. Depois, com o semblante ainda inclinado e sem mudar nem pela mais tênue sombra a postura nem a voz, acrescentou: – Pode me passar a cruz de safiras, certo? Estamos sozinhos aqui. Posso lhe estraçalhar como uma boneca de palha. A voz e o comportamento completamente inalterados acrescentaram uma violência estranha àquela mudança chocante de discurso. Mas o guardião da relíquia apenas girou a cabeça um pequeno intervalo de circunferência. Seu rosto meio tolo parecia continuar olhando as estrelas. Talvez não tivesse entendido. Ou talvez tivesse entendido e permanecido sentado, rígido de terror. – Sim – disse o padre alto, na mesma voz baixa e ainda na mesma postura –, sim, eu sou Flambeau. Depois, após uma pausa, ele falou: – Vamos, não vai me dar a cruz? – Não – disse o outro, e o monossílabo teve um som estranho. Flambeau de repente abandonou todas as pretensões pontificais. O grande ladrão inclinou-se para trás em seu banco e gargalhou baixinho, mas longamente. – Não – gritou ele –, não vai me dar, seu prelado arrogante. Não vai me dar, seu celibatariozinho simplório. Posso dizer por que não vai me entregar? Porque já estou com ela aqui no meu bolso. O homenzinho de Essex virou o que pareceu ser um rosto atordoado ao cair da noite e disse, com a ansiedade tímida de O secretário particular.[2] – Tem... tem certeza? Flambeau gritou com deleite: – De fato, você é tão bom quanto uma farsa de três atos – gritou ele. – Sim, seu nabo, tenho certeza absoluta. Eu tive o bom senso de fazer uma réplica do embrulho certo. Agora, meu amigo, você tem a réplica e eu tenho as joias. Um velho artifício, Padre Brown, um velho artifício. – Sim – disse Padre Brown, e passou a mão no cabelo com o mesmo estranho jeito impreciso. – Sim, já ouvi falar nisso antes.
O colosso do crime inclinou-se sobre o rústico padrezinho com um quê de interesse repentino. – Ouviu falar nisso? – ele perguntou. – Onde ouviu falar? – Bem, não devo contar o nome dele, é claro –, disse de maneira simples o homenzinho. – Ele era um penitente, sabe? Viveu de forma próspera por cerca de vinte anos, tudo a partir de embrulhos de papel pardo duplicados. E então, veja, quando comecei a suspeitar de você, pensei logo no método medíocre do sujeito fazer isso. – Começou a suspeitar de mim? – repetiu o fora da lei com intensidade crescente. – Teve mesmo a presença de espírito de suspeitar de mim só porque eu lhe trouxe para esta parte isolada da charneca? – Não, não – disse Brown como quem se desculpa –, veja bem, suspeitei de você logo que nos conhecemos. Aquela pequena saliência na manga no lugar que vocês têm um bracelete com pontas. – Como! – gritou Flambeau. – Como é que você ouviu falar no bracelete com pontas? – Ah, nosso pequeno rebanho, sabe? – disse Padre Brown, arqueando as sobrancelhas de forma um pouco vaga. – Quando eu era cura na cidade de Hartlepool, havia três deles com braceletes com pontas. Então, como suspeitei de você desde o início e você não notou, me certifiquei de que a cruz ficasse a salvo. Receoso, eu o vigiei, sabe? Então finalmente vi você trocar os embrulhos. Depois troquei os embrulhos outra vez sem você notar. E então deixei o certo para trás. – Deixou para trás? – repetiu Flambeau, e pela primeira vez havia outro sinal na voz além de triunfo. – Bem, foi assim – disse o pequenino padre, falando do mesmo modo inalterado. – Voltei para a loja de doces e perguntei se não tinha deixado um embrulho e dei um endereço particular para o caso de o embrulho aparecer. Bem, eu sabia que não tinha deixado, mas, quando saí dali de novo, aí sim, deixei. Então, em vez de correrem atrás de mim com aquele embrulho valioso, o remeteram voando para meu amigo em Westminster. – Em seguida acrescentou, meio triste: – Também aprendi isso com um pobre camarada em Hartlepool. Ele costumava fazer isso com bolsas que roubava nas estações de trem, mas está em um mosteiro agora. A gente fica sabendo, sabe – acrescentou, esfregando a cabeça outra vez com o mesmo tipo de apologia desesperada. – Não temos culpa de ser padres. As pessoas vêm e nos contam essas coisas. Flambeau arrancou o embrulho de papel pardo do bolso interno e o dilacerou. Não havia nada além de papel e bastões de chumbo dentro. Ficou de pé num pulo gigantesco e gritou: – Não acredito em você. Não acredito que um matuto como você tenha planejado tudo isso. Acredito que a coisa ainda está aí. Se você não me entregar... ora, estamos sozinhos, e pegarei ela à força! – Não – limitou-se a dizer Padre Brown, levantando-se também –, você não vai pegar nada à força. Em primeiro lugar, porque eu de fato não estou mais com ela. E, segundo, porque não estamos sozinhos. Flambeau interrompeu seu passo à frente. – Atrás daquela árvore – falou Padre Brown, apontando –, estão dois policiais fortes e o melhor detetive vivo. Quer saber como eles chegaram aqui? Ora, eu os trouxe, claro! Como fiz isso? Ora, eu vou contar se você desejar! Deus lhe abençoe, temos que saber vinte tipos de coisas quando trabalhamos entre as classes criminosas! Bem, eu não tinha certeza de que você era um ladrão, e não é nem um pouco recomendável fazer um escândalo contra alguém do nosso próprio clero. Então só o testei para ver se alguma coisa o induzia a se mostrar. Um homem, em geral, faz uma pequena cena se descobre sal em seu café, se não faz, tem alguma razão para permanecer quieto. Troquei o sal e o açúcar, e você permaneceu calado. Um homem, em geral, contesta se sua conta é três vezes maior. Se ele paga, tem algum motivo para querer passar despercebido. Alterei sua conta, e você pagou. O mundo parecia esperar Flambeau saltar como um tigre. Mas ele se conteve, como por encanto, atordoado por uma curiosidade extrema. – Bem – continuou Padre Brown, com lucidez inconveniente –, como você não deixaria nenhuma pista para a polícia, é claro que alguém teria que fazer isso. Em todos os lugares que fomos, tive o cuidado de fazer algo que nos tornasse falados pelo resto do dia. Não causei muitos prejuízos: uma parede respingada, maçãs derrubadas, uma janela quebrada; mas salvei a cruz, como a cruz sempre será salva. Ela está em Westminster agora. Fico pensando por que você não a parou com o Assobio de Burro. – Com o quê? – perguntou Flambeau. – Estou feliz que você nunca tenha ouvido falar nisso – disse o padre, fazendo uma careta. – É um golpe baixo. Tenho certeza que você é um homem muito bom para ser um Assobiador. Nem mesmo com as Pintas eu poderia ter impedido isso. Não sou forte o suficiente nas pernas. – Do que diabos você está falando? – perguntou o outro. – Bem, eu pensei que você conhecesse as Pintas – disse Padre Brown, com agradável surpresa. – Ah, você não podia mesmo já estar tão desencaminhado! – Como é que você conhece todos esses golpes horríveis? – gritou Flambeau. A sombra de um sorriso perpassou o rosto simples e arredondado do seu oponente clerical. – Ah, sendo um celibatário simplório, suponho – ele disse. – Nunca imaginou que um homem que não faz quase nada além de escutar pecados verdadeiros dificilmente seria um completo ignorante sobre a maldade humana? Mas, na verdade, outra parte do meu ofício também me fez ter certeza de que você não era padre.
– O quê? – perguntou o ladrão boquiaberto. – Você atacou a razão – disse Padre Brown. – Isso é má teologia. E assim que ele se virou para apanhar seus pertences, os três policiais saíram de baixo das árvores do crepúsculo. Flambeau era artista e esportista. Recuou e fez uma grande reverência a Valentin. – Não me reverencie, mon ami – disse Valentin, com sutileza prateada. – Façamos nós dois uma reverência a nosso mestre. E os dois ficaram um instante sem chapéu, enquanto o pequenino padre de Essex corria o olhar ao redor, atrás de seu guarda-chuva.
[1] Provável referência ao imperador alemão Guilherme II, considerado na época o “homem mais interessante da Europa”. (N.T.)
[2] The Private Secretary, peça teatral de três atos, escrita por Sir Charles Henry Hawtrey (1858-1923). (N.T.)
O JARDIM SECRETO
Aristide Valentin, o chefe da polícia parisiense, estava atrasado para o jantar, e alguns de seus convidados começaram a chegar antes dele. Estes eram, entretanto, tranquilizados pelo criado de confiança, Ivan, um velho com uma cicatriz no rosto quase tão gris quanto o bigode, sempre sentado à mesa do saguão – um saguão repleto de armas nas paredes. A casa de Valentin, ao que parece, era tão especial e afamada quanto o seu dono. Era uma casa antiga, com muros altos e álamos imponentes quase debruçados sobre o Sena, mas a singularidade – e talvez o valor policial – de sua arquitetura era esta: a de não haver outra saída exceto pela porta da frente, vigiada por Ivan e a coleção de armas. O jardim era amplo e bem cuidado, e havia muitas saídas da casa para o jardim. Mas não havia qualquer saída do jardim para o mundo lá fora; por toda a sua volta corria um muro alto, liso, impossível de escalar, com curiosos espigões no topo – bom jardim, talvez, para alguém ponderar sobre quem seria o homem jurado de morte por centenas de criminosos. Conforme Ivan explicava para os convidados, o anfitrião telefonara avisando que chegaria dez minutos atrasado. Ele estava, na verdade, tomando as últimas providências relativas a execuções e outras coisas desagradáveis e, embora esses deveres lhe causassem uma repulsa visceral, sempre os executava com precisão. Impiedoso na perseguição dos criminosos, era muito brando quanto às punições. Desde que sua vontade começara a imperar sobre os métodos policiais franceses – e, em boa medida, sobre os métodos europeus –, sua grande influência vinha sendo usada com dignidade para mitigar sentenças e purificar prisões. Ele era um dos grandes livrespensadores humanitários franceses; e a única coisa errada com eles é que tornam a piedade ainda mais fria que a justiça. Quando Valentin chegou, já vestia um terno preto com rosa vermelha na lapela – presença elegante, a barba escura já riscada de prata. Atravessou a casa direto para o gabinete, nos fundos. A porta do gabinete que dava para o jardim estava aberta, e, depois de trancar com cuidado sua caixa no lugar oficial, ele permaneceu alguns segundos admirando o jardim. Uma lua fulgente lutava com os velozes andrajos de uma tempestade, e Valentin fitou-a com melancolia incomum para índoles científicas como a dele. Talvez tais índoles científicas tenham certa premonição psíquica do mais tremendo problema de suas vidas. De tal humor misterioso, ao menos, ele rápido se restabeleceu, pois sabia que estava atrasado e que os convidados já estavam chegando. Ao entrar na sala, uma olhada foi suficiente para se certificar de que o principal convidado não estava lá. Viu todos os outros pilares do pequeno grupo: viu Lorde Galloway, o embaixador inglês – um velho colérico de rosto vermelho como uma maçã, envergando a fita azul da Ordem da Jarreteira. Viu Lady Galloway, esguia e delgada como um fio, com cabelo prateado e um rosto delicado e esnobe. Viu a filha dela, Lady Margaret Graham, uma moça linda e pálida, com rosto de fada e cabelo cor de cobre. Viu a duquesa de Mont St. Michel, de olhos negros e opulenta, e com ela as duas filhas, também de olhos negros e opulentas. Viu o dr. Simon, o típico cientista francês, de óculos, barba castanha pontuda e testa vincada com aquelas rugas paralelas que são o custo do desdém, pois surgem da elevação constante das sobrancelhas. Viu o Padre Brown, de Cobhole, Essex, a quem havia conhecido há pouco na Inglaterra. Viu – talvez com mais interesse do que o que dispensara aos outros – um homem alto de uniforme, que se curvara para os Galloway sem receber em troca uma acolhida muito calorosa, e que, naquele instante, dirigia-se sozinho para cumprimentar o seu anfitrião. Era o comandante O’Brien, da Legião Estrangeira Francesa. Um tipo elegante, mas com ares um tanto afetados, barba feita, cabelos escuros e olhos azuis, e, como seria natural em um oficial desse regimento famoso por fracassos vitoriosos e suicídios bemsucedidos, seu jeito era ao mesmo tempo enérgico e melancólico. Era cidadão irlandês de nascimento e ainda garoto tinha conhecido os Galloway – mais particularmente, Margaret Graham. Abandonara seu país após problemas financeiros e agora expressava o total desprezo pela etiqueta britânica ao desfilar de uniforme, sabre e esporas. Quando fez uma reverência para a família do embaixador, Lorde e Lady Galloway se curvaram cerimoniosos, e Lady Margaret desviou o olhar. Mas quaisquer que fossem as velhas causas que pudessem levar essas pessoas a se interessar umas pelas outras, o distinto anfitrião não estava nem um pouco interessado nelas. Ao menos, nenhum deles era a seus olhos o convidado da noite. Valentin esperava, por razões especiais, um homem de fama universal, cuja amizade granjeara durante algumas de suas grandes glórias e viagens como detetive nos Estados Unidos. Esperava Julius K. Brayne, o multimilionário cujas doações colossais e quase esmagadoras a pequenas religiões tinham proporcionado tanto divertimento fácil e solenidade ainda mais fácil aos jornais americanos e ingleses. Na verdade, ninguém poderia adivinhar se o sr. Brayne era ateu, mórmon ou cientista-cristão; mas estava pronto para despejar dinheiro em qualquer recipiente intelectual, desde que fosse um recipiente ainda não experimentado. Um de seus passatempos era esperar pelo Shakespeare americano – passatempo que exigia mais paciência que a pesca à linha. Admirava Walt Whitman, mas considerava Luke P. Tanner, de Paris, Pensilvânia, mais “progressista” que Whitman. Ele apreciava tudo que considerava “progressista”. Ele considerava Valentin “progressista”, cometendo assim uma grave injustiça. O aparecimento maciço de Julius K. Brayne no recinto foi tão decisivo quanto um sino de jantar. Ele tinha esta importante qualidade, que pouquíssimos de nós podem alegar ter: que sua presença era tão grande quanto a sua ausência. Era um cidadão enorme, tão gordo quanto alto, com um traje de noite preto, sem nada para contrastar, nem corrente de relógio ou anel. O cabelo era branco e bem escovado para trás, como o de um alemão; o rosto era vermelho, feroz e angelical, com um tufo escuro sob o lábio inferior, que transmitia àquela aparência de outra forma infantil um toque teatral e até mesmo mefistofélico. Não por muito tempo, porém, o salon ficou imóvel diante do celebrado americano; seu atraso já tinha se tornado um problema doméstico, e ele foi conduzido o mais rápido possível até a sala de jantar, dando o braço a Lady Galloway. Exceto por um detalhe, os Galloway foram bastante amáveis e casuais. Contanto que Lady Margaret não aceitasse o braço daquele aventureiro do O’Brien, o pai dela estaria satisfeito; e ela não fez isso, e sim acompanhou, com muito decoro, o dr. Simon. Entretanto, o velho Lorde Galloway estava inquieto e quase grosseiro. No jantar, foi bastante diplomático, mas quando, durante os charutos, três dos homens mais jovens – Simon, o médico, Brown, o padre, e O’Brien, o pernicioso exilado de uniforme estrangeiro – todos sumiram para se misturar com as senhoras ou para fumar no jardim de inverno, então o diplomata inglês realmente perdeu a diplomacia. Era perseguido a cada sessenta segundos pelo pensamento de que o vigarista do O’Brien podia estar fazendo sinais para Margaret de alguma forma; ele nem tentava pensar como. Foi deixado durante o café com Brayne, o ianque de cabelo branco que acreditava em todas as religiões, e Valentin, o francês grisalho que não acreditava sequer em uma. Eles podiam discutir um com o outro, mas nenhum dos dois era capaz de atrair a atenção de Galloway. Após certo tempo, essa controvérsia “progressista” alcançou o ápice do tédio; Lorde Galloway levantou-se também e procurou a sala de estar. Ele se perdeu em corredores compridos por cerca de seis a oito minutos, até que escutou a voz alta e didática do doutor, e então a voz monótona do padre, seguida de uma risada geral. Eles também, pensou soltando uma praga, provavelmente discutiam “ciência e religião”. Mas no momento em que abriu a porta do salon viu só uma coisa – o que não estava lá. Viu que o comandante O’Brien não estava lá, e que Lady Margaret também não. Erguendo-se impaciente da sala de estar, a exemplo do que fizera na sala de jantar, saiu batendo pé pelo corredor uma vez mais. A ideia de proteger sua filha daquele inútil argeliano-irlandês tornara-se crucial e mesmo obsessiva em sua cabeça. Ao rumar para os fundos da casa, onde ficava o gabinete de Valentin, surpreendeu-se ao encontrar a filha, que passou por ele como um raio, com o rosto branco e zombador, o que constituía um segundo enigma. Se ela estivera com O’Brien, onde estava O’Brien? Se não estivera com O’Brien, onde estivera? Com uma suspeita um tanto senil e apaixonada, foi tateando em direção aos quartos escuros dos fundos da mansão, até encontrar um correder de serviço que dava para o jardim. A lua com sua cimitarra havia ceifado e levado todos os destroços da tempestade. A luz de argento iluminava os quatro cantos do jardim. Um vulto alto, vestido de azul, caminhava a passos largos pelo gramado em direção à porta do gabinete; o reflexo prateado da lua no uniformeidentificou-o como o comandante O’Brien. Ele sumiu portas de vidro adentro, deixando Lorde Galloway num estado de humor indescritível, ao mesmo tempo virulento e indefinido. O jardim azul e prata como o cenário de um teatro pareceu escarnecer dele, com toda aquela ternura tirana contra a qual sua autoridade mundana estava em pé de guerra. O tamanho e a elegância das passadas do irlandês enfureceram-no como se ele fosse rival e não pai; o luar enlouqueceu-o. Foi envolvido como por mágica no interior de um jardim de trovadores, na terra encantada de Watteau, e, disposto a se livrar dessas tolices amorosas pela fala, seguiu o inimigo sem perda de tempo. Ao fazer isso, tropeçou em algum toco ou pedra na grama; olhou para baixo, a princípio, com irritação e, num segundo momento, com curiosidade. No instante seguinte, a lua e os imponentes álamos testemunharam uma rara visão: um velho diplomata inglês correndo enquanto gritava – ou berrando enquanto corria. Os gritos roucos atraíram à porta do gabinete o rosto pálido, os óculos brilhantes e o cenho preocupado do dr. Simon, que ouviu as primeiras palavras inteligíveis do fidalgo. Lorde Galloway gritava: – Um corpo na grama... um corpo ensanguentado! Enfim, O’Brien desaparecera por completo de sua mente. – Precisamos avisar logo Valentin – disse o doutor, enquanto o outro narrava de forma desconexa tudo o que havia ousado observar. – Sorte ele estar por aqui – e, no momento em que falava, o grande detetive entrou no gabinete, atraído pelo grito. Era quase divertido notar sua típica transformação; ele tinha vindo com a preocupação normal de anfitrião e cavalheiro, temendo que algum convidado ou empregado estivesse doente. Quando lhe contaram o fato sangrento, o semblante modificou-se de imediato, adquirindo uma circunspeção inteligente e profissional; afinal, esse, embora rude e horrível, era o seu trabalho. – Estranho, cavalheiros – disse, enquanto saíam depressa para o jardim –, que eu tenha perseguido mistérios em todos os cantos do planeta e agora chega um e se instala no meu próprio jardim. Mas onde é mesmo o local? Cruzaram a relva com menos facilidade, pois uma neblina leve começara a subir do rio, mas, sob a orientação do perturbado Galloway, encontraram o corpo atolado na grama funda: o corpo de um homenzarrão de ombros largos. Estava deitado de barriga para baixo, de modo que só apareciam os ombros volumosos vestidos de preto e a grande careca, com uns poucos tufos de cabelo castanho aderidos ao crânio como algas marinhas. Uma serpente escarlate de sangue rastejava por baixo do rosto prostrado. – Pelo menos – disse Simon, com entonação profunda e singular – não é ninguém de nosso grupo. – Examine-o, doutor – gritou Valentin, categórico. – Pode ser que não esteja morto.
O doutor inclinou-se. – Ele não está gelado, mas acho que está morto sim – respondeu. – Me ajudem a erguê-lo. Ergueram com cuidado o corpo a três centímetros do chão, e todas as dúvidas sobre ele estar mesmo morto foram dirimidas imediata e assustadoramente. A cabeça caiu. Tinha sido decepada do corpo; seja lá quem fosse o autor do corte na garganta, dera um jeito de atorar o pescoço junto. Até mesmo Valentin ficou ligeiramente impressionado. – Ele deve ter usado a força de um gorila – murmurou. Não sem um calafrio, embora estivesse acostumado a monstruosidades anatômicas, o dr. Simon levantou a cabeça. Estava um pouco lanhada na altura do pescoço e do maxilar, mas não apresentava maiores ferimentos. Era um rosto canhestro, amarelo, ao mesmo tempo encovado e inchado, com nariz de falcão e pálpebras pesadas – o rosto de um perverso imperador romano com, talvez, uma pitada de imperador chinês. Ao que parece, todos os presentes olharam aquilo com o mais gélido olhar da ignorância. Nada mais pôde ser notado sobre o homem, exceto que, na hora em que ergueram o corpo, vislumbraram embaixo dele o brilho branco da camisa desfigurado pelo brilho vermelho do sangue. Como bem disse o dr. Simon, aquele homem não era nenhum dos presentes à janta. Mas poderia ter sido, sim, um dos convidados, pois estava trajado para ocasiões sociais. Valentin, engatinhando, passou a examinar a grama e a terra com a mais estrita atenção profissional num perímetro de vinte metros ao redor do cadáver, contando com a ajuda pouco hábil do doutor e com a ajuda muito dispersiva do lorde inglês. Nada recompensou seus esforços rastejantes, exceto alguns galhos, partidos ou cortados em diminutos pedaços, que Valentin erguia para um breve exame e então descartava. – Galhos – disse, sério. – Galhos e um completo desconhecido com a cabeça decepada; nada mais se encontra nesta grama. Houve uma quietude quase arrepiante, e então o transtornado Galloway gritou de forma violenta: – Quem vem lá? Perto do muro do jardim? Um pequenino vulto de cabeça estupidamente grande aproximava-se, vacilante, na neblina enluarada; por um instante pareceu um duende, mas acabou sendo o padre baixinho e inofensivo que havia sido deixado na sala de estar. – Pelo que vejo – disse ele, tímido –, este jardim não tem portões de saída. As sobrancelhas negras de Valentin uniram-se de modo rabugento, como se uniam, por questão de princípios, à vista de uma batina. Mas ele era um homem justo demais para negar a relevância daquele comentário. – O senhor está certo – disse ele. – Antes de esclarecermos como ele foi morto, precisamos descobrir como ele chegou aqui. Agora me escutem, cavalheiros. Para que isso possa ser feito sem prejudicar a minha posição e o meu trabalho, devemos todos concordar em deixar certos nomes ilustres fora disso. Cavalheiros, temos as senhoras e um embaixador estrangeiro. No momento em que for registrada a ocorrência do crime, terá início uma investigação criminal. Mas, enquanto isso, posso usar minha própria discrição. Sou o chefe da polícia; sou tão público que posso me dar ao luxo de ser privado. Por Deus, vou inocentar cada um dos meus convidados antes de chamar meus homens para investigar outras pessoas. Cavalheiros, pela honra de cada um dos senhores, ninguém vai deixar esta casa antes de amanhã ao meio-dia; há quartos para todos. Simon, acho que o senhor sabe onde encontrar meu criado, Ivan, no saguão de entrada; é um homem de minha total confiança. Diga-lhe para deixar outro empregado cuidando da segurança e vir imediatamente falar comigo. Lorde Galloway, o senhor sem dúvida é a pessoa mais indicada para contar às senhoras o que aconteceu e evitar o pânico. Elas também devem permanecer na casa. Padre Brown e eu ficaremos com o cadáver. Quando esse espírito de capitão falava em Valentin, ele era obedecido como o toque de uma corneta. O dr. Simon foi até a coleção de armas e encaminhou as ordens a Ivan, o detetive particular do detetive público. Galloway foi à sala de estar e contou as terríveis novas com bastante cuidado, de forma que, quando o grupo reuniu-se na sala de novo, as senhoras estavam estarrecidas, mas acalmadas. Entrementes, o bom padre e o bom ateu permaneciam imóveis sob o luar, um à cabeça e o outro ao pé do homem morto, como estátuas simbólicas de dois modos distintos de entender a morte. Ivan, o homem de confiança com cicatriz e bigode, saiu da casa como uma bala de canhão e veio correndo pela grama até Valentin como um cão para o seu dono. O rosto lívido estava bem vivo com o fulgor daquela história doméstica de detetive, e foi com uma ansiedade quase desagradável que ele pediu licença ao patrão para examinar os restos mortais. – Tudo bem, pode olhar se quiser, Ivan – disse Valentin –, mas não demore. Precisamos entrar e destrinchar isso na casa. Ivan ergueu a cabeça e então quase a deixou cair. – Minha nossa – resfolegou –, não... não pode ser. Conhece este homem, sir? – Não – disse Valentin, indiferente –, é melhor entrarmos. Carregaram o cadáver até o sofá do gabinete e depois foram para a sala de estar. O detetive sentou-se à mesa em silêncio, com hesitação até, mas tinha o olhar férreo de um juiz presidindo o tribunal. Tomou algumas notas no papel à sua frente e então disse de forma sucinta: – Está todo mundo aqui? – Menos o sr. Brayne – disse a duquesa de Mont St. Michel, olhando em volta. – Sim – disse Lorde Galloway numa voz rouca e rude. – E falta também o sr. Neil O’Brien, imagino. Vi esse cavalheiro passeando no jardim quando o corpo ainda estava quente. – Ivan – disse o detetive –, traga o comandante O’Brien e o sr. Brayne. O sr. Brayne, pelo que sei, está terminando um charuto na sala de jantar; o comandante O’Brien, penso eu, está andando para lá e para cá no jardim de inverno. Não tenho certeza. O fiel ajudante sumiu da sala e, antes que alguém pudesse falar ou se mexer, Valentin retomou a palavra, com a mesma vivacidade de explanação de um militar. – Todos aqui sabem que um homem foi encontrado morto no jardim, decapitado. Dr. Simon, o senhor o examinou. O senhor acha que, para cortar a garganta de um homem daquela forma, seria necessária muita força? Ou talvez apenas uma faca bem afiada? – Acho que é impossível aquilo ser obra de uma faca – falou o pálido doutor. – Tem alguma ideia – recomeçou Valentin – do tipo de instrumento com o qual seria possível fazer aquilo? – Falando no âmbito das probabilidades modernas, confesso que não – disse o doutor, arqueando as sobrancelhas atentas. – Não é fácil atorar um pescoço, mesmo de forma tosca, e esse foi um corte bem liso. Poderia ter sido feito com uma acha de armas, um antigo machado de carrasco ou uma espada antiga que se maneja com as duas mãos. – Mas, minha nossa! – gritou a duquesa, quase histérica. – Não há nem espadas deste tipo nem achas de armas por aqui. Valentin continuava ocupado com o papel à sua frente. – Me diga – disse, ainda escrevendo célere –, poderia ter sido feito com um sabre comprido da cavalaria francesa? Uma batida fraca na porta, por alguma razão irracional, foi suficiente para gelar o sangue de todos os presentes, como aquela batida na porta em Macbeth. Em meio àquele silêncio glacial, o dr. Simon conseguiu falar: – Um sabre... sim, imagino que sim. – Obrigado – falou Valentin. – Entre, Ivan. O confiável Ivan abriu a porta e procedeu à entrada do comandante Neil O’Brien, a quem enfim encontrara andando pelo jardim outra vez. O oficial irlandês parou, desconcertado e desafiador, na soleira da porta. – O que quer de mim? – gritou. – Sente-se, por favor – pediu Valentin, num tom de voz agradável e equilibrado. – Ora, o senhor não está portando sua espada. Onde ela está? – Deixei-a na mesa da biblioteca – respondeu O’Brien, realçando o sotaque irlandês devido ao humor alterado. – Era um transtorno, estava ficando... – Ivan – chamou Valentin –, por favor, vá até a biblioteca e traga a espada do comandante. – Em seguida, tão logo o empregado saiu: – Lorde Galloway disse que viu o senhor deixando o jardim pouco antes de o corpo ser encontrado por ele. O que o senhor estava fazendo no jardim? O comandante deixou-se cair desleixado numa poltrona. – Ah – gritou ele, em irlandês puro –, admirando o luarr. Comungando com a naturreza, meu garroto. Um silêncio mortal dominou o ambiente e perdurou até se ouvir de novo aquela batidinha na porta, trivial e terrível. Ivan reapareceu, carregando uma bainha de aço vazia. – Isto foi tudo que pude encontrar – informou. – Coloque na mesa – ordenou Valentin, sem erguer os olhos. Seguiu-se um silêncio cruel na sala, cruel como aquele mar de silêncio ao redor do banco de um réu condenado por assassinato. As exclamações fracas da duquesa tinham há muito se esvaído. O ódio desmedido de Lorde Galloway estava satisfeito e até mesmo apaziguado. A voz que se ouviu foi de todo inesperada. – Acho que posso contar a todos – começou Lady Margaret, naquela voz clara e agitada com que as mulheres corajosas falam em público. – Posso contar o que o sr. O’Brien fazia no jardim, já que ele está determinado a se calar. Ele me pediu em casamento. Eu recusei; disse que, nas atuais circunstâncias de minha família, não poderia lhe oferecer nada, além de meu respeito. Ele ficou um pouco decepcionado, pareceu não dar muito valor ao meu respeito. Me pergunto – acrescentou ela, com um sorriso um tanto lânguido – se ele daria alguma importância ao meu respeito agora. Porque agora eu o ofereço. Juro de pés juntos que ele não fez uma coisa dessas. Lorde Galloway achegou-se à filha e passou a intimidá-la no que imaginava ser meia-voz. – Cale a boca, Maggie – disse ele, num sussurro de trovão. – O que você ganha protegendo esse homem? Onde está a espada dele? Onde estão os malditos apetrechos... Ele parou devido ao modo inusitado com que a filha o mirava, um olhar que teve o efeito de um ímã assustador em todo o grupo. – Seu velho estúpido! – disse, em voz baixa, sem afetar piedade. – O que o senhor está tentando provar? Eu já disse, esse homem é inocente, pois estava comigo. Mas, mesmo que não fosse inocente, ainda assim, esteve sempre comigo. Se ele matou alguém no jardim, quem deveria ter visto... quem deveria pelo menos estar sabendo? O senhor odeia Neil tanto assim a ponto de colocar a sua própria filha... Lady Galloway deu um grito. Todos os demais tiritaram à lembrança de tragédias satânicas entre amantes no passado. Enxergaram o rosto lívido e orgulhoso da aristocrata escocesa e o amante dela, o aventureiro irlandês, como retratos antigos numa casa escura. O longo silêncio estava repleto de vagas reminiscências de maridos assassinados e amantes venenosas.
Em meio ao silêncio mórbido, uma voz cândida disse: – Era um charuto muito comprido? A mudança de raciocínio foi tão brusca que todos tiveram de procurar ao redor para descobrir quem tinha falado. – Quero dizer – continuou o pequeno Padre Brown, no canto da sala –, o tal charuto que o sr. Brayne está terminando. Parece tão comprido como uma bengala. Apesar da irrelevância, quando Valentin ergueu a cabeça, havia tanto aquiescência quanto irritação em seu rosto. – Bem lembrado – comentou, categórico. – Ivan, localize o sr. Brayne de novo e traga-o aqui imediatamente. No momento em que o faz-tudo fechou a porta, Valentin dirigiu-se à moça com uma honestidade antes não demonstrada. – Lady Margaret – disse ele –, todos sentimos, tenho certeza, gratidão e simpatia por sua altivez em explicar a conduta do comandante. Mas ainda permanece uma lacuna. Lorde Galloway, pelo que entendi, encontrou-a indo do gabinete para a sala de estar. Só alguns minutos depois ele conseguiu encontrar o jardim e o comandante ainda caminhando por lá. – O senhor deve lembrar – retorquiu Margaret, com tênue ironia na voz – que eu tinha acabado de rejeitá-lo, então dificilmente íamos voltar de braços dados. Ele é um cavalheiro, bem ou mal; e ficou para trás, matando tempo... e assim conseguiu ser acusado de assassinato. – Naqueles breves momentos – disse Valentin, com seriedade –, ele poderia, de fato... De novo a batidinha, e Ivan enfiou seu rosto marcado pela porta: – Perdoe-me, sir – disse ele –, mas o sr. Brayne não está mais na casa. – Não está! – gritou Valentin, e pela primeira vez se ergueu. – Sumiu. Evaporou. Escafedeu-se – replicou Ivan, num francês cômico. – O chapéu e o sobretudo se foram, também, mas tenho mais uma coisa para contar, para coroar tudo isso. Corri para fora da casa na tentativa de encontrar alguma pista dele e encontrei uma, e aliás, que pista! – Que quer dizer? – indagou Valentin. – Vou mostrar – disse o criado, e reapareceu com um reluzente sabre de cavalaria sem bainha, manchado de sangue na ponta e no fio. Todos na sala fitaram aquilo como se aquilo fosse um relâmpago, mas o experiente Ivan continuou, calmíssimo: – Encontrei isto – disse ele – atirado no meio das moitas a uns cinquenta metros daqui, na estrada que vai a Paris. Em outras palavras, encontrei-o no exato lugar onde o honorável sr. Brayne o jogou durante a fuga. Houve outro silêncio, mas de um tipo novo. Valentin pegou o sabre, examinou-o, refletiu com inabalável concentração e então volveu um olhar respeitoso a O’Brien.
– Comandante – disse ele –, confiamos que o senhor vá nos apresentar esta arma caso for solicitada para exames periciais. Neste meio-tempo – acrescentou, empurrando com força a lâmina na bainha sonante –, gostaria de devolver a sua espada. Perante o simbolismo militar dessa atitude, a audiência não conteve o aplauso. De fato, para Neil O’Brien, aquele gesto foi o ponto de inflexão da existência. Ao vaguear outra vez no jardim misterioso, em meio às cores da aurora, a futilidade trágica de sua prosaica aparência o abandonara; ele era um homem com vários motivos para sentir-se feliz. Lorde Galloway era um cavalheiro e lhe pediu desculpas. Lady Margaret era mais que uma dama, era no mínimo uma mulher, e tinha talvez lhe oferecido algo melhor do que desculpas, enquanto passeavam entre os velhos canteiros de flores antes do café da manhã. Todo o grupo estava mais alegre e bondoso, pois, embora o enigma da morte permanecesse, o peso da suspeita, não mais podendo recair sobre nenhum deles, zarpara a Paris junto com o estranho milionário – um homem que eles mal conheciam. O demônio fora expulso da casa – ele expulsara a si mesmo. No entanto, o enigma permanecia; e quando O’Brien deixou-se cair num banco do jardim ao lado do dr. Simon, esta pessoa assaz científica recapitulou a história. Não conseguiu muita conversa com O’Brien, que estava pensando em coisas mais prazerosas. – Não posso dizer que estou muito interessado nisso – disse o irlandês, com franqueza –, ainda mais agora que tudo parece tão claro. Ao que tudo indica, Brayne odiava esse estranho por algum motivo; atraiu-o até o jardim e o matou com meu sabre. Em seguida, fugiu para a cidade, jogando fora o sabre no caminho. Por falar nisso, Ivan me contou que o morto tinha um dólar ianque no bolso. Então, ele era conterrâneo de Brayne, e isso parece encerrar o caso. Não vejo nenhum mistério neste assunto. – Existem cinco obstáculos colossais – disse o doutor, tranquilo –, obstáculos intransponíveis como este muro. Não me entenda mal. Não estou duvidando que Brayne seja o autor do crime; acho que a fuga dele prova isso. A questão é: como ele fez? Primeiro obstáculo: por que um homem mataria outro homem com um enorme e espalhafatoso sabre, quando poderia matá-lo com a mesma eficácia com um canivete que esconderia no bolso? Segundo obstáculo: por que não se escutou barulho ou grito? Por acaso um homem normalmente se depara com outro homem brandindo uma cimitarra sem esboçar reação alguma? Terceiro obstáculo: um empregado guardava a porta da frente durante toda a noite, e nem um rato consegue entrar em parte alguma do jardim de Valentin. Como o homem que morreu entrou no jardim? Quarto obstáculo: pelo mesmo raciocínio, como Brayne saiu do jardim? – E o quinto? – disse Neil, com o olhar fixo no padre inglês que se aproximava devagar pela trilha. – É uma insignificância, suponho – disse o doutor –, mas acho que bem curiosa. Quando vi a primeira vez a forma como a cabeça tinha sido cortada, imaginei que o assassino a tivesse golpeado repetidas vezes. Mas, examinando melhor, percebi muitos cortes transversais na parte mutilada; em outras palavras, os cortes foram feitos depois de a cabeça ter sido decepada. Será que Brayne odiava o inimigo de forma tão diabólica a ponto de ficar retalhando o corpo ao luar? – Medonho! – exclamou O’Brien, estremecendo. Brown, o padre baixote, chegara enquanto eles falavam e aguardara, com sua timidez característica, até eles terminarem. Então disse, desajeitado: – Senhores, sinto interrompê-los. Mas fui enviado para contar as novidades! – Novidades? – repetiu Simon, fitando-o com bastante atenção através dos óculos. – Sim, lamento – disse Padre Brown, comedido. – Houve outro assassinato. Os dois homens pularam do banco, fazendo-o balançar. – E, o que é mais estranho ainda – recomeçou o padre, com um olhar inexpressivo aos rododendros –, do mesmo jeito repulsivo: mais uma decapitação. Na verdade, encontraram a segunda cabeça sangrando no rio, a poucos metros da estrada de Brayne a Paris, então eles acreditam que ele... – Minha nossa! – gritou O’Brien. – Será que Brayne é um maníaco? – Existem vendetas americanas – afirmou o padre, impassível. E acrescentou: – Pedem a presença dos senhores na biblioteca. O comandante O’Brien seguiu os demais até o local do inquérito, com o estômago decididamente embrulhado. Na condição de militar, toda essa carnificina secreta lhe causava repugnância; quando essas ridículas decapitações iriam acabar? Primeiro uma cabeça tinha sido decepada, e agora outra; neste caso específico (falou azedo com seus botões) deixava de ser verdadeira a máxima que duas cabeças pensam melhor do que uma. Quando atravessava o gabinete, quase cambaleou devido a uma coincidência surpreendente. Na mesa de Valentin, repousava a foto colorida de uma terceira cabeça sangrando: a cabeça do próprio Valentin. Um segundo olhar revelou se tratar apenas de um jornal nacionalista, chamado A guilhotina, que a cada semana mostrava um dos oponentes políticos com olhos esbugalhados e feições retorcidas, logo após a execução; pois Valentin era um conhecido opositor do clero. Mas O’Brien era irlandês, com certa castidade mesmo nos pecados, e seu estômago se rebelou contra aquela enorme brutalidade do intelecto, encontrada apenas na França. Pôde sentir Paris em sua inteireza, do grotesco das catedrais góticas às grosseiras caricaturas dos jornais. Rememorou os gigantescos escárnios da Revolução. Vislumbrou toda a cidade semelhante a uma única e terrível energia, desde a charge sanguinária na mesa de Valentin até onde, acima da montanha e da floresta de gárgulas, o grande demônio se arreganha em Notre Dame. A biblioteca era comprida, baixa e escura; o pouco de luz que penetrava por baixo das cortinas ainda apresentava algo do rosado matiz da manhã. Valentin e oempregado Ivan esperavam por eles na extremidade mais elevada de uma mesa comprida, um pouco inclinada, na qual estavam depositados os restos mortais, enormes à luz da aurora. O grande vulto negro e o rosto amarelo do homem encontrado no jardim os confrontavam essencialmente intactos. A segunda cabeça, pescada nos juncos do rio naquela manhã, jazia escorrendo e pingando ao lado da outra; os homens de Valentin ainda tentavam resgatar o resto desse segundo cadáver, que se imaginava estivesse boiando. Padre Brown, que não aparentava partilhar, em absoluto, da susceptibilidade de O’Brien, foi até a segunda cabeça e examinou-a com atenção displicente. Consistia em pouco mais que uma careta com cabelo branco molhado, orlada com o fulgor prateado da luz escarlate e suave da aurora; o rosto, que parecia ser de um tipo feio, arroxeado e talvez criminoso, tinha sido muito lanhado ao se chocar contra galhos e pedras no rio. – Bom dia, comandante O’Brien – saudou Valentin, com serena cordialidade. – Já deve ter ouvido falar do novo experimento de Brayne na arte da carnificina, imagino? Padre Brown, ainda reclinado sobre a cabeça de cabelo branco, disse, sem levantar os olhos: – Suponho haver a certeza de que Brayne cortou esta também. – Bem, parece uma questão de bom senso – disse Valentin, com as mãos nos bolsos. – Morto do mesmo jeito que o outro. Encontrado a poucos metros do outro. E talhado com a mesma arma que sabemos que estava com ele. – Sim, sim, eu sei – respondeu Padre Brown, submisso. – Mas duvido que Brayne tenha sido capaz de decepar esta cabeça. – Por quê? – inquiriu dr. Simon, com um olhar racional. – Bem, doutor – disse o padre, levantando o olhar e piscando –, um homem consegue decepar a própria cabeça? Tenho lá minhas dúvidas. O’Brien sentiu um cosmo insano colidindo em seus ouvidos, mas o doutor deu um salto à frente com impetuoso pragmatismo e empurrou para trás a cabeleira branca e úmida. – Ah, é Brayne, sem sombra de dúvida – falou o padre, tranquilo. – Ele tinha este mesmo defeito na orelha esquerda. O detetive, que mirava o padre com olhos fixos e brilhantes, abriu a boca cerrada e disse cáustico: – Parece que o senhor sabe muito sobre ele, Padre Brown. – Sei – afirmou o homenzinho. – Estive em companhia dele por algumas semanas. Ele estava pensando em se converter à Igreja Católica. A estrela do fanatismo piscou nos olhos de Valentin; ele caminhou, a passos lentos, de punhos cerrados, rumo ao padre. – E, talvez – gritou, com um sarcasmo explosivo –, talvez ele também estivesse pensando em deixar todo o dinheiro dele para a sua igreja.
– Talvez estivesse – disse Brown, indiferente. – É possível. – Nesse caso – gritou Valentin, com um sorriso assustador –, o senhor deve mesmo saber bastante sobre ele. Sobre a vida dele e sua… O comandante O’Brien repousou a mão no braço de Valentin. – Pare com essas besteiras difamatórias, Valentin – disse –, ou pode haver ainda mais golpes de espada. Mas Valentin (sob o olhar fixo e humilde do padre) já se recompusera. – Muito bem – disse abruptamente –, agora não é hora de emitir opiniões pessoais. Cavalheiros, os senhores ainda estão comprometidos por sua promessa de ficar; é necessário que os senhores a cumpram... e façam os outros cumprirem também. Ivan, aqui, pode esclarecer tudo mais que os senhores queiram saber. Eu devo voltar ao trabalho e escrever para as autoridades. Não podemos mais manter isso em sigilo. Estarei no gabinete escrevendo, em caso de alguma novidade. – Mais alguma novidade, Ivan? – perguntou dr. Simon, tão logo o chefe da polícia saiu da sala. – Só mais uma coisinha, sir – disse Ivan, enrugando todo o velho rosto gris –, mas de certa forma importante também. Sobre aquele figurão que os senhores acharam no gramado – e apontou sem simular respeito para o corpanzil preto de cabeça amarela. – Descobrimos quem ele é. – É mesmo? – gritou o doutor, atônito. – E quem é ele? – Chamava-se Arnold Becker – disse o subdetetive –, embora usasse muitos codinomes. Era um malandro errante; sabe-se que andou pela América, e foi assim que acabou encontrando a lâmina de Brayne. Não nos deu tanto trabalho, pois atuava a maior parte do tempo na Alemanha. É claro, entramos em contato com a polícia alemã. Mas, por estranho que pareça, ele tinha um irmão gêmeo, chamado Louis Becker, que nos deu muito trabalho. De fato, casualmente ontem ele foi guilhotinado. Bem, cavalheiros, é uma coisa bizarra, mas quando vi aquele sujeito estirado na grama, tomei o maior susto da minha vida. Se não tivesse visto com meus próprios olhos Louis Becker ser guilhotinado, eu teria jurado que era Louis Becker estendido na grama. Em seguida, claro, lembrei do irmão gêmeo dele na Alemanha e, seguindo a pista… O explicativo Ivan calou-se, pela boa razão de que ninguém o escutava. O comandante e o doutor estavam encarando Padre Brown, que se pusera de pé num salto e agora apertava as têmporas com força, como quem sente uma dor repentina e violenta. – Pare, pare, pare! – gritou. – Pare de falar um minuto, pois estou entendendo só metade. Deus, dai-me forças! Meu cérebro vai dar o pulo e entender por inteiro? Que Deus me ajude! Sempre tive uma boa cabeça. Era capaz de parafrasear qualquer página de Aquino. Minha cabeça vai rachar ao meio... ou vai entender? Estou entendendo metade... estou entendendo só metade.
Enterrou a cabeça nas mãos e permaneceu numa espécie de rígida tortura de reflexão ou de reza, enquanto os outros três nada podiam fazer além de admirar o mais recente prodígio das últimas fantásticas doze horas. Quando as mãos de Padre Brown baixaram, mostraram um rosto viçoso e sincero, semelhante ao de uma criança. Ele deu um longo suspiro e disse: – Vamos ser breves e colocar os pingos nos is. Prestem atenção, este vai ser o modo mais breve de convencer todos sobre a verdade. – Virou-se para o doutor. – Dr. Simon – disse ele –, o senhor é dono de uma cachola poderosa, e hoje de manhã escutei o senhor formular as cinco questões mais complicadas deste caso. Muito bem, se o senhor as formular de novo, posso respondê-las. O pincenê de Simon caiu do nariz, de dúvida e de admiração, mas ele respondeu de imediato. – Bem, a primeira questão, o senhor lembra, é: por que afinal um homem mataria outro com um sabre tosco quando poderia fazer o mesmo com um estilete? – Um homem não pode decapitar outro com um estilete – asseverou Brown, sereno – e, para este crime em especial, decapitar era indispensável. – Por quê? – perguntou O’Brien, com interesse. – E a questão seguinte? – indagou Padre Brown. – Bem, por que o homem não gritou ou coisa do tipo? – indagou o doutor. – Sabres em jardins são raros, sem dúvida. – Os galhos – disse o padre, melancólico, e virou-se para a janela que dava para a cena do crime. – Ninguém percebeu o porquê dos galhos. Por que eles estariam caídos naquele gramado (olhem ali) tão longe das árvores? Não foram arrancados, mas cortados. O assassino entreteve o inimigo com truques de sabre, mostrando que era capaz de cortar um galho em pleno ar, ou coisa parecida. Então, quando o inimigo se abaixou para ver o resultado... um golpe silencioso, e a cabeça rolou. – Bem – disse o doutor, devagar –, isso parece bastante plausível. Mas as próximas duas questões vão deixar todos perplexos. O padre esperou, olhando, criterioso, o jardim. – Sabe, o jardim era hermeticamente fechado – continuou o doutor. – Então, de que forma o estranho entrou no jardim? Sem se voltar, o padre baixinho respondeu: – Nunca teve estranho algum no jardim. Seguiu-se um silêncio, e então o cacarejo repentino de um riso quase infantil aliviou a tensão. O absurdo do comentário de Brown levou Ivan a escancarar seu escárnio. – Ah! – gritou, – decerto não arrastamos um cadáver imenso e gordo até o sofá ontem à noite? Ele não entrou no jardim, suponho? – Entrou no jardim? – repetiu Brown, pensativo. – Não, não completamente.
– Espera aí – gritou Simon –, ou um homem entra no jardim, ou não entra. – Não necessariamente – disse o padre, com um tênue sorriso. – Qual a próxima questão, doutor? – Suspeito que o senhor não esteja bem – exclamou dr. Simon, sucinto –, mas vou repetir a próxima questão, se é isso que deseja. De que modo Brayne saiu do jardim? – Ele não saiu do jardim – disse o padre, ainda olhando pela janela. – Não saiu do jardim? – explodiu Simon. – Não completamente – disse Padre Brown. Simon sacudiu os punhos num frenesi de lógica francesa. – Ou um homem sai do jardim, ou não sai – gritou. – Nem sempre – rebateu Padre Brown. Impaciente, dr. Simon levantou-se de um pulo. – Não tenho tempo a perder com essa conversa fiada – gritou, com raiva. – Se o senhor não consegue diferenciar se um homem está deste lado ou do outro lado do muro, é melhor pararmos por aqui. – Doutor – disse o clérigo, com toda a educação –, sempre nos demos muito bem. Nem que seja em consideração à nossa velha amizade, pare e formule a quinta questão. O impaciente Simon afundou-se numa poltrona perto da porta e disse apenas: – A cabeça e os ombros ficaram picotados de um modo esquisito. Isso parece ter sido feito depois da morte. – Sim – concordou o padre, imóvel –, foi feito exatamente de modo a induzir os senhores a acreditar na única e simples mentira na qual os senhores vieram a acreditar. Foi feito para que se tomasse como certo que a cabeça pertencia ao corpo. A região fronteiriça do cérebro, onde todos os monstros são feitos, excitou-se horrendamente no gaélico O’Brien. Ele sentiu a caótica presença de todos os centauros e sereias que a fantasia sobrenatural criou. Uma voz mais antiga que a de seus primeiros ancestrais pareceu cochichar em seu ouvido: “Fique longe do monstruoso jardim, onde cresce a árvore de frutos duplos. Evite o jardim diabólico onde morreu o homem de duas cabeças.” Porém, enquanto essas vergonhosas figuras alegóricas atravessavam o remoto espelho de sua alma irlandesa, seu intelecto afrancesado estava bem alerta, observando o esquisito padre de modo tão interessado e incrédulo como todos os demais. Por fim, Padre Brown virou-se e parou de costas para a janela, com o rosto em densa penumbra; mas, mesmo naquela penumbra, eles conseguiram notar que estava branco como cinzas humanas. Entretanto, falou de maneira bem sensata, como se não houvesse almas gaélicas no mundo. – Cavalheiros – disse –, os senhores não encontraram o corpo estranho de Becker no jardim. Os senhores não encontraram qualquer corpo estranho no jardim. Mesmo diante do racionalismo do dr. Simon, continuo afirmando que apenas uma parte de Becker estava presente. Olhem isto! – exclamou, apontando a massa negra do cadáver misterioso. – Nunca viram este homem? De modo ágil, rolou a careca amarela do desconhecido e colocou no lugar dela a cabeça de cabeleira branca que estava ao lado. E lá estava inteiro, reunificado, inequívoco, Julius K. Brayne. – O assassino – retomou Brown, com voz mansa – decapitou o inimigo e jogou o sabre por cima do muro. Mas ele era esperto demais para jogar somente o sabre. Ele jogou a cabeça também. Assim, só precisou então colocar outra cabeça no corpo e (já que ele insistiu num inquérito confidencial) todos os senhores imaginaram tratar-se de um homem totalmente desconhecido. – Colocar outra cabeça! – disse O’Brien, com olhar fixo. – Que outra cabeça? Por acaso cabeças brotam nas moitas de jardim? – Não – disse Padre Brown, com a voz rouca. Olhando as próprias botinas, completou: – Elas brotam só num lugar. Brotam na cesta da guilhotina. O chefe da polícia, Aristide Valentin, estava do lado dela menos de uma hora antes do crime. Ah, meus amigos, me escutem mais um minuto antes de fazer picadinho de mim. Valentin é um homem honesto, se é que se pode chamar de honestidade enlouquecer por uma causa controversa. Mas os senhores nunca perceberam a loucura naqueles gélidos olhos cinzentos? Ele seria capaz de fazer qualquer coisa, qualquer coisa, para terminar com o que ele chama de superstição da Cruz. Ele combateu por isso, passou fome por isso e, agora, matou por isso. Antes, as alucinadas doações milionárias de Brayne tinham se dispersado entre uma multitude de seitas, pouco alterando o equilíbrio das coisas. Mas caiu nos ouvidos de Valentin que Brayne, a exemplo de muitos céticos dispersivos, estava se decidindo por nós, e isso era bem diferente. Brayne injetaria verbas na empobrecida mas combativa Igreja da França; apoiaria seis jornais nacionalistas, como A guilhotina. A batalha estava equilibrada, e o fanático se encolerizou com o risco de perder. Decidiu eliminar o ricaço e fez isso do modo como era de se esperar que o maior dos detetives cometesse seu único crime. Surrupiou a cabeça decepada de Becker com alguma justificativa de ordem criminal e a levou para casa na sua caixa oficial. Teve aquela última discussão com Brayne, da qual Lorde Galloway não escutou o fim; malograda a tentativa, atraiu Brayne até o jardim hermético, falou sobre esgrima, usou galhos e um sabre para demonstração e... Ivan da Cicatriz saltou. – Seu maluco – bradou ele –, vá falar com o meu patrão agora, senão eu lhe pego pelo... – Estou indo – falou Brown, sério. – Preciso solicitar a ele que confesse, e tudo o mais. Conduzindo o pesaroso Brown diante deles como um refém ou alguém que está para ser oferecido em sacrifício, entraram alvoroçados na quietude repentina do gabinete de Valentin. O grande detetive estava sentado à mesa, talvez ocupado demais para notar a turbulenta entrada. Pararam um instante; então, algo no aspecto daquelas costas eretas e elegantes fez o doutor se adiantar de repente. Um toque e um olhar foram suficientes para ele notar que havia um vidrinho de comprimidos perto do cotovelo de Valentin e que Valentin estava morto; e no rosto opaco do suicida havia mais do que o orgulho de Catão.[1]
[1] Marco Pórcio Catão Uticense (95 a 46 a.C.), conhecido como Catão, o Moço; suicidou-se em nome da liberdade republicana ao saber da vitória de Júlio César na Batalha de Tapso. (N.T.)
Aristide Valentin, o chefe da polícia parisiense, estava atrasado para o jantar, e alguns de seus convidados começaram a chegar antes dele. Estes eram, entretanto, tranquilizados pelo criado de confiança, Ivan, um velho com uma cicatriz no rosto quase tão gris quanto o bigode, sempre sentado à mesa do saguão – um saguão repleto de armas nas paredes. A casa de Valentin, ao que parece, era tão especial e afamada quanto o seu dono. Era uma casa antiga, com muros altos e álamos imponentes quase debruçados sobre o Sena, mas a singularidade – e talvez o valor policial – de sua arquitetura era esta: a de não haver outra saída exceto pela porta da frente, vigiada por Ivan e a coleção de armas. O jardim era amplo e bem cuidado, e havia muitas saídas da casa para o jardim. Mas não havia qualquer saída do jardim para o mundo lá fora; por toda a sua volta corria um muro alto, liso, impossível de escalar, com curiosos espigões no topo – bom jardim, talvez, para alguém ponderar sobre quem seria o homem jurado de morte por centenas de criminosos. Conforme Ivan explicava para os convidados, o anfitrião telefonara avisando que chegaria dez minutos atrasado. Ele estava, na verdade, tomando as últimas providências relativas a execuções e outras coisas desagradáveis e, embora esses deveres lhe causassem uma repulsa visceral, sempre os executava com precisão. Impiedoso na perseguição dos criminosos, era muito brando quanto às punições. Desde que sua vontade começara a imperar sobre os métodos policiais franceses – e, em boa medida, sobre os métodos europeus –, sua grande influência vinha sendo usada com dignidade para mitigar sentenças e purificar prisões. Ele era um dos grandes livrespensadores humanitários franceses; e a única coisa errada com eles é que tornam a piedade ainda mais fria que a justiça. Quando Valentin chegou, já vestia um terno preto com rosa vermelha na lapela – presença elegante, a barba escura já riscada de prata. Atravessou a casa direto para o gabinete, nos fundos. A porta do gabinete que dava para o jardim estava aberta, e, depois de trancar com cuidado sua caixa no lugar oficial, ele permaneceu alguns segundos admirando o jardim. Uma lua fulgente lutava com os velozes andrajos de uma tempestade, e Valentin fitou-a com melancolia incomum para índoles científicas como a dele. Talvez tais índoles científicas tenham certa premonição psíquica do mais tremendo problema de suas vidas. De tal humor misterioso, ao menos, ele rápido se restabeleceu, pois sabia que estava atrasado e que os convidados já estavam chegando. Ao entrar na sala, uma olhada foi suficiente para se certificar de que o principal convidado não estava lá. Viu todos os outros pilares do pequeno grupo: viu Lorde Galloway, o embaixador inglês – um velho colérico de rosto vermelho como uma maçã, envergando a fita azul da Ordem da Jarreteira. Viu Lady Galloway, esguia e delgada como um fio, com cabelo prateado e um rosto delicado e esnobe. Viu a filha dela, Lady Margaret Graham, uma moça linda e pálida, com rosto de fada e cabelo cor de cobre. Viu a duquesa de Mont St. Michel, de olhos negros e opulenta, e com ela as duas filhas, também de olhos negros e opulentas. Viu o dr. Simon, o típico cientista francês, de óculos, barba castanha pontuda e testa vincada com aquelas rugas paralelas que são o custo do desdém, pois surgem da elevação constante das sobrancelhas. Viu o Padre Brown, de Cobhole, Essex, a quem havia conhecido há pouco na Inglaterra. Viu – talvez com mais interesse do que o que dispensara aos outros – um homem alto de uniforme, que se curvara para os Galloway sem receber em troca uma acolhida muito calorosa, e que, naquele instante, dirigia-se sozinho para cumprimentar o seu anfitrião. Era o comandante O’Brien, da Legião Estrangeira Francesa. Um tipo elegante, mas com ares um tanto afetados, barba feita, cabelos escuros e olhos azuis, e, como seria natural em um oficial desse regimento famoso por fracassos vitoriosos e suicídios bemsucedidos, seu jeito era ao mesmo tempo enérgico e melancólico. Era cidadão irlandês de nascimento e ainda garoto tinha conhecido os Galloway – mais particularmente, Margaret Graham. Abandonara seu país após problemas financeiros e agora expressava o total desprezo pela etiqueta britânica ao desfilar de uniforme, sabre e esporas. Quando fez uma reverência para a família do embaixador, Lorde e Lady Galloway se curvaram cerimoniosos, e Lady Margaret desviou o olhar. Mas quaisquer que fossem as velhas causas que pudessem levar essas pessoas a se interessar umas pelas outras, o distinto anfitrião não estava nem um pouco interessado nelas. Ao menos, nenhum deles era a seus olhos o convidado da noite. Valentin esperava, por razões especiais, um homem de fama universal, cuja amizade granjeara durante algumas de suas grandes glórias e viagens como detetive nos Estados Unidos. Esperava Julius K. Brayne, o multimilionário cujas doações colossais e quase esmagadoras a pequenas religiões tinham proporcionado tanto divertimento fácil e solenidade ainda mais fácil aos jornais americanos e ingleses. Na verdade, ninguém poderia adivinhar se o sr. Brayne era ateu, mórmon ou cientista-cristão; mas estava pronto para despejar dinheiro em qualquer recipiente intelectual, desde que fosse um recipiente ainda não experimentado. Um de seus passatempos era esperar pelo Shakespeare americano – passatempo que exigia mais paciência que a pesca à linha. Admirava Walt Whitman, mas considerava Luke P. Tanner, de Paris, Pensilvânia, mais “progressista” que Whitman. Ele apreciava tudo que considerava “progressista”. Ele considerava Valentin “progressista”, cometendo assim uma grave injustiça. O aparecimento maciço de Julius K. Brayne no recinto foi tão decisivo quanto um sino de jantar. Ele tinha esta importante qualidade, que pouquíssimos de nós podem alegar ter: que sua presença era tão grande quanto a sua ausência. Era um cidadão enorme, tão gordo quanto alto, com um traje de noite preto, sem nada para contrastar, nem corrente de relógio ou anel. O cabelo era branco e bem escovado para trás, como o de um alemão; o rosto era vermelho, feroz e angelical, com um tufo escuro sob o lábio inferior, que transmitia àquela aparência de outra forma infantil um toque teatral e até mesmo mefistofélico. Não por muito tempo, porém, o salon ficou imóvel diante do celebrado americano; seu atraso já tinha se tornado um problema doméstico, e ele foi conduzido o mais rápido possível até a sala de jantar, dando o braço a Lady Galloway. Exceto por um detalhe, os Galloway foram bastante amáveis e casuais. Contanto que Lady Margaret não aceitasse o braço daquele aventureiro do O’Brien, o pai dela estaria satisfeito; e ela não fez isso, e sim acompanhou, com muito decoro, o dr. Simon. Entretanto, o velho Lorde Galloway estava inquieto e quase grosseiro. No jantar, foi bastante diplomático, mas quando, durante os charutos, três dos homens mais jovens – Simon, o médico, Brown, o padre, e O’Brien, o pernicioso exilado de uniforme estrangeiro – todos sumiram para se misturar com as senhoras ou para fumar no jardim de inverno, então o diplomata inglês realmente perdeu a diplomacia. Era perseguido a cada sessenta segundos pelo pensamento de que o vigarista do O’Brien podia estar fazendo sinais para Margaret de alguma forma; ele nem tentava pensar como. Foi deixado durante o café com Brayne, o ianque de cabelo branco que acreditava em todas as religiões, e Valentin, o francês grisalho que não acreditava sequer em uma. Eles podiam discutir um com o outro, mas nenhum dos dois era capaz de atrair a atenção de Galloway. Após certo tempo, essa controvérsia “progressista” alcançou o ápice do tédio; Lorde Galloway levantou-se também e procurou a sala de estar. Ele se perdeu em corredores compridos por cerca de seis a oito minutos, até que escutou a voz alta e didática do doutor, e então a voz monótona do padre, seguida de uma risada geral. Eles também, pensou soltando uma praga, provavelmente discutiam “ciência e religião”. Mas no momento em que abriu a porta do salon viu só uma coisa – o que não estava lá. Viu que o comandante O’Brien não estava lá, e que Lady Margaret também não. Erguendo-se impaciente da sala de estar, a exemplo do que fizera na sala de jantar, saiu batendo pé pelo corredor uma vez mais. A ideia de proteger sua filha daquele inútil argeliano-irlandês tornara-se crucial e mesmo obsessiva em sua cabeça. Ao rumar para os fundos da casa, onde ficava o gabinete de Valentin, surpreendeu-se ao encontrar a filha, que passou por ele como um raio, com o rosto branco e zombador, o que constituía um segundo enigma. Se ela estivera com O’Brien, onde estava O’Brien? Se não estivera com O’Brien, onde estivera? Com uma suspeita um tanto senil e apaixonada, foi tateando em direção aos quartos escuros dos fundos da mansão, até encontrar um correder de serviço que dava para o jardim. A lua com sua cimitarra havia ceifado e levado todos os destroços da tempestade. A luz de argento iluminava os quatro cantos do jardim. Um vulto alto, vestido de azul, caminhava a passos largos pelo gramado em direção à porta do gabinete; o reflexo prateado da lua no uniformeidentificou-o como o comandante O’Brien. Ele sumiu portas de vidro adentro, deixando Lorde Galloway num estado de humor indescritível, ao mesmo tempo virulento e indefinido. O jardim azul e prata como o cenário de um teatro pareceu escarnecer dele, com toda aquela ternura tirana contra a qual sua autoridade mundana estava em pé de guerra. O tamanho e a elegância das passadas do irlandês enfureceram-no como se ele fosse rival e não pai; o luar enlouqueceu-o. Foi envolvido como por mágica no interior de um jardim de trovadores, na terra encantada de Watteau, e, disposto a se livrar dessas tolices amorosas pela fala, seguiu o inimigo sem perda de tempo. Ao fazer isso, tropeçou em algum toco ou pedra na grama; olhou para baixo, a princípio, com irritação e, num segundo momento, com curiosidade. No instante seguinte, a lua e os imponentes álamos testemunharam uma rara visão: um velho diplomata inglês correndo enquanto gritava – ou berrando enquanto corria. Os gritos roucos atraíram à porta do gabinete o rosto pálido, os óculos brilhantes e o cenho preocupado do dr. Simon, que ouviu as primeiras palavras inteligíveis do fidalgo. Lorde Galloway gritava: – Um corpo na grama... um corpo ensanguentado! Enfim, O’Brien desaparecera por completo de sua mente. – Precisamos avisar logo Valentin – disse o doutor, enquanto o outro narrava de forma desconexa tudo o que havia ousado observar. – Sorte ele estar por aqui – e, no momento em que falava, o grande detetive entrou no gabinete, atraído pelo grito. Era quase divertido notar sua típica transformação; ele tinha vindo com a preocupação normal de anfitrião e cavalheiro, temendo que algum convidado ou empregado estivesse doente. Quando lhe contaram o fato sangrento, o semblante modificou-se de imediato, adquirindo uma circunspeção inteligente e profissional; afinal, esse, embora rude e horrível, era o seu trabalho. – Estranho, cavalheiros – disse, enquanto saíam depressa para o jardim –, que eu tenha perseguido mistérios em todos os cantos do planeta e agora chega um e se instala no meu próprio jardim. Mas onde é mesmo o local? Cruzaram a relva com menos facilidade, pois uma neblina leve começara a subir do rio, mas, sob a orientação do perturbado Galloway, encontraram o corpo atolado na grama funda: o corpo de um homenzarrão de ombros largos. Estava deitado de barriga para baixo, de modo que só apareciam os ombros volumosos vestidos de preto e a grande careca, com uns poucos tufos de cabelo castanho aderidos ao crânio como algas marinhas. Uma serpente escarlate de sangue rastejava por baixo do rosto prostrado. – Pelo menos – disse Simon, com entonação profunda e singular – não é ninguém de nosso grupo. – Examine-o, doutor – gritou Valentin, categórico. – Pode ser que não esteja morto.
O doutor inclinou-se. – Ele não está gelado, mas acho que está morto sim – respondeu. – Me ajudem a erguê-lo. Ergueram com cuidado o corpo a três centímetros do chão, e todas as dúvidas sobre ele estar mesmo morto foram dirimidas imediata e assustadoramente. A cabeça caiu. Tinha sido decepada do corpo; seja lá quem fosse o autor do corte na garganta, dera um jeito de atorar o pescoço junto. Até mesmo Valentin ficou ligeiramente impressionado. – Ele deve ter usado a força de um gorila – murmurou. Não sem um calafrio, embora estivesse acostumado a monstruosidades anatômicas, o dr. Simon levantou a cabeça. Estava um pouco lanhada na altura do pescoço e do maxilar, mas não apresentava maiores ferimentos. Era um rosto canhestro, amarelo, ao mesmo tempo encovado e inchado, com nariz de falcão e pálpebras pesadas – o rosto de um perverso imperador romano com, talvez, uma pitada de imperador chinês. Ao que parece, todos os presentes olharam aquilo com o mais gélido olhar da ignorância. Nada mais pôde ser notado sobre o homem, exceto que, na hora em que ergueram o corpo, vislumbraram embaixo dele o brilho branco da camisa desfigurado pelo brilho vermelho do sangue. Como bem disse o dr. Simon, aquele homem não era nenhum dos presentes à janta. Mas poderia ter sido, sim, um dos convidados, pois estava trajado para ocasiões sociais. Valentin, engatinhando, passou a examinar a grama e a terra com a mais estrita atenção profissional num perímetro de vinte metros ao redor do cadáver, contando com a ajuda pouco hábil do doutor e com a ajuda muito dispersiva do lorde inglês. Nada recompensou seus esforços rastejantes, exceto alguns galhos, partidos ou cortados em diminutos pedaços, que Valentin erguia para um breve exame e então descartava. – Galhos – disse, sério. – Galhos e um completo desconhecido com a cabeça decepada; nada mais se encontra nesta grama. Houve uma quietude quase arrepiante, e então o transtornado Galloway gritou de forma violenta: – Quem vem lá? Perto do muro do jardim? Um pequenino vulto de cabeça estupidamente grande aproximava-se, vacilante, na neblina enluarada; por um instante pareceu um duende, mas acabou sendo o padre baixinho e inofensivo que havia sido deixado na sala de estar. – Pelo que vejo – disse ele, tímido –, este jardim não tem portões de saída. As sobrancelhas negras de Valentin uniram-se de modo rabugento, como se uniam, por questão de princípios, à vista de uma batina. Mas ele era um homem justo demais para negar a relevância daquele comentário. – O senhor está certo – disse ele. – Antes de esclarecermos como ele foi morto, precisamos descobrir como ele chegou aqui. Agora me escutem, cavalheiros. Para que isso possa ser feito sem prejudicar a minha posição e o meu trabalho, devemos todos concordar em deixar certos nomes ilustres fora disso. Cavalheiros, temos as senhoras e um embaixador estrangeiro. No momento em que for registrada a ocorrência do crime, terá início uma investigação criminal. Mas, enquanto isso, posso usar minha própria discrição. Sou o chefe da polícia; sou tão público que posso me dar ao luxo de ser privado. Por Deus, vou inocentar cada um dos meus convidados antes de chamar meus homens para investigar outras pessoas. Cavalheiros, pela honra de cada um dos senhores, ninguém vai deixar esta casa antes de amanhã ao meio-dia; há quartos para todos. Simon, acho que o senhor sabe onde encontrar meu criado, Ivan, no saguão de entrada; é um homem de minha total confiança. Diga-lhe para deixar outro empregado cuidando da segurança e vir imediatamente falar comigo. Lorde Galloway, o senhor sem dúvida é a pessoa mais indicada para contar às senhoras o que aconteceu e evitar o pânico. Elas também devem permanecer na casa. Padre Brown e eu ficaremos com o cadáver. Quando esse espírito de capitão falava em Valentin, ele era obedecido como o toque de uma corneta. O dr. Simon foi até a coleção de armas e encaminhou as ordens a Ivan, o detetive particular do detetive público. Galloway foi à sala de estar e contou as terríveis novas com bastante cuidado, de forma que, quando o grupo reuniu-se na sala de novo, as senhoras estavam estarrecidas, mas acalmadas. Entrementes, o bom padre e o bom ateu permaneciam imóveis sob o luar, um à cabeça e o outro ao pé do homem morto, como estátuas simbólicas de dois modos distintos de entender a morte. Ivan, o homem de confiança com cicatriz e bigode, saiu da casa como uma bala de canhão e veio correndo pela grama até Valentin como um cão para o seu dono. O rosto lívido estava bem vivo com o fulgor daquela história doméstica de detetive, e foi com uma ansiedade quase desagradável que ele pediu licença ao patrão para examinar os restos mortais. – Tudo bem, pode olhar se quiser, Ivan – disse Valentin –, mas não demore. Precisamos entrar e destrinchar isso na casa. Ivan ergueu a cabeça e então quase a deixou cair. – Minha nossa – resfolegou –, não... não pode ser. Conhece este homem, sir? – Não – disse Valentin, indiferente –, é melhor entrarmos. Carregaram o cadáver até o sofá do gabinete e depois foram para a sala de estar. O detetive sentou-se à mesa em silêncio, com hesitação até, mas tinha o olhar férreo de um juiz presidindo o tribunal. Tomou algumas notas no papel à sua frente e então disse de forma sucinta: – Está todo mundo aqui? – Menos o sr. Brayne – disse a duquesa de Mont St. Michel, olhando em volta. – Sim – disse Lorde Galloway numa voz rouca e rude. – E falta também o sr. Neil O’Brien, imagino. Vi esse cavalheiro passeando no jardim quando o corpo ainda estava quente. – Ivan – disse o detetive –, traga o comandante O’Brien e o sr. Brayne. O sr. Brayne, pelo que sei, está terminando um charuto na sala de jantar; o comandante O’Brien, penso eu, está andando para lá e para cá no jardim de inverno. Não tenho certeza. O fiel ajudante sumiu da sala e, antes que alguém pudesse falar ou se mexer, Valentin retomou a palavra, com a mesma vivacidade de explanação de um militar. – Todos aqui sabem que um homem foi encontrado morto no jardim, decapitado. Dr. Simon, o senhor o examinou. O senhor acha que, para cortar a garganta de um homem daquela forma, seria necessária muita força? Ou talvez apenas uma faca bem afiada? – Acho que é impossível aquilo ser obra de uma faca – falou o pálido doutor. – Tem alguma ideia – recomeçou Valentin – do tipo de instrumento com o qual seria possível fazer aquilo? – Falando no âmbito das probabilidades modernas, confesso que não – disse o doutor, arqueando as sobrancelhas atentas. – Não é fácil atorar um pescoço, mesmo de forma tosca, e esse foi um corte bem liso. Poderia ter sido feito com uma acha de armas, um antigo machado de carrasco ou uma espada antiga que se maneja com as duas mãos. – Mas, minha nossa! – gritou a duquesa, quase histérica. – Não há nem espadas deste tipo nem achas de armas por aqui. Valentin continuava ocupado com o papel à sua frente. – Me diga – disse, ainda escrevendo célere –, poderia ter sido feito com um sabre comprido da cavalaria francesa? Uma batida fraca na porta, por alguma razão irracional, foi suficiente para gelar o sangue de todos os presentes, como aquela batida na porta em Macbeth. Em meio àquele silêncio glacial, o dr. Simon conseguiu falar: – Um sabre... sim, imagino que sim. – Obrigado – falou Valentin. – Entre, Ivan. O confiável Ivan abriu a porta e procedeu à entrada do comandante Neil O’Brien, a quem enfim encontrara andando pelo jardim outra vez. O oficial irlandês parou, desconcertado e desafiador, na soleira da porta. – O que quer de mim? – gritou. – Sente-se, por favor – pediu Valentin, num tom de voz agradável e equilibrado. – Ora, o senhor não está portando sua espada. Onde ela está? – Deixei-a na mesa da biblioteca – respondeu O’Brien, realçando o sotaque irlandês devido ao humor alterado. – Era um transtorno, estava ficando... – Ivan – chamou Valentin –, por favor, vá até a biblioteca e traga a espada do comandante. – Em seguida, tão logo o empregado saiu: – Lorde Galloway disse que viu o senhor deixando o jardim pouco antes de o corpo ser encontrado por ele. O que o senhor estava fazendo no jardim? O comandante deixou-se cair desleixado numa poltrona. – Ah – gritou ele, em irlandês puro –, admirando o luarr. Comungando com a naturreza, meu garroto. Um silêncio mortal dominou o ambiente e perdurou até se ouvir de novo aquela batidinha na porta, trivial e terrível. Ivan reapareceu, carregando uma bainha de aço vazia. – Isto foi tudo que pude encontrar – informou. – Coloque na mesa – ordenou Valentin, sem erguer os olhos. Seguiu-se um silêncio cruel na sala, cruel como aquele mar de silêncio ao redor do banco de um réu condenado por assassinato. As exclamações fracas da duquesa tinham há muito se esvaído. O ódio desmedido de Lorde Galloway estava satisfeito e até mesmo apaziguado. A voz que se ouviu foi de todo inesperada. – Acho que posso contar a todos – começou Lady Margaret, naquela voz clara e agitada com que as mulheres corajosas falam em público. – Posso contar o que o sr. O’Brien fazia no jardim, já que ele está determinado a se calar. Ele me pediu em casamento. Eu recusei; disse que, nas atuais circunstâncias de minha família, não poderia lhe oferecer nada, além de meu respeito. Ele ficou um pouco decepcionado, pareceu não dar muito valor ao meu respeito. Me pergunto – acrescentou ela, com um sorriso um tanto lânguido – se ele daria alguma importância ao meu respeito agora. Porque agora eu o ofereço. Juro de pés juntos que ele não fez uma coisa dessas. Lorde Galloway achegou-se à filha e passou a intimidá-la no que imaginava ser meia-voz. – Cale a boca, Maggie – disse ele, num sussurro de trovão. – O que você ganha protegendo esse homem? Onde está a espada dele? Onde estão os malditos apetrechos... Ele parou devido ao modo inusitado com que a filha o mirava, um olhar que teve o efeito de um ímã assustador em todo o grupo. – Seu velho estúpido! – disse, em voz baixa, sem afetar piedade. – O que o senhor está tentando provar? Eu já disse, esse homem é inocente, pois estava comigo. Mas, mesmo que não fosse inocente, ainda assim, esteve sempre comigo. Se ele matou alguém no jardim, quem deveria ter visto... quem deveria pelo menos estar sabendo? O senhor odeia Neil tanto assim a ponto de colocar a sua própria filha... Lady Galloway deu um grito. Todos os demais tiritaram à lembrança de tragédias satânicas entre amantes no passado. Enxergaram o rosto lívido e orgulhoso da aristocrata escocesa e o amante dela, o aventureiro irlandês, como retratos antigos numa casa escura. O longo silêncio estava repleto de vagas reminiscências de maridos assassinados e amantes venenosas.
Em meio ao silêncio mórbido, uma voz cândida disse: – Era um charuto muito comprido? A mudança de raciocínio foi tão brusca que todos tiveram de procurar ao redor para descobrir quem tinha falado. – Quero dizer – continuou o pequeno Padre Brown, no canto da sala –, o tal charuto que o sr. Brayne está terminando. Parece tão comprido como uma bengala. Apesar da irrelevância, quando Valentin ergueu a cabeça, havia tanto aquiescência quanto irritação em seu rosto. – Bem lembrado – comentou, categórico. – Ivan, localize o sr. Brayne de novo e traga-o aqui imediatamente. No momento em que o faz-tudo fechou a porta, Valentin dirigiu-se à moça com uma honestidade antes não demonstrada. – Lady Margaret – disse ele –, todos sentimos, tenho certeza, gratidão e simpatia por sua altivez em explicar a conduta do comandante. Mas ainda permanece uma lacuna. Lorde Galloway, pelo que entendi, encontrou-a indo do gabinete para a sala de estar. Só alguns minutos depois ele conseguiu encontrar o jardim e o comandante ainda caminhando por lá. – O senhor deve lembrar – retorquiu Margaret, com tênue ironia na voz – que eu tinha acabado de rejeitá-lo, então dificilmente íamos voltar de braços dados. Ele é um cavalheiro, bem ou mal; e ficou para trás, matando tempo... e assim conseguiu ser acusado de assassinato. – Naqueles breves momentos – disse Valentin, com seriedade –, ele poderia, de fato... De novo a batidinha, e Ivan enfiou seu rosto marcado pela porta: – Perdoe-me, sir – disse ele –, mas o sr. Brayne não está mais na casa. – Não está! – gritou Valentin, e pela primeira vez se ergueu. – Sumiu. Evaporou. Escafedeu-se – replicou Ivan, num francês cômico. – O chapéu e o sobretudo se foram, também, mas tenho mais uma coisa para contar, para coroar tudo isso. Corri para fora da casa na tentativa de encontrar alguma pista dele e encontrei uma, e aliás, que pista! – Que quer dizer? – indagou Valentin. – Vou mostrar – disse o criado, e reapareceu com um reluzente sabre de cavalaria sem bainha, manchado de sangue na ponta e no fio. Todos na sala fitaram aquilo como se aquilo fosse um relâmpago, mas o experiente Ivan continuou, calmíssimo: – Encontrei isto – disse ele – atirado no meio das moitas a uns cinquenta metros daqui, na estrada que vai a Paris. Em outras palavras, encontrei-o no exato lugar onde o honorável sr. Brayne o jogou durante a fuga. Houve outro silêncio, mas de um tipo novo. Valentin pegou o sabre, examinou-o, refletiu com inabalável concentração e então volveu um olhar respeitoso a O’Brien.
– Comandante – disse ele –, confiamos que o senhor vá nos apresentar esta arma caso for solicitada para exames periciais. Neste meio-tempo – acrescentou, empurrando com força a lâmina na bainha sonante –, gostaria de devolver a sua espada. Perante o simbolismo militar dessa atitude, a audiência não conteve o aplauso. De fato, para Neil O’Brien, aquele gesto foi o ponto de inflexão da existência. Ao vaguear outra vez no jardim misterioso, em meio às cores da aurora, a futilidade trágica de sua prosaica aparência o abandonara; ele era um homem com vários motivos para sentir-se feliz. Lorde Galloway era um cavalheiro e lhe pediu desculpas. Lady Margaret era mais que uma dama, era no mínimo uma mulher, e tinha talvez lhe oferecido algo melhor do que desculpas, enquanto passeavam entre os velhos canteiros de flores antes do café da manhã. Todo o grupo estava mais alegre e bondoso, pois, embora o enigma da morte permanecesse, o peso da suspeita, não mais podendo recair sobre nenhum deles, zarpara a Paris junto com o estranho milionário – um homem que eles mal conheciam. O demônio fora expulso da casa – ele expulsara a si mesmo. No entanto, o enigma permanecia; e quando O’Brien deixou-se cair num banco do jardim ao lado do dr. Simon, esta pessoa assaz científica recapitulou a história. Não conseguiu muita conversa com O’Brien, que estava pensando em coisas mais prazerosas. – Não posso dizer que estou muito interessado nisso – disse o irlandês, com franqueza –, ainda mais agora que tudo parece tão claro. Ao que tudo indica, Brayne odiava esse estranho por algum motivo; atraiu-o até o jardim e o matou com meu sabre. Em seguida, fugiu para a cidade, jogando fora o sabre no caminho. Por falar nisso, Ivan me contou que o morto tinha um dólar ianque no bolso. Então, ele era conterrâneo de Brayne, e isso parece encerrar o caso. Não vejo nenhum mistério neste assunto. – Existem cinco obstáculos colossais – disse o doutor, tranquilo –, obstáculos intransponíveis como este muro. Não me entenda mal. Não estou duvidando que Brayne seja o autor do crime; acho que a fuga dele prova isso. A questão é: como ele fez? Primeiro obstáculo: por que um homem mataria outro homem com um enorme e espalhafatoso sabre, quando poderia matá-lo com a mesma eficácia com um canivete que esconderia no bolso? Segundo obstáculo: por que não se escutou barulho ou grito? Por acaso um homem normalmente se depara com outro homem brandindo uma cimitarra sem esboçar reação alguma? Terceiro obstáculo: um empregado guardava a porta da frente durante toda a noite, e nem um rato consegue entrar em parte alguma do jardim de Valentin. Como o homem que morreu entrou no jardim? Quarto obstáculo: pelo mesmo raciocínio, como Brayne saiu do jardim? – E o quinto? – disse Neil, com o olhar fixo no padre inglês que se aproximava devagar pela trilha. – É uma insignificância, suponho – disse o doutor –, mas acho que bem curiosa. Quando vi a primeira vez a forma como a cabeça tinha sido cortada, imaginei que o assassino a tivesse golpeado repetidas vezes. Mas, examinando melhor, percebi muitos cortes transversais na parte mutilada; em outras palavras, os cortes foram feitos depois de a cabeça ter sido decepada. Será que Brayne odiava o inimigo de forma tão diabólica a ponto de ficar retalhando o corpo ao luar? – Medonho! – exclamou O’Brien, estremecendo. Brown, o padre baixote, chegara enquanto eles falavam e aguardara, com sua timidez característica, até eles terminarem. Então disse, desajeitado: – Senhores, sinto interrompê-los. Mas fui enviado para contar as novidades! – Novidades? – repetiu Simon, fitando-o com bastante atenção através dos óculos. – Sim, lamento – disse Padre Brown, comedido. – Houve outro assassinato. Os dois homens pularam do banco, fazendo-o balançar. – E, o que é mais estranho ainda – recomeçou o padre, com um olhar inexpressivo aos rododendros –, do mesmo jeito repulsivo: mais uma decapitação. Na verdade, encontraram a segunda cabeça sangrando no rio, a poucos metros da estrada de Brayne a Paris, então eles acreditam que ele... – Minha nossa! – gritou O’Brien. – Será que Brayne é um maníaco? – Existem vendetas americanas – afirmou o padre, impassível. E acrescentou: – Pedem a presença dos senhores na biblioteca. O comandante O’Brien seguiu os demais até o local do inquérito, com o estômago decididamente embrulhado. Na condição de militar, toda essa carnificina secreta lhe causava repugnância; quando essas ridículas decapitações iriam acabar? Primeiro uma cabeça tinha sido decepada, e agora outra; neste caso específico (falou azedo com seus botões) deixava de ser verdadeira a máxima que duas cabeças pensam melhor do que uma. Quando atravessava o gabinete, quase cambaleou devido a uma coincidência surpreendente. Na mesa de Valentin, repousava a foto colorida de uma terceira cabeça sangrando: a cabeça do próprio Valentin. Um segundo olhar revelou se tratar apenas de um jornal nacionalista, chamado A guilhotina, que a cada semana mostrava um dos oponentes políticos com olhos esbugalhados e feições retorcidas, logo após a execução; pois Valentin era um conhecido opositor do clero. Mas O’Brien era irlandês, com certa castidade mesmo nos pecados, e seu estômago se rebelou contra aquela enorme brutalidade do intelecto, encontrada apenas na França. Pôde sentir Paris em sua inteireza, do grotesco das catedrais góticas às grosseiras caricaturas dos jornais. Rememorou os gigantescos escárnios da Revolução. Vislumbrou toda a cidade semelhante a uma única e terrível energia, desde a charge sanguinária na mesa de Valentin até onde, acima da montanha e da floresta de gárgulas, o grande demônio se arreganha em Notre Dame. A biblioteca era comprida, baixa e escura; o pouco de luz que penetrava por baixo das cortinas ainda apresentava algo do rosado matiz da manhã. Valentin e oempregado Ivan esperavam por eles na extremidade mais elevada de uma mesa comprida, um pouco inclinada, na qual estavam depositados os restos mortais, enormes à luz da aurora. O grande vulto negro e o rosto amarelo do homem encontrado no jardim os confrontavam essencialmente intactos. A segunda cabeça, pescada nos juncos do rio naquela manhã, jazia escorrendo e pingando ao lado da outra; os homens de Valentin ainda tentavam resgatar o resto desse segundo cadáver, que se imaginava estivesse boiando. Padre Brown, que não aparentava partilhar, em absoluto, da susceptibilidade de O’Brien, foi até a segunda cabeça e examinou-a com atenção displicente. Consistia em pouco mais que uma careta com cabelo branco molhado, orlada com o fulgor prateado da luz escarlate e suave da aurora; o rosto, que parecia ser de um tipo feio, arroxeado e talvez criminoso, tinha sido muito lanhado ao se chocar contra galhos e pedras no rio. – Bom dia, comandante O’Brien – saudou Valentin, com serena cordialidade. – Já deve ter ouvido falar do novo experimento de Brayne na arte da carnificina, imagino? Padre Brown, ainda reclinado sobre a cabeça de cabelo branco, disse, sem levantar os olhos: – Suponho haver a certeza de que Brayne cortou esta também. – Bem, parece uma questão de bom senso – disse Valentin, com as mãos nos bolsos. – Morto do mesmo jeito que o outro. Encontrado a poucos metros do outro. E talhado com a mesma arma que sabemos que estava com ele. – Sim, sim, eu sei – respondeu Padre Brown, submisso. – Mas duvido que Brayne tenha sido capaz de decepar esta cabeça. – Por quê? – inquiriu dr. Simon, com um olhar racional. – Bem, doutor – disse o padre, levantando o olhar e piscando –, um homem consegue decepar a própria cabeça? Tenho lá minhas dúvidas. O’Brien sentiu um cosmo insano colidindo em seus ouvidos, mas o doutor deu um salto à frente com impetuoso pragmatismo e empurrou para trás a cabeleira branca e úmida. – Ah, é Brayne, sem sombra de dúvida – falou o padre, tranquilo. – Ele tinha este mesmo defeito na orelha esquerda. O detetive, que mirava o padre com olhos fixos e brilhantes, abriu a boca cerrada e disse cáustico: – Parece que o senhor sabe muito sobre ele, Padre Brown. – Sei – afirmou o homenzinho. – Estive em companhia dele por algumas semanas. Ele estava pensando em se converter à Igreja Católica. A estrela do fanatismo piscou nos olhos de Valentin; ele caminhou, a passos lentos, de punhos cerrados, rumo ao padre. – E, talvez – gritou, com um sarcasmo explosivo –, talvez ele também estivesse pensando em deixar todo o dinheiro dele para a sua igreja.
– Talvez estivesse – disse Brown, indiferente. – É possível. – Nesse caso – gritou Valentin, com um sorriso assustador –, o senhor deve mesmo saber bastante sobre ele. Sobre a vida dele e sua… O comandante O’Brien repousou a mão no braço de Valentin. – Pare com essas besteiras difamatórias, Valentin – disse –, ou pode haver ainda mais golpes de espada. Mas Valentin (sob o olhar fixo e humilde do padre) já se recompusera. – Muito bem – disse abruptamente –, agora não é hora de emitir opiniões pessoais. Cavalheiros, os senhores ainda estão comprometidos por sua promessa de ficar; é necessário que os senhores a cumpram... e façam os outros cumprirem também. Ivan, aqui, pode esclarecer tudo mais que os senhores queiram saber. Eu devo voltar ao trabalho e escrever para as autoridades. Não podemos mais manter isso em sigilo. Estarei no gabinete escrevendo, em caso de alguma novidade. – Mais alguma novidade, Ivan? – perguntou dr. Simon, tão logo o chefe da polícia saiu da sala. – Só mais uma coisinha, sir – disse Ivan, enrugando todo o velho rosto gris –, mas de certa forma importante também. Sobre aquele figurão que os senhores acharam no gramado – e apontou sem simular respeito para o corpanzil preto de cabeça amarela. – Descobrimos quem ele é. – É mesmo? – gritou o doutor, atônito. – E quem é ele? – Chamava-se Arnold Becker – disse o subdetetive –, embora usasse muitos codinomes. Era um malandro errante; sabe-se que andou pela América, e foi assim que acabou encontrando a lâmina de Brayne. Não nos deu tanto trabalho, pois atuava a maior parte do tempo na Alemanha. É claro, entramos em contato com a polícia alemã. Mas, por estranho que pareça, ele tinha um irmão gêmeo, chamado Louis Becker, que nos deu muito trabalho. De fato, casualmente ontem ele foi guilhotinado. Bem, cavalheiros, é uma coisa bizarra, mas quando vi aquele sujeito estirado na grama, tomei o maior susto da minha vida. Se não tivesse visto com meus próprios olhos Louis Becker ser guilhotinado, eu teria jurado que era Louis Becker estendido na grama. Em seguida, claro, lembrei do irmão gêmeo dele na Alemanha e, seguindo a pista… O explicativo Ivan calou-se, pela boa razão de que ninguém o escutava. O comandante e o doutor estavam encarando Padre Brown, que se pusera de pé num salto e agora apertava as têmporas com força, como quem sente uma dor repentina e violenta. – Pare, pare, pare! – gritou. – Pare de falar um minuto, pois estou entendendo só metade. Deus, dai-me forças! Meu cérebro vai dar o pulo e entender por inteiro? Que Deus me ajude! Sempre tive uma boa cabeça. Era capaz de parafrasear qualquer página de Aquino. Minha cabeça vai rachar ao meio... ou vai entender? Estou entendendo metade... estou entendendo só metade.
Enterrou a cabeça nas mãos e permaneceu numa espécie de rígida tortura de reflexão ou de reza, enquanto os outros três nada podiam fazer além de admirar o mais recente prodígio das últimas fantásticas doze horas. Quando as mãos de Padre Brown baixaram, mostraram um rosto viçoso e sincero, semelhante ao de uma criança. Ele deu um longo suspiro e disse: – Vamos ser breves e colocar os pingos nos is. Prestem atenção, este vai ser o modo mais breve de convencer todos sobre a verdade. – Virou-se para o doutor. – Dr. Simon – disse ele –, o senhor é dono de uma cachola poderosa, e hoje de manhã escutei o senhor formular as cinco questões mais complicadas deste caso. Muito bem, se o senhor as formular de novo, posso respondê-las. O pincenê de Simon caiu do nariz, de dúvida e de admiração, mas ele respondeu de imediato. – Bem, a primeira questão, o senhor lembra, é: por que afinal um homem mataria outro com um sabre tosco quando poderia fazer o mesmo com um estilete? – Um homem não pode decapitar outro com um estilete – asseverou Brown, sereno – e, para este crime em especial, decapitar era indispensável. – Por quê? – perguntou O’Brien, com interesse. – E a questão seguinte? – indagou Padre Brown. – Bem, por que o homem não gritou ou coisa do tipo? – indagou o doutor. – Sabres em jardins são raros, sem dúvida. – Os galhos – disse o padre, melancólico, e virou-se para a janela que dava para a cena do crime. – Ninguém percebeu o porquê dos galhos. Por que eles estariam caídos naquele gramado (olhem ali) tão longe das árvores? Não foram arrancados, mas cortados. O assassino entreteve o inimigo com truques de sabre, mostrando que era capaz de cortar um galho em pleno ar, ou coisa parecida. Então, quando o inimigo se abaixou para ver o resultado... um golpe silencioso, e a cabeça rolou. – Bem – disse o doutor, devagar –, isso parece bastante plausível. Mas as próximas duas questões vão deixar todos perplexos. O padre esperou, olhando, criterioso, o jardim. – Sabe, o jardim era hermeticamente fechado – continuou o doutor. – Então, de que forma o estranho entrou no jardim? Sem se voltar, o padre baixinho respondeu: – Nunca teve estranho algum no jardim. Seguiu-se um silêncio, e então o cacarejo repentino de um riso quase infantil aliviou a tensão. O absurdo do comentário de Brown levou Ivan a escancarar seu escárnio. – Ah! – gritou, – decerto não arrastamos um cadáver imenso e gordo até o sofá ontem à noite? Ele não entrou no jardim, suponho? – Entrou no jardim? – repetiu Brown, pensativo. – Não, não completamente.
– Espera aí – gritou Simon –, ou um homem entra no jardim, ou não entra. – Não necessariamente – disse o padre, com um tênue sorriso. – Qual a próxima questão, doutor? – Suspeito que o senhor não esteja bem – exclamou dr. Simon, sucinto –, mas vou repetir a próxima questão, se é isso que deseja. De que modo Brayne saiu do jardim? – Ele não saiu do jardim – disse o padre, ainda olhando pela janela. – Não saiu do jardim? – explodiu Simon. – Não completamente – disse Padre Brown. Simon sacudiu os punhos num frenesi de lógica francesa. – Ou um homem sai do jardim, ou não sai – gritou. – Nem sempre – rebateu Padre Brown. Impaciente, dr. Simon levantou-se de um pulo. – Não tenho tempo a perder com essa conversa fiada – gritou, com raiva. – Se o senhor não consegue diferenciar se um homem está deste lado ou do outro lado do muro, é melhor pararmos por aqui. – Doutor – disse o clérigo, com toda a educação –, sempre nos demos muito bem. Nem que seja em consideração à nossa velha amizade, pare e formule a quinta questão. O impaciente Simon afundou-se numa poltrona perto da porta e disse apenas: – A cabeça e os ombros ficaram picotados de um modo esquisito. Isso parece ter sido feito depois da morte. – Sim – concordou o padre, imóvel –, foi feito exatamente de modo a induzir os senhores a acreditar na única e simples mentira na qual os senhores vieram a acreditar. Foi feito para que se tomasse como certo que a cabeça pertencia ao corpo. A região fronteiriça do cérebro, onde todos os monstros são feitos, excitou-se horrendamente no gaélico O’Brien. Ele sentiu a caótica presença de todos os centauros e sereias que a fantasia sobrenatural criou. Uma voz mais antiga que a de seus primeiros ancestrais pareceu cochichar em seu ouvido: “Fique longe do monstruoso jardim, onde cresce a árvore de frutos duplos. Evite o jardim diabólico onde morreu o homem de duas cabeças.” Porém, enquanto essas vergonhosas figuras alegóricas atravessavam o remoto espelho de sua alma irlandesa, seu intelecto afrancesado estava bem alerta, observando o esquisito padre de modo tão interessado e incrédulo como todos os demais. Por fim, Padre Brown virou-se e parou de costas para a janela, com o rosto em densa penumbra; mas, mesmo naquela penumbra, eles conseguiram notar que estava branco como cinzas humanas. Entretanto, falou de maneira bem sensata, como se não houvesse almas gaélicas no mundo. – Cavalheiros – disse –, os senhores não encontraram o corpo estranho de Becker no jardim. Os senhores não encontraram qualquer corpo estranho no jardim. Mesmo diante do racionalismo do dr. Simon, continuo afirmando que apenas uma parte de Becker estava presente. Olhem isto! – exclamou, apontando a massa negra do cadáver misterioso. – Nunca viram este homem? De modo ágil, rolou a careca amarela do desconhecido e colocou no lugar dela a cabeça de cabeleira branca que estava ao lado. E lá estava inteiro, reunificado, inequívoco, Julius K. Brayne. – O assassino – retomou Brown, com voz mansa – decapitou o inimigo e jogou o sabre por cima do muro. Mas ele era esperto demais para jogar somente o sabre. Ele jogou a cabeça também. Assim, só precisou então colocar outra cabeça no corpo e (já que ele insistiu num inquérito confidencial) todos os senhores imaginaram tratar-se de um homem totalmente desconhecido. – Colocar outra cabeça! – disse O’Brien, com olhar fixo. – Que outra cabeça? Por acaso cabeças brotam nas moitas de jardim? – Não – disse Padre Brown, com a voz rouca. Olhando as próprias botinas, completou: – Elas brotam só num lugar. Brotam na cesta da guilhotina. O chefe da polícia, Aristide Valentin, estava do lado dela menos de uma hora antes do crime. Ah, meus amigos, me escutem mais um minuto antes de fazer picadinho de mim. Valentin é um homem honesto, se é que se pode chamar de honestidade enlouquecer por uma causa controversa. Mas os senhores nunca perceberam a loucura naqueles gélidos olhos cinzentos? Ele seria capaz de fazer qualquer coisa, qualquer coisa, para terminar com o que ele chama de superstição da Cruz. Ele combateu por isso, passou fome por isso e, agora, matou por isso. Antes, as alucinadas doações milionárias de Brayne tinham se dispersado entre uma multitude de seitas, pouco alterando o equilíbrio das coisas. Mas caiu nos ouvidos de Valentin que Brayne, a exemplo de muitos céticos dispersivos, estava se decidindo por nós, e isso era bem diferente. Brayne injetaria verbas na empobrecida mas combativa Igreja da França; apoiaria seis jornais nacionalistas, como A guilhotina. A batalha estava equilibrada, e o fanático se encolerizou com o risco de perder. Decidiu eliminar o ricaço e fez isso do modo como era de se esperar que o maior dos detetives cometesse seu único crime. Surrupiou a cabeça decepada de Becker com alguma justificativa de ordem criminal e a levou para casa na sua caixa oficial. Teve aquela última discussão com Brayne, da qual Lorde Galloway não escutou o fim; malograda a tentativa, atraiu Brayne até o jardim hermético, falou sobre esgrima, usou galhos e um sabre para demonstração e... Ivan da Cicatriz saltou. – Seu maluco – bradou ele –, vá falar com o meu patrão agora, senão eu lhe pego pelo... – Estou indo – falou Brown, sério. – Preciso solicitar a ele que confesse, e tudo o mais. Conduzindo o pesaroso Brown diante deles como um refém ou alguém que está para ser oferecido em sacrifício, entraram alvoroçados na quietude repentina do gabinete de Valentin. O grande detetive estava sentado à mesa, talvez ocupado demais para notar a turbulenta entrada. Pararam um instante; então, algo no aspecto daquelas costas eretas e elegantes fez o doutor se adiantar de repente. Um toque e um olhar foram suficientes para ele notar que havia um vidrinho de comprimidos perto do cotovelo de Valentin e que Valentin estava morto; e no rosto opaco do suicida havia mais do que o orgulho de Catão.[1]
[1] Marco Pórcio Catão Uticense (95 a 46 a.C.), conhecido como Catão, o Moço; suicidou-se em nome da liberdade republicana ao saber da vitória de Júlio César na Batalha de Tapso. (N.T.)
OS PÉS ESTRANHOS
Se você encontrasse um membro daquele clube seleto, “Os Doze Pescadores Verdadeiros”, entrando no Hotel Vernon para o jantar anual do clube, observaria, quando ele tirasse o sobretudo, que o casaco dele é verde e não preto. Se (supondo que tivesse a audácia e a petulância de dirigir a palavra a tal pessoa) você lhe perguntasse o porquê, é provável que ele respondesse que faz isso para não ser confundido com um garçom. Então você se afastaria com o rabo entre as pernas. Mas deixaria para trás um mistério ainda não solucionado e uma história que vale a pena contar. Se (para insistir no mesmo filão de improváveis conjeturas) você topasse com um pequeno padre meigo e incansável, chamado Padre Brown, e lhe perguntasse qual ele julgava ter sido o lance de sorte mais singular de sua vida, a resposta mais provável seria que de modo geral o seu melhor lance de sorte acontecera no Hotel Vernon, onde ele havia impedido um crime e, talvez, salvo uma alma, apenas por escutar passos no corredor. Talvez ele tenha certo orgulho desse palpite surpreendente e maravilhoso, e é possível que o mencione. Mas como não é nada provável que um dia você suba na escala social o suficiente para se encontrar com os Os Doze Pescadores Verdadeiros nem que um dia você desça baixo o suficiente entre criminosos e cortiços para conhecer Padre Brown, receio que acabe ficando sem saber da história, a menos que seja por meu intermédio. O Hotel Vernon, onde Os Doze Pescadores Verdadeiros faziam jantares anuais, era uma instituição do tipo que só poderia existir numa sociedade oligárquica obcecada, a ponto de enlouquecer por boas maneiras. Era o tipo de produto virado de cabeça para baixo – um empreendimento “seleto”. Ou seja, uma coisa que dava lucro não por atrair pessoas, mas sim por espantar pessoas. No coração da plutocracia, os comerciantes tornam-se astutos o suficiente para serem mais meticulosos que os clientes. Sem dúvida, criam dificuldades para que clientes enriquecidos e enfadonhos gastem dinheiro e diplomacia a fim de superá-las. Se em Londres houvesse um hotel da moda que proibisse a entrada de homens com menos de um metro e oitenta de altura, a sociedade docilmente criaria grupos de homens de mais de um metro e oitenta para jantar no local. Se um restaurante caro, por mero capricho do dono, abrisse somente nas tardes de quinta-feira, o restaurante ficaria lotado nas tardes de quinta-feira. O Hotel Vernon situava-se, como que por acaso, na esquina de uma praça na Belgrávia. Era um hotel pequeno – e bem desvantajoso. Mas essas mesmas desvantagens eram consideradas muralhas preservando uma classe em especial. Uma desvantagem em particular era tida como de importância crucial: o fato de que na prática só vinte e quatro pessoas podiam jantar no local ao mesmo tempo. A única e grande mesa de jantar era a celebrada mesa do terraço, que ficava numa espécie de varanda com vista para um dos mais belos e antigos jardins de Londres. Por isso, mesmo os vinte e quatro lugares dessa mesa podiam ser desfrutados apenas com tempo ameno; e isso, ao tornar o prazer mais difícil, tornava-o ainda mais desejado. O dono do hotel, um judeu de nome Lever, lucrou quase um milhão com o estabelecimento – por dificultar a entrada nele. É claro: combinava essa limitação no escopo do empreendimento com o requinte mais cuidadoso em sua performance. Os vinhos e os pratos eram realmente tão bons quanto os melhores da Europa, e a conduta dos garçons espelhava com exatidão os modos rígidos da alta sociedade britânica. O dono conhecia os garçons como a palma da mão; eram quinze no total. Era bem mais fácil tornar-se Membro do Parlamento do que se tornar garçom naquele hotel. Cada garçom era treinado para atuar com recato e silêncio extremos, como o serviçal de um cavalheiro. E, de fato, em geral havia ao menos um garçom para cada cavalheiro jantando. Os membros do clube dos Doze Pescadores Verdadeiros não teriam consentido em jantar a não ser num lugar como esse, pois insistiam numa privacidade de luxo; teriam ficado muito aborrecidos com o mero pensamento de que membros de outro clube qualquer estivessem jantando no mesmo prédio. Por ocasião do jantar anual, os Pescadores tinham o hábito de expor todos os seus tesouros como se estivessem numa residência particular, em especial o celebrado jogo de garfos e facas para peixes, de certo modo a insígnia da sociedade, cada talher delicadamente forjado em prata na forma de peixe, todos com uma grande pérola incrustada no cabo. Esses talheres eram sempre colocados para o prato à base de peixe, e o prato à base de peixe era sempre o mais magnífico naquela magnífica refeição. O clube tinha um vasto número de cerimônias e rituais, mas não tinha história nem objetivo; e era justo isso que o tornava tão aristocrático. Você não precisava ser nada para ser um dos Doze Pescadores; a menos que já fosse um determinado tipo de pessoa, jamais ouviria falar deles. O clube existia há doze anos. O presidente era o sr. Audley. O vice-presidente, o duque de Chester. Se eu consegui até certo ponto transmitir a atmosfera desse espantoso hotel, o leitor pode naturalmente se perguntar como é que fiquei sabendo algo sobre ele e pode até mesmo especular como é que gente tão comum quanto o meu amigo Padre Brown foi parar no meio dessa galeria dourada. Sobre esse aspecto, meu relato é simples, vulgar até. Há no mundo uma anciã amotinadora e demagoga que invade os refúgios mais elegantes com a medonha informação de que todos os homens são irmãos, e seja lá onde fosse essa niveladora em seu cavalo branco, era missão de Padre Brown ir atrás dela. Um dos garçons, um italiano, sofrera um derrame naquela tarde; o patrão judeu, moderadamente maravilhado com essas superstições, consentiu em chamar o padre mais próximo. O que o garçom confessou a Padre Brown não nos diz respeito, pela razão excelente de que o clérigo o guardou para si, mas parece que envolveu escrever um bilhete ou uma declaração para transmitir alguma mensagem ou consertar algum mal. Padre Brown, portanto, com a mesma meiga insolência que teria demonstrado no Palácio de Buckingham, solicitou que lhe fossem disponibilizados uma sala e material para escrever. O sr. Lever estava dilacerado ao meio. Era um homem bondoso e tinha também aquela péssima imitação de bondade: aversão a quaisquer dificuldades ou escândalos. Ao mesmo tempo, a presença de um estrangeiro não habitual em seu hotel aquela noite era como uma partícula de sujeira em algo limpo há pouco. Nunca houvera qualquer antecâmara ou antessala no Hotel Vernon, ninguém esperando no hall, nenhum hóspede casual. Havia quinze garçons. Havia doze convidados. Seria tão estarrecedor encontrar um novo convidado no hotel naquela noite como descobrir um novo irmão na família na hora do café da manhã ou do chá. Além disso, a aparência do padre era de segunda classe e suas roupas sujas de lama; o mero vislumbre à distância de sua figura poderia precipitar uma crise no clube. Por fim, o sr. Lever bolou um plano para acobertar, já que não podia suprimir a desgraça. Quando você entra (coisa que nunca irá fazer) no Hotel Vernon, passa por um corredor curto decorado com pinturas esmaecidas, mas importantes, e chega ao saguão e à sala de estar, que dão à direita a corredores que levam aos quartos dos hóspedes e à esquerda a um corredor semelhante que conduz às cozinhas e aos gabinetes do hotel. Logo à esquerda encontra-se o recanto do gabinete de vidro, que limita com a sala de estar – uma casa dentro da casa, por assim dizer, assim como o velho bar de hotel que um dia talvez tenha ocupado o seu lugar. Nesse gabinete ficava sentado o representante do proprietário (ninguém nesse lugar aparecia em pessoa se pudesse evitá-lo); pouco adiante do gabinete, na direção do alojamento dos empregados, ficava a chapelaria, a última fronteira do domínio dos cavalheiros. Mas entre o gabinete e a chapelaria existia uma salinha particular sem outra saída, utilizada às vezes pelo dono para assuntos delicados e importantes, como emprestar mil libras a um duque ou negar-lhe o empréstimo de meia dúzia de centavos. Sinal da magnífica tolerância do sr. Lever é o fato de ter permitido que esse ambiente sagrado fosse profanado durante meia hora por um mero padre rabiscando coisas num pedaço de papel. A história que Padre Brown escrevia era muito provavelmente bem melhor do que esta, com a diferença de que ninguém jamais a conhecerá. Posso apenas afirmar que tinha o mesmo número de páginas e que os dois ou três últimos parágrafos eram os menos emocionantes e absorventes. Pois foi ao chegar na altura desses que o padre começou um pouco a dar asas ao pensamento e a permitir a seu instinto animal despertar. A hora da escuridão e da janta se aproximava; a própria salinha esquecida estava sem uma luz sequer, e talvez o cair das trevas, como de vez em quando acontece, tenha aguçado as sensações sonoras. Enquanto Padre Brown escrevia a última e menos importante parte de seu documento, sem querer, flagrou-se escrevendo no ritmo de um ruído repetido do lado de fora, assim como quando alguém pensa na cadência de um trem em movimento. Quando caiu em si, descobriu o que era: não mais que o simples som de passos no corredor, algo que num hotel não era coisa tão improvável. Entretanto, ele olhou fixo para o teto escuro e escutou o barulho. Depois de escutar por alguns segundos de modo sonhador, ficou em pé de repente e escutou com atenção, inclinando um pouco a cabeça. Então se sentou de novo e enterrou o sobrolho nas mãos, agora não apenas escutando, mas escutando e pensando também. Os passos do lado de fora em todo o tempo eram do tipo que se pode escutar em qualquer hotel, mas, considerados no conjunto, havia algo muito estranho neles. Não havia outros passos. Era sempre um estabelecimento muito silencioso, pois os poucos hóspedes costumeiros iam direto para seus próprios apartamentos, e os bem treinados garçons eram ensinados a ficarem quase invisíveis até serem solicitados. Impossível conceber um lugar onde houvesse menos razão para perceber algo irregular. Mas esses passos eram tão esquisitos que não se poderia decidir chamá-los de regulares nem de irregulares. Padre Brown acompanhou-os com o dedo na borda da mesa, como um homem tentando aprender uma melodia ao piano. Primeiro veio uma longa arremetida de passinhos rápidos, como um homem leve vencendo uma competição de caminhada. A certa altura, os passos pararam e mudaram para um tipo de pisada lenta e oscilante, totalizando nem uma quarta parte dos passos, mas demorando por volta do mesmo tempo. No momento em que sumia o som da última e ecoante pisada, retornava a investida ou a onda de pés ligeiros e apressados e, então, outra vez os pés batendo com força. Era com certeza o mesmo par de botas, em parte porque (como já foi dito) não havia outras botas por perto e em parte porque elas apresentavam um mínimo, porém inconfundível rangido. A cabeça de Padre Brown era do tipo que não conseguia deixar de formular perguntas; e quase quebrou a cabeça pensando nessa questão aparentemente banal. Já tinha visto homens correrem para pular. Já tinha visto homens correrem para escorregar. Mas por que cargas d’água um homem correria para caminhar? Mas outra descrição não se encaixaria melhor para esse invisível par de pernas. O homem estava ou caminhando acelerado em um dos lados do corredor para então caminhar bem devagar na outra metade, ou estava caminhando muito devagar num lado para ter o êxtase de apertar o passo no outro. Nem uma e nem outra sugestão pareciam fazer muito sentido. O seu cérebro ficava cada vez mais sombrio, como a saleta. Mas, quando começou a pensar de modo pausado, a própria escuridão de sua cela pareceu tornar mais vívidos seus pensamentos; ele começou a imaginar, como numa espécie de visão, os pés fantásticos saltitando para lá e para cá no corredor em atitudes artificiais ou simbólicas. Seria uma dança pagã? Ou um novo tipo de exercício físico inteiramente novo? Padre Brown começou se questionar com mais exatidão o que os passos sugeriam. Analisando o passo lento primeiro: com certeza não era o passo do dono. Homens daquele tipo ou caminham com rápido gingado ou sentam-se imóveis. Não poderia ser um serviçal ou mensageiro do hotel à espera de instruções. Não deu essa impressão. Pessoas das classes mais pobres (numa oligarquia) às vezes cambaleiam quando um pouco embriagadas, mas em geral, e especialmente nessas encantadoras cenas, ficam em pé ou sentadas em poses constrangidas. Não: aquele passo pesado mas elástico, com certa ênfase descuidada, não muito ruidoso mas pouco se importando com o ruído que fazia, pertencia a só um entre os animais terrestres. Era um cavalheiro da Europa ocidental, e, mais provável, um que nunca precisara trabalhar. Tão logo ele chegou a essa sólida conclusão, o ritmo dos passos mudou para o acelerado e cruzou pela porta tão febrilmente quanto um rato. O ouvinte notou que, embora o passo fosse mais veloz, era também mais silencioso, quase como se o homem estivesse caminhando na ponta dos pés. Mas em sua mente os passos não estavam associados com sigilo, mas com outra coisa – outra coisa que ele não conseguia se lembrar. Sentiu-se enlouquecido por uma daquelas meias-lembranças que fazem um homem sentir-se meio-estúpido. Com certeza, já ouvira aquele estranho andar acelerado em outro lugar. De repente, ergueu-se num pulo com uma nova ideia na cabeça e caminhou até a porta. A sala onde estava não tinha comunicação direta com o corredor, mas dava num lado para o gabinete de vidro e no outro para a chapelaria. Tentou a porta que dava para o gabinete; estava trancada. Então olhou para a janela: naquele instante, na vidraça quadrada, o lívido pôr do sol atravessava a nuvem púrpura; por um momento, ele farejou o mal como cães farejam ratos. A sua parte racional (sendo ou não a mais sábia) readquiriu a supremacia. Recordou que o proprietário lhe dissera que passaria a chave na porta e voltaria mais tarde para abri-la. Disse para si mesmo que umas vinte coisas em que não pensara podiam explicar os sons excêntricos lá fora; lembrou que havia luz suficiente apenas para conseguir terminar seu trabalho propriamente dito. Trazendo o papel para perto da janela a fim de captar o último e tempestuoso lusco-fusco, mergulhou outra vez de forma resoluta no quase pronto relato. Depois de escrever por mais vinte minutos, inclinando mais e mais o rosto sobre o papel na luz bruxuleante, de súbito ajeitou-se na cadeira. Escutara os pés estranhos outra vez. Dessa vez, eles tinham uma terceira esquisitice. Antes o homem desconhecido caminhara, com verdadeira leveza e rapidez de relâmpago, mas caminhara. Dessa vez ele correra. Era possível ouvir os passos velozes e suaves saltando no corredor, como patas de uma pantera em fuga. Quem quer que estivesse vindo era um homem muito forte e ativo, em uma animação silenciosa mas dilacerante. Porém, depois de o som passar em frente ao gabinete como uma espécie de furacão furtivo, sem prévio aviso mudou de novo para a velha passada preguiçosa e pomposa.
Padre Brown largou o papel e, sabendo que a porta do gabinete estava trancada, acorreu de imediato à chapelaria do outro lado. O atendente desse local estava ausente no momento, talvez porque os únicos hóspedes jantavam e seu ofício era fácil e bem pago. Após atravessar às apalpadelas uma cinzenta floresta de sobretudos, descobriu que a chapelaria dava acesso ao corredor iluminado na forma de uma espécie de balcão ou meia-porta, como a maioria dos balcões por cima dos quais nós todos entregamos guarda-chuvas e recebemos tíquetes. Havia uma luz bem acima do arco semicircular dessa abertura. Lançava pouca iluminação sobre o próprio Padre Brown, que parecia um mero contorno escuro contra o crepúsculo opaco na janela atrás dele. Mas lançava uma luz quase teatral sobre o homem parado no corredor à frente do balcão. Era um homem elegante num traje social muito discreto; alto, mas com jeito de quem não ocupava muito espaço; percebia-se que ele poderia deslizar como uma sombra por onde muitos homens menores tornar-se-iam óbvios e obstrutivos. Seu rosto, então um pouco recuado sob a suave luz da lâmpada, era trigueiro e vivaz, um rosto estrangeiro. Bem-apessoado, com ar bem-humorado e confiante; um crítico poderia apenas mencionar que seu casaco preto não estava à altura de sua pessoa e de sua atitude; estava até mesmo saliente e inflado de uma forma bizarra. Na hora em que vislumbrou a silhueta preta de Brown contra o pôr do sol, atirou no balcão uma tira de papel com um número e disse com amigável autoridade: – Quero meu chapéu e meu sobretudo, por favor; preciso ir embora. Padre Brown apanhou o papel sem pronunciar uma palavra e, obediente, procurou o sobretudo; não era o primeiro trabalho humilde que fazia em sua vida. Trouxe-o e repousou-o sobre o balcão; nesse meio-tempo, o estranho cavalheiro, apalpando o bolso do colete, disse rindo: – Estou sem uma moeda de prata; pode ficar com isto. Largou meio soberano de ouro no balcão e pegou o sobretudo. O vulto de Padre Brown permaneceu escuro e imóvel, mas naquele instante perdera a cabeça. A cabeça dele era sempre mais valiosa quando ele a perdia. Nesses momentos ele somava dois com dois e o resultado era quatro milhões. Com frequência a Igreja Católica (casada com o bom senso) não aprovava isso. Com frequência ele não aprovava a si mesmo. Mas era inspiração pura – importante nas crises raras – quando aquele que perder a cabeça há de encontrá-la. – Acho, sir – respondeu, com educação –, que o senhor tem uma moeda de prata no bolso. O homenzarrão o encarou. – Espere aí – gritou ele. – Se eu quis dar a de ouro, por que você está reclamando? – Porque às vezes prata vale mais que ouro – disse o padre, com voz suave. – Quero dizer, em grandes quantidades. O estranho observou-o com curiosidade. Em seguida observou com mais curiosidade ainda o corredor em direção à entrada principal. Então observou Brown de novo, e em seguida observou com atenção a janela atrás da cabeça de Brown, ainda colorida com o brilho do fim da tempestade. Então pareceu ter tomado uma decisão. Colocou uma das mãos sobre o balcão, saltou por cima dele tão facilmente quanto um acrobata e caiu na frente do padre, agarrando o seu colarinho com a mão estupenda. – Não se mexa – disse, num sussurro cortante. – Não quero ameaçá-lo, mas... – Mas eu quero ameaçá-lo – repetiu Padre Brown, em voz de tambor ressoante. – Quero ameaçá-lo com o verme que não morre e o fogo que não se apaga. – Você é um tipo esquisito de atendente de chapelaria – disse o outro. – Sou padre, Monsieur Flambeau – disse Brown –, e estou pronto para ouvir sua confissão. O outro respirou fundo por um momento; em seguida recuou cambaleante e se sentou numa cadeira.
Os primeiros dois pratos do jantar dos Doze Pescadores Verdadeiros transcorreram com sucesso plácido. Não tenho cópia do menu e mesmo se eu tivesse ninguém poderia entender nada. Estava escrito numa espécie de superfrancês empregado pelos mestres-cucas, mas deveras ininteligível para franceses. Pela tradição do clube, os hors d’oeuvres deveriam ser variados e múltiplos quase até o ponto da loucura. Eram levados a sério, pois reconhecidamente eram adornos inúteis, como todo o jantar e todo o clube. Também pela tradição do clube, a sopa de entrada deveria ser leve e despretensiosa – um tipo de vigília simples e austera para o banquete de peixe prestes a acontecer. A conversa era aquela conversa estranha e escassa que governa o Império Britânico, que o governa em segredo e, no entanto, mal instruiria um inglês comum se ele pudesse ouvi-la por acaso. Ministros de gabinete dos dois lados eram aludidos por seus prenomes com uma espécie de enfadonha benignidade. O Chanceler Radical de Exchequer, a quem todo o Partido Conservador deveria estar amaldiçoando por suas extorsões, recebia elogios por sua poesia menor ou por sua sela no campo de caça. O líder dos conservadores, a quem todos os liberais deveriam odiar como a um tirano, virou tópico de discussão e, no frigir dos ovos, recebeu louvores – por ser liberal. Parecia de alguma forma que os políticos mereciam bastante importância. E, no entanto, nada parecia importante neles exceto sua política. O sr. Audley, o diretor, homem afável e idoso que ainda vestia colarinhos à Gladstone, era uma espécie de símbolo de toda aquela espectral mas resoluta sociedade. Nunca fizera algo – nem ao menos algo errado. Não era ligeiro; não era nem ao menos especialmente rico. Apenas sabia das coisas, nada mais do que isso. Nenhum partido poderia ignorá-lo, e se ele desejasse estar no Ministério certamente seria colocado lá. O duque de Chester, o vice-presidente, era um jovem político em ascensão. Em outras palavras, era um rapagão agradável, com cabelos lisos e loiros e rosto sardento, de inteligência moderada e patrimônio colossal. Em público, suas aparições eram sempre bem-sucedidas e seus princípios eram simples. Quando lhe vinha uma piada na cabeça, ele a contava e era chamado de brilhante. Quando não lhe vinha uma piada na cabeça, dizia que não tinha tempo para tolices e era chamado de competente. Em particular, num clube de sua própria classe, comportava-se de modo simples e agradavelmente franco e bobo, como um menino em idade escolar. O sr. Audley, nunca tendo se metido em política, tratava-os com um pouco mais de seriedade. Às vezes chegava mesmo a constranger o grupo reunido com frases que sugeriam haver alguma diferença entre liberais e conservadores. Ele próprio era conservador, até mesmo na vida particular. Tinha um rolo de cabelo grisalho na parte de trás do colarinho, como certos estadistas fora de moda; visto de costas parecia o homem desejado pelo império. Visto de frente parecia um solteirão meigo, indulgente com os próprios impulsos, com quartos no Albany – exatamente o que ele era. Como já foi mencionado, havia vinte e quatro lugares na mesa do terraço e apenas doze membros no clube. Assim, eles podiam ocupar o terraço no estilo mais luxuoso possível, arranjados ao longo do lado interno da mesa, sem ninguém na frente, com vista contínua para o jardim, cujas cores permaneciam vivas, embora o anoitecer estivesse caindo de modo um tanto lúgubre para aquela época do ano. O diretor sentouse no centro da fileira e o vice-presidente na ponta direita. Quando os doze convidados se agruparam ao redor da mesa e foram tomando seus lugares, como de costume (e por alguma razão desconhecida) todos os quinze garçons se alinharam de costas para a parede, como tropas apresentando armas ao rei; por sua vez, o balofo proprietário ficou parado fazendo mesuras aos membros do clube com surpresa radiante, como se nunca os tivesse visto antes. Mas, antes do primeiro tilintar de garfo e faca, esse exército de secretários desapareceu; apenas um ou dois necessários para pegar e distribuir os pratos corriam para lá e para cá em silêncio espectral. O sr. Lever, o dono, é claro, sumira em convulsões de cortesia há um bom tempo. Seria exagero, até mesmo irreverência, dizer que ele realmente apareceu de novo. Mas quando o prato importante, o prato de peixe, estava sendo servido, percebeu-se – como vou dizer? – uma sombra vívida, uma projeção de sua personalidade pairando no ambiente. O sagrado prato de peixe consistia (aos olhos do vulgo) numa espécie de pudim monstruoso, de tamanho e formato parecidos com o de um bolo de casamento, dentro do qual um número considerável de peixes interessantes enfim perdera a forma que Deus lhes dera. Os Doze Pescadores Verdadeiros empunharam os celebrados talheres de peixe e se aproximaram do pudim de forma solene – como se cada polegada dele custasse tanto quanto o garfo de prata utilizado para comê-lo. E custava, até onde eu sei. O pudim foi manejado com ânsia num silêncio devorador, e só ao ver o prato quase vazio que o jovem duque fez a observação de praxe: – Não conseguem fazer isso em outro lugar, só aqui. – Em lugar nenhum – disse o sr. Audley, com voz profunda e grave, volvendo o olhar ao interlocutor e assentindo várias vezes com a cabeça. – Em lugar nenhum, com certeza, a não ser aqui. Fui informado de que o Café Anglais... Depois de interrompido e até mesmo perturbado pela retirada do seu prato, recuperou o valioso fio da meada. – Fui informado de que o Café Anglais serve um tão bom quanto este. Nem parecido, sir – disse ele, balançando a cabeça de modo implacável, como um juiz sentenciando alguém à forca. – Nem parecido. – Lugar superestimado – disse um certo coronel Pound, falando (por seu aspecto) pela primeira vez em meses. – Ah, não sei – disse o otimista duque de Chester. – É muito bom para certas coisas. É imbatível em... Um garçom apareceu rápido no salão e então estacou. Sua parada foi tão silenciosa quanto seu andar, mas todos aqueles distraídos e gentis cavalheiros estavam tão acostumados à suavidade absoluta do mecanismo invisível que cercava e dava suporte a suas vidas, que um garçom fazendo algo inesperado era motivo de sobressalto e de abalo. Eles se sentiram como você e eu nos sentiríamos se o mundo inanimado deixasse de obedecer – se uma cadeira fugisse de nós. Por alguns segundos, o garçom permaneceu com o olhar fixo, enquanto cada rosto na mesa ostentava uma estranha vergonha que é, em essência, produto de nosso tempo. É a combinação do humanitarismo moderno com o horrível abismo moderno entre almas ricas e pobres. Um aristocrata legítimo teria jogado objetos em cima do garçom, começando com garrafas vazias e muito provavelmente terminando com dinheiro. Um verdadeiro democrata teria lhe perguntado, com a fala nítida dos camaradas, o que diabos ele estava fazendo. Mas esses plutocratas modernos não conseguiam suportar um homem pobre perto deles, fosse na condição de escravo ou de amigo. Algo errado com os empregados não passava de constrangimento insípido e intenso. Não queriam ser estúpidos e tinham pavor de demonstrar benevolência. Queriam que aquilo, fosse lá o que fosse, acabasse de uma vez. E acabou. O garçom, após ficar um tempo rígido como um cataléptico, deu meia-volta e correu alucinado para fora do salão. Quando reapareceu no salão, ou para ser mais exato na soleira da porta, estava em companhia de outro garçom, com quem sussurrou e gesticulou com ferocidade sulista. Então o primeiro garçom foi embora, deixando o segundo garçom, e reapareceu com um terceiro garçom. Quando um quarto garçom se uniu a essa apressada assembleia, o sr. Audley considerou necessário quebrar o silêncio a bem da diplomacia. Em vez de martelo presidencial, tossiu bem alto e disse: – Trabalho formidável o jovem Moocher está realizando em Burma. Venhamos e convenhamos, nenhuma outra nação no mundo teria... Um quinto garçom disparou como uma flecha na direção dele e sussurrou em seu ouvido: – Sinto muito. Importante! O proprietário poderia ter uma palavrinha com o senhor? O diretor voltou-se perturbado e com o olhar estupefato viu o sr. Lever aproximando-se com sua arrastada ligeireza. O modo de andar do bom proprietário na verdade era o de sempre, mas o rosto de jeito nenhum era o de sempre. Em geral moreno e corado, estava amarelo e pálido. – Com o seu perdão, sr. Audley – disse ele, com falta de fôlego asmática. – Estou muito apreensivo. Seus pratos de peixe foram levados e os talheres também! – Bem, assim espero – disse o diretor, com certa amabilidade. – O senhor não o viu? – arquejou o hoteleiro com agitação. – Não viu o garçom que levou os talheres? Não o conhece? – Se eu conheço o garçom? – respondeu o sr. Audley indignado. – Claro que não! O sr. Lever abriu as mãos num gesto de agonia. – Não o mandei vir para cá – disse. – Não sei quando nem por que ele veio. Mandei meu garçom retirar os pratos, mas quando ele chegou já tinham levado. O sr. Audley continuava desnorteado demais para ser realmente o homem desejado pelo império; ninguém do grupo pôde dizer nada a não ser o homem de madeira – o coronel Pound – que parecia galvanizado numa vida não natural. Ergueu-se rigidamente da cadeira, deixando todos os demais sentados, colocou o monóculo e falou numa voz meio baixa e rouca, meio como se tivesse esquecido como falar. – O senhor quer dizer – indagou – que alguém roubou nosso faqueiro de prata? O dono repetiu o gesto de abrir as mãos em desespero ainda maior, e num átimo todos os homens à mesa se levantaram. – Todos os seus garçons estão aqui? – perguntou o coronel, em seu tom baixo e áspero. – Sim, estão. Eu mesmo conferi – gritou o jovem duque, enfiando o rosto infantil no meio do anel interno da mesa. – Sempre conto os garçons quando entro; parecem tão estranhos em pé encostados à parede. – Mas com certeza ninguém poderia lembrar exatamente – começou o sr. Audley, com violenta hesitação. – Lembro exatamente, estou dizendo – gritou o duque exaltado. – Nunca houve mais do que quinze garçons neste lugar, e hoje não tinha mais do que quinze, eu juro. Nem mais e nem menos. O proprietário virou-se para ele, tremelicando entorpecido de surpresa.
– O senhor está me dizendo... o senhor está me dizendo... – gaguejou – que viu todos os meus quinze garçons? – Como de costume – assentiu o duque. – Por quê? Algum problema nisso? – Nen-hum – disse Lever, acentuando o sotaque –, mas o sen-hor não viu. Pois um deles está morto lá em cima. Por um instante, houve uma calmaria chocante naquela sala. Pode ser (tão sobrenatural é a palavra morte) que cada um daqueles homens ociosos tenha espiado a própria alma por um segundo e visto uma pequena ervilha seca. Um deles – o duque se não me engano – chegou a dizer, com a idiótica bondade dos ricos: – Podemos fazer alguma coisa? – Um padre foi chamado – disse o judeu, não sem mostrar emoção. Então, como quem ouve a trombeta do juízo final, eles tomaram consciência de sua própria posição. Por uns poucos e bizarros segundos, haviam achado que o décimo quinto garçom pudesse ser o fantasma do morto lá em cima. Sob essa opressão ficaram aparvalhados, pois, para eles, os fantasmas eram tão constrangedores quanto os mendigos. Mas a recordação da prataria desfez o feitiço do miraculoso: desfez de forma abrupta e com uma reação bruta. O coronel derrubou sua cadeira e precipitou-se rumo à porta. – Se tinha um décimo quinto homem aqui, amigos – disse –, esse décimo quinto camarada era um gatuno. Desçam logo até as portas da frente e de trás e garantam a segurança; conversamos depois. Vale a pena recuperarmos as vinte e quatro pérolas do clube. Num primeiro momento, o sr. Audley pareceu hesitar sobre se era ou não cavalheiresco tomar qualquer atitude impensada, mas vendo o duque disparar escada abaixo com energia adolescente, seguiu atrás com movimentos mais maduros. No mesmo instante, entrou um sexto garçom na sala e declarou que encontrara a pilha de pratos de peixe sobre um aparador. Nem sinal da prata. A multidão de comensais e atendentes que despencou precipitada pelos corredores dividiu-se em dois grupos. A maioria dos Pescadores seguiu o proprietário até o hall de entrada para perguntar se alguém havia saído. O coronel Pound, com o diretor, o vice-presidente e mais um ou dois sócios chisparam corredor abaixo na direção dos cômodos dos empregados, como a mais provável rota de fuga. Enquanto faziam isso, passaram pela sombria alcova ou caverna da chapelaria e vislumbraram um vulto baixote, de casaco preto, presumivelmente um funcionário, em pé, um pouco escondido pela sombra. – Ei, você! – chamou o duque. – Viu alguém passar por aqui? O vulto baixote não respondeu à pergunta de modo direto. Disse apenas: – Acho que tenho o que os senhores estão procurando, cavalheiros. O grupo parou, hesitante e atônito; por sua vez, o homenzinho se encaminhou em silêncio ao fundo da chapelaria e voltou com as duas mãos cheias de prata reluzente, que depositou em cima do balcão com calma de vendedor. A prata era moldada singularmente na forma de uma dúzia de garfos e facas. – Você... você... – começou o coronel, enfim perdendo o equilíbrio. Então espiou na salinha escura e viu duas coisas: primeiro, que o baixinho de roupa preta estava vestido como um clérigo; e, segundo, que a janela da sala atrás dele estava arrebentada, como se alguém tivesse passado violentamente através dela. – Coisas valiosas para se guardar numa chapelaria, não acham? – observou o clérigo, com calma satisfação. – Foi o senhor… quem roubou isso? – gaguejou o sr. Audley, com o olhar arregalado. – Se roubei – disse o clérigo de modo divertido –, ao menos estou devolvendo. – Mas o senhor não roubou – disse o coronel Pound, ainda com o olhar fixo na janela quebrada. – Confesso que não fui eu – disse o outro com certo humor. E sentou-se com seriedade num banquinho. – Mas sabe quem roubou – disse o coronel. – Não sei o nome verdadeiro dele – respondeu o padre com placidez –, mas sei um pouco sobre o seu peso de lutador e um bocado sobre suas dificuldades espirituais. Fiz a estimativa física enquanto ele tentava me esganar e a estimativa moral quando ele se arrependeu. – Ah, sim... se arrependeu! – gritou o jovem Chester, com uma espécie de riso cantado. Padre Brown levantou-se e juntou as mãos atrás das costas. – Esquisito, não é – disse ele –, que um ladrão e velhaco se arrependa, enquanto tantos ricos idôneos permanecem impassíveis e frívolos, sem produzir frutos nem para Deus nem para os homens? Mas neste caso, os senhores vão me desculpar: estão invadindo um pouco o meu terreno. Se duvidam da penitência como fato prático, aí estão seus talheres. Os senhores são Os Doze Pescadores Verdadeiros: aí está toda sua prata para peixe. Mas Ele fez de mim um pescador de homens. – O senhor pescou este homem? – indagou o coronel, franzindo a testa. Padre Brown encarou o rosto franzido do coronel. – Sim – disse ele – eu o pesquei, com um anzol oculto e uma linha invisível, comprida o suficiente para deixá-lo perambular aos confins do mundo e ainda ser capaz de trazê-lo de volta com um puxão na linha. Fez-se um demorado silêncio. Todos os outros homens presentes se dispersaram para levar a prata recuperada para os camaradas, ou para consultar o proprietário sobre a estranha condição do caso. Mas o coronel de face sombria permaneceu sentado de lado sobre o balcão, balançando as pernas compridas e delgadas e mordiscando o bigode escuro. Por fim, disse em voz baixa ao padre: – Ele deve ser um sujeito esperto, mas acho que conheço alguém mais esperto. – Ele era um sujeito esperto – respondeu o outro –, mas não tenho muita certeza a qual outro o senhor se refere. – Refiro-me ao senhor – disse o coronel, com uma risada breve. – Não quero ver o sujeito atrás das grades; o senhor pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas eu daria muitos garfos de prata para saber exatamente como o senhor deslindou este caso e como o senhor o convenceu a falar. Creio que o senhor é o diabo mais esperto do grupo hoje presente. Padre Brown pareceu apreciar a candura melancólica do militar. – Bem – disse ele, sorrindo – não vou contar nada ao senhor sobre a identidade do homem nem sua história pessoal, mas não há motivo algum para que eu não lhe conte os simples fatos que acabei descobrindo. Ele saltou sobre o balcão com inesperada agilidade e sentou-se ao lado do coronel Pound, chutando o ar com as pernas curtas, como um menino no portão. Começou a contar a história tão naturalmente como se a estivesse contando a um velho amigo perto da lareira em pleno Natal. – Veja bem, coronel – disse ele –, lá estava eu fechado naquele quartinho escrevendo umas coisas, quando então escutei dois pés neste corredor fazendo uma dança tão estranha quanto a dança da morte. Primeiro passinhos ligeiros e engraçados, como um homem andando na ponta dos pés valendo uma aposta; e então passos rangedores, vagarosos e descuidados, como os de um homenzarrão passeando por aí com um charuto. Mas, juro, os mesmos pés faziam os dois tipos de passos, e vinham em ciclos: primeiro a corrida, depois a caminhada e então a corrida outra vez. Fiquei me perguntando, primeiro de um modo desocupado depois desenfreado, por que um homem precisaria encenar esses dois papéis no mesmo ato. Um passo eu conhecia; era como o seu, coronel. O passo de um cavalheiro bem-alimentado esperando por algo, que passeia por aí mais porque está fisicamente alerta do que porque está mentalmente impaciente. Eu conhecia o outro passo, também, mas não conseguia lembrar qual era. Que criatura indômita eu conhecera em minhas jornadas que disparava na ponta dos pés naquele estilo extraordinário? Em seguida, escutei um tilintar de pratos em algum lugar; e a resposta surgiu tão clara como a resposta de São Pedro. Era o passo de um garçom: que anda com o corpo inclinado para frente, os olhos voltados para baixo, a ponta dos pés varrendo o chão, o fraque e o guardanapo esvoaçando. Em seguida pensei mais um minuto e meio. E acredito que vi o método do crime tão claramente como se estivesse prestes a cometê-lo. O coronel Pound olhou-o com sagacidade, mas os olhos cinza-claros do interlocutor estavam fixos no teto com melancolia quase vazia.
– Um crime – disse devagar – é como qualquer outra obra de arte. Não fique surpreso: de jeito nenhum crimes são as únicas obras de arte das oficinas infernais. Mas cada obra de arte, divina ou satânica, tem sua marca indelével... quero dizer, o cerne dela é simples, não importa quão complicada possa ser a execução. Assim, se me permite dizer, em Hamlet, o ar grotesco do coveiro, as flores da moça desvairada, os ornatos fantásticos de Osric, a palidez do espectro e o sorriso do crânio são todos estranhezas numa espécie de grinalda emaranhada ao redor da personagem trágica e singela de um homem de preto. Bem, esta – disse ele, escorregando devagar do balcão com um sorriso – também é a tragédia singela de um homem de preto. Sim – prosseguiu, percebendo que o coronel erguia os olhos com admiração –, toda esta história se resume num casaco preto. Nesta história, como Hamlet, tem excrescências rococós… os senhores, se me permite dizer. Tem o garçom morto, presente quando devia estar ausente. Tem a mão invisível que varreu a prataria da mesa e a dissipou no ar. Mas todo crime inteligente se baseia no fim das contas em um fato muito simples, um fato por si só nada misterioso. A mistificação surge em encobri-lo, em conduzir os pensamentos dos homens para longe dele. Este crime substancial, sutil e (em seu curso normal) muito lucrativo construiu-se a partir do singelo fato de que o traje de gala dos cavalheiros é o mesmo traje dos garçons. Todo o resto foi atuação, uma atuação estrondosamente boa, diga-se de passagem. – Mesmo assim – disse o coronel, ao levantar franzindo a testa, com olhar cabisbaixo –, não tenho certeza se entendi. – Coronel – disse Padre Brown –, eu lhe digo que esse arcanjo da impudência que roubou seus garfos passou para lá e para cá neste corredor vinte vezes no clarão de todas as lâmpadas, sob a vista de todos os olhares. Não ficou se escondendo em cantos escuros onde poderia ter despertado suspeitas. Permaneceu em constante movimento pelos corredores iluminados; em todos os ambientes em que andou parecia estar ali por bem e por direito. Não me pergunte como eram suas feições; o senhor deve tê-lo visto seis ou sete vezes hoje à noite. O senhor estava esperando com todas as outras pessoas importantes na sala de recepção lá no fim do corredor, com o terraço logo depois. Sempre que ele esteve na presença dos cavalheiros, o fez no elétrico estilo de um garçom, a cabeça curva, o guardanapo esvoaçante e os pés voadores. Disparou terraço adentro, fez algo na toalha da mesa e disparou de novo rumo ao gabinete e às dependências dos empregados. Quando passava na frente do funcionário do gabinete e dos garçons, cada centímetro de seu corpo tornava-se outro homem, em cada gesto instintivo. Passeou no meio dos empregados com a costumeira insolência distraída dos patrões. Para eles, não era novidade ver um almofadinha da mesa de jantar zanzando no hotel como um animal no zoológico; sabem que nada distingue melhor a classe abastada do que o hábito de caminhar quando bem entende. Quando ele ficava magnificamente entediado de caminhar por aquele corredor em especial, dava meia volta e andava na direção do gabinete; sob a sombra da arcada alterava o comportamento num passe de mágica e entrava correndo de novo entre os Doze Pescadores, um solícito atendente. Por que os cavalheiros prestariam atenção num garçom novato? Por que os garçons desconfiariam de um cavalheiro caminhante de primeira classe? Uma ou duas vezes ele praticou os truques mais arrojados. Nas dependências privativas do proprietário, pediu com vivacidade uma garrafa de água tônica, dizendo que estava com sede. Disse contente que ele mesmo carregaria, e assim o fez; carregou a garrafa com rapidez e correção no meio de todos, um garçom cumprindo sua missão. Claro, não poderia ter mantido a farsa por muito tempo; apenas precisou mantê-la até o fim do prato de peixe. “O pior momento dele foi quando os garçons ficaram em fila, mas mesmo naquele momento ele deu um jeito de recostar-se contra a parede perto do canto de forma tal que naquele instante importante os garçons pensaram que ele era um cavalheiro, enquanto os cavalheiros pensaram que ele era um garçom. O resto foi fácil. Se algum garçom o encontrasse longe da mesa, esse garçom encontraria um lânguido aristocrata. Teve apenas de escolher o momento certo, dois minutos antes de o peixe ser retirado, para se tornar um diligente garçom e sair de fininho. Colocou os pratos sobre um aparador, recheou com a prataria os bolsos internos do casaco, dando a ele uma aparência bojuda e correu como lebre (eu o escutei vindo) até chegar à chapelaria. Ali ele precisava apenas ser um plutocrata de novo... um plutocrata chamado para tratar de negócios urgentes. Precisava apenas entregar o tíquete ao atendente da chapelaria e sair com a mesma elegância com que entrara. Só... só que o atendente da chapelaria casualmente era eu.” – O que o senhor fez com ele? – gritou o coronel, com rara intensidade. – O que ele disse ao senhor? – Vai me desculpar – disse o padre, impassível –, a história termina aqui. – E aqui começa a história interessante – murmurou Pound. – Acho que entendi o truque profissional dele. Mas parece que não captei o seu. – Preciso ir embora – disse Padre Brown. Caminharam juntos no corredor até o salão de entrada, onde viram o rosto robusto e sardento do duque de Chester rumando alegre na direção deles. – Venha cá, Pound – gritou quase sem fôlego. – Estive lhe procurando por tudo que é lugar. O jantar segue em formidável estilo, e o velho Audley fez até discurso em honra aos garfos salvos. Queremos começar uma nova cerimônia, sabe... para comemorar a ocasião. Pois o senhor que recuperou os talheres. O que sugere? – Bem – disse o coronel, mirando-o com certa aprovação sardônica –, sugiro que de agora em diante a gente comece a usar casacos verdes, em vez de pretos. Nunca se sabe que tipo de engano pode acontecer quando alguém é confundido com um garçom. – Ah, pare com isso! – disse o rapaz. – Cavalheiros nunca se parecem com garçons. – Nem garçons com cavalheiros, suponho – disse o coronel Pound, com o mesmo riso sombrio no rosto. – Senhor reverendo, o seu amigo deve ter sido muito esperto para interpretar o cavalheiro. Padre Brown abotoou até o pescoço o sobretudo trivial, pois a noite estava tempestuosa, e apanhou no suporte o guarda-chuva trivial. – Sim – disse ele –, ser cavalheiro dá muito trabalho. Mas, sabe, às vezes fico pensando se ser garçom não dá quase o mesmo trabalho. E, dizendo “boa noite”, abriu as pesadas portas daquele palácio de prazeres. Os portões dourados fecharam-se atrás dele, e ele seguiu num passo apressado pelas ruas úmidas e lúgubres, à procura de um ônibus.
Se você encontrasse um membro daquele clube seleto, “Os Doze Pescadores Verdadeiros”, entrando no Hotel Vernon para o jantar anual do clube, observaria, quando ele tirasse o sobretudo, que o casaco dele é verde e não preto. Se (supondo que tivesse a audácia e a petulância de dirigir a palavra a tal pessoa) você lhe perguntasse o porquê, é provável que ele respondesse que faz isso para não ser confundido com um garçom. Então você se afastaria com o rabo entre as pernas. Mas deixaria para trás um mistério ainda não solucionado e uma história que vale a pena contar. Se (para insistir no mesmo filão de improváveis conjeturas) você topasse com um pequeno padre meigo e incansável, chamado Padre Brown, e lhe perguntasse qual ele julgava ter sido o lance de sorte mais singular de sua vida, a resposta mais provável seria que de modo geral o seu melhor lance de sorte acontecera no Hotel Vernon, onde ele havia impedido um crime e, talvez, salvo uma alma, apenas por escutar passos no corredor. Talvez ele tenha certo orgulho desse palpite surpreendente e maravilhoso, e é possível que o mencione. Mas como não é nada provável que um dia você suba na escala social o suficiente para se encontrar com os Os Doze Pescadores Verdadeiros nem que um dia você desça baixo o suficiente entre criminosos e cortiços para conhecer Padre Brown, receio que acabe ficando sem saber da história, a menos que seja por meu intermédio. O Hotel Vernon, onde Os Doze Pescadores Verdadeiros faziam jantares anuais, era uma instituição do tipo que só poderia existir numa sociedade oligárquica obcecada, a ponto de enlouquecer por boas maneiras. Era o tipo de produto virado de cabeça para baixo – um empreendimento “seleto”. Ou seja, uma coisa que dava lucro não por atrair pessoas, mas sim por espantar pessoas. No coração da plutocracia, os comerciantes tornam-se astutos o suficiente para serem mais meticulosos que os clientes. Sem dúvida, criam dificuldades para que clientes enriquecidos e enfadonhos gastem dinheiro e diplomacia a fim de superá-las. Se em Londres houvesse um hotel da moda que proibisse a entrada de homens com menos de um metro e oitenta de altura, a sociedade docilmente criaria grupos de homens de mais de um metro e oitenta para jantar no local. Se um restaurante caro, por mero capricho do dono, abrisse somente nas tardes de quinta-feira, o restaurante ficaria lotado nas tardes de quinta-feira. O Hotel Vernon situava-se, como que por acaso, na esquina de uma praça na Belgrávia. Era um hotel pequeno – e bem desvantajoso. Mas essas mesmas desvantagens eram consideradas muralhas preservando uma classe em especial. Uma desvantagem em particular era tida como de importância crucial: o fato de que na prática só vinte e quatro pessoas podiam jantar no local ao mesmo tempo. A única e grande mesa de jantar era a celebrada mesa do terraço, que ficava numa espécie de varanda com vista para um dos mais belos e antigos jardins de Londres. Por isso, mesmo os vinte e quatro lugares dessa mesa podiam ser desfrutados apenas com tempo ameno; e isso, ao tornar o prazer mais difícil, tornava-o ainda mais desejado. O dono do hotel, um judeu de nome Lever, lucrou quase um milhão com o estabelecimento – por dificultar a entrada nele. É claro: combinava essa limitação no escopo do empreendimento com o requinte mais cuidadoso em sua performance. Os vinhos e os pratos eram realmente tão bons quanto os melhores da Europa, e a conduta dos garçons espelhava com exatidão os modos rígidos da alta sociedade britânica. O dono conhecia os garçons como a palma da mão; eram quinze no total. Era bem mais fácil tornar-se Membro do Parlamento do que se tornar garçom naquele hotel. Cada garçom era treinado para atuar com recato e silêncio extremos, como o serviçal de um cavalheiro. E, de fato, em geral havia ao menos um garçom para cada cavalheiro jantando. Os membros do clube dos Doze Pescadores Verdadeiros não teriam consentido em jantar a não ser num lugar como esse, pois insistiam numa privacidade de luxo; teriam ficado muito aborrecidos com o mero pensamento de que membros de outro clube qualquer estivessem jantando no mesmo prédio. Por ocasião do jantar anual, os Pescadores tinham o hábito de expor todos os seus tesouros como se estivessem numa residência particular, em especial o celebrado jogo de garfos e facas para peixes, de certo modo a insígnia da sociedade, cada talher delicadamente forjado em prata na forma de peixe, todos com uma grande pérola incrustada no cabo. Esses talheres eram sempre colocados para o prato à base de peixe, e o prato à base de peixe era sempre o mais magnífico naquela magnífica refeição. O clube tinha um vasto número de cerimônias e rituais, mas não tinha história nem objetivo; e era justo isso que o tornava tão aristocrático. Você não precisava ser nada para ser um dos Doze Pescadores; a menos que já fosse um determinado tipo de pessoa, jamais ouviria falar deles. O clube existia há doze anos. O presidente era o sr. Audley. O vice-presidente, o duque de Chester. Se eu consegui até certo ponto transmitir a atmosfera desse espantoso hotel, o leitor pode naturalmente se perguntar como é que fiquei sabendo algo sobre ele e pode até mesmo especular como é que gente tão comum quanto o meu amigo Padre Brown foi parar no meio dessa galeria dourada. Sobre esse aspecto, meu relato é simples, vulgar até. Há no mundo uma anciã amotinadora e demagoga que invade os refúgios mais elegantes com a medonha informação de que todos os homens são irmãos, e seja lá onde fosse essa niveladora em seu cavalo branco, era missão de Padre Brown ir atrás dela. Um dos garçons, um italiano, sofrera um derrame naquela tarde; o patrão judeu, moderadamente maravilhado com essas superstições, consentiu em chamar o padre mais próximo. O que o garçom confessou a Padre Brown não nos diz respeito, pela razão excelente de que o clérigo o guardou para si, mas parece que envolveu escrever um bilhete ou uma declaração para transmitir alguma mensagem ou consertar algum mal. Padre Brown, portanto, com a mesma meiga insolência que teria demonstrado no Palácio de Buckingham, solicitou que lhe fossem disponibilizados uma sala e material para escrever. O sr. Lever estava dilacerado ao meio. Era um homem bondoso e tinha também aquela péssima imitação de bondade: aversão a quaisquer dificuldades ou escândalos. Ao mesmo tempo, a presença de um estrangeiro não habitual em seu hotel aquela noite era como uma partícula de sujeira em algo limpo há pouco. Nunca houvera qualquer antecâmara ou antessala no Hotel Vernon, ninguém esperando no hall, nenhum hóspede casual. Havia quinze garçons. Havia doze convidados. Seria tão estarrecedor encontrar um novo convidado no hotel naquela noite como descobrir um novo irmão na família na hora do café da manhã ou do chá. Além disso, a aparência do padre era de segunda classe e suas roupas sujas de lama; o mero vislumbre à distância de sua figura poderia precipitar uma crise no clube. Por fim, o sr. Lever bolou um plano para acobertar, já que não podia suprimir a desgraça. Quando você entra (coisa que nunca irá fazer) no Hotel Vernon, passa por um corredor curto decorado com pinturas esmaecidas, mas importantes, e chega ao saguão e à sala de estar, que dão à direita a corredores que levam aos quartos dos hóspedes e à esquerda a um corredor semelhante que conduz às cozinhas e aos gabinetes do hotel. Logo à esquerda encontra-se o recanto do gabinete de vidro, que limita com a sala de estar – uma casa dentro da casa, por assim dizer, assim como o velho bar de hotel que um dia talvez tenha ocupado o seu lugar. Nesse gabinete ficava sentado o representante do proprietário (ninguém nesse lugar aparecia em pessoa se pudesse evitá-lo); pouco adiante do gabinete, na direção do alojamento dos empregados, ficava a chapelaria, a última fronteira do domínio dos cavalheiros. Mas entre o gabinete e a chapelaria existia uma salinha particular sem outra saída, utilizada às vezes pelo dono para assuntos delicados e importantes, como emprestar mil libras a um duque ou negar-lhe o empréstimo de meia dúzia de centavos. Sinal da magnífica tolerância do sr. Lever é o fato de ter permitido que esse ambiente sagrado fosse profanado durante meia hora por um mero padre rabiscando coisas num pedaço de papel. A história que Padre Brown escrevia era muito provavelmente bem melhor do que esta, com a diferença de que ninguém jamais a conhecerá. Posso apenas afirmar que tinha o mesmo número de páginas e que os dois ou três últimos parágrafos eram os menos emocionantes e absorventes. Pois foi ao chegar na altura desses que o padre começou um pouco a dar asas ao pensamento e a permitir a seu instinto animal despertar. A hora da escuridão e da janta se aproximava; a própria salinha esquecida estava sem uma luz sequer, e talvez o cair das trevas, como de vez em quando acontece, tenha aguçado as sensações sonoras. Enquanto Padre Brown escrevia a última e menos importante parte de seu documento, sem querer, flagrou-se escrevendo no ritmo de um ruído repetido do lado de fora, assim como quando alguém pensa na cadência de um trem em movimento. Quando caiu em si, descobriu o que era: não mais que o simples som de passos no corredor, algo que num hotel não era coisa tão improvável. Entretanto, ele olhou fixo para o teto escuro e escutou o barulho. Depois de escutar por alguns segundos de modo sonhador, ficou em pé de repente e escutou com atenção, inclinando um pouco a cabeça. Então se sentou de novo e enterrou o sobrolho nas mãos, agora não apenas escutando, mas escutando e pensando também. Os passos do lado de fora em todo o tempo eram do tipo que se pode escutar em qualquer hotel, mas, considerados no conjunto, havia algo muito estranho neles. Não havia outros passos. Era sempre um estabelecimento muito silencioso, pois os poucos hóspedes costumeiros iam direto para seus próprios apartamentos, e os bem treinados garçons eram ensinados a ficarem quase invisíveis até serem solicitados. Impossível conceber um lugar onde houvesse menos razão para perceber algo irregular. Mas esses passos eram tão esquisitos que não se poderia decidir chamá-los de regulares nem de irregulares. Padre Brown acompanhou-os com o dedo na borda da mesa, como um homem tentando aprender uma melodia ao piano. Primeiro veio uma longa arremetida de passinhos rápidos, como um homem leve vencendo uma competição de caminhada. A certa altura, os passos pararam e mudaram para um tipo de pisada lenta e oscilante, totalizando nem uma quarta parte dos passos, mas demorando por volta do mesmo tempo. No momento em que sumia o som da última e ecoante pisada, retornava a investida ou a onda de pés ligeiros e apressados e, então, outra vez os pés batendo com força. Era com certeza o mesmo par de botas, em parte porque (como já foi dito) não havia outras botas por perto e em parte porque elas apresentavam um mínimo, porém inconfundível rangido. A cabeça de Padre Brown era do tipo que não conseguia deixar de formular perguntas; e quase quebrou a cabeça pensando nessa questão aparentemente banal. Já tinha visto homens correrem para pular. Já tinha visto homens correrem para escorregar. Mas por que cargas d’água um homem correria para caminhar? Mas outra descrição não se encaixaria melhor para esse invisível par de pernas. O homem estava ou caminhando acelerado em um dos lados do corredor para então caminhar bem devagar na outra metade, ou estava caminhando muito devagar num lado para ter o êxtase de apertar o passo no outro. Nem uma e nem outra sugestão pareciam fazer muito sentido. O seu cérebro ficava cada vez mais sombrio, como a saleta. Mas, quando começou a pensar de modo pausado, a própria escuridão de sua cela pareceu tornar mais vívidos seus pensamentos; ele começou a imaginar, como numa espécie de visão, os pés fantásticos saltitando para lá e para cá no corredor em atitudes artificiais ou simbólicas. Seria uma dança pagã? Ou um novo tipo de exercício físico inteiramente novo? Padre Brown começou se questionar com mais exatidão o que os passos sugeriam. Analisando o passo lento primeiro: com certeza não era o passo do dono. Homens daquele tipo ou caminham com rápido gingado ou sentam-se imóveis. Não poderia ser um serviçal ou mensageiro do hotel à espera de instruções. Não deu essa impressão. Pessoas das classes mais pobres (numa oligarquia) às vezes cambaleiam quando um pouco embriagadas, mas em geral, e especialmente nessas encantadoras cenas, ficam em pé ou sentadas em poses constrangidas. Não: aquele passo pesado mas elástico, com certa ênfase descuidada, não muito ruidoso mas pouco se importando com o ruído que fazia, pertencia a só um entre os animais terrestres. Era um cavalheiro da Europa ocidental, e, mais provável, um que nunca precisara trabalhar. Tão logo ele chegou a essa sólida conclusão, o ritmo dos passos mudou para o acelerado e cruzou pela porta tão febrilmente quanto um rato. O ouvinte notou que, embora o passo fosse mais veloz, era também mais silencioso, quase como se o homem estivesse caminhando na ponta dos pés. Mas em sua mente os passos não estavam associados com sigilo, mas com outra coisa – outra coisa que ele não conseguia se lembrar. Sentiu-se enlouquecido por uma daquelas meias-lembranças que fazem um homem sentir-se meio-estúpido. Com certeza, já ouvira aquele estranho andar acelerado em outro lugar. De repente, ergueu-se num pulo com uma nova ideia na cabeça e caminhou até a porta. A sala onde estava não tinha comunicação direta com o corredor, mas dava num lado para o gabinete de vidro e no outro para a chapelaria. Tentou a porta que dava para o gabinete; estava trancada. Então olhou para a janela: naquele instante, na vidraça quadrada, o lívido pôr do sol atravessava a nuvem púrpura; por um momento, ele farejou o mal como cães farejam ratos. A sua parte racional (sendo ou não a mais sábia) readquiriu a supremacia. Recordou que o proprietário lhe dissera que passaria a chave na porta e voltaria mais tarde para abri-la. Disse para si mesmo que umas vinte coisas em que não pensara podiam explicar os sons excêntricos lá fora; lembrou que havia luz suficiente apenas para conseguir terminar seu trabalho propriamente dito. Trazendo o papel para perto da janela a fim de captar o último e tempestuoso lusco-fusco, mergulhou outra vez de forma resoluta no quase pronto relato. Depois de escrever por mais vinte minutos, inclinando mais e mais o rosto sobre o papel na luz bruxuleante, de súbito ajeitou-se na cadeira. Escutara os pés estranhos outra vez. Dessa vez, eles tinham uma terceira esquisitice. Antes o homem desconhecido caminhara, com verdadeira leveza e rapidez de relâmpago, mas caminhara. Dessa vez ele correra. Era possível ouvir os passos velozes e suaves saltando no corredor, como patas de uma pantera em fuga. Quem quer que estivesse vindo era um homem muito forte e ativo, em uma animação silenciosa mas dilacerante. Porém, depois de o som passar em frente ao gabinete como uma espécie de furacão furtivo, sem prévio aviso mudou de novo para a velha passada preguiçosa e pomposa.
Padre Brown largou o papel e, sabendo que a porta do gabinete estava trancada, acorreu de imediato à chapelaria do outro lado. O atendente desse local estava ausente no momento, talvez porque os únicos hóspedes jantavam e seu ofício era fácil e bem pago. Após atravessar às apalpadelas uma cinzenta floresta de sobretudos, descobriu que a chapelaria dava acesso ao corredor iluminado na forma de uma espécie de balcão ou meia-porta, como a maioria dos balcões por cima dos quais nós todos entregamos guarda-chuvas e recebemos tíquetes. Havia uma luz bem acima do arco semicircular dessa abertura. Lançava pouca iluminação sobre o próprio Padre Brown, que parecia um mero contorno escuro contra o crepúsculo opaco na janela atrás dele. Mas lançava uma luz quase teatral sobre o homem parado no corredor à frente do balcão. Era um homem elegante num traje social muito discreto; alto, mas com jeito de quem não ocupava muito espaço; percebia-se que ele poderia deslizar como uma sombra por onde muitos homens menores tornar-se-iam óbvios e obstrutivos. Seu rosto, então um pouco recuado sob a suave luz da lâmpada, era trigueiro e vivaz, um rosto estrangeiro. Bem-apessoado, com ar bem-humorado e confiante; um crítico poderia apenas mencionar que seu casaco preto não estava à altura de sua pessoa e de sua atitude; estava até mesmo saliente e inflado de uma forma bizarra. Na hora em que vislumbrou a silhueta preta de Brown contra o pôr do sol, atirou no balcão uma tira de papel com um número e disse com amigável autoridade: – Quero meu chapéu e meu sobretudo, por favor; preciso ir embora. Padre Brown apanhou o papel sem pronunciar uma palavra e, obediente, procurou o sobretudo; não era o primeiro trabalho humilde que fazia em sua vida. Trouxe-o e repousou-o sobre o balcão; nesse meio-tempo, o estranho cavalheiro, apalpando o bolso do colete, disse rindo: – Estou sem uma moeda de prata; pode ficar com isto. Largou meio soberano de ouro no balcão e pegou o sobretudo. O vulto de Padre Brown permaneceu escuro e imóvel, mas naquele instante perdera a cabeça. A cabeça dele era sempre mais valiosa quando ele a perdia. Nesses momentos ele somava dois com dois e o resultado era quatro milhões. Com frequência a Igreja Católica (casada com o bom senso) não aprovava isso. Com frequência ele não aprovava a si mesmo. Mas era inspiração pura – importante nas crises raras – quando aquele que perder a cabeça há de encontrá-la. – Acho, sir – respondeu, com educação –, que o senhor tem uma moeda de prata no bolso. O homenzarrão o encarou. – Espere aí – gritou ele. – Se eu quis dar a de ouro, por que você está reclamando? – Porque às vezes prata vale mais que ouro – disse o padre, com voz suave. – Quero dizer, em grandes quantidades. O estranho observou-o com curiosidade. Em seguida observou com mais curiosidade ainda o corredor em direção à entrada principal. Então observou Brown de novo, e em seguida observou com atenção a janela atrás da cabeça de Brown, ainda colorida com o brilho do fim da tempestade. Então pareceu ter tomado uma decisão. Colocou uma das mãos sobre o balcão, saltou por cima dele tão facilmente quanto um acrobata e caiu na frente do padre, agarrando o seu colarinho com a mão estupenda. – Não se mexa – disse, num sussurro cortante. – Não quero ameaçá-lo, mas... – Mas eu quero ameaçá-lo – repetiu Padre Brown, em voz de tambor ressoante. – Quero ameaçá-lo com o verme que não morre e o fogo que não se apaga. – Você é um tipo esquisito de atendente de chapelaria – disse o outro. – Sou padre, Monsieur Flambeau – disse Brown –, e estou pronto para ouvir sua confissão. O outro respirou fundo por um momento; em seguida recuou cambaleante e se sentou numa cadeira.
Os primeiros dois pratos do jantar dos Doze Pescadores Verdadeiros transcorreram com sucesso plácido. Não tenho cópia do menu e mesmo se eu tivesse ninguém poderia entender nada. Estava escrito numa espécie de superfrancês empregado pelos mestres-cucas, mas deveras ininteligível para franceses. Pela tradição do clube, os hors d’oeuvres deveriam ser variados e múltiplos quase até o ponto da loucura. Eram levados a sério, pois reconhecidamente eram adornos inúteis, como todo o jantar e todo o clube. Também pela tradição do clube, a sopa de entrada deveria ser leve e despretensiosa – um tipo de vigília simples e austera para o banquete de peixe prestes a acontecer. A conversa era aquela conversa estranha e escassa que governa o Império Britânico, que o governa em segredo e, no entanto, mal instruiria um inglês comum se ele pudesse ouvi-la por acaso. Ministros de gabinete dos dois lados eram aludidos por seus prenomes com uma espécie de enfadonha benignidade. O Chanceler Radical de Exchequer, a quem todo o Partido Conservador deveria estar amaldiçoando por suas extorsões, recebia elogios por sua poesia menor ou por sua sela no campo de caça. O líder dos conservadores, a quem todos os liberais deveriam odiar como a um tirano, virou tópico de discussão e, no frigir dos ovos, recebeu louvores – por ser liberal. Parecia de alguma forma que os políticos mereciam bastante importância. E, no entanto, nada parecia importante neles exceto sua política. O sr. Audley, o diretor, homem afável e idoso que ainda vestia colarinhos à Gladstone, era uma espécie de símbolo de toda aquela espectral mas resoluta sociedade. Nunca fizera algo – nem ao menos algo errado. Não era ligeiro; não era nem ao menos especialmente rico. Apenas sabia das coisas, nada mais do que isso. Nenhum partido poderia ignorá-lo, e se ele desejasse estar no Ministério certamente seria colocado lá. O duque de Chester, o vice-presidente, era um jovem político em ascensão. Em outras palavras, era um rapagão agradável, com cabelos lisos e loiros e rosto sardento, de inteligência moderada e patrimônio colossal. Em público, suas aparições eram sempre bem-sucedidas e seus princípios eram simples. Quando lhe vinha uma piada na cabeça, ele a contava e era chamado de brilhante. Quando não lhe vinha uma piada na cabeça, dizia que não tinha tempo para tolices e era chamado de competente. Em particular, num clube de sua própria classe, comportava-se de modo simples e agradavelmente franco e bobo, como um menino em idade escolar. O sr. Audley, nunca tendo se metido em política, tratava-os com um pouco mais de seriedade. Às vezes chegava mesmo a constranger o grupo reunido com frases que sugeriam haver alguma diferença entre liberais e conservadores. Ele próprio era conservador, até mesmo na vida particular. Tinha um rolo de cabelo grisalho na parte de trás do colarinho, como certos estadistas fora de moda; visto de costas parecia o homem desejado pelo império. Visto de frente parecia um solteirão meigo, indulgente com os próprios impulsos, com quartos no Albany – exatamente o que ele era. Como já foi mencionado, havia vinte e quatro lugares na mesa do terraço e apenas doze membros no clube. Assim, eles podiam ocupar o terraço no estilo mais luxuoso possível, arranjados ao longo do lado interno da mesa, sem ninguém na frente, com vista contínua para o jardim, cujas cores permaneciam vivas, embora o anoitecer estivesse caindo de modo um tanto lúgubre para aquela época do ano. O diretor sentouse no centro da fileira e o vice-presidente na ponta direita. Quando os doze convidados se agruparam ao redor da mesa e foram tomando seus lugares, como de costume (e por alguma razão desconhecida) todos os quinze garçons se alinharam de costas para a parede, como tropas apresentando armas ao rei; por sua vez, o balofo proprietário ficou parado fazendo mesuras aos membros do clube com surpresa radiante, como se nunca os tivesse visto antes. Mas, antes do primeiro tilintar de garfo e faca, esse exército de secretários desapareceu; apenas um ou dois necessários para pegar e distribuir os pratos corriam para lá e para cá em silêncio espectral. O sr. Lever, o dono, é claro, sumira em convulsões de cortesia há um bom tempo. Seria exagero, até mesmo irreverência, dizer que ele realmente apareceu de novo. Mas quando o prato importante, o prato de peixe, estava sendo servido, percebeu-se – como vou dizer? – uma sombra vívida, uma projeção de sua personalidade pairando no ambiente. O sagrado prato de peixe consistia (aos olhos do vulgo) numa espécie de pudim monstruoso, de tamanho e formato parecidos com o de um bolo de casamento, dentro do qual um número considerável de peixes interessantes enfim perdera a forma que Deus lhes dera. Os Doze Pescadores Verdadeiros empunharam os celebrados talheres de peixe e se aproximaram do pudim de forma solene – como se cada polegada dele custasse tanto quanto o garfo de prata utilizado para comê-lo. E custava, até onde eu sei. O pudim foi manejado com ânsia num silêncio devorador, e só ao ver o prato quase vazio que o jovem duque fez a observação de praxe: – Não conseguem fazer isso em outro lugar, só aqui. – Em lugar nenhum – disse o sr. Audley, com voz profunda e grave, volvendo o olhar ao interlocutor e assentindo várias vezes com a cabeça. – Em lugar nenhum, com certeza, a não ser aqui. Fui informado de que o Café Anglais... Depois de interrompido e até mesmo perturbado pela retirada do seu prato, recuperou o valioso fio da meada. – Fui informado de que o Café Anglais serve um tão bom quanto este. Nem parecido, sir – disse ele, balançando a cabeça de modo implacável, como um juiz sentenciando alguém à forca. – Nem parecido. – Lugar superestimado – disse um certo coronel Pound, falando (por seu aspecto) pela primeira vez em meses. – Ah, não sei – disse o otimista duque de Chester. – É muito bom para certas coisas. É imbatível em... Um garçom apareceu rápido no salão e então estacou. Sua parada foi tão silenciosa quanto seu andar, mas todos aqueles distraídos e gentis cavalheiros estavam tão acostumados à suavidade absoluta do mecanismo invisível que cercava e dava suporte a suas vidas, que um garçom fazendo algo inesperado era motivo de sobressalto e de abalo. Eles se sentiram como você e eu nos sentiríamos se o mundo inanimado deixasse de obedecer – se uma cadeira fugisse de nós. Por alguns segundos, o garçom permaneceu com o olhar fixo, enquanto cada rosto na mesa ostentava uma estranha vergonha que é, em essência, produto de nosso tempo. É a combinação do humanitarismo moderno com o horrível abismo moderno entre almas ricas e pobres. Um aristocrata legítimo teria jogado objetos em cima do garçom, começando com garrafas vazias e muito provavelmente terminando com dinheiro. Um verdadeiro democrata teria lhe perguntado, com a fala nítida dos camaradas, o que diabos ele estava fazendo. Mas esses plutocratas modernos não conseguiam suportar um homem pobre perto deles, fosse na condição de escravo ou de amigo. Algo errado com os empregados não passava de constrangimento insípido e intenso. Não queriam ser estúpidos e tinham pavor de demonstrar benevolência. Queriam que aquilo, fosse lá o que fosse, acabasse de uma vez. E acabou. O garçom, após ficar um tempo rígido como um cataléptico, deu meia-volta e correu alucinado para fora do salão. Quando reapareceu no salão, ou para ser mais exato na soleira da porta, estava em companhia de outro garçom, com quem sussurrou e gesticulou com ferocidade sulista. Então o primeiro garçom foi embora, deixando o segundo garçom, e reapareceu com um terceiro garçom. Quando um quarto garçom se uniu a essa apressada assembleia, o sr. Audley considerou necessário quebrar o silêncio a bem da diplomacia. Em vez de martelo presidencial, tossiu bem alto e disse: – Trabalho formidável o jovem Moocher está realizando em Burma. Venhamos e convenhamos, nenhuma outra nação no mundo teria... Um quinto garçom disparou como uma flecha na direção dele e sussurrou em seu ouvido: – Sinto muito. Importante! O proprietário poderia ter uma palavrinha com o senhor? O diretor voltou-se perturbado e com o olhar estupefato viu o sr. Lever aproximando-se com sua arrastada ligeireza. O modo de andar do bom proprietário na verdade era o de sempre, mas o rosto de jeito nenhum era o de sempre. Em geral moreno e corado, estava amarelo e pálido. – Com o seu perdão, sr. Audley – disse ele, com falta de fôlego asmática. – Estou muito apreensivo. Seus pratos de peixe foram levados e os talheres também! – Bem, assim espero – disse o diretor, com certa amabilidade. – O senhor não o viu? – arquejou o hoteleiro com agitação. – Não viu o garçom que levou os talheres? Não o conhece? – Se eu conheço o garçom? – respondeu o sr. Audley indignado. – Claro que não! O sr. Lever abriu as mãos num gesto de agonia. – Não o mandei vir para cá – disse. – Não sei quando nem por que ele veio. Mandei meu garçom retirar os pratos, mas quando ele chegou já tinham levado. O sr. Audley continuava desnorteado demais para ser realmente o homem desejado pelo império; ninguém do grupo pôde dizer nada a não ser o homem de madeira – o coronel Pound – que parecia galvanizado numa vida não natural. Ergueu-se rigidamente da cadeira, deixando todos os demais sentados, colocou o monóculo e falou numa voz meio baixa e rouca, meio como se tivesse esquecido como falar. – O senhor quer dizer – indagou – que alguém roubou nosso faqueiro de prata? O dono repetiu o gesto de abrir as mãos em desespero ainda maior, e num átimo todos os homens à mesa se levantaram. – Todos os seus garçons estão aqui? – perguntou o coronel, em seu tom baixo e áspero. – Sim, estão. Eu mesmo conferi – gritou o jovem duque, enfiando o rosto infantil no meio do anel interno da mesa. – Sempre conto os garçons quando entro; parecem tão estranhos em pé encostados à parede. – Mas com certeza ninguém poderia lembrar exatamente – começou o sr. Audley, com violenta hesitação. – Lembro exatamente, estou dizendo – gritou o duque exaltado. – Nunca houve mais do que quinze garçons neste lugar, e hoje não tinha mais do que quinze, eu juro. Nem mais e nem menos. O proprietário virou-se para ele, tremelicando entorpecido de surpresa.
– O senhor está me dizendo... o senhor está me dizendo... – gaguejou – que viu todos os meus quinze garçons? – Como de costume – assentiu o duque. – Por quê? Algum problema nisso? – Nen-hum – disse Lever, acentuando o sotaque –, mas o sen-hor não viu. Pois um deles está morto lá em cima. Por um instante, houve uma calmaria chocante naquela sala. Pode ser (tão sobrenatural é a palavra morte) que cada um daqueles homens ociosos tenha espiado a própria alma por um segundo e visto uma pequena ervilha seca. Um deles – o duque se não me engano – chegou a dizer, com a idiótica bondade dos ricos: – Podemos fazer alguma coisa? – Um padre foi chamado – disse o judeu, não sem mostrar emoção. Então, como quem ouve a trombeta do juízo final, eles tomaram consciência de sua própria posição. Por uns poucos e bizarros segundos, haviam achado que o décimo quinto garçom pudesse ser o fantasma do morto lá em cima. Sob essa opressão ficaram aparvalhados, pois, para eles, os fantasmas eram tão constrangedores quanto os mendigos. Mas a recordação da prataria desfez o feitiço do miraculoso: desfez de forma abrupta e com uma reação bruta. O coronel derrubou sua cadeira e precipitou-se rumo à porta. – Se tinha um décimo quinto homem aqui, amigos – disse –, esse décimo quinto camarada era um gatuno. Desçam logo até as portas da frente e de trás e garantam a segurança; conversamos depois. Vale a pena recuperarmos as vinte e quatro pérolas do clube. Num primeiro momento, o sr. Audley pareceu hesitar sobre se era ou não cavalheiresco tomar qualquer atitude impensada, mas vendo o duque disparar escada abaixo com energia adolescente, seguiu atrás com movimentos mais maduros. No mesmo instante, entrou um sexto garçom na sala e declarou que encontrara a pilha de pratos de peixe sobre um aparador. Nem sinal da prata. A multidão de comensais e atendentes que despencou precipitada pelos corredores dividiu-se em dois grupos. A maioria dos Pescadores seguiu o proprietário até o hall de entrada para perguntar se alguém havia saído. O coronel Pound, com o diretor, o vice-presidente e mais um ou dois sócios chisparam corredor abaixo na direção dos cômodos dos empregados, como a mais provável rota de fuga. Enquanto faziam isso, passaram pela sombria alcova ou caverna da chapelaria e vislumbraram um vulto baixote, de casaco preto, presumivelmente um funcionário, em pé, um pouco escondido pela sombra. – Ei, você! – chamou o duque. – Viu alguém passar por aqui? O vulto baixote não respondeu à pergunta de modo direto. Disse apenas: – Acho que tenho o que os senhores estão procurando, cavalheiros. O grupo parou, hesitante e atônito; por sua vez, o homenzinho se encaminhou em silêncio ao fundo da chapelaria e voltou com as duas mãos cheias de prata reluzente, que depositou em cima do balcão com calma de vendedor. A prata era moldada singularmente na forma de uma dúzia de garfos e facas. – Você... você... – começou o coronel, enfim perdendo o equilíbrio. Então espiou na salinha escura e viu duas coisas: primeiro, que o baixinho de roupa preta estava vestido como um clérigo; e, segundo, que a janela da sala atrás dele estava arrebentada, como se alguém tivesse passado violentamente através dela. – Coisas valiosas para se guardar numa chapelaria, não acham? – observou o clérigo, com calma satisfação. – Foi o senhor… quem roubou isso? – gaguejou o sr. Audley, com o olhar arregalado. – Se roubei – disse o clérigo de modo divertido –, ao menos estou devolvendo. – Mas o senhor não roubou – disse o coronel Pound, ainda com o olhar fixo na janela quebrada. – Confesso que não fui eu – disse o outro com certo humor. E sentou-se com seriedade num banquinho. – Mas sabe quem roubou – disse o coronel. – Não sei o nome verdadeiro dele – respondeu o padre com placidez –, mas sei um pouco sobre o seu peso de lutador e um bocado sobre suas dificuldades espirituais. Fiz a estimativa física enquanto ele tentava me esganar e a estimativa moral quando ele se arrependeu. – Ah, sim... se arrependeu! – gritou o jovem Chester, com uma espécie de riso cantado. Padre Brown levantou-se e juntou as mãos atrás das costas. – Esquisito, não é – disse ele –, que um ladrão e velhaco se arrependa, enquanto tantos ricos idôneos permanecem impassíveis e frívolos, sem produzir frutos nem para Deus nem para os homens? Mas neste caso, os senhores vão me desculpar: estão invadindo um pouco o meu terreno. Se duvidam da penitência como fato prático, aí estão seus talheres. Os senhores são Os Doze Pescadores Verdadeiros: aí está toda sua prata para peixe. Mas Ele fez de mim um pescador de homens. – O senhor pescou este homem? – indagou o coronel, franzindo a testa. Padre Brown encarou o rosto franzido do coronel. – Sim – disse ele – eu o pesquei, com um anzol oculto e uma linha invisível, comprida o suficiente para deixá-lo perambular aos confins do mundo e ainda ser capaz de trazê-lo de volta com um puxão na linha. Fez-se um demorado silêncio. Todos os outros homens presentes se dispersaram para levar a prata recuperada para os camaradas, ou para consultar o proprietário sobre a estranha condição do caso. Mas o coronel de face sombria permaneceu sentado de lado sobre o balcão, balançando as pernas compridas e delgadas e mordiscando o bigode escuro. Por fim, disse em voz baixa ao padre: – Ele deve ser um sujeito esperto, mas acho que conheço alguém mais esperto. – Ele era um sujeito esperto – respondeu o outro –, mas não tenho muita certeza a qual outro o senhor se refere. – Refiro-me ao senhor – disse o coronel, com uma risada breve. – Não quero ver o sujeito atrás das grades; o senhor pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas eu daria muitos garfos de prata para saber exatamente como o senhor deslindou este caso e como o senhor o convenceu a falar. Creio que o senhor é o diabo mais esperto do grupo hoje presente. Padre Brown pareceu apreciar a candura melancólica do militar. – Bem – disse ele, sorrindo – não vou contar nada ao senhor sobre a identidade do homem nem sua história pessoal, mas não há motivo algum para que eu não lhe conte os simples fatos que acabei descobrindo. Ele saltou sobre o balcão com inesperada agilidade e sentou-se ao lado do coronel Pound, chutando o ar com as pernas curtas, como um menino no portão. Começou a contar a história tão naturalmente como se a estivesse contando a um velho amigo perto da lareira em pleno Natal. – Veja bem, coronel – disse ele –, lá estava eu fechado naquele quartinho escrevendo umas coisas, quando então escutei dois pés neste corredor fazendo uma dança tão estranha quanto a dança da morte. Primeiro passinhos ligeiros e engraçados, como um homem andando na ponta dos pés valendo uma aposta; e então passos rangedores, vagarosos e descuidados, como os de um homenzarrão passeando por aí com um charuto. Mas, juro, os mesmos pés faziam os dois tipos de passos, e vinham em ciclos: primeiro a corrida, depois a caminhada e então a corrida outra vez. Fiquei me perguntando, primeiro de um modo desocupado depois desenfreado, por que um homem precisaria encenar esses dois papéis no mesmo ato. Um passo eu conhecia; era como o seu, coronel. O passo de um cavalheiro bem-alimentado esperando por algo, que passeia por aí mais porque está fisicamente alerta do que porque está mentalmente impaciente. Eu conhecia o outro passo, também, mas não conseguia lembrar qual era. Que criatura indômita eu conhecera em minhas jornadas que disparava na ponta dos pés naquele estilo extraordinário? Em seguida, escutei um tilintar de pratos em algum lugar; e a resposta surgiu tão clara como a resposta de São Pedro. Era o passo de um garçom: que anda com o corpo inclinado para frente, os olhos voltados para baixo, a ponta dos pés varrendo o chão, o fraque e o guardanapo esvoaçando. Em seguida pensei mais um minuto e meio. E acredito que vi o método do crime tão claramente como se estivesse prestes a cometê-lo. O coronel Pound olhou-o com sagacidade, mas os olhos cinza-claros do interlocutor estavam fixos no teto com melancolia quase vazia.
– Um crime – disse devagar – é como qualquer outra obra de arte. Não fique surpreso: de jeito nenhum crimes são as únicas obras de arte das oficinas infernais. Mas cada obra de arte, divina ou satânica, tem sua marca indelével... quero dizer, o cerne dela é simples, não importa quão complicada possa ser a execução. Assim, se me permite dizer, em Hamlet, o ar grotesco do coveiro, as flores da moça desvairada, os ornatos fantásticos de Osric, a palidez do espectro e o sorriso do crânio são todos estranhezas numa espécie de grinalda emaranhada ao redor da personagem trágica e singela de um homem de preto. Bem, esta – disse ele, escorregando devagar do balcão com um sorriso – também é a tragédia singela de um homem de preto. Sim – prosseguiu, percebendo que o coronel erguia os olhos com admiração –, toda esta história se resume num casaco preto. Nesta história, como Hamlet, tem excrescências rococós… os senhores, se me permite dizer. Tem o garçom morto, presente quando devia estar ausente. Tem a mão invisível que varreu a prataria da mesa e a dissipou no ar. Mas todo crime inteligente se baseia no fim das contas em um fato muito simples, um fato por si só nada misterioso. A mistificação surge em encobri-lo, em conduzir os pensamentos dos homens para longe dele. Este crime substancial, sutil e (em seu curso normal) muito lucrativo construiu-se a partir do singelo fato de que o traje de gala dos cavalheiros é o mesmo traje dos garçons. Todo o resto foi atuação, uma atuação estrondosamente boa, diga-se de passagem. – Mesmo assim – disse o coronel, ao levantar franzindo a testa, com olhar cabisbaixo –, não tenho certeza se entendi. – Coronel – disse Padre Brown –, eu lhe digo que esse arcanjo da impudência que roubou seus garfos passou para lá e para cá neste corredor vinte vezes no clarão de todas as lâmpadas, sob a vista de todos os olhares. Não ficou se escondendo em cantos escuros onde poderia ter despertado suspeitas. Permaneceu em constante movimento pelos corredores iluminados; em todos os ambientes em que andou parecia estar ali por bem e por direito. Não me pergunte como eram suas feições; o senhor deve tê-lo visto seis ou sete vezes hoje à noite. O senhor estava esperando com todas as outras pessoas importantes na sala de recepção lá no fim do corredor, com o terraço logo depois. Sempre que ele esteve na presença dos cavalheiros, o fez no elétrico estilo de um garçom, a cabeça curva, o guardanapo esvoaçante e os pés voadores. Disparou terraço adentro, fez algo na toalha da mesa e disparou de novo rumo ao gabinete e às dependências dos empregados. Quando passava na frente do funcionário do gabinete e dos garçons, cada centímetro de seu corpo tornava-se outro homem, em cada gesto instintivo. Passeou no meio dos empregados com a costumeira insolência distraída dos patrões. Para eles, não era novidade ver um almofadinha da mesa de jantar zanzando no hotel como um animal no zoológico; sabem que nada distingue melhor a classe abastada do que o hábito de caminhar quando bem entende. Quando ele ficava magnificamente entediado de caminhar por aquele corredor em especial, dava meia volta e andava na direção do gabinete; sob a sombra da arcada alterava o comportamento num passe de mágica e entrava correndo de novo entre os Doze Pescadores, um solícito atendente. Por que os cavalheiros prestariam atenção num garçom novato? Por que os garçons desconfiariam de um cavalheiro caminhante de primeira classe? Uma ou duas vezes ele praticou os truques mais arrojados. Nas dependências privativas do proprietário, pediu com vivacidade uma garrafa de água tônica, dizendo que estava com sede. Disse contente que ele mesmo carregaria, e assim o fez; carregou a garrafa com rapidez e correção no meio de todos, um garçom cumprindo sua missão. Claro, não poderia ter mantido a farsa por muito tempo; apenas precisou mantê-la até o fim do prato de peixe. “O pior momento dele foi quando os garçons ficaram em fila, mas mesmo naquele momento ele deu um jeito de recostar-se contra a parede perto do canto de forma tal que naquele instante importante os garçons pensaram que ele era um cavalheiro, enquanto os cavalheiros pensaram que ele era um garçom. O resto foi fácil. Se algum garçom o encontrasse longe da mesa, esse garçom encontraria um lânguido aristocrata. Teve apenas de escolher o momento certo, dois minutos antes de o peixe ser retirado, para se tornar um diligente garçom e sair de fininho. Colocou os pratos sobre um aparador, recheou com a prataria os bolsos internos do casaco, dando a ele uma aparência bojuda e correu como lebre (eu o escutei vindo) até chegar à chapelaria. Ali ele precisava apenas ser um plutocrata de novo... um plutocrata chamado para tratar de negócios urgentes. Precisava apenas entregar o tíquete ao atendente da chapelaria e sair com a mesma elegância com que entrara. Só... só que o atendente da chapelaria casualmente era eu.” – O que o senhor fez com ele? – gritou o coronel, com rara intensidade. – O que ele disse ao senhor? – Vai me desculpar – disse o padre, impassível –, a história termina aqui. – E aqui começa a história interessante – murmurou Pound. – Acho que entendi o truque profissional dele. Mas parece que não captei o seu. – Preciso ir embora – disse Padre Brown. Caminharam juntos no corredor até o salão de entrada, onde viram o rosto robusto e sardento do duque de Chester rumando alegre na direção deles. – Venha cá, Pound – gritou quase sem fôlego. – Estive lhe procurando por tudo que é lugar. O jantar segue em formidável estilo, e o velho Audley fez até discurso em honra aos garfos salvos. Queremos começar uma nova cerimônia, sabe... para comemorar a ocasião. Pois o senhor que recuperou os talheres. O que sugere? – Bem – disse o coronel, mirando-o com certa aprovação sardônica –, sugiro que de agora em diante a gente comece a usar casacos verdes, em vez de pretos. Nunca se sabe que tipo de engano pode acontecer quando alguém é confundido com um garçom. – Ah, pare com isso! – disse o rapaz. – Cavalheiros nunca se parecem com garçons. – Nem garçons com cavalheiros, suponho – disse o coronel Pound, com o mesmo riso sombrio no rosto. – Senhor reverendo, o seu amigo deve ter sido muito esperto para interpretar o cavalheiro. Padre Brown abotoou até o pescoço o sobretudo trivial, pois a noite estava tempestuosa, e apanhou no suporte o guarda-chuva trivial. – Sim – disse ele –, ser cavalheiro dá muito trabalho. Mas, sabe, às vezes fico pensando se ser garçom não dá quase o mesmo trabalho. E, dizendo “boa noite”, abriu as pesadas portas daquele palácio de prazeres. Os portões dourados fecharam-se atrás dele, e ele seguiu num passo apressado pelas ruas úmidas e lúgubres, à procura de um ônibus.
AS ESTRELAS VOADORAS
– O crime mais lindo que já cometi também foi, por extraordinária coincidência, o meu último – diria Flambeau em sua velhice moralista. – Foi no Natal. Como um artista, eu sempre tentava arranjar crimes apropriados a épocas especiais ou a cenários onde me encontrasse, escolhendo este ou aquele terraço ou jardim para uma catástrofe como se fosse para uma coleção de esculturas. Portanto, os cavalheiros deveriam ser espoliados em salas amplas revestidas de painéis de carvalho; por outro lado, seria melhor que os judeus se vissem pobres de uma hora para outra entre as luzes e os biombos do Café Riche. Por conseguinte, na Inglaterra, se eu quisesse despojar um deão de suas riquezas (o que não é tão fácil como se poderia supor), gostaria de enquadrá-lo, se me faço entender, nos gramados verdes e nas torres cinzentas da catedral de alguma cidade. De modo parecido, na França, quando extorqui dinheiro de um camponês rico e perverso (o que é quase impossível), me senti gratificado ao despojar sua cabeça indignada tendo como fundo uma sombria fileira de álamos podados e as majestosas planícies da Gália sobre as quais paira o poderoso espírito de Millet. “Bem, meu último crime foi um crime natalino, um crime bem-humorado, confortável, próprio da classe média inglesa; um crime de Charles Dickens. Eu o cometi numa casa antiga perfeita, de classe média, perto de Putney; uma casa com entrada em curva para carruagens, com estábulo ao lado, o nome gravado nos dois portões externos e um pinheiro. Não preciso descrever mais, vocês conhecem o tipo. Acho, na realidade, que tive destreza e poesia na minha imitação do estilo de Dickens. Chega a ser quase uma pena eu ter me arrependido na mesma noite...” Flambeau, então, passaria a contar a história a partir do ponto de vista de quem estava dentro; e, mesmo para quem estava dentro, era esquisita. Vista do lado de fora, era totalmente incompreensível, mas é do ponto de vista do lado externo que o forasteiro deve estudá-la. Dessa perspectiva, pode-se dizer que o drama começou quando as portas da frente da casa se abriram para o jardim onde ficava o pinheiro e uma moça saiu dali com pães para alimentar as aves na tarde seguinte ao dia de Natal. Seu rosto era lindo, de olhos castanhos brilhantes, mas sua aparência ia além de qualquer conjetura, pois ela estava tão agasalhada num casaco de peles marrom que ficava difícil distinguir o cabelo do casaco. Não fosse pelo rosto atraente, ela bem que podia passar por um filhote de urso. A tarde de inverno tornava-se avermelhada com a proximidade do anoitecer, e uma luz rubi já envolvia os canteiros sem flores, enchendo-os, por assim dizer, com os fantasmas das rosas mortas. Em um dos lados da casa ficava o estábulo; em outro, uma aleia ou túnel de loureiros conduzia a um jardim maior nos fundos. A moça, após espalhar pão para as aves (já era a quarta ou quinta vez naquele dia, pois o cachorro comia tudo), passou de maneira discreta pela aleia de loureiros e entrou numa deslumbrante plantação de sempre-vivas. Nesse momento, ela deu um grito de espanto, real ou rotineiro, e, olhando para cima, viu uma figura meio fantástica cavalgando o muro alto do jardim. – Ah, não pule, sr. Crook! – gritou ela um tanto assustada. – É muito alto. O indivíduo a cavalo no muro da divisa era um moço alto, esquelético, de cabelo escuro e eriçado como uma escova, inteligente e com feições até mesmo distintas, porém de compleição pálida, quase misteriosa. Isso se revelava com maior clareza devido à sua gravata vermelho berrante, a única parte do vestuário a que parecia dedicar algum cuidado. Talvez fosse um símbolo. Nem tomou conhecimento da súplica assustada da moça e, como um gafanhoto, pulou ao lado dela, peripécia que quase lhe quebrou as pernas. – Acho que tenho talento para ladrão – disse ele com muita calma – e não tenho dúvidas de que teria sido um, caso não tivesse nascido na bela casa ao lado. De qualquer forma, não vejo nada de mal nisso. – Como pode falar assim? – protestou a moça. – Bem – disse o moço –, se você nasce no lado errado do muro, não vejo nada de errado em saltar por cima dele. – Nunca sei o que você vai dizer ou fazer – disse ela. – Muitas vezes nem eu sei – respondeu o sr. Crook –, mas agora estou no lado certo do muro. – E qual é o lado certo do muro? – perguntou a moça, sorrindo. – O lado que você estiver – disse o jovem Crook. Enquanto caminhavam juntos pelos loureiros, rumo ao jardim da frente, por três vezes ouviu-se a buzina de um automóvel, aproximando-se cada vez mais, e um carro em esplêndida velocidade, luxuoso, em tom verde-claro parou de súbito nos portões da frente, como um pássaro, e ali ficou, ofegante. – Olá, olá! – disse o jovem de gravata vermelha –, de qualquer modo, eis aqui alguém nascido do lado certo. Não sabia, srta. Adams, que seu Papai Noel era tão moderno quanto esse. – Ah, esse é Sir Leopold Fischer, meu padrinho! Ele sempre vem no dia seguinte ao Natal. A seguir, após inocente hesitação, reveladora de maneira inconsciente de certa falta de entusiasmo, Ruby Adams acrescentou: – Ele é muito gentil. John Crook, jornalista, ouvira falar daquele eminente magnata do centro financeiro de Londres; e não era culpa sua se o magnata não tinha ouvido falar dele, visto que em determinados artigos publicados no The Clarion ou no The New Age, Sir Leopold fora tratado com muita reserva. Mas ele não dizia nada e observava com ar carrancudo o processo um tanto demorado do descarregamento do automóvel. Do banco da frente, vestido de verde, desceu um motorista corpulento, bem-apessoado; do banco de trás, saiu um criado baixinho, bem-vestido, num traje cinza. Eles colocaram Sir Leopold no meio deles, na soleira da porta, e começaram a desembrulhá-lo como a um pacote embalado com muito cuidado. Tapetes suficientes para abastecer um bazar, peles de todas as espécies animais da floresta e cachecóis de todas as cores do arcoíris eram retirados um a um, até revelarem algo parecido com a forma humana: a forma de um cavalheiro cordial, mas de aparência exótica e idosa, com barbicha grisalha e sorriso radiante, esfregando as enormes luvas de pele uma contra a outra. Muito antes dessa revelação se consumar, os dois portões do pórtico se abriram, e o coronel Adams (pai da moça de casaco de pele) saiu ele próprio para convidar o ilustre hóspede a entrar. Era um homem alto, bronzeado e silencioso. O gorro vermelho semelhante a um barrete o deixava parecido com os comandantes ingleses ou com os paxás do Egito. Junto dele estava seu cunhado, recém-chegado do Canadá, jovem fazendeiro aristocrata, corpulento e um tanto impetuoso, de barba loira, chamado James Blount. Também com ele estava uma figura das mais insignificantes: o padre da igreja vizinha, pois a falecida esposa do coronel era católica, e os filhos, como é comum nesses casos, haviam sido educados na mesma fé. Tudo parecia ordinário acerca do padre, até mesmo o nome, Brown; contudo, o coronel sempre via nele uma companhia agradável e, com frequência, o convidava para essas reuniões de família. No amplo saguão de entrada da casa havia lugar suficiente até para Sir Leopold e a retirada de seu casaco. Na verdade, o pórtico e o vestíbulo eram muito desproporcionais ao tamanho da casa e formavam, por assim dizer, uma sala enorme com a porta de entrada de um lado e a escadaria do lado oposto. Em frente à grande lareira do salão, acima da qual estava dependurada a espada do coronel, o processo foi concluído, e o grupo, inclusive o carrancudo Crook, se apresentou a Sir Leopold Fischer. Esse respeitável financista, contudo, ainda parecia debater-se com peças do seu rico vestuário. Por fim, retirou de um bolso bem escondido do fraque um estojo oval de cor preta, explicando, com ar radiante, tratar-se do presente de Natal para a afilhada. Com orgulho natural um tanto desconcertante, ele exibiu o estojo diante de todos; a um toque, o estojo se abriu de repente e os deixou meio cegos. Foi como se uma fonte cristalina tivesse esguichado em seus olhos. Em um ninho de veludo alaranjado estavam dispostos, como se fossem três ovos, três diamantes brancos e cintilantes, que pareciam incendiar a própria atmosfera ao redor. Fischer sorriu radiante e gentil, embevecido com o espanto e o êxtase da moça, com a fria admiração e os agradecimentos ríspidos do coronel e com a surpresa de todo o grupo.
– Agora vou colocá-los de volta, minha querida – disse Fischer, retornando o estojo ao bolso do fraque. – Eu precisava tomar cuidado para eles não caírem. São os três grandes diamantes africanos chamados de “As Estrelas Voadoras”, por terem sido roubados tantas vezes. Todos os grandes criminosos estão no encalço deles, mas até os pequenos ladrões das ruas e dos hotéis dificilmente manteriam suas mãos longe deles. Eu podia tê-los perdido aqui na estrada. Era bem possível. – Muito natural, eu diria – resmungou o homem de gravata vermelha. – Não os culparia, caso os diamantes fossem furtados. Quando as pessoas pedem pão e você não lhes dá nem mesmo uma pedra, acho que poderiam pegar a pedra para si. – Não vou permitir que fale desse jeito – gritou a moça com um rubor estranho. – Você só falou assim porque se tornou um horrível... como posso dizer... Você sabe o que estou querendo dizer. Como você chama um homem que quer abraçar um limpador de chaminés? – Um santo – disse Padre Brown. – Acho – disse Sir Leopold, com um sorriso arrogante – que Ruby está se referindo a um socialista. – Um radical não é alguém alimentado à base de radículas – observou Crook, um tanto impaciente –, e um conservador não é um preparador de conservas. Tampouco, lhes garanto, um socialista é alguém que deseja socializar com o seu limpador de chaminés. Um socialista é alguém que quer ver todas as chaminés limpas e todos os limpadores de chaminés pagos por isso. – Mas que também não vai permitir – interrompeu o padre em voz baixa – que ele seja dono da própria fuligem. Crook lançou-lhe um olhar de interesse e até mesmo de respeito. – Alguém quer ficar com a fuligem? – perguntou. – Alguém poderia – respondeu Brown com um olhar de especulação. – Ouvi dizer que os jardineiros a utilizam. Uma vez, no Natal, o mágico não apareceu e deixei seis crianças felizes me cobrindo todo de fuligem. – Brilhante! – gritou Ruby. – Gostaria que fizesse isso diante deste grupo! O sr. Blount, o impetuoso canadense, estava elevando sua voz forte para aplaudir, e o financista atônito também elevava a sua (com notável desaprovação), quando se ouviu alguém bater à majestosa porta da frente. O padre abriu a porta e, de novo, se avistou o jardim de sempre-vivas em frente, o pinheiro e tudo o mais, juntando agora sombras em contraste com um entardecer deslumbrante, em tom violeta. O cenário assim emoldurado estava colorido e estranho como um fundo de cenário de uma peça teatral, tanto que esqueceram, por um instante, o vulto insignificante de pé, à porta. Tinha aparência empoeirada e vestia um casaco surrado, um visível mensageiro comum. – Algum dos cavalheiros é o sr. Blount? – perguntou, e entregou uma carta, um tanto hesitante. O sr. Blount já ia falar, mas se conteve. Rasgando o envelope com evidente surpresa, leu a carta; seu semblante ficou um pouco sombrio, depois se tornou límpido e voltou-se para seu cunhado e anfitrião. – Estou aborrecido por lhe causar semelhante incômodo, coronel – disse ele de modo formal e bem-humorado –, mas o senhor se importaria se um velho conhecido me visitasse a negócios aqui esta noite? Na realidade, trata-se de Florian, aquele famoso acrobata e comediante francês; eu o conheci há anos no outro lado do Atlântico (ele é franco-canadense de nascimento). Parece que tem algum assunto a tratar comigo, embora eu nem sequer imagine do que se trata. – Claro, claro! – respondeu o coronel com indiferença. – Meu camarada, qualquer amigo seu. Não há dúvida de que ele vai se confirmar uma aquisição. – Ele vai pintar o rosto de preto, se é isso o que quer dizer – gritou Blount, rindo. – Não duvido que ele pintaria de preto os olhos de todo mundo. Não me importo, não sou uma pessoa refinada. Gosto da pantomima bem antiga e divertida, com alguém sentando na própria cartola. – Não na minha, por favor – disse Sir Leopold Fischer, com dignidade. – Bem, bem! – observou Crook, com alegria. – Não vamos brigar. Há brincadeiras mais vulgares do que sentar numa cartola. A antipatia ao moço de gravata vermelha, proveniente de suas opiniões destrutivas e pela evidente intimidade com a bela afilhada, levou Fischer a dizer, num estilo mais sarcástico e magistral: – Não há dúvida de que você descobriu algo mais vulgar do que sentar numa cartola. Mas, por favor, o que é? – Permitir que uma cartola sente em você, por exemplo – disse o socialista. – Ora, ora, ora – gritou o fazendeiro canadense com sua rude benevolência –, não vamos estragar uma noite divertida. Estou dizendo para fazermos algo para alegrar a reunião esta noite. Nada de pintar de preto os rostos ou sentar em chapéus, se não gostam disso, mas algo do tipo. Ora, poderíamos preparar uma pantomima inglesa antiga e bem característica... palhaço, colombina, e assim por diante. Aos doze anos, quando deixei a Inglaterra, assisti a uma que, desde então, ilumina meu cérebro como uma fogueira. Voltei ao velho país só no ano passado e percebi que é uma coisa extinta. Nada a não ser uma porção de chorosos espetáculos de fadas. Quero um tiçoeiro quente e um policial transformado em linguiças, e me dão princesas que pregam moral ao luar, pássaros azuis, ou algo assim. O Barba-Azul faz mais o meu tipo, e gostei mais dele quando se transformou em pantalão. – Estou de pleno acordo em transformar um policial em linguiças – disse John Crook. – É uma definição de socialismo melhor do que algumas apresentadas há pouco. Mas com certeza a fantasia daria muito trabalho.
– Nem um pouco – gritou Blount, todo empolgado. – Uma arlequinada é a coisa mais rápida de se fazer, por duas razões. Em primeiro lugar, pode-se improvisar sem limites, e, em segundo lugar, todos os objetos são utensílios domésticos como mesas, toalheiros, cestos de roupas sujas e coisas do gênero. – Isso é verdade – admitiu Crook, acenando a cabeça com impaciência, caminhando de um lado para o outro. – É lamentável, mas não tenho um uniforme de policial! Nos últimos tempos não matei nenhum. Blount, pensativo, franziu as sobrancelhas por um instante e em seguida bateu na coxa. – Sim, podemos conseguir! – gritou. – Tenho o endereço do Florian aqui, e ele conhece todos os costumiers de Londres. Vou ligar para ele pedindo que, quando vier, traga uma roupa de policial. – E saiu correndo para o telefone. – Magnífico, padrinho! – gritou Ruby, quase dançando. – Serei a colombina e você o pantalão. O milionário manteve-se firme, com um ar de seriedade e descrença. – Acho, minha querida – disse ele –, que você deve arranjar uma outra pessoa para pantalão. – Se você quiser, eu serei o pantalão – disse o coronel Adams, tirando o charuto da boca e falando pela primeira e última vez. – Você devia ganhar uma estátua – gritou o canadense, após voltar, radiante, do telefone. – Veja, estamos todos prontos. O sr. Crook será o palhaço; ele é jornalista e conhece tudo das piadas mais antigas. Posso ser o arlequim, que só precisa de pernas compridas e saltar de um lado para outro. Meu amigo Florian me disse ao telefone que vai trazer a roupa de policial; ele vai se trocar no caminho. Podemos representar neste mesmo salão, com os espectadores sentados naquelas escadarias largas do outro lado, uma fileira acima da outra. Estas portas da frente podem ser o fundo do cenário, tanto abertas como fechadas. Se fechadas, pode-se ver um interior inglês. Se abertas, um jardim enluarado. Tudo acontece pela magia. E, apanhando um pedaço de giz de bilhar por acaso no seu bolso, fez uma marca de giz no piso do salão, delimitando o palco bem no meio, entre a porta da frente e a escadaria. Como tal banquete de tolices ficou pronto na ocasião permaneceu um enigma. Todavia, eles participaram do banquete com um misto de imprudência e dedicação presente quando há juventude numa casa; e, naquela noite, havia juventude naquela casa, embora nem todos pudessem ter distinguido os dois rostos e corações pelos quais ela resplandecia. Como sempre acontece, a invenção ficou cada vez mais frenética pela própria submissão às convenções bourgeois a partir das quais tiveram de desenvolvê-la. A colombina estava encantadora numa saia maravilhosa que fazia lembrar, de forma estranha, o grande abajur da sala de visitas. O palhaço e o pantalão se pintaram de branco com farinha obtida do cozinheiro e de vermelho com o ruge de outras serviçais anônimas (como anônimos são todos os verdadeiros benfeitores cristãos). O arlequim, já vestido de papel prateado tirado das caixas de charuto, foi, com dificuldade, impedido de destruir os velhos candelabros vitorianos, com cujos resplandecentes cristais poderia se cobrir. De fato, ele com certeza teria agido dessa forma, se Ruby não tivesse desentocado os apliques de pedras preciosas de antigas pantomimas, usadas numa festa à fantasia a que comparecera, vestida como a Rainha dos Diamantes. Na verdade, o tio dela, James Blount, estava quase descontrolado de tanta empolgação, parecia um colegial. De maneira inesperada, colocou uma cabeça de burro de papel no Padre Brown, que a ostentou com paciência, e até descobriu um jeito pessoal de movimentar as orelhas. Inclusive experimentou colocar um rabo de burro de papel na cauda do fraque de Sir Leopold Fischer. Isso, contudo, não foi visto com bons olhos. – Tio, é muito ridículo! – gritou Ruby para Crook, em cujos ombros ela tinha colocado, com ar sério, uma enfiada de linguiças. – Por que ele está tão frenético? – Ele é o arlequim da sua colombina – disse Crook. – Eu sou apenas o palhaço que faz as velhas brincadeiras. – Gostaria que você fosse o arlequim – disse ela, e deixou a enfiada de linguiças balançando. Padre Brown, embora soubesse de todos os detalhes por trás dos bastidores e tivesse até provocado aplausos por ter transformado um travesseiro num bebê de pantomima, voltou para frente e sentou-se no meio da audiência com toda a expectativa de uma criança em sua primeira matinê. Os espectadores eram poucos: parentes, um ou dois amigos próximos, e os criados; Sir Leopold sentou no assento da frente, com seu corpanzil e o pescoço ainda envolto em peles, dificultando a visão de um clérigo baixinho atrás dele, mas nunca ficou confirmado pelas autoridades artísticas se o clérigo perdeu muita coisa. A pantomima era um caos total, embora não desprezível; um ímpeto de improvisação permeava toda a peça, sobretudo por parte de Crook, o palhaço. Na vida real, ele era um homem inteligente, e esta noite estava inspirado por uma extraordinária onisciência, uma insensatez das mais sagazes do mundo, do tipo que atinge um jovem que viu, num relance, uma expressão particular num rosto particular. Esperava-se que ele fosse o palhaço, mas na realidade ele era quase tudo: o autor (até onde havia um autor), o ponto, o pintor de cenário, o cenógrafo e, acima de tudo, a orquestra. Em repentinos intervalos desse espetáculo excêntrico ele se lançaria ao piano, em traje de gala completo, e arranharia alguma música popular de igual modo absurda e apropriada. O clímax disso, como o de tudo o mais, foi o momento em que as duas portas da frente, ao fundo do cenário, se abriram, exibindo o fascinante jardim enluarado, porém dando mais destaque ao famoso convidado profissional: o grande Florian, vestido de policial. O palhaço ao piano tocava o refrão policialesco de Pirates of Penzance, que foi sufocado pelo aplauso ensurdecedor, pois cada gesto do grande comediante era uma versão admirável, ainda que discreta, da postura e do modo de atuar da polícia. O arlequim saltou sobre ele e o golpeou no capacete; ele olhou para o pianista tocando “Onde conseguiu esse chapéu?” na direção oposta com notável simulação de surpresa, e em seguida o saltitante arlequim golpeou-o de novo (o pianista evocando alguns acordes de “Então, apanhamos outra vez”). Logo após, o arlequim correu direto para os braços do policial e lançou-se sobre ele, em meio a estrondoso aplauso. Depois aconteceu de o estranho ator fazer aquela famosa imitação de um homem morto, cuja fama ainda perdura por toda Putney. Era quase impossível acreditar que uma pessoa viva pudesse parecer tão maleável. O arlequim atlético agitava-o como a um saco, torcia-o, lançava-o como se fosse um bastão, o tempo todo, até nas melodias mais irritantes e ridículas do piano. Quando o arlequim ergueu o cômico policial acima do chão, o palhaço tocava “Eu me acordo sonhando contigo”. Quando o arrastou, levando-o nas costas, ouvia-se “Com o meu pacote nos ombros”, e quando, por fim, o arlequim deixou cair o policial com um convincente baque surdo, o lunático no instrumento atacou uma cantiga ritmada com algumas palavras que ainda acreditamos ter sido “Enviei uma carta ao meu amor e no caminho a joguei fora”. Próximo ao auge dessa anarquia mental, a visão de Padre Brown turvou por completo, pois o magnata do centro financeiro de Londres, a sua frente, ficou de pé e, com brutalidade, foi enfiando as mãos em todos os seus bolsos. Depois sentou-se nervoso, ainda remexendo nos bolsos e, em seguida, levantou-se de novo. Por um momento, pareceu mesmo que ele fosse a passos largos cruzar o palco; depois, lançou um olhar para o palhaço ao piano; em seguida, saiu da sala de repente, em silêncio. O padre tinha observado apenas por mais alguns minutos a dança ridícula, mas não deselegante, do arlequim amador sobre seu inimigo esplendidamente inconsciente. Com arte autêntica, ainda que primitiva, o arlequim saiu dançando devagar pelos fundos e entrou no jardim todo enluarado e em plena calmaria. A roupa, remendada com cola e papel prateado, tão vistosa no palco, parecia cada vez mais mágica e prateada ao sair dançando sob a lua brilhante. A plateia estava para terminar com uma enxurrada de aplausos, quando Brown sentiu um toque abrupto no braço e alguém sussurrou, pedindo para ele ir ao gabinete do coronel. Ele respondeu à convocação cheio de dúvidas, que não foram dissipadas por uma solene comicidade no cenário do gabinete. Ali estava sentado o coronel Adams, ainda vestido naturalmente de pantalão, com uma barbatana de baleia balançando na fronte, mas com os velhos olhos fracos muito tristes por ter ficado sóbrio num festim saturnal. Sir Leopold Fischer estava recostado no consolo da lareira e ofegante devido ao pânico. – Este é um assunto muito doloroso, Padre Brown – disse Adams. – A verdade é que aqueles diamantes, vistos por todos esta tarde, parecem ter sumido do bolso da cauda do fraque do meu amigo. E como o senhor… – Como eu – completou Padre Brown, com um largo sorriso – estava sentado bem atrás dele... – Nenhuma insinuação desse tipo foi feita – disse o coronel Adams, sem tirar os olhos de Fischer, implicando que certa dose particular de insinuação tinha sido feita. – Apenas lhe peço para me dar a ajuda que qualquer cavalheiro daria. – Qual seja, virar do avesso os bolsos dele – disse Padre Brown, e prosseguiu dessa forma, mostrando seis ou sete centavos, uma passagem de ida e volta, um pequeno crucifixo de prata, um pequeno breviário e uma barra de chocolate. – Sabe, eu gostaria de ver o interior da sua cabeça, mais que o interior dos seus bolsos – disse-lhe o coronel, olhando-o com vagar. – Sei que minha filha está entre os seus fiéis; bem, há pouco ela ... – e parou. – Há pouco ela abriu a casa de seu pai para um socialista assassino que diz com franqueza que roubaria qualquer coisa de uma pessoa mais rica – gritou o velho Fischer. – Isso é o cúmulo. Aqui está o homem mais rico... e ninguém é mais rico. – Se quiser o interior da minha cabeça, pode ficar com ele – disse Brown com ar cansado. – Se vale a pena, depois você me diz. Mas a primeira coisa que encontro neste bolso vazio é esta: aqueles que têm a intenção de roubar diamantes não falam sobre socialismo. É provável que eles queiram denunciá-lo – acrescentou com discrição. Os outros dois trocaram de posição de repente, e o padre continuou: – Vejam, conhecemos mais ou menos essas pessoas. Esse socialista não roubaria um diamante, mas sim uma pirâmide. Devemos, de imediato, prestar atenção na pessoa que não conhecemos. O sujeito no papel de policial... Florian. Gostaria de saber onde ele está neste exato momento. O pantalão ergueu-se e saiu da sala a passos largos. Seguiu-se um entreato, onde o milionário fitava o padre, e o padre seu breviário; em seguida, o pantalão retornou e disse, em tom grave e de modo staccato: – O policial continua deitado no palco. A cortina abriu e fechou seis vezes, e ele continua deitado. Padre Brown largou seu livro e ficou de olhos arregalados, perplexo. Aos poucos, uma luz começou a penetrar em seus olhos acinzentados e, então, apresentou uma solução quase óbvia. – Me desculpe, coronel: quando sua esposa morreu? – Minha esposa? – replicou o militar com os olhos arregalados. – Morreu faz um ano e dois meses. James, irmão dela, chegou só uma semana depois para vê-la. O pequenino padre saltava como um coelho ferido. – Vamos lá! – gritou em raro tom de incitamento. – Vamos lá! Temos que dar uma olhada naquele policial! Correram para o palco, já com as cortinas fechadas, abrindo caminho de modo estúpido, passando pela colombina e o palhaço (que pareciam cochichar entre si com bastante satisfação), e Padre Brown curvou-se sobre o cômico policial ali prostrado. – Clorofórmio – disse ao se levantar –, só pensei nisso agora. Houve um silêncio assustador, e em seguida o coronel disse bem devagar: – Por favor, me diga, a sério, o que significa tudo isto. Padre Brown de repente deu uma gargalhada, depois parou, apenas se segurando por alguns segundos para não rir. – Cavalheiros! – falou de modo ofegante. – Não há muito tempo para conversa. Tenho o dever de ir atrás do criminoso. Mas esse grande ator francês que fez o papel de policial... esse talentoso cadáver com quem o arlequim dançou uma valsa, embalou junto ao peito e atirou no chão... era... – sua voz falhou de novo, e ele se virou para correr. – Era o quê? – gritou Fischer curioso. – Um policial de verdade – disse Padre Brown e saiu correndo no meio da escuridão. Havia espaços vazios e caramanchões no final desse jardim arborizado, onde os loureiros e outros arbustos perenes exibiam, mesmo em pleno inverno, as cores vivas do sul, em contraste com o céu azul-safira e a lua prateada. O encanto natural dos loureiros farfalhando, o vivo azul-escuro da noite, a lua semelhante a um gigantesco cristal compunham um quadro quase irresponsavelmente romântico; e, entre os galhos altos das árvores do jardim, um vulto singular está subindo, com uma aparência não tão romântica quanto impossível. Ele reluz da cabeça aos pés, como se vestido com dez milhões de luas; a lua real o captura a cada movimento e incendeia cada centímetro de seu corpo. Mas ele se lança, refulgente e triunfante nesse jardim, da árvore baixa para a alta, perambulando de árvore em árvore, e só para ali porque uma sombra se moveu sorrateira sob a árvore mais baixa e, de maneira inequívoca, chamou por ele. – Bem, Flambeau – diz a voz –, de fato você parece uma Estrela Voadora, mas isso é sempre sinal de uma estrela cadente. No alto, a figura reluzente e prateada parece debruçar-se sobre os loureiros e, confiante na fuga, escuta a pequenina figura abaixo. – Você nunca fez nada melhor, Flambeau. Foi inteligente vir do Canadá (com uma passagem via Paris, suponho) apenas uma semana após a morte da sra. Adams, quando ninguém tinha disposição para fazer perguntas. Foi mais inteligente por ter escolhido as Estrelas Voadoras e o dia exato da chegada de Fischer. Porém, não há nenhuma inteligência, a não ser pura genialidade, no que sucedeu. O roubo das pedras, suponho, não foi nada para você. Podia tê-lo feito, com um truque de magia, numa centena de outras maneiras, sem o pretexto de colocar um rabo de burro de papel no casaco de Fischer. Mas, quanto ao restante, você se eclipsou. A figura prateada no meio da folhagem parece hesitar, como que hipnotizada, embora a salvação estivesse bem atrás de si. Ele está de olho no indivíduo sob a árvore. – Ah, sim! – diz o homem sob a árvore – sei tudo sobre isso. Sei que você não apenas forçou uma pantomima, mas deu a ela uma dupla função. Você roubaria as pedras com toda a tranquilidade, mas, por intermédio de um cúmplice, chegaram notícias de que você já era suspeito, e um competente oficial de polícia viria capturálo naquela mesma noite. Um ladrão comum ficaria grato pelo aviso e fugiria, mas você é um poeta. Já tinha a ideia engenhosa de esconder as joias num palco enfeitado com joias falsas e cintilantes. Ora, você percebeu que, se a roupa fosse a de um arlequim, o aparecimento de um policial seria esperado... O ilustre policial saiu do posto de polícia de Putney para encontrá-lo e caiu na mais fantástica armadilha já preparada no mundo. Quando a porta da frente se abriu ele foi direto para o palco de uma pantomima de Natal, na qual podia ser chutado, levar pauladas, ficar atordoado e drogado pelo saltitante arlequim, em meio às gargalhadas de todas as pessoas mais respeitáveis de Putney. Ah, você nunca fará nada melhor! E agora, por falar nisso, você precisa me devolver aqueles diamantes. O galho verde onde a reluzente figura balançava farfalhou como que atônito, mas a voz continuou: – Quero que você me devolva os diamantes, Flambeau, e quero que você abandone essa vida. Você ainda tem juventude, honra e humor; não se iluda de que sobreviverão nesse meio de vida. As pessoas podem desenvolver certo grau de bondade, mas ninguém jamais foi capaz de sustentar determinado grau de maldade. Essa estrada conduz ao fundo do abismo. O homem bondoso bebe e se torna cruel; o homem franco mata e mente a respeito disso. Conheci muita gente que começou como você, bandidos honestos e divertidos assaltantes da elite. Acabaram esmagados na lama. Maurice Blum iniciou-se como um anarquista convicto, um pai dos pobres; acabou como espião imundo e mexeriqueiro, usado e desprezado por todos. Harry Burke iniciou seu movimento do dinheiro sem juros com muita honestidade; agora toma intermináveis rodadas de conhaque e água tônica às custas de uma irmã subnutrida. Lorde Amber ingressou numa sociedade frenética, uma espécie de cavalaria; agora é chantageado pelos agiotas do mais baixo nível de Londres. O capitão Barillon foi um senhor gângster antes de sua época; morreu num hospício, gritando de pavor dos “dedos-duros” e receptadores que o traíram e o perseguiram como a um animal. Sei que o bosque atrás de você parece desimpedido, Flambeau; sei que, num abrir e fechar de olhos, você pode desaparecer nele como um macaco. Mas algum dia, Flambeau, você será um macaco velho e encanecido. Vai se sentar em sua floresta, com o coração insensível, à beira da morte, e as copas das árvores estarão muito desfolhadas.
Tudo continuava calmo, como se o baixinho ali embaixo da árvore prendesse o outro numa coleira com uma guia comprida e invisível; e continuou: – Sua descida começou. Você costumava se gabar de não fazer nada mesquinho, mas está sendo mesquinho esta noite. Está lançando suspeita sobre um rapaz honesto, já com muita coisa contra ele; você o está separando da mulher que ele ama e que também o ama. Mas você fará coisas mais mesquinhas que essa antes de morrer. Três diamantes reluzentes caíram da árvore no gramado. O baixinho curvou-se para pegá-los, e quando ele de novo olhou para cima a gaiola natural da árvore estava sem o pássaro prateado. A restituição das joias (recolhidas por acidente pelo Padre Brown – logo ele!) encerrou a noite com um triunfo espetacular; e Sir Leopold, do alto do seu bom humor, até disse ao padre que, embora ele próprio tivesse pontos de vista mais tolerantes, ele sabia respeitar as pessoas cuja crença lhes exigia estarem enclausuradas e ignorar o mundo.
– O crime mais lindo que já cometi também foi, por extraordinária coincidência, o meu último – diria Flambeau em sua velhice moralista. – Foi no Natal. Como um artista, eu sempre tentava arranjar crimes apropriados a épocas especiais ou a cenários onde me encontrasse, escolhendo este ou aquele terraço ou jardim para uma catástrofe como se fosse para uma coleção de esculturas. Portanto, os cavalheiros deveriam ser espoliados em salas amplas revestidas de painéis de carvalho; por outro lado, seria melhor que os judeus se vissem pobres de uma hora para outra entre as luzes e os biombos do Café Riche. Por conseguinte, na Inglaterra, se eu quisesse despojar um deão de suas riquezas (o que não é tão fácil como se poderia supor), gostaria de enquadrá-lo, se me faço entender, nos gramados verdes e nas torres cinzentas da catedral de alguma cidade. De modo parecido, na França, quando extorqui dinheiro de um camponês rico e perverso (o que é quase impossível), me senti gratificado ao despojar sua cabeça indignada tendo como fundo uma sombria fileira de álamos podados e as majestosas planícies da Gália sobre as quais paira o poderoso espírito de Millet. “Bem, meu último crime foi um crime natalino, um crime bem-humorado, confortável, próprio da classe média inglesa; um crime de Charles Dickens. Eu o cometi numa casa antiga perfeita, de classe média, perto de Putney; uma casa com entrada em curva para carruagens, com estábulo ao lado, o nome gravado nos dois portões externos e um pinheiro. Não preciso descrever mais, vocês conhecem o tipo. Acho, na realidade, que tive destreza e poesia na minha imitação do estilo de Dickens. Chega a ser quase uma pena eu ter me arrependido na mesma noite...” Flambeau, então, passaria a contar a história a partir do ponto de vista de quem estava dentro; e, mesmo para quem estava dentro, era esquisita. Vista do lado de fora, era totalmente incompreensível, mas é do ponto de vista do lado externo que o forasteiro deve estudá-la. Dessa perspectiva, pode-se dizer que o drama começou quando as portas da frente da casa se abriram para o jardim onde ficava o pinheiro e uma moça saiu dali com pães para alimentar as aves na tarde seguinte ao dia de Natal. Seu rosto era lindo, de olhos castanhos brilhantes, mas sua aparência ia além de qualquer conjetura, pois ela estava tão agasalhada num casaco de peles marrom que ficava difícil distinguir o cabelo do casaco. Não fosse pelo rosto atraente, ela bem que podia passar por um filhote de urso. A tarde de inverno tornava-se avermelhada com a proximidade do anoitecer, e uma luz rubi já envolvia os canteiros sem flores, enchendo-os, por assim dizer, com os fantasmas das rosas mortas. Em um dos lados da casa ficava o estábulo; em outro, uma aleia ou túnel de loureiros conduzia a um jardim maior nos fundos. A moça, após espalhar pão para as aves (já era a quarta ou quinta vez naquele dia, pois o cachorro comia tudo), passou de maneira discreta pela aleia de loureiros e entrou numa deslumbrante plantação de sempre-vivas. Nesse momento, ela deu um grito de espanto, real ou rotineiro, e, olhando para cima, viu uma figura meio fantástica cavalgando o muro alto do jardim. – Ah, não pule, sr. Crook! – gritou ela um tanto assustada. – É muito alto. O indivíduo a cavalo no muro da divisa era um moço alto, esquelético, de cabelo escuro e eriçado como uma escova, inteligente e com feições até mesmo distintas, porém de compleição pálida, quase misteriosa. Isso se revelava com maior clareza devido à sua gravata vermelho berrante, a única parte do vestuário a que parecia dedicar algum cuidado. Talvez fosse um símbolo. Nem tomou conhecimento da súplica assustada da moça e, como um gafanhoto, pulou ao lado dela, peripécia que quase lhe quebrou as pernas. – Acho que tenho talento para ladrão – disse ele com muita calma – e não tenho dúvidas de que teria sido um, caso não tivesse nascido na bela casa ao lado. De qualquer forma, não vejo nada de mal nisso. – Como pode falar assim? – protestou a moça. – Bem – disse o moço –, se você nasce no lado errado do muro, não vejo nada de errado em saltar por cima dele. – Nunca sei o que você vai dizer ou fazer – disse ela. – Muitas vezes nem eu sei – respondeu o sr. Crook –, mas agora estou no lado certo do muro. – E qual é o lado certo do muro? – perguntou a moça, sorrindo. – O lado que você estiver – disse o jovem Crook. Enquanto caminhavam juntos pelos loureiros, rumo ao jardim da frente, por três vezes ouviu-se a buzina de um automóvel, aproximando-se cada vez mais, e um carro em esplêndida velocidade, luxuoso, em tom verde-claro parou de súbito nos portões da frente, como um pássaro, e ali ficou, ofegante. – Olá, olá! – disse o jovem de gravata vermelha –, de qualquer modo, eis aqui alguém nascido do lado certo. Não sabia, srta. Adams, que seu Papai Noel era tão moderno quanto esse. – Ah, esse é Sir Leopold Fischer, meu padrinho! Ele sempre vem no dia seguinte ao Natal. A seguir, após inocente hesitação, reveladora de maneira inconsciente de certa falta de entusiasmo, Ruby Adams acrescentou: – Ele é muito gentil. John Crook, jornalista, ouvira falar daquele eminente magnata do centro financeiro de Londres; e não era culpa sua se o magnata não tinha ouvido falar dele, visto que em determinados artigos publicados no The Clarion ou no The New Age, Sir Leopold fora tratado com muita reserva. Mas ele não dizia nada e observava com ar carrancudo o processo um tanto demorado do descarregamento do automóvel. Do banco da frente, vestido de verde, desceu um motorista corpulento, bem-apessoado; do banco de trás, saiu um criado baixinho, bem-vestido, num traje cinza. Eles colocaram Sir Leopold no meio deles, na soleira da porta, e começaram a desembrulhá-lo como a um pacote embalado com muito cuidado. Tapetes suficientes para abastecer um bazar, peles de todas as espécies animais da floresta e cachecóis de todas as cores do arcoíris eram retirados um a um, até revelarem algo parecido com a forma humana: a forma de um cavalheiro cordial, mas de aparência exótica e idosa, com barbicha grisalha e sorriso radiante, esfregando as enormes luvas de pele uma contra a outra. Muito antes dessa revelação se consumar, os dois portões do pórtico se abriram, e o coronel Adams (pai da moça de casaco de pele) saiu ele próprio para convidar o ilustre hóspede a entrar. Era um homem alto, bronzeado e silencioso. O gorro vermelho semelhante a um barrete o deixava parecido com os comandantes ingleses ou com os paxás do Egito. Junto dele estava seu cunhado, recém-chegado do Canadá, jovem fazendeiro aristocrata, corpulento e um tanto impetuoso, de barba loira, chamado James Blount. Também com ele estava uma figura das mais insignificantes: o padre da igreja vizinha, pois a falecida esposa do coronel era católica, e os filhos, como é comum nesses casos, haviam sido educados na mesma fé. Tudo parecia ordinário acerca do padre, até mesmo o nome, Brown; contudo, o coronel sempre via nele uma companhia agradável e, com frequência, o convidava para essas reuniões de família. No amplo saguão de entrada da casa havia lugar suficiente até para Sir Leopold e a retirada de seu casaco. Na verdade, o pórtico e o vestíbulo eram muito desproporcionais ao tamanho da casa e formavam, por assim dizer, uma sala enorme com a porta de entrada de um lado e a escadaria do lado oposto. Em frente à grande lareira do salão, acima da qual estava dependurada a espada do coronel, o processo foi concluído, e o grupo, inclusive o carrancudo Crook, se apresentou a Sir Leopold Fischer. Esse respeitável financista, contudo, ainda parecia debater-se com peças do seu rico vestuário. Por fim, retirou de um bolso bem escondido do fraque um estojo oval de cor preta, explicando, com ar radiante, tratar-se do presente de Natal para a afilhada. Com orgulho natural um tanto desconcertante, ele exibiu o estojo diante de todos; a um toque, o estojo se abriu de repente e os deixou meio cegos. Foi como se uma fonte cristalina tivesse esguichado em seus olhos. Em um ninho de veludo alaranjado estavam dispostos, como se fossem três ovos, três diamantes brancos e cintilantes, que pareciam incendiar a própria atmosfera ao redor. Fischer sorriu radiante e gentil, embevecido com o espanto e o êxtase da moça, com a fria admiração e os agradecimentos ríspidos do coronel e com a surpresa de todo o grupo.
– Agora vou colocá-los de volta, minha querida – disse Fischer, retornando o estojo ao bolso do fraque. – Eu precisava tomar cuidado para eles não caírem. São os três grandes diamantes africanos chamados de “As Estrelas Voadoras”, por terem sido roubados tantas vezes. Todos os grandes criminosos estão no encalço deles, mas até os pequenos ladrões das ruas e dos hotéis dificilmente manteriam suas mãos longe deles. Eu podia tê-los perdido aqui na estrada. Era bem possível. – Muito natural, eu diria – resmungou o homem de gravata vermelha. – Não os culparia, caso os diamantes fossem furtados. Quando as pessoas pedem pão e você não lhes dá nem mesmo uma pedra, acho que poderiam pegar a pedra para si. – Não vou permitir que fale desse jeito – gritou a moça com um rubor estranho. – Você só falou assim porque se tornou um horrível... como posso dizer... Você sabe o que estou querendo dizer. Como você chama um homem que quer abraçar um limpador de chaminés? – Um santo – disse Padre Brown. – Acho – disse Sir Leopold, com um sorriso arrogante – que Ruby está se referindo a um socialista. – Um radical não é alguém alimentado à base de radículas – observou Crook, um tanto impaciente –, e um conservador não é um preparador de conservas. Tampouco, lhes garanto, um socialista é alguém que deseja socializar com o seu limpador de chaminés. Um socialista é alguém que quer ver todas as chaminés limpas e todos os limpadores de chaminés pagos por isso. – Mas que também não vai permitir – interrompeu o padre em voz baixa – que ele seja dono da própria fuligem. Crook lançou-lhe um olhar de interesse e até mesmo de respeito. – Alguém quer ficar com a fuligem? – perguntou. – Alguém poderia – respondeu Brown com um olhar de especulação. – Ouvi dizer que os jardineiros a utilizam. Uma vez, no Natal, o mágico não apareceu e deixei seis crianças felizes me cobrindo todo de fuligem. – Brilhante! – gritou Ruby. – Gostaria que fizesse isso diante deste grupo! O sr. Blount, o impetuoso canadense, estava elevando sua voz forte para aplaudir, e o financista atônito também elevava a sua (com notável desaprovação), quando se ouviu alguém bater à majestosa porta da frente. O padre abriu a porta e, de novo, se avistou o jardim de sempre-vivas em frente, o pinheiro e tudo o mais, juntando agora sombras em contraste com um entardecer deslumbrante, em tom violeta. O cenário assim emoldurado estava colorido e estranho como um fundo de cenário de uma peça teatral, tanto que esqueceram, por um instante, o vulto insignificante de pé, à porta. Tinha aparência empoeirada e vestia um casaco surrado, um visível mensageiro comum. – Algum dos cavalheiros é o sr. Blount? – perguntou, e entregou uma carta, um tanto hesitante. O sr. Blount já ia falar, mas se conteve. Rasgando o envelope com evidente surpresa, leu a carta; seu semblante ficou um pouco sombrio, depois se tornou límpido e voltou-se para seu cunhado e anfitrião. – Estou aborrecido por lhe causar semelhante incômodo, coronel – disse ele de modo formal e bem-humorado –, mas o senhor se importaria se um velho conhecido me visitasse a negócios aqui esta noite? Na realidade, trata-se de Florian, aquele famoso acrobata e comediante francês; eu o conheci há anos no outro lado do Atlântico (ele é franco-canadense de nascimento). Parece que tem algum assunto a tratar comigo, embora eu nem sequer imagine do que se trata. – Claro, claro! – respondeu o coronel com indiferença. – Meu camarada, qualquer amigo seu. Não há dúvida de que ele vai se confirmar uma aquisição. – Ele vai pintar o rosto de preto, se é isso o que quer dizer – gritou Blount, rindo. – Não duvido que ele pintaria de preto os olhos de todo mundo. Não me importo, não sou uma pessoa refinada. Gosto da pantomima bem antiga e divertida, com alguém sentando na própria cartola. – Não na minha, por favor – disse Sir Leopold Fischer, com dignidade. – Bem, bem! – observou Crook, com alegria. – Não vamos brigar. Há brincadeiras mais vulgares do que sentar numa cartola. A antipatia ao moço de gravata vermelha, proveniente de suas opiniões destrutivas e pela evidente intimidade com a bela afilhada, levou Fischer a dizer, num estilo mais sarcástico e magistral: – Não há dúvida de que você descobriu algo mais vulgar do que sentar numa cartola. Mas, por favor, o que é? – Permitir que uma cartola sente em você, por exemplo – disse o socialista. – Ora, ora, ora – gritou o fazendeiro canadense com sua rude benevolência –, não vamos estragar uma noite divertida. Estou dizendo para fazermos algo para alegrar a reunião esta noite. Nada de pintar de preto os rostos ou sentar em chapéus, se não gostam disso, mas algo do tipo. Ora, poderíamos preparar uma pantomima inglesa antiga e bem característica... palhaço, colombina, e assim por diante. Aos doze anos, quando deixei a Inglaterra, assisti a uma que, desde então, ilumina meu cérebro como uma fogueira. Voltei ao velho país só no ano passado e percebi que é uma coisa extinta. Nada a não ser uma porção de chorosos espetáculos de fadas. Quero um tiçoeiro quente e um policial transformado em linguiças, e me dão princesas que pregam moral ao luar, pássaros azuis, ou algo assim. O Barba-Azul faz mais o meu tipo, e gostei mais dele quando se transformou em pantalão. – Estou de pleno acordo em transformar um policial em linguiças – disse John Crook. – É uma definição de socialismo melhor do que algumas apresentadas há pouco. Mas com certeza a fantasia daria muito trabalho.
– Nem um pouco – gritou Blount, todo empolgado. – Uma arlequinada é a coisa mais rápida de se fazer, por duas razões. Em primeiro lugar, pode-se improvisar sem limites, e, em segundo lugar, todos os objetos são utensílios domésticos como mesas, toalheiros, cestos de roupas sujas e coisas do gênero. – Isso é verdade – admitiu Crook, acenando a cabeça com impaciência, caminhando de um lado para o outro. – É lamentável, mas não tenho um uniforme de policial! Nos últimos tempos não matei nenhum. Blount, pensativo, franziu as sobrancelhas por um instante e em seguida bateu na coxa. – Sim, podemos conseguir! – gritou. – Tenho o endereço do Florian aqui, e ele conhece todos os costumiers de Londres. Vou ligar para ele pedindo que, quando vier, traga uma roupa de policial. – E saiu correndo para o telefone. – Magnífico, padrinho! – gritou Ruby, quase dançando. – Serei a colombina e você o pantalão. O milionário manteve-se firme, com um ar de seriedade e descrença. – Acho, minha querida – disse ele –, que você deve arranjar uma outra pessoa para pantalão. – Se você quiser, eu serei o pantalão – disse o coronel Adams, tirando o charuto da boca e falando pela primeira e última vez. – Você devia ganhar uma estátua – gritou o canadense, após voltar, radiante, do telefone. – Veja, estamos todos prontos. O sr. Crook será o palhaço; ele é jornalista e conhece tudo das piadas mais antigas. Posso ser o arlequim, que só precisa de pernas compridas e saltar de um lado para outro. Meu amigo Florian me disse ao telefone que vai trazer a roupa de policial; ele vai se trocar no caminho. Podemos representar neste mesmo salão, com os espectadores sentados naquelas escadarias largas do outro lado, uma fileira acima da outra. Estas portas da frente podem ser o fundo do cenário, tanto abertas como fechadas. Se fechadas, pode-se ver um interior inglês. Se abertas, um jardim enluarado. Tudo acontece pela magia. E, apanhando um pedaço de giz de bilhar por acaso no seu bolso, fez uma marca de giz no piso do salão, delimitando o palco bem no meio, entre a porta da frente e a escadaria. Como tal banquete de tolices ficou pronto na ocasião permaneceu um enigma. Todavia, eles participaram do banquete com um misto de imprudência e dedicação presente quando há juventude numa casa; e, naquela noite, havia juventude naquela casa, embora nem todos pudessem ter distinguido os dois rostos e corações pelos quais ela resplandecia. Como sempre acontece, a invenção ficou cada vez mais frenética pela própria submissão às convenções bourgeois a partir das quais tiveram de desenvolvê-la. A colombina estava encantadora numa saia maravilhosa que fazia lembrar, de forma estranha, o grande abajur da sala de visitas. O palhaço e o pantalão se pintaram de branco com farinha obtida do cozinheiro e de vermelho com o ruge de outras serviçais anônimas (como anônimos são todos os verdadeiros benfeitores cristãos). O arlequim, já vestido de papel prateado tirado das caixas de charuto, foi, com dificuldade, impedido de destruir os velhos candelabros vitorianos, com cujos resplandecentes cristais poderia se cobrir. De fato, ele com certeza teria agido dessa forma, se Ruby não tivesse desentocado os apliques de pedras preciosas de antigas pantomimas, usadas numa festa à fantasia a que comparecera, vestida como a Rainha dos Diamantes. Na verdade, o tio dela, James Blount, estava quase descontrolado de tanta empolgação, parecia um colegial. De maneira inesperada, colocou uma cabeça de burro de papel no Padre Brown, que a ostentou com paciência, e até descobriu um jeito pessoal de movimentar as orelhas. Inclusive experimentou colocar um rabo de burro de papel na cauda do fraque de Sir Leopold Fischer. Isso, contudo, não foi visto com bons olhos. – Tio, é muito ridículo! – gritou Ruby para Crook, em cujos ombros ela tinha colocado, com ar sério, uma enfiada de linguiças. – Por que ele está tão frenético? – Ele é o arlequim da sua colombina – disse Crook. – Eu sou apenas o palhaço que faz as velhas brincadeiras. – Gostaria que você fosse o arlequim – disse ela, e deixou a enfiada de linguiças balançando. Padre Brown, embora soubesse de todos os detalhes por trás dos bastidores e tivesse até provocado aplausos por ter transformado um travesseiro num bebê de pantomima, voltou para frente e sentou-se no meio da audiência com toda a expectativa de uma criança em sua primeira matinê. Os espectadores eram poucos: parentes, um ou dois amigos próximos, e os criados; Sir Leopold sentou no assento da frente, com seu corpanzil e o pescoço ainda envolto em peles, dificultando a visão de um clérigo baixinho atrás dele, mas nunca ficou confirmado pelas autoridades artísticas se o clérigo perdeu muita coisa. A pantomima era um caos total, embora não desprezível; um ímpeto de improvisação permeava toda a peça, sobretudo por parte de Crook, o palhaço. Na vida real, ele era um homem inteligente, e esta noite estava inspirado por uma extraordinária onisciência, uma insensatez das mais sagazes do mundo, do tipo que atinge um jovem que viu, num relance, uma expressão particular num rosto particular. Esperava-se que ele fosse o palhaço, mas na realidade ele era quase tudo: o autor (até onde havia um autor), o ponto, o pintor de cenário, o cenógrafo e, acima de tudo, a orquestra. Em repentinos intervalos desse espetáculo excêntrico ele se lançaria ao piano, em traje de gala completo, e arranharia alguma música popular de igual modo absurda e apropriada. O clímax disso, como o de tudo o mais, foi o momento em que as duas portas da frente, ao fundo do cenário, se abriram, exibindo o fascinante jardim enluarado, porém dando mais destaque ao famoso convidado profissional: o grande Florian, vestido de policial. O palhaço ao piano tocava o refrão policialesco de Pirates of Penzance, que foi sufocado pelo aplauso ensurdecedor, pois cada gesto do grande comediante era uma versão admirável, ainda que discreta, da postura e do modo de atuar da polícia. O arlequim saltou sobre ele e o golpeou no capacete; ele olhou para o pianista tocando “Onde conseguiu esse chapéu?” na direção oposta com notável simulação de surpresa, e em seguida o saltitante arlequim golpeou-o de novo (o pianista evocando alguns acordes de “Então, apanhamos outra vez”). Logo após, o arlequim correu direto para os braços do policial e lançou-se sobre ele, em meio a estrondoso aplauso. Depois aconteceu de o estranho ator fazer aquela famosa imitação de um homem morto, cuja fama ainda perdura por toda Putney. Era quase impossível acreditar que uma pessoa viva pudesse parecer tão maleável. O arlequim atlético agitava-o como a um saco, torcia-o, lançava-o como se fosse um bastão, o tempo todo, até nas melodias mais irritantes e ridículas do piano. Quando o arlequim ergueu o cômico policial acima do chão, o palhaço tocava “Eu me acordo sonhando contigo”. Quando o arrastou, levando-o nas costas, ouvia-se “Com o meu pacote nos ombros”, e quando, por fim, o arlequim deixou cair o policial com um convincente baque surdo, o lunático no instrumento atacou uma cantiga ritmada com algumas palavras que ainda acreditamos ter sido “Enviei uma carta ao meu amor e no caminho a joguei fora”. Próximo ao auge dessa anarquia mental, a visão de Padre Brown turvou por completo, pois o magnata do centro financeiro de Londres, a sua frente, ficou de pé e, com brutalidade, foi enfiando as mãos em todos os seus bolsos. Depois sentou-se nervoso, ainda remexendo nos bolsos e, em seguida, levantou-se de novo. Por um momento, pareceu mesmo que ele fosse a passos largos cruzar o palco; depois, lançou um olhar para o palhaço ao piano; em seguida, saiu da sala de repente, em silêncio. O padre tinha observado apenas por mais alguns minutos a dança ridícula, mas não deselegante, do arlequim amador sobre seu inimigo esplendidamente inconsciente. Com arte autêntica, ainda que primitiva, o arlequim saiu dançando devagar pelos fundos e entrou no jardim todo enluarado e em plena calmaria. A roupa, remendada com cola e papel prateado, tão vistosa no palco, parecia cada vez mais mágica e prateada ao sair dançando sob a lua brilhante. A plateia estava para terminar com uma enxurrada de aplausos, quando Brown sentiu um toque abrupto no braço e alguém sussurrou, pedindo para ele ir ao gabinete do coronel. Ele respondeu à convocação cheio de dúvidas, que não foram dissipadas por uma solene comicidade no cenário do gabinete. Ali estava sentado o coronel Adams, ainda vestido naturalmente de pantalão, com uma barbatana de baleia balançando na fronte, mas com os velhos olhos fracos muito tristes por ter ficado sóbrio num festim saturnal. Sir Leopold Fischer estava recostado no consolo da lareira e ofegante devido ao pânico. – Este é um assunto muito doloroso, Padre Brown – disse Adams. – A verdade é que aqueles diamantes, vistos por todos esta tarde, parecem ter sumido do bolso da cauda do fraque do meu amigo. E como o senhor… – Como eu – completou Padre Brown, com um largo sorriso – estava sentado bem atrás dele... – Nenhuma insinuação desse tipo foi feita – disse o coronel Adams, sem tirar os olhos de Fischer, implicando que certa dose particular de insinuação tinha sido feita. – Apenas lhe peço para me dar a ajuda que qualquer cavalheiro daria. – Qual seja, virar do avesso os bolsos dele – disse Padre Brown, e prosseguiu dessa forma, mostrando seis ou sete centavos, uma passagem de ida e volta, um pequeno crucifixo de prata, um pequeno breviário e uma barra de chocolate. – Sabe, eu gostaria de ver o interior da sua cabeça, mais que o interior dos seus bolsos – disse-lhe o coronel, olhando-o com vagar. – Sei que minha filha está entre os seus fiéis; bem, há pouco ela ... – e parou. – Há pouco ela abriu a casa de seu pai para um socialista assassino que diz com franqueza que roubaria qualquer coisa de uma pessoa mais rica – gritou o velho Fischer. – Isso é o cúmulo. Aqui está o homem mais rico... e ninguém é mais rico. – Se quiser o interior da minha cabeça, pode ficar com ele – disse Brown com ar cansado. – Se vale a pena, depois você me diz. Mas a primeira coisa que encontro neste bolso vazio é esta: aqueles que têm a intenção de roubar diamantes não falam sobre socialismo. É provável que eles queiram denunciá-lo – acrescentou com discrição. Os outros dois trocaram de posição de repente, e o padre continuou: – Vejam, conhecemos mais ou menos essas pessoas. Esse socialista não roubaria um diamante, mas sim uma pirâmide. Devemos, de imediato, prestar atenção na pessoa que não conhecemos. O sujeito no papel de policial... Florian. Gostaria de saber onde ele está neste exato momento. O pantalão ergueu-se e saiu da sala a passos largos. Seguiu-se um entreato, onde o milionário fitava o padre, e o padre seu breviário; em seguida, o pantalão retornou e disse, em tom grave e de modo staccato: – O policial continua deitado no palco. A cortina abriu e fechou seis vezes, e ele continua deitado. Padre Brown largou seu livro e ficou de olhos arregalados, perplexo. Aos poucos, uma luz começou a penetrar em seus olhos acinzentados e, então, apresentou uma solução quase óbvia. – Me desculpe, coronel: quando sua esposa morreu? – Minha esposa? – replicou o militar com os olhos arregalados. – Morreu faz um ano e dois meses. James, irmão dela, chegou só uma semana depois para vê-la. O pequenino padre saltava como um coelho ferido. – Vamos lá! – gritou em raro tom de incitamento. – Vamos lá! Temos que dar uma olhada naquele policial! Correram para o palco, já com as cortinas fechadas, abrindo caminho de modo estúpido, passando pela colombina e o palhaço (que pareciam cochichar entre si com bastante satisfação), e Padre Brown curvou-se sobre o cômico policial ali prostrado. – Clorofórmio – disse ao se levantar –, só pensei nisso agora. Houve um silêncio assustador, e em seguida o coronel disse bem devagar: – Por favor, me diga, a sério, o que significa tudo isto. Padre Brown de repente deu uma gargalhada, depois parou, apenas se segurando por alguns segundos para não rir. – Cavalheiros! – falou de modo ofegante. – Não há muito tempo para conversa. Tenho o dever de ir atrás do criminoso. Mas esse grande ator francês que fez o papel de policial... esse talentoso cadáver com quem o arlequim dançou uma valsa, embalou junto ao peito e atirou no chão... era... – sua voz falhou de novo, e ele se virou para correr. – Era o quê? – gritou Fischer curioso. – Um policial de verdade – disse Padre Brown e saiu correndo no meio da escuridão. Havia espaços vazios e caramanchões no final desse jardim arborizado, onde os loureiros e outros arbustos perenes exibiam, mesmo em pleno inverno, as cores vivas do sul, em contraste com o céu azul-safira e a lua prateada. O encanto natural dos loureiros farfalhando, o vivo azul-escuro da noite, a lua semelhante a um gigantesco cristal compunham um quadro quase irresponsavelmente romântico; e, entre os galhos altos das árvores do jardim, um vulto singular está subindo, com uma aparência não tão romântica quanto impossível. Ele reluz da cabeça aos pés, como se vestido com dez milhões de luas; a lua real o captura a cada movimento e incendeia cada centímetro de seu corpo. Mas ele se lança, refulgente e triunfante nesse jardim, da árvore baixa para a alta, perambulando de árvore em árvore, e só para ali porque uma sombra se moveu sorrateira sob a árvore mais baixa e, de maneira inequívoca, chamou por ele. – Bem, Flambeau – diz a voz –, de fato você parece uma Estrela Voadora, mas isso é sempre sinal de uma estrela cadente. No alto, a figura reluzente e prateada parece debruçar-se sobre os loureiros e, confiante na fuga, escuta a pequenina figura abaixo. – Você nunca fez nada melhor, Flambeau. Foi inteligente vir do Canadá (com uma passagem via Paris, suponho) apenas uma semana após a morte da sra. Adams, quando ninguém tinha disposição para fazer perguntas. Foi mais inteligente por ter escolhido as Estrelas Voadoras e o dia exato da chegada de Fischer. Porém, não há nenhuma inteligência, a não ser pura genialidade, no que sucedeu. O roubo das pedras, suponho, não foi nada para você. Podia tê-lo feito, com um truque de magia, numa centena de outras maneiras, sem o pretexto de colocar um rabo de burro de papel no casaco de Fischer. Mas, quanto ao restante, você se eclipsou. A figura prateada no meio da folhagem parece hesitar, como que hipnotizada, embora a salvação estivesse bem atrás de si. Ele está de olho no indivíduo sob a árvore. – Ah, sim! – diz o homem sob a árvore – sei tudo sobre isso. Sei que você não apenas forçou uma pantomima, mas deu a ela uma dupla função. Você roubaria as pedras com toda a tranquilidade, mas, por intermédio de um cúmplice, chegaram notícias de que você já era suspeito, e um competente oficial de polícia viria capturálo naquela mesma noite. Um ladrão comum ficaria grato pelo aviso e fugiria, mas você é um poeta. Já tinha a ideia engenhosa de esconder as joias num palco enfeitado com joias falsas e cintilantes. Ora, você percebeu que, se a roupa fosse a de um arlequim, o aparecimento de um policial seria esperado... O ilustre policial saiu do posto de polícia de Putney para encontrá-lo e caiu na mais fantástica armadilha já preparada no mundo. Quando a porta da frente se abriu ele foi direto para o palco de uma pantomima de Natal, na qual podia ser chutado, levar pauladas, ficar atordoado e drogado pelo saltitante arlequim, em meio às gargalhadas de todas as pessoas mais respeitáveis de Putney. Ah, você nunca fará nada melhor! E agora, por falar nisso, você precisa me devolver aqueles diamantes. O galho verde onde a reluzente figura balançava farfalhou como que atônito, mas a voz continuou: – Quero que você me devolva os diamantes, Flambeau, e quero que você abandone essa vida. Você ainda tem juventude, honra e humor; não se iluda de que sobreviverão nesse meio de vida. As pessoas podem desenvolver certo grau de bondade, mas ninguém jamais foi capaz de sustentar determinado grau de maldade. Essa estrada conduz ao fundo do abismo. O homem bondoso bebe e se torna cruel; o homem franco mata e mente a respeito disso. Conheci muita gente que começou como você, bandidos honestos e divertidos assaltantes da elite. Acabaram esmagados na lama. Maurice Blum iniciou-se como um anarquista convicto, um pai dos pobres; acabou como espião imundo e mexeriqueiro, usado e desprezado por todos. Harry Burke iniciou seu movimento do dinheiro sem juros com muita honestidade; agora toma intermináveis rodadas de conhaque e água tônica às custas de uma irmã subnutrida. Lorde Amber ingressou numa sociedade frenética, uma espécie de cavalaria; agora é chantageado pelos agiotas do mais baixo nível de Londres. O capitão Barillon foi um senhor gângster antes de sua época; morreu num hospício, gritando de pavor dos “dedos-duros” e receptadores que o traíram e o perseguiram como a um animal. Sei que o bosque atrás de você parece desimpedido, Flambeau; sei que, num abrir e fechar de olhos, você pode desaparecer nele como um macaco. Mas algum dia, Flambeau, você será um macaco velho e encanecido. Vai se sentar em sua floresta, com o coração insensível, à beira da morte, e as copas das árvores estarão muito desfolhadas.
Tudo continuava calmo, como se o baixinho ali embaixo da árvore prendesse o outro numa coleira com uma guia comprida e invisível; e continuou: – Sua descida começou. Você costumava se gabar de não fazer nada mesquinho, mas está sendo mesquinho esta noite. Está lançando suspeita sobre um rapaz honesto, já com muita coisa contra ele; você o está separando da mulher que ele ama e que também o ama. Mas você fará coisas mais mesquinhas que essa antes de morrer. Três diamantes reluzentes caíram da árvore no gramado. O baixinho curvou-se para pegá-los, e quando ele de novo olhou para cima a gaiola natural da árvore estava sem o pássaro prateado. A restituição das joias (recolhidas por acidente pelo Padre Brown – logo ele!) encerrou a noite com um triunfo espetacular; e Sir Leopold, do alto do seu bom humor, até disse ao padre que, embora ele próprio tivesse pontos de vista mais tolerantes, ele sabia respeitar as pessoas cuja crença lhes exigia estarem enclausuradas e ignorar o mundo.
O HOMEM INVISÍVEL
No frescor do crepúsculo azulado de duas íngremes ruelas em Camden Town, a loja da esquina, uma confeitaria, brilhava como a ponta de um charuto. Dir-se-ia, talvez, como a ponta de um fogo de artifício, pois a luz, multicolorida e complexa, fragmentada por vários espelhos, dançava nas cores vivas e douradas de numerosas tortas e guloseimas. Contra esse único vidro faiscante grudavam-se os narizes de muitos moleques de rua, pois os chocolates estavam envoltos naquelas cores metálicas, vermelhas, amarelo-ouro e verdes, quase tão apetitosas quanto o próprio chocolate; e o gigantesco bolo branco de casamento na vitrine parecia, por algum motivo, ao mesmo tempo longínquo e reconfortante, como se o Polo Norte inteiro fosse bom para comer. Tal arco-íris de estímulos conseguia reunir naturalmente a criançada de até dez, doze anos do bairro. Mas essa esquina era também atrativa à juventude; e um moço, de não menos de vinte e quatro anos, não tirava os olhos da mesma vitrine. Para ele, também, a loja tinha um encanto faiscante, mas não se podia creditar toda essa atração aos chocolates; os quais, porém, ele estava longe de desprezar. Era um ruivo alto, encorpado, de rosto decidido, mas jeito lânguido. Carregava embaixo do braço uma pasta cinza com desenhos em preto e branco, que vendia com relativo sucesso para editoras, desde que o tio dele (que era almirante) o deserdara por causa do Socialismo, devido a uma palestra que ele fizera contra essa teoria econômica. O nome dele era John Turnbull Angus. Entrando enfim, atravessou a confeitaria rumo aos fundos, uma espécie de salão de chá, apenas erguendo o chapéu para a moça que estava atendendo ali. Era uma morena vivaz e elegante, vestida de preto, com as faces rosadas e olhos escuros, muito ligeiros; após alguns instantes, seguiu-o até o salão dos fundos para anotar o pedido. Ele pediu o de sempre, é claro. – Quero, por favor – disse, com exatidão –, um bolo de meio centavo e um cafezinho. – Um pouco antes de a moça se virar, acrescentou: – Mais uma coisa: quero que você se case comigo. A moça da confeitaria enrijeceu-se de repente e disse: – Eu não permito esse tipo de brincadeira. O moço ruivo ergueu olhos cinzentos de uma sobriedade inesperada. – Real e sinceramente – disse ele –, é tão sério… tão sério como o bolo de meio centavo. Caro, como o bolo; é preciso pagar por ele. Indigesto, como o bolo. Machuca. A morena não havia tirado um instante sequer os olhos escuros de cima dele, mas parecia estudá-lo com minúcia quase trágica. Ao término do escrutínio, algo como a sombra de um sorriso permeava seu rosto, e ela se sentou numa cadeira. – Não acha – observou Angus, distraído – um tanto cruel comer esses bolinhos de meio centavo? Bem poderiam crescer e virar bolos de um centavo. Quando estivermos casados, não vou mais praticar esse esporte violento. A morena levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, em claro estado de profunda mas não impassível meditação. Quando enfim virou-se resoluta, ficou espantada ao ver o rapaz dispondo com cuidado sobre a mesa vários objetos da vitrine. Entre eles, uma pirâmide de doces multicores, alguns pratos de sanduíches e duas garrafas de cristal contendo aqueles misteriosos Porto e xerez, tão peculiares das confeitarias. No meio desse esmerado arranjo, ele havia cuidadosamente depositado a colossal carga de torta branca açucarada, que pouco antes era o enorme enfeite da vitrine. – O que afinal você está fazendo? – indagou ela. – Deveres, minha querida Laura – iniciou ele. – Ah, pelo amor de Deus, pare quieto um minuto – gritou ela – e não fale comigo desse jeito. Pode me dizer para que tudo isso? – Uma refeição comemorativa, srta. Hope. – E aquilo, o que é? – perguntou ela, impaciente, apontando a montanha de açúcar. – O bolo de casamento, sra. Angus – disse ele. A moça encaminhou-se àquele item, removeu-o com certo atropelo e colocou-o de volta na vitrine; então retornou e, apoiando os formosos cotovelos na mesa, mediu o rapaz com um olhar não depreciativo, mas com boa dose de irritação. – Você não me dá nem um pouco de tempo para pensar – falou ela. – Não sou assim tão insensato – disse ele –, essa é minha humildade cristã. Ela permanecia olhando para ele, mas seu semblante tornou-se bem mais sério por trás do sorriso. – Sr. Angus – disse, em tom pausado –, antes que essa bobagem continue por mais um minuto, preciso contar algo sobre mim, da maneira mais sucinta que eu puder. – Encantado – respondeu Angus, sério. – Pode contar algo sobre mim, também, enquanto você estiver falando nisso. – Ah, fique quieto e escute – disse ela. – Não é nada de que eu sinta vergonha, e também não é nada que me traga algum arrependimento em particular. Mas o que você diria se houvesse algo que não me diz respeito e ao mesmo tempo é meu pesadelo? – Nesse caso – falou o homem com seriedade –, devo sugerir que você traga de volta o bolo. – Bem, primeiro vai ter que escutar a história – disse Laura, persistente. – Para começo de conversa, preciso lhe contar que meu pai era dono do hotel chamado Red Fish, em Ludbury, e eu costumava atender as pessoas no bar. – Muitas vezes fiquei imaginando – disse ele – o porquê da atmosfera cristã nesta confeitaria. – Ludbury é um buraquinho sonolento e relvado nos condados do leste, e o único tipo de gente que aparecia no Red Fish eram ocasionais caixeiros-viajantes e, quanto ao restante, o povo mais horrível que alguém pode ver, só que ninguém os vê. Refirome a homenzinhos ociosos que têm o bastante apenas para sobreviver e nada a fazer além de perambular pelos bares e apostar em corridas de cavalo, trajando roupas horrorosas que lhes caem muito bem. Mesmo aqueles seres tristes e imprestáveis não eram muito comuns em nosso estabelecimento, mas havia dois deles cuja presença era comum até demais, comum em todos os sentidos. Ambos viviam de seu próprio dinheiro e eram tediosamente preguiçosos e exagerados no vestir. Mas mesmo assim eu sentia um pouco de pena deles, pois meio que acreditava que se escondiam em nosso barzinho vazio porque ambos tinham uma leve deformidade, o tipo de coisa de que alguns caipiras fazem troça. Não era bem uma deformidade, era mais uma singularidade. Um deles era espantosamente pequeno, quase do tamanho de um anão, ou pelo menos de um jóquei. Mas não lembrava um jóquei de modo algum: tinha a cabeça negra e redonda, uma barba negra bem aparada e olhos brilhantes como os de um pássaro. Ele fazia tilintar dinheiro nos bolsos, balançava uma grande corrente de relógio de ouro e nunca aparecia a não ser preocupado demais em trajar como cavalheiro para ser um. Mas não era idiota e sim um fútil preguiçoso, estranhamente conhecedor de todo tipo de coisa que não poderia ter o menor uso, uma espécie de mágico de improviso: fazia quinze palitos de fósforo se incendiarem uns aos outros como fogos de artifício, ou esculpia uma boneca dançarina em uma banana, ou algo parecido. O nome dele era Isidore Smythe, e posso vê-lo ainda, com sua carinha morena, se aproximar do balcão e transformar cinco charutos num canguru saltando. “O outro sujeito era mais calado e mais comum, mas, de alguma forma, me inquietava bem mais que o coitadinho do Smythe. Era muito alto e esguio, e tinha o cabelo claro; seu nariz era empinado, e quase poderia ser considerado bonito de uma forma um tanto espectral, se não tivesse uma das vesguices mais acachapantes que eu já vi ou de que ouvi falar. Quando ele olhava diretamente para você, você ficava sem saber onde estava, muito menos para onde ele estava olhando. Calculo que esse tipo de deformação tenha azedado um pouquinho o coitado, pois, enquanto Smythe estava pronto para exibir suas macaquices em qualquer lugar, James Welkin (esse era o nome do vesgo) não fazia nada além de se encharcar em nosso balcão e sair para longas caminhadas solitárias pelas planícies cinzentas que nos cercavam. Da mesma forma, acho que Smythe também era um pouco sensível ao fato de ser tão baixinho, embora levasse a questão com mais inteligência. Então, o fato é que fiquei realmente confusa, não menos perplexa e muito triste, quando os dois me pediram em casamento na mesma semana. “Daí, fiz o que desde aquela época considero uma besteira, talvez. Mas, afinal, esses excêntricos eram meus amigos, de certa forma, e eu sentia pânico só de pensar que pudessem imaginar o motivo real de minha recusa, que não era outro senão a incrível feiura de ambos. De modo que inventei outro tipo de lorota, sobre nunca ter desejado casar com alguém que não tivesse feito a própria fortuna. Disse a eles que para mim era uma questão de princípios não viver de dinheiro simplesmente herdado, como era o caso deles. Dois dias depois de eu ter falado dessa maneira bemintencionada, começou todo o problema. Correu o boato que os dois tinham ido embora para fazer fortuna, como se estivessem em algum simplório conto de fadas. “Bem, desde aquele dia nunca mais vi nenhum deles. Mas recebi duas cartas do homenzinho chamado Smythe, e, para falar a verdade, elas eram bem interessantes.” – Tem notícias do outro homem? – perguntou Angus. – Não, ele nunca escreveu – disse a moça, depois de hesitar um pouco. – A primeira carta de Smythe informava apenas que ele havia partido a pé para Londres, na companhia de Welkin, mas Welkin caminhava tão rápido que o homenzinho desistiu e tirou um cochilo à beira da estrada. Parece que um show itinerante ofereceu carona a ele, e, em parte porque era quase um anão, em parte porque era mesmo um espertinho inescrupuloso, fez muito sucesso no show business e logo foi mandado para o Aquarium para fazer uns números que não lembro. Essa foi a primeira carta. A segunda, ainda mais surpreendente, recebi na semana passada. O homem chamado Angus terminou sua xícara de café e, com olhos suaves e pacientes, observou a moça. Ela recomeçou com um leve esgar de sorriso na boca: – Imagino que você tenha visto nos tapumes sobre esse tal “Serviço Silencioso de Smythe”? Ou talvez seja a única pessoa que não tenha visto. Ah, não sei muito sobre o assunto, sei que é uma espécie de invenção automática que realiza todo o serviço doméstico mecanicamente. Sabe aquele tipo de coisa: “Aperte o botão: um mordomo que não bebe”. “Gire a alavanca: dez empregadas que não flertam”. Você deve ter visto os cartazes. Bem, seja lá o que forem essas máquinas, o fato é que estão dando rios de dinheiro, e tudo isso por conta de nosso conhecido moleque de Ludbury. Não posso deixar de me alegrar por saber que o pobre rapazinho está caminhando com as próprias pernas, mas a verdade pura é que morro de medo de que a qualquer momento ele apareça dizendo que conquistou sua fortuna por méritos próprios... como na realidade conseguiu. – E o outro homem? – repetiu Angus com certa quietude obstinada. Laura Hope ergueu-se repentinamente. – Meu amigo – disse ela –, acho que você é meio bruxo. Sim, você está completamente certo. Nem uma linha sequer do outro homem, e sei tanto quanto os mortos sobre onde ele está ou o que tem feito. Mas é dele que tenho medo. Ele que sempre aparece em meu caminho. Ele que está prestes a me deixar louca. Na verdade, acho que me deixou louca, porque tenho sentido a presença dele em lugares onde ele não poderia estar, e escutado a voz dele em ocasiões que ele não poderia ter falado. – Bem, minha querida – disse o jovem, alegre –, se ele era o diabo em pessoa, ele não tem mais chances agora que você contou para alguém. Enlouquecemos sozinhos, minha velha. Mas quando você imaginou ter sentido a presença e escutado a voz de nosso amigo vesgo? – Escutei James Welkin rir tão claro como escuto você falar – disse a moça, calma. – Não havia ninguém lá, pois eu estava bem na esquina à frente da confeitaria e podia ver as duas ruas abaixo ao mesmo tempo. Tinha me esquecido da risada dele, embora ela fosse tão singular quanto a sua vesguice. Fazia quase um ano que eu nem sequer pensava nele. Mas a pura verdade é que poucos segundos depois a carta de seu rival chegou. – Alguma vez você já fez o fantasma falar ou articular algo, ou coisa parecida? – perguntou Angus, com certo interesse. Laura estremeceu de repente, e então disse, com voz firme: – Sim. Na hora que acabei de ler a segunda carta de Isidore Smythe contando sobre seu sucesso financeiro, bem naquela hora, escutei Welkin dizer: “Mas ele não vai ficar com você”. Foi muito nítido, como se ele estivesse no quarto. É horrível, acho que devo estar louca. – Se estivesse mesmo louca – disse o jovem –, pensaria estar sã. Mas me parece certo haver algo um tanto esquisito quanto a esse cavalheiro invisível. Dois cérebros pensam melhor do que um... poupo-lhe alusões a quaisquer outros órgãos... e, de fato, se você me permitir, na condição de homem teimoso e pragmático, buscar de novo o bolo de casamento da vitrine... No exato momento em que falava, escutou-se uma espécie de som agudo e metálico na rua, e um carrinho, dirigido a uma velocidade diabólica, precipitou-se à frente da loja, onde parou. No mesmo átimo, um homenzinho de cartola reluzente batia o pé na sala externa. Angus, que até então mantivera por motivos de higiene mental uma alegre tranquilidade, revelou a tensão de seu espírito saindo a passos largos da sala interna e confrontando o recém-chegado. Um rápido olhar foi suficiente para confirmar as selvagens conjeturas de um homem apaixonado. Esse requintado mas nanico personagem, de cavanhaque preto apontando com insolência para frente, olhos espertos e agitados, dedos bonitos, mas nervosos, não poderia ser outro senão o recém descrito Isidore Smythe, que fazia bonecas com cascas de banana e caixas de fósforo; Isidore Smythe, que fazia milhões com mordomos que não bebem e empregadas que não flertam. Por um momento, os dois homens, entendendo instintivamente o ar possessivo um do outro, entreolharam-se com aquela nobreza curiosa e distante que é a alma da rivalidade. O sr. Smythe, entretanto, não fez alusão ao real motivo do antagonismo entre eles e disse, de modo simples e explosivo: – Por acaso a srta. Hope viu aquilo que está escrito na vitrine? – Na vitrine? – repetiu Angus, encarando o homem. – Não há tempo para explicar outras coisas – disse, impaciente, o pequeno milionário. – Tem uma tolice acontecendo aqui que precisa ser investigada. Ele apontou sua lustrosa bengala para a vitrine, há pouco esvaziada devido aos preparativos nupciais do sr. Angus, e este cavalheiro ficou atônito ao ver fixada na frente do vidro uma comprida faixa de papel, a qual com certeza não estava na vitrine quando ele olhara através dela minutos atrás. Seguindo o vigoroso Smythe até a rua, viu que um papel de um metro e meio havia sido cuidadosamente colado na parte externa do vidro, e nele estava escrito em letras tortas: “Se você se casar com Smythe, ele será um homem morto”. – Laura – disse Angus, colocando a cabeça grande e ruiva no interior da confeitaria –, você não está louca. – É a letra daquele sujeito, o Welkin – falou Smythe, ríspido. – Faz anos que não o vejo, mas está sempre me incomodando. De duas semanas para cá, por cinco vezes ele fez chegar cartas ameaçadoras ao meu apartamento, e não consigo sequer descobrir quem as leva, que dirá se é o próprio Welkin. O porteiro do prédio jura que nenhuma pessoa suspeita foi vista, e agora ele fixou um tipo de papel adesivo na vitrine de uma loja, enquanto as pessoas na loja... – Exato – disse Angus, comedido –, enquanto as pessoas na loja tomavam chá. Bem, senhor, posso lhe assegurar que aprecio seu bom-senso em tratar o assunto de modo tão direto. Podemos falar de outras coisas mais tarde. O homem não deve estar muito longe, pois juro que não havia nenhum papel ali na última vez que fui até a vitrine, dez ou quinze minutos atrás. Por outro lado, deve estar longe demais para ser perseguido, já que não sabemos nem ao menos a direção que tomou. Se quer um conselho, sr. Smythe, sugiro que coloque logo o assunto nas mãos de algum detetive eficaz, de preferência, particular. Conheço um camarada de extrema perspicácia; podemos chegar ao escritório dele em cinco minutos em seu carro. O nome dele é Flambeau, e embora sua juventude tenha sido um pouco tumultuada, hoje é um homem rigorosamente honesto, e sua inteligência vale dinheiro. Ele mora em Lucknow Mansions, Hampstead. – Esquisito – disse o homenzinho, arqueando as sobrancelhas pretas. – Eu mesmo moro na esquina com Himalaya Mansions. Talvez você queira vir comigo; posso ir ao meu apartamento e localizar esses estranhos papéis do Welkin, enquanto você dá a volta e chama seu amigo detetive. – O senhor é muito correto – disse Angus, polido. – Bem, quanto antes agirmos, melhor. Os dois homens, com um curioso tipo de imparcialidade improvisada, despediram-se da moça da mesma maneira formal e pularam dentro do carrinho esportivo. Tão logo Smythe pegou a direção e dobraram a esquina, Angus se divertiu ao ver um pôster gigante do “Serviço Silencioso de Smythe”, com a foto de uma enorme boneca de ferro sem cabeça segurando pelo cabo uma panela em que se lia: “Uma cozinheira que nunca está de mau humor”. – Eu mesmo as uso em meu apartamento – disse o homenzinho de barba negra, rindo –, um pouco pela publicidade, um pouco pela praticidade. Para ser franco, e falando sério, essas minhas grandes bonecas automáticas realmente lhe trazem carvão ou vinho tinto ou a tabela de horários do trem com mais celeridade do que qualquer empregado humano que conheço, se você souber apertar o botão certo. Mas, cá entre nós, não vou negar que esses serviçais têm lá suas desvantagens. – Verdade? – perguntou Angus. – Tem algo que não conseguem fazer? – Sim – respondeu Smythe, com frieza. – São incapazes de dizer quem deixou aquelas cartas ameaçadoras em meu apartamento. O carro do homem era tão pequeno e ágil como ele próprio; na verdade, a exemplo do serviço de criadagem, era invenção dele mesmo. Se ele era um charlatão da publicidade, pelo menos acreditava nas próprias mercadorias. A sensação de estar voando em algo minúsculo acentuava-se à medida que subiam velozmente as curvas compridas e caiadas da rodovia na luz clara e sem brilho do anoitecer. Logo as curvas caiadas se tornaram mais fechadas e vertiginosas; serpenteavam em espirais ascendentes, como dizem nas religiões modernas. Pois, na verdade, eles tangenciavam um canto de Londres quase tão escarpado quanto Edimburgo, ou talvez tão pitoresco. Patamares e patamares de residências se erguiam no declive, e a torre especial de apartamentos que procuravam se erguia a uma altura quase egípcia, pintada de ouro pelo pôr do sol. A mudança, ao dobrarem a curva e entrarem na meia-lua conhecida como Himalaya Mansions, foi tão brusca como o abrir de uma janela, pois vislumbraram aquela pilha de apartamentos disposta sobre Londres como sobre um mar verde de ardósia. À frente dos solares, no outro lado da meia-lua de cascalho, havia um terreno cercado de arbustos mais parecido com uma sebe íngreme ou com um dique do que com um jardim, e perto dali descia um córrego de água artificial, uma espécie de canal, como o fosso daquela fortaleza sombreada. Ao chispar ao redor da meia-lua, o carro passou numa das esquinas pelo carrinho de um vendedor de castanhas, e, logo após a outra extremidade da curva, Angus pôde ver um policial em uniforme azul-claro caminhando devagar. Eram essas as únicas formas humanas naquela elevada solitude suburbana, mas Angus teve uma sensação irracional de que expressavam a poesia silenciosa de Londres. Teve a impressão de que eram ilustrações de um conto. O carrinho freou no prédio direto como um projétil, e expulsou seu dono como um cartucho. Ato contínuo, ele passou a indagar a um porteiro alto de uniforme com galões brilhantes, e a um carregador baixinho em mangas de camisa, se alguém ou algo estivera procurando por seu apartamento. Esses funcionários lhe asseguraram que ninguém ou nada havia passado por eles desde a última vez que perguntara, com o que ele e o levemente atônito Angus foram arremessados como um foguete elevador acima, até atingirem a cobertura. – Entre só um minuto – disse Smythe, sem fôlego. – Quero lhe mostrar as cartas de Welkin. Então você pode dar a volta na quadra e trazer seu amigo. – Ele apertou um botão escondido na parede, e a porta abriu sozinha. A porta dava para um comprido e amplo vestíbulo, em que os únicos elementos impressionantes, por assim dizer, eram as fileiras de vultos mecânicos semi-humanos e altos que permaneciam de pé nos dois lados, como manequins de alfaiate. Como manequins de alfaiate, eram acéfalos, e, como manequins de alfaiate, tinham uma simpática e inútil corcova nos ombros, e o peito projetado para frente como o dos pombos; à exceção disso, porém, não se pareciam mais com um vulto humano do que qualquer autômato numa fábrica com a altura aproximada de uma pessoa. No lugar dos braços havia dois ganchos grandes para carregar bandejas; e eram pintados de verdeervilha, ou vermelho vivo, ou preto pela conveniência de distingui-los; em todos outros aspectos eram apenas engenhos automáticos, e ninguém os teria olhado duas vezes. Nessa ocasião, pelo menos, ninguém olhou, porque entre as duas fileiras desses manequins domésticos havia algo mais interessante do que a maioria das engenhocas desse mundo. Era um pedacinho de papel branco rasgado, com rabiscos em tinta vermelha, e o ágil inventor o apanhou quase na mesma hora em que a porta se abriu. Ele o entregou a Angus sem falar nada. Na verdade, a tinta vermelha sobre o papel não estava seca, e a mensagem dizia: “Se você foi vê-la hoje, vou te matar”. Houve um breve silêncio, e então Isidore Smythe disse, calmo: – Aceita um pouco de uísque? Tenho a impressão de que preciso de uma dose. – Obrigado, mas prefiro um pouco de Flambeau – disse Angus, melancólico. – Esse negócio me parece estar ficando bastante sério. Vou imediatamente atrás dele. – Certo – respondeu o outro, com admirável animação. – Traga-o aqui o mais rápido que puder. Ao fechar a porta atrás de si, porém, viu Smythe apertar um botão, e um dos vultos autômatos deslizou de seu lugar e patinou ao longo de uma ranhura no piso carregando uma bandeja com garrafa e sifão. Parecia mesmo um pouco estranho deixar o homenzinho a sós com aqueles servos inanimados que ganhavam vida enquanto a porta se fechava. Seis degraus abaixo do andar de Smythe, um homem em mangas de camisa fazia algo com um balde. Angus parou para arrancar uma promessa, endossada com uma possível propina, de que ele ficaria naquele local até que Angus retornasse com o detetive, e prestaria conta sobre qualquer tipo de pessoa estranha que subisse por aquelas escadas. Lançando-se abaixo ao hall de entrada fez então pedidos similares de vigilância ao porteiro, de quem ficou sabendo a circunstância simplificadora de que não existia porta dos fundos. Não contente com isso, chamou o policial que rondava e o convenceu a ficar defronte à entrada e vigiá-la; e, por fim, fez uma pausa para comprar um centavo de castanhas e indagar sobre o provável tempo de permanência do vendedor nas redondezas. O vendedor de castanhas, erguendo a gola do capote, comunicou-lhe que logo deveria ir andando, pois achava que logo, logo ia começar a nevar. De fato, a noite caía cinza e cortante, mas Angus, com toda sua eloquência, foi bem-sucedido em fixar o vendedor de castanhas em seu posto. – Esquente o corpo com suas próprias castanhas – disse, com franqueza. – Coma todo seu estoque, vou premiar o seu esforço. Se o senhor esperar aqui até eu retornar e então me contar se qualquer homem, mulher ou criança entrou naquele prédio onde o homem de uniforme está parado, eu lhe dou um soberano. Então afastou-se a passos enérgicos, olhando uma última vez para a torre sitiada. – Seja como for, eu fiz um círculo ao redor daquele apartamento – disse ele. – Não é possível que todos os quatro sejam cúmplices do sr. Welkin. Lucknow Mansions ficava, por assim dizer, numa plataforma inferior daquela colina residencial, da qual Himalaya Mansions poderia ser chamado o ápice. O apartamento semioficial do sr. Flambeau ficava no térreo e apresentava em todos aspectos um contraste marcante com a maquinaria americana e o luxo frio de hotel do apartamento do Serviço Silencioso. Flambeau, que era amigo de Angus, recebeu-o nos fundos do gabinete, num recanto em estilo rococó decorado com sabres, arcabuzes, curiosidades orientais, garrafas de vinhos italianos, caldeirões rudimentares, um gato persa felpudo e um padre católico baixinho e sem graça, que parecia estar especialmente deslocado. – Este é meu amigo Padre Brown – disse Flambeau. – Muitas vezes quis que você o conhecesse. Que tempo maravilhoso; um tanto frio para sulistas como eu. – Sim, acho que vai continuar bom – respondeu Angus, sentando num sofá otomano de listras violeta. – Não – disse o padre, com placidez –, a neve começou a cair. E, de fato, enquanto ele falava, os primeiros flocos esparsos, previstos pelo homem das castanhas, começaram a flutuar, oblíquos, por trás da vidraça escura. – Bem – disse Angus, de modo opressivo –, temo ter vindo a negócios, e negócios bem preocupantes, aliás. O caso, Flambeau, é que bem perto daqui há um homem que precisa muito de sua ajuda; ele está sendo eternamente perseguido e ameaçado por um inimigo invisível... um patife que ninguém sequer avistou. À medida que Angus contava toda a história de Smythe e Welkin, começando com a de Laura e prosseguindo com a sua própria, a risada sobrenatural na esquina de dua ruas vazias, as estranhas e nítidas palavras proferidas numa sala vazia, Flambeau ficava mais e mais vivamente preocupado, e o pequeno padre parecia ter sido deixado de fora da conversa, como uma peça da mobília. Quando chegou ao papel rabiscado e colado na vitrine, Flambeau se levantou, parecendo preencher a sala com seus ombros enormes. – Se não se importa – disse ele –, acho que é melhor me contar o resto no caminho mais curto para a casa desse homem. Não sei por que, tenho o pressentimento de que não há tempo a perder. – Encantado – disse Angus, também se levantando –, embora no momento ele esteja seguro, pois deixei quatro homens vigiando a única entrada da sua toca. Saíram pela rua, e o pequeno padre os seguia com a docilidade de um cachorrinho. Ele disse apenas, de um jeito animado, como alguém querendo começar uma conversa: – Como a neve se acumula depressa no chão. À medida que caminhavam com dificuldade nas íngremes calçadas das ruas salpicadas de prata, Angus arrematou a história; e quando chegaram à meia-lua com a torre de apartamentos, voltou a atenção aos quatro sentinelas. O vendedor de castanhas, antes e depois de receber um soberano, jurou de pés juntos que vigiara a porta e que nenhum visitante entrara por ela. O policial foi ainda mais enfático. Afirmou que sabia lidar com cafajestes de todas as categorias, em cartolas e em andrajos; não era tão ingênuo a ponto de esperar que figuras suspeitas parecessem suspeitas; prestou atenção em toda e qualquer pessoa, e, para sua sorte, não apareceu nenhuma. E quando o trio rodeou o porteiro de uniforme dourado, que ainda permanecia sorrindo escarranchado no pórtico, o veredicto tornou-se ainda mais conclusivo. – Tenho o direito de perguntar a qualquer um, lixeiro ou duque, o que veio fazer neste prédio – disse o sorridente titã de galões dourados –, e juro que não apareceu ninguém para ser perguntado, desde a hora que este cavalheiro se afastou. O desimportante Padre Brown, que permanecia um pouco atrás, olhando modesto para o chão, neste momento aventurou-se a dizer, gentil: – Ninguém subiu ou desceu as escadas, então, desde que a neve começou a cair? Começou a nevar enquanto estávamos na casa de Flambeau. – Não apareceu ninguém por aqui, senhor, pode acreditar em mim – disse o funcionário, com autoridade radiante. – Então o que será aquilo? – disse o padre, volvendo para o chão um olhar vazio como o de um peixe. Os outros todos também olharam para baixo, e Flambeau empregou uma exclamação violenta e um gesto francês. Pois era verdade inquestionável que bem no meio da entrada guardada pelo homem de galões dourados, mais exatamente entre as presunçosas e retesadas pernas daquele colosso, corria um filamentoso rastro de pegadas cinza, carimbado sobre a neve clara. – Meu Deus! – gritou Angus, involuntariamente. – O Homem Invisível! Sem outra palavra, ele se virou e correu escadas acima, seguido por Flambeau, mas Padre Brown permaneceu observando ao redor a rua coberta de neve, como se tivesse perdido o interesse na questão. Flambeau estava numa disposição evidente de pôr a porta abaixo com seu ombro enorme, mas o escocês, com mais raciocínio e menos intuição, tateou nas proximidades da moldura da porta até encontrar o botão invisível, e a porta abriu devagar. Em essência, revelou o mesmo interior enfileirado: o vestíbulo estava mais escuro, embora ainda riscado aqui e ali pelos últimos feixes carmesins do pôr do sol; um ou dois dos autômatos sem cabeça estavam fora do lugar por este ou aquele motivo, parados aqui e acolá no lusco-fusco. O verde e o vermelho de seus uniformes estavam escurecidos pelo anoitecer, e sua semelhança à forma humana era levemente acentuada pela própria falta de forma. Mas, no meio de tudo isso, exatamente onde antes jazia o bilhete com tinta vermelha, jazia algo que se parecia muito com tinta vermelha derramada do tinteiro. Mas não era tinta vermelha. Com uma mistura francesa de razão e violência, Flambeau disse apenas “Assassinato!” e, precipitando-se apartamento adentro, vasculhou durante cinco minutos cada canto e cada armário. Mas se ele esperava encontrar um corpo não achou nenhum. Isidore Smythe simplesmente não estava ali, nem vivo nem morto. Depois da mais frenética procura, os dois homens se encontraram no corredor externo, com rostos suados e olhos pasmados. – Amigo – disse Flambeau, falando francês em sua excitação –, não só o assassino é invisível, como torna invisível o homem assassinado. Angus perscrutou o ambiente sombrio repleto de manequins e, em algum recanto celta de sua alma escocesa, sentiu um arrepio. Um dos autômatos de tamanho real estava parado exatamente de forma a tapar a mancha de sangue, chamado, talvez, pelo homem assassinado, pouco antes de cair. Um dos ombrudos ganchos que serviam de braço à coisa estava levemente erguido e subitamente passou pela cabeça de Angus a ideia horrível de que o próprio filho de ferro do pobre Smythe o tivesse golpeado e derrubado. A matéria se rebelara, e esses autômatos haviam matado seu mestre. Mas mesmo se fosse assim, o que teriam feito com ele? – Mastigado? – disse o pesadelo em seu ouvido; e por um momento, teve engulhos ao pensar em restos humanos dilacerados sendo absorvidos e triturados no interior daquelas máquinas acéfalas. Recuperou a saúde mental por meio de um intenso esforço e disse a Flambeau: – Bem, é isso. O coitado evaporou como uma nuvem e deixou uma listra vermelha no piso. Esta história é de outro mundo. – Só há uma coisa a fazer – disse Flambeau –, pertença essa história a este ou a outro mundo, tenho de ir lá embaixo e falar com meu amigo. Desceram, passando pelo homem com o balde, que de novo garantiu não haver deixado nenhum intruso passar. Lá embaixo, o porteiro e o impaciente vendedor de castanhas reafirmaram com ênfase suas próprias vigilâncias. Mas quando Angus procurou ao redor a quarta confirmação, não conseguiu achá-la e perguntou, com certo nervosismo: – Onde está o policial? – Por favor, me perdoe – disse Padre Brown –, a culpa é minha. Acabei de mandá-lo descer a rua e investigar uma coisa... que apenas considerei que valia a pena investigar. – Bem, é bom que ele volte logo – disse Angus, abruptamente –, pois o infeliz aí de cima não apenas foi assassinado, mas apagado do mapa. – Como? – perguntou o padre. – Padre – disse Flambeau, depois de uma pausa –, pela minha alma acredito que este caso é mais do seu departamento do que do meu. Nenhum amigo ou inimigo entrou no prédio, mas Smythe sumiu, como levado pelas fadas. Se isso não for sobrenatural, eu... Enquanto ele falava todos ficaram paralisados por uma visão incomum: o corpulento policial de azul dobrou a esquina, troteando. Veio direto a Brown. – O sr. está certo, sir – falou, ofegante –, acabam de encontrar o corpo do pobre sr. Smythe lá embaixo no canal. Angus colocou a mão na cabeça, em desvario. – Ele desceu correndo e se afogou? – perguntou. – Em hipótese alguma ele desceu, eu juro – disse o guarda –, e não morreu afogado também: levou uma facada certeira no coração. – E apesar disso você não viu ninguém entrar? – indagou Flambeau, em tom sério. – Vamos caminhar um pouco pela rua – falou o padre. Quando chegaram à outra extremidade da meia-lua, ele observou de repente: – Que estupidez a minha! Esqueci de perguntar algo ao policial. Estou curioso por saber se encontraram uma sacola marrom-claro. – Por que uma sacola marrom-claro? – perguntou Angus, perplexo. – Porque se for uma sacola de outra cor, o caso volta à estaca zero – disse Padre Brown –, mas se for uma sacola marrom-claro, bem, então o caso está resolvido. – Fico feliz em ouvir isso – disse Angus com sincera ironia. – O caso nem começou ainda, até onde eu sei. – O senhor precisa nos contar tudo – disse Flambeau, com a estranha e intensa simplicidade de uma criança. Sem se dar conta, eles foram descendo em passo acelerado a comprida ladeira, que ficava do outro lado da meia-lua. Padre Brown puxava a frente com passos enérgicos, mas calado. Por fim, disse com incerteza quase tocante: – Bem, tenho medo que vocês considerem isso muito prosaico. Sempre começamos na extremidade abstrata das coisas, e esta história não pode começar em outro lugar. “Já notaram uma coisa... que as pessoas nunca respondem ao que você pergunta? Elas respondem àquilo que você quer dizer... ou àquilo que pensam que você quer dizer. Vamos supor que uma senhora diga a outra numa casa de campo: ‘Tem alguém morando com vocês?’, a resposta não é: ‘Sim; o mordomo, os três lacaios, a camareira, e assim por diante’, embora a camareira possa estar na sala e o mordomo atrás da poltrona. Ela diz: ‘Não há ninguém morando conosco’, significando ninguém do tipo que você quer dizer. Mas suponha que um médico investigando uma epidemia pergunte: ‘Quem mora em sua casa?’, então a senhora vai lembrar do mordomo, da arrumadeira e dos outros. Toda linguagem é usada assim; você nunca consegue uma resposta literal, mesmo quando lhe respondem com sinceridade. Quando aqueles quatro homens bem honestos disseram que nenhum homem havia entrado nos solares, não queriam dizer realmente que nenhum homem havia entrado. Queriam dizer nenhum homem de quem pudessem suspeitar. Um homem de fato entrou no prédio, e de fato saiu dele, mas eles nem perceberam.” – Um homem invisível? – indagou Angus, erguendo as sobrancelhas ruivas. – Um homem mentalmente invisível – disse Padre Brown. Pouco depois, recomeçou no mesmo tom despretensioso, como alguém que não sabe que direção tomar: – Claro que ninguém consegue pensar em um homem assim, até que comece a pensar nele. Nisso reside sua esperteza. Mas passei a pensar nele por causa de duas ou três coisinhas na história que o sr. Angus nos contou. Primeiro, havia o fato de que esse Welkin dava longas caminhadas. E então o papel colado na vitrine. E então, o principal, duas coisas que a moça disse... coisas que não poderiam ser verdadeiras. Não se ofenda – apressou-se a acrescentar, observando um movimento repentino da cabeça do escocês –, ela pensava que eram verdadeiras, mas não poderiam ser. É impossível alguém estar completamente só numa rua um segundo antes de receber uma carta. É impossível estar completamente só quando começa a ler uma carta recém recebida. Deve haver alguém bem próximo a ela, alguém mentalmente invisível. – Por que deve haver alguém perto dela? – indagou Angus. – Porque – disse Padre Brown –, se não foi um pombo-correio, foi uma pessoa que entregou a carta a ela. – O senhor realmente quer dizer – perguntou Flambeau, incisivo – que Welkin levava as cartas do rival para sua amada? – Sim – disse o sacerdote. – Welkin levava as cartas do rival para a amada. Percebam, ele precisava fazê-lo.
– Ah, não suporto mais ouvir isso – explodiu Flambeau. – Quem é esse sujeito? Como ele é? Que tipo de roupa usa um homem mentalmente invisível? – Ele se veste com garbo, em vermelho, azul e ouro – respondeu pronta e precisamente o sacerdote –, e foi nesse vestuário chamativo e pomposo que entrou em Himalaya Mansions sob oito olhos humanos, matou Smythe a sangue-frio, desceu novamente até a rua carregando o cadáver nos braços... – Sr. reverendo – gritou Angus, estacando –, o senhor está louco varrido, ou eu? – O senhor não está louco – disse Brown –, apenas é pouco observador. Não prestou atenção num homem como este, por exemplo. Deu três passos rápidos à frente e colocou a mão no ombro de um simples carteiro que passara por eles atarefado e despercebido, sob a sombra das árvores. – Ninguém jamais presta atenção nos carteiros, de certa forma – disse, pensativo –, embora tenham paixões como outros homens e até carreguem grandes sacolas onde um corpo pequeno pode ser acomodado com facilidade. O carteiro, em vez de voltar-se como seria de esperar, se esquivou e tropeçou contra a cerca do jardim. Era um magrinho de barba clara e aparência bem comum, mas quando virou a cabeça sobre o ombro, todos os três homens foram hipnotizados por uma vesguice quase extraterrena. Flambeau voltou aos sabres, aos tapetes púrpura e ao gato persa, tendo muitos assuntos a resolver. John Turnbull Angus voltou para a moça da confeitaria, com quem este imprudente rapaz planeja ficar extremamente à vontade. Mas Padre Brown caminhou horas a fio por aquelas colinas nevadas sob as estrelas em companhia de um assassino, e o que disseram um ao outro jamais será revelado.
No frescor do crepúsculo azulado de duas íngremes ruelas em Camden Town, a loja da esquina, uma confeitaria, brilhava como a ponta de um charuto. Dir-se-ia, talvez, como a ponta de um fogo de artifício, pois a luz, multicolorida e complexa, fragmentada por vários espelhos, dançava nas cores vivas e douradas de numerosas tortas e guloseimas. Contra esse único vidro faiscante grudavam-se os narizes de muitos moleques de rua, pois os chocolates estavam envoltos naquelas cores metálicas, vermelhas, amarelo-ouro e verdes, quase tão apetitosas quanto o próprio chocolate; e o gigantesco bolo branco de casamento na vitrine parecia, por algum motivo, ao mesmo tempo longínquo e reconfortante, como se o Polo Norte inteiro fosse bom para comer. Tal arco-íris de estímulos conseguia reunir naturalmente a criançada de até dez, doze anos do bairro. Mas essa esquina era também atrativa à juventude; e um moço, de não menos de vinte e quatro anos, não tirava os olhos da mesma vitrine. Para ele, também, a loja tinha um encanto faiscante, mas não se podia creditar toda essa atração aos chocolates; os quais, porém, ele estava longe de desprezar. Era um ruivo alto, encorpado, de rosto decidido, mas jeito lânguido. Carregava embaixo do braço uma pasta cinza com desenhos em preto e branco, que vendia com relativo sucesso para editoras, desde que o tio dele (que era almirante) o deserdara por causa do Socialismo, devido a uma palestra que ele fizera contra essa teoria econômica. O nome dele era John Turnbull Angus. Entrando enfim, atravessou a confeitaria rumo aos fundos, uma espécie de salão de chá, apenas erguendo o chapéu para a moça que estava atendendo ali. Era uma morena vivaz e elegante, vestida de preto, com as faces rosadas e olhos escuros, muito ligeiros; após alguns instantes, seguiu-o até o salão dos fundos para anotar o pedido. Ele pediu o de sempre, é claro. – Quero, por favor – disse, com exatidão –, um bolo de meio centavo e um cafezinho. – Um pouco antes de a moça se virar, acrescentou: – Mais uma coisa: quero que você se case comigo. A moça da confeitaria enrijeceu-se de repente e disse: – Eu não permito esse tipo de brincadeira. O moço ruivo ergueu olhos cinzentos de uma sobriedade inesperada. – Real e sinceramente – disse ele –, é tão sério… tão sério como o bolo de meio centavo. Caro, como o bolo; é preciso pagar por ele. Indigesto, como o bolo. Machuca. A morena não havia tirado um instante sequer os olhos escuros de cima dele, mas parecia estudá-lo com minúcia quase trágica. Ao término do escrutínio, algo como a sombra de um sorriso permeava seu rosto, e ela se sentou numa cadeira. – Não acha – observou Angus, distraído – um tanto cruel comer esses bolinhos de meio centavo? Bem poderiam crescer e virar bolos de um centavo. Quando estivermos casados, não vou mais praticar esse esporte violento. A morena levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, em claro estado de profunda mas não impassível meditação. Quando enfim virou-se resoluta, ficou espantada ao ver o rapaz dispondo com cuidado sobre a mesa vários objetos da vitrine. Entre eles, uma pirâmide de doces multicores, alguns pratos de sanduíches e duas garrafas de cristal contendo aqueles misteriosos Porto e xerez, tão peculiares das confeitarias. No meio desse esmerado arranjo, ele havia cuidadosamente depositado a colossal carga de torta branca açucarada, que pouco antes era o enorme enfeite da vitrine. – O que afinal você está fazendo? – indagou ela. – Deveres, minha querida Laura – iniciou ele. – Ah, pelo amor de Deus, pare quieto um minuto – gritou ela – e não fale comigo desse jeito. Pode me dizer para que tudo isso? – Uma refeição comemorativa, srta. Hope. – E aquilo, o que é? – perguntou ela, impaciente, apontando a montanha de açúcar. – O bolo de casamento, sra. Angus – disse ele. A moça encaminhou-se àquele item, removeu-o com certo atropelo e colocou-o de volta na vitrine; então retornou e, apoiando os formosos cotovelos na mesa, mediu o rapaz com um olhar não depreciativo, mas com boa dose de irritação. – Você não me dá nem um pouco de tempo para pensar – falou ela. – Não sou assim tão insensato – disse ele –, essa é minha humildade cristã. Ela permanecia olhando para ele, mas seu semblante tornou-se bem mais sério por trás do sorriso. – Sr. Angus – disse, em tom pausado –, antes que essa bobagem continue por mais um minuto, preciso contar algo sobre mim, da maneira mais sucinta que eu puder. – Encantado – respondeu Angus, sério. – Pode contar algo sobre mim, também, enquanto você estiver falando nisso. – Ah, fique quieto e escute – disse ela. – Não é nada de que eu sinta vergonha, e também não é nada que me traga algum arrependimento em particular. Mas o que você diria se houvesse algo que não me diz respeito e ao mesmo tempo é meu pesadelo? – Nesse caso – falou o homem com seriedade –, devo sugerir que você traga de volta o bolo. – Bem, primeiro vai ter que escutar a história – disse Laura, persistente. – Para começo de conversa, preciso lhe contar que meu pai era dono do hotel chamado Red Fish, em Ludbury, e eu costumava atender as pessoas no bar. – Muitas vezes fiquei imaginando – disse ele – o porquê da atmosfera cristã nesta confeitaria. – Ludbury é um buraquinho sonolento e relvado nos condados do leste, e o único tipo de gente que aparecia no Red Fish eram ocasionais caixeiros-viajantes e, quanto ao restante, o povo mais horrível que alguém pode ver, só que ninguém os vê. Refirome a homenzinhos ociosos que têm o bastante apenas para sobreviver e nada a fazer além de perambular pelos bares e apostar em corridas de cavalo, trajando roupas horrorosas que lhes caem muito bem. Mesmo aqueles seres tristes e imprestáveis não eram muito comuns em nosso estabelecimento, mas havia dois deles cuja presença era comum até demais, comum em todos os sentidos. Ambos viviam de seu próprio dinheiro e eram tediosamente preguiçosos e exagerados no vestir. Mas mesmo assim eu sentia um pouco de pena deles, pois meio que acreditava que se escondiam em nosso barzinho vazio porque ambos tinham uma leve deformidade, o tipo de coisa de que alguns caipiras fazem troça. Não era bem uma deformidade, era mais uma singularidade. Um deles era espantosamente pequeno, quase do tamanho de um anão, ou pelo menos de um jóquei. Mas não lembrava um jóquei de modo algum: tinha a cabeça negra e redonda, uma barba negra bem aparada e olhos brilhantes como os de um pássaro. Ele fazia tilintar dinheiro nos bolsos, balançava uma grande corrente de relógio de ouro e nunca aparecia a não ser preocupado demais em trajar como cavalheiro para ser um. Mas não era idiota e sim um fútil preguiçoso, estranhamente conhecedor de todo tipo de coisa que não poderia ter o menor uso, uma espécie de mágico de improviso: fazia quinze palitos de fósforo se incendiarem uns aos outros como fogos de artifício, ou esculpia uma boneca dançarina em uma banana, ou algo parecido. O nome dele era Isidore Smythe, e posso vê-lo ainda, com sua carinha morena, se aproximar do balcão e transformar cinco charutos num canguru saltando. “O outro sujeito era mais calado e mais comum, mas, de alguma forma, me inquietava bem mais que o coitadinho do Smythe. Era muito alto e esguio, e tinha o cabelo claro; seu nariz era empinado, e quase poderia ser considerado bonito de uma forma um tanto espectral, se não tivesse uma das vesguices mais acachapantes que eu já vi ou de que ouvi falar. Quando ele olhava diretamente para você, você ficava sem saber onde estava, muito menos para onde ele estava olhando. Calculo que esse tipo de deformação tenha azedado um pouquinho o coitado, pois, enquanto Smythe estava pronto para exibir suas macaquices em qualquer lugar, James Welkin (esse era o nome do vesgo) não fazia nada além de se encharcar em nosso balcão e sair para longas caminhadas solitárias pelas planícies cinzentas que nos cercavam. Da mesma forma, acho que Smythe também era um pouco sensível ao fato de ser tão baixinho, embora levasse a questão com mais inteligência. Então, o fato é que fiquei realmente confusa, não menos perplexa e muito triste, quando os dois me pediram em casamento na mesma semana. “Daí, fiz o que desde aquela época considero uma besteira, talvez. Mas, afinal, esses excêntricos eram meus amigos, de certa forma, e eu sentia pânico só de pensar que pudessem imaginar o motivo real de minha recusa, que não era outro senão a incrível feiura de ambos. De modo que inventei outro tipo de lorota, sobre nunca ter desejado casar com alguém que não tivesse feito a própria fortuna. Disse a eles que para mim era uma questão de princípios não viver de dinheiro simplesmente herdado, como era o caso deles. Dois dias depois de eu ter falado dessa maneira bemintencionada, começou todo o problema. Correu o boato que os dois tinham ido embora para fazer fortuna, como se estivessem em algum simplório conto de fadas. “Bem, desde aquele dia nunca mais vi nenhum deles. Mas recebi duas cartas do homenzinho chamado Smythe, e, para falar a verdade, elas eram bem interessantes.” – Tem notícias do outro homem? – perguntou Angus. – Não, ele nunca escreveu – disse a moça, depois de hesitar um pouco. – A primeira carta de Smythe informava apenas que ele havia partido a pé para Londres, na companhia de Welkin, mas Welkin caminhava tão rápido que o homenzinho desistiu e tirou um cochilo à beira da estrada. Parece que um show itinerante ofereceu carona a ele, e, em parte porque era quase um anão, em parte porque era mesmo um espertinho inescrupuloso, fez muito sucesso no show business e logo foi mandado para o Aquarium para fazer uns números que não lembro. Essa foi a primeira carta. A segunda, ainda mais surpreendente, recebi na semana passada. O homem chamado Angus terminou sua xícara de café e, com olhos suaves e pacientes, observou a moça. Ela recomeçou com um leve esgar de sorriso na boca: – Imagino que você tenha visto nos tapumes sobre esse tal “Serviço Silencioso de Smythe”? Ou talvez seja a única pessoa que não tenha visto. Ah, não sei muito sobre o assunto, sei que é uma espécie de invenção automática que realiza todo o serviço doméstico mecanicamente. Sabe aquele tipo de coisa: “Aperte o botão: um mordomo que não bebe”. “Gire a alavanca: dez empregadas que não flertam”. Você deve ter visto os cartazes. Bem, seja lá o que forem essas máquinas, o fato é que estão dando rios de dinheiro, e tudo isso por conta de nosso conhecido moleque de Ludbury. Não posso deixar de me alegrar por saber que o pobre rapazinho está caminhando com as próprias pernas, mas a verdade pura é que morro de medo de que a qualquer momento ele apareça dizendo que conquistou sua fortuna por méritos próprios... como na realidade conseguiu. – E o outro homem? – repetiu Angus com certa quietude obstinada. Laura Hope ergueu-se repentinamente. – Meu amigo – disse ela –, acho que você é meio bruxo. Sim, você está completamente certo. Nem uma linha sequer do outro homem, e sei tanto quanto os mortos sobre onde ele está ou o que tem feito. Mas é dele que tenho medo. Ele que sempre aparece em meu caminho. Ele que está prestes a me deixar louca. Na verdade, acho que me deixou louca, porque tenho sentido a presença dele em lugares onde ele não poderia estar, e escutado a voz dele em ocasiões que ele não poderia ter falado. – Bem, minha querida – disse o jovem, alegre –, se ele era o diabo em pessoa, ele não tem mais chances agora que você contou para alguém. Enlouquecemos sozinhos, minha velha. Mas quando você imaginou ter sentido a presença e escutado a voz de nosso amigo vesgo? – Escutei James Welkin rir tão claro como escuto você falar – disse a moça, calma. – Não havia ninguém lá, pois eu estava bem na esquina à frente da confeitaria e podia ver as duas ruas abaixo ao mesmo tempo. Tinha me esquecido da risada dele, embora ela fosse tão singular quanto a sua vesguice. Fazia quase um ano que eu nem sequer pensava nele. Mas a pura verdade é que poucos segundos depois a carta de seu rival chegou. – Alguma vez você já fez o fantasma falar ou articular algo, ou coisa parecida? – perguntou Angus, com certo interesse. Laura estremeceu de repente, e então disse, com voz firme: – Sim. Na hora que acabei de ler a segunda carta de Isidore Smythe contando sobre seu sucesso financeiro, bem naquela hora, escutei Welkin dizer: “Mas ele não vai ficar com você”. Foi muito nítido, como se ele estivesse no quarto. É horrível, acho que devo estar louca. – Se estivesse mesmo louca – disse o jovem –, pensaria estar sã. Mas me parece certo haver algo um tanto esquisito quanto a esse cavalheiro invisível. Dois cérebros pensam melhor do que um... poupo-lhe alusões a quaisquer outros órgãos... e, de fato, se você me permitir, na condição de homem teimoso e pragmático, buscar de novo o bolo de casamento da vitrine... No exato momento em que falava, escutou-se uma espécie de som agudo e metálico na rua, e um carrinho, dirigido a uma velocidade diabólica, precipitou-se à frente da loja, onde parou. No mesmo átimo, um homenzinho de cartola reluzente batia o pé na sala externa. Angus, que até então mantivera por motivos de higiene mental uma alegre tranquilidade, revelou a tensão de seu espírito saindo a passos largos da sala interna e confrontando o recém-chegado. Um rápido olhar foi suficiente para confirmar as selvagens conjeturas de um homem apaixonado. Esse requintado mas nanico personagem, de cavanhaque preto apontando com insolência para frente, olhos espertos e agitados, dedos bonitos, mas nervosos, não poderia ser outro senão o recém descrito Isidore Smythe, que fazia bonecas com cascas de banana e caixas de fósforo; Isidore Smythe, que fazia milhões com mordomos que não bebem e empregadas que não flertam. Por um momento, os dois homens, entendendo instintivamente o ar possessivo um do outro, entreolharam-se com aquela nobreza curiosa e distante que é a alma da rivalidade. O sr. Smythe, entretanto, não fez alusão ao real motivo do antagonismo entre eles e disse, de modo simples e explosivo: – Por acaso a srta. Hope viu aquilo que está escrito na vitrine? – Na vitrine? – repetiu Angus, encarando o homem. – Não há tempo para explicar outras coisas – disse, impaciente, o pequeno milionário. – Tem uma tolice acontecendo aqui que precisa ser investigada. Ele apontou sua lustrosa bengala para a vitrine, há pouco esvaziada devido aos preparativos nupciais do sr. Angus, e este cavalheiro ficou atônito ao ver fixada na frente do vidro uma comprida faixa de papel, a qual com certeza não estava na vitrine quando ele olhara através dela minutos atrás. Seguindo o vigoroso Smythe até a rua, viu que um papel de um metro e meio havia sido cuidadosamente colado na parte externa do vidro, e nele estava escrito em letras tortas: “Se você se casar com Smythe, ele será um homem morto”. – Laura – disse Angus, colocando a cabeça grande e ruiva no interior da confeitaria –, você não está louca. – É a letra daquele sujeito, o Welkin – falou Smythe, ríspido. – Faz anos que não o vejo, mas está sempre me incomodando. De duas semanas para cá, por cinco vezes ele fez chegar cartas ameaçadoras ao meu apartamento, e não consigo sequer descobrir quem as leva, que dirá se é o próprio Welkin. O porteiro do prédio jura que nenhuma pessoa suspeita foi vista, e agora ele fixou um tipo de papel adesivo na vitrine de uma loja, enquanto as pessoas na loja... – Exato – disse Angus, comedido –, enquanto as pessoas na loja tomavam chá. Bem, senhor, posso lhe assegurar que aprecio seu bom-senso em tratar o assunto de modo tão direto. Podemos falar de outras coisas mais tarde. O homem não deve estar muito longe, pois juro que não havia nenhum papel ali na última vez que fui até a vitrine, dez ou quinze minutos atrás. Por outro lado, deve estar longe demais para ser perseguido, já que não sabemos nem ao menos a direção que tomou. Se quer um conselho, sr. Smythe, sugiro que coloque logo o assunto nas mãos de algum detetive eficaz, de preferência, particular. Conheço um camarada de extrema perspicácia; podemos chegar ao escritório dele em cinco minutos em seu carro. O nome dele é Flambeau, e embora sua juventude tenha sido um pouco tumultuada, hoje é um homem rigorosamente honesto, e sua inteligência vale dinheiro. Ele mora em Lucknow Mansions, Hampstead. – Esquisito – disse o homenzinho, arqueando as sobrancelhas pretas. – Eu mesmo moro na esquina com Himalaya Mansions. Talvez você queira vir comigo; posso ir ao meu apartamento e localizar esses estranhos papéis do Welkin, enquanto você dá a volta e chama seu amigo detetive. – O senhor é muito correto – disse Angus, polido. – Bem, quanto antes agirmos, melhor. Os dois homens, com um curioso tipo de imparcialidade improvisada, despediram-se da moça da mesma maneira formal e pularam dentro do carrinho esportivo. Tão logo Smythe pegou a direção e dobraram a esquina, Angus se divertiu ao ver um pôster gigante do “Serviço Silencioso de Smythe”, com a foto de uma enorme boneca de ferro sem cabeça segurando pelo cabo uma panela em que se lia: “Uma cozinheira que nunca está de mau humor”. – Eu mesmo as uso em meu apartamento – disse o homenzinho de barba negra, rindo –, um pouco pela publicidade, um pouco pela praticidade. Para ser franco, e falando sério, essas minhas grandes bonecas automáticas realmente lhe trazem carvão ou vinho tinto ou a tabela de horários do trem com mais celeridade do que qualquer empregado humano que conheço, se você souber apertar o botão certo. Mas, cá entre nós, não vou negar que esses serviçais têm lá suas desvantagens. – Verdade? – perguntou Angus. – Tem algo que não conseguem fazer? – Sim – respondeu Smythe, com frieza. – São incapazes de dizer quem deixou aquelas cartas ameaçadoras em meu apartamento. O carro do homem era tão pequeno e ágil como ele próprio; na verdade, a exemplo do serviço de criadagem, era invenção dele mesmo. Se ele era um charlatão da publicidade, pelo menos acreditava nas próprias mercadorias. A sensação de estar voando em algo minúsculo acentuava-se à medida que subiam velozmente as curvas compridas e caiadas da rodovia na luz clara e sem brilho do anoitecer. Logo as curvas caiadas se tornaram mais fechadas e vertiginosas; serpenteavam em espirais ascendentes, como dizem nas religiões modernas. Pois, na verdade, eles tangenciavam um canto de Londres quase tão escarpado quanto Edimburgo, ou talvez tão pitoresco. Patamares e patamares de residências se erguiam no declive, e a torre especial de apartamentos que procuravam se erguia a uma altura quase egípcia, pintada de ouro pelo pôr do sol. A mudança, ao dobrarem a curva e entrarem na meia-lua conhecida como Himalaya Mansions, foi tão brusca como o abrir de uma janela, pois vislumbraram aquela pilha de apartamentos disposta sobre Londres como sobre um mar verde de ardósia. À frente dos solares, no outro lado da meia-lua de cascalho, havia um terreno cercado de arbustos mais parecido com uma sebe íngreme ou com um dique do que com um jardim, e perto dali descia um córrego de água artificial, uma espécie de canal, como o fosso daquela fortaleza sombreada. Ao chispar ao redor da meia-lua, o carro passou numa das esquinas pelo carrinho de um vendedor de castanhas, e, logo após a outra extremidade da curva, Angus pôde ver um policial em uniforme azul-claro caminhando devagar. Eram essas as únicas formas humanas naquela elevada solitude suburbana, mas Angus teve uma sensação irracional de que expressavam a poesia silenciosa de Londres. Teve a impressão de que eram ilustrações de um conto. O carrinho freou no prédio direto como um projétil, e expulsou seu dono como um cartucho. Ato contínuo, ele passou a indagar a um porteiro alto de uniforme com galões brilhantes, e a um carregador baixinho em mangas de camisa, se alguém ou algo estivera procurando por seu apartamento. Esses funcionários lhe asseguraram que ninguém ou nada havia passado por eles desde a última vez que perguntara, com o que ele e o levemente atônito Angus foram arremessados como um foguete elevador acima, até atingirem a cobertura. – Entre só um minuto – disse Smythe, sem fôlego. – Quero lhe mostrar as cartas de Welkin. Então você pode dar a volta na quadra e trazer seu amigo. – Ele apertou um botão escondido na parede, e a porta abriu sozinha. A porta dava para um comprido e amplo vestíbulo, em que os únicos elementos impressionantes, por assim dizer, eram as fileiras de vultos mecânicos semi-humanos e altos que permaneciam de pé nos dois lados, como manequins de alfaiate. Como manequins de alfaiate, eram acéfalos, e, como manequins de alfaiate, tinham uma simpática e inútil corcova nos ombros, e o peito projetado para frente como o dos pombos; à exceção disso, porém, não se pareciam mais com um vulto humano do que qualquer autômato numa fábrica com a altura aproximada de uma pessoa. No lugar dos braços havia dois ganchos grandes para carregar bandejas; e eram pintados de verdeervilha, ou vermelho vivo, ou preto pela conveniência de distingui-los; em todos outros aspectos eram apenas engenhos automáticos, e ninguém os teria olhado duas vezes. Nessa ocasião, pelo menos, ninguém olhou, porque entre as duas fileiras desses manequins domésticos havia algo mais interessante do que a maioria das engenhocas desse mundo. Era um pedacinho de papel branco rasgado, com rabiscos em tinta vermelha, e o ágil inventor o apanhou quase na mesma hora em que a porta se abriu. Ele o entregou a Angus sem falar nada. Na verdade, a tinta vermelha sobre o papel não estava seca, e a mensagem dizia: “Se você foi vê-la hoje, vou te matar”. Houve um breve silêncio, e então Isidore Smythe disse, calmo: – Aceita um pouco de uísque? Tenho a impressão de que preciso de uma dose. – Obrigado, mas prefiro um pouco de Flambeau – disse Angus, melancólico. – Esse negócio me parece estar ficando bastante sério. Vou imediatamente atrás dele. – Certo – respondeu o outro, com admirável animação. – Traga-o aqui o mais rápido que puder. Ao fechar a porta atrás de si, porém, viu Smythe apertar um botão, e um dos vultos autômatos deslizou de seu lugar e patinou ao longo de uma ranhura no piso carregando uma bandeja com garrafa e sifão. Parecia mesmo um pouco estranho deixar o homenzinho a sós com aqueles servos inanimados que ganhavam vida enquanto a porta se fechava. Seis degraus abaixo do andar de Smythe, um homem em mangas de camisa fazia algo com um balde. Angus parou para arrancar uma promessa, endossada com uma possível propina, de que ele ficaria naquele local até que Angus retornasse com o detetive, e prestaria conta sobre qualquer tipo de pessoa estranha que subisse por aquelas escadas. Lançando-se abaixo ao hall de entrada fez então pedidos similares de vigilância ao porteiro, de quem ficou sabendo a circunstância simplificadora de que não existia porta dos fundos. Não contente com isso, chamou o policial que rondava e o convenceu a ficar defronte à entrada e vigiá-la; e, por fim, fez uma pausa para comprar um centavo de castanhas e indagar sobre o provável tempo de permanência do vendedor nas redondezas. O vendedor de castanhas, erguendo a gola do capote, comunicou-lhe que logo deveria ir andando, pois achava que logo, logo ia começar a nevar. De fato, a noite caía cinza e cortante, mas Angus, com toda sua eloquência, foi bem-sucedido em fixar o vendedor de castanhas em seu posto. – Esquente o corpo com suas próprias castanhas – disse, com franqueza. – Coma todo seu estoque, vou premiar o seu esforço. Se o senhor esperar aqui até eu retornar e então me contar se qualquer homem, mulher ou criança entrou naquele prédio onde o homem de uniforme está parado, eu lhe dou um soberano. Então afastou-se a passos enérgicos, olhando uma última vez para a torre sitiada. – Seja como for, eu fiz um círculo ao redor daquele apartamento – disse ele. – Não é possível que todos os quatro sejam cúmplices do sr. Welkin. Lucknow Mansions ficava, por assim dizer, numa plataforma inferior daquela colina residencial, da qual Himalaya Mansions poderia ser chamado o ápice. O apartamento semioficial do sr. Flambeau ficava no térreo e apresentava em todos aspectos um contraste marcante com a maquinaria americana e o luxo frio de hotel do apartamento do Serviço Silencioso. Flambeau, que era amigo de Angus, recebeu-o nos fundos do gabinete, num recanto em estilo rococó decorado com sabres, arcabuzes, curiosidades orientais, garrafas de vinhos italianos, caldeirões rudimentares, um gato persa felpudo e um padre católico baixinho e sem graça, que parecia estar especialmente deslocado. – Este é meu amigo Padre Brown – disse Flambeau. – Muitas vezes quis que você o conhecesse. Que tempo maravilhoso; um tanto frio para sulistas como eu. – Sim, acho que vai continuar bom – respondeu Angus, sentando num sofá otomano de listras violeta. – Não – disse o padre, com placidez –, a neve começou a cair. E, de fato, enquanto ele falava, os primeiros flocos esparsos, previstos pelo homem das castanhas, começaram a flutuar, oblíquos, por trás da vidraça escura. – Bem – disse Angus, de modo opressivo –, temo ter vindo a negócios, e negócios bem preocupantes, aliás. O caso, Flambeau, é que bem perto daqui há um homem que precisa muito de sua ajuda; ele está sendo eternamente perseguido e ameaçado por um inimigo invisível... um patife que ninguém sequer avistou. À medida que Angus contava toda a história de Smythe e Welkin, começando com a de Laura e prosseguindo com a sua própria, a risada sobrenatural na esquina de dua ruas vazias, as estranhas e nítidas palavras proferidas numa sala vazia, Flambeau ficava mais e mais vivamente preocupado, e o pequeno padre parecia ter sido deixado de fora da conversa, como uma peça da mobília. Quando chegou ao papel rabiscado e colado na vitrine, Flambeau se levantou, parecendo preencher a sala com seus ombros enormes. – Se não se importa – disse ele –, acho que é melhor me contar o resto no caminho mais curto para a casa desse homem. Não sei por que, tenho o pressentimento de que não há tempo a perder. – Encantado – disse Angus, também se levantando –, embora no momento ele esteja seguro, pois deixei quatro homens vigiando a única entrada da sua toca. Saíram pela rua, e o pequeno padre os seguia com a docilidade de um cachorrinho. Ele disse apenas, de um jeito animado, como alguém querendo começar uma conversa: – Como a neve se acumula depressa no chão. À medida que caminhavam com dificuldade nas íngremes calçadas das ruas salpicadas de prata, Angus arrematou a história; e quando chegaram à meia-lua com a torre de apartamentos, voltou a atenção aos quatro sentinelas. O vendedor de castanhas, antes e depois de receber um soberano, jurou de pés juntos que vigiara a porta e que nenhum visitante entrara por ela. O policial foi ainda mais enfático. Afirmou que sabia lidar com cafajestes de todas as categorias, em cartolas e em andrajos; não era tão ingênuo a ponto de esperar que figuras suspeitas parecessem suspeitas; prestou atenção em toda e qualquer pessoa, e, para sua sorte, não apareceu nenhuma. E quando o trio rodeou o porteiro de uniforme dourado, que ainda permanecia sorrindo escarranchado no pórtico, o veredicto tornou-se ainda mais conclusivo. – Tenho o direito de perguntar a qualquer um, lixeiro ou duque, o que veio fazer neste prédio – disse o sorridente titã de galões dourados –, e juro que não apareceu ninguém para ser perguntado, desde a hora que este cavalheiro se afastou. O desimportante Padre Brown, que permanecia um pouco atrás, olhando modesto para o chão, neste momento aventurou-se a dizer, gentil: – Ninguém subiu ou desceu as escadas, então, desde que a neve começou a cair? Começou a nevar enquanto estávamos na casa de Flambeau. – Não apareceu ninguém por aqui, senhor, pode acreditar em mim – disse o funcionário, com autoridade radiante. – Então o que será aquilo? – disse o padre, volvendo para o chão um olhar vazio como o de um peixe. Os outros todos também olharam para baixo, e Flambeau empregou uma exclamação violenta e um gesto francês. Pois era verdade inquestionável que bem no meio da entrada guardada pelo homem de galões dourados, mais exatamente entre as presunçosas e retesadas pernas daquele colosso, corria um filamentoso rastro de pegadas cinza, carimbado sobre a neve clara. – Meu Deus! – gritou Angus, involuntariamente. – O Homem Invisível! Sem outra palavra, ele se virou e correu escadas acima, seguido por Flambeau, mas Padre Brown permaneceu observando ao redor a rua coberta de neve, como se tivesse perdido o interesse na questão. Flambeau estava numa disposição evidente de pôr a porta abaixo com seu ombro enorme, mas o escocês, com mais raciocínio e menos intuição, tateou nas proximidades da moldura da porta até encontrar o botão invisível, e a porta abriu devagar. Em essência, revelou o mesmo interior enfileirado: o vestíbulo estava mais escuro, embora ainda riscado aqui e ali pelos últimos feixes carmesins do pôr do sol; um ou dois dos autômatos sem cabeça estavam fora do lugar por este ou aquele motivo, parados aqui e acolá no lusco-fusco. O verde e o vermelho de seus uniformes estavam escurecidos pelo anoitecer, e sua semelhança à forma humana era levemente acentuada pela própria falta de forma. Mas, no meio de tudo isso, exatamente onde antes jazia o bilhete com tinta vermelha, jazia algo que se parecia muito com tinta vermelha derramada do tinteiro. Mas não era tinta vermelha. Com uma mistura francesa de razão e violência, Flambeau disse apenas “Assassinato!” e, precipitando-se apartamento adentro, vasculhou durante cinco minutos cada canto e cada armário. Mas se ele esperava encontrar um corpo não achou nenhum. Isidore Smythe simplesmente não estava ali, nem vivo nem morto. Depois da mais frenética procura, os dois homens se encontraram no corredor externo, com rostos suados e olhos pasmados. – Amigo – disse Flambeau, falando francês em sua excitação –, não só o assassino é invisível, como torna invisível o homem assassinado. Angus perscrutou o ambiente sombrio repleto de manequins e, em algum recanto celta de sua alma escocesa, sentiu um arrepio. Um dos autômatos de tamanho real estava parado exatamente de forma a tapar a mancha de sangue, chamado, talvez, pelo homem assassinado, pouco antes de cair. Um dos ombrudos ganchos que serviam de braço à coisa estava levemente erguido e subitamente passou pela cabeça de Angus a ideia horrível de que o próprio filho de ferro do pobre Smythe o tivesse golpeado e derrubado. A matéria se rebelara, e esses autômatos haviam matado seu mestre. Mas mesmo se fosse assim, o que teriam feito com ele? – Mastigado? – disse o pesadelo em seu ouvido; e por um momento, teve engulhos ao pensar em restos humanos dilacerados sendo absorvidos e triturados no interior daquelas máquinas acéfalas. Recuperou a saúde mental por meio de um intenso esforço e disse a Flambeau: – Bem, é isso. O coitado evaporou como uma nuvem e deixou uma listra vermelha no piso. Esta história é de outro mundo. – Só há uma coisa a fazer – disse Flambeau –, pertença essa história a este ou a outro mundo, tenho de ir lá embaixo e falar com meu amigo. Desceram, passando pelo homem com o balde, que de novo garantiu não haver deixado nenhum intruso passar. Lá embaixo, o porteiro e o impaciente vendedor de castanhas reafirmaram com ênfase suas próprias vigilâncias. Mas quando Angus procurou ao redor a quarta confirmação, não conseguiu achá-la e perguntou, com certo nervosismo: – Onde está o policial? – Por favor, me perdoe – disse Padre Brown –, a culpa é minha. Acabei de mandá-lo descer a rua e investigar uma coisa... que apenas considerei que valia a pena investigar. – Bem, é bom que ele volte logo – disse Angus, abruptamente –, pois o infeliz aí de cima não apenas foi assassinado, mas apagado do mapa. – Como? – perguntou o padre. – Padre – disse Flambeau, depois de uma pausa –, pela minha alma acredito que este caso é mais do seu departamento do que do meu. Nenhum amigo ou inimigo entrou no prédio, mas Smythe sumiu, como levado pelas fadas. Se isso não for sobrenatural, eu... Enquanto ele falava todos ficaram paralisados por uma visão incomum: o corpulento policial de azul dobrou a esquina, troteando. Veio direto a Brown. – O sr. está certo, sir – falou, ofegante –, acabam de encontrar o corpo do pobre sr. Smythe lá embaixo no canal. Angus colocou a mão na cabeça, em desvario. – Ele desceu correndo e se afogou? – perguntou. – Em hipótese alguma ele desceu, eu juro – disse o guarda –, e não morreu afogado também: levou uma facada certeira no coração. – E apesar disso você não viu ninguém entrar? – indagou Flambeau, em tom sério. – Vamos caminhar um pouco pela rua – falou o padre. Quando chegaram à outra extremidade da meia-lua, ele observou de repente: – Que estupidez a minha! Esqueci de perguntar algo ao policial. Estou curioso por saber se encontraram uma sacola marrom-claro. – Por que uma sacola marrom-claro? – perguntou Angus, perplexo. – Porque se for uma sacola de outra cor, o caso volta à estaca zero – disse Padre Brown –, mas se for uma sacola marrom-claro, bem, então o caso está resolvido. – Fico feliz em ouvir isso – disse Angus com sincera ironia. – O caso nem começou ainda, até onde eu sei. – O senhor precisa nos contar tudo – disse Flambeau, com a estranha e intensa simplicidade de uma criança. Sem se dar conta, eles foram descendo em passo acelerado a comprida ladeira, que ficava do outro lado da meia-lua. Padre Brown puxava a frente com passos enérgicos, mas calado. Por fim, disse com incerteza quase tocante: – Bem, tenho medo que vocês considerem isso muito prosaico. Sempre começamos na extremidade abstrata das coisas, e esta história não pode começar em outro lugar. “Já notaram uma coisa... que as pessoas nunca respondem ao que você pergunta? Elas respondem àquilo que você quer dizer... ou àquilo que pensam que você quer dizer. Vamos supor que uma senhora diga a outra numa casa de campo: ‘Tem alguém morando com vocês?’, a resposta não é: ‘Sim; o mordomo, os três lacaios, a camareira, e assim por diante’, embora a camareira possa estar na sala e o mordomo atrás da poltrona. Ela diz: ‘Não há ninguém morando conosco’, significando ninguém do tipo que você quer dizer. Mas suponha que um médico investigando uma epidemia pergunte: ‘Quem mora em sua casa?’, então a senhora vai lembrar do mordomo, da arrumadeira e dos outros. Toda linguagem é usada assim; você nunca consegue uma resposta literal, mesmo quando lhe respondem com sinceridade. Quando aqueles quatro homens bem honestos disseram que nenhum homem havia entrado nos solares, não queriam dizer realmente que nenhum homem havia entrado. Queriam dizer nenhum homem de quem pudessem suspeitar. Um homem de fato entrou no prédio, e de fato saiu dele, mas eles nem perceberam.” – Um homem invisível? – indagou Angus, erguendo as sobrancelhas ruivas. – Um homem mentalmente invisível – disse Padre Brown. Pouco depois, recomeçou no mesmo tom despretensioso, como alguém que não sabe que direção tomar: – Claro que ninguém consegue pensar em um homem assim, até que comece a pensar nele. Nisso reside sua esperteza. Mas passei a pensar nele por causa de duas ou três coisinhas na história que o sr. Angus nos contou. Primeiro, havia o fato de que esse Welkin dava longas caminhadas. E então o papel colado na vitrine. E então, o principal, duas coisas que a moça disse... coisas que não poderiam ser verdadeiras. Não se ofenda – apressou-se a acrescentar, observando um movimento repentino da cabeça do escocês –, ela pensava que eram verdadeiras, mas não poderiam ser. É impossível alguém estar completamente só numa rua um segundo antes de receber uma carta. É impossível estar completamente só quando começa a ler uma carta recém recebida. Deve haver alguém bem próximo a ela, alguém mentalmente invisível. – Por que deve haver alguém perto dela? – indagou Angus. – Porque – disse Padre Brown –, se não foi um pombo-correio, foi uma pessoa que entregou a carta a ela. – O senhor realmente quer dizer – perguntou Flambeau, incisivo – que Welkin levava as cartas do rival para sua amada? – Sim – disse o sacerdote. – Welkin levava as cartas do rival para a amada. Percebam, ele precisava fazê-lo.
– Ah, não suporto mais ouvir isso – explodiu Flambeau. – Quem é esse sujeito? Como ele é? Que tipo de roupa usa um homem mentalmente invisível? – Ele se veste com garbo, em vermelho, azul e ouro – respondeu pronta e precisamente o sacerdote –, e foi nesse vestuário chamativo e pomposo que entrou em Himalaya Mansions sob oito olhos humanos, matou Smythe a sangue-frio, desceu novamente até a rua carregando o cadáver nos braços... – Sr. reverendo – gritou Angus, estacando –, o senhor está louco varrido, ou eu? – O senhor não está louco – disse Brown –, apenas é pouco observador. Não prestou atenção num homem como este, por exemplo. Deu três passos rápidos à frente e colocou a mão no ombro de um simples carteiro que passara por eles atarefado e despercebido, sob a sombra das árvores. – Ninguém jamais presta atenção nos carteiros, de certa forma – disse, pensativo –, embora tenham paixões como outros homens e até carreguem grandes sacolas onde um corpo pequeno pode ser acomodado com facilidade. O carteiro, em vez de voltar-se como seria de esperar, se esquivou e tropeçou contra a cerca do jardim. Era um magrinho de barba clara e aparência bem comum, mas quando virou a cabeça sobre o ombro, todos os três homens foram hipnotizados por uma vesguice quase extraterrena. Flambeau voltou aos sabres, aos tapetes púrpura e ao gato persa, tendo muitos assuntos a resolver. John Turnbull Angus voltou para a moça da confeitaria, com quem este imprudente rapaz planeja ficar extremamente à vontade. Mas Padre Brown caminhou horas a fio por aquelas colinas nevadas sob as estrelas em companhia de um assassino, e o que disseram um ao outro jamais será revelado.
A HONRA DE ISRAEL GOW
Uma noite com tons de oliva e prata se aproximava carregada de trovões, enquanto Padre Brown, enrolado em uma capa escocesa de lã cinza, chegava ao fim de um cinzento vale escocês e contemplava o estranho castelo de Glengyle. O castelo interrompia uma ponta do vale estreito e profundo como uma rua sem saída; parecia o fim do mundo. Erguendo-se em telhados íngremes e finas torres de ardósia, verdes como o mar, ao estilo dos velhos castelos franco-escoceses, lembrava um inglês de chapéu sinistro, pontudo como os das bruxas dos contos de fadas, e, por comparação, os pinheirais que balouçavam em volta das torrezinhas verdes pareciam tão pretos quanto bandos de corvos. Essa observação de um devaneio assombroso, quase sonolento, não era mera fantasia oriunda da paisagem. Pois naquele local, de fato, pairava uma daquelas nuvens de soberba, loucura e misteriosa tristeza que fica mais ameaçadora sobre as casas dos nobres da Escócia do que sobre quaisquer casas dos comuns mortais. Ora, a Escócia tem dose dupla do veneno chamado hereditariedade: o sangue herdado dos aristocratas e o sentimento de maldição herdado dos calvinistas. O padre abriu mão de um dia de seu trabalho em Glasgow para encontrar-se com seu amigo Flambeau, o detetive amador, que estava no castelo de Glengyle com outro oficial mais qualificado para investigar a vida e a morte do falecido conde de Glengyle. Essa pessoa misteriosa foi o último representante de uma raça cujo valor, insanidade e violenta astúcia os tinha tornado terríveis até mesmo entre a sinistra nobreza de sua nação no século XVI. Ninguém foi mais sagaz nesse labirinto de ambições, em aposentos e mais aposentos daquele palácio de mentiras construído em torno de Maria, a rainha dos escoceses. O versinho no interior do país atestava com candura o motivo e o resultado de suas maquinações:
Para as árvores, a seiva esverdeada; Para os Ogilvie, o ouro avermelhado.
Durante muitos séculos, nunca tinha havido um lorde decente no castelo de Glengyle, e, com a era vitoriana, daria para pensar que todas as excentricidades haviam se esgotado. O último Glengyle, entretanto, satisfazia sua tradição tribal fazendo a única coisa que lhe restou: desaparecer. Não quero dizer que foi para o exterior; era opinião geral de que ele ainda estava no castelo, se estivesse em algum lugar. Contudo, embora seu nome constasse nos registros da igreja e no grande livro vermelho da Câmara dos Lordes, ninguém jamais o viu neste mundo.
Se alguém o viu, foi um criado solitário, algo entre um cavalariço e um jardineiro. Era tão surdo que alguém mais qualificado o tomaria por mudo, e alguém mais perspicaz afirmaria tratar-se de um imbecil. Esse trabalhador ruivo, magro, com mandíbula de cachorro, mas de olhos bem azuis, atendia pelo nome de Israel Gow e era o único e silencioso criado discreto naquela propriedade deserta. Mas a energia com que ele arrancava batatas da terra e a regularidade com que desaparecia na cozinha davam às pessoas a impressão de que ele estava providenciando as refeições para um superior, e que o estranho conde ainda estava escondido no castelo. Se a sociedade precisasse de uma prova adicional de que ele estava lá, o criado assegurava com toda a firmeza que ele não estava em casa. Certa manhã, o prefeito e o pastor (pois os Glengyle eram presbiterianos) foram chamados ao castelo. Lá, verificaram que o jardineiro, cavalariço e cozinheiro havia acrescentado às suas muitas profissões a de agente funerário, e tinha fechado seu nobre amo em um ataúde. O grau com que esse fato estranho foi posteriormente investigado, até agora não se soube ao certo, pois legalmente a coisa nunca foi investigada, até que Flambeau viajasse ao norte uns dois ou três dias antes. Até então, o corpo (se é que era o corpo) de Lorde Glengyle jazia havia algum tempo no pequeno cemitério da igreja na colina. Quando Padre Brown passou pelo jardim sombrio e ficou à sombra do castelo, as nuvens estavam espessas e toda a atmosfera estava carregada de umidade e de trovões. Contra os últimos raios do pôr do sol verde e dourado, avistou uma silhueta humana escura: um homem de cartola com uma grande pá sobre os ombros. A combinação sugeria de forma bizarra um coveiro, mas, quando Brown lembrou-se do criado surdo que arrancava batatas com a pá, considerou isso bastante natural. Sabia alguma coisa sobre o aldeão escocês: ele conhecia a respeitabilidade que podia muito bem considerar necessário usar luto para uma investigação oficial; sabia também que não levaria uma hora para desvendar isso. Até mesmo o sobressalto e o olhar suspeito do homem quando o padre passou eram bem próprios da vigilância e do zelo de um tipo assim. A porta foi aberta pelo próprio Flambeau, acompanhado de um homem magro, com cabelo cinza-escuro e uma papelada nas mãos: o inspetor Craven da Scotland Yard. O hall de entrada era em quase sua totalidade muito simples e vazio, mas os semblantes pálidos e irônicos de alguns dos cruéis Ogilvie olhavam com superioridade de suas perucas negras e telas escurecidas. Acompanhando-os até uma sala mais interna, Padre Brown verificou que os aliados tinham sentado a uma mesa de carvalho comprida e que a ponta que haviam ocupado estava coberta com papéis rabiscados, ladeados por uísque e charutos. No restante da mesa havia objetos soltos; objetos quase tão inexplicáveis como quaisquer outros. Um parecia uma pequena pilha de vidros quebrados cintilantes. O outro parecia um montão de cinzas. Um terceiro parecia uma simples bengala de madeira.
– Parece que você tem uma espécie de museu geológico aqui – disse, enquanto se sentava, fazendo um movimento com a cabeça em direção às cinzas e aos fragmentos cristalinos. – Geológico, não – replicou Flambeau. – Digamos um museu psicológico. – Ah, pelo amor de Deus – bradou o detetive, rindo –, não vamos começar a falar difícil. – Não sabe o que significa psicologia? – perguntou Flambeau com amistosa surpresa. – Psicologia significa estar maluco. – Continuo sem entender – replicou o policial. – Bem – disse Flambeau, com decisão na voz – quero dizer que descobrimos uma coisa a respeito de Lorde Glengyle. Era um maníaco. A silhueta escura de Gow com sua cartola e sua pá passou pela janela, vagamente esboçada contra o céu ao entardecer. Padre Brown olhou com calma para ela e respondeu: – Posso compreender que deve ter havido alguma coisa estranha com relação a esse homem, ou ele não teria se enterrado vivo... nem estaria com tanta pressa para se enterrar morto. Mas o que faz você pensar que foi loucura? – Veja – disse Flambeau. – Escute só a lista de coisas que o sr. Craven encontrou na casa. – Precisamos conseguir uma vela – disse Craven, de repente. – Uma tempestade está se armando e está muito escuro para ler. – Encontrou alguma vela – disse Brown sorrindo – entre os objetos excêntricos? Flambeau ergueu o rosto grave e fixou os olhos escuros no amigo. – Isso também é curioso – disse ele. – Vinte e cinco velas e sequer um vestígio de castiçal. No aposento, que escurecia rápido, e com o vento intensificando-se com rapidez, Brown continuou circulando pela mesa, onde havia um pacote de velas de cera entre outros incoerentes objetos expostos. Inclinou-se de modo acidental sobre um monte de pó, e um espirro estridente quebrou o silêncio. – Opa! – disse ele. – Rapé! Pegou uma das velas, acendeu-a com cuidado, voltou e enfiou-a no gargalo da garrafa de uísque. O agitado vento da noite, soprando pela vidraça trincada, fazia a longa chama tremular como uma bandeira. Em todos os cantos do castelo, eles podiam ouvir a interminável floresta de pinheiros negros agitando-se como um mar tenebroso em torno de um rochedo. – Vou ler o inventário – começou Craven em tom grave, pegando um dos papéis –, o inventário das coisas que encontramos soltas e inexplicadas pelo castelo. Deve-se entender que o local estava de um modo geral sem mobília e abandonado, mas um ou dois aposentos foram claramente habitados por alguém de estilo simples mas não desleixado; alguém que não o criado, Gow. A lista é a seguinte: “Primeiro item. Um considerável tesouro de pedras preciosas, quase todas diamantes, e todas elas avulsas, sem qualquer tipo de montagem. Claro, é natural que os Ogilvie tivessem joias de família, mas esse tipo de joia quase sempre é colocado em certos artigos de ornamento. Parece que os Ogilvie mantiveram as deles soltas nos bolsos, como se fossem moedas. “Segundo item. Montes e montes de rapé a granel, nem mesmo guardados num chifre ou numa bolsa, mas depositados em montes nos consolos da lareira, no aparador, em cima do piano, em qualquer lugar. É como se o velho cavalheiro não se desse ao trabalho de procurar numa bolsa ou levantar uma tampa. “Terceiro item. Aqui e ali, por todos os cantos da casa, curiosos montinhos de pequenas peças de metal, algumas parecidas com molas de aço e outras na forma de microscópicas rodas de engrenagem. Como se tivessem sido retiradas de algum brinquedo mecânico. “Quarto item. As velas de cera, que precisam ser fixadas em gargalos de garrafa, pois não há onde fixá-las. Agora, quero que os senhores observem como isso tudo é muito mais estranho do que tudo o que acabamos de considerar. Para o mistério central, estamos preparados; vimos todos, de imediato, que havia algo errado em relação ao último conde. Viemos aqui para descobrir se de fato ele morou aqui, se de fato morreu aqui e se aquele espantalho ruivo que fez o seu sepultamento teve algo a ver com sua morte. Mas suponham o pior, a solução mais lúgubre e melodramática que preferirem. Suponham que, na realidade, o criado matou o amo, ou o amo não esteja de fato morto, ou o amo esteja vestido de criado, ou, ainda, suponham que o criado esteja enterrado em lugar do amo; inventem qualquer tragédia de Wilkie Collins que preferirem, e ainda assim não se explica uma vela sem candelabro, ou por que um velho cavalheiro de boa família teria o hábito de derramar rapé sobre o piano. O ponto central da história, podíamos imaginar; as extremidades é que são misteriosas. Por mais fantasiosa que seja, a mente humana não consegue fazer uma ligação entre rapé e diamantes, cera e peças avulsas de relógio.” – Acho que vejo a ligação – disse o padre. – Este Glengyle tinha raiva da Revolução Francesa. Era um entusiasta do ancien régime, e estava tentando, literalmente, restabelecer a vida familiar dos últimos Bourbon. Tinha rapé porque era o luxo do século XVIII; velas de cera, porque eram a iluminação do século XVIII; as pecinhas de ferro representam o passatempo predileto de serralheiro de Luís XVI; os diamantes são para o colar de diamantes de Maria Antonieta. Os outros dois homens encaravam-no com os olhos arregalados. – Que ideia extraordinária! – gritou Flambeau. – Você acredita mesmo que essa é a verdade? – Tenho absoluta certeza de que não é – respondeu Padre Brown. – Mas você disse que ninguém conseguiria conectar rapé e diamantes, mecanismos de relógio e velas. Fiz essa conexão de improviso. A verdade mesmo, estou seguro, é bem mais profunda. Por um momento, fez uma pausa e escutou o gemido do vento nas pequenas torres e então disse: – O falecido conde de Glengyle era um ladrão. Vivia uma segunda e mais obscura vida como um arrombador alucinado. Não tinha candelabros porque só usava estes tocos de vela na lanterna que carregava. O rapé, ele empregava como empregavam os mais violentos criminosos franceses: para jogá-lo, de surpresa, em grandes quantidades, no rosto de quem o estivesse perseguindo ou prendendo. Mas a prova final está na curiosa coincidência entre os diamantes e as engrenagens de aço. Não fica tudo esclarecido agora para vocês? Diamantes e engrenagens de aço são os únicos instrumentos que podem cortar vidraças. O galho de um pinheiro quebrado chocou-se com força contra a vidraça atrás deles, como se parodiasse um assaltante, mas eles não se viraram. Seus olhos estavam cravados no Padre Brown. – Diamantes e pequenas rodas de engrenagem – repetiu Craven pensativo. – Só isso faz você acreditar que essa é a explicação real? – Não creio que seja a explicação real – replicou o padre com placidez –, mas você disse que ninguém conseguiria relacionar as quatro coisas. A realidade, é lógico, é algo muito mais prosaico. Glengyle encontrou, ou pensou que tinha encontrado, pedras preciosas em sua propriedade. Alguém o iludiu com esses brilhantes, dizendo que foram encontrados nas cavernas do castelo. As pequenas rodas de engrenagem são objetos para cortar diamantes. Tinha que fazer a coisa de forma muito grosseira e em pequena escala, com a ajuda de pastores ou sujeitos simples destas colinas. O rapé é o único grande luxo desses pastores escoceses, é a única coisa com a qual você pode suborná-los. Não tinham candelabros porque não queriam; seguravam as velas nas mãos quando exploravam as cavernas. – Isso é tudo? – perguntou Flambeau após uma longa pausa. – Enfim chegamos à triste verdade? – Ah, não – disse Padre Brown. Quando o vento cessou na longínqua floresta de pinheiros com um longo assobio como se fosse de escárnio, Padre Brown, com o semblante totalmente impassível, prosseguiu: – Apenas sugeri isso porque você disse que não se poderia conectar de forma plausível rapé com engrenagens de relógio nem velas com pedras brilhantes. Dez filosofias falsas vão se ajustar ao universo; dez teorias falsas vão se ajustar ao castelo de Glengyle. Mas queremos a real explicação do castelo e do universo. E não há outras provas?
Craven riu, e Flambeau pôs-se em pé sorrindo e caminhou devagar ao longo da mesa comprida. – Os itens cinco, seis, sete etc. – disse ele – são certamente mais variados do que instrutivos. Uma coleção curiosa, não de lápis de grafite, mas de grafite sem lápis. Uma vara de bambu absurda, com a ponta bem lascada. Poderia ser o instrumento do crime. Só que não houve crime algum. As outras coisas são apenas alguns velhos missais e pequenas imagens católicas, que os Ogilvie tinham, suponho, desde a Idade Média... o orgulho da família deles sendo mais forte do que o puritanismo. Apenas os colocamos no museu porque parecem recortados e desfigurados de forma curiosa. A forte tempestade lá fora arremessou nuvens assustadoras por todo Glengyle deixando o grande salão no escuro enquanto Padre Brown pegava as páginas pouco iluminadas para examiná-las. Falou antes que a nuvem de escuridão passasse, mas era a voz de um homem totalmente novo. – Sr. Craven – disse, falando como se fosse um homem dez anos mais jovem –, o senhor conseguiu um mandado para subir e examinar aquela sepultura, não é mesmo? Quanto mais cedo fizermos isso, melhor será para tirarmos a limpo este caso terrível. Se eu fosse o senhor, começaria já. – Já? – repetiu o atônito detetive. – E por que já? – Porque isso é sério – respondeu Brown –, isso não é rapé esparramado nem seixos soltos, que poderiam estar lá por uma centena de motivos. Há apenas um motivo que eu saiba para isso ser feito, e o motivo vai até as raízes do mundo. Estas imagens religiosas não estão apenas manchadas, rasgadas ou riscadas, o que poderia ser feito por negligência ou fanatismo, por crianças ou por protestantes. Foram tratadas com muito cuidado... e de modo muito estranho. Em todo o lugar em que aparecia o grande nome de Deus adornado nas velhas iluminuras ele foi retirado com bastante cuidado. O outro único detalhe removido é o halo em torno da cabeça do menino Jesus. Por isso, digo, vamos pegar nosso mandado, nossa pá e nossa machadinha, e vamos subir e abrir aquele esquife. – O que o senhor quer dizer? – inquiriu o agente londrino. – Quero dizer – respondeu o pequenino padre, e sua voz pareceu elevar-se um pouco ao bramir do vento –, quero dizer que o grande demônio do universo pode estar sentado no alto da torre deste castelo neste exato momento, tão grande quanto uma centena de elefantes, e rugindo como o Apocalipse. Em algum lugar no fundo disso tudo, há magia negra. – Magia negra – repetiu Flambeau em voz baixa, pois era um homem muito culto para não saber destas coisas. – Mas o que estas outras coisas podem significar? – Ah, algo amaldiçoável, suponho eu –, replicou Brown impaciente. – Como poderia saber? Como posso imaginar todas as confusões lá de baixo? Talvez seja possível inventar uma tortura com rapé e bambu. Talvez os lunáticos cobicem a cera e as limalhas de aço. Talvez haja uma droga enlouquecedora feita dos grafites de lápis! Nosso caminho mais curto até o mistério é subir a colina até a cova. Os camaradas dele mal se deram conta de que o obedeceram e o seguiram até que uma rajada do vento noturno, no jardim, quase chicoteasse seus rostos. Porém, eles o obedeceram como autômatos, pois Craven viu-se com uma machadinha na mão e o mandado no bolso; Flambeau carregava a pesada pá do estranho jardineiro; Padre Brown carregava o livrinho dourado do qual fora arrancado o nome de Deus. O caminho colina acima até o cemitério da igreja era tortuoso mas curto, só que pela força do vento parecia árduo e longo. Até onde a vista alcançava, quanto mais subiam a ladeira, mais se avistavam grandes extensões de pinheiros, todos inclinados na mesma direção do vento. E aquele gesto universal parecia tão inútil quanto vasto, tão inútil como se aquele vento assobiasse ao redor de um planeta despovoado e sem qualquer sentido. De um extremo a outro daquelas florestas com tons de azul-escuro soava, de modo estridente, aquele antigo lamento presente no coração de todos os objetos pagãos. Dava para imaginar que as vozes do submundo de imensas folhagens fossem os gritos dos deuses pagãos errantes e perdidos: deuses que tinham ido perambular naquela floresta irracional e que jamais encontrarão o caminho de volta ao paraíso. – Vejam – falou Padre Brown em tom grave, mas dócil – que os escoceses, antes da existência da Escócia, eram um grupo curioso. De fato, ainda são um grupo curioso. Mas no período pré-histórico, julgo eu, realmente cultuavam demônios. Essa – acrescentou com cordialidade –, é a razão pela qual se lançaram na teologia puritana. – Meu amigo – disse Flambeau, retrucando com raiva –, o que significa tudo isso? – Meu amigo – replicou Brown, com a mesma seriedade –, há uma marca de todas as religiões genuínas: o materialismo. Ora, a devoção ao demônio é uma religião bem genuína. Tinham chegado ao topo gramado da colina, um dos poucos locais com clareira, livre do estrondo e do rugido da floresta de pinheiros. Um cercado precário, parte de madeira e parte de arame, sacudia na tempestade para lhes indicar os limites do cemitério. Mas quando o inspetor Craven chegou à beira da sepultura, e Flambeau fincou a pá na grama, apoiando-se nela, os dois tremiam quase tanto quanto a madeira e o arame sacudidos pelo vento. Ao pé da cova, cresciam enormes cardos, em tons de cinza e prata pela deterioração. Uma ou duas vezes, quando uma bola de lanugem do cardo se rompia com a brisa e voava em sua direção, Craven desviava-se um pouco como se fosse de uma flecha. Flambeau cravou a lâmina da pá na grama uivante, atingindo a terra úmida abaixo. Então pareceu parar e apoiar-se nela como se fosse uma bengala. – Vão em frente – disse o padre com muita calma. – Estamos apenas tentando descobrir a verdade. O que temem?
– Estou com medo de encontrá-la – disse Flambeau. O detetive londrino de repente falou numa voz alta e rouca com o intuito de demonstrar ser de boa conversa e animado. – Gostaria de saber, honestamente, porque ele se escondeu desse jeito. Algo nojento, suponho; ele era leproso? – Algo pior do que isso – disse Flambeau. – E o que você imagina – perguntou o outro – ser pior do que um leproso? – Eu não imagino – disse Flambeau. Por alguns minutos terríveis, ele cavou em silêncio e, então, falou com a voz meio sufocada: – Estou com medo de ele não ser o verdadeiro fantasma. – Tampouco era aquele pedaço de papel, sabe – disse Padre Brown com calma –, e sobrevivemos até àquele pedaço de papel. Flambeau cavava com energia alucinada. Porém, a tempestade tinha levado embora as nuvens cinzentas e sufocantes que grudavam nas colinas feito fumaça, revelando campos cinzentos, iluminados pelo brilho tímido das estrelas antes que ele desenterrasse uma espécie de caixão de madeira grosseira e de algum modo o erguesse, colocando-o sobre a grama. Craven deu um passo à frente com sua machadinha; um cardo o atingiu e ele hesitou. Depois, deu um passo mais firme, golpeou e retalhou com uma força igual à de Flambeau, até arrancar a tampa e tudo que lá estava brilhar à luz cinzenta das estrelas. – Ossos – disse Craven. E depois acrescentou: – Mas é um homem – como se isso fosse algo inesperado. – Ele está – perguntou Flambeau com uma voz que subia e descia de modo estranho – está em boas condições? – Parece que sim – disse o oficial com voz rouca, curvando-se sobre o esqueleto sombrio e em decomposição no caixão. – Espere um pouco. Um imenso suspiro atravessou a grande figura de Flambeau. – E agora, pensando bem – gritou –, por que, em nome da loucura, não deveria estar ele em boas condições? O que é que prende um homem a estas malditas montanhas geladas? Acho que é a repetição estúpida, perversa; todas estas florestas e, acima de tudo, um antigo pavor da inconsciência. É como o sonho de um ateu. Pinheiros e mais pinheiros, e muitos milhões de pinheiros mais... – Minha nossa! – gritou o homem junto ao caixão. – Mas ele não tem cabeça. Enquanto os outros permaneciam assombrados, o padre, pela primeira vez, teve um sobressalto. – Sem cabeça! – repetiu ele. – Sem cabeça? – como se ainda estivesse esperando alguma outra falta. Por suas mentes passaram cenários de visões meio loucas de um bebê sem cabeça, nascido na família Glengyle, de um jovem sem cabeça que se escondia no castelo, de um homem sem cabeça caminhando pelos salões antigos ou por aquele lindo jardim. Mas mesmo naquele momento complicado a lenda não tomou vulto e nem parecia ser racional. Permaneceram tolamente escutando a floresta ruidosa e o céu estridente, como animais exauridos. O pensamento parecia ser algo enorme que, de repente, havia escapado do controle. – Há três homens sem cabeça – disse Padre Brown – nesta sepultura aberta. O pálido detetive de Londres abriu a boca para falar e ficou boquiaberto como um caipira, enquanto um longo gemido do vento rasgava o céu; então, olhou para a machadinha em suas mãos como se não fosse sua e a deixou cair. – Padre – disse Flambeau com aquela voz infantil e forte que quase nunca usava –, o que vamos fazer? A resposta de seu amigo veio com a presteza contida num revólver que acabou de detonar. – Dormir! – gritou Padre Brown. – Dormir. Chegamos ao final do caminho. Sabe o que significa dormir? Sabe que todo homem que dorme acredita em Deus? É um sacramento; pois é um ato de fé e alimento. E precisamos de um sacramento, ainda que apenas natural. Caiu algo sobre nós que muito raramente cai sobre os homens; talvez o pior que neles possa cair. Os lábios abertos de Craven uniram-se para dizer: – O que o senhor quer dizer? O padre virou-se para o castelo enquanto respondia: – Encontramos a verdade; e a verdade não faz sentido. Desceu o caminho na frente deles com um passo arrastado e afoito muito raro em se tratando dele. Quando chegaram ao castelo, ele atirou-se, adormecendo com a simplicidade de um cão. Apesar da exaltação mística da soneca, Padre Brown acordou mais cedo do que os outros, exceto o calado jardineiro; e foi encontrado fumando um grande cachimbo e observando aquele perito em suas tarefas silenciosas na horta. Próximo ao romper da aurora, o ribombar dos trovões tinha terminado em chuva forte, e o dia surgiu com raro frescor. O jardineiro parecia até estar conversando, mas à vista dos detetives cravou a pá com má vontade em um canteiro, disse alguma coisa sobre seu café da manhã, moveu-se entre as fileiras de repolhos e fechou-se na cozinha. – Esse é um homem valioso – disse Padre Brown. – Planta batatas de forma surpreendente. Ainda assim – acrescentou, com imparcial tolerância – ele tem suas falhas; qual de nós não as tem? Ele não cava esta ribanceira com muita regularidade. Ali, por exemplo – e, de repente, pisou com o pé sobre um determinado ponto. – Estou de fato muito desconfiado desta batata. – E por quê? – perguntou Craven, sorrindo com o novo passatempo do baixinho.
– Tenho dúvidas a respeito – disse o outro –, porque o próprio velho Gow duvidava. Ele enfiou sua pá metodicamente em todos os pontos menos aqui. Deve haver uma batata muitíssimo especial bem aqui. Flambeau pegou a pá e com ímpeto a enfiou no local. Encontrou, debaixo de um pedaço do solo, algo que não se parecia com uma batata, mas mais com um cogumelo monstruoso, bem arqueado. Porém, aquilo bateu na pá com um estalido frio, rolou como uma bola e deu um largo sorriso para eles. – O conde de Glengyle – disse Brown com tristeza, e olhou sombrio para o crânio. Então, depois de uma rápida reflexão, arrancou a pá de Flambeau e disse: – Devemos escondê-lo de novo. E ao mesmo tempo foi enfiando o crânio na terra. Depois inclinou seu pequeno corpo e a enorme cabeça sobre o grande cabo da pá, que permaneceu firme na terra. Seu olhar era vago, sua testa toda franzida. – Se alguém pudesse ao menos imaginar – murmurou – o significado desta última monstruosidade. E, curvando-se sobre o enorme cabo da pá, enterrou a testa em suas mãos, como os homens fazem na igreja. Todos os cantos do céu resplandeciam em tons de azul e prata; os pássaros chilreavam nas arvorezinhas do jardim; tão alto que parecia que as próprias árvores falavam. Mas os três homens estavam muito calados. – Bem, eu desisto de tudo – disse por fim Flambeau de modo áspero. – Meu cérebro e este mundo não combinam; e nada mais resta a dizer. Rapé, livros de orações rasgados, e os cilindros de caixinhas de música... o que... Brown abandonou seu semblante de preocupação e bateu no cabo da pá com uma intolerância que não lhe era normal. – Ora, ora, ora, ora! – gritou. – Tudo isso é tão claro como água. Entendi o rapé e os mecanismos do relógio, e assim por diante, logo que abri meus olhos esta manhã. E desde então cheguei a uma conclusão em relação ao velho Gow, o jardineiro, que não é nem tão surdo nem tão estúpido quanto finge ser. Há alguma coisa errada com os itens desconexos. Eu estava errado quanto ao missal rasgado, também; não há nenhum mal nisso. Mas esta é a última questão. Profanar sepulturas e roubar cabeças de homens mortos... quem garante que há mal nisso? Quem garante que há magia negra nisso? Isso não se encaixa no caso tão simples do rapé e das velas. E, com passadas largas mais uma vez lançou uma baforada com mau humor. – Meu amigo – disse Flambeau, com humor sinistro –, você deve tomar cuidado comigo. Lembre-se de que já fui um criminoso. A grande vantagem daquela situação era que eu próprio sempre inventava a história e a conduzia tão rápido quanto me aprouvesse. Este negócio de o detetive ficar esperando é demais para minha impaciência francesa. Toda a minha vida, bem ou mal, fiz as coisas na hora; nunca deixei um duelo para depois; sempre paguei as contas na hora; nunca adiei sequer uma visita ao dentista ... O cachimbo de Padre Brown caiu da boca e partiu-se em três pedaços no caminho de cascalho. Ficou revirando os olhos, a perfeita figura de um idiota. – Meu Deus, que estúpido sou eu! – continuou dizendo. – Meu Deus, que estúpido! Então, de um modo um tanto grogue, começou a rir. – O dentista! – repetiu ele. – Seis horas no abismo espiritual, e tudo porque nunca pensei no dentista! Um pensamento tão simples, tão bonito e pacífico! Amigos, passamos a noite no inferno, mas agora o sol nasce, os pássaros cantam, e a figura radiante do dentista consola o mundo. – Só vou achar algum sentido nisso – gritou Flambeau, prosseguindo a passos largos – se eu usar as torturas da Inquisição. Padre Brown reprimiu o que parecia ser uma disposição momentânea de dançar sobre o gramado agora ensolarado e gritou de modo um tanto pesaroso, como uma criança: – Ora, deixe-me ser um pouco bobo. Você não imagina como tenho sido infeliz. E agora sei que, neste caso, não há absolutamente nenhum pecado grave. Apenas uma pequena sandice, talvez... e quem se importa com isso? Rodopiou uma vez, depois os encarou com gravidade. – Esta não é uma história de crime – disse –, em vez disso, é a história de uma estranha e deformada honestidade. Estamos lidando com o único homem na terra, talvez, que não fez mais que seu dever. É um estudo na lógica viva e selvagem que é a religião desta raça. – Aquela velha rima local sobre a casa de Glengyle ...
Para as árvores, a seiva esverdeada; Para os Ogilvie, o ouro avermelhado.
era literal e metafórica. Não significava apenas que os Glengyle buscavam a riqueza; era também verdade que eles de fato juntavam ouro, tinham uma imensa coleção de ornamentos e utensílios feitos desse metal. Eram, na verdade, miseráveis cuja mania tomou esse rumo. À luz deste fato, se explicam todas as coisas que encontramos no castelo. Diamantes sem anéis de ouro; velas sem candelabros de ouro; rapé sem caixas de rapé de ouro; grafites sem estojos de ouro; uma bengala sem a parte de cima dourada; mecanismos de relógio sem caixas de ouro... ou melhor, relógios. E, por mais absurdo que possa parecer, porque os halos e o nome de Deus nos velhos missais eram de ouro autêntico, estes também foram retirados. O jardim parecia brilhar e a grama crescer mais viçosa no sol tonificante, à medida que a verdade maluca era contada. Flambeau acendeu um cigarro enquanto seu amigo prosseguia. – Foram retirados – continuou Padre Brown –, foram retirados... mas não roubados. Ladrões nunca teriam deixado este mistério. Ladrões teriam levado as caixas de rapé de ouro, o rapé e tudo o mais; os estojos de lápis de ouro, o grafite e o resto. Temos que lidar com um homem com uma consciência peculiar, mas sem dúvida uma consciência. Encontrei esse moralista maluco esta manhã lá na horta e ouvi a história toda. “O falecido Archibald Ogilvie foi o exemplar mais próximo de um bom homem já nascido em Glengyle. Mas sua pungente virtude fez dele um misantropo; ficava triste com a desonestidade de seus ancestrais, que ele de alguma forma generalizava como uma desonestidade de todos os homens. Em especial, desconfiava da filantropia ou doação e jurou que se encontrasse um homem que se ativesse a seus direitos, deveria ter todo o ouro de Glengyle. Após lançar esse desafio à humanidade, calou-se, sem a menor expectativa de obter uma resposta. Um dia, entretanto, um garoto de um vilarejo distante, surdo e com ares de tolo entregou-lhe um telegrama com atraso; e Glengyle, com seu humor mordaz, deu-lhe uma moeda de cobre nova. Ou pensou que tinha feito isso, mas quando procurou pelo troco, a moeda de cobre ainda estava lá e faltava uma moeda de ouro. O fato propiciou-lhe perspectivas para especulações sarcásticas. De qualquer forma, o menino demonstraria a cobiça torpe da espécie: ou desapareceria como um ladrão roubando a moeda, ou voltaria para devolvê-la demonstrando virtude como um esnobe em busca de recompensa. No meio da noite, Lorde Glengyle foi tirado da cama (pois morava sozinho) e forçado a abrir a porta ao mudo idiota. O idiota trazia com ele não a moeda de ouro, mas exatamente dezenove xelins, onze centavos e três moedas de cobre de troco. “Então a absurda exatidão desse ato apossou-se como fogo do cérebro louco do lorde. Ele jurou que era Diógenes, que por muito tempo tinha procurado um homem honesto e finalmente o encontrara. Fez um novo testamento, que eu vi. Aceitou em sua imensa casa abandonada o jovem prosaico e o treinou como seu criado solitário... depois, de um modo estranho... como seu herdeiro. E, seja lá o que aquela criatura bizarra compreendesse, compreendia muito bem as duas ideias fixas de seu senhor: primeiro, que a letra da lei é tudo; e, segundo, que ele próprio herdaria o ouro de Glengyle. Até aqui, só isso; e é simples. Ele limpou o ouro da casa e não pegou nada que não fosse ouro; nem sequer um pouquinho de rapé. Levantou a chapa de ouro de uma velha luminária, muitíssimo satisfeito por haver deixado o resto intacto. Tudo isso entendi, mas não pude compreender essa história do crânio. Fiquei de fato muito apreensivo em relação àquela cabeça humana enterrada entre as batatas. Fiquei aflito... até que Flambeau resolveu a questão. “Vai ficar tudo bem. Ele vai colocar o crânio de volta na sepultura quando ele tiver retirado o ouro do dente.” E, de fato, quando Flambeau atravessou a colina naquela manhã, viu o estranho ser, o avarento justo, cavando a sepultura profanada, a manta escocesa em torno de sua garganta, agitando-se com o vento das montanhas; a discreta cartola em sua cabeça.
Uma noite com tons de oliva e prata se aproximava carregada de trovões, enquanto Padre Brown, enrolado em uma capa escocesa de lã cinza, chegava ao fim de um cinzento vale escocês e contemplava o estranho castelo de Glengyle. O castelo interrompia uma ponta do vale estreito e profundo como uma rua sem saída; parecia o fim do mundo. Erguendo-se em telhados íngremes e finas torres de ardósia, verdes como o mar, ao estilo dos velhos castelos franco-escoceses, lembrava um inglês de chapéu sinistro, pontudo como os das bruxas dos contos de fadas, e, por comparação, os pinheirais que balouçavam em volta das torrezinhas verdes pareciam tão pretos quanto bandos de corvos. Essa observação de um devaneio assombroso, quase sonolento, não era mera fantasia oriunda da paisagem. Pois naquele local, de fato, pairava uma daquelas nuvens de soberba, loucura e misteriosa tristeza que fica mais ameaçadora sobre as casas dos nobres da Escócia do que sobre quaisquer casas dos comuns mortais. Ora, a Escócia tem dose dupla do veneno chamado hereditariedade: o sangue herdado dos aristocratas e o sentimento de maldição herdado dos calvinistas. O padre abriu mão de um dia de seu trabalho em Glasgow para encontrar-se com seu amigo Flambeau, o detetive amador, que estava no castelo de Glengyle com outro oficial mais qualificado para investigar a vida e a morte do falecido conde de Glengyle. Essa pessoa misteriosa foi o último representante de uma raça cujo valor, insanidade e violenta astúcia os tinha tornado terríveis até mesmo entre a sinistra nobreza de sua nação no século XVI. Ninguém foi mais sagaz nesse labirinto de ambições, em aposentos e mais aposentos daquele palácio de mentiras construído em torno de Maria, a rainha dos escoceses. O versinho no interior do país atestava com candura o motivo e o resultado de suas maquinações:
Para as árvores, a seiva esverdeada; Para os Ogilvie, o ouro avermelhado.
Durante muitos séculos, nunca tinha havido um lorde decente no castelo de Glengyle, e, com a era vitoriana, daria para pensar que todas as excentricidades haviam se esgotado. O último Glengyle, entretanto, satisfazia sua tradição tribal fazendo a única coisa que lhe restou: desaparecer. Não quero dizer que foi para o exterior; era opinião geral de que ele ainda estava no castelo, se estivesse em algum lugar. Contudo, embora seu nome constasse nos registros da igreja e no grande livro vermelho da Câmara dos Lordes, ninguém jamais o viu neste mundo.
Se alguém o viu, foi um criado solitário, algo entre um cavalariço e um jardineiro. Era tão surdo que alguém mais qualificado o tomaria por mudo, e alguém mais perspicaz afirmaria tratar-se de um imbecil. Esse trabalhador ruivo, magro, com mandíbula de cachorro, mas de olhos bem azuis, atendia pelo nome de Israel Gow e era o único e silencioso criado discreto naquela propriedade deserta. Mas a energia com que ele arrancava batatas da terra e a regularidade com que desaparecia na cozinha davam às pessoas a impressão de que ele estava providenciando as refeições para um superior, e que o estranho conde ainda estava escondido no castelo. Se a sociedade precisasse de uma prova adicional de que ele estava lá, o criado assegurava com toda a firmeza que ele não estava em casa. Certa manhã, o prefeito e o pastor (pois os Glengyle eram presbiterianos) foram chamados ao castelo. Lá, verificaram que o jardineiro, cavalariço e cozinheiro havia acrescentado às suas muitas profissões a de agente funerário, e tinha fechado seu nobre amo em um ataúde. O grau com que esse fato estranho foi posteriormente investigado, até agora não se soube ao certo, pois legalmente a coisa nunca foi investigada, até que Flambeau viajasse ao norte uns dois ou três dias antes. Até então, o corpo (se é que era o corpo) de Lorde Glengyle jazia havia algum tempo no pequeno cemitério da igreja na colina. Quando Padre Brown passou pelo jardim sombrio e ficou à sombra do castelo, as nuvens estavam espessas e toda a atmosfera estava carregada de umidade e de trovões. Contra os últimos raios do pôr do sol verde e dourado, avistou uma silhueta humana escura: um homem de cartola com uma grande pá sobre os ombros. A combinação sugeria de forma bizarra um coveiro, mas, quando Brown lembrou-se do criado surdo que arrancava batatas com a pá, considerou isso bastante natural. Sabia alguma coisa sobre o aldeão escocês: ele conhecia a respeitabilidade que podia muito bem considerar necessário usar luto para uma investigação oficial; sabia também que não levaria uma hora para desvendar isso. Até mesmo o sobressalto e o olhar suspeito do homem quando o padre passou eram bem próprios da vigilância e do zelo de um tipo assim. A porta foi aberta pelo próprio Flambeau, acompanhado de um homem magro, com cabelo cinza-escuro e uma papelada nas mãos: o inspetor Craven da Scotland Yard. O hall de entrada era em quase sua totalidade muito simples e vazio, mas os semblantes pálidos e irônicos de alguns dos cruéis Ogilvie olhavam com superioridade de suas perucas negras e telas escurecidas. Acompanhando-os até uma sala mais interna, Padre Brown verificou que os aliados tinham sentado a uma mesa de carvalho comprida e que a ponta que haviam ocupado estava coberta com papéis rabiscados, ladeados por uísque e charutos. No restante da mesa havia objetos soltos; objetos quase tão inexplicáveis como quaisquer outros. Um parecia uma pequena pilha de vidros quebrados cintilantes. O outro parecia um montão de cinzas. Um terceiro parecia uma simples bengala de madeira.
– Parece que você tem uma espécie de museu geológico aqui – disse, enquanto se sentava, fazendo um movimento com a cabeça em direção às cinzas e aos fragmentos cristalinos. – Geológico, não – replicou Flambeau. – Digamos um museu psicológico. – Ah, pelo amor de Deus – bradou o detetive, rindo –, não vamos começar a falar difícil. – Não sabe o que significa psicologia? – perguntou Flambeau com amistosa surpresa. – Psicologia significa estar maluco. – Continuo sem entender – replicou o policial. – Bem – disse Flambeau, com decisão na voz – quero dizer que descobrimos uma coisa a respeito de Lorde Glengyle. Era um maníaco. A silhueta escura de Gow com sua cartola e sua pá passou pela janela, vagamente esboçada contra o céu ao entardecer. Padre Brown olhou com calma para ela e respondeu: – Posso compreender que deve ter havido alguma coisa estranha com relação a esse homem, ou ele não teria se enterrado vivo... nem estaria com tanta pressa para se enterrar morto. Mas o que faz você pensar que foi loucura? – Veja – disse Flambeau. – Escute só a lista de coisas que o sr. Craven encontrou na casa. – Precisamos conseguir uma vela – disse Craven, de repente. – Uma tempestade está se armando e está muito escuro para ler. – Encontrou alguma vela – disse Brown sorrindo – entre os objetos excêntricos? Flambeau ergueu o rosto grave e fixou os olhos escuros no amigo. – Isso também é curioso – disse ele. – Vinte e cinco velas e sequer um vestígio de castiçal. No aposento, que escurecia rápido, e com o vento intensificando-se com rapidez, Brown continuou circulando pela mesa, onde havia um pacote de velas de cera entre outros incoerentes objetos expostos. Inclinou-se de modo acidental sobre um monte de pó, e um espirro estridente quebrou o silêncio. – Opa! – disse ele. – Rapé! Pegou uma das velas, acendeu-a com cuidado, voltou e enfiou-a no gargalo da garrafa de uísque. O agitado vento da noite, soprando pela vidraça trincada, fazia a longa chama tremular como uma bandeira. Em todos os cantos do castelo, eles podiam ouvir a interminável floresta de pinheiros negros agitando-se como um mar tenebroso em torno de um rochedo. – Vou ler o inventário – começou Craven em tom grave, pegando um dos papéis –, o inventário das coisas que encontramos soltas e inexplicadas pelo castelo. Deve-se entender que o local estava de um modo geral sem mobília e abandonado, mas um ou dois aposentos foram claramente habitados por alguém de estilo simples mas não desleixado; alguém que não o criado, Gow. A lista é a seguinte: “Primeiro item. Um considerável tesouro de pedras preciosas, quase todas diamantes, e todas elas avulsas, sem qualquer tipo de montagem. Claro, é natural que os Ogilvie tivessem joias de família, mas esse tipo de joia quase sempre é colocado em certos artigos de ornamento. Parece que os Ogilvie mantiveram as deles soltas nos bolsos, como se fossem moedas. “Segundo item. Montes e montes de rapé a granel, nem mesmo guardados num chifre ou numa bolsa, mas depositados em montes nos consolos da lareira, no aparador, em cima do piano, em qualquer lugar. É como se o velho cavalheiro não se desse ao trabalho de procurar numa bolsa ou levantar uma tampa. “Terceiro item. Aqui e ali, por todos os cantos da casa, curiosos montinhos de pequenas peças de metal, algumas parecidas com molas de aço e outras na forma de microscópicas rodas de engrenagem. Como se tivessem sido retiradas de algum brinquedo mecânico. “Quarto item. As velas de cera, que precisam ser fixadas em gargalos de garrafa, pois não há onde fixá-las. Agora, quero que os senhores observem como isso tudo é muito mais estranho do que tudo o que acabamos de considerar. Para o mistério central, estamos preparados; vimos todos, de imediato, que havia algo errado em relação ao último conde. Viemos aqui para descobrir se de fato ele morou aqui, se de fato morreu aqui e se aquele espantalho ruivo que fez o seu sepultamento teve algo a ver com sua morte. Mas suponham o pior, a solução mais lúgubre e melodramática que preferirem. Suponham que, na realidade, o criado matou o amo, ou o amo não esteja de fato morto, ou o amo esteja vestido de criado, ou, ainda, suponham que o criado esteja enterrado em lugar do amo; inventem qualquer tragédia de Wilkie Collins que preferirem, e ainda assim não se explica uma vela sem candelabro, ou por que um velho cavalheiro de boa família teria o hábito de derramar rapé sobre o piano. O ponto central da história, podíamos imaginar; as extremidades é que são misteriosas. Por mais fantasiosa que seja, a mente humana não consegue fazer uma ligação entre rapé e diamantes, cera e peças avulsas de relógio.” – Acho que vejo a ligação – disse o padre. – Este Glengyle tinha raiva da Revolução Francesa. Era um entusiasta do ancien régime, e estava tentando, literalmente, restabelecer a vida familiar dos últimos Bourbon. Tinha rapé porque era o luxo do século XVIII; velas de cera, porque eram a iluminação do século XVIII; as pecinhas de ferro representam o passatempo predileto de serralheiro de Luís XVI; os diamantes são para o colar de diamantes de Maria Antonieta. Os outros dois homens encaravam-no com os olhos arregalados. – Que ideia extraordinária! – gritou Flambeau. – Você acredita mesmo que essa é a verdade? – Tenho absoluta certeza de que não é – respondeu Padre Brown. – Mas você disse que ninguém conseguiria conectar rapé e diamantes, mecanismos de relógio e velas. Fiz essa conexão de improviso. A verdade mesmo, estou seguro, é bem mais profunda. Por um momento, fez uma pausa e escutou o gemido do vento nas pequenas torres e então disse: – O falecido conde de Glengyle era um ladrão. Vivia uma segunda e mais obscura vida como um arrombador alucinado. Não tinha candelabros porque só usava estes tocos de vela na lanterna que carregava. O rapé, ele empregava como empregavam os mais violentos criminosos franceses: para jogá-lo, de surpresa, em grandes quantidades, no rosto de quem o estivesse perseguindo ou prendendo. Mas a prova final está na curiosa coincidência entre os diamantes e as engrenagens de aço. Não fica tudo esclarecido agora para vocês? Diamantes e engrenagens de aço são os únicos instrumentos que podem cortar vidraças. O galho de um pinheiro quebrado chocou-se com força contra a vidraça atrás deles, como se parodiasse um assaltante, mas eles não se viraram. Seus olhos estavam cravados no Padre Brown. – Diamantes e pequenas rodas de engrenagem – repetiu Craven pensativo. – Só isso faz você acreditar que essa é a explicação real? – Não creio que seja a explicação real – replicou o padre com placidez –, mas você disse que ninguém conseguiria relacionar as quatro coisas. A realidade, é lógico, é algo muito mais prosaico. Glengyle encontrou, ou pensou que tinha encontrado, pedras preciosas em sua propriedade. Alguém o iludiu com esses brilhantes, dizendo que foram encontrados nas cavernas do castelo. As pequenas rodas de engrenagem são objetos para cortar diamantes. Tinha que fazer a coisa de forma muito grosseira e em pequena escala, com a ajuda de pastores ou sujeitos simples destas colinas. O rapé é o único grande luxo desses pastores escoceses, é a única coisa com a qual você pode suborná-los. Não tinham candelabros porque não queriam; seguravam as velas nas mãos quando exploravam as cavernas. – Isso é tudo? – perguntou Flambeau após uma longa pausa. – Enfim chegamos à triste verdade? – Ah, não – disse Padre Brown. Quando o vento cessou na longínqua floresta de pinheiros com um longo assobio como se fosse de escárnio, Padre Brown, com o semblante totalmente impassível, prosseguiu: – Apenas sugeri isso porque você disse que não se poderia conectar de forma plausível rapé com engrenagens de relógio nem velas com pedras brilhantes. Dez filosofias falsas vão se ajustar ao universo; dez teorias falsas vão se ajustar ao castelo de Glengyle. Mas queremos a real explicação do castelo e do universo. E não há outras provas?
Craven riu, e Flambeau pôs-se em pé sorrindo e caminhou devagar ao longo da mesa comprida. – Os itens cinco, seis, sete etc. – disse ele – são certamente mais variados do que instrutivos. Uma coleção curiosa, não de lápis de grafite, mas de grafite sem lápis. Uma vara de bambu absurda, com a ponta bem lascada. Poderia ser o instrumento do crime. Só que não houve crime algum. As outras coisas são apenas alguns velhos missais e pequenas imagens católicas, que os Ogilvie tinham, suponho, desde a Idade Média... o orgulho da família deles sendo mais forte do que o puritanismo. Apenas os colocamos no museu porque parecem recortados e desfigurados de forma curiosa. A forte tempestade lá fora arremessou nuvens assustadoras por todo Glengyle deixando o grande salão no escuro enquanto Padre Brown pegava as páginas pouco iluminadas para examiná-las. Falou antes que a nuvem de escuridão passasse, mas era a voz de um homem totalmente novo. – Sr. Craven – disse, falando como se fosse um homem dez anos mais jovem –, o senhor conseguiu um mandado para subir e examinar aquela sepultura, não é mesmo? Quanto mais cedo fizermos isso, melhor será para tirarmos a limpo este caso terrível. Se eu fosse o senhor, começaria já. – Já? – repetiu o atônito detetive. – E por que já? – Porque isso é sério – respondeu Brown –, isso não é rapé esparramado nem seixos soltos, que poderiam estar lá por uma centena de motivos. Há apenas um motivo que eu saiba para isso ser feito, e o motivo vai até as raízes do mundo. Estas imagens religiosas não estão apenas manchadas, rasgadas ou riscadas, o que poderia ser feito por negligência ou fanatismo, por crianças ou por protestantes. Foram tratadas com muito cuidado... e de modo muito estranho. Em todo o lugar em que aparecia o grande nome de Deus adornado nas velhas iluminuras ele foi retirado com bastante cuidado. O outro único detalhe removido é o halo em torno da cabeça do menino Jesus. Por isso, digo, vamos pegar nosso mandado, nossa pá e nossa machadinha, e vamos subir e abrir aquele esquife. – O que o senhor quer dizer? – inquiriu o agente londrino. – Quero dizer – respondeu o pequenino padre, e sua voz pareceu elevar-se um pouco ao bramir do vento –, quero dizer que o grande demônio do universo pode estar sentado no alto da torre deste castelo neste exato momento, tão grande quanto uma centena de elefantes, e rugindo como o Apocalipse. Em algum lugar no fundo disso tudo, há magia negra. – Magia negra – repetiu Flambeau em voz baixa, pois era um homem muito culto para não saber destas coisas. – Mas o que estas outras coisas podem significar? – Ah, algo amaldiçoável, suponho eu –, replicou Brown impaciente. – Como poderia saber? Como posso imaginar todas as confusões lá de baixo? Talvez seja possível inventar uma tortura com rapé e bambu. Talvez os lunáticos cobicem a cera e as limalhas de aço. Talvez haja uma droga enlouquecedora feita dos grafites de lápis! Nosso caminho mais curto até o mistério é subir a colina até a cova. Os camaradas dele mal se deram conta de que o obedeceram e o seguiram até que uma rajada do vento noturno, no jardim, quase chicoteasse seus rostos. Porém, eles o obedeceram como autômatos, pois Craven viu-se com uma machadinha na mão e o mandado no bolso; Flambeau carregava a pesada pá do estranho jardineiro; Padre Brown carregava o livrinho dourado do qual fora arrancado o nome de Deus. O caminho colina acima até o cemitério da igreja era tortuoso mas curto, só que pela força do vento parecia árduo e longo. Até onde a vista alcançava, quanto mais subiam a ladeira, mais se avistavam grandes extensões de pinheiros, todos inclinados na mesma direção do vento. E aquele gesto universal parecia tão inútil quanto vasto, tão inútil como se aquele vento assobiasse ao redor de um planeta despovoado e sem qualquer sentido. De um extremo a outro daquelas florestas com tons de azul-escuro soava, de modo estridente, aquele antigo lamento presente no coração de todos os objetos pagãos. Dava para imaginar que as vozes do submundo de imensas folhagens fossem os gritos dos deuses pagãos errantes e perdidos: deuses que tinham ido perambular naquela floresta irracional e que jamais encontrarão o caminho de volta ao paraíso. – Vejam – falou Padre Brown em tom grave, mas dócil – que os escoceses, antes da existência da Escócia, eram um grupo curioso. De fato, ainda são um grupo curioso. Mas no período pré-histórico, julgo eu, realmente cultuavam demônios. Essa – acrescentou com cordialidade –, é a razão pela qual se lançaram na teologia puritana. – Meu amigo – disse Flambeau, retrucando com raiva –, o que significa tudo isso? – Meu amigo – replicou Brown, com a mesma seriedade –, há uma marca de todas as religiões genuínas: o materialismo. Ora, a devoção ao demônio é uma religião bem genuína. Tinham chegado ao topo gramado da colina, um dos poucos locais com clareira, livre do estrondo e do rugido da floresta de pinheiros. Um cercado precário, parte de madeira e parte de arame, sacudia na tempestade para lhes indicar os limites do cemitério. Mas quando o inspetor Craven chegou à beira da sepultura, e Flambeau fincou a pá na grama, apoiando-se nela, os dois tremiam quase tanto quanto a madeira e o arame sacudidos pelo vento. Ao pé da cova, cresciam enormes cardos, em tons de cinza e prata pela deterioração. Uma ou duas vezes, quando uma bola de lanugem do cardo se rompia com a brisa e voava em sua direção, Craven desviava-se um pouco como se fosse de uma flecha. Flambeau cravou a lâmina da pá na grama uivante, atingindo a terra úmida abaixo. Então pareceu parar e apoiar-se nela como se fosse uma bengala. – Vão em frente – disse o padre com muita calma. – Estamos apenas tentando descobrir a verdade. O que temem?
– Estou com medo de encontrá-la – disse Flambeau. O detetive londrino de repente falou numa voz alta e rouca com o intuito de demonstrar ser de boa conversa e animado. – Gostaria de saber, honestamente, porque ele se escondeu desse jeito. Algo nojento, suponho; ele era leproso? – Algo pior do que isso – disse Flambeau. – E o que você imagina – perguntou o outro – ser pior do que um leproso? – Eu não imagino – disse Flambeau. Por alguns minutos terríveis, ele cavou em silêncio e, então, falou com a voz meio sufocada: – Estou com medo de ele não ser o verdadeiro fantasma. – Tampouco era aquele pedaço de papel, sabe – disse Padre Brown com calma –, e sobrevivemos até àquele pedaço de papel. Flambeau cavava com energia alucinada. Porém, a tempestade tinha levado embora as nuvens cinzentas e sufocantes que grudavam nas colinas feito fumaça, revelando campos cinzentos, iluminados pelo brilho tímido das estrelas antes que ele desenterrasse uma espécie de caixão de madeira grosseira e de algum modo o erguesse, colocando-o sobre a grama. Craven deu um passo à frente com sua machadinha; um cardo o atingiu e ele hesitou. Depois, deu um passo mais firme, golpeou e retalhou com uma força igual à de Flambeau, até arrancar a tampa e tudo que lá estava brilhar à luz cinzenta das estrelas. – Ossos – disse Craven. E depois acrescentou: – Mas é um homem – como se isso fosse algo inesperado. – Ele está – perguntou Flambeau com uma voz que subia e descia de modo estranho – está em boas condições? – Parece que sim – disse o oficial com voz rouca, curvando-se sobre o esqueleto sombrio e em decomposição no caixão. – Espere um pouco. Um imenso suspiro atravessou a grande figura de Flambeau. – E agora, pensando bem – gritou –, por que, em nome da loucura, não deveria estar ele em boas condições? O que é que prende um homem a estas malditas montanhas geladas? Acho que é a repetição estúpida, perversa; todas estas florestas e, acima de tudo, um antigo pavor da inconsciência. É como o sonho de um ateu. Pinheiros e mais pinheiros, e muitos milhões de pinheiros mais... – Minha nossa! – gritou o homem junto ao caixão. – Mas ele não tem cabeça. Enquanto os outros permaneciam assombrados, o padre, pela primeira vez, teve um sobressalto. – Sem cabeça! – repetiu ele. – Sem cabeça? – como se ainda estivesse esperando alguma outra falta. Por suas mentes passaram cenários de visões meio loucas de um bebê sem cabeça, nascido na família Glengyle, de um jovem sem cabeça que se escondia no castelo, de um homem sem cabeça caminhando pelos salões antigos ou por aquele lindo jardim. Mas mesmo naquele momento complicado a lenda não tomou vulto e nem parecia ser racional. Permaneceram tolamente escutando a floresta ruidosa e o céu estridente, como animais exauridos. O pensamento parecia ser algo enorme que, de repente, havia escapado do controle. – Há três homens sem cabeça – disse Padre Brown – nesta sepultura aberta. O pálido detetive de Londres abriu a boca para falar e ficou boquiaberto como um caipira, enquanto um longo gemido do vento rasgava o céu; então, olhou para a machadinha em suas mãos como se não fosse sua e a deixou cair. – Padre – disse Flambeau com aquela voz infantil e forte que quase nunca usava –, o que vamos fazer? A resposta de seu amigo veio com a presteza contida num revólver que acabou de detonar. – Dormir! – gritou Padre Brown. – Dormir. Chegamos ao final do caminho. Sabe o que significa dormir? Sabe que todo homem que dorme acredita em Deus? É um sacramento; pois é um ato de fé e alimento. E precisamos de um sacramento, ainda que apenas natural. Caiu algo sobre nós que muito raramente cai sobre os homens; talvez o pior que neles possa cair. Os lábios abertos de Craven uniram-se para dizer: – O que o senhor quer dizer? O padre virou-se para o castelo enquanto respondia: – Encontramos a verdade; e a verdade não faz sentido. Desceu o caminho na frente deles com um passo arrastado e afoito muito raro em se tratando dele. Quando chegaram ao castelo, ele atirou-se, adormecendo com a simplicidade de um cão. Apesar da exaltação mística da soneca, Padre Brown acordou mais cedo do que os outros, exceto o calado jardineiro; e foi encontrado fumando um grande cachimbo e observando aquele perito em suas tarefas silenciosas na horta. Próximo ao romper da aurora, o ribombar dos trovões tinha terminado em chuva forte, e o dia surgiu com raro frescor. O jardineiro parecia até estar conversando, mas à vista dos detetives cravou a pá com má vontade em um canteiro, disse alguma coisa sobre seu café da manhã, moveu-se entre as fileiras de repolhos e fechou-se na cozinha. – Esse é um homem valioso – disse Padre Brown. – Planta batatas de forma surpreendente. Ainda assim – acrescentou, com imparcial tolerância – ele tem suas falhas; qual de nós não as tem? Ele não cava esta ribanceira com muita regularidade. Ali, por exemplo – e, de repente, pisou com o pé sobre um determinado ponto. – Estou de fato muito desconfiado desta batata. – E por quê? – perguntou Craven, sorrindo com o novo passatempo do baixinho.
– Tenho dúvidas a respeito – disse o outro –, porque o próprio velho Gow duvidava. Ele enfiou sua pá metodicamente em todos os pontos menos aqui. Deve haver uma batata muitíssimo especial bem aqui. Flambeau pegou a pá e com ímpeto a enfiou no local. Encontrou, debaixo de um pedaço do solo, algo que não se parecia com uma batata, mas mais com um cogumelo monstruoso, bem arqueado. Porém, aquilo bateu na pá com um estalido frio, rolou como uma bola e deu um largo sorriso para eles. – O conde de Glengyle – disse Brown com tristeza, e olhou sombrio para o crânio. Então, depois de uma rápida reflexão, arrancou a pá de Flambeau e disse: – Devemos escondê-lo de novo. E ao mesmo tempo foi enfiando o crânio na terra. Depois inclinou seu pequeno corpo e a enorme cabeça sobre o grande cabo da pá, que permaneceu firme na terra. Seu olhar era vago, sua testa toda franzida. – Se alguém pudesse ao menos imaginar – murmurou – o significado desta última monstruosidade. E, curvando-se sobre o enorme cabo da pá, enterrou a testa em suas mãos, como os homens fazem na igreja. Todos os cantos do céu resplandeciam em tons de azul e prata; os pássaros chilreavam nas arvorezinhas do jardim; tão alto que parecia que as próprias árvores falavam. Mas os três homens estavam muito calados. – Bem, eu desisto de tudo – disse por fim Flambeau de modo áspero. – Meu cérebro e este mundo não combinam; e nada mais resta a dizer. Rapé, livros de orações rasgados, e os cilindros de caixinhas de música... o que... Brown abandonou seu semblante de preocupação e bateu no cabo da pá com uma intolerância que não lhe era normal. – Ora, ora, ora, ora! – gritou. – Tudo isso é tão claro como água. Entendi o rapé e os mecanismos do relógio, e assim por diante, logo que abri meus olhos esta manhã. E desde então cheguei a uma conclusão em relação ao velho Gow, o jardineiro, que não é nem tão surdo nem tão estúpido quanto finge ser. Há alguma coisa errada com os itens desconexos. Eu estava errado quanto ao missal rasgado, também; não há nenhum mal nisso. Mas esta é a última questão. Profanar sepulturas e roubar cabeças de homens mortos... quem garante que há mal nisso? Quem garante que há magia negra nisso? Isso não se encaixa no caso tão simples do rapé e das velas. E, com passadas largas mais uma vez lançou uma baforada com mau humor. – Meu amigo – disse Flambeau, com humor sinistro –, você deve tomar cuidado comigo. Lembre-se de que já fui um criminoso. A grande vantagem daquela situação era que eu próprio sempre inventava a história e a conduzia tão rápido quanto me aprouvesse. Este negócio de o detetive ficar esperando é demais para minha impaciência francesa. Toda a minha vida, bem ou mal, fiz as coisas na hora; nunca deixei um duelo para depois; sempre paguei as contas na hora; nunca adiei sequer uma visita ao dentista ... O cachimbo de Padre Brown caiu da boca e partiu-se em três pedaços no caminho de cascalho. Ficou revirando os olhos, a perfeita figura de um idiota. – Meu Deus, que estúpido sou eu! – continuou dizendo. – Meu Deus, que estúpido! Então, de um modo um tanto grogue, começou a rir. – O dentista! – repetiu ele. – Seis horas no abismo espiritual, e tudo porque nunca pensei no dentista! Um pensamento tão simples, tão bonito e pacífico! Amigos, passamos a noite no inferno, mas agora o sol nasce, os pássaros cantam, e a figura radiante do dentista consola o mundo. – Só vou achar algum sentido nisso – gritou Flambeau, prosseguindo a passos largos – se eu usar as torturas da Inquisição. Padre Brown reprimiu o que parecia ser uma disposição momentânea de dançar sobre o gramado agora ensolarado e gritou de modo um tanto pesaroso, como uma criança: – Ora, deixe-me ser um pouco bobo. Você não imagina como tenho sido infeliz. E agora sei que, neste caso, não há absolutamente nenhum pecado grave. Apenas uma pequena sandice, talvez... e quem se importa com isso? Rodopiou uma vez, depois os encarou com gravidade. – Esta não é uma história de crime – disse –, em vez disso, é a história de uma estranha e deformada honestidade. Estamos lidando com o único homem na terra, talvez, que não fez mais que seu dever. É um estudo na lógica viva e selvagem que é a religião desta raça. – Aquela velha rima local sobre a casa de Glengyle ...
Para as árvores, a seiva esverdeada; Para os Ogilvie, o ouro avermelhado.
era literal e metafórica. Não significava apenas que os Glengyle buscavam a riqueza; era também verdade que eles de fato juntavam ouro, tinham uma imensa coleção de ornamentos e utensílios feitos desse metal. Eram, na verdade, miseráveis cuja mania tomou esse rumo. À luz deste fato, se explicam todas as coisas que encontramos no castelo. Diamantes sem anéis de ouro; velas sem candelabros de ouro; rapé sem caixas de rapé de ouro; grafites sem estojos de ouro; uma bengala sem a parte de cima dourada; mecanismos de relógio sem caixas de ouro... ou melhor, relógios. E, por mais absurdo que possa parecer, porque os halos e o nome de Deus nos velhos missais eram de ouro autêntico, estes também foram retirados. O jardim parecia brilhar e a grama crescer mais viçosa no sol tonificante, à medida que a verdade maluca era contada. Flambeau acendeu um cigarro enquanto seu amigo prosseguia. – Foram retirados – continuou Padre Brown –, foram retirados... mas não roubados. Ladrões nunca teriam deixado este mistério. Ladrões teriam levado as caixas de rapé de ouro, o rapé e tudo o mais; os estojos de lápis de ouro, o grafite e o resto. Temos que lidar com um homem com uma consciência peculiar, mas sem dúvida uma consciência. Encontrei esse moralista maluco esta manhã lá na horta e ouvi a história toda. “O falecido Archibald Ogilvie foi o exemplar mais próximo de um bom homem já nascido em Glengyle. Mas sua pungente virtude fez dele um misantropo; ficava triste com a desonestidade de seus ancestrais, que ele de alguma forma generalizava como uma desonestidade de todos os homens. Em especial, desconfiava da filantropia ou doação e jurou que se encontrasse um homem que se ativesse a seus direitos, deveria ter todo o ouro de Glengyle. Após lançar esse desafio à humanidade, calou-se, sem a menor expectativa de obter uma resposta. Um dia, entretanto, um garoto de um vilarejo distante, surdo e com ares de tolo entregou-lhe um telegrama com atraso; e Glengyle, com seu humor mordaz, deu-lhe uma moeda de cobre nova. Ou pensou que tinha feito isso, mas quando procurou pelo troco, a moeda de cobre ainda estava lá e faltava uma moeda de ouro. O fato propiciou-lhe perspectivas para especulações sarcásticas. De qualquer forma, o menino demonstraria a cobiça torpe da espécie: ou desapareceria como um ladrão roubando a moeda, ou voltaria para devolvê-la demonstrando virtude como um esnobe em busca de recompensa. No meio da noite, Lorde Glengyle foi tirado da cama (pois morava sozinho) e forçado a abrir a porta ao mudo idiota. O idiota trazia com ele não a moeda de ouro, mas exatamente dezenove xelins, onze centavos e três moedas de cobre de troco. “Então a absurda exatidão desse ato apossou-se como fogo do cérebro louco do lorde. Ele jurou que era Diógenes, que por muito tempo tinha procurado um homem honesto e finalmente o encontrara. Fez um novo testamento, que eu vi. Aceitou em sua imensa casa abandonada o jovem prosaico e o treinou como seu criado solitário... depois, de um modo estranho... como seu herdeiro. E, seja lá o que aquela criatura bizarra compreendesse, compreendia muito bem as duas ideias fixas de seu senhor: primeiro, que a letra da lei é tudo; e, segundo, que ele próprio herdaria o ouro de Glengyle. Até aqui, só isso; e é simples. Ele limpou o ouro da casa e não pegou nada que não fosse ouro; nem sequer um pouquinho de rapé. Levantou a chapa de ouro de uma velha luminária, muitíssimo satisfeito por haver deixado o resto intacto. Tudo isso entendi, mas não pude compreender essa história do crânio. Fiquei de fato muito apreensivo em relação àquela cabeça humana enterrada entre as batatas. Fiquei aflito... até que Flambeau resolveu a questão. “Vai ficar tudo bem. Ele vai colocar o crânio de volta na sepultura quando ele tiver retirado o ouro do dente.” E, de fato, quando Flambeau atravessou a colina naquela manhã, viu o estranho ser, o avarento justo, cavando a sepultura profanada, a manta escocesa em torno de sua garganta, agitando-se com o vento das montanhas; a discreta cartola em sua cabeça.
A FORMA ERRADA
Algumas das grandes estradas que saem de Londres para o norte continuam em direção ao campo, como o espectro atenuado e interrompido de uma rua, com grandes falhas nas construções, mas preservando o traçado. Aqui haverá um conjunto de lojas, seguido por um campo cercado ou um curral, e ali um pub famoso, e acolá talvez uma horta ou uma estufa, e então uma mansão particular, e daí outro campo e outra hospedaria, e assim por diante. Se alguém andar ao longo de uma dessas estradas, vai passar por uma casa que com certeza atrairá sua atenção, apesar de não conseguir explicar o que o atraiu. É uma casa comprida e baixa, paralela à estrada, quase toda pintada de branco e verde-claro, com varanda e venezianas; os pórticos são cobertos por um tipo original de cúpula parecida com um guarda-chuva de madeira que se vê em algumas casas antiquadas. De fato, é uma casa antiquada, bem inglesa e bem suburbana, no bom e velho estilo rico de Clapham. E, no entanto, a casa parece ter sido construída principalmente para o clima quente. Olhando a pintura branca e as venezianas, pensase vagamente em turbantes e até em palmeiras. Não consigo investigar a causa dessa sensação; talvez a casa tenha sido construída por um anglo-indiano. Qualquer um que passasse por essa casa por certo ficaria fascinado por ela de uma forma singular; sentiria que era um lugar sobre o qual alguma história devesse ser contada. E teria acertado, como o leitor logo vai descobrir. Pois esta é a história... a história das coisas estranhas que realmente aconteceram nela, na semana de Pentecostes de algum ano do século XIX. Qualquer um que passasse pela casa na quinta-feira anterior ao domingo de Pentecostes, mais ou menos às quatro e meia da tarde, teria visto a porta da frente aberta, e Padre Brown, da igrejinha de São Mungo, sair fumando um grande cachimbo em companhia de seu amigo francês, muito alto, chamado Flambeau, que fumava um minúsculo cigarro. Essas pessoas podem ou não ser de interesse para o leitor, mas a verdade é que elas não eram as únicas coisas interessantes que ficaram à mostra quando a porta da frente da casa branca e verde se abriu. Há mais singularidades sobre essa casa que devem ser descritas logo de início, não apenas para que o leitor possa entender esta história trágica, mas também para que possa compreender o que a porta aberta mostrava. A casa como um todo fora construída em forma de T, mas um T com a haste horizontal bem comprida e a haste vertical bem curta. A parte comprida era a fachada, que acompanhava a rua, com a porta da frente no meio, tinha dois andares e quase todos os cômodos principais. A parte curta, que se estendia para os fundos imediatamente oposta à porta da frente, tinha só um andar e consistia apenas em dois cômodos compridos, um levando ao outro. O primeiro desses cômodos era o gabinete onde o celebrado sr. Quinton escrevia seus loucos poemas e romances orientais. O cômodo mais distante era uma estufa envidraçada cheia de plantas tropicais de uma beleza rara, quase monstruosa, que, em tardes como aquela, brilhava com a luz esplendorosa do sol. Assim, quando a porta da frente se abria, muitos transeuntes literalmente detiam-se para olhar fixo e suspirar, pois em vez de se depararem com ricos aposentos, o que viam era algo semelhante a uma cena de transformação numa peça fantástica: nuvens purpúreas, sóis dourados e estrelas carmesim ardentes e vívidos, mas ao mesmo tempo transparentes e distantes. Leonard Quinton, o poeta, havia ele mesmo arranjado esse efeito com o maior cuidado, e há dúvidas se ele conseguiu expressar com tanta perfeição assim sua personalidade em algum de seus poemas, pois era um homem que se deleitava com as cores e se deixava inundar por elas, um homem que privilegiava sua volúpia por cores negligenciando a forma – até mesmo a boa forma. E foi isso que direcionou seu gênio de modo tão intenso para a arte e as imagens orientais; para aqueles tapetes desconcertantes e para os ofuscantes bordados, cujas cores pareciam ter caído em venturoso caos, sem nada para representar ou mostrar. Ele tentara, talvez não com total sucesso artístico, mas com reconhecida imaginação e inventividade, compor epopeias e histórias de amor que refletissem o tumulto da cor violenta e até mesmo cruel; histórias de paraísos tropicais de ouro incandescente ou cobre vermelho-sangue; de heróis orientais conduzidos com doze mitras de turbantes sobre elefantes pintados de púrpura ou verde-pavão; de joias gigantescas que uma centena de negros não conseguiria carregar, mas que cintilavam em clarões antigos e de estranhos matizes. Em resumo (para apresentar o assunto do ponto de vista mais comum), ele lidava bastante com céus orientais, bem piores que a maioria dos infernos ocidentais; com monarcas orientais que se poderia talvez chamar de maníacos; e com joias orientais que um joalheiro da Bond Street (se a centena de negros cambaleantes conseguisse carregá-las até a joalheria) talvez avaliasse como peças ilegítimas. Quinton era um gênio, ainda que mórbido, e mesmo que sua morbidez transparecesse mais na sua vida do que no seu trabalho. Era de temperamento fraco e irritadiço, e sua saúde se abalara consideravelmente devido às suas experiências orientais com ópio. A esposa de Quinton – mulher bonita, trabalhadora e, na verdade, sobrecarregada – opunha-se ao ópio, mas se opunha ainda mais a um eremita indiano, sempre vestindo trajes típicos em amarelo e branco, com quem seu marido insistira em entreter-se durante meses, um Virgílio para guiar seu espírito através dos céus e infernos do Oriente. Era desse artístico lar que Padre Brown e seu amigo saíam, e, a julgar pela expressão dos dois, pisaram na soleira da porta com bastante alívio. Flambeau havia conhecido Quinton em seus loucos dias de estudante em Paris, e os dois tinham renovado a amizade num fim de semana; mas, apesar de suas recentes atitudes mais responsáveis, Flambeau agora não se dava bem com o poeta. Entupir-se de ópio e escrever pequenos versos eróticos em papel pergaminho não era a ideia de Flambeau de como um cavalheiro deveria buscar a danação. Enquanto os dois davam uma paradinha na soleira da porta antes de dar uma volta pelo jardim, o portão frontal do jardim escancarou-se com violência, e um jovem com um chapéu-coco atirado para trás da cabeça lançou-se cambaleante pelos degraus. Era um rapaz de ar dissoluto, com uma linda gravata vermelha toda torta, como se tivesse dormido em cima dela. Ele agitava e açoitava para todos os lados uma dessas bengalinhas de madeira nodosa. – Estou dizendo – falou ele, ofegante – que quero ver o velho Quinton. Eu preciso vê-lo. Ele saiu? – O sr. Quinton está em casa, acho eu – disse Padre Brown, limpando o cachimbo –, mas não sei se pode vê-lo. O médico está com ele no momento. O jovem, que não parecia totalmente sóbrio, entrou no vestíbulo aos tropeços; ao mesmo tempo o médico saiu do gabinete de Quinton, fechando a porta e começando a calçar as luvas. – Ver o sr. Quinton? – disse o médico com frieza. – Não, é melhor não. Na verdade, não deve vê-lo de jeito nenhum. Ninguém deve vê-lo. Acabei de ministrar seu remédio para dormir. – Mas escute aqui, meu chapa – disse o jovem da gravata vermelha, tentando agarrar o médico de forma afetuosa pela lapela. – Olhe aqui, estou simplesmente desesperado, eu... – Não adianta, sr. Atkinson – disse o médico, forçando-o a se afastar. – Quando o senhor puder alterar os efeitos de uma droga, eu poderei alterar minha decisão – e, colocando o chapéu, saiu para a luz do dia com os outros dois. Era um homem baixo, de pescoço taurino e temperamento afável, com um bigodinho inexpressivo e vulgar, mas que dava a impressão de competência. O jovem de chapéu-coco, que não parecia ter sido agraciado com nenhum tato para lidar com as pessoas além da ideia geral de se agarrar às suas lapelas, permaneceu do lado de fora da porta, tão confuso como se tivesse sido literalmente atirado para fora da casa, e observou calado os outros três se afastarem juntos pelo jardim. – O que acabei de dizer é uma grande mentira – observou o médico, rindo. – Na verdade, o pobre Quinton só vai tomar seu remédio para dormir daqui a meia hora. Mas não vou permitir que seja incomodado por esse animal, que só queria pedir dinheiro emprestado para nunca mais devolver, nem se pudesse. É um pilantra, embora seja irmão da sra. Quinton, a mulher mais refinada que já pisou na face da terra. – Sim – disse Padre Brown. – Ela é uma boa mulher. – Portanto, proponho passearmos pelo jardim até a criatura ir embora – continuou o médico –, e então levarei o remédio para Quinton. Atkinson não pode entrar, porque chaveei a porta. – Nesse caso, dr. Harris – disse Flambeau –, podíamos dar uma volta pelos fundos até o fim da estufa. Lá não há entrada para a estufa, mas vale a pena vê-la, mesmo de fora. – Está bem, e quem sabe eu não dou uma olhada no meu paciente – riu-se o médico. – Ele adora deitar-se no divã bem ao fundo da estufa, no meio de todas aquelas poinsétias escarlates; se fosse eu, teria calafrios. Mas o que o senhor está fazendo? Padre Brown parou um momento e apanhou no meio da grama alta, onde jazia quase todo escondido, um estranho punhal oriental, de lâmina curva, magnificamente incrustado com pedras e metais coloridos. – O que vem a ser isto? – indagou Padre Brown, mirando-o com certo desagrado. – Ah, é do Quinton, acho eu – disse o dr. Harris despreocupado. – Ele tem todo tipo de quinquilharia chinesa por aqui. Ou talvez pertença àquele seu delicado hindu, a quem ele mantém na coleira. – Hindu? – perguntou Padre Brown, ainda olhando para o punhal em sua mão. – Ah, um tipo de feiticeiro indiano – disse o médico de forma casual. – Um charlatão, é claro. – Não acredita em magia? – perguntou Padre Brown, sem levantar os olhos. – Era só o que faltava! Magia! – disse o médico. – É magnífico – disse o padre em voz baixa e sonhadora –, as cores são magníficas. Mas tem a forma errada. – Errada para quê? – perguntou Flambeau, fitando-o. – Para nada. Tem a forma errada em caráter abstrato. Nunca sentiu isso sobre a arte oriental? As cores são inebriantes, adoráveis, mas as formas são medíocres e ruins, deliberadamente medíocres e ruins. Vi coisas malignas em um tapete turco. – Mon Dieu! – exclamou Flambeau rindo. – São letras e símbolos em uma língua que não conheço, mas sei que representam palavras malignas – continuou o padre, sua voz cada vez mais baixa. – As linhas são tortuosas de propósito... como serpentes rastejando sinuosas para escapar. – De que diabos o senhor está falando? – disse o médico, rindo alto. Flambeau respondeu-lhe com a maior tranquilidade: – O padre às vezes entra em devaneio místico – explicou –, mas garanto que só o vejo nesse estado quando há uma calamidade bem próxima. – Puxa vida, é mesmo?! – exclamou o cientista. – Bem, olhe para ele – exclamou Padre Brown, segurando o punhal à distância de um braço, como se fosse uma serpente brilhante. – Não vê que tem a forma errada? Não vê que não tem nenhum propósito simples e claro? Não é pontudo como a lança.
Não é cortante como a foice. Nem parece arma. Parece um instrumento de tortura. – Bem, já que não lhe agrada – comentou Harris alegre –, não é melhor devolvêlo ao dono? Ainda não chegamos ao fim desta maldita estufa? Essa casa tem a forma errada, como diria o senhor. – O senhor não está entendendo – disse Padre Brown, sacudindo a cabeça. – A forma desta casa é esquisita... até mesmo ridícula. Mas não há nada de errado com ela. Enquanto falavam, dobraram a curva envidraçada na extremidade da estufa, uma curva ininterrupta, já que não havia porta nem janela que desse acesso a ela por esse lado. O vidro, porém, era transparente, e o sol ainda brilhava, embora já começasse a se pôr; eles podiam ver lá dentro não só as flores resplandecentes, mas também o frágil vulto do poeta num casaco de veludo marrom, estendido languidamente no divã, aparentando ter caído no sono em cima de um livro. Pálido, franzino, de cabelos castanhos desgrenhados, em seu rosto Quinton tinha uma sombra de barba paradoxal, porque o fazia parecer menos másculo. Aquelas feições eram bem conhecidas dos três, mas, mesmo se não fossem, provavelmente não estariam olhando para Quinton naquele instante. Seus olhos estavam fixos em outro objeto. Bem no caminho deles, imediatamente ao lado de fora da extremidade curva da estufa, estava parado um homem alto, com seu traje drapeado, imaculadamente branco, caindo-lhe até os pés; a careca parda, o rosto e o pescoço reluziam ao sol como magnífico bronze. Olhava através do vidro para o homem adormecido e parecia mais imóvel que uma montanha. – Quem é este aí? – exclamou Padre Brown, dando um passo atrás com a respiração sibilante. – Ah, é o impostor daquele hindu – resmungou Harris. – Mas não sei que diabos ele faz aqui. – Parece hipnotismo – arriscou Flambeau, mordendo o bigode preto. – Por que vocês, leigos, vivem dizendo besteiras sobre o hipnotismo? – exclamou o médico. – Parece mais uma vigarice. – Bom, vamos falar com ele de qualquer modo – disse Flambeau, sempre a favor da ação. Uma larga passada levou-o até o ponto onde estava o indiano. Curvando-se do alto de sua estatura, que sobrepujava a do oriental, disse com calma insolência: – Boa tarde, senhor. Deseja alguma coisa? Bem devagar, como um grande navio entrando em um porto, o grande rosto amarelo voltou-se e olhou sobre o ombro branco. Eles ficaram espantados ao ver que suas pálpebras amarelas estavam quase fechadas, como se dormisse. – Obrigado – disse o rosto em excelente inglês. – Não desejo nada. Depois, abrindo um pouco as pálpebras, o suficiente para mostrar uma fenda de globo ocular opalescente, repetiu:
– Não desejo nada. Então, abriu os olhos por completo e, com expressão de assombro, disse: – Não desejo nada – e saiu farfalhando o longo traje pelo jardim que escurecia rapidamente. – Os cristãos são mais modestos – murmurou Padre Brown –, pois pelo menos desejam alguma coisa. – Que diabos ele estava fazendo? – perguntou Flambeau, franzindo as sobrancelhas negras e baixando a voz. – Gostaria de ter uma palavrinha com você depois – disse Padre Brown. Ainda havia sol, mas a luz agora tinha o tom avermelhado do entardecer, e o vulto das árvores e arbustos do jardim, em contraste, tornava-se cada vez mais escuro. Dobraram a curva na extremidade da estufa e caminharam em silêncio pelo outro lado, para voltar à porta da frente. Enquanto andavam, pareceram despertar alguma coisa – como alguém que espanta um pássaro – no canto mais remoto entre o gabinete e a parte principal da casa; e outra vez viram o faquir de branco sair das sombras e deslizar em direção à porta da frente. Para surpresa deles, porém, ele não estava sozinho. Os três se detiveram de modo abrupto e tiveram que disfarçar seu espanto com a aparição da sra. Quinton, que, com sua basta cabeleira dourada e o rosto quadrado e pálido, avançava em direção a eles como quem saía do crepúsculo. Parecia um pouco séria, mas foi impecavelmente cortês. – Boa tarde, dr. Harris – limitou-se a dizer. – Boa tarde, sra. Quinton – respondeu o pequeno doutor cordialmente. – Estou indo dar ao seu marido o remédio para dormir. – Está bem – retorquiu ela em voz clara. – Acho que já está na hora. Então sorriu para eles e desapareceu dentro da casa. – Essa mulher está extenuada – disse Padre Brown. – É o tipo de mulher que cumpre o seu dever por vinte anos e então faz algo terrível. O doutorzinho mediu-o pela primeira vez com um olhar de interesse. – Já estudou medicina? – perguntou. – Médicos têm que saber alguma coisa da mente, além de saber do corpo. Nós padres temos que saber alguma coisa do corpo, além de saber da mente. – Bem – disse o médico –, acho que vou dar o remédio a Quinton. Haviam contornado o canto da fachada frontal e se aproximavam da porta da frente. Quando chegaram diante dela, avistaram o homem das vestes brancas pela terceira vez. Vinha numa trajetória tão reta em direção à porta da frente que era quase inacreditável que ele não tivesse recém saído do gabinete, cuja porta ficava bem defronte à porta da frente. Mas sabiam que a porta do gabinete estava trancada. Padre Brown e Flambeau, contudo, guardaram para si essa estranha contradição, e o dr. Harris não era homem de desperdiçar pensamentos com o impossível. Permitiu ao onipresente asiático sair e depois entrou depressa no vestíbulo. Ali encontrou uma figura que já havia esquecido. O fútil Atkinson permanecia por ali, cantarolando e cutucando coisas com a bengala nodosa. O rosto do doutor teve um espasmo de desgosto e decisão, e ele sussurrou rapidamente para seus companheiros: – Tenho que trancar a porta outra vez, senão esse rato vai entrar. Mas vou sair de novo dentro de dois minutos. Abriu a porta bem depressa e trancou-a de novo atrás de si, bem a tempo de impedir uma desajeitada investida do jovem de chapéu-coco. O rapaz atirou-se com impaciência numa cadeira do vestíbulo. Flambeau admirava uma iluminura persa na parede; Padre Brown, imerso numa espécie de aturdimento, mirava estupidamente a porta. Uns quatro minutos depois, a porta se abriu de novo. Atkinson foi mais rápido desta vez. Atirou-se à frente, segurou a porta aberta por um instante e gritou: – Escute, Quinton, eu quero... Da outra extremidade do gabinete ergueu-se a voz clara de Quinton, algo entre um bocejo e um grito de riso cansado. – Ah, eu sei o que você quer. Tome isto aqui e me deixe em paz. Estou escrevendo um poema sobre pavões. Antes que a porta se fechasse, uma moeda de meio soberano passou voando pela abertura, e Atkinson, cambaleando para a frente, apanhou-a com singular destreza. – Então está tudo resolvido – disse o médico e, chaveando a porta com raiva, saiu à frente dos outros para o jardim. – O pobre Leonard pode ter um pouco de paz, agora – comentou ele com Padre Brown. – Vai ficar trancado e totalmente sozinho por uma ou duas horas. – Sim – disse o padre –, e a voz dele parecia bem satisfeita quando o deixamos. Em seguida, olhou com gravidade à volta do jardim e avistou a figura perdida de Atkinson, parado, brincando com a moeda de meio soberano no bolso; mais além, no crepúsculo cor de púrpura, o vulto do indiano, sentado, todo aprumado, numa elevação da relva, o rosto virado para o sol poente. Então, de repente, Padre Brown perguntou: – Onde está a sra. Quinton? – Subiu para o quarto – disse o médico. – Olhe, é a sombra dela na persiana. Padre Brown olhou para cima e, franzindo o cenho, divisou a silhueta escura na janela iluminada pela luz de gás. – Sim – ponderou –, é a sombra dela. – E, após andar por uma jarda ou duas, deixou-se cair num banco do jardim. Flambeau sentou-se ao lado dele, mas o médico era uma dessas pessoas cheias de energia que vivem naturalmente em pé. Afastou-se fumando na direção do crepúsculo, e os dois amigos ficaram sozinhos. – Padre – disse Flambeau em francês –, o que está lhe afligindo? Padre Brown permaneceu silencioso e imóvel por meio minuto, depois disse:
– A superstição não é cristã, mas há alguma coisa na atmosfera deste lugar. Acho que é aquele indiano... ao menos em parte. Então emudeceu e observou a silhueta distante do indiano ainda sentado, rígido, como em oração. À primeira vista parecia imóvel, mas à medida que Padre Brown o observava, viu que o homem se balançava com muita leveza num movimento rítmico, assim como as copas escuras das árvores se balançavam com muita leveza com o vento, que rastejava pelas alamedas do jardim sombrio, fazendo as folhas caídas farfalharem um pouco. A paisagem escurecia com rapidez, como se prenunciasse uma tempestade, mas eles ainda podiam ver todas as silhuetas em seus respectivos lugares. Atkinson recostado a uma árvore, o rosto apático; a esposa de Quinton ainda na janela; o doutor fora dar uma volta pela extremidade da estufa, e eles podiam ver seu cigarro como um fogo-fátuo; e o faquir sentado rígido ainda a balançar-se, enquanto as árvores acima dele começavam a se agitar e quase a rugir. A tempestade se aproximava, com certeza. – Quando aquele indiano falou conosco – continuou Brown num colóquio a meiavoz –, tive uma espécie de visão, uma visão dele e de todo o seu universo. No entanto, ele apenas repetiu a mesma coisa três vezes. Quando disse pela primeira vez: “Não desejo nada”, queria apenas dizer que ele era impenetrável, que a Ásia não se mostra ao mundo. Então ele disse de novo: “Não desejo nada”, e vi que ele queria dizer que se bastava a si mesmo como um cosmos, que não precisava de nenhum Deus, nem admitia qualquer pecado. Depois disse a terceira vez: “Não desejo nada”, e o fez com os olhos em brasa. E soube que ele queria dizer literalmente o que disse; que não desejava nada e que nada era sua casa; que estava cansado de tudo, até do vinho; que a aniquilação, a simples destruição de todas as coisas ou de alguma coisa... Duas gotas de chuva caíram, e Flambeau, por algum motivo, se assustou e olhou para cima, como se elas o tivessem picado. No mesmo instante, o médico, vindo da extremidade da estufa, começou a correr na direção deles, gritando alguma coisa. Quando chegou como um projétil até onde eles estavam, calhou de o inquieto Atkinson, por acaso, estar dando uma volta pela frente da casa. O doutor o agarrou pelo colarinho num aperto convulsivo: – Um crime! – gritou. – O que você fez com ele, seu cachorro? O padre levantou-se de um salto, ereto, e tinha a voz de aço de um militar no comando: – Nada de brigas! – exclamou com frieza. – Estamos em número suficiente para deter qualquer um, se quisermos. Qual é o problema, doutor? – Tem alguma coisa errada com Quinton – disse o médico, muito pálido. – Acabo de vê-lo através da vidraça, e não gosto do modo como está deitado. De qualquer forma, não está do jeito que o deixei. – Vamos até lá – disse Padre Brown, seco. – Pode soltar o sr. Atkinson. Ele esteve sob minhas vistas desde que ouvimos a voz de Quinton. – Vou ficar aqui e vigiá-lo – disse Flambeau com presteza. – Vocês, entrem para ver o que há. O médico e o padre voaram para a porta do gabinete, abriram-na e entraram no cômodo. Ao fazê-lo, quase trombaram na grande mesa de mogno no centro do aposento, onde o poeta costumava escrever, pois o cômodo estava iluminado apenas pela pequena lareira mantida acesa para o doente. No meio da mesa, havia uma única folha de papel, evidentemente deixada ali de propósito. O médico pegou-a, olhou-a de relance e a entregou a Padre Brown, e, exclamando: “Bom Deus, olhe para isso!”, mergulhou na estufa contígua, onde as terríveis flores tropicais ainda pareciam guardar uma rubra lembrança do pôr do sol. Padre Brown leu três vezes as palavras, antes de largar o papel. Elas diziam: “Morro pelas minhas próprias mãos. Ainda assim, morro assassinado!”. Estavam escritas na caligrafia quase inimitável, para não dizer ilegível, de Leonard Quinton. Então Padre Brown, ainda segurando o papel na mão, avançou na direção da estufa, apenas para encontrar seu amigo médico voltando com uma expressão de certeza e pesar. – Ele fez isso mesmo – disse Harris. Andaram juntos em meio à beleza magnífica e antinatural dos cactos e das azaleias e encontraram Leonard Quinton, poeta e romancista, com a cabeça pendendo para fora do divã, os cachos ruivos tocando o chão. Em seu lado esquerdo estava cravado o estranho punhal que haviam encontrado no jardim, e sua mão frouxa ainda segurava o cabo. Lá fora a tempestade havia desabado, como a noite em Coleridge, e tanto o jardim quanto o teto de vidro estavam escuros com o ímpeto da chuva. Padre Brown parecia mais interessado no papel que no cadáver. Segurou-o perto dos olhos e parecia tentar lê-lo à luz do crepúsculo. Depois o segurou contra a lâmpada fraca e, ao fazê-lo, a luz iluminou-os por um instante, tão branca que o papel pareceu escuro em comparação. Seguiu-se uma escuridão cheia de trovões, e depois ouviu-se a voz de Padre Brown saída de dentro da escuridão. – Doutor, este papel tem a forma errada. – O que é que o senhor que dizer com isso? – perguntou o dr. Harris numa expressão carrancuda. – Não é quadrado – respondeu Brown. – Tem uma espécie de ponta cortada no canto. O que significa isso? – Como diabos vou saber? – grunhiu o médico. – Não acha que devemos tirar daqui este pobre homem? Está mais do que morto. – Nada disso – rebateu o padre. – Devemos deixá-lo como está e chamar a polícia.
E continuou a examinar o papel com minúcia. Enquanto voltavam ao gabinete, ele parou junto à mesa e pegou uma tesourinha de unhas. – Ah! – disse com uma espécie de alívio. – Foi com isto aqui que ele fez o recorte. Mas, mesmo assim... – e juntou as sobrancelhas. – Ei, pare de brincar com esse pedaço de papel! – reclamou o doutor enfático. – Era a mania dele. Tinha centenas de folhas iguais, cortava assim todos os seus papéis. – E apontou para uma pilha de papel ainda não usado em outra mesa menor. Padre Brown foi até lá e pegou uma folha. Tinha a mesma forma irregular. – Certamente – disse ele. – E aqui estou vendo os cantos que foram cortados fora. – E, para a indignação de seu colega, começou a contá-los. – Está tudo certo – disse, com um sorriso defensivo. – Vinte e três folhas cortadas e vinte e dois cantos cortados. Vejo que você está impaciente para nos unirmos aos outros. – Quem vai contar à esposa? – perguntou dr. Harris. – Você pode ir até lá e contar a ela, enquanto envio um funcionário à polícia? – Como queira – disse Padre Brown com indiferença. E dirigiu-se à porta de entrada. Ali ele também encontrou um drama, ainda que de um tipo mais grotesco. Ninguém menos do que seu grande amigo Flambeau encontrava-se numa pose que há muito não usava, enquanto no corredor, na base da escada, estatelado, botas para o ar, jazia o amável Atkinson, chapéu-coco e bengala tendo voado em direções opostas. Atkinson já havia muito se entediara com a custódia quase paternal de Flambeau e fizera a tentativa arriscada de nocauteá-lo, coisa nem um pouco fácil de fazer em se tratando do Roi des Apaches, mesmo após a abdicação da monarquia. Flambeau estava prestes a saltar sobre o inimigo e agarrá-lo uma vez mais, quando o padre lhe deu um tapinha de leve no ombro. – Faça as pazes com o sr. Atkinson, meu amigo – rogou ele –, peçam perdão um ao outro e digam “boa noite”. Não precisamos detê-lo por mais tempo. – Então, Atkinson levantou-se, reticente, pegou o chapéu e a bengala e dirigiu-se ao portão do jardim, enquanto Padre Brown perguntava com voz mais séria: – Onde está aquele indiano? Todos os três (já que o doutor estava com eles) voltaram-se involuntariamente na direção da indistinta colina relvada em meio às árvores que balançavam no lilás do crepúsculo, onde pela última vez haviam visto o homem pardo flutuando em suas estranhas orações. O indiano se fora. – Maldito seja! – exclamou o doutor, batendo os pés furiosamente. – Agora tenho certeza que foi aquele escurinho quem fez isso. – Pensei que você não acreditasse em magia – disse Padre Brown com calma.
– Não acredito mesmo – retorquiu o doutor, revirando os olhos. – Só sei que eu detestava aquele diabo amarelo quando eu achava que ele era um mago impostor. E vou odiá-lo ainda mais se eu acreditar que é um mago de verdade. – Bem, ele ter escapado não é nada – ponderou Flambeau –, já que não poderíamos ter provado nada nem feito nada contra ele. Alguém dificilmente vai à polícia local com uma história de suicídio imposto por bruxaria ou autossugestão. Enquanto isso, Padre Brown andara em direção à casa e fora dar à esposa a notícia sobre o marido morto. Quando voltou para o jardim, parecia meio pálido e trágico, mas o que houve entre os dois naquela conversa nunca foi do conhecimento de ninguém mais, mesmo quando tudo já era conhecido. Flambeau, conversando sigilosamente com o doutor, ficou surpreso ao ver o amigo reaparecer tão cedo a seu lado, mas Padre Brown não tomou conhecimento; apenas puxou o doutor para uma conversa. – Enviou alguém à polícia, não foi? – perguntou ele. – Sim – respondeu Harris –, devem chegar aqui em dez minutos. – Você me faria um favor? – indagou o padre discretamente. – A verdade é... eu coleciono essas histórias curiosas, que por vezes contêm, como no caso do nosso amigo hindu, elementos que dificilmente podem ser incluídos num relatório policial. Então, eu gostaria que você escrevesse um relatório desse caso para meu uso particular. Você tem um talento brilhante – disse, encarando o doutor de modo grave e fixo. – Chego a pensar que você sabe de alguns detalhes sobre esse tema que nem pensa em mencionar. Meu ofício é confidencial como o seu, e tratarei qualquer coisa que você venha a me escrever com estrito sigilo. Mas escreva por inteiro. O doutor, que havia escutado com atenção, a cabeça um pouco inclinada para um lado, mirou o padre nos olhos por um instante e disse: – Está certo – e foi para o escritório, fechando a porta atrás de si. – Flambeau – disse Padre Brown –, tem um banco bem comprido, na varanda, onde podemos fumar ao abrigo da chuva. Você é meu único amigo no mundo e preciso conversar com você. Ou, talvez, ficar em silêncio com você. Acomodaram-se confortavelmente no banco da varanda. Padre Brown, contra seu hábito, aceitou um bom charuto e fumou em estático silêncio, enquanto a chuva crepitava estridente no telhado da varanda. – Meu amigo – continuou –, este é um caso muito estranho. Muito estranho mesmo. – Imaginei que fosse – disse Flambeau, com algo parecido a um estremecimento. – Você chama de estranho, eu chamo de estranho – disse o padre –, e ainda assim queremos dizer coisas que de fato são opostas. A mente moderna sempre mistura duas ideias diferentes: mistério no sentido daquilo que é maravilhoso, e mistério no sentido daquilo que é complicado. Essa é metade da dificuldade a respeito dos milagres. Um milagre é surpreendente, mas é simples. É simples porque é um milagre. É um poder concedido diretamente por Deus (ou pelo diabo), em vez de indiretamente pela natureza ou por desejos humanos. Então você quer dizer que esse negócio é maravilhoso porque é milagroso, porque é bruxaria feita por um indiano repulsivo. Entenda, não estou dizendo que não foi espiritual nem diabólico. Só o céu e o inferno sabem por quais influências ambientais acontecem estranhos pecados na vida dos homens. Mas, no momento, meu ponto de vista é o seguinte: se foi mágica pura, como você pensa, então foi maravilhoso, mas isso não é misterioso, ou seja, não é complicado. A qualidade do milagre é o mistério, mas sua forma é simples. No entanto, a forma desse negócio foi o contrário de simples. A tempestade, que havia abrandado por um momento, pareceu intensificar-se outra vez, e surgiram pesados movimentos, como de um tênue trovão. Padre Brown deixou cair as cinzas do charuto e prosseguiu: – Houve esse incidente – disse –, um incidente confuso, horrível, de natureza complexa, que não combina com o comum dos raios, nem do céu nem do inferno. Assim como alguém pode reconhecer o rastro tortuoso de uma cobra, eu reconheço o rastro tortuoso de um homem. O relâmpago branco abriu seu enorme olho no céu, depois o céu silenciou novamente, e o padre continuou: – De todas essas coisas tortuosas, a mais tortuosa é a forma daquele pedaço de papel. É mais tortuosa do que o punhal que o matou. – Você fala do papel onde Quinton confessou o suicídio – disse Flambeau. – Falo do papel onde Quinton escreveu “Morro por minha própria mão” – respondeu Padre Brown. – A forma daquele papel, meu amigo, era a forma errada. A forma errada, se é que eu já vi isso alguma vez neste mundo cruel. – O papel tinha só um canto cortado fora – retrucou Flambeau –, e pelo que sei todos os papéis de Quinton eram cortados dessa maneira. – Era uma maneira muito estranha – disse o outro –, e muito ruim, para meu gosto e preferência. Olhe, Flambeau, esse Quinton (que Deus o tenha!) talvez fosse uma figura desprezível de algumas formas, mas era de fato um artista, tanto com o lápis como com a caneta. Sua caligrafia, ainda que difícil de ler, era robusta e bela. Não posso provar o que digo, não posso provar nada. Mas digo a você, com toda a força da convicção, que ele nunca poderia ter cortado aquele pedacinho sórdido de uma folha de papel. Se quisesse cortar o papel para algum propósito de consertá-lo, encadernálo, ou o que quer que fosse, ele teria feito um corte bem diferente com a tesoura. Você se lembra da forma? Era uma forma insignificante. A forma errada. Como esta aqui. Não se lembra? E abanou o charuto aceso a sua frente, no escuro, fazendo quadrados irregulares de modo tão rápido que a Flambeau pareceram hieróglifos de fogo no escuro, hieróglifos como aqueles de que falara seu amigo: indecifráveis, mas que não podiam ter um bom significado. – Mas – questionou Flambeau, enquanto o padre colocava o charuto na boca outra vez e recostava-se, olhando para o teto –, suponha que alguém mais tenha usado aquela tesoura. Como é que outra pessoa, cortando pedaços dos seus papéis, levaria Quinton a cometer suicídio? Padre Brown continuava recostado e olhando o teto, mas tirou o charuto da boca e disse: – Quinton nunca cometeu suicídio. Flambeau olhou para ele: – Ora, caramba! – bradou. – Então por que ele confessou o suicídio? O padre inclinou-se para a frente de novo, apoiou os cotovelos nos joelhos, olhou para o chão e disse numa voz baixa e distinta: – Ele nunca confessou o suicídio. Flambeau deixou cair o cigarro. – Quer dizer – ele falou – que o bilhete foi forjado? – Não – disse Padre Brown. – Foi o próprio Quinton quem escreveu. – Bem, aí está! – inflamou-se Flambeau. – Quinton escreveu: “Morro por minha própria mão” com a própria mão num pedaço comum de papel. – Com a forma errada – disse o padre calmamente. – Ah, que se dane a forma! – gritou Flambeau. – O que tem a forma a ver com isso? – Tinha vinte e três papéis cortados – retomou Brown, estático –, e apenas vinte e dois pedaços descartados. Então, um dos pedaços foi destruído, provavelmente aquele do papel escrito. Isso não sugere algo a você? Uma luz surgiu na face de Flambeau, e ele disse: – Havia algo mais escrito por Quinton, algumas outras palavras. “Irão dizer para você que morro por minha própria mão” ou “Não acredite que...” – Está esquentando, como dizem as crianças – disse o amigo de Flambeau –, mas o pedaço tinha pouco mais de um centímetro, e nele não havia lugar para uma palavra sequer, muito menos para cinco. Você pode pensar em algo maior do que uma vírgula que um homem com o inferno no coração tivesse de arrancar de si mesmo como testemunho contra si próprio? – Não consigo pensar em nada – disse Flambeau, por fim. – Que tal aspas? – disse o padre, e atirou longe o charuto, na escuridão, como uma estrela cadente. Flambeau ficou sem fala, e Padre Brown disse, como alguém voltando ao ponto fundamental: – Leonard Quinton era um romancista e estava escrevendo um romance oriental sobre magia e hipnotismo. Ele... Nesse momento, a porta abriu-se energicamente atrás deles, e o doutor apareceu, chapéu na cabeça. Colocou um largo envelope nas mãos do padre. – Esse é o documento que você queria – disse –, e eu preciso voltar para casa. Boa noite. – Boa noite – disse Padre Brown, enquanto o doutor caminhava com energia até o portão. Ele deixara a porta da frente aberta, de modo que um feixe da luz da lamparina incidia sobre eles. Nessa luz, Brown abriu o envelope e leu as seguintes palavras: Caro Padre Brown, Vicisti, Galilae! Em outras palavras, amaldiçoados sejam seus olhos tão penetrantes. Pode ser que exista algo em toda essa sua pose, afinal de contas? Sou um homem que sempre, desde a infância, acreditou na natureza e em todas as funções naturais e nos instintos, chamem-nas os homens de morais ou imorais. Muito tempo antes de me tornar médico, quando era ainda um menino na escola, mexendo com camundongos e aranhas, acreditava que ser um bom animal era a melhor coisa do mundo, mas agora, exatamente agora, estou abalado: acreditei na natureza, mas parece que a natureza pode trair o homem. Pode haver algo nesse seu jeito tolo? Estou realmente ficando doente com isso. Eu amava a esposa de Quinton. O que havia de errado nisso? A natureza me disse para amá-la, e o amor faz o mundo girar. Também pensei, com toda a sinceridade, que ela seria mais feliz com um animal limpo como eu do que com aquele ínfimo e lunático atormentador. O que havia de errado nisso? Eu estava apenas encarando os fatos, como um homem da ciência. Ela teria sido mais feliz. De acordo com minha própria crença, eu tinha plena liberdade de matar Quinton, o que seria a melhor solução para todos, até mesmo para ele. Mas, como animal saudável, eu não tive a ideia de matar a mim mesmo. Resolvi, então, que nunca mataria Quinton até ver a chance que me deixasse livre da forca. Vi essa chance hoje de manhã. Estive três vezes, ao todo, no gabinete de Quinton no dia de hoje. Na primeira vez que entrei, ele não falou de outra coisa que não de um conto estranho, chamado “A maldição de um santo”, conto que ele estava escrevendo sobre como um ermitão indiano teria feito um coronel inglês matar-se apenas com a força do pensamento. Mostrou-me as últimas folhas, e até leu para mim o último parágrafo, que era algo assim: “O conquistador do Punjab, mero esqueleto amarelo, ainda assim gigantesco, tratou de levantar-se pelos cotovelos e disse arfante no ouvido de seu sobrinho: – Morro por minha própria mão, e mesmo assim morro assassinado!”. Então aconteceu, uma chance em cem, que essas últimas palavras ficaram escritas no topo de uma nova folha de papel. Deixei a sala e fui ao jardim, intoxicado pela aterrorizante oportunidade. Caminhamos ao redor da casa, e outras duas coisas aconteceram a meu favor. Você suspeitou do indiano e você encontrou o punhal que o indiano muito provavelmente teria usado. Aproveitando a oportunidade para colocá-la em meu bolso, retornei ao gabinete de Quinton, tranquei a porta e dei a ele sua bebida para dormir. Ele era totalmente contra receber Atkinson, mas eu o pressionei para chamar em sigilo o amigo, porque eu queria uma prova clara de que Quinton estava vivo quando deixei a sala pela segunda vez. Quinton recostou-se na estufa, e entrei na sala. Sou um homem rápido com as mãos, e em um minuto e meio havia feito o que queria fazer. Havia despejado toda a primeira parte do romance de Quinton na lareira, e ele queimou até virar cinzas. Então vi as aspas e as tirei fora e, para fazer tudo parecer mais provável, cortei todo o maço, para que todas as folhas ficassem parecidas. Então saí, consciente de que a confissão de suicídio de Quinton estava na mesa da frente, enquanto ele ainda estava vivo, mas dormindo, na estufa logo ali adiante. O último ato foi desesperado, e você pode adivinhá-lo: fingi ter visto Quinton morto e rígido em seu quarto. Atrasei você com o papel e, sendo um homem rápido com as mãos, matei Quinton enquanto você examinava a confissão de suicídio. Ele estava meio que dormindo porque eu o havia drogado, então pus sua própria mão na arma e a dirigi para o seu corpo. O punhal era de uma forma tão esquisita que ninguém além de um cirurgião poderia ter calculado o ângulo que atingiria seu coração. Me pergunto se você percebeu isso. Quando fiz isso, a coisa mais extraordinária aconteceu. A natureza me desertou. Senti-me doente. Senti-me exatamente como se tivesse feito algo de errado. Acho que meu cérebro está se despedaçando. Sinto uma espécie de prazer desesperado em pensar que contei a coisa toda a alguém e que não precisarei estar sozinho com isso se vier a casar e tiver filhos. Qual o problema comigo?... Loucura... Ou um homem pode ter remorso, exatamente como se estivesse nos poemas de Byron! Não consigo escrever mais nada. James Erskine Harris Padre Brown dobrou cuidadosamente a carta e guardou-a no bolso interno, justo quando se ouviu o ruidoso toque da sineta do portão e os impermeáveis molhados de vários policiais brilharam na estrada lá fora.
Algumas das grandes estradas que saem de Londres para o norte continuam em direção ao campo, como o espectro atenuado e interrompido de uma rua, com grandes falhas nas construções, mas preservando o traçado. Aqui haverá um conjunto de lojas, seguido por um campo cercado ou um curral, e ali um pub famoso, e acolá talvez uma horta ou uma estufa, e então uma mansão particular, e daí outro campo e outra hospedaria, e assim por diante. Se alguém andar ao longo de uma dessas estradas, vai passar por uma casa que com certeza atrairá sua atenção, apesar de não conseguir explicar o que o atraiu. É uma casa comprida e baixa, paralela à estrada, quase toda pintada de branco e verde-claro, com varanda e venezianas; os pórticos são cobertos por um tipo original de cúpula parecida com um guarda-chuva de madeira que se vê em algumas casas antiquadas. De fato, é uma casa antiquada, bem inglesa e bem suburbana, no bom e velho estilo rico de Clapham. E, no entanto, a casa parece ter sido construída principalmente para o clima quente. Olhando a pintura branca e as venezianas, pensase vagamente em turbantes e até em palmeiras. Não consigo investigar a causa dessa sensação; talvez a casa tenha sido construída por um anglo-indiano. Qualquer um que passasse por essa casa por certo ficaria fascinado por ela de uma forma singular; sentiria que era um lugar sobre o qual alguma história devesse ser contada. E teria acertado, como o leitor logo vai descobrir. Pois esta é a história... a história das coisas estranhas que realmente aconteceram nela, na semana de Pentecostes de algum ano do século XIX. Qualquer um que passasse pela casa na quinta-feira anterior ao domingo de Pentecostes, mais ou menos às quatro e meia da tarde, teria visto a porta da frente aberta, e Padre Brown, da igrejinha de São Mungo, sair fumando um grande cachimbo em companhia de seu amigo francês, muito alto, chamado Flambeau, que fumava um minúsculo cigarro. Essas pessoas podem ou não ser de interesse para o leitor, mas a verdade é que elas não eram as únicas coisas interessantes que ficaram à mostra quando a porta da frente da casa branca e verde se abriu. Há mais singularidades sobre essa casa que devem ser descritas logo de início, não apenas para que o leitor possa entender esta história trágica, mas também para que possa compreender o que a porta aberta mostrava. A casa como um todo fora construída em forma de T, mas um T com a haste horizontal bem comprida e a haste vertical bem curta. A parte comprida era a fachada, que acompanhava a rua, com a porta da frente no meio, tinha dois andares e quase todos os cômodos principais. A parte curta, que se estendia para os fundos imediatamente oposta à porta da frente, tinha só um andar e consistia apenas em dois cômodos compridos, um levando ao outro. O primeiro desses cômodos era o gabinete onde o celebrado sr. Quinton escrevia seus loucos poemas e romances orientais. O cômodo mais distante era uma estufa envidraçada cheia de plantas tropicais de uma beleza rara, quase monstruosa, que, em tardes como aquela, brilhava com a luz esplendorosa do sol. Assim, quando a porta da frente se abria, muitos transeuntes literalmente detiam-se para olhar fixo e suspirar, pois em vez de se depararem com ricos aposentos, o que viam era algo semelhante a uma cena de transformação numa peça fantástica: nuvens purpúreas, sóis dourados e estrelas carmesim ardentes e vívidos, mas ao mesmo tempo transparentes e distantes. Leonard Quinton, o poeta, havia ele mesmo arranjado esse efeito com o maior cuidado, e há dúvidas se ele conseguiu expressar com tanta perfeição assim sua personalidade em algum de seus poemas, pois era um homem que se deleitava com as cores e se deixava inundar por elas, um homem que privilegiava sua volúpia por cores negligenciando a forma – até mesmo a boa forma. E foi isso que direcionou seu gênio de modo tão intenso para a arte e as imagens orientais; para aqueles tapetes desconcertantes e para os ofuscantes bordados, cujas cores pareciam ter caído em venturoso caos, sem nada para representar ou mostrar. Ele tentara, talvez não com total sucesso artístico, mas com reconhecida imaginação e inventividade, compor epopeias e histórias de amor que refletissem o tumulto da cor violenta e até mesmo cruel; histórias de paraísos tropicais de ouro incandescente ou cobre vermelho-sangue; de heróis orientais conduzidos com doze mitras de turbantes sobre elefantes pintados de púrpura ou verde-pavão; de joias gigantescas que uma centena de negros não conseguiria carregar, mas que cintilavam em clarões antigos e de estranhos matizes. Em resumo (para apresentar o assunto do ponto de vista mais comum), ele lidava bastante com céus orientais, bem piores que a maioria dos infernos ocidentais; com monarcas orientais que se poderia talvez chamar de maníacos; e com joias orientais que um joalheiro da Bond Street (se a centena de negros cambaleantes conseguisse carregá-las até a joalheria) talvez avaliasse como peças ilegítimas. Quinton era um gênio, ainda que mórbido, e mesmo que sua morbidez transparecesse mais na sua vida do que no seu trabalho. Era de temperamento fraco e irritadiço, e sua saúde se abalara consideravelmente devido às suas experiências orientais com ópio. A esposa de Quinton – mulher bonita, trabalhadora e, na verdade, sobrecarregada – opunha-se ao ópio, mas se opunha ainda mais a um eremita indiano, sempre vestindo trajes típicos em amarelo e branco, com quem seu marido insistira em entreter-se durante meses, um Virgílio para guiar seu espírito através dos céus e infernos do Oriente. Era desse artístico lar que Padre Brown e seu amigo saíam, e, a julgar pela expressão dos dois, pisaram na soleira da porta com bastante alívio. Flambeau havia conhecido Quinton em seus loucos dias de estudante em Paris, e os dois tinham renovado a amizade num fim de semana; mas, apesar de suas recentes atitudes mais responsáveis, Flambeau agora não se dava bem com o poeta. Entupir-se de ópio e escrever pequenos versos eróticos em papel pergaminho não era a ideia de Flambeau de como um cavalheiro deveria buscar a danação. Enquanto os dois davam uma paradinha na soleira da porta antes de dar uma volta pelo jardim, o portão frontal do jardim escancarou-se com violência, e um jovem com um chapéu-coco atirado para trás da cabeça lançou-se cambaleante pelos degraus. Era um rapaz de ar dissoluto, com uma linda gravata vermelha toda torta, como se tivesse dormido em cima dela. Ele agitava e açoitava para todos os lados uma dessas bengalinhas de madeira nodosa. – Estou dizendo – falou ele, ofegante – que quero ver o velho Quinton. Eu preciso vê-lo. Ele saiu? – O sr. Quinton está em casa, acho eu – disse Padre Brown, limpando o cachimbo –, mas não sei se pode vê-lo. O médico está com ele no momento. O jovem, que não parecia totalmente sóbrio, entrou no vestíbulo aos tropeços; ao mesmo tempo o médico saiu do gabinete de Quinton, fechando a porta e começando a calçar as luvas. – Ver o sr. Quinton? – disse o médico com frieza. – Não, é melhor não. Na verdade, não deve vê-lo de jeito nenhum. Ninguém deve vê-lo. Acabei de ministrar seu remédio para dormir. – Mas escute aqui, meu chapa – disse o jovem da gravata vermelha, tentando agarrar o médico de forma afetuosa pela lapela. – Olhe aqui, estou simplesmente desesperado, eu... – Não adianta, sr. Atkinson – disse o médico, forçando-o a se afastar. – Quando o senhor puder alterar os efeitos de uma droga, eu poderei alterar minha decisão – e, colocando o chapéu, saiu para a luz do dia com os outros dois. Era um homem baixo, de pescoço taurino e temperamento afável, com um bigodinho inexpressivo e vulgar, mas que dava a impressão de competência. O jovem de chapéu-coco, que não parecia ter sido agraciado com nenhum tato para lidar com as pessoas além da ideia geral de se agarrar às suas lapelas, permaneceu do lado de fora da porta, tão confuso como se tivesse sido literalmente atirado para fora da casa, e observou calado os outros três se afastarem juntos pelo jardim. – O que acabei de dizer é uma grande mentira – observou o médico, rindo. – Na verdade, o pobre Quinton só vai tomar seu remédio para dormir daqui a meia hora. Mas não vou permitir que seja incomodado por esse animal, que só queria pedir dinheiro emprestado para nunca mais devolver, nem se pudesse. É um pilantra, embora seja irmão da sra. Quinton, a mulher mais refinada que já pisou na face da terra. – Sim – disse Padre Brown. – Ela é uma boa mulher. – Portanto, proponho passearmos pelo jardim até a criatura ir embora – continuou o médico –, e então levarei o remédio para Quinton. Atkinson não pode entrar, porque chaveei a porta. – Nesse caso, dr. Harris – disse Flambeau –, podíamos dar uma volta pelos fundos até o fim da estufa. Lá não há entrada para a estufa, mas vale a pena vê-la, mesmo de fora. – Está bem, e quem sabe eu não dou uma olhada no meu paciente – riu-se o médico. – Ele adora deitar-se no divã bem ao fundo da estufa, no meio de todas aquelas poinsétias escarlates; se fosse eu, teria calafrios. Mas o que o senhor está fazendo? Padre Brown parou um momento e apanhou no meio da grama alta, onde jazia quase todo escondido, um estranho punhal oriental, de lâmina curva, magnificamente incrustado com pedras e metais coloridos. – O que vem a ser isto? – indagou Padre Brown, mirando-o com certo desagrado. – Ah, é do Quinton, acho eu – disse o dr. Harris despreocupado. – Ele tem todo tipo de quinquilharia chinesa por aqui. Ou talvez pertença àquele seu delicado hindu, a quem ele mantém na coleira. – Hindu? – perguntou Padre Brown, ainda olhando para o punhal em sua mão. – Ah, um tipo de feiticeiro indiano – disse o médico de forma casual. – Um charlatão, é claro. – Não acredita em magia? – perguntou Padre Brown, sem levantar os olhos. – Era só o que faltava! Magia! – disse o médico. – É magnífico – disse o padre em voz baixa e sonhadora –, as cores são magníficas. Mas tem a forma errada. – Errada para quê? – perguntou Flambeau, fitando-o. – Para nada. Tem a forma errada em caráter abstrato. Nunca sentiu isso sobre a arte oriental? As cores são inebriantes, adoráveis, mas as formas são medíocres e ruins, deliberadamente medíocres e ruins. Vi coisas malignas em um tapete turco. – Mon Dieu! – exclamou Flambeau rindo. – São letras e símbolos em uma língua que não conheço, mas sei que representam palavras malignas – continuou o padre, sua voz cada vez mais baixa. – As linhas são tortuosas de propósito... como serpentes rastejando sinuosas para escapar. – De que diabos o senhor está falando? – disse o médico, rindo alto. Flambeau respondeu-lhe com a maior tranquilidade: – O padre às vezes entra em devaneio místico – explicou –, mas garanto que só o vejo nesse estado quando há uma calamidade bem próxima. – Puxa vida, é mesmo?! – exclamou o cientista. – Bem, olhe para ele – exclamou Padre Brown, segurando o punhal à distância de um braço, como se fosse uma serpente brilhante. – Não vê que tem a forma errada? Não vê que não tem nenhum propósito simples e claro? Não é pontudo como a lança.
Não é cortante como a foice. Nem parece arma. Parece um instrumento de tortura. – Bem, já que não lhe agrada – comentou Harris alegre –, não é melhor devolvêlo ao dono? Ainda não chegamos ao fim desta maldita estufa? Essa casa tem a forma errada, como diria o senhor. – O senhor não está entendendo – disse Padre Brown, sacudindo a cabeça. – A forma desta casa é esquisita... até mesmo ridícula. Mas não há nada de errado com ela. Enquanto falavam, dobraram a curva envidraçada na extremidade da estufa, uma curva ininterrupta, já que não havia porta nem janela que desse acesso a ela por esse lado. O vidro, porém, era transparente, e o sol ainda brilhava, embora já começasse a se pôr; eles podiam ver lá dentro não só as flores resplandecentes, mas também o frágil vulto do poeta num casaco de veludo marrom, estendido languidamente no divã, aparentando ter caído no sono em cima de um livro. Pálido, franzino, de cabelos castanhos desgrenhados, em seu rosto Quinton tinha uma sombra de barba paradoxal, porque o fazia parecer menos másculo. Aquelas feições eram bem conhecidas dos três, mas, mesmo se não fossem, provavelmente não estariam olhando para Quinton naquele instante. Seus olhos estavam fixos em outro objeto. Bem no caminho deles, imediatamente ao lado de fora da extremidade curva da estufa, estava parado um homem alto, com seu traje drapeado, imaculadamente branco, caindo-lhe até os pés; a careca parda, o rosto e o pescoço reluziam ao sol como magnífico bronze. Olhava através do vidro para o homem adormecido e parecia mais imóvel que uma montanha. – Quem é este aí? – exclamou Padre Brown, dando um passo atrás com a respiração sibilante. – Ah, é o impostor daquele hindu – resmungou Harris. – Mas não sei que diabos ele faz aqui. – Parece hipnotismo – arriscou Flambeau, mordendo o bigode preto. – Por que vocês, leigos, vivem dizendo besteiras sobre o hipnotismo? – exclamou o médico. – Parece mais uma vigarice. – Bom, vamos falar com ele de qualquer modo – disse Flambeau, sempre a favor da ação. Uma larga passada levou-o até o ponto onde estava o indiano. Curvando-se do alto de sua estatura, que sobrepujava a do oriental, disse com calma insolência: – Boa tarde, senhor. Deseja alguma coisa? Bem devagar, como um grande navio entrando em um porto, o grande rosto amarelo voltou-se e olhou sobre o ombro branco. Eles ficaram espantados ao ver que suas pálpebras amarelas estavam quase fechadas, como se dormisse. – Obrigado – disse o rosto em excelente inglês. – Não desejo nada. Depois, abrindo um pouco as pálpebras, o suficiente para mostrar uma fenda de globo ocular opalescente, repetiu:
– Não desejo nada. Então, abriu os olhos por completo e, com expressão de assombro, disse: – Não desejo nada – e saiu farfalhando o longo traje pelo jardim que escurecia rapidamente. – Os cristãos são mais modestos – murmurou Padre Brown –, pois pelo menos desejam alguma coisa. – Que diabos ele estava fazendo? – perguntou Flambeau, franzindo as sobrancelhas negras e baixando a voz. – Gostaria de ter uma palavrinha com você depois – disse Padre Brown. Ainda havia sol, mas a luz agora tinha o tom avermelhado do entardecer, e o vulto das árvores e arbustos do jardim, em contraste, tornava-se cada vez mais escuro. Dobraram a curva na extremidade da estufa e caminharam em silêncio pelo outro lado, para voltar à porta da frente. Enquanto andavam, pareceram despertar alguma coisa – como alguém que espanta um pássaro – no canto mais remoto entre o gabinete e a parte principal da casa; e outra vez viram o faquir de branco sair das sombras e deslizar em direção à porta da frente. Para surpresa deles, porém, ele não estava sozinho. Os três se detiveram de modo abrupto e tiveram que disfarçar seu espanto com a aparição da sra. Quinton, que, com sua basta cabeleira dourada e o rosto quadrado e pálido, avançava em direção a eles como quem saía do crepúsculo. Parecia um pouco séria, mas foi impecavelmente cortês. – Boa tarde, dr. Harris – limitou-se a dizer. – Boa tarde, sra. Quinton – respondeu o pequeno doutor cordialmente. – Estou indo dar ao seu marido o remédio para dormir. – Está bem – retorquiu ela em voz clara. – Acho que já está na hora. Então sorriu para eles e desapareceu dentro da casa. – Essa mulher está extenuada – disse Padre Brown. – É o tipo de mulher que cumpre o seu dever por vinte anos e então faz algo terrível. O doutorzinho mediu-o pela primeira vez com um olhar de interesse. – Já estudou medicina? – perguntou. – Médicos têm que saber alguma coisa da mente, além de saber do corpo. Nós padres temos que saber alguma coisa do corpo, além de saber da mente. – Bem – disse o médico –, acho que vou dar o remédio a Quinton. Haviam contornado o canto da fachada frontal e se aproximavam da porta da frente. Quando chegaram diante dela, avistaram o homem das vestes brancas pela terceira vez. Vinha numa trajetória tão reta em direção à porta da frente que era quase inacreditável que ele não tivesse recém saído do gabinete, cuja porta ficava bem defronte à porta da frente. Mas sabiam que a porta do gabinete estava trancada. Padre Brown e Flambeau, contudo, guardaram para si essa estranha contradição, e o dr. Harris não era homem de desperdiçar pensamentos com o impossível. Permitiu ao onipresente asiático sair e depois entrou depressa no vestíbulo. Ali encontrou uma figura que já havia esquecido. O fútil Atkinson permanecia por ali, cantarolando e cutucando coisas com a bengala nodosa. O rosto do doutor teve um espasmo de desgosto e decisão, e ele sussurrou rapidamente para seus companheiros: – Tenho que trancar a porta outra vez, senão esse rato vai entrar. Mas vou sair de novo dentro de dois minutos. Abriu a porta bem depressa e trancou-a de novo atrás de si, bem a tempo de impedir uma desajeitada investida do jovem de chapéu-coco. O rapaz atirou-se com impaciência numa cadeira do vestíbulo. Flambeau admirava uma iluminura persa na parede; Padre Brown, imerso numa espécie de aturdimento, mirava estupidamente a porta. Uns quatro minutos depois, a porta se abriu de novo. Atkinson foi mais rápido desta vez. Atirou-se à frente, segurou a porta aberta por um instante e gritou: – Escute, Quinton, eu quero... Da outra extremidade do gabinete ergueu-se a voz clara de Quinton, algo entre um bocejo e um grito de riso cansado. – Ah, eu sei o que você quer. Tome isto aqui e me deixe em paz. Estou escrevendo um poema sobre pavões. Antes que a porta se fechasse, uma moeda de meio soberano passou voando pela abertura, e Atkinson, cambaleando para a frente, apanhou-a com singular destreza. – Então está tudo resolvido – disse o médico e, chaveando a porta com raiva, saiu à frente dos outros para o jardim. – O pobre Leonard pode ter um pouco de paz, agora – comentou ele com Padre Brown. – Vai ficar trancado e totalmente sozinho por uma ou duas horas. – Sim – disse o padre –, e a voz dele parecia bem satisfeita quando o deixamos. Em seguida, olhou com gravidade à volta do jardim e avistou a figura perdida de Atkinson, parado, brincando com a moeda de meio soberano no bolso; mais além, no crepúsculo cor de púrpura, o vulto do indiano, sentado, todo aprumado, numa elevação da relva, o rosto virado para o sol poente. Então, de repente, Padre Brown perguntou: – Onde está a sra. Quinton? – Subiu para o quarto – disse o médico. – Olhe, é a sombra dela na persiana. Padre Brown olhou para cima e, franzindo o cenho, divisou a silhueta escura na janela iluminada pela luz de gás. – Sim – ponderou –, é a sombra dela. – E, após andar por uma jarda ou duas, deixou-se cair num banco do jardim. Flambeau sentou-se ao lado dele, mas o médico era uma dessas pessoas cheias de energia que vivem naturalmente em pé. Afastou-se fumando na direção do crepúsculo, e os dois amigos ficaram sozinhos. – Padre – disse Flambeau em francês –, o que está lhe afligindo? Padre Brown permaneceu silencioso e imóvel por meio minuto, depois disse:
– A superstição não é cristã, mas há alguma coisa na atmosfera deste lugar. Acho que é aquele indiano... ao menos em parte. Então emudeceu e observou a silhueta distante do indiano ainda sentado, rígido, como em oração. À primeira vista parecia imóvel, mas à medida que Padre Brown o observava, viu que o homem se balançava com muita leveza num movimento rítmico, assim como as copas escuras das árvores se balançavam com muita leveza com o vento, que rastejava pelas alamedas do jardim sombrio, fazendo as folhas caídas farfalharem um pouco. A paisagem escurecia com rapidez, como se prenunciasse uma tempestade, mas eles ainda podiam ver todas as silhuetas em seus respectivos lugares. Atkinson recostado a uma árvore, o rosto apático; a esposa de Quinton ainda na janela; o doutor fora dar uma volta pela extremidade da estufa, e eles podiam ver seu cigarro como um fogo-fátuo; e o faquir sentado rígido ainda a balançar-se, enquanto as árvores acima dele começavam a se agitar e quase a rugir. A tempestade se aproximava, com certeza. – Quando aquele indiano falou conosco – continuou Brown num colóquio a meiavoz –, tive uma espécie de visão, uma visão dele e de todo o seu universo. No entanto, ele apenas repetiu a mesma coisa três vezes. Quando disse pela primeira vez: “Não desejo nada”, queria apenas dizer que ele era impenetrável, que a Ásia não se mostra ao mundo. Então ele disse de novo: “Não desejo nada”, e vi que ele queria dizer que se bastava a si mesmo como um cosmos, que não precisava de nenhum Deus, nem admitia qualquer pecado. Depois disse a terceira vez: “Não desejo nada”, e o fez com os olhos em brasa. E soube que ele queria dizer literalmente o que disse; que não desejava nada e que nada era sua casa; que estava cansado de tudo, até do vinho; que a aniquilação, a simples destruição de todas as coisas ou de alguma coisa... Duas gotas de chuva caíram, e Flambeau, por algum motivo, se assustou e olhou para cima, como se elas o tivessem picado. No mesmo instante, o médico, vindo da extremidade da estufa, começou a correr na direção deles, gritando alguma coisa. Quando chegou como um projétil até onde eles estavam, calhou de o inquieto Atkinson, por acaso, estar dando uma volta pela frente da casa. O doutor o agarrou pelo colarinho num aperto convulsivo: – Um crime! – gritou. – O que você fez com ele, seu cachorro? O padre levantou-se de um salto, ereto, e tinha a voz de aço de um militar no comando: – Nada de brigas! – exclamou com frieza. – Estamos em número suficiente para deter qualquer um, se quisermos. Qual é o problema, doutor? – Tem alguma coisa errada com Quinton – disse o médico, muito pálido. – Acabo de vê-lo através da vidraça, e não gosto do modo como está deitado. De qualquer forma, não está do jeito que o deixei. – Vamos até lá – disse Padre Brown, seco. – Pode soltar o sr. Atkinson. Ele esteve sob minhas vistas desde que ouvimos a voz de Quinton. – Vou ficar aqui e vigiá-lo – disse Flambeau com presteza. – Vocês, entrem para ver o que há. O médico e o padre voaram para a porta do gabinete, abriram-na e entraram no cômodo. Ao fazê-lo, quase trombaram na grande mesa de mogno no centro do aposento, onde o poeta costumava escrever, pois o cômodo estava iluminado apenas pela pequena lareira mantida acesa para o doente. No meio da mesa, havia uma única folha de papel, evidentemente deixada ali de propósito. O médico pegou-a, olhou-a de relance e a entregou a Padre Brown, e, exclamando: “Bom Deus, olhe para isso!”, mergulhou na estufa contígua, onde as terríveis flores tropicais ainda pareciam guardar uma rubra lembrança do pôr do sol. Padre Brown leu três vezes as palavras, antes de largar o papel. Elas diziam: “Morro pelas minhas próprias mãos. Ainda assim, morro assassinado!”. Estavam escritas na caligrafia quase inimitável, para não dizer ilegível, de Leonard Quinton. Então Padre Brown, ainda segurando o papel na mão, avançou na direção da estufa, apenas para encontrar seu amigo médico voltando com uma expressão de certeza e pesar. – Ele fez isso mesmo – disse Harris. Andaram juntos em meio à beleza magnífica e antinatural dos cactos e das azaleias e encontraram Leonard Quinton, poeta e romancista, com a cabeça pendendo para fora do divã, os cachos ruivos tocando o chão. Em seu lado esquerdo estava cravado o estranho punhal que haviam encontrado no jardim, e sua mão frouxa ainda segurava o cabo. Lá fora a tempestade havia desabado, como a noite em Coleridge, e tanto o jardim quanto o teto de vidro estavam escuros com o ímpeto da chuva. Padre Brown parecia mais interessado no papel que no cadáver. Segurou-o perto dos olhos e parecia tentar lê-lo à luz do crepúsculo. Depois o segurou contra a lâmpada fraca e, ao fazê-lo, a luz iluminou-os por um instante, tão branca que o papel pareceu escuro em comparação. Seguiu-se uma escuridão cheia de trovões, e depois ouviu-se a voz de Padre Brown saída de dentro da escuridão. – Doutor, este papel tem a forma errada. – O que é que o senhor que dizer com isso? – perguntou o dr. Harris numa expressão carrancuda. – Não é quadrado – respondeu Brown. – Tem uma espécie de ponta cortada no canto. O que significa isso? – Como diabos vou saber? – grunhiu o médico. – Não acha que devemos tirar daqui este pobre homem? Está mais do que morto. – Nada disso – rebateu o padre. – Devemos deixá-lo como está e chamar a polícia.
E continuou a examinar o papel com minúcia. Enquanto voltavam ao gabinete, ele parou junto à mesa e pegou uma tesourinha de unhas. – Ah! – disse com uma espécie de alívio. – Foi com isto aqui que ele fez o recorte. Mas, mesmo assim... – e juntou as sobrancelhas. – Ei, pare de brincar com esse pedaço de papel! – reclamou o doutor enfático. – Era a mania dele. Tinha centenas de folhas iguais, cortava assim todos os seus papéis. – E apontou para uma pilha de papel ainda não usado em outra mesa menor. Padre Brown foi até lá e pegou uma folha. Tinha a mesma forma irregular. – Certamente – disse ele. – E aqui estou vendo os cantos que foram cortados fora. – E, para a indignação de seu colega, começou a contá-los. – Está tudo certo – disse, com um sorriso defensivo. – Vinte e três folhas cortadas e vinte e dois cantos cortados. Vejo que você está impaciente para nos unirmos aos outros. – Quem vai contar à esposa? – perguntou dr. Harris. – Você pode ir até lá e contar a ela, enquanto envio um funcionário à polícia? – Como queira – disse Padre Brown com indiferença. E dirigiu-se à porta de entrada. Ali ele também encontrou um drama, ainda que de um tipo mais grotesco. Ninguém menos do que seu grande amigo Flambeau encontrava-se numa pose que há muito não usava, enquanto no corredor, na base da escada, estatelado, botas para o ar, jazia o amável Atkinson, chapéu-coco e bengala tendo voado em direções opostas. Atkinson já havia muito se entediara com a custódia quase paternal de Flambeau e fizera a tentativa arriscada de nocauteá-lo, coisa nem um pouco fácil de fazer em se tratando do Roi des Apaches, mesmo após a abdicação da monarquia. Flambeau estava prestes a saltar sobre o inimigo e agarrá-lo uma vez mais, quando o padre lhe deu um tapinha de leve no ombro. – Faça as pazes com o sr. Atkinson, meu amigo – rogou ele –, peçam perdão um ao outro e digam “boa noite”. Não precisamos detê-lo por mais tempo. – Então, Atkinson levantou-se, reticente, pegou o chapéu e a bengala e dirigiu-se ao portão do jardim, enquanto Padre Brown perguntava com voz mais séria: – Onde está aquele indiano? Todos os três (já que o doutor estava com eles) voltaram-se involuntariamente na direção da indistinta colina relvada em meio às árvores que balançavam no lilás do crepúsculo, onde pela última vez haviam visto o homem pardo flutuando em suas estranhas orações. O indiano se fora. – Maldito seja! – exclamou o doutor, batendo os pés furiosamente. – Agora tenho certeza que foi aquele escurinho quem fez isso. – Pensei que você não acreditasse em magia – disse Padre Brown com calma.
– Não acredito mesmo – retorquiu o doutor, revirando os olhos. – Só sei que eu detestava aquele diabo amarelo quando eu achava que ele era um mago impostor. E vou odiá-lo ainda mais se eu acreditar que é um mago de verdade. – Bem, ele ter escapado não é nada – ponderou Flambeau –, já que não poderíamos ter provado nada nem feito nada contra ele. Alguém dificilmente vai à polícia local com uma história de suicídio imposto por bruxaria ou autossugestão. Enquanto isso, Padre Brown andara em direção à casa e fora dar à esposa a notícia sobre o marido morto. Quando voltou para o jardim, parecia meio pálido e trágico, mas o que houve entre os dois naquela conversa nunca foi do conhecimento de ninguém mais, mesmo quando tudo já era conhecido. Flambeau, conversando sigilosamente com o doutor, ficou surpreso ao ver o amigo reaparecer tão cedo a seu lado, mas Padre Brown não tomou conhecimento; apenas puxou o doutor para uma conversa. – Enviou alguém à polícia, não foi? – perguntou ele. – Sim – respondeu Harris –, devem chegar aqui em dez minutos. – Você me faria um favor? – indagou o padre discretamente. – A verdade é... eu coleciono essas histórias curiosas, que por vezes contêm, como no caso do nosso amigo hindu, elementos que dificilmente podem ser incluídos num relatório policial. Então, eu gostaria que você escrevesse um relatório desse caso para meu uso particular. Você tem um talento brilhante – disse, encarando o doutor de modo grave e fixo. – Chego a pensar que você sabe de alguns detalhes sobre esse tema que nem pensa em mencionar. Meu ofício é confidencial como o seu, e tratarei qualquer coisa que você venha a me escrever com estrito sigilo. Mas escreva por inteiro. O doutor, que havia escutado com atenção, a cabeça um pouco inclinada para um lado, mirou o padre nos olhos por um instante e disse: – Está certo – e foi para o escritório, fechando a porta atrás de si. – Flambeau – disse Padre Brown –, tem um banco bem comprido, na varanda, onde podemos fumar ao abrigo da chuva. Você é meu único amigo no mundo e preciso conversar com você. Ou, talvez, ficar em silêncio com você. Acomodaram-se confortavelmente no banco da varanda. Padre Brown, contra seu hábito, aceitou um bom charuto e fumou em estático silêncio, enquanto a chuva crepitava estridente no telhado da varanda. – Meu amigo – continuou –, este é um caso muito estranho. Muito estranho mesmo. – Imaginei que fosse – disse Flambeau, com algo parecido a um estremecimento. – Você chama de estranho, eu chamo de estranho – disse o padre –, e ainda assim queremos dizer coisas que de fato são opostas. A mente moderna sempre mistura duas ideias diferentes: mistério no sentido daquilo que é maravilhoso, e mistério no sentido daquilo que é complicado. Essa é metade da dificuldade a respeito dos milagres. Um milagre é surpreendente, mas é simples. É simples porque é um milagre. É um poder concedido diretamente por Deus (ou pelo diabo), em vez de indiretamente pela natureza ou por desejos humanos. Então você quer dizer que esse negócio é maravilhoso porque é milagroso, porque é bruxaria feita por um indiano repulsivo. Entenda, não estou dizendo que não foi espiritual nem diabólico. Só o céu e o inferno sabem por quais influências ambientais acontecem estranhos pecados na vida dos homens. Mas, no momento, meu ponto de vista é o seguinte: se foi mágica pura, como você pensa, então foi maravilhoso, mas isso não é misterioso, ou seja, não é complicado. A qualidade do milagre é o mistério, mas sua forma é simples. No entanto, a forma desse negócio foi o contrário de simples. A tempestade, que havia abrandado por um momento, pareceu intensificar-se outra vez, e surgiram pesados movimentos, como de um tênue trovão. Padre Brown deixou cair as cinzas do charuto e prosseguiu: – Houve esse incidente – disse –, um incidente confuso, horrível, de natureza complexa, que não combina com o comum dos raios, nem do céu nem do inferno. Assim como alguém pode reconhecer o rastro tortuoso de uma cobra, eu reconheço o rastro tortuoso de um homem. O relâmpago branco abriu seu enorme olho no céu, depois o céu silenciou novamente, e o padre continuou: – De todas essas coisas tortuosas, a mais tortuosa é a forma daquele pedaço de papel. É mais tortuosa do que o punhal que o matou. – Você fala do papel onde Quinton confessou o suicídio – disse Flambeau. – Falo do papel onde Quinton escreveu “Morro por minha própria mão” – respondeu Padre Brown. – A forma daquele papel, meu amigo, era a forma errada. A forma errada, se é que eu já vi isso alguma vez neste mundo cruel. – O papel tinha só um canto cortado fora – retrucou Flambeau –, e pelo que sei todos os papéis de Quinton eram cortados dessa maneira. – Era uma maneira muito estranha – disse o outro –, e muito ruim, para meu gosto e preferência. Olhe, Flambeau, esse Quinton (que Deus o tenha!) talvez fosse uma figura desprezível de algumas formas, mas era de fato um artista, tanto com o lápis como com a caneta. Sua caligrafia, ainda que difícil de ler, era robusta e bela. Não posso provar o que digo, não posso provar nada. Mas digo a você, com toda a força da convicção, que ele nunca poderia ter cortado aquele pedacinho sórdido de uma folha de papel. Se quisesse cortar o papel para algum propósito de consertá-lo, encadernálo, ou o que quer que fosse, ele teria feito um corte bem diferente com a tesoura. Você se lembra da forma? Era uma forma insignificante. A forma errada. Como esta aqui. Não se lembra? E abanou o charuto aceso a sua frente, no escuro, fazendo quadrados irregulares de modo tão rápido que a Flambeau pareceram hieróglifos de fogo no escuro, hieróglifos como aqueles de que falara seu amigo: indecifráveis, mas que não podiam ter um bom significado. – Mas – questionou Flambeau, enquanto o padre colocava o charuto na boca outra vez e recostava-se, olhando para o teto –, suponha que alguém mais tenha usado aquela tesoura. Como é que outra pessoa, cortando pedaços dos seus papéis, levaria Quinton a cometer suicídio? Padre Brown continuava recostado e olhando o teto, mas tirou o charuto da boca e disse: – Quinton nunca cometeu suicídio. Flambeau olhou para ele: – Ora, caramba! – bradou. – Então por que ele confessou o suicídio? O padre inclinou-se para a frente de novo, apoiou os cotovelos nos joelhos, olhou para o chão e disse numa voz baixa e distinta: – Ele nunca confessou o suicídio. Flambeau deixou cair o cigarro. – Quer dizer – ele falou – que o bilhete foi forjado? – Não – disse Padre Brown. – Foi o próprio Quinton quem escreveu. – Bem, aí está! – inflamou-se Flambeau. – Quinton escreveu: “Morro por minha própria mão” com a própria mão num pedaço comum de papel. – Com a forma errada – disse o padre calmamente. – Ah, que se dane a forma! – gritou Flambeau. – O que tem a forma a ver com isso? – Tinha vinte e três papéis cortados – retomou Brown, estático –, e apenas vinte e dois pedaços descartados. Então, um dos pedaços foi destruído, provavelmente aquele do papel escrito. Isso não sugere algo a você? Uma luz surgiu na face de Flambeau, e ele disse: – Havia algo mais escrito por Quinton, algumas outras palavras. “Irão dizer para você que morro por minha própria mão” ou “Não acredite que...” – Está esquentando, como dizem as crianças – disse o amigo de Flambeau –, mas o pedaço tinha pouco mais de um centímetro, e nele não havia lugar para uma palavra sequer, muito menos para cinco. Você pode pensar em algo maior do que uma vírgula que um homem com o inferno no coração tivesse de arrancar de si mesmo como testemunho contra si próprio? – Não consigo pensar em nada – disse Flambeau, por fim. – Que tal aspas? – disse o padre, e atirou longe o charuto, na escuridão, como uma estrela cadente. Flambeau ficou sem fala, e Padre Brown disse, como alguém voltando ao ponto fundamental: – Leonard Quinton era um romancista e estava escrevendo um romance oriental sobre magia e hipnotismo. Ele... Nesse momento, a porta abriu-se energicamente atrás deles, e o doutor apareceu, chapéu na cabeça. Colocou um largo envelope nas mãos do padre. – Esse é o documento que você queria – disse –, e eu preciso voltar para casa. Boa noite. – Boa noite – disse Padre Brown, enquanto o doutor caminhava com energia até o portão. Ele deixara a porta da frente aberta, de modo que um feixe da luz da lamparina incidia sobre eles. Nessa luz, Brown abriu o envelope e leu as seguintes palavras: Caro Padre Brown, Vicisti, Galilae! Em outras palavras, amaldiçoados sejam seus olhos tão penetrantes. Pode ser que exista algo em toda essa sua pose, afinal de contas? Sou um homem que sempre, desde a infância, acreditou na natureza e em todas as funções naturais e nos instintos, chamem-nas os homens de morais ou imorais. Muito tempo antes de me tornar médico, quando era ainda um menino na escola, mexendo com camundongos e aranhas, acreditava que ser um bom animal era a melhor coisa do mundo, mas agora, exatamente agora, estou abalado: acreditei na natureza, mas parece que a natureza pode trair o homem. Pode haver algo nesse seu jeito tolo? Estou realmente ficando doente com isso. Eu amava a esposa de Quinton. O que havia de errado nisso? A natureza me disse para amá-la, e o amor faz o mundo girar. Também pensei, com toda a sinceridade, que ela seria mais feliz com um animal limpo como eu do que com aquele ínfimo e lunático atormentador. O que havia de errado nisso? Eu estava apenas encarando os fatos, como um homem da ciência. Ela teria sido mais feliz. De acordo com minha própria crença, eu tinha plena liberdade de matar Quinton, o que seria a melhor solução para todos, até mesmo para ele. Mas, como animal saudável, eu não tive a ideia de matar a mim mesmo. Resolvi, então, que nunca mataria Quinton até ver a chance que me deixasse livre da forca. Vi essa chance hoje de manhã. Estive três vezes, ao todo, no gabinete de Quinton no dia de hoje. Na primeira vez que entrei, ele não falou de outra coisa que não de um conto estranho, chamado “A maldição de um santo”, conto que ele estava escrevendo sobre como um ermitão indiano teria feito um coronel inglês matar-se apenas com a força do pensamento. Mostrou-me as últimas folhas, e até leu para mim o último parágrafo, que era algo assim: “O conquistador do Punjab, mero esqueleto amarelo, ainda assim gigantesco, tratou de levantar-se pelos cotovelos e disse arfante no ouvido de seu sobrinho: – Morro por minha própria mão, e mesmo assim morro assassinado!”. Então aconteceu, uma chance em cem, que essas últimas palavras ficaram escritas no topo de uma nova folha de papel. Deixei a sala e fui ao jardim, intoxicado pela aterrorizante oportunidade. Caminhamos ao redor da casa, e outras duas coisas aconteceram a meu favor. Você suspeitou do indiano e você encontrou o punhal que o indiano muito provavelmente teria usado. Aproveitando a oportunidade para colocá-la em meu bolso, retornei ao gabinete de Quinton, tranquei a porta e dei a ele sua bebida para dormir. Ele era totalmente contra receber Atkinson, mas eu o pressionei para chamar em sigilo o amigo, porque eu queria uma prova clara de que Quinton estava vivo quando deixei a sala pela segunda vez. Quinton recostou-se na estufa, e entrei na sala. Sou um homem rápido com as mãos, e em um minuto e meio havia feito o que queria fazer. Havia despejado toda a primeira parte do romance de Quinton na lareira, e ele queimou até virar cinzas. Então vi as aspas e as tirei fora e, para fazer tudo parecer mais provável, cortei todo o maço, para que todas as folhas ficassem parecidas. Então saí, consciente de que a confissão de suicídio de Quinton estava na mesa da frente, enquanto ele ainda estava vivo, mas dormindo, na estufa logo ali adiante. O último ato foi desesperado, e você pode adivinhá-lo: fingi ter visto Quinton morto e rígido em seu quarto. Atrasei você com o papel e, sendo um homem rápido com as mãos, matei Quinton enquanto você examinava a confissão de suicídio. Ele estava meio que dormindo porque eu o havia drogado, então pus sua própria mão na arma e a dirigi para o seu corpo. O punhal era de uma forma tão esquisita que ninguém além de um cirurgião poderia ter calculado o ângulo que atingiria seu coração. Me pergunto se você percebeu isso. Quando fiz isso, a coisa mais extraordinária aconteceu. A natureza me desertou. Senti-me doente. Senti-me exatamente como se tivesse feito algo de errado. Acho que meu cérebro está se despedaçando. Sinto uma espécie de prazer desesperado em pensar que contei a coisa toda a alguém e que não precisarei estar sozinho com isso se vier a casar e tiver filhos. Qual o problema comigo?... Loucura... Ou um homem pode ter remorso, exatamente como se estivesse nos poemas de Byron! Não consigo escrever mais nada. James Erskine Harris Padre Brown dobrou cuidadosamente a carta e guardou-a no bolso interno, justo quando se ouviu o ruidoso toque da sineta do portão e os impermeáveis molhados de vários policiais brilharam na estrada lá fora.
OS PECADOS DO PRÍNCIPE SARADINE
Quando Flambeau tirou o mês de férias do seu escritório em Westminster, ele o tirou num pequeno barco à vela, tão pequeno que passava a maior parte do tempo como um barco a remo. Além disso, desfrutou esse mês de férias em riozinhos nos condados do leste, rios tão pequenos que o barco parecia mágico, velejando pela terra através de campinas e trigais. A embarcação era confortável só para duas pessoas. Havia espaço apenas para o necessário, e Flambeau o tinha preenchido com coisas dessa natureza, de acordo com o que a sua peculiar filosofia considerava necessário. Ao que parece, elas se reduziam a quatro coisas essenciais: latas de salmão, caso quisesse comer; revólveres carregados, em caso de briga; uma garrafa de conhaque, supondo a hipótese de um desmaio; e um padre, considerando a possibilidade de ele morrer. Levando essa bagagem leve, ele se arrastava pelos pequenos rios de Norfolk, com a pretensão de chegar até a planície, mas, enquanto isso, deleitava-se nas campinas e nos jardins salientes, nas mansões e vilas que se refletiam na água, demorando-se em pescarias nas piscinas e em lugares remotos e, de alguma forma, mantendo-se próximo à margem. Tal qual um verdadeiro filósofo, Flambeau não tinha um objetivo para suas férias, mas, sendo um filósofo autêntico, tinha uma desculpa. Uma espécie de meio propósito, levado tão a sério que o seu sucesso coroaria as férias, mas de modo tão despreocupado que o seu fracasso não as arruinaria. Anos antes, quando ele tinha sido um rei dos ladrões e a personagem mais famosa de Paris, recebera com frequência mensagens de aprovação, de denúncia e até de amor. Mas, entre todos, jamais esquecera um deles. Consistia apenas em um cartão de visitas dentro de um envelope com um carimbo inglês. No verso do cartão estava escrito em francês, em tinta verde: Se o senhor se aposentar algum dia e se tornar respeitável, venha ter comigo. Quero conhecê-lo, assim como tenho feito com todos os outros grandes homens do meu tempo. Aquela sua armadilha de pegar um detetive para prender o outro foi a cena mais esplêndida da história da França. Na frente do cartão estava gravado, em estilo formal: Príncipe Saradine, Casa dos Juncos, Ilha dos Juncos, Norfolk. Ele não perdera muito tempo com o príncipe na época, a não ser averiguando que tinha sido um líder brilhante e alinhado à Itália sulista. Dizia-se que em sua juventude fugira com uma mulher casada da alta sociedade. A fuga foi pouco surpreendente em seu meio social, mas ficou gravada na mente dos homens por causa de uma tragédia adicional: o provável suicídio do marido insultado, que segundo consta se jogara de um precipício na Sicília. O príncipe, então, morou em Viena por um tempo, mas parece ter passado os últimos anos em perenes e incansáveis viagens. Porém, quando Flambeau, assim como fez o próprio príncipe, deixou a celebridade europeia e se fixou na Inglaterra, ocorreu-lhe fazer uma visita-surpresa ao ilustre exilado na planície de Norfolk. Não tinha certeza se conseguiria encontrar o local, que, como se verificou, era bem pequeno e despercebido. Todavia, como será visto, ele o encontrou mais cedo do que esperava. Certa noite, ancoraram o barco numa margem coberta por grama alta e árvores pequenas, de galhos podados para não avançarem sobre a água. O sono, após uma remada vigorosa, chegou cedo para eles, e por esse mesmo motivo acordaram antes de o dia clarear. Para ser mais exato, acordaram antes do amanhecer, porque uma lua grande e amarelada se escondia acima de suas cabeças na floresta de grama alta. O céu era de um intenso azul-violeta noturno, mas luminoso. Os dois homens, ao mesmo tempo, tiveram uma recordação de infância, da época aventureira e travessa em que ervas daninhas fantásticas se fecham sobre a gente como bosques. Em pé, de frente para a lua enorme e baixa, as margaridas pareciam mesmo gigantes, e os dentes-deleão, abissais. De algum modo, aquilo lhes trouxe à memória uma faixa de papel de parede de uma creche. A encosta do rio era suficiente para afundá-los nas raízes de todos os arbustos e flores e fazê-los olhar de modo fixo para a grama. – Meu Deus! – disse Flambeau. – É como estar numa terra encantada. Padre Brown sentou-se reto no barco e fez o sinal da cruz. O movimento dele foi tão brusco que seu amigo perguntou, com um olhar suave, qual era o problema. – As pessoas que escreveram os poemas medievais – respondeu o padre – sabiam mais sobre criaturas mágicas do que você. Não acontecem só coisas boas em terras encantadas. – Ora, que insanidade! – comentou Flambeau. – Só coisas boas poderiam acontecer sob uma lua inocente como esta. Estou pronto para seguir adiante e ver o que realmente tem por aí. Teremos morrido e apodrecido antes de ver uma lua destas ou uma cena destas outra vez. – Está bem – consentiu Padre Brown. – Nunca disse que era sempre errado entrar numa terra encantada. Apenas falei que era sempre arriscado. Seguiram vagarosamente pelo rio iluminado; o violeta abrasador do céu e o pálido ouro da lua tornavam-se cada vez mais fracos até se desbotarem no cosmo vasto e incolor que precedia os tons da alvorada. Quando os primeiros raios, ainda fracos, de vermelho, dourado e cinza rasgaram o horizonte de um extremo ao outro, eles estavam parados pelo volume negro de uma cidade ou vila situada acima do rio logo à frente deles. Já havia bastante luz, e tudo em volta era visível, quando eles singraram sob os telhados e pontes levadiças dessa aldeia à margem do rio. As casas, com seus telhados longos, baixos e curvados, pareciam se inclinar para beber a água do rio, como um enorme gado cinza e vermelho. O amanhecer amplo e claro já se tornara luz do dia antes que eles vissem qualquer criatura viva nas pontes e no cais daquela cidade silenciosa. Por fim, avistaram um homem bastante sereno e rechonchudo, em mangas de camisa, com um rosto tão redondo quanto a lua recém-submersa e com resquícios de suíças ruivas emoldurando a metade inferior do rosto. Ele se apoiava num poste acima da corrente vagarosa. Por um impulso inexplicável, Flambeau levantou-se até onde foi possível no barco oscilante e gritou para o homem, perguntando-lhe se sabia onde é que ficava a Ilha dos Juncos ou a Casa dos Juncos. O sorriso do homem rechonchudo ficou um pouco maior, e ele apenas apontou para o rio em direção à próxima curva. Flambeau seguiu adiante sem dizer mais nada. O barco avançou pelas curvas do rio passando por diversos lugares inabitados e cobertos de grama e seguiu por várias partes estreitas e silenciosas cobertas de junco. Mas, antes que a busca se tornasse monótona, dobraram em um ângulo bastante agudo e deslizaram em direção ao silêncio de uma espécie de piscina ou lago, cuja visão os arrastou de modo instintivo. No meio daquela vasta porção de água cercada de juncos por todos os lados, encontrava-se uma ilhota comprida e plana, onde se erguia um chalé ou bangalô também comprido e plano, construído de bambu ou algum outro tipo resistente de vara tropical. Os colmos verticais de bambu sustentavam as paredes e eram de um amarelo desbotado; os colmos inclinados compunham o telhado e eram vermelho-escuros ou marrons. De resto, a casa comprida era uma coisa repetitiva e monótona. A brisa da tenra manhã agitava os juncos em volta da ilha e assobiava na casa canelada e estranha como se ela fosse uma gigantesca flauta de Pã. – Por Deus! – exclamou Flambeau. – Até que enfim achamos o lugar! Esta é a Ilha dos Juncos, se é que existe uma. E esta só pode ser a Casa dos Juncos, se é que ela existe mesmo. Acho que aquele homem gorducho com suíças era uma fada. – Talvez – comentou de forma imparcial Padre Brown. – Neste caso, era uma fada má. Mas antes mesmo de o padre terminar a frase, o impetuoso Flambeau já havia colocado o barco em direção à costa, nos juncos ruidosos, e os dois atracaram na ilhota longa e pitoresca ao lado da casa estranha e silenciosa. Ali onde se erguia, a casa tinha os fundos virados para o rio e sobre o único embarcadouro; a entrada principal ficava do outro lado, de frente para o comprido jardim da ilha. Os visitantes aproximaram-se, portanto, pelo pequeno caminho que rodeava os três lados da casa, bem próximo aos eirados baixos. Por três janelas diferentes, nos três lados distintos da casa, observaram ao mesmo tempo uma sala bemiluminada, decorada com painéis em madeira clara, com grande quantidade de espelhos e preparada para oferecer uma refeição elegante. A porta da frente, quando por fim chegaram a ela, era ladeada por dois jarros de flores azul-turquesa. A porta foi aberta por um mordomo do tipo mais sombrio – alto, magro, cinzento e apático. Ele murmurou que o príncipe Saradine não estava em casa, mas deveria chegar a qualquer momento; a casa havia sido preparada para ele e seus convidados. Ao perceber o cartão com a grafia em tinta verde, uma centelha de vida acendeu-se no rosto parvo do deprimido criado, e foi com certa cortesia vacilante que ele sugeriu aos forasteiros que entrassem. – Sua Alteza pode chegar a qualquer momento – disse – e não ficaria nada satisfeito se qualquer cavalheiro convidado fosse embora antes de ele chegar. Temos ordens de sempre deixar preparada uma refeição para ele e seus amigos, e tenho certeza de que ele gostaria de vê-la ser oferecida. Movido pela curiosidade dessa aventura paralela, Flambeau, educado, aceitou e acompanhou o velho, que o conduziu de modo cerimonioso pela sala comprida, decorada com discrição. Não havia nada de muito extraordinário nela, exceto a alternância nada comum de inúmeras janelas compridas e baixas com inúmeros espelhos oblongos, compridos e baixos, que davam ao ambiente uma singular atmosfera de leveza e inconstância. Era como ter uma refeição a céu aberto. Dois quadros de estilo plácido estavam pendurados nas extremidades da sala: um era a fotografia grande e cinza de um homem muito jovem, trajando um uniforme; o outro era um esboço em giz vermelho de dois garotos cabeludos. Perguntado por Flambeau se a pessoa de uniforme era o príncipe, o mordomo respondeu um breve não. Era o irmão mais novo do príncipe, capitão Stephen Saradine, disse ele. Dito isso, o velho homem pareceu calar-se repentinamente e perder todo o gosto pela conversa. Após a refeição ser encerrada com café e licores finos, os convidados foram levados para conhecer o jardim, a biblioteca e a governanta – uma senhora de tez escura, bonita, de porte notável, mais semelhante a uma madona diabólica. Parecia que ela e o mordomo eram os únicos sobreviventes da reserva estrangeira original do príncipe; os demais empregados da casa eram novos e recrutados em Norfolk pela governanta. Esta última atendia pelo nome de sra. Anthony, mas falava com ligeiro sotaque italiano, e Flambeau não duvidava de que a sra. Anthony fosse a versão Norfolk de um nome mais latino. O sr. Paul, o mordomo, também tinha um leve ar estrangeiro, mas falava e portava-se de modo bastante inglês, algo comum entre os mais polidos serventes masculinos da nobreza cosmopolita. Por mais belo e único que fosse o local, pairava sobre ele uma peculiar tristeza luminosa. Ali as horas passavam como se fossem dias. Os aposentos compridos e com muitas janelas ficavam cheios da luz do dia, mas essa luz parecia morta. E, em meio a todos os ruídos secundários – as vozes das conversas, o tilintar dos copos ou as passadas dos empregados – era possível ouvir em todos os lados da casa o som melancólico do rio. – Tomamos a direção errada e viemos ao lugar errado – afirmou Padre Brown, olhando através da janela as plantas aquáticas cinza-esverdeadas e a chuva cor de prata. – Mas não importa. Às vezes uma pessoa pode fazer o bem sendo a pessoa certa no lugar errado. Padre Brown, embora em geral silencioso, era um homenzinho curiosamente simpático, e durante aquelas poucas mas intermináveis horas, ele, de forma inconsciente, mergulhou mais fundo nos segredos da Casa dos Juncos do que seu amigo profissional. Tinha aquela habilidade de fazer um silêncio amigável, tão essencial para a fofoca, e, falando não mais que uma palavra, conseguia arrancar dos recémconhecidos tudo o que seria impossível obter em quaisquer outras circunstâncias. O mordomo era de fato pouco comunicativo por natureza. Cultivava uma afeição delirante e quase animalesca pelo seu mestre, que, segundo ele, tinha sido muito maltratado. O principal ofensor parecia ter sido o irmão de sua Alteza, e a simples menção do seu nome era capaz de prolongar os maxilares do velho homem e enrugar seu nariz de papagaio em sinal de desprezo. O capitão Stephen era um imprestável e, ao que parecia, tinha extorquido seu bondoso irmão às centenas e aos milhares; tinha-o forçado a deixar uma vida elegante para viver naquele refúgio, sem chamar a atenção. Isso era tudo o que Paul, o mordomo, diria, e Paul era, sem dúvida, parcial. A governanta italiana era um pouco mais comunicativa, porque, segundo a imaginação de Brown, estava menos satisfeita. O tom dela em relação ao mestre era um pouco ácido, não sem algum temor. Flambeau e seu amigo estavam na sala dos espelhos examinando o desenho vermelho dos dois garotos, quando a governanta entrou célere para cumprir alguma tarefa doméstica. Era uma peculiaridade daquele lugar cintilante e espelhado refletir qualquer pessoa que entrasse em quatro ou cinco espelhos de uma vez; e Padre Brown, sem se virar para trás, parou no meio de uma frase de crítica familiar. Mas Flambeau, com o rosto próximo ao quadro, já falava num tom alto: – Os irmãos Saradine, suponho. Os dois parecem bem inocentes. Seria difícil dizer qual é o irmão bom e qual o mau. Em seguida, percebendo a presença da senhora, mudou a conversa para algo trivial e foi passear no jardim. Mas Padre Brown não tirava os olhos do desenho vermelho em lápis de cera; e a sra. Anthony não tirava os olhos de Padre Brown. Os olhos castanhos de sra. Anthony eram grandes e trágicos, e seu rosto moreno resplandecia, escuro, com um assombro curioso e pungente – como alguém que desconfia da identidade ou das intenções de um estranho. Seja porque a batina e o credo daquele pequenino padre tocassem em algumas memórias de confissão sulistas ou porque imaginasse que ele sabia mais do que aparentava, ela disse a ele em voz baixa, como para um parceiro de conspiração: – Por um lado, ele está certo, o seu amigo. Ele disse que seria muito difícil reconhecer o irmão bom e o ruim. Ah, seria difícil, seria muito difícil mesmo reconhecer qual é o bom. – Não compreendo – disse Padre Brown, e foi se afastando para sair do salão.
A mulher deu um passo na direção dele, com as sobrancelhas arqueadas e um tipo de andar encurvado e selvagem, como um touro baixando os chifres. – Não há um que seja bom – ela cochichou. – Havia maldade suficiente no capitão para pegar todo aquele dinheiro, mas não acho que houvesse muita bondade no príncipe ao entregar o dinheiro. O capitão não é o único que tem queixas contra ele. Uma luz acendeu-se no rosto fugidio do clérigo, e sua boca pronunciou em silêncio a palavra “chantagem”. Na mesma hora, a mulher inclinou o rosto de súbito empalidecido sobre o próprio ombro e quase caiu. A porta havia se aberto sem fazer barulho, e Paul, lívido, aparecera como um fantasma na soleira. Devido ao efeito esquisito das paredes espelhadas, parecia que cinco Pauls tinham entrado por cinco portas ao mesmo tempo. – Sua Alteza – anunciou – acabou de chegar. No mesmo instante, vislumbrou-se o vulto de um homem do lado de fora da primeira janela, passando pela vidraça, cheio de brilho como um artista iluminado. No instante seguinte, ele passou pela segunda janela, e os diversos espelhos refletiram em instantâneos sucessivos o mesmo perfil de águia e o vulto em marcha. Altivo e ágil, mas de cabelo branco e semblante de um esquisito amarelo-marfim. Tinha aquele narizinho romano e curvo que via de regra vem acompanhado de bochechas e queixo compridos e magros, mas meio disfarçados por bigode e barba à moda de Napoleão III. O bigode era bem mais escuro que a barba, provocando um efeito um tanto teatral, e ele estava vestido nesse mesmo estilo, portando cartola branca, orquídea na lapela, colete bege e luvas da mesma cor, que ele ia balançando e batendo enquanto caminhava. Quando chegou à porta da frente, ouviram o rígido Paul abri-la e escutaram o recém-chegado dizer com animação: – Bem, como pode ver, aqui estou. O severo sr. Paul inclinou-se e respondeu do seu modo inaudível; por um tempinho, a conversa deles não pôde ser ouvida. Em seguida, o mordomo disse: – Está tudo à sua disposição. E o príncipe Saradine, sacudindo as luvas, entrou alegremente no recinto para cumprimentá-los. Contemplaram outra vez aquela cena ilusória: cinco príncipes entrando na sala de cinco portas. O príncipe depositou a cartola branca e as luvas beges em cima da mesa e estendeu a mão com cordialidade. – Encantado em vê-lo aqui, sr. Flambeau – disse. – Conheço-o muito bem pela sua reputação, se esse não for um comentário indiscreto. – De modo algum – respondeu Flambeau rindo. – Não sou sensível. Pouquíssimas reputações são conquistadas por uma virtude intocada. O príncipe lançou um olhar rápido a Flambeau para ver se a resposta continha alguma indireta pessoal; em seguida, sorriu outra vez e ofereceu cadeiras para todos, inclusive para ele próprio. – Lugarzinho prazeroso este – disse com um ar de desprendimento. – Não há muito a fazer, infelizmente. Mas a pesca é muito boa. O padre, que o encarava com os olhos abertos e enormes de uma criança, estava espantado por algum detalhe que escapava à definição. Mirou o cabelo grisalho e encaracolado de forma cuidadosa, o semblante branco e amarelado, a silhueta magra e um tanto afetada. Nada disso era excepcional, mas havia nele algo camuflado, como a sombra de uma figura atrás das ribaltas. O interesse inominável jazia em algo mais, um detalhe na composição do rosto; Brown estava atormentado por uma lembrança vaga de já tê-lo visto em algum lugar. O homem parecia um velho amigo vestido para o palco. De repente, lembrou dos espelhos e dirigiu sua imaginação para algum efeito psicológico daquela multiplicação de máscaras humanas. O príncipe Saradine distribuía sua atenção entre os convidados com grande alegria e destreza. Ao perceber que o detetive estava num momento esportivo, e ansioso por aproveitar as férias, guiou Flambeau e seu barco para o melhor local de pesca do rio. Em vinte minutos, Saradine estava de volta em sua própria canoa para encontrar-se com Padre Brown na biblioteca e mergulhar, com a mesma polidez, nos maiores prazeres filosóficos do padre. Parecia saber muito, tanto em relação à pesca quanto aos livros, embora livros não muito edificantes; falava cinco ou seis línguas, mas sobretudo as gírias de cada uma. Tinha morado em várias cidades, claro, e em muitas sociedades diferentes, por isso boa parte de suas histórias mais animadas era sobre jogos de azar, antros de ópio, australianos fora da lei escondidos nas selvas e bandidos italianos. Padre Brown sabia que o outrora celebrado Saradine tinha passado seus últimos anos em viagens quase sem fim, mas não teria imaginado que elas fossem tão inacreditáveis ou tão divertidas. De fato, com toda a sua distinção de homem cosmopolita, o príncipe Saradine irradiava, para observadores tão sensíveis como o padre, certa atmosfera de agitação e até mesmo desconfiança. O rosto delicado, de olhos selvagens, apresentava pequenos tiques nervosos, como um homem trêmulo em consequência da bebida e de drogas; e ele não tinha, nem alegava ter, qualquer participação no gerenciamento das questões domésticas. Isso ficava nas mãos dos dois velhos serventes, sobretudo o mordomo, claramente o pilar central da casa. O sr. Paul, de fato menos mordomo e mais coordenador ou até mesmo ministro da casa de um nobre, fazia suas refeições a sós e quase com a mesma pompa que seu mestre; era temido por todos serviçais e se dirigia ao príncipe com decoro, mas determinação – como se fosse o representante do príncipe. A lúgubre governanta era uma simples sombra em comparação a ele; de fato, ela parecia se anular e esperar unicamente pelo mordomo, e Brown não ouviu mais daqueles cochichos vulcânicos que lhe contaram, em parte, sobre o irmão caçula chantagear o mais velho. Se o príncipe estava mesmo sendo extorquido pelo capitão ausente, Padre Brown não podia ter certeza, mas havia algo inseguro e sigiloso sobre Saradine que, sem dúvida, tornava a história plausível. Quando entraram mais uma vez no salão comprido com janelas e espelhos, um entardecer amarelado caía sobre as águas e as margens delgadas, e um socó cantava à distância, como um elfo sobre seu pequenino tambor. O mesmo sentimento peculiar, de uma terra encantada, triste e ruim, passou pela mente do padre outra vez, como uma pequena nuvem cinzenta. – Queria que Flambeau já estivesse de volta – resmungou entredentes. – Acredita em destino? – perguntou de repente o inquieto príncipe Saradine. – Não – respondeu o convidado. – Acredito no dia do juízo final. O príncipe virou-se da janela e encarou-o de um modo estranho, o rosto ofuscado pelo pôr do sol. – O que quer dizer? – Quero dizer que estamos aqui do lado errado da trama – respondeu Padre Brown. – As coisas que acontecem aqui parecem não significar nada; elas denotam algo em outra parte. Em outro lugar, a punição virá para o verdadeiro infrator. Aqui ela sempre parece cair na pessoa errada. O príncipe fez um barulho inexplicável, semelhante ao de um animal; em seu rosto sombreado, os olhos faiscavam de forma esquisita. Um pensamento novo e perspicaz explodiu em silêncio na mente do clérigo. Haveria um significado distinto na mistura de brilhantismo e rudeza de Saradine? Seria o príncipe... seria ele perfeitamente são? Ele estava repetindo “A pessoa errada... a pessoa errada” com exagerada persistência para uma exclamação convencional. Em seguida, Padre Brown despertou com certo atraso para uma segunda verdade. Nos espelhos diante dele, pôde ver a porta silenciosa ainda aberta e o taciturno sr. Paul ali parado, com a usual apatia macilenta. – Acho que é melhor contar logo – anunciou, com a mesma deferência seca de um velho advogado da família. – Um barco remado por seis homens veio até o embarcadouro com um cavalheiro sentado à popa. – Um barco! – repetiu o príncipe. – Um cavalheiro? – E ele se levantou. Houve um silêncio alarmante, interrompido apenas pelo som esquisito da ave na planta aquática, e, depois, antes que alguém pudesse falar, um novo rosto e uma nova silhueta passaram de perfil pelas três janelas claras, assim como o príncipe havia passado uma ou duas horas antes. Mas, exceto pelo nariz adunco, as duas silhuetas pouco tinham em comum. Ao invés da moderna cartola branca de Saradine, um chapéu preto de estilo antiquado ou estrangeiro; embaixo dele, um rosto jovem e muito solene, bem barbeado, queixo azulado resoluto que sugeria, de leve, Napoleão jovem. A associação era respaldada por algo anacrônico e esquisito presente em todo o traje, semelhante à roupa de um homem que nunca se preocupou em mudar de estilo desde a época de seu pai. Trajava um fraque azul puído, um colete vermelho que parecia fazer parte de um uniforme militar e um tipo de calça branca, comum durante a época vitoriana, mas pouco compatível com os dias atuais. De todo aquele antigo brechó, o rosto moreno distinguia-se pela estranha jovialidade e espantosa franqueza. – Diabos! – disse o príncipe Saradine. E, batendo na cartola branca, foi em direção à porta da frente, escancarando-a para o jardim do pôr do sol. Neste momento, o recém-chegado e seus acompanhantes estavam dispostos no gramado como se formassem um pequeno exército em cena. Os seis homens tinham ancorado o barco bem próximo à margem e protegiam-no de forma quase ameaçadora, mantendo os remos erguidos como espadas. Eram mestiços, e alguns usavam brincos. Mas um deles estava à frente, ao lado do jovem de rosto moreno e colete vermelho, carregando uma grande mala preta de formato pouco usual. – Seu nome – perguntou o jovem – é Saradine? Saradine fez que sim com a cabeça, com ar negligente. O recém-chegado tinha olhos castanhos opacos, semelhantes aos de um cachorro, o oposto simétrico dos olhos acinzentados, inquietos e brilhantes do príncipe. Mais uma vez, Padre Brown foi acometido de uma sensação de já ter visto noutro lugar uma cópia daquele rosto; e, de novo, lembrou-se das repetições do salão adornado de espelhos e relacionou a coincidência a isso. – Maldito palácio de cristal! – murmurou com seus botões. – A gente vê tudo muitas vezes. É como um sonho. – Se o senhor é o príncipe Saradine – disse o jovem –, posso lhe dizer que meu nome é Antonelli. – Antonelli – repetiu o príncipe, pensativo. – Esse nome não me é estranho. – Permita-me que me apresente – disse o jovem italiano. Com a mão esquerda, retirou de forma educada o chapéu antiquado; com a direita, acertou uma bofetada tão sonora na cara do príncipe Saradine que a cartola branca rolou pelos degraus e um dos jarros azuis de flores chegou a balançar no pedestal. O príncipe podia ser o que fosse, menos um covarde; pulou na garganta do inimigo e quase o derrubou de costas na grama. Mas o inimigo livrou-se com um ar particularmente inapropriado de apressada polidez. – Está tudo bem – disse, com a respiração irregular e em inglês vacilante. – Eu cometi uma ofensa. Agora vou me justificar. Marco, abra a mala. O homem de brincos ao seu lado, com a grande mala preta, começou a destravála. Retirou duas espadas italianas compridas, com lâminas e punhos de aço esplêndidos, e enfiou-as no gramado. O estranho jovem continuava encarando a entrada com seu rosto amarelo e vingativo, as duas espadas fincadas na grama, como duas cruzes no cemitério, e ao fundo, os remadores enfileirados davam a impressão esquisita de compor uma bárbara corte de justiça. Mas tudo o mais estava do mesmo jeito, tão repentina tinha sido a interrupção. O ouro do pôr do sol ainda resplandecia na grama, e o socó ainda sibilava como se anunciasse algum acontecimento próximo mas terrível. – Príncipe Saradine – disse o homem chamado Antonelli –, quando eu ainda era uma criança no berço, o senhor matou o meu pai e roubou a minha mãe; meu pai teve mais sorte. Mas o senhor não o matou de forma justa, como vou lhe matar. O senhor e minha mãe imoral o levaram para uma remota passagem entre as montanhas da Sicília, o atiraram de um penhasco e seguiram adiante. Eu poderia imitá-lo se quisesse, mas isso é muito vil. Tenho lhe perseguido pelo mundo todo. Mas o senhor sempre fugiu de mim. No entanto, aqui é o fim do mundo... e o seu fim. O senhor está em minhas mãos e lhe dou a chance que não foi dada a meu pai. Escolha uma das espadas. Príncipe Saradine, com as sobrancelhas contraídas, pareceu hesitar por um momento, mas seus ouvidos ainda zumbiam com o ruído da bofetada; por fim ele saltou à frente e agarrou um dos cabos. Padre Brown também tinha dado um pulo adiante, tentando apaziguar a disputa, mas logo percebeu que sua presença piorava a situação. Saradine era um maçom francês e ateu convicto, e um padre aborrecia-lhe ao invés de lhe enternecer. E quanto ao outro homem, nem um padre nem um laico seriam capazes de comovê-lo. Aquele jovem com rosto de Bonaparte e olhos castanhos era algo muito mais grave do que um puritano – era um pagão. Era um assassino brutal dos primórdios da Terra; um homem da Idade da Pedra – um homem das cavernas. Uma esperança permanecia – os empregados, e Padre Brown correu de volta para dentro da casa. Contudo, descobriu que todos os serviçais estavam de folga, concedida pelo autoritário Paul, e apenas a sombria sra. Anthony movia-se inquieta pelos aposentos. Mas, no momento em que ela virou o rosto abatido na direção do padre, ele solucionou um dos enigmas da casa de espelhos. Os olhos castanhos e trágicos de Antonelli eram os olhos castanhos e trágicos da sra. Anthony; e Brown, num lampejo, visualizou metade da história. – Seu filho está lá fora – disse sem medir as palavras. – Ou ele ou o príncipe será morto. Onde está o sr. Paul? – No embarcadouro – disse a mulher sem ânimo. – Ele está... está... sinalizando para pedir ajuda. – Sra. Anthony – disse Padre Brown com seriedade –, não há tempo para conversa fiada. Meu amigo está pescando com o barco no meio do rio. O barco do seu filho está guardado pelos homens dele. Há apenas uma única canoa; o que o sr. Paul está fazendo com ela? – Santa Maria! Não sei... – disse ela, desmaiando esticada no piso coberto de esteiras. Padre Brown colocou-a no sofá, derramou um jarro de água sobre ela, gritou por socorro e depois correu para o embarcadouro da ilhota. Mas a canoa já estava no meio da corrente, e o velho Paul remava rio acima com uma energia inacreditável para alguém da sua idade. – Vou salvar o meu mestre – gritou com os olhos faiscando de forma maníaca. – Vou salvá-lo! Padre Brown não podia fazer nada, a não ser olhar de modo fixo para o barco que se movia com dificuldade na corrente e rezar para que o velho homem conseguisse despertar a cidadezinha a tempo. – Um duelo já é ruim o bastante – murmurou, passando a mão no seu cabelo áspero e castanho-claro –, mas tem algo de errado nesse duelo, além do fato de ser um duelo. Sinto isso dentro de mim: mas o que será? Enquanto permanecia olhando para a água – espelho ondulante do pôr do sol –, ouviu do outro lado do jardim da ilha um som baixo mas inconfundível: a fria concussão do aço. Virou a cabeça. Longe, no cabo mais distante ou na ponta da ilhota comprida, na faixa de grama atrás da última fileira de rosas, os duelistas já tinham cruzado espadas. O entardecer sobre eles era um domo de ouro virgem, e, na distância em que estavam, cada detalhe era perceptível. Haviam tirado os casacos, mas tanto o colete amarelo e o cabelo branco de Saradine quanto o colete vermelho e a calça branca de Antonelli brilhavam na luz, lembrando as cores das bonecas dançarinas de corda. As duas espadas faiscavam da ponta ao punho como dois diamantes. Havia algo de espantoso nas duas silhuetas, que pareciam tão pequenas e tão empolgadas. Aparentavam ser duas borboletas, uma tentando alfinetar a outra em uma cortiça. Padre Brown correu o mais rápido que pôde, as pernas curtas girando como rodas. Mas, quando chegou ao local do combate, descobriu que chegara muito tarde e muito cedo – tarde demais para deter o conflito sob a sombra dos rústicos sicilianos apoiados em seus remos e cedo demais para prever qualquer aspecto desastroso do duelo. Os dois homens estavam bastante equilibrados, o príncipe utilizando sua habilidade com certa confiança petulante, e o siciliano utilizando a sua com um cuidado homicida. Poucas pelejas de esgrima vistas em anfiteatros lotados foram mais perfeitas que essa, que tilintava e faiscava naquela ilha esquecida no rio dos juncos. A luta vertiginosa estava tão equilibrada que a esperança começou a reviver no padre contrariado; tudo indicava que Paul deveria voltar em breve com a polícia. Já seria um conforto se Flambeau voltasse de sua pesca, pois, fisicamente falando, ele equivalia a quatro homens. Mas não havia nem sinal dele e, o mais intrigante, nem sinal de Paul e da polícia. Nenhum outro bote ou remo tinha sido deixado boiando; naquela ilha perdida, no meio daquela piscina vasta e sem nome, eles estavam isolados como um rochedo no Pacífico. Quase ao mesmo tempo em que ele teve esse pensamento, o toque das espadas acelerou o som estridente, os braços do príncipe tremularam, e a ponta lhe acertou bem atrás, entre as omoplatas. Desabou num grande movimento giratório, como alguém que se prepara para plantar bananeira. A espada lhe voou da mão como uma estrela cadente e mergulhou no rio ao longe. E ele próprio afundou com tanta força no chão que despedaçou uma grande roseira com o corpo e levantou uma nuvem vermelha de terra no ar – semelhante à fumaça de um sacrifício pagão. O siciliano fizera uma oferenda de sangue ao espírito do pai. Ato contínuo, o padre ajoelhou-se ao lado do cadáver, mas apenas para ter a certeza de que era mesmo um cadáver. Quando ainda tentava os últimos testes inúteis, escutou pela primeira vez rumores vindos de algum lugar distante no rio e avistou um barco da polícia acelerar na direção do embarcadouro, com guardas e outras pessoas importantes, incluindo o agitado Paul. O padre levantou-se com uma careta confusa. – Só agora! Por que cargas d’água – resmungou – ele não veio antes? Cerca de sete minutos depois, a ilha estava ocupada por uma invasão de nativos e da polícia, a qual colocou as mãos no vencedor do duelo, relembrando-o, como manda o ritual, que qualquer coisa que dissesse poderia ser usada contra ele. – Não vou dizer nada – disse o maníaco com um rosto deslumbrado e pacífico. – Nunca mais direi nada. Estou muito feliz e quero apenas ser enforcado. Em seguida, ele se calou quando o guiaram, e, embora seja estranho, é a mais pura verdade que nunca mais abriu a boca neste mundo, exceto para dizer “Culpado!” em seu julgamento. Padre Brown acompanhou com atenção o jardim subitamente lotado, a prisão do homem sanguinário e o carregamento do corpo após a verificação do médico, como alguém que observa o final de um sonho horrível. Estava imóvel, como um homem num pesadelo. Informou nome e endereço para servir de testemunha, mas recusou a oferta que lhe fizeram de um barco e permaneceu sozinho no jardim da ilha, mirando fixamente a roseira quebrada e todo o teatro verde daquela tragédia breve e inexplicável. A luz morreu ao longo do rio; a neblina surgiu nos bancos pantanosos; e uns poucos pássaros tardios passaram voando, velozes. Gravada de forma inexorável em sua subconsciência (de um vigor fora do comum) estava uma certeza terrível de que ainda havia algo a ser esclarecido. A sensação que o havia perseguido o dia todo não podia ser explicada apenas pela sua intuição sobre a “terra dos espelhos”. De algum modo, ele não tinha visto a história verdadeira, mas algum jogo ou farsa. Embora admitisse que ninguém acaba enforcado nem trespassado por uma lâmina só pelo prazer de criar uma charada. Quando sentou pensativo nos degraus do embarcadouro, percebeu o pano de uma vela alta e escura descendo em silêncio o rio brilhante e deu um salto, possuído de tão súbita emoção que quase chorou. – Flambeau! – gritou e sacudiu o amigo com ambas as mãos repetidas vezes, o suficiente para provocar espanto daquele homem esportivo, assim que colocou o pé na margem com a vara de pesca nas costas. – Flambeau – exclamou –, então você não está morto? – Morto?! – repetiu o pescador com grande assombro. – E por que eu haveria de estar morto? – Ah, porque quase todo mundo está – disse o seu amigo de modo agitado. – Saradine foi assassinado, Antonelli quer ser enforcado, a mãe dele desmaiou e eu, por fim, não sei se estou neste mundo ou no outro. Mas, graças a Deus, você está ao meu lado. – E tomou o braço do desnorteado Flambeau. Quando voltaram ao embarcadouro, passaram embaixo dos beirais da casa de bambu e olharam para dentro de uma das janelas, como haviam feito na primeira vez que chegaram. Observaram o interior iluminado por lâmpadas, bem calculado para deter seus olhares. A mesa na ampla sala de jantar tinha sido preparada para a ceia quando o destruidor de Saradine caíra como uma tempestade na ilha. A janta estava agora em plácido progresso, com a sra. Anthony sentada um tanto mal-humorada a uma extremidade da mesa, enquanto à cabeceira o sr. Paul, o mordomo, comia e bebia do bom e do melhor, o olhar turvo e azulado estranhamente distantes, o semblante esquelético inescrutável, mas de modo nenhum desprovido de satisfação. Com um gesto irritado de impaciência, Flambeau bateu na janela, provocando um barulho estridente, abriu-a e colocou a cabeça enraivecida dentro da sala iluminada. – Bem – gritou –, imagino que o senhor deve estar precisando de uns comes e bebes, mas daí a roubar o jantar do seu mestre enquanto ele está estirado morto no jardim... – Já roubei muitas coisas numa vida longa e prazerosa – rebateu com calma o velho e estranho cavalheiro. – Este jantar é uma das poucas coisas que não roubei. Acontece que este jantar, esta casa e este jardim me pertencem. Um pensamento passou como um raio pelo rosto de Flambeau. – Quer dizer que – começou ele – o testamento do príncipe Saradine... – Eu sou o príncipe Saradine – disse o velho mastigando uma amêndoa salgada. Padre Brown, distraído olhando os pássaros lá fora, deu um pulo como se tivesse sido alvejado por um tiro e enfiou na janela o rosto pálido como um nabo. – O senhor é quem? – repetiu num tom de voz agudo. – Paul, príncipe Saradine, à vos ordres – disse aquela pessoa venerável de forma polida, levantando um copo de xerez. – Vivo aqui muito tranquilo, sendo um tipo de administrador do lar, e por modéstia me deixo chamar de sr. Paul para me diferenciar do meu irmão azarento, o sr. Stephen. Ele morreu, ouvi dizer, recentemente... no jardim. Claro, não é culpa minha se os inimigos vieram até aqui buscá-lo. É devido à lamentável irregularidade de sua vida. Não era um tipo dedicado à família. Voltou a cair em silêncio e continuou a encarar o muro em frente, logo acima da cabeça da mulher submissa e lúgubre. Perceberam com clareza a semelhança familiar que os tinha assustado no homem morto. Em seguida, os velhos ombros do sr. Paul começaram a sacudir um pouco, como se tivesse se engasgado, mas seu rosto não tinha se alterado. – Meu Deus! – gritou Flambeau depois de uma pausa. – Ele está rindo! – Vamos embora – disse Padre Brown, branco como papel. – Vamos embora desta casa dos infernos. Vamos entrar de novo num barco honesto. A noite tinha caído sobre os juncos e o rio quando eles saíram da ilha e seguiram rio abaixo no escuro, aquecendo-se com dois grandes charutos que brilhavam como lanternas vermelhas de navios. Padre Brown tirou o charuto da boca e disse: – Suponho que você seja capaz de adivinhar a história toda agora? Afinal de contas, é uma história elementar. Um homem tinha dois inimigos. Era um homem perspicaz. E então descobriu que dois inimigos são melhores que um. – Não consigo acompanhar – respondeu Flambeau. – Ah, é muito simples – retorquiu seu amigo. – Simples, embora seja tudo, menos inocente. Os dois Saradines eram vilões, mas o príncipe, o mais velho, era do tipo de vilão que chega ao topo, e o mais jovem, o capitão, era do tipo que afunda. Esse oficial esquálido passou de pedinte a chantagista e, num dia horrível, conseguiu pegar o irmão, o príncipe. Óbvio que não foi por nenhum motivo à toa, pois o príncipe Paul Saradine era, de certo modo, um “perdulário”, além de não ter reputação alguma a perder, apenas os meros pecados da vida em sociedade. De fato, foi uma questão de forca, e Stephen literalmente tinha uma corda ao redor do pescoço do irmão. Tinha de alguma forma descoberto a verdade sobre o caso siciliano e podia provar que Paul assassinara o velho Antonelli nas montanhas. O capitão se esbaldou com o dinheiro sujo durante dez anos, até que mesmo a majestosa fortuna do príncipe começou a parecer bobagem. “Mas o príncipe Saradine carregava outro fardo além do seu irmão aproveitador. Sabia que o filho de Antonelli, apenas uma criança na época do assassinato, tinha sido treinado em brutal lealdade siciliana e vivia apenas para vingar o pai, não com a forca (pois não tinha as provas legais de Stephen), mas com as antigas armas da vendeta. O garoto manejava as armas com perfeição mortal, e, quando já estava com a idade adequada para usá-las, o príncipe Saradine deu início, como disseram os jornais da época, às suas viagens. O fato é que ele começou a fugir para continuar vivo, indo de um lugar para outro como um criminoso procurado, mas tinha um homem incansável no seu rastro. Essa era a situação do príncipe Saradine, e, sejamos sinceros, a situação não era nada boa. Quanto mais dinheiro gastava para escapar de Antonelli, menos tinha para silenciar Stephen. Quanto mais dinheiro dava para silenciar Stephen, diminuíam as chances de finalmente escapar de Antonelli. E foi aí que ele se mostrou um grande homem, um gênio, semelhante a Napoleão. “Em vez de resistir aos seus dois inimigos, ele se rendeu repentinamente a ambos. Rendeu-se como um lutador japonês de sumô, e os inimigos caíram prostrados diante dele. Desistiu da corrida ao redor do mundo, cedeu seu endereço ao jovem Antonelli e depois passou tudo para o irmão. Enviou para Stephen dinheiro suficiente para roupas novas e uma passagem, com apenas uma carta dizendo de forma direta: ‘Isto é tudo que me restou. Você me deixou sem reservas. Continuo tendo uma casa em Norfolk, com serventes e uma adega, e, se você quiser o que restou de mim, deve vir buscar. Se quiser, venha tomar posse da casa, e eu viverei aqui de forma tranquila como seu amigo ou subordinado ou qualquer outra coisa.’ Ele sabia que o siciliano nunca tinha visto os irmãos Saradine, a não ser, talvez, em quadros; sabia que se pareciam de algum modo, e ambos tinham barbas grisalhas e pontudas. Em seguida, raspou a barba e esperou. A armadilha deu certo. O desafortunado capitão, com suas roupas novas, entrou na casa de modo triunfante como um príncipe e foi de encontro à espada do siciliano. “Houve um imprevisto, e um imprevisto em homenagem à natureza humana. Espíritos malignos como Saradine, de modo geral, cometem equívocos por nunca acreditarem nas virtudes da natureza humana. Tomou como certo que a tempestade italiana, quando chegasse, seria escura, violenta e anônima, como a tempestade que ele vingava; que a vítima seria esfaqueada à noite ou baleada atrás de uma cerca e então morreria sem pronunciar uma palavra. Foi um momento ruim para o príncipe Paul quando o cavalheirismo de Antonelli propôs um duelo formal, com todas as explicações possíveis. Foi então que eu o encontrei partindo em seu barco com olhos selvagens. Estava fugindo, sem escrúpulos, num barco, antes que Antonelli soubesse quem ele era. “Mas, por mais agitado que estivesse, ele não foi bobo. Conhecia o aventureiro e também o fanático. Era bem possível que Stephen, o aventureiro, segurasse a língua, pelo mero prazer histriônico em atuar, pela cobiça por atirar-se à morada nova e aconchegante, pela confiança tola na sorte e em sua boa esgrima. Era certo que Antonelli, o fanático, seguraria a língua e seria executado sem contar as histórias de sua família. Paul navegou pelo rio até saber que a luta havia terminado. Em seguida, foi até a cidade, trouxe a polícia, viu os dois inimigos vencidos serem levados para sempre e sentou-se para jantar sorrindo.” – Rindo, Deus que me perdoe! – disse Flambeau, sentindo um forte calafrio. – De onde eles tiram essas ideias? Do demônio? – Ele tirou essa ideia de você – respondeu o padre. – Deus me livre! – exclamou Flambeau. – De mim? O que quer dizer com isso? O padre tirou o cartão de visitas do bolso e ergueu-o na luz fraca do seu charuto; estava escrito com tinta verde. – Não lembra do convite original que ele enviou para você? E os parabéns pela sua proeza criminosa? Lembra quando ele disse: “Aquela sua armadilha de pegar um detetive para prender o outro”? Ele simplesmente copiou a sua jogada. Com um inimigo de cada lado, ele saiu do caminho de fininho e bem rápido e deixou os dois se encontrarem e matarem um ao outro. Flambeau arrancou das mãos do padre o cartão do príncipe Saradine e de repente rasgou-o em pedacinhos. – Essa foi a última daquele cadavérico – disse, enquanto espalhava os pedaços de papel nas ondas escuras e efêmeras do rio –, mas ainda é capaz de isso aqui envenenar os peixes. O último vestígio do cartão branco com a tinta verde submergiu no escuro; uma cor clara e vibrante como a da manhã mudou o céu, e a lua atrás da mata empalideceu. Seguiram o curso do rio em silêncio. – Padre – disse Flambeau de repente –, não acha que tudo não passou de um sonho? O padre balançou a cabeça, por divergência ou ceticismo, e permaneceu calado. Um cheiro de espinheiro e de pomar chegou até eles na escuridão, avisando que um vento estava a caminho; no momento seguinte o vento balançou o pequeno barco, inflou a vela e os conduziu pelo rio sinuoso para lugares mais felizes e para casas de homens inofensivos.
Quando Flambeau tirou o mês de férias do seu escritório em Westminster, ele o tirou num pequeno barco à vela, tão pequeno que passava a maior parte do tempo como um barco a remo. Além disso, desfrutou esse mês de férias em riozinhos nos condados do leste, rios tão pequenos que o barco parecia mágico, velejando pela terra através de campinas e trigais. A embarcação era confortável só para duas pessoas. Havia espaço apenas para o necessário, e Flambeau o tinha preenchido com coisas dessa natureza, de acordo com o que a sua peculiar filosofia considerava necessário. Ao que parece, elas se reduziam a quatro coisas essenciais: latas de salmão, caso quisesse comer; revólveres carregados, em caso de briga; uma garrafa de conhaque, supondo a hipótese de um desmaio; e um padre, considerando a possibilidade de ele morrer. Levando essa bagagem leve, ele se arrastava pelos pequenos rios de Norfolk, com a pretensão de chegar até a planície, mas, enquanto isso, deleitava-se nas campinas e nos jardins salientes, nas mansões e vilas que se refletiam na água, demorando-se em pescarias nas piscinas e em lugares remotos e, de alguma forma, mantendo-se próximo à margem. Tal qual um verdadeiro filósofo, Flambeau não tinha um objetivo para suas férias, mas, sendo um filósofo autêntico, tinha uma desculpa. Uma espécie de meio propósito, levado tão a sério que o seu sucesso coroaria as férias, mas de modo tão despreocupado que o seu fracasso não as arruinaria. Anos antes, quando ele tinha sido um rei dos ladrões e a personagem mais famosa de Paris, recebera com frequência mensagens de aprovação, de denúncia e até de amor. Mas, entre todos, jamais esquecera um deles. Consistia apenas em um cartão de visitas dentro de um envelope com um carimbo inglês. No verso do cartão estava escrito em francês, em tinta verde: Se o senhor se aposentar algum dia e se tornar respeitável, venha ter comigo. Quero conhecê-lo, assim como tenho feito com todos os outros grandes homens do meu tempo. Aquela sua armadilha de pegar um detetive para prender o outro foi a cena mais esplêndida da história da França. Na frente do cartão estava gravado, em estilo formal: Príncipe Saradine, Casa dos Juncos, Ilha dos Juncos, Norfolk. Ele não perdera muito tempo com o príncipe na época, a não ser averiguando que tinha sido um líder brilhante e alinhado à Itália sulista. Dizia-se que em sua juventude fugira com uma mulher casada da alta sociedade. A fuga foi pouco surpreendente em seu meio social, mas ficou gravada na mente dos homens por causa de uma tragédia adicional: o provável suicídio do marido insultado, que segundo consta se jogara de um precipício na Sicília. O príncipe, então, morou em Viena por um tempo, mas parece ter passado os últimos anos em perenes e incansáveis viagens. Porém, quando Flambeau, assim como fez o próprio príncipe, deixou a celebridade europeia e se fixou na Inglaterra, ocorreu-lhe fazer uma visita-surpresa ao ilustre exilado na planície de Norfolk. Não tinha certeza se conseguiria encontrar o local, que, como se verificou, era bem pequeno e despercebido. Todavia, como será visto, ele o encontrou mais cedo do que esperava. Certa noite, ancoraram o barco numa margem coberta por grama alta e árvores pequenas, de galhos podados para não avançarem sobre a água. O sono, após uma remada vigorosa, chegou cedo para eles, e por esse mesmo motivo acordaram antes de o dia clarear. Para ser mais exato, acordaram antes do amanhecer, porque uma lua grande e amarelada se escondia acima de suas cabeças na floresta de grama alta. O céu era de um intenso azul-violeta noturno, mas luminoso. Os dois homens, ao mesmo tempo, tiveram uma recordação de infância, da época aventureira e travessa em que ervas daninhas fantásticas se fecham sobre a gente como bosques. Em pé, de frente para a lua enorme e baixa, as margaridas pareciam mesmo gigantes, e os dentes-deleão, abissais. De algum modo, aquilo lhes trouxe à memória uma faixa de papel de parede de uma creche. A encosta do rio era suficiente para afundá-los nas raízes de todos os arbustos e flores e fazê-los olhar de modo fixo para a grama. – Meu Deus! – disse Flambeau. – É como estar numa terra encantada. Padre Brown sentou-se reto no barco e fez o sinal da cruz. O movimento dele foi tão brusco que seu amigo perguntou, com um olhar suave, qual era o problema. – As pessoas que escreveram os poemas medievais – respondeu o padre – sabiam mais sobre criaturas mágicas do que você. Não acontecem só coisas boas em terras encantadas. – Ora, que insanidade! – comentou Flambeau. – Só coisas boas poderiam acontecer sob uma lua inocente como esta. Estou pronto para seguir adiante e ver o que realmente tem por aí. Teremos morrido e apodrecido antes de ver uma lua destas ou uma cena destas outra vez. – Está bem – consentiu Padre Brown. – Nunca disse que era sempre errado entrar numa terra encantada. Apenas falei que era sempre arriscado. Seguiram vagarosamente pelo rio iluminado; o violeta abrasador do céu e o pálido ouro da lua tornavam-se cada vez mais fracos até se desbotarem no cosmo vasto e incolor que precedia os tons da alvorada. Quando os primeiros raios, ainda fracos, de vermelho, dourado e cinza rasgaram o horizonte de um extremo ao outro, eles estavam parados pelo volume negro de uma cidade ou vila situada acima do rio logo à frente deles. Já havia bastante luz, e tudo em volta era visível, quando eles singraram sob os telhados e pontes levadiças dessa aldeia à margem do rio. As casas, com seus telhados longos, baixos e curvados, pareciam se inclinar para beber a água do rio, como um enorme gado cinza e vermelho. O amanhecer amplo e claro já se tornara luz do dia antes que eles vissem qualquer criatura viva nas pontes e no cais daquela cidade silenciosa. Por fim, avistaram um homem bastante sereno e rechonchudo, em mangas de camisa, com um rosto tão redondo quanto a lua recém-submersa e com resquícios de suíças ruivas emoldurando a metade inferior do rosto. Ele se apoiava num poste acima da corrente vagarosa. Por um impulso inexplicável, Flambeau levantou-se até onde foi possível no barco oscilante e gritou para o homem, perguntando-lhe se sabia onde é que ficava a Ilha dos Juncos ou a Casa dos Juncos. O sorriso do homem rechonchudo ficou um pouco maior, e ele apenas apontou para o rio em direção à próxima curva. Flambeau seguiu adiante sem dizer mais nada. O barco avançou pelas curvas do rio passando por diversos lugares inabitados e cobertos de grama e seguiu por várias partes estreitas e silenciosas cobertas de junco. Mas, antes que a busca se tornasse monótona, dobraram em um ângulo bastante agudo e deslizaram em direção ao silêncio de uma espécie de piscina ou lago, cuja visão os arrastou de modo instintivo. No meio daquela vasta porção de água cercada de juncos por todos os lados, encontrava-se uma ilhota comprida e plana, onde se erguia um chalé ou bangalô também comprido e plano, construído de bambu ou algum outro tipo resistente de vara tropical. Os colmos verticais de bambu sustentavam as paredes e eram de um amarelo desbotado; os colmos inclinados compunham o telhado e eram vermelho-escuros ou marrons. De resto, a casa comprida era uma coisa repetitiva e monótona. A brisa da tenra manhã agitava os juncos em volta da ilha e assobiava na casa canelada e estranha como se ela fosse uma gigantesca flauta de Pã. – Por Deus! – exclamou Flambeau. – Até que enfim achamos o lugar! Esta é a Ilha dos Juncos, se é que existe uma. E esta só pode ser a Casa dos Juncos, se é que ela existe mesmo. Acho que aquele homem gorducho com suíças era uma fada. – Talvez – comentou de forma imparcial Padre Brown. – Neste caso, era uma fada má. Mas antes mesmo de o padre terminar a frase, o impetuoso Flambeau já havia colocado o barco em direção à costa, nos juncos ruidosos, e os dois atracaram na ilhota longa e pitoresca ao lado da casa estranha e silenciosa. Ali onde se erguia, a casa tinha os fundos virados para o rio e sobre o único embarcadouro; a entrada principal ficava do outro lado, de frente para o comprido jardim da ilha. Os visitantes aproximaram-se, portanto, pelo pequeno caminho que rodeava os três lados da casa, bem próximo aos eirados baixos. Por três janelas diferentes, nos três lados distintos da casa, observaram ao mesmo tempo uma sala bemiluminada, decorada com painéis em madeira clara, com grande quantidade de espelhos e preparada para oferecer uma refeição elegante. A porta da frente, quando por fim chegaram a ela, era ladeada por dois jarros de flores azul-turquesa. A porta foi aberta por um mordomo do tipo mais sombrio – alto, magro, cinzento e apático. Ele murmurou que o príncipe Saradine não estava em casa, mas deveria chegar a qualquer momento; a casa havia sido preparada para ele e seus convidados. Ao perceber o cartão com a grafia em tinta verde, uma centelha de vida acendeu-se no rosto parvo do deprimido criado, e foi com certa cortesia vacilante que ele sugeriu aos forasteiros que entrassem. – Sua Alteza pode chegar a qualquer momento – disse – e não ficaria nada satisfeito se qualquer cavalheiro convidado fosse embora antes de ele chegar. Temos ordens de sempre deixar preparada uma refeição para ele e seus amigos, e tenho certeza de que ele gostaria de vê-la ser oferecida. Movido pela curiosidade dessa aventura paralela, Flambeau, educado, aceitou e acompanhou o velho, que o conduziu de modo cerimonioso pela sala comprida, decorada com discrição. Não havia nada de muito extraordinário nela, exceto a alternância nada comum de inúmeras janelas compridas e baixas com inúmeros espelhos oblongos, compridos e baixos, que davam ao ambiente uma singular atmosfera de leveza e inconstância. Era como ter uma refeição a céu aberto. Dois quadros de estilo plácido estavam pendurados nas extremidades da sala: um era a fotografia grande e cinza de um homem muito jovem, trajando um uniforme; o outro era um esboço em giz vermelho de dois garotos cabeludos. Perguntado por Flambeau se a pessoa de uniforme era o príncipe, o mordomo respondeu um breve não. Era o irmão mais novo do príncipe, capitão Stephen Saradine, disse ele. Dito isso, o velho homem pareceu calar-se repentinamente e perder todo o gosto pela conversa. Após a refeição ser encerrada com café e licores finos, os convidados foram levados para conhecer o jardim, a biblioteca e a governanta – uma senhora de tez escura, bonita, de porte notável, mais semelhante a uma madona diabólica. Parecia que ela e o mordomo eram os únicos sobreviventes da reserva estrangeira original do príncipe; os demais empregados da casa eram novos e recrutados em Norfolk pela governanta. Esta última atendia pelo nome de sra. Anthony, mas falava com ligeiro sotaque italiano, e Flambeau não duvidava de que a sra. Anthony fosse a versão Norfolk de um nome mais latino. O sr. Paul, o mordomo, também tinha um leve ar estrangeiro, mas falava e portava-se de modo bastante inglês, algo comum entre os mais polidos serventes masculinos da nobreza cosmopolita. Por mais belo e único que fosse o local, pairava sobre ele uma peculiar tristeza luminosa. Ali as horas passavam como se fossem dias. Os aposentos compridos e com muitas janelas ficavam cheios da luz do dia, mas essa luz parecia morta. E, em meio a todos os ruídos secundários – as vozes das conversas, o tilintar dos copos ou as passadas dos empregados – era possível ouvir em todos os lados da casa o som melancólico do rio. – Tomamos a direção errada e viemos ao lugar errado – afirmou Padre Brown, olhando através da janela as plantas aquáticas cinza-esverdeadas e a chuva cor de prata. – Mas não importa. Às vezes uma pessoa pode fazer o bem sendo a pessoa certa no lugar errado. Padre Brown, embora em geral silencioso, era um homenzinho curiosamente simpático, e durante aquelas poucas mas intermináveis horas, ele, de forma inconsciente, mergulhou mais fundo nos segredos da Casa dos Juncos do que seu amigo profissional. Tinha aquela habilidade de fazer um silêncio amigável, tão essencial para a fofoca, e, falando não mais que uma palavra, conseguia arrancar dos recémconhecidos tudo o que seria impossível obter em quaisquer outras circunstâncias. O mordomo era de fato pouco comunicativo por natureza. Cultivava uma afeição delirante e quase animalesca pelo seu mestre, que, segundo ele, tinha sido muito maltratado. O principal ofensor parecia ter sido o irmão de sua Alteza, e a simples menção do seu nome era capaz de prolongar os maxilares do velho homem e enrugar seu nariz de papagaio em sinal de desprezo. O capitão Stephen era um imprestável e, ao que parecia, tinha extorquido seu bondoso irmão às centenas e aos milhares; tinha-o forçado a deixar uma vida elegante para viver naquele refúgio, sem chamar a atenção. Isso era tudo o que Paul, o mordomo, diria, e Paul era, sem dúvida, parcial. A governanta italiana era um pouco mais comunicativa, porque, segundo a imaginação de Brown, estava menos satisfeita. O tom dela em relação ao mestre era um pouco ácido, não sem algum temor. Flambeau e seu amigo estavam na sala dos espelhos examinando o desenho vermelho dos dois garotos, quando a governanta entrou célere para cumprir alguma tarefa doméstica. Era uma peculiaridade daquele lugar cintilante e espelhado refletir qualquer pessoa que entrasse em quatro ou cinco espelhos de uma vez; e Padre Brown, sem se virar para trás, parou no meio de uma frase de crítica familiar. Mas Flambeau, com o rosto próximo ao quadro, já falava num tom alto: – Os irmãos Saradine, suponho. Os dois parecem bem inocentes. Seria difícil dizer qual é o irmão bom e qual o mau. Em seguida, percebendo a presença da senhora, mudou a conversa para algo trivial e foi passear no jardim. Mas Padre Brown não tirava os olhos do desenho vermelho em lápis de cera; e a sra. Anthony não tirava os olhos de Padre Brown. Os olhos castanhos de sra. Anthony eram grandes e trágicos, e seu rosto moreno resplandecia, escuro, com um assombro curioso e pungente – como alguém que desconfia da identidade ou das intenções de um estranho. Seja porque a batina e o credo daquele pequenino padre tocassem em algumas memórias de confissão sulistas ou porque imaginasse que ele sabia mais do que aparentava, ela disse a ele em voz baixa, como para um parceiro de conspiração: – Por um lado, ele está certo, o seu amigo. Ele disse que seria muito difícil reconhecer o irmão bom e o ruim. Ah, seria difícil, seria muito difícil mesmo reconhecer qual é o bom. – Não compreendo – disse Padre Brown, e foi se afastando para sair do salão.
A mulher deu um passo na direção dele, com as sobrancelhas arqueadas e um tipo de andar encurvado e selvagem, como um touro baixando os chifres. – Não há um que seja bom – ela cochichou. – Havia maldade suficiente no capitão para pegar todo aquele dinheiro, mas não acho que houvesse muita bondade no príncipe ao entregar o dinheiro. O capitão não é o único que tem queixas contra ele. Uma luz acendeu-se no rosto fugidio do clérigo, e sua boca pronunciou em silêncio a palavra “chantagem”. Na mesma hora, a mulher inclinou o rosto de súbito empalidecido sobre o próprio ombro e quase caiu. A porta havia se aberto sem fazer barulho, e Paul, lívido, aparecera como um fantasma na soleira. Devido ao efeito esquisito das paredes espelhadas, parecia que cinco Pauls tinham entrado por cinco portas ao mesmo tempo. – Sua Alteza – anunciou – acabou de chegar. No mesmo instante, vislumbrou-se o vulto de um homem do lado de fora da primeira janela, passando pela vidraça, cheio de brilho como um artista iluminado. No instante seguinte, ele passou pela segunda janela, e os diversos espelhos refletiram em instantâneos sucessivos o mesmo perfil de águia e o vulto em marcha. Altivo e ágil, mas de cabelo branco e semblante de um esquisito amarelo-marfim. Tinha aquele narizinho romano e curvo que via de regra vem acompanhado de bochechas e queixo compridos e magros, mas meio disfarçados por bigode e barba à moda de Napoleão III. O bigode era bem mais escuro que a barba, provocando um efeito um tanto teatral, e ele estava vestido nesse mesmo estilo, portando cartola branca, orquídea na lapela, colete bege e luvas da mesma cor, que ele ia balançando e batendo enquanto caminhava. Quando chegou à porta da frente, ouviram o rígido Paul abri-la e escutaram o recém-chegado dizer com animação: – Bem, como pode ver, aqui estou. O severo sr. Paul inclinou-se e respondeu do seu modo inaudível; por um tempinho, a conversa deles não pôde ser ouvida. Em seguida, o mordomo disse: – Está tudo à sua disposição. E o príncipe Saradine, sacudindo as luvas, entrou alegremente no recinto para cumprimentá-los. Contemplaram outra vez aquela cena ilusória: cinco príncipes entrando na sala de cinco portas. O príncipe depositou a cartola branca e as luvas beges em cima da mesa e estendeu a mão com cordialidade. – Encantado em vê-lo aqui, sr. Flambeau – disse. – Conheço-o muito bem pela sua reputação, se esse não for um comentário indiscreto. – De modo algum – respondeu Flambeau rindo. – Não sou sensível. Pouquíssimas reputações são conquistadas por uma virtude intocada. O príncipe lançou um olhar rápido a Flambeau para ver se a resposta continha alguma indireta pessoal; em seguida, sorriu outra vez e ofereceu cadeiras para todos, inclusive para ele próprio. – Lugarzinho prazeroso este – disse com um ar de desprendimento. – Não há muito a fazer, infelizmente. Mas a pesca é muito boa. O padre, que o encarava com os olhos abertos e enormes de uma criança, estava espantado por algum detalhe que escapava à definição. Mirou o cabelo grisalho e encaracolado de forma cuidadosa, o semblante branco e amarelado, a silhueta magra e um tanto afetada. Nada disso era excepcional, mas havia nele algo camuflado, como a sombra de uma figura atrás das ribaltas. O interesse inominável jazia em algo mais, um detalhe na composição do rosto; Brown estava atormentado por uma lembrança vaga de já tê-lo visto em algum lugar. O homem parecia um velho amigo vestido para o palco. De repente, lembrou dos espelhos e dirigiu sua imaginação para algum efeito psicológico daquela multiplicação de máscaras humanas. O príncipe Saradine distribuía sua atenção entre os convidados com grande alegria e destreza. Ao perceber que o detetive estava num momento esportivo, e ansioso por aproveitar as férias, guiou Flambeau e seu barco para o melhor local de pesca do rio. Em vinte minutos, Saradine estava de volta em sua própria canoa para encontrar-se com Padre Brown na biblioteca e mergulhar, com a mesma polidez, nos maiores prazeres filosóficos do padre. Parecia saber muito, tanto em relação à pesca quanto aos livros, embora livros não muito edificantes; falava cinco ou seis línguas, mas sobretudo as gírias de cada uma. Tinha morado em várias cidades, claro, e em muitas sociedades diferentes, por isso boa parte de suas histórias mais animadas era sobre jogos de azar, antros de ópio, australianos fora da lei escondidos nas selvas e bandidos italianos. Padre Brown sabia que o outrora celebrado Saradine tinha passado seus últimos anos em viagens quase sem fim, mas não teria imaginado que elas fossem tão inacreditáveis ou tão divertidas. De fato, com toda a sua distinção de homem cosmopolita, o príncipe Saradine irradiava, para observadores tão sensíveis como o padre, certa atmosfera de agitação e até mesmo desconfiança. O rosto delicado, de olhos selvagens, apresentava pequenos tiques nervosos, como um homem trêmulo em consequência da bebida e de drogas; e ele não tinha, nem alegava ter, qualquer participação no gerenciamento das questões domésticas. Isso ficava nas mãos dos dois velhos serventes, sobretudo o mordomo, claramente o pilar central da casa. O sr. Paul, de fato menos mordomo e mais coordenador ou até mesmo ministro da casa de um nobre, fazia suas refeições a sós e quase com a mesma pompa que seu mestre; era temido por todos serviçais e se dirigia ao príncipe com decoro, mas determinação – como se fosse o representante do príncipe. A lúgubre governanta era uma simples sombra em comparação a ele; de fato, ela parecia se anular e esperar unicamente pelo mordomo, e Brown não ouviu mais daqueles cochichos vulcânicos que lhe contaram, em parte, sobre o irmão caçula chantagear o mais velho. Se o príncipe estava mesmo sendo extorquido pelo capitão ausente, Padre Brown não podia ter certeza, mas havia algo inseguro e sigiloso sobre Saradine que, sem dúvida, tornava a história plausível. Quando entraram mais uma vez no salão comprido com janelas e espelhos, um entardecer amarelado caía sobre as águas e as margens delgadas, e um socó cantava à distância, como um elfo sobre seu pequenino tambor. O mesmo sentimento peculiar, de uma terra encantada, triste e ruim, passou pela mente do padre outra vez, como uma pequena nuvem cinzenta. – Queria que Flambeau já estivesse de volta – resmungou entredentes. – Acredita em destino? – perguntou de repente o inquieto príncipe Saradine. – Não – respondeu o convidado. – Acredito no dia do juízo final. O príncipe virou-se da janela e encarou-o de um modo estranho, o rosto ofuscado pelo pôr do sol. – O que quer dizer? – Quero dizer que estamos aqui do lado errado da trama – respondeu Padre Brown. – As coisas que acontecem aqui parecem não significar nada; elas denotam algo em outra parte. Em outro lugar, a punição virá para o verdadeiro infrator. Aqui ela sempre parece cair na pessoa errada. O príncipe fez um barulho inexplicável, semelhante ao de um animal; em seu rosto sombreado, os olhos faiscavam de forma esquisita. Um pensamento novo e perspicaz explodiu em silêncio na mente do clérigo. Haveria um significado distinto na mistura de brilhantismo e rudeza de Saradine? Seria o príncipe... seria ele perfeitamente são? Ele estava repetindo “A pessoa errada... a pessoa errada” com exagerada persistência para uma exclamação convencional. Em seguida, Padre Brown despertou com certo atraso para uma segunda verdade. Nos espelhos diante dele, pôde ver a porta silenciosa ainda aberta e o taciturno sr. Paul ali parado, com a usual apatia macilenta. – Acho que é melhor contar logo – anunciou, com a mesma deferência seca de um velho advogado da família. – Um barco remado por seis homens veio até o embarcadouro com um cavalheiro sentado à popa. – Um barco! – repetiu o príncipe. – Um cavalheiro? – E ele se levantou. Houve um silêncio alarmante, interrompido apenas pelo som esquisito da ave na planta aquática, e, depois, antes que alguém pudesse falar, um novo rosto e uma nova silhueta passaram de perfil pelas três janelas claras, assim como o príncipe havia passado uma ou duas horas antes. Mas, exceto pelo nariz adunco, as duas silhuetas pouco tinham em comum. Ao invés da moderna cartola branca de Saradine, um chapéu preto de estilo antiquado ou estrangeiro; embaixo dele, um rosto jovem e muito solene, bem barbeado, queixo azulado resoluto que sugeria, de leve, Napoleão jovem. A associação era respaldada por algo anacrônico e esquisito presente em todo o traje, semelhante à roupa de um homem que nunca se preocupou em mudar de estilo desde a época de seu pai. Trajava um fraque azul puído, um colete vermelho que parecia fazer parte de um uniforme militar e um tipo de calça branca, comum durante a época vitoriana, mas pouco compatível com os dias atuais. De todo aquele antigo brechó, o rosto moreno distinguia-se pela estranha jovialidade e espantosa franqueza. – Diabos! – disse o príncipe Saradine. E, batendo na cartola branca, foi em direção à porta da frente, escancarando-a para o jardim do pôr do sol. Neste momento, o recém-chegado e seus acompanhantes estavam dispostos no gramado como se formassem um pequeno exército em cena. Os seis homens tinham ancorado o barco bem próximo à margem e protegiam-no de forma quase ameaçadora, mantendo os remos erguidos como espadas. Eram mestiços, e alguns usavam brincos. Mas um deles estava à frente, ao lado do jovem de rosto moreno e colete vermelho, carregando uma grande mala preta de formato pouco usual. – Seu nome – perguntou o jovem – é Saradine? Saradine fez que sim com a cabeça, com ar negligente. O recém-chegado tinha olhos castanhos opacos, semelhantes aos de um cachorro, o oposto simétrico dos olhos acinzentados, inquietos e brilhantes do príncipe. Mais uma vez, Padre Brown foi acometido de uma sensação de já ter visto noutro lugar uma cópia daquele rosto; e, de novo, lembrou-se das repetições do salão adornado de espelhos e relacionou a coincidência a isso. – Maldito palácio de cristal! – murmurou com seus botões. – A gente vê tudo muitas vezes. É como um sonho. – Se o senhor é o príncipe Saradine – disse o jovem –, posso lhe dizer que meu nome é Antonelli. – Antonelli – repetiu o príncipe, pensativo. – Esse nome não me é estranho. – Permita-me que me apresente – disse o jovem italiano. Com a mão esquerda, retirou de forma educada o chapéu antiquado; com a direita, acertou uma bofetada tão sonora na cara do príncipe Saradine que a cartola branca rolou pelos degraus e um dos jarros azuis de flores chegou a balançar no pedestal. O príncipe podia ser o que fosse, menos um covarde; pulou na garganta do inimigo e quase o derrubou de costas na grama. Mas o inimigo livrou-se com um ar particularmente inapropriado de apressada polidez. – Está tudo bem – disse, com a respiração irregular e em inglês vacilante. – Eu cometi uma ofensa. Agora vou me justificar. Marco, abra a mala. O homem de brincos ao seu lado, com a grande mala preta, começou a destravála. Retirou duas espadas italianas compridas, com lâminas e punhos de aço esplêndidos, e enfiou-as no gramado. O estranho jovem continuava encarando a entrada com seu rosto amarelo e vingativo, as duas espadas fincadas na grama, como duas cruzes no cemitério, e ao fundo, os remadores enfileirados davam a impressão esquisita de compor uma bárbara corte de justiça. Mas tudo o mais estava do mesmo jeito, tão repentina tinha sido a interrupção. O ouro do pôr do sol ainda resplandecia na grama, e o socó ainda sibilava como se anunciasse algum acontecimento próximo mas terrível. – Príncipe Saradine – disse o homem chamado Antonelli –, quando eu ainda era uma criança no berço, o senhor matou o meu pai e roubou a minha mãe; meu pai teve mais sorte. Mas o senhor não o matou de forma justa, como vou lhe matar. O senhor e minha mãe imoral o levaram para uma remota passagem entre as montanhas da Sicília, o atiraram de um penhasco e seguiram adiante. Eu poderia imitá-lo se quisesse, mas isso é muito vil. Tenho lhe perseguido pelo mundo todo. Mas o senhor sempre fugiu de mim. No entanto, aqui é o fim do mundo... e o seu fim. O senhor está em minhas mãos e lhe dou a chance que não foi dada a meu pai. Escolha uma das espadas. Príncipe Saradine, com as sobrancelhas contraídas, pareceu hesitar por um momento, mas seus ouvidos ainda zumbiam com o ruído da bofetada; por fim ele saltou à frente e agarrou um dos cabos. Padre Brown também tinha dado um pulo adiante, tentando apaziguar a disputa, mas logo percebeu que sua presença piorava a situação. Saradine era um maçom francês e ateu convicto, e um padre aborrecia-lhe ao invés de lhe enternecer. E quanto ao outro homem, nem um padre nem um laico seriam capazes de comovê-lo. Aquele jovem com rosto de Bonaparte e olhos castanhos era algo muito mais grave do que um puritano – era um pagão. Era um assassino brutal dos primórdios da Terra; um homem da Idade da Pedra – um homem das cavernas. Uma esperança permanecia – os empregados, e Padre Brown correu de volta para dentro da casa. Contudo, descobriu que todos os serviçais estavam de folga, concedida pelo autoritário Paul, e apenas a sombria sra. Anthony movia-se inquieta pelos aposentos. Mas, no momento em que ela virou o rosto abatido na direção do padre, ele solucionou um dos enigmas da casa de espelhos. Os olhos castanhos e trágicos de Antonelli eram os olhos castanhos e trágicos da sra. Anthony; e Brown, num lampejo, visualizou metade da história. – Seu filho está lá fora – disse sem medir as palavras. – Ou ele ou o príncipe será morto. Onde está o sr. Paul? – No embarcadouro – disse a mulher sem ânimo. – Ele está... está... sinalizando para pedir ajuda. – Sra. Anthony – disse Padre Brown com seriedade –, não há tempo para conversa fiada. Meu amigo está pescando com o barco no meio do rio. O barco do seu filho está guardado pelos homens dele. Há apenas uma única canoa; o que o sr. Paul está fazendo com ela? – Santa Maria! Não sei... – disse ela, desmaiando esticada no piso coberto de esteiras. Padre Brown colocou-a no sofá, derramou um jarro de água sobre ela, gritou por socorro e depois correu para o embarcadouro da ilhota. Mas a canoa já estava no meio da corrente, e o velho Paul remava rio acima com uma energia inacreditável para alguém da sua idade. – Vou salvar o meu mestre – gritou com os olhos faiscando de forma maníaca. – Vou salvá-lo! Padre Brown não podia fazer nada, a não ser olhar de modo fixo para o barco que se movia com dificuldade na corrente e rezar para que o velho homem conseguisse despertar a cidadezinha a tempo. – Um duelo já é ruim o bastante – murmurou, passando a mão no seu cabelo áspero e castanho-claro –, mas tem algo de errado nesse duelo, além do fato de ser um duelo. Sinto isso dentro de mim: mas o que será? Enquanto permanecia olhando para a água – espelho ondulante do pôr do sol –, ouviu do outro lado do jardim da ilha um som baixo mas inconfundível: a fria concussão do aço. Virou a cabeça. Longe, no cabo mais distante ou na ponta da ilhota comprida, na faixa de grama atrás da última fileira de rosas, os duelistas já tinham cruzado espadas. O entardecer sobre eles era um domo de ouro virgem, e, na distância em que estavam, cada detalhe era perceptível. Haviam tirado os casacos, mas tanto o colete amarelo e o cabelo branco de Saradine quanto o colete vermelho e a calça branca de Antonelli brilhavam na luz, lembrando as cores das bonecas dançarinas de corda. As duas espadas faiscavam da ponta ao punho como dois diamantes. Havia algo de espantoso nas duas silhuetas, que pareciam tão pequenas e tão empolgadas. Aparentavam ser duas borboletas, uma tentando alfinetar a outra em uma cortiça. Padre Brown correu o mais rápido que pôde, as pernas curtas girando como rodas. Mas, quando chegou ao local do combate, descobriu que chegara muito tarde e muito cedo – tarde demais para deter o conflito sob a sombra dos rústicos sicilianos apoiados em seus remos e cedo demais para prever qualquer aspecto desastroso do duelo. Os dois homens estavam bastante equilibrados, o príncipe utilizando sua habilidade com certa confiança petulante, e o siciliano utilizando a sua com um cuidado homicida. Poucas pelejas de esgrima vistas em anfiteatros lotados foram mais perfeitas que essa, que tilintava e faiscava naquela ilha esquecida no rio dos juncos. A luta vertiginosa estava tão equilibrada que a esperança começou a reviver no padre contrariado; tudo indicava que Paul deveria voltar em breve com a polícia. Já seria um conforto se Flambeau voltasse de sua pesca, pois, fisicamente falando, ele equivalia a quatro homens. Mas não havia nem sinal dele e, o mais intrigante, nem sinal de Paul e da polícia. Nenhum outro bote ou remo tinha sido deixado boiando; naquela ilha perdida, no meio daquela piscina vasta e sem nome, eles estavam isolados como um rochedo no Pacífico. Quase ao mesmo tempo em que ele teve esse pensamento, o toque das espadas acelerou o som estridente, os braços do príncipe tremularam, e a ponta lhe acertou bem atrás, entre as omoplatas. Desabou num grande movimento giratório, como alguém que se prepara para plantar bananeira. A espada lhe voou da mão como uma estrela cadente e mergulhou no rio ao longe. E ele próprio afundou com tanta força no chão que despedaçou uma grande roseira com o corpo e levantou uma nuvem vermelha de terra no ar – semelhante à fumaça de um sacrifício pagão. O siciliano fizera uma oferenda de sangue ao espírito do pai. Ato contínuo, o padre ajoelhou-se ao lado do cadáver, mas apenas para ter a certeza de que era mesmo um cadáver. Quando ainda tentava os últimos testes inúteis, escutou pela primeira vez rumores vindos de algum lugar distante no rio e avistou um barco da polícia acelerar na direção do embarcadouro, com guardas e outras pessoas importantes, incluindo o agitado Paul. O padre levantou-se com uma careta confusa. – Só agora! Por que cargas d’água – resmungou – ele não veio antes? Cerca de sete minutos depois, a ilha estava ocupada por uma invasão de nativos e da polícia, a qual colocou as mãos no vencedor do duelo, relembrando-o, como manda o ritual, que qualquer coisa que dissesse poderia ser usada contra ele. – Não vou dizer nada – disse o maníaco com um rosto deslumbrado e pacífico. – Nunca mais direi nada. Estou muito feliz e quero apenas ser enforcado. Em seguida, ele se calou quando o guiaram, e, embora seja estranho, é a mais pura verdade que nunca mais abriu a boca neste mundo, exceto para dizer “Culpado!” em seu julgamento. Padre Brown acompanhou com atenção o jardim subitamente lotado, a prisão do homem sanguinário e o carregamento do corpo após a verificação do médico, como alguém que observa o final de um sonho horrível. Estava imóvel, como um homem num pesadelo. Informou nome e endereço para servir de testemunha, mas recusou a oferta que lhe fizeram de um barco e permaneceu sozinho no jardim da ilha, mirando fixamente a roseira quebrada e todo o teatro verde daquela tragédia breve e inexplicável. A luz morreu ao longo do rio; a neblina surgiu nos bancos pantanosos; e uns poucos pássaros tardios passaram voando, velozes. Gravada de forma inexorável em sua subconsciência (de um vigor fora do comum) estava uma certeza terrível de que ainda havia algo a ser esclarecido. A sensação que o havia perseguido o dia todo não podia ser explicada apenas pela sua intuição sobre a “terra dos espelhos”. De algum modo, ele não tinha visto a história verdadeira, mas algum jogo ou farsa. Embora admitisse que ninguém acaba enforcado nem trespassado por uma lâmina só pelo prazer de criar uma charada. Quando sentou pensativo nos degraus do embarcadouro, percebeu o pano de uma vela alta e escura descendo em silêncio o rio brilhante e deu um salto, possuído de tão súbita emoção que quase chorou. – Flambeau! – gritou e sacudiu o amigo com ambas as mãos repetidas vezes, o suficiente para provocar espanto daquele homem esportivo, assim que colocou o pé na margem com a vara de pesca nas costas. – Flambeau – exclamou –, então você não está morto? – Morto?! – repetiu o pescador com grande assombro. – E por que eu haveria de estar morto? – Ah, porque quase todo mundo está – disse o seu amigo de modo agitado. – Saradine foi assassinado, Antonelli quer ser enforcado, a mãe dele desmaiou e eu, por fim, não sei se estou neste mundo ou no outro. Mas, graças a Deus, você está ao meu lado. – E tomou o braço do desnorteado Flambeau. Quando voltaram ao embarcadouro, passaram embaixo dos beirais da casa de bambu e olharam para dentro de uma das janelas, como haviam feito na primeira vez que chegaram. Observaram o interior iluminado por lâmpadas, bem calculado para deter seus olhares. A mesa na ampla sala de jantar tinha sido preparada para a ceia quando o destruidor de Saradine caíra como uma tempestade na ilha. A janta estava agora em plácido progresso, com a sra. Anthony sentada um tanto mal-humorada a uma extremidade da mesa, enquanto à cabeceira o sr. Paul, o mordomo, comia e bebia do bom e do melhor, o olhar turvo e azulado estranhamente distantes, o semblante esquelético inescrutável, mas de modo nenhum desprovido de satisfação. Com um gesto irritado de impaciência, Flambeau bateu na janela, provocando um barulho estridente, abriu-a e colocou a cabeça enraivecida dentro da sala iluminada. – Bem – gritou –, imagino que o senhor deve estar precisando de uns comes e bebes, mas daí a roubar o jantar do seu mestre enquanto ele está estirado morto no jardim... – Já roubei muitas coisas numa vida longa e prazerosa – rebateu com calma o velho e estranho cavalheiro. – Este jantar é uma das poucas coisas que não roubei. Acontece que este jantar, esta casa e este jardim me pertencem. Um pensamento passou como um raio pelo rosto de Flambeau. – Quer dizer que – começou ele – o testamento do príncipe Saradine... – Eu sou o príncipe Saradine – disse o velho mastigando uma amêndoa salgada. Padre Brown, distraído olhando os pássaros lá fora, deu um pulo como se tivesse sido alvejado por um tiro e enfiou na janela o rosto pálido como um nabo. – O senhor é quem? – repetiu num tom de voz agudo. – Paul, príncipe Saradine, à vos ordres – disse aquela pessoa venerável de forma polida, levantando um copo de xerez. – Vivo aqui muito tranquilo, sendo um tipo de administrador do lar, e por modéstia me deixo chamar de sr. Paul para me diferenciar do meu irmão azarento, o sr. Stephen. Ele morreu, ouvi dizer, recentemente... no jardim. Claro, não é culpa minha se os inimigos vieram até aqui buscá-lo. É devido à lamentável irregularidade de sua vida. Não era um tipo dedicado à família. Voltou a cair em silêncio e continuou a encarar o muro em frente, logo acima da cabeça da mulher submissa e lúgubre. Perceberam com clareza a semelhança familiar que os tinha assustado no homem morto. Em seguida, os velhos ombros do sr. Paul começaram a sacudir um pouco, como se tivesse se engasgado, mas seu rosto não tinha se alterado. – Meu Deus! – gritou Flambeau depois de uma pausa. – Ele está rindo! – Vamos embora – disse Padre Brown, branco como papel. – Vamos embora desta casa dos infernos. Vamos entrar de novo num barco honesto. A noite tinha caído sobre os juncos e o rio quando eles saíram da ilha e seguiram rio abaixo no escuro, aquecendo-se com dois grandes charutos que brilhavam como lanternas vermelhas de navios. Padre Brown tirou o charuto da boca e disse: – Suponho que você seja capaz de adivinhar a história toda agora? Afinal de contas, é uma história elementar. Um homem tinha dois inimigos. Era um homem perspicaz. E então descobriu que dois inimigos são melhores que um. – Não consigo acompanhar – respondeu Flambeau. – Ah, é muito simples – retorquiu seu amigo. – Simples, embora seja tudo, menos inocente. Os dois Saradines eram vilões, mas o príncipe, o mais velho, era do tipo de vilão que chega ao topo, e o mais jovem, o capitão, era do tipo que afunda. Esse oficial esquálido passou de pedinte a chantagista e, num dia horrível, conseguiu pegar o irmão, o príncipe. Óbvio que não foi por nenhum motivo à toa, pois o príncipe Paul Saradine era, de certo modo, um “perdulário”, além de não ter reputação alguma a perder, apenas os meros pecados da vida em sociedade. De fato, foi uma questão de forca, e Stephen literalmente tinha uma corda ao redor do pescoço do irmão. Tinha de alguma forma descoberto a verdade sobre o caso siciliano e podia provar que Paul assassinara o velho Antonelli nas montanhas. O capitão se esbaldou com o dinheiro sujo durante dez anos, até que mesmo a majestosa fortuna do príncipe começou a parecer bobagem. “Mas o príncipe Saradine carregava outro fardo além do seu irmão aproveitador. Sabia que o filho de Antonelli, apenas uma criança na época do assassinato, tinha sido treinado em brutal lealdade siciliana e vivia apenas para vingar o pai, não com a forca (pois não tinha as provas legais de Stephen), mas com as antigas armas da vendeta. O garoto manejava as armas com perfeição mortal, e, quando já estava com a idade adequada para usá-las, o príncipe Saradine deu início, como disseram os jornais da época, às suas viagens. O fato é que ele começou a fugir para continuar vivo, indo de um lugar para outro como um criminoso procurado, mas tinha um homem incansável no seu rastro. Essa era a situação do príncipe Saradine, e, sejamos sinceros, a situação não era nada boa. Quanto mais dinheiro gastava para escapar de Antonelli, menos tinha para silenciar Stephen. Quanto mais dinheiro dava para silenciar Stephen, diminuíam as chances de finalmente escapar de Antonelli. E foi aí que ele se mostrou um grande homem, um gênio, semelhante a Napoleão. “Em vez de resistir aos seus dois inimigos, ele se rendeu repentinamente a ambos. Rendeu-se como um lutador japonês de sumô, e os inimigos caíram prostrados diante dele. Desistiu da corrida ao redor do mundo, cedeu seu endereço ao jovem Antonelli e depois passou tudo para o irmão. Enviou para Stephen dinheiro suficiente para roupas novas e uma passagem, com apenas uma carta dizendo de forma direta: ‘Isto é tudo que me restou. Você me deixou sem reservas. Continuo tendo uma casa em Norfolk, com serventes e uma adega, e, se você quiser o que restou de mim, deve vir buscar. Se quiser, venha tomar posse da casa, e eu viverei aqui de forma tranquila como seu amigo ou subordinado ou qualquer outra coisa.’ Ele sabia que o siciliano nunca tinha visto os irmãos Saradine, a não ser, talvez, em quadros; sabia que se pareciam de algum modo, e ambos tinham barbas grisalhas e pontudas. Em seguida, raspou a barba e esperou. A armadilha deu certo. O desafortunado capitão, com suas roupas novas, entrou na casa de modo triunfante como um príncipe e foi de encontro à espada do siciliano. “Houve um imprevisto, e um imprevisto em homenagem à natureza humana. Espíritos malignos como Saradine, de modo geral, cometem equívocos por nunca acreditarem nas virtudes da natureza humana. Tomou como certo que a tempestade italiana, quando chegasse, seria escura, violenta e anônima, como a tempestade que ele vingava; que a vítima seria esfaqueada à noite ou baleada atrás de uma cerca e então morreria sem pronunciar uma palavra. Foi um momento ruim para o príncipe Paul quando o cavalheirismo de Antonelli propôs um duelo formal, com todas as explicações possíveis. Foi então que eu o encontrei partindo em seu barco com olhos selvagens. Estava fugindo, sem escrúpulos, num barco, antes que Antonelli soubesse quem ele era. “Mas, por mais agitado que estivesse, ele não foi bobo. Conhecia o aventureiro e também o fanático. Era bem possível que Stephen, o aventureiro, segurasse a língua, pelo mero prazer histriônico em atuar, pela cobiça por atirar-se à morada nova e aconchegante, pela confiança tola na sorte e em sua boa esgrima. Era certo que Antonelli, o fanático, seguraria a língua e seria executado sem contar as histórias de sua família. Paul navegou pelo rio até saber que a luta havia terminado. Em seguida, foi até a cidade, trouxe a polícia, viu os dois inimigos vencidos serem levados para sempre e sentou-se para jantar sorrindo.” – Rindo, Deus que me perdoe! – disse Flambeau, sentindo um forte calafrio. – De onde eles tiram essas ideias? Do demônio? – Ele tirou essa ideia de você – respondeu o padre. – Deus me livre! – exclamou Flambeau. – De mim? O que quer dizer com isso? O padre tirou o cartão de visitas do bolso e ergueu-o na luz fraca do seu charuto; estava escrito com tinta verde. – Não lembra do convite original que ele enviou para você? E os parabéns pela sua proeza criminosa? Lembra quando ele disse: “Aquela sua armadilha de pegar um detetive para prender o outro”? Ele simplesmente copiou a sua jogada. Com um inimigo de cada lado, ele saiu do caminho de fininho e bem rápido e deixou os dois se encontrarem e matarem um ao outro. Flambeau arrancou das mãos do padre o cartão do príncipe Saradine e de repente rasgou-o em pedacinhos. – Essa foi a última daquele cadavérico – disse, enquanto espalhava os pedaços de papel nas ondas escuras e efêmeras do rio –, mas ainda é capaz de isso aqui envenenar os peixes. O último vestígio do cartão branco com a tinta verde submergiu no escuro; uma cor clara e vibrante como a da manhã mudou o céu, e a lua atrás da mata empalideceu. Seguiram o curso do rio em silêncio. – Padre – disse Flambeau de repente –, não acha que tudo não passou de um sonho? O padre balançou a cabeça, por divergência ou ceticismo, e permaneceu calado. Um cheiro de espinheiro e de pomar chegou até eles na escuridão, avisando que um vento estava a caminho; no momento seguinte o vento balançou o pequeno barco, inflou a vela e os conduziu pelo rio sinuoso para lugares mais felizes e para casas de homens inofensivos.
A MARRETA DE DEUS
O vilarejo de Bohun Beacon empoleirava-se numa colina tão íngreme que o elevado pináculo da igreja parecia apenas o cume de um pequeno monte. Ao pé da igreja havia uma ferraria, em geral avermelhada pelo fogo das fornalhas e sempre abarrotada de marretas e sucatas de ferro; no outro lado da rua, depois de um rústico cruzamento pavimentado com paralelepípedos, ficava o Blue Boar, a única estalagem do lugar. Foi nesse cruzamento, num amanhecer plúmbeo e prateado, que dois irmãos se encontraram e conversaram, embora um estivesse iniciando o dia e o outro, terminando. O reverendíssimo vigário Wilfred Bohun era muito devoto e estava a caminho das suas austeras práticas de oração ou contemplação ao amanhecer. O ilustríssimo coronel Norman Bohun, seu irmão mais velho, nem um pouco devoto, estava sentado, trajado a rigor, no banco do lado de fora do Blue Boar, bebendo aquilo que um observador filosófico poderia considerar tanto o seu último copo da terça-feira como o primeiro da quarta-feira. O coronel não era uma pessoa detalhista. Os Bohun eram uma das poucas famílias aristocráticas que, de fato, datavam da Idade Média, e o pendão deles realmente avistara a Palestina. No entanto, é um grande erro supor que essas famílias tenham um alto conceito na tradição cavalheiresca. Poucos, com exceção dos pobres, preservam as tradições. Os aristocratas não vivem de tradições, mas de modismos. Os Bohun haviam sido rufiões sob o reinado da rainha Anne e janotas sob o reinado da rainha Vitória. Mas, como mais de uma das famílias realmente antigas, eles se haviam degenerado nos últimos dois séculos em dândis, beberrões e devassos, a ponto de surgirem até rumores de que sofriam de insanidade. Com certeza havia algo pouco humano na busca voraz por prazer do coronel e na sua decisão crônica de não voltar para casa até que a madrugada apresentasse um indício da abominável lucidez da insônia. Ele era um espécime alto e belo, já passado da meia-idade, mas com o cabelo ainda espantosamente amarelo. O cabelo loiro apenas lembrava a juba de um leão, mas os olhos azuis eram tão encovados no rosto que pareciam negros. Eram um pouquinho mais juntos que o normal. De cada lado do bigode longo e amarelo, descia uma ruga ou sulco desde a narina até a mandíbula, como um riso de escárnio esculpido no rosto. Em cima do terno preto, vestia um primoroso capote amarelo desbotado, que mais parecia um leve penhoar do que um casaco. Na parte de trás cabeça, estava preso um extraordinário chapéu de abas largas de um verde luminoso, evidentemente alguma curiosidade oriental escolhida ao acaso. Ele se orgulhava de aparecer nessas vestimentas ilógicas – envaidecido por sempre fazê-las parecerem lógicas.
Seu irmão, o vigário, tinha a mesma elegância e o mesmo cabelo amarelo, mas costumava usar uma batina preta abotoada até o queixo; o rosto era cuidado com esmero, bem escanhoado e um pouco nervoso. Parecia viver apenas para sua religião, mas algumas pessoas diziam – particularmente o ferreiro, um presbiteriano – que aquilo era amor à arquitetura gótica, e não a Deus, e que seu constante vagar pela igreja, feito um fantasma, era apenas outro e mais puro aspecto de sua ânsia quase mórbida por beleza – a mesma ânsia que levara seu irmão às mulheres e ao vinho. Essa acusação era duvidosa, enquanto a prática da piedade do homem fosse inquestionável. Na verdade, a acusação era, em grande parte, uma interpretação errônea do seu amor à solidão e à devoção reservada, e se baseava no fato de ele ser visto com frequência de joelhos, não em frente ao altar, mas em lugares incomuns: nas criptas, na galeria e até mesmo no campanário. No momento, ele estava prestes a entrar na igreja, atravessando o pátio da ferraria, mas estacou e franziu a testa ao ver os olhos cavernosos de seu irmão voltados na mesma direção. Da hipótese de que o coronel estivesse interessado na igreja, ele nem cogitou. Lá fora havia apenas a oficina do ferreiro, e, embora o ferreiro fosse um puritano e não pertencesse à sua paróquia, Wilfred Bohun ficara sabendo de alguns escândalos de certa esposa, linda e um tanto famosa. Lançou um olhar desconfiado para a oficina, e o coronel levantou-se rindo para falar com ele. – Bom dia, Wilfred – saudou ele. – Como um bom senhorio, estou zelando incessantemente pelo meu povo. Estou indo chamar o ferreiro. Wilfred olhou para o chão e disse: – O ferreiro está fora da cidade. Em Greenford. – Eu sei – respondeu o outro com uma risada silenciosa –, e é por isso que eu estou fazendo uma rápida visita à casa dele. – Norman – disse o clérigo, de olho num seixo na estrada –, você não tem medo de raios? – O que quer dizer com isso? – indagou o coronel. – Seu hobby é a meteorologia? – Quero dizer – explicou Wilfred, sem levantar o olhar –, alguma vez pensou que Deus pode atingi-lo no meio da rua? – Desculpe-me – disse o coronel –, vejo que o seu hobby é o folclore. – Sei que o seu hobby é a blasfêmia – retrucou o religioso, ferido na única parte vívida da sua natureza. – Mas, se você não teme a Deus, tem boas razões para temer o homem. O irmão mais velho levantou as sobrancelhas polidamente. – Temer o homem? – perguntou ele. – Barnes, o ferreiro, é o maior e mais forte do homens num raio de sessenta quilômetros – disse o clérigo com severidade. – Sei que você não é nenhum covarde e fraco, mas ele poderia arremessá-lo contra a parede. Isso o atingiu em cheio, pois era verdade, e a sombria ruga que ia da boca às narinas escureceu e ficou ainda mais profunda. Por um instante, ele ficou parado com um sorriso carregado de escárnio no rosto. Porém, num átimo, o coronel Bohun recobrara o bom humor cruel que lhe era próprio e riu, deixando à mostra os dois caninos sob o bigode amarelo. – Neste caso, meu querido Wilfred – ponderou com certa indiferença –, foi sábio da parte do último dos Bohun sair à rua com parte de uma armadura. E ele tirou o extravagante chapéu verde, mostrando o revestimento de aço. Wilfred reconheceu mesmo um pequeno elmo japonês ou chinês desmantelado de uma armadura que ficava pendurada no velho castelo da família. – Foi o primeiro chapéu à mão – explicou o irmão feliz e confiante. – Sempre o chapéu mais próximo, e a mulher mais próxima. – O ferreiro está em Greenford – disse Wilfred com calma – e não se sabe a que horas ele volta. Dizendo isso, ele se virou e entrou na igreja com a cabeça inclinada, fazendo o sinal da cruz como quem quer se livrar de um espírito impuro. Estava ansioso para esquecer tais grosserias no calmo crepúsculo de sua alta clausura gótica, mas, naquela manhã, quis o destino que sua sossegada rotina de práticas religiosas continuasse a ser interrompida por pequenos sobressaltos. Assim que entrou na igreja, na maioria das vezes vazia àquela hora, uma figura ajoelhada levantou-se com pressa e foi em direção à forte luz que vinha da porta. Quando viu essa cena, o vigário ficou parado, pasmo. Porque o matinal devoto não poderia ser outra pessoa senão o idiota do vilarejo, sobrinho do ferreiro, alguém que não gostava da igreja nem poderia importar-se com ela nem com qualquer outra coisa. Ele sempre era chamado de “Joe Maluco” e parecia não ter outro nome; era um jovem triste, forte e desajeitado, de rosto apático e branco, cabelo liso e escuro e boca sempre aberta. Ao passar pelo sacerdote, sua cara apalermada não dava a menor ideia do que ele estivera fazendo ou pensando. Nunca antes se soube que ele rezasse. Que tipo de preces ele estava fazendo agora? Preces extraordinárias, com certeza. Wilfred Bohun ficou plantado no mesmo lugar o tempo suficiente para ver o idiota sair em direção à luz do sol e até mesmo para ver o irmão devasso cumprimentá-lo com uma espécie de jocosidade indulgente. A última coisa que ele viu foi o coronel jogando moedinhas na boca descerrada de Joe, aparentando seriamente o desejo de acertá-la. Essa horrenda imagem luminosa da estupidez e da crueldade terrenas enviou o asceta por fim para as suas súplicas por purificação e novos pensamentos. Subiu a um banco na galeria, embaixo de um vitral colorido especial, que sempre lhe aquietava o espírito: um anjo carregando lírios com o fundo azul. Lá, começou a pensar menos na face lívida e na boca de peixe do idiota. Começou a pensar menos no irmão perverso, caminhando para lá e para cá como um leão esguio terrivelmente esfaimado.
Mergulhou cada vez mais fundo naquelas frias e delicadas cores de florações prateadas e céu safira. Ali, meia hora depois, ele foi encontrado por Gibbs, o sapateiro do vilarejo, enviado atrás dele com certa pressa. Ergueu-se com presteza, pois sabia que um assunto trivial jamais teria trazido Gibbs àquele lugar. O sapateiro era, como outros em muitos vilarejos, um ateu, e sua vinda à igreja era mais surpreendente que a de “Joe Maluco”. Manhã de enigmas teológicos. – O que foi? – perguntou Wilfred Bohun meio tenso, já estendendo a mão trêmula para pegar o chapéu. O ateu falou num tom que, vindo dele, era de um espantoso respeito e, até mesmo, por assim dizer, profundamente compassivo. – Desculpe, sir – sussurrou ele em voz rouca –, mas achamos que era melhor avisá-lo logo. Acho que algo terrível aconteceu, sir. Acho que o seu irmão... Wilfred juntou e apertou as frágeis mãos. – Que maldade ele aprontou agora? – bradou numa exaltação involuntária. – Bem, sir – disse o sapateiro, tossindo. – Acho que ele não aprontou nada nem vai aprontar mais nada. Acho que aprontaram para ele. Mas é melhor o senhor vir comigo. O vigário seguiu o sapateiro na sinuosa escadinha, até chegarem a uma porta bem acima do nível da rua. Bohun vislumbrou a tragédia de imediato, lisa como a planície no horizonte. No pátio da ferraria estavam parados cinco ou seis homens, a maioria vestida de preto, um deles com uniforme de inspetor. Estavam lá o doutor, o ministro presbiteriano e o padre da capela católica que a mulher do ferreiro frequentava. O padre a confortava, na verdade, com breves murmúrios, pois ela, mulher magnífica de cabelo vermelho e mechas douradas, soluçava desesperada em um banco. No meio desses dois grupos, longe da principal pilha de marretas, jazia estatelado um homem de terno preto, braços abertos com envergadura de águia planando e rosto achatado. Da altura em que estava, Wilfred poderia jurar que conhecia cada detalhe daquela vestimenta e daquela aparência, sem falar nos anéis da família Bohun nos dedos; entretanto, o crânio parecia apenas um borrão aterrador, estrela de negrume e sangue. Wilfred Bohun deu apenas uma olhadela e desceu os degraus em direção ao pátio. O doutor, médico da família, saudou-o, mas Wilfred mal percebeu. Conseguiu apenas balbuciar: – Meu irmão está morto. O que isso significa? Que mistério terrível é esse? Houve um silêncio funesto, e então o sapateiro, o mais franco dos homens ali presentes, respondeu: – Muita crueldade, sir – disse ele –, mas não muito mistério. – O que você quer dizer? – perguntou Wilfred lívido. – É óbvio – respondeu Gibbs. – Só existe um homem num raio de sessenta quilômetros que poderia ter desferido uma pancada dessas, e ele é o homem com mais motivo para fazê-lo. – Não devemos prejulgar nada – interveio nervoso o doutor, do alto de sua barba preta –, mas é da minha competência corroborar aquilo que o sr. Gibbs afirma a respeito da natureza da pancada. Foi uma pancada incrível. Contudo, enquanto o sr. Gibbs afirma que só um homem, neste distrito, seria capaz de dar um golpe desses, eu diria que ninguém é capaz. Um tremor de superstição percorreu a frágil imagem do vigário. – Eu mal consigo entender – disse ele. – Sr. Bohun – disse o doutor em voz baixa –, literalmente, as metáforas me faltam. É inadequado dizer que o crânio foi esmigalhado como uma casca de ovo. Fragmentos de osso fincaram o corpo e o chão como projéteis numa parede de barro. Foi a mão de um gigante. Ele calou-se por um momento, o olhar sombrio atravessando os óculos, e então acrescentou: – Essa explicação tem uma vantagem: isenta a maioria das pessoas da suspeita de uma só vez. Se você, eu ou qualquer homem deste país fosse acusado desse crime, deveríamos ser absolvidos como um bebê seria absolvido do furto da Coluna Nelson. – É isto que estou dizendo – repetiu o sapateiro obstinado. – Só um homem pode ter cometido este crime: justamente o homem que deve ter feito isso. Onde está Simeon Barnes, o ferreiro? – Ele está longe daqui, lá em Greenford – tartamudeou o vigário. – É mais provável que esteja na França – resmungou o sapateiro. – Não, ele não está em nenhum desses lugares – disse uma vozinha sem graça, a voz do pequenino padre católico que se juntara ao grupo. – Na verdade, ele está chegando pela estrada neste exato momento. O pequenino padre não era interessante de se contemplar: tinha a cabeleira castanha arrepiada e o rosto arredondado e sem expressão. Porém, ainda que fosse tão belo como Apolo, ninguém teria olhado para ele naquele momento. Todos se viraram e perscrutaram o caminho que se estendia planície afora; e realmente lá estava caminhando, com suas características passadas largas e a marreta sobre o ombro, Simeon, o ferreiro. Gigante ossudo de cavanhaque negro e olhos profundos, escuros e sinistros. Vinha caminhando e conversando com calma com outros dois homens e, embora a simpatia não fosse o seu forte, parecia bem à vontade. – Meu Deus! – gritou o sapateiro ateu. – E lá está a marreta do crime! – Não – discordou o inspetor, de aparência frágil e bigode ruivo, que falava pela primeira vez. – A marreta que ele usou está do lado da igreja. Deixamos a marreta e o corpo do jeito que estavam. Todos correram os olhares ao redor; o pequenino padre aproximou-se e, em silêncio, baixou os olhos para o lugar onde estava a ferramenta. Era uma das marretas menores e mais leves, e não teria chamado a atenção dentre as demais, se na ponta dela não houvesse sangue e cabelos amarelos. Depois de um silêncio, o padre baixinho falou sem levantar o olhar, e sua voz deixou de ser monótona: – O sr. Gibbs está absolutamente certo – disse ele – ao afirmar que não há mistério algum. Existe apenas o mistério em torno dos motivos que levariam um homem tão grande a desferir uma pancada tão grande com uma marreta tão pequena. – Ah, isso não importa – bradou Gibbs, com agitação. – O que vamos fazer com Simeon Barnes? – Deixá-lo em paz – disse o padre calmamente. – Ele está vindo aqui por conta própria. Conheço os dois homens que estão com ele. São bons companheiros de Greenford que vieram até aqui por causa da capela presbiteriana. Quando o padre terminou de falar, o alto ferreiro dobrou a esquina da igreja e com passadas largas chegou ao pátio. Então ficou parado lá, sem se mover, e a marreta caiu-lhe da mão. O inspetor, que preservara uma correção de atitude impenetrável, de imediato dirigiu-se a ele. – Eu não vou lhe perguntar, sr. Barnes – disse ele –, se sabe o que aconteceu por aqui. Não é obrigado a falar. Espero que o senhor não saiba e que consiga prová-lo. No entanto, tenho que efetuar a sua prisão, em nome do rei, pelo assassinato do coronel Norman Bohun. – Você não é obrigado a falar nada – disse o sapateiro numa exaltação ansiosa. – Eles vão ter que provar tudo. Ainda nem provaram que aquele é o coronel Bohun, com a cabeça toda estraçalhada daquele jeito. – Essa não cola – disse o doutor puxando o padre para o lado. – Essas coisas só acontecem em histórias de detetive. Eu era o médico do coronel e conhecia seu corpo melhor até que ele mesmo. Tinha mãos delicadas e bem peculiares. O segundo e terceiro dedos tinham o mesmo tamanho. Ah, aquele, sem dúvida, é o coronel. Assim que o doutor lançou os olhos para aquele cadáver de crânio esmigalhado estirado no chão, os olhos férreos do estupefato ferreiro os seguiram e lá repousaram também. – O coronel Bohun está morto? – disse o ferreiro com certa calma. – Então ele está ferrado. – Não diga nada! Ah, não diga nada – gritou o sapateiro ateu, dançando num êxtase de admiração pelo sistema legal inglês. Pois nenhum homem é tão legalista quanto o bom secularista. O ferreiro virou por cima do ombro o rosto augusto de um fanático. – É bem cômodo para vocês, não é, seu bando de ímpios, ficar se esquivando feito raposas, só porque a lei do mundo os favorece – vaticinou ele –, mas Deus guarda os Seus no Seu bolso, como vocês vão ver hoje. Então apontou para o coronel e perguntou: – Quando esse miserável morreu em seus pecados? – Modere a linguagem – retorquiu o doutor. – Modere a linguagem da Bíblia, e eu moderarei a minha. Quando ele morreu? – Hoje às seis horas da manhã ele estava vivo – balbuciou Wilfred Bohun. – Deus é bom – disse o ferreiro. – Seu inspetor, eu não tenho a mínima objeção a ser preso. É o senhor que pode não querer me prender. Não me importo em deixar o tribunal com a ficha limpa. O senhor é que deve se importar em deixar o tribunal com um fiasco na sua carreira. O maciço inspetor pela primeira vez mirou o ferreiro com um olhar intenso, assim como fizeram os outros presentes, exceto o estranho e pequenino padre, que continuava a examinar a pequena marreta que havia desferido o terrível golpe. – Há dois homens parados fora desta oficina – continuou o ferreiro com tediante lucidez –, bons comerciantes de Greenford, que todo mundo conhece; eles podem jurar que me viram desde antes da meia-noite até o raiar do dia, e muito tempo depois, na sala do comitê da nossa Missão de Renovação, que esteve reunida a noite inteira, e onde nós salvamos almas rapidamente. Até mesmo em Greenford, vinte pessoas poderiam confirmar a minha presença por todo esse tempo. Se eu fosse ateu, seu inspetor, eu deixaria o senhor caminhar na direção do precipício. Mas como cristão, me sinto obrigado a lhe dar uma chance e perguntar se quer ouvir o meu álibi agora ou no tribunal. O inspetor, pela primeira vez perturbado, afirmou: – Claro, eu me alegraria em inocentar todos vocês agora mesmo. O ferreiro afastou-se do seu pátio com a mesma passada larga e tranquila, retornando na companhia de seus dois amigos de Greenford, que eram na verdade amigos de quase todos os presentes. Cada um deles disse breves palavras que ninguém sequer pensou em duvidar. Depois que eles falaram, a inocência de Simeon pareceu tão consistente quanto a grandiosa igreja acima deles. Um daqueles silêncios mais estranhos e constrangedores do que qualquer fala abalou o grupo. Com o intuito febril de puxar uma conversa, o vigário disse ao padre: – Parece muito interessado nessa marreta, Padre Brown. – Sim, estou – respondeu Padre Brown. – Por que usar uma marreta tão pequena? O doutor andava ao redor dele. – Por Deus, é verdade! – gritou. – Quem usaria uma marreta pequena tendo dez marretas maiores à disposição? Então baixou a voz e falou ao ouvido do vigário: – Apenas o tipo de pessoa que não conseguiria levantar uma marreta grande. Não é uma questão de força ou coragem entre os sexos. É uma questão da força de para levantar nos ombros. Uma mulher corajosa poderia ter cometido dez assassinatos com uma marreta mais leve e sem tirar um fio de cabelo do lugar. Ela não poderia matar nem mesmo um besouro com uma marreta maior. Wilfred Bohun o estava mirando com uma espécie de hipnotizado horror, enquanto Padre Brown escutava com a cabeça um pouco inclinada, interessado e atento. O doutor prosseguiu com ênfase sibilante: – Por que esses idiotas sempre presumem que quem odeia o amante da esposa é apenas o marido da esposa? Em noventa por cento dos casos, quem mais odeia o amante da esposa é a própria esposa. Sabe-se lá qual desaforo ou traição ele cometeu... olhe lá! Fez, então, um gesto momentâneo em direção à mulher ruiva no banco. Ela levantara a cabeça por fim, e as lágrimas estavam secando no belo rosto. Porém, não tirava do cadáver um olhar elétrico e meio idiota. O reverendo Wilfred Bohun fez um gesto lasso como se não quisesse mais saber de nada, mas Padre Brown, batendo da manga algumas cinzas que voaram da fornalha, falou de seu modo indiferente: – O senhor é como tantos outros médicos – afirmou ele. – Sua ciência mental é muito sugestiva. Mas sua ciência corporal é absolutamente impossível. Eu concordo que a mulher quer matar o amante mais do que o marido traído. Concordo também que uma mulher sempre escolherá uma marreta menor a uma maior. Mas o problema é a impossibilidade física. Nenhuma mulher no mundo conseguiria esmigalhar o crânio de um homem de modo tão arrasador como este. Então, depois de uma pausa, acrescentou com ponderação: – Essas pessoas não compreenderam a coisa como um todo. O homem estava, na verdade, usando um capacete de ferro, e a pancada o esmigalhou como se fosse de vidro. Dê uma olhada naquela mulher. Olhe os bracinhos dela. Todos foram tomados pelo silêncio mais uma vez, e então o doutor disse deveras emburrado: – Bem, eu posso estar errado; existem objeções para tudo. Mas insisto no ponto principal: nenhum homem, exceto um idiota, escolheria a marreta pequena se pudesse usar a maior. Ao escutar essa afirmação, Wilfred Bohum levou as mãos fracas e trêmulas à cabeça e agarrou o cabelo ralo e amarelo. Depois de um instante, deixou as mãos caírem e exclamou: – Essa era a palavra que eu queria; você disse a palavra! Então continuou, recompondo-se: – As palavras que você disse foram: “Nenhum homem, exceto um idiota, escolheria a marreta pequena”. – Sim – disse o doutor –, e daí?
– E daí – disse o vigário –, nenhum homem a não ser um idiota o fez. Os demais o fitaram com olhos fixos e absortos, e ele continuou numa agitação febril e feminina. – Sou um sacerdote – exclamou ele irrequieto –, e um sacerdote não deve ser uma pessoa que derrama sangue. Quero dizer que ele não deve levar ninguém à forca. Quero agradecer a Deus, pois vejo o criminoso com clareza agora... porque ele é um criminoso que não pode ser levado à forca. – Não irá denunciá-lo? – inquiriu o doutor. – Ele não será enforcado se eu o denunciar – respondeu Wilfred com um sorriso insensato, mas curiosamente alegre. – Quando eu entrei na igreja esta manhã, encontrei um louco rezando lá... o pobre Joe, que tem sido problemático a vida inteira. Só Deus sabe o que ele rezou, mas em se tratando de tão estranha criatura não é espantoso supor que suas preces sejam às avessas. Tem grandes chances de um lunático rezar antes de matar um homem. Quando vi o pobre Joe pela última vez, ele estava com meu irmão. Meu irmão estava fazendo chacota dele. – Por Deus! – esbravejou o doutor. – Enfim algo que faça sentido. Mas como você explica... O reverendo Wilfred estava quase tremendo, emocionado com o seu próprio vislumbre da verdade. – Não percebem, não percebem? – bradou ele exaltado. – Esta é a única teoria que explica as duas coisas estranhas, que soluciona os dois mistérios. Os dois mistérios são a marreta pequena e a grande pancada. O ferreiro teria desferido uma grande pancada, mas não teria escolhido a marreta pequena. Sua esposa teria escolhido a marreta pequena, mas não conseguiria dar uma pancada tão forte. Mas o louco poderia ter feito ambas as coisas. Quanto à marreta pequena, bem, ele é louco e teria escolhido qualquer coisa. Quanto à grande pancada, bem, nunca ouviu falar, doutor, que um maníaco durante um ataque chega a ter a força de dez homens? O doutor respirou fundo e então disse: – Meu Deus, acho que o senhor matou a charada. Padre Brown havia fixado os olhos no interlocutor por tanto tempo e com tanta firmeza que parecia querer provar que seus grandes olhos cinzentos e bovinos não eram tão insignificantes quanto o resto do seu rosto. Quando houve silêncio, disse com acentuado respeito: – Sr. Bohun, até aqui a sua teoria é a única que faz sentido, considera todas as hipóteses e é praticamente incontestável. Considero, portanto, que o senhor merece saber, segundo meu conhecimento prático, que sua teoria não é a verdadeira. E tendo dito isso, o estranho homenzinho afastou-se e observou a marreta. – Aquele sujeito parece que sabe mais do que deve – sussurrou o doutor malhumorado para Wilfred. – Esses padres católicos são para lá de astutos.
– Não, não – disse Bohun, com intensa fadiga. – Foi o lunático. Foi o lunático. O grupo dos dois clérigos e do médico se distanciara do grupo mais oficial, que continha o inspetor e o homem que ele prendera. Agora, no entanto, que o grupo deles se rompera, eles começaram a ouvir as vozes dos outros. O padre ergueu os olhos e então baixou o olhar de novo ao escutar o ferreiro dizer em voz alta: – Tomara que eu o tenha convencido, seu inspetor. Sou forte, como o senhor diz, mas não poderia ter arremessado minha marreta até aqui estando lá em Greenford. Nem minha marreta ganhou asas para viajar quase um quilômetro sobrevoando montes e campos. O inspetor riu amistosamente e disse: – Sim, acho que você pode ser descartado como suspeito, apesar de ser uma das coincidências mais inusitadas que eu já vi. Só posso pedir que nos dê toda a ajuda possível na nossa busca por um homem tão grande e forte quanto o senhor. Por Deus! Você pode ser muito útil, nem que seja para pegá-lo. A propósito, tem algum palpite de quem seja o homem? – Talvez eu tenha – disse o pálido ferreiro –, mas não é um homem. Então, vendo olhares assustados em direção à sua mulher sentada no banco, ele descansou a manopla no ombro dela e disse: – Nem uma mulher. – Como assim? – perguntou o inspetor chistoso. – Por acaso acha que vacas usam marretas? – Acho que nenhuma criatura de carne e osso segurou aquela marreta – disse o ferreiro com voz abafada. – Falando sério, acho que o homem morreu sozinho. Wilfred fez um movimento repentino para frente e o examinou com um olhar fulminante. – Quer dizer, Barnes – ergueu-se a voz dura do sapateiro –, que a marreta saltou por vontade própria e acertou o homem? – Ah, vocês cavalheiros podem observar e rir à socapa – bradou Simeon –, vocês clérigos que nos contam aos domingos com que tranquilidade o Senhor atacou Senaqueribe. Acredito que Aquele que habita invisivelmente em todas as casas defendeu a minha honra e derrubou o profanador à porta do seu pecado. Acredito que a força daquela pancada foi apenas a força que existe nos terremotos e nada menos. Wilfred proferiu numa voz totalmente indescritível: – Eu mesmo disse a Norman para cuidar com os trovões. – Esse suspeito não pertence à minha jurisdição – disse o inspetor com um leve sorriso. – Você não está fora da Dele – respondeu o ferreiro. – Fique certo disso. E, virando suas costas largas, o ferreiro entrou em casa. O abalado Wilfred foi conduzido por Padre Brown, que adotou um jeito calmo e amigável para lidar com ele. – Vamos sair deste lugar horrendo, sr. Bohun – disse ele. – Posso olhar o interior da sua igreja? Ouvi dizer que é uma das mais antigas na Inglaterra. Temos certo interesse, sabe – acrescentou com uma careta cômica –, em igrejas inglesas antigas. Wilfred Bohun não sorriu; bom humor nunca foi sua principal qualidade. Mas abanou a cabeça em aprovação com ansiedade, bastante disposto a explicar os esplendores góticos a alguém mais propenso a ser compreensivo do que o ferreiro presbiteriano ou o sapateiro ateu. – Sem dúvida – disse ele –, vamos entrar por este lado. E ele o conduziu pelo caminho que levava à alta entrada lateral no topo do lanço de escadas. Padre Brown estava subindo o primeiro degrau, seguindo-o, quando sentiu um toque de mão sobre o ombro e virou-se para observar a sombria e magra figura do doutor, o rosto ainda mais sombrio de desconfiança. – O senhor – disse o médico com severidade – parece conhecer mais segredos sobre essa questão sinistra. Posso perguntar-lhe se vai guardá-los só para si? – Ora, doutor – respondeu o padre, com um sorriso satisfeito –, existe uma ótima razão para alguém de meu ofício guardar as coisas para si quando não tem certeza delas. Essa razão é que é seu dever constante guardá-las quando ele tem certeza das coisas. Mas, se você acha que eu tenho sido indelicadamente reservado com o senhor ou qualquer outra pessoa, irei ao limite extremo de meu hábito. Vou lhe dar duas grandes pistas. – Bem, senhor? – incitou o doutor soturno. – Primeiro – disse Padre Brown com calma –, a coisa toda está na sua área de estudo. É uma questão de ciência física. O ferreiro está enganado, talvez não por dizer que a pancada foi divina, mas certamente por dizer que ela veio por milagre. Não foi um milagre, doutor, a não ser que se considere o próprio ser humano um milagre, com seu coração meio heroico, mas também estranho e perverso. A força que esmigalhou aquele crânio foi uma força bem conhecida pelos cientistas... uma das mais estudadas leis da natureza. O doutor, que o mirava fixamente com a testa franzida, disse apenas: – E a outra pista? – A outra pista é esta – continuou o padre. – Não lembra que o ferreiro, apesar de acreditar em milagres, desdenhou como um impossível conto de fadas que sua marreta tivesse ganho asas e voado quase um quilômetro pelos campos? – Sim – disse o doutor –, eu lembro disso. – Bem – acrescentou Padre Brown com um largo sorriso –, esse conto de fadas foi a coisa mais próxima da verdade de tudo que foi dito hoje. Dizendo isso, deu as costas e continuou a subir os degraus nos passos do vigário. O reverendo Wilfred estava esperando por ele, pálido e impaciente, como se essa pequena demora fosse a gota d’água para seus nervos, e o levou imediatamente ao seu canto favorito da igreja, aquela parte da galeria mais perto do teto esculpido e iluminado pelo maravilhoso vitral de um anjo. O pequenino padre explorou e admirou tudo exaustivamente, falando com animação, mas numa voz baixa o tempo todo. Quando, durante o curso da sua investigação, ele encontrou a saída lateral da escada espiralada por onde Wilfred descera apressado para encontrar o irmão morto, Padre Brown não correu escada abaixo, e sim escada acima, com a agilidade de um macaco, e sua voz clara veio de uma plataforma externa acima. – Suba aqui, sr. Bohun – chamou ele. – O ar vai lhe fazer bem. Bohun o seguiu e apareceu num tipo de galeria ou sacada de pedras fora do templo, a partir da qual se podia ver a ilimitável planície onde a pequena colina em que estavam se erguia, com florestas até o horizonte purpúreo pontilhado de vilarejos e pequenas propriedades. Nítido e quadrado, mas um tanto pequeno lá embaixo, estava o pátio do ferreiro, no qual o inspetor fazia umas anotações e o cadáver permanecia deitado como uma mosca esmagada. – Poderia ser o mapa do mundo, não é mesmo? – disse Padre Brown. – Sim – assentiu Bohun muito sério, balançando a cabeça. Logo abaixo e ao redor deles, o traçado da construção gótica lançava-se para fora, em direção ao vazio, perturbador e rápido como um suicídio. Há aquele elemento de energia titânica na arquitetura da Idade Média que, seja qual for o aspecto observado, ele sempre parece estar aos pinotes, como o lombo indomável de um cavalo enlouquecido. Essa igreja foi esculpida em pedra antiga e bruta, coberta das barbas de velhos fungos e enodoada por ninhos de pássaros. Quando vista de baixo, ela se projetava como fontes em direção às estrelas, mas quando a viam, como agora, de cima, ela vertia como cataratas no abismo silente. Pois aqueles dois homens na torre ficaram admirando o mais terrível aspecto do gótico: monstruosas ilusões de óptica e desproporções, perspectivas estonteantes, vislumbres de coisas pequenas e grandiosas e coisas grandes e ínfimas, enfim, uma confusão de pedras suspensas no ar. Detalhes de pedra, imensos na sua proximidade, perdiam o realce em contraste com a repetitiva paisagem de campos e pequenas propriedades, pigmeus vistos à distância. Um pássaro esculpido ou uma besta num canto mais pareciam dragões rastejantes ou voadores devastando pastagens e vilarejos abaixo. Toda a atmosfera era confusa e perigosa, como se os homens estivessem suspensos no ar, cercados por asas giratórias de gênios colossais, e toda aquela antiga igreja, tão alta e rica quanto uma catedral, parecia atingir a ensolarada região como uma chuvarada. – Acho que é meio perigoso ficar parado num lugar alto como este, mesmo que seja para rezar – disse Padre Brown. – As alturas foram feitas para serem observadas, não para observar-se a partir delas. – Quer dizer que alguém pode cair? – perguntou Wilfred.
– Quero dizer que, se não cai o corpo de alguém, pode cair sua alma – disse o outro padre. – Não estou lhe entendendo muito bem – comentou Bohun obscuramente. – Observe o ferreiro, por exemplo – continuou Padre Brown com calma –, um bom homem, mas não um cristão: severo, arrogante, implacável. Bem, sua religião escocesa foi constituída por homens que rezavam em colinas e altos penhascos e que aprenderam a desprezar o mundo e a venerar o paraíso. A humildade é a mãe dos gigantes. Vemos coisas enormes quando se está no vale, e apenas coisas minúsculas quando se está no pico. – Mas ele... ele não fez isso – retorquiu Bohun trêmulo. – Verdade – disse o outro com uma voz estranha. – Sabemos que ele não fez. Depois de um momento prosseguiu, mirando tranquilamente a campina ao longe com os olhos pálidos e acinzentados. – Conheci um homem – disse ele –, que começou adorando com os outros em frente ao altar, mas que cresceu gostando das alturas e lugares isolados para rezar, cantos e nichos no campanário ou na torre da igreja. Uma vez, em um desses lugares estonteantes, nos quais o mundo inteiro parecia curvar-se perante ele como uma roda, seu juízo também foi abalado, e ele julgou-se Deus. Tanto que apesar de ser um bom homem, ele cometeu um grande crime. O rosto de Wilfred estava virado para o outro lado, mas suas mãos ossudas ficaram azuis e brancas ao apertarem o parapeito de pedra. – Ele pensou que recebera o poder de julgar o mundo e matar o pecador. Nunca teria esse pensamento se tivesse ajoelhado, com outros homens, no chão. No entanto, viu todos os homens vagando como insetos. Viu um especialmente, pavoneando-se bem à sua frente, insolente e bem visível, com um chapéu verde brilhante: um inseto venenoso. Gralhas crocitaram nos cantos do campanário, mas não se escutou outro som até Padre Brown continuar. – Também o tentou o fato de que tinha em sua mão um dos piores mecanismos da natureza, isto é, a gravidade, aquele insano e veloz caminho que faz toda e qualquer criatura da terra retornar voando ao seu coração quando é solta de um lugar mais alto. Veja o inspetor e seu andar pomposo, bem abaixo de nós na ferraria. Se eu largasse uma pedrinha deste parapeito, ela o atingiria com a velocidade de uma bala. Se eu deixasse cair uma marreta, até mesmo uma marreta pequena... Wilfred Bohun passou uma das pernas por cima do parapeito e Padre Brown o agarrou pela gola no mesmo minuto. – Não por esta porta – disse ele bem gentilmente –, esta porta leva ao inferno. Bohun cambaleou contra a parede e o fitou com olhos espantados. – Como sabe tudo isso? – exclamou ele. – É um demônio?
– Sou um homem – respondeu Padre Brown com ar sério –, e, por isso mesmo, tenho todos os demônios do mundo no meu coração. Escute – emendou depois de breve pausa –, sei o que o senhor fez; ao menos, consigo imaginar grande parte. Quando deixou seu irmão, o senhor estava agitado e tomado por tamanha raiva e indignação que apanhou uma pequena marreta, meio inclinado a matá-lo por causa da impureza de sua boca. Ao invés disso, recuou, metendo-a embaixo do seu casaco abotoado, e correu para a igreja. Rezou fervorosamente em muitos lugares, abaixo do vitral do anjo, no estrado do mezanino e num estrado ainda mais alto, de onde podia ver o chapéu oriental do coronel como a carapaça de um besouro verde rastejando. Então uma terrível ideia tomou o seu espírito, e o senhor deixou que o raio divino caísse. Wilfred levou a mão fraca à cabeça e perguntou em voz baixa: – Como sabe que ele parecia um besouro verde? – Ah, isso – disse o outro com o indício de um sorriso –, foi apenas o bom senso. Mas preste atenção. Digo que sei tudo isso, mas ninguém mais precisa saber. O próximo passo é seu, não farei mais nada, vou guardar isso como um segredo de confissão. Se me perguntar por quê, posso dar muitas razões, e apenas uma lhe diz respeito. Deixo as coisas a seu cargo porque o senhor não foi tão longe com seu erro, como os assassinos fazem. O senhor não ajudou a resolver o crime colocando a culpa no ferreiro quando era fácil fazê-lo, nem colocou a culpa na mulher dele, o que também teria sido fácil. Tentou resolver o crime colocando a culpa no imbecil, pois sabia que ele não sofreria. Esse é um dos detalhes que me compete perceber nos assassinos. Agora desça ao vilarejo e siga o seu caminho tão livre quanto o vento, pois aqui eu disse minha última palavra. Desceram em absoluto silêncio a escada em espiral e viram a luz do sol na ferraria. Wilfred Bohun, cuidadosamente, abriu o portão de madeira do pátio e, dirigindo-se reto ao inspetor, declarou: – Gostaria de me entregar. Eu matei o meu irmão.
O vilarejo de Bohun Beacon empoleirava-se numa colina tão íngreme que o elevado pináculo da igreja parecia apenas o cume de um pequeno monte. Ao pé da igreja havia uma ferraria, em geral avermelhada pelo fogo das fornalhas e sempre abarrotada de marretas e sucatas de ferro; no outro lado da rua, depois de um rústico cruzamento pavimentado com paralelepípedos, ficava o Blue Boar, a única estalagem do lugar. Foi nesse cruzamento, num amanhecer plúmbeo e prateado, que dois irmãos se encontraram e conversaram, embora um estivesse iniciando o dia e o outro, terminando. O reverendíssimo vigário Wilfred Bohun era muito devoto e estava a caminho das suas austeras práticas de oração ou contemplação ao amanhecer. O ilustríssimo coronel Norman Bohun, seu irmão mais velho, nem um pouco devoto, estava sentado, trajado a rigor, no banco do lado de fora do Blue Boar, bebendo aquilo que um observador filosófico poderia considerar tanto o seu último copo da terça-feira como o primeiro da quarta-feira. O coronel não era uma pessoa detalhista. Os Bohun eram uma das poucas famílias aristocráticas que, de fato, datavam da Idade Média, e o pendão deles realmente avistara a Palestina. No entanto, é um grande erro supor que essas famílias tenham um alto conceito na tradição cavalheiresca. Poucos, com exceção dos pobres, preservam as tradições. Os aristocratas não vivem de tradições, mas de modismos. Os Bohun haviam sido rufiões sob o reinado da rainha Anne e janotas sob o reinado da rainha Vitória. Mas, como mais de uma das famílias realmente antigas, eles se haviam degenerado nos últimos dois séculos em dândis, beberrões e devassos, a ponto de surgirem até rumores de que sofriam de insanidade. Com certeza havia algo pouco humano na busca voraz por prazer do coronel e na sua decisão crônica de não voltar para casa até que a madrugada apresentasse um indício da abominável lucidez da insônia. Ele era um espécime alto e belo, já passado da meia-idade, mas com o cabelo ainda espantosamente amarelo. O cabelo loiro apenas lembrava a juba de um leão, mas os olhos azuis eram tão encovados no rosto que pareciam negros. Eram um pouquinho mais juntos que o normal. De cada lado do bigode longo e amarelo, descia uma ruga ou sulco desde a narina até a mandíbula, como um riso de escárnio esculpido no rosto. Em cima do terno preto, vestia um primoroso capote amarelo desbotado, que mais parecia um leve penhoar do que um casaco. Na parte de trás cabeça, estava preso um extraordinário chapéu de abas largas de um verde luminoso, evidentemente alguma curiosidade oriental escolhida ao acaso. Ele se orgulhava de aparecer nessas vestimentas ilógicas – envaidecido por sempre fazê-las parecerem lógicas.
Seu irmão, o vigário, tinha a mesma elegância e o mesmo cabelo amarelo, mas costumava usar uma batina preta abotoada até o queixo; o rosto era cuidado com esmero, bem escanhoado e um pouco nervoso. Parecia viver apenas para sua religião, mas algumas pessoas diziam – particularmente o ferreiro, um presbiteriano – que aquilo era amor à arquitetura gótica, e não a Deus, e que seu constante vagar pela igreja, feito um fantasma, era apenas outro e mais puro aspecto de sua ânsia quase mórbida por beleza – a mesma ânsia que levara seu irmão às mulheres e ao vinho. Essa acusação era duvidosa, enquanto a prática da piedade do homem fosse inquestionável. Na verdade, a acusação era, em grande parte, uma interpretação errônea do seu amor à solidão e à devoção reservada, e se baseava no fato de ele ser visto com frequência de joelhos, não em frente ao altar, mas em lugares incomuns: nas criptas, na galeria e até mesmo no campanário. No momento, ele estava prestes a entrar na igreja, atravessando o pátio da ferraria, mas estacou e franziu a testa ao ver os olhos cavernosos de seu irmão voltados na mesma direção. Da hipótese de que o coronel estivesse interessado na igreja, ele nem cogitou. Lá fora havia apenas a oficina do ferreiro, e, embora o ferreiro fosse um puritano e não pertencesse à sua paróquia, Wilfred Bohun ficara sabendo de alguns escândalos de certa esposa, linda e um tanto famosa. Lançou um olhar desconfiado para a oficina, e o coronel levantou-se rindo para falar com ele. – Bom dia, Wilfred – saudou ele. – Como um bom senhorio, estou zelando incessantemente pelo meu povo. Estou indo chamar o ferreiro. Wilfred olhou para o chão e disse: – O ferreiro está fora da cidade. Em Greenford. – Eu sei – respondeu o outro com uma risada silenciosa –, e é por isso que eu estou fazendo uma rápida visita à casa dele. – Norman – disse o clérigo, de olho num seixo na estrada –, você não tem medo de raios? – O que quer dizer com isso? – indagou o coronel. – Seu hobby é a meteorologia? – Quero dizer – explicou Wilfred, sem levantar o olhar –, alguma vez pensou que Deus pode atingi-lo no meio da rua? – Desculpe-me – disse o coronel –, vejo que o seu hobby é o folclore. – Sei que o seu hobby é a blasfêmia – retrucou o religioso, ferido na única parte vívida da sua natureza. – Mas, se você não teme a Deus, tem boas razões para temer o homem. O irmão mais velho levantou as sobrancelhas polidamente. – Temer o homem? – perguntou ele. – Barnes, o ferreiro, é o maior e mais forte do homens num raio de sessenta quilômetros – disse o clérigo com severidade. – Sei que você não é nenhum covarde e fraco, mas ele poderia arremessá-lo contra a parede. Isso o atingiu em cheio, pois era verdade, e a sombria ruga que ia da boca às narinas escureceu e ficou ainda mais profunda. Por um instante, ele ficou parado com um sorriso carregado de escárnio no rosto. Porém, num átimo, o coronel Bohun recobrara o bom humor cruel que lhe era próprio e riu, deixando à mostra os dois caninos sob o bigode amarelo. – Neste caso, meu querido Wilfred – ponderou com certa indiferença –, foi sábio da parte do último dos Bohun sair à rua com parte de uma armadura. E ele tirou o extravagante chapéu verde, mostrando o revestimento de aço. Wilfred reconheceu mesmo um pequeno elmo japonês ou chinês desmantelado de uma armadura que ficava pendurada no velho castelo da família. – Foi o primeiro chapéu à mão – explicou o irmão feliz e confiante. – Sempre o chapéu mais próximo, e a mulher mais próxima. – O ferreiro está em Greenford – disse Wilfred com calma – e não se sabe a que horas ele volta. Dizendo isso, ele se virou e entrou na igreja com a cabeça inclinada, fazendo o sinal da cruz como quem quer se livrar de um espírito impuro. Estava ansioso para esquecer tais grosserias no calmo crepúsculo de sua alta clausura gótica, mas, naquela manhã, quis o destino que sua sossegada rotina de práticas religiosas continuasse a ser interrompida por pequenos sobressaltos. Assim que entrou na igreja, na maioria das vezes vazia àquela hora, uma figura ajoelhada levantou-se com pressa e foi em direção à forte luz que vinha da porta. Quando viu essa cena, o vigário ficou parado, pasmo. Porque o matinal devoto não poderia ser outra pessoa senão o idiota do vilarejo, sobrinho do ferreiro, alguém que não gostava da igreja nem poderia importar-se com ela nem com qualquer outra coisa. Ele sempre era chamado de “Joe Maluco” e parecia não ter outro nome; era um jovem triste, forte e desajeitado, de rosto apático e branco, cabelo liso e escuro e boca sempre aberta. Ao passar pelo sacerdote, sua cara apalermada não dava a menor ideia do que ele estivera fazendo ou pensando. Nunca antes se soube que ele rezasse. Que tipo de preces ele estava fazendo agora? Preces extraordinárias, com certeza. Wilfred Bohun ficou plantado no mesmo lugar o tempo suficiente para ver o idiota sair em direção à luz do sol e até mesmo para ver o irmão devasso cumprimentá-lo com uma espécie de jocosidade indulgente. A última coisa que ele viu foi o coronel jogando moedinhas na boca descerrada de Joe, aparentando seriamente o desejo de acertá-la. Essa horrenda imagem luminosa da estupidez e da crueldade terrenas enviou o asceta por fim para as suas súplicas por purificação e novos pensamentos. Subiu a um banco na galeria, embaixo de um vitral colorido especial, que sempre lhe aquietava o espírito: um anjo carregando lírios com o fundo azul. Lá, começou a pensar menos na face lívida e na boca de peixe do idiota. Começou a pensar menos no irmão perverso, caminhando para lá e para cá como um leão esguio terrivelmente esfaimado.
Mergulhou cada vez mais fundo naquelas frias e delicadas cores de florações prateadas e céu safira. Ali, meia hora depois, ele foi encontrado por Gibbs, o sapateiro do vilarejo, enviado atrás dele com certa pressa. Ergueu-se com presteza, pois sabia que um assunto trivial jamais teria trazido Gibbs àquele lugar. O sapateiro era, como outros em muitos vilarejos, um ateu, e sua vinda à igreja era mais surpreendente que a de “Joe Maluco”. Manhã de enigmas teológicos. – O que foi? – perguntou Wilfred Bohun meio tenso, já estendendo a mão trêmula para pegar o chapéu. O ateu falou num tom que, vindo dele, era de um espantoso respeito e, até mesmo, por assim dizer, profundamente compassivo. – Desculpe, sir – sussurrou ele em voz rouca –, mas achamos que era melhor avisá-lo logo. Acho que algo terrível aconteceu, sir. Acho que o seu irmão... Wilfred juntou e apertou as frágeis mãos. – Que maldade ele aprontou agora? – bradou numa exaltação involuntária. – Bem, sir – disse o sapateiro, tossindo. – Acho que ele não aprontou nada nem vai aprontar mais nada. Acho que aprontaram para ele. Mas é melhor o senhor vir comigo. O vigário seguiu o sapateiro na sinuosa escadinha, até chegarem a uma porta bem acima do nível da rua. Bohun vislumbrou a tragédia de imediato, lisa como a planície no horizonte. No pátio da ferraria estavam parados cinco ou seis homens, a maioria vestida de preto, um deles com uniforme de inspetor. Estavam lá o doutor, o ministro presbiteriano e o padre da capela católica que a mulher do ferreiro frequentava. O padre a confortava, na verdade, com breves murmúrios, pois ela, mulher magnífica de cabelo vermelho e mechas douradas, soluçava desesperada em um banco. No meio desses dois grupos, longe da principal pilha de marretas, jazia estatelado um homem de terno preto, braços abertos com envergadura de águia planando e rosto achatado. Da altura em que estava, Wilfred poderia jurar que conhecia cada detalhe daquela vestimenta e daquela aparência, sem falar nos anéis da família Bohun nos dedos; entretanto, o crânio parecia apenas um borrão aterrador, estrela de negrume e sangue. Wilfred Bohun deu apenas uma olhadela e desceu os degraus em direção ao pátio. O doutor, médico da família, saudou-o, mas Wilfred mal percebeu. Conseguiu apenas balbuciar: – Meu irmão está morto. O que isso significa? Que mistério terrível é esse? Houve um silêncio funesto, e então o sapateiro, o mais franco dos homens ali presentes, respondeu: – Muita crueldade, sir – disse ele –, mas não muito mistério. – O que você quer dizer? – perguntou Wilfred lívido. – É óbvio – respondeu Gibbs. – Só existe um homem num raio de sessenta quilômetros que poderia ter desferido uma pancada dessas, e ele é o homem com mais motivo para fazê-lo. – Não devemos prejulgar nada – interveio nervoso o doutor, do alto de sua barba preta –, mas é da minha competência corroborar aquilo que o sr. Gibbs afirma a respeito da natureza da pancada. Foi uma pancada incrível. Contudo, enquanto o sr. Gibbs afirma que só um homem, neste distrito, seria capaz de dar um golpe desses, eu diria que ninguém é capaz. Um tremor de superstição percorreu a frágil imagem do vigário. – Eu mal consigo entender – disse ele. – Sr. Bohun – disse o doutor em voz baixa –, literalmente, as metáforas me faltam. É inadequado dizer que o crânio foi esmigalhado como uma casca de ovo. Fragmentos de osso fincaram o corpo e o chão como projéteis numa parede de barro. Foi a mão de um gigante. Ele calou-se por um momento, o olhar sombrio atravessando os óculos, e então acrescentou: – Essa explicação tem uma vantagem: isenta a maioria das pessoas da suspeita de uma só vez. Se você, eu ou qualquer homem deste país fosse acusado desse crime, deveríamos ser absolvidos como um bebê seria absolvido do furto da Coluna Nelson. – É isto que estou dizendo – repetiu o sapateiro obstinado. – Só um homem pode ter cometido este crime: justamente o homem que deve ter feito isso. Onde está Simeon Barnes, o ferreiro? – Ele está longe daqui, lá em Greenford – tartamudeou o vigário. – É mais provável que esteja na França – resmungou o sapateiro. – Não, ele não está em nenhum desses lugares – disse uma vozinha sem graça, a voz do pequenino padre católico que se juntara ao grupo. – Na verdade, ele está chegando pela estrada neste exato momento. O pequenino padre não era interessante de se contemplar: tinha a cabeleira castanha arrepiada e o rosto arredondado e sem expressão. Porém, ainda que fosse tão belo como Apolo, ninguém teria olhado para ele naquele momento. Todos se viraram e perscrutaram o caminho que se estendia planície afora; e realmente lá estava caminhando, com suas características passadas largas e a marreta sobre o ombro, Simeon, o ferreiro. Gigante ossudo de cavanhaque negro e olhos profundos, escuros e sinistros. Vinha caminhando e conversando com calma com outros dois homens e, embora a simpatia não fosse o seu forte, parecia bem à vontade. – Meu Deus! – gritou o sapateiro ateu. – E lá está a marreta do crime! – Não – discordou o inspetor, de aparência frágil e bigode ruivo, que falava pela primeira vez. – A marreta que ele usou está do lado da igreja. Deixamos a marreta e o corpo do jeito que estavam. Todos correram os olhares ao redor; o pequenino padre aproximou-se e, em silêncio, baixou os olhos para o lugar onde estava a ferramenta. Era uma das marretas menores e mais leves, e não teria chamado a atenção dentre as demais, se na ponta dela não houvesse sangue e cabelos amarelos. Depois de um silêncio, o padre baixinho falou sem levantar o olhar, e sua voz deixou de ser monótona: – O sr. Gibbs está absolutamente certo – disse ele – ao afirmar que não há mistério algum. Existe apenas o mistério em torno dos motivos que levariam um homem tão grande a desferir uma pancada tão grande com uma marreta tão pequena. – Ah, isso não importa – bradou Gibbs, com agitação. – O que vamos fazer com Simeon Barnes? – Deixá-lo em paz – disse o padre calmamente. – Ele está vindo aqui por conta própria. Conheço os dois homens que estão com ele. São bons companheiros de Greenford que vieram até aqui por causa da capela presbiteriana. Quando o padre terminou de falar, o alto ferreiro dobrou a esquina da igreja e com passadas largas chegou ao pátio. Então ficou parado lá, sem se mover, e a marreta caiu-lhe da mão. O inspetor, que preservara uma correção de atitude impenetrável, de imediato dirigiu-se a ele. – Eu não vou lhe perguntar, sr. Barnes – disse ele –, se sabe o que aconteceu por aqui. Não é obrigado a falar. Espero que o senhor não saiba e que consiga prová-lo. No entanto, tenho que efetuar a sua prisão, em nome do rei, pelo assassinato do coronel Norman Bohun. – Você não é obrigado a falar nada – disse o sapateiro numa exaltação ansiosa. – Eles vão ter que provar tudo. Ainda nem provaram que aquele é o coronel Bohun, com a cabeça toda estraçalhada daquele jeito. – Essa não cola – disse o doutor puxando o padre para o lado. – Essas coisas só acontecem em histórias de detetive. Eu era o médico do coronel e conhecia seu corpo melhor até que ele mesmo. Tinha mãos delicadas e bem peculiares. O segundo e terceiro dedos tinham o mesmo tamanho. Ah, aquele, sem dúvida, é o coronel. Assim que o doutor lançou os olhos para aquele cadáver de crânio esmigalhado estirado no chão, os olhos férreos do estupefato ferreiro os seguiram e lá repousaram também. – O coronel Bohun está morto? – disse o ferreiro com certa calma. – Então ele está ferrado. – Não diga nada! Ah, não diga nada – gritou o sapateiro ateu, dançando num êxtase de admiração pelo sistema legal inglês. Pois nenhum homem é tão legalista quanto o bom secularista. O ferreiro virou por cima do ombro o rosto augusto de um fanático. – É bem cômodo para vocês, não é, seu bando de ímpios, ficar se esquivando feito raposas, só porque a lei do mundo os favorece – vaticinou ele –, mas Deus guarda os Seus no Seu bolso, como vocês vão ver hoje. Então apontou para o coronel e perguntou: – Quando esse miserável morreu em seus pecados? – Modere a linguagem – retorquiu o doutor. – Modere a linguagem da Bíblia, e eu moderarei a minha. Quando ele morreu? – Hoje às seis horas da manhã ele estava vivo – balbuciou Wilfred Bohun. – Deus é bom – disse o ferreiro. – Seu inspetor, eu não tenho a mínima objeção a ser preso. É o senhor que pode não querer me prender. Não me importo em deixar o tribunal com a ficha limpa. O senhor é que deve se importar em deixar o tribunal com um fiasco na sua carreira. O maciço inspetor pela primeira vez mirou o ferreiro com um olhar intenso, assim como fizeram os outros presentes, exceto o estranho e pequenino padre, que continuava a examinar a pequena marreta que havia desferido o terrível golpe. – Há dois homens parados fora desta oficina – continuou o ferreiro com tediante lucidez –, bons comerciantes de Greenford, que todo mundo conhece; eles podem jurar que me viram desde antes da meia-noite até o raiar do dia, e muito tempo depois, na sala do comitê da nossa Missão de Renovação, que esteve reunida a noite inteira, e onde nós salvamos almas rapidamente. Até mesmo em Greenford, vinte pessoas poderiam confirmar a minha presença por todo esse tempo. Se eu fosse ateu, seu inspetor, eu deixaria o senhor caminhar na direção do precipício. Mas como cristão, me sinto obrigado a lhe dar uma chance e perguntar se quer ouvir o meu álibi agora ou no tribunal. O inspetor, pela primeira vez perturbado, afirmou: – Claro, eu me alegraria em inocentar todos vocês agora mesmo. O ferreiro afastou-se do seu pátio com a mesma passada larga e tranquila, retornando na companhia de seus dois amigos de Greenford, que eram na verdade amigos de quase todos os presentes. Cada um deles disse breves palavras que ninguém sequer pensou em duvidar. Depois que eles falaram, a inocência de Simeon pareceu tão consistente quanto a grandiosa igreja acima deles. Um daqueles silêncios mais estranhos e constrangedores do que qualquer fala abalou o grupo. Com o intuito febril de puxar uma conversa, o vigário disse ao padre: – Parece muito interessado nessa marreta, Padre Brown. – Sim, estou – respondeu Padre Brown. – Por que usar uma marreta tão pequena? O doutor andava ao redor dele. – Por Deus, é verdade! – gritou. – Quem usaria uma marreta pequena tendo dez marretas maiores à disposição? Então baixou a voz e falou ao ouvido do vigário: – Apenas o tipo de pessoa que não conseguiria levantar uma marreta grande. Não é uma questão de força ou coragem entre os sexos. É uma questão da força de para levantar nos ombros. Uma mulher corajosa poderia ter cometido dez assassinatos com uma marreta mais leve e sem tirar um fio de cabelo do lugar. Ela não poderia matar nem mesmo um besouro com uma marreta maior. Wilfred Bohun o estava mirando com uma espécie de hipnotizado horror, enquanto Padre Brown escutava com a cabeça um pouco inclinada, interessado e atento. O doutor prosseguiu com ênfase sibilante: – Por que esses idiotas sempre presumem que quem odeia o amante da esposa é apenas o marido da esposa? Em noventa por cento dos casos, quem mais odeia o amante da esposa é a própria esposa. Sabe-se lá qual desaforo ou traição ele cometeu... olhe lá! Fez, então, um gesto momentâneo em direção à mulher ruiva no banco. Ela levantara a cabeça por fim, e as lágrimas estavam secando no belo rosto. Porém, não tirava do cadáver um olhar elétrico e meio idiota. O reverendo Wilfred Bohun fez um gesto lasso como se não quisesse mais saber de nada, mas Padre Brown, batendo da manga algumas cinzas que voaram da fornalha, falou de seu modo indiferente: – O senhor é como tantos outros médicos – afirmou ele. – Sua ciência mental é muito sugestiva. Mas sua ciência corporal é absolutamente impossível. Eu concordo que a mulher quer matar o amante mais do que o marido traído. Concordo também que uma mulher sempre escolherá uma marreta menor a uma maior. Mas o problema é a impossibilidade física. Nenhuma mulher no mundo conseguiria esmigalhar o crânio de um homem de modo tão arrasador como este. Então, depois de uma pausa, acrescentou com ponderação: – Essas pessoas não compreenderam a coisa como um todo. O homem estava, na verdade, usando um capacete de ferro, e a pancada o esmigalhou como se fosse de vidro. Dê uma olhada naquela mulher. Olhe os bracinhos dela. Todos foram tomados pelo silêncio mais uma vez, e então o doutor disse deveras emburrado: – Bem, eu posso estar errado; existem objeções para tudo. Mas insisto no ponto principal: nenhum homem, exceto um idiota, escolheria a marreta pequena se pudesse usar a maior. Ao escutar essa afirmação, Wilfred Bohum levou as mãos fracas e trêmulas à cabeça e agarrou o cabelo ralo e amarelo. Depois de um instante, deixou as mãos caírem e exclamou: – Essa era a palavra que eu queria; você disse a palavra! Então continuou, recompondo-se: – As palavras que você disse foram: “Nenhum homem, exceto um idiota, escolheria a marreta pequena”. – Sim – disse o doutor –, e daí?
– E daí – disse o vigário –, nenhum homem a não ser um idiota o fez. Os demais o fitaram com olhos fixos e absortos, e ele continuou numa agitação febril e feminina. – Sou um sacerdote – exclamou ele irrequieto –, e um sacerdote não deve ser uma pessoa que derrama sangue. Quero dizer que ele não deve levar ninguém à forca. Quero agradecer a Deus, pois vejo o criminoso com clareza agora... porque ele é um criminoso que não pode ser levado à forca. – Não irá denunciá-lo? – inquiriu o doutor. – Ele não será enforcado se eu o denunciar – respondeu Wilfred com um sorriso insensato, mas curiosamente alegre. – Quando eu entrei na igreja esta manhã, encontrei um louco rezando lá... o pobre Joe, que tem sido problemático a vida inteira. Só Deus sabe o que ele rezou, mas em se tratando de tão estranha criatura não é espantoso supor que suas preces sejam às avessas. Tem grandes chances de um lunático rezar antes de matar um homem. Quando vi o pobre Joe pela última vez, ele estava com meu irmão. Meu irmão estava fazendo chacota dele. – Por Deus! – esbravejou o doutor. – Enfim algo que faça sentido. Mas como você explica... O reverendo Wilfred estava quase tremendo, emocionado com o seu próprio vislumbre da verdade. – Não percebem, não percebem? – bradou ele exaltado. – Esta é a única teoria que explica as duas coisas estranhas, que soluciona os dois mistérios. Os dois mistérios são a marreta pequena e a grande pancada. O ferreiro teria desferido uma grande pancada, mas não teria escolhido a marreta pequena. Sua esposa teria escolhido a marreta pequena, mas não conseguiria dar uma pancada tão forte. Mas o louco poderia ter feito ambas as coisas. Quanto à marreta pequena, bem, ele é louco e teria escolhido qualquer coisa. Quanto à grande pancada, bem, nunca ouviu falar, doutor, que um maníaco durante um ataque chega a ter a força de dez homens? O doutor respirou fundo e então disse: – Meu Deus, acho que o senhor matou a charada. Padre Brown havia fixado os olhos no interlocutor por tanto tempo e com tanta firmeza que parecia querer provar que seus grandes olhos cinzentos e bovinos não eram tão insignificantes quanto o resto do seu rosto. Quando houve silêncio, disse com acentuado respeito: – Sr. Bohun, até aqui a sua teoria é a única que faz sentido, considera todas as hipóteses e é praticamente incontestável. Considero, portanto, que o senhor merece saber, segundo meu conhecimento prático, que sua teoria não é a verdadeira. E tendo dito isso, o estranho homenzinho afastou-se e observou a marreta. – Aquele sujeito parece que sabe mais do que deve – sussurrou o doutor malhumorado para Wilfred. – Esses padres católicos são para lá de astutos.
– Não, não – disse Bohun, com intensa fadiga. – Foi o lunático. Foi o lunático. O grupo dos dois clérigos e do médico se distanciara do grupo mais oficial, que continha o inspetor e o homem que ele prendera. Agora, no entanto, que o grupo deles se rompera, eles começaram a ouvir as vozes dos outros. O padre ergueu os olhos e então baixou o olhar de novo ao escutar o ferreiro dizer em voz alta: – Tomara que eu o tenha convencido, seu inspetor. Sou forte, como o senhor diz, mas não poderia ter arremessado minha marreta até aqui estando lá em Greenford. Nem minha marreta ganhou asas para viajar quase um quilômetro sobrevoando montes e campos. O inspetor riu amistosamente e disse: – Sim, acho que você pode ser descartado como suspeito, apesar de ser uma das coincidências mais inusitadas que eu já vi. Só posso pedir que nos dê toda a ajuda possível na nossa busca por um homem tão grande e forte quanto o senhor. Por Deus! Você pode ser muito útil, nem que seja para pegá-lo. A propósito, tem algum palpite de quem seja o homem? – Talvez eu tenha – disse o pálido ferreiro –, mas não é um homem. Então, vendo olhares assustados em direção à sua mulher sentada no banco, ele descansou a manopla no ombro dela e disse: – Nem uma mulher. – Como assim? – perguntou o inspetor chistoso. – Por acaso acha que vacas usam marretas? – Acho que nenhuma criatura de carne e osso segurou aquela marreta – disse o ferreiro com voz abafada. – Falando sério, acho que o homem morreu sozinho. Wilfred fez um movimento repentino para frente e o examinou com um olhar fulminante. – Quer dizer, Barnes – ergueu-se a voz dura do sapateiro –, que a marreta saltou por vontade própria e acertou o homem? – Ah, vocês cavalheiros podem observar e rir à socapa – bradou Simeon –, vocês clérigos que nos contam aos domingos com que tranquilidade o Senhor atacou Senaqueribe. Acredito que Aquele que habita invisivelmente em todas as casas defendeu a minha honra e derrubou o profanador à porta do seu pecado. Acredito que a força daquela pancada foi apenas a força que existe nos terremotos e nada menos. Wilfred proferiu numa voz totalmente indescritível: – Eu mesmo disse a Norman para cuidar com os trovões. – Esse suspeito não pertence à minha jurisdição – disse o inspetor com um leve sorriso. – Você não está fora da Dele – respondeu o ferreiro. – Fique certo disso. E, virando suas costas largas, o ferreiro entrou em casa. O abalado Wilfred foi conduzido por Padre Brown, que adotou um jeito calmo e amigável para lidar com ele. – Vamos sair deste lugar horrendo, sr. Bohun – disse ele. – Posso olhar o interior da sua igreja? Ouvi dizer que é uma das mais antigas na Inglaterra. Temos certo interesse, sabe – acrescentou com uma careta cômica –, em igrejas inglesas antigas. Wilfred Bohun não sorriu; bom humor nunca foi sua principal qualidade. Mas abanou a cabeça em aprovação com ansiedade, bastante disposto a explicar os esplendores góticos a alguém mais propenso a ser compreensivo do que o ferreiro presbiteriano ou o sapateiro ateu. – Sem dúvida – disse ele –, vamos entrar por este lado. E ele o conduziu pelo caminho que levava à alta entrada lateral no topo do lanço de escadas. Padre Brown estava subindo o primeiro degrau, seguindo-o, quando sentiu um toque de mão sobre o ombro e virou-se para observar a sombria e magra figura do doutor, o rosto ainda mais sombrio de desconfiança. – O senhor – disse o médico com severidade – parece conhecer mais segredos sobre essa questão sinistra. Posso perguntar-lhe se vai guardá-los só para si? – Ora, doutor – respondeu o padre, com um sorriso satisfeito –, existe uma ótima razão para alguém de meu ofício guardar as coisas para si quando não tem certeza delas. Essa razão é que é seu dever constante guardá-las quando ele tem certeza das coisas. Mas, se você acha que eu tenho sido indelicadamente reservado com o senhor ou qualquer outra pessoa, irei ao limite extremo de meu hábito. Vou lhe dar duas grandes pistas. – Bem, senhor? – incitou o doutor soturno. – Primeiro – disse Padre Brown com calma –, a coisa toda está na sua área de estudo. É uma questão de ciência física. O ferreiro está enganado, talvez não por dizer que a pancada foi divina, mas certamente por dizer que ela veio por milagre. Não foi um milagre, doutor, a não ser que se considere o próprio ser humano um milagre, com seu coração meio heroico, mas também estranho e perverso. A força que esmigalhou aquele crânio foi uma força bem conhecida pelos cientistas... uma das mais estudadas leis da natureza. O doutor, que o mirava fixamente com a testa franzida, disse apenas: – E a outra pista? – A outra pista é esta – continuou o padre. – Não lembra que o ferreiro, apesar de acreditar em milagres, desdenhou como um impossível conto de fadas que sua marreta tivesse ganho asas e voado quase um quilômetro pelos campos? – Sim – disse o doutor –, eu lembro disso. – Bem – acrescentou Padre Brown com um largo sorriso –, esse conto de fadas foi a coisa mais próxima da verdade de tudo que foi dito hoje. Dizendo isso, deu as costas e continuou a subir os degraus nos passos do vigário. O reverendo Wilfred estava esperando por ele, pálido e impaciente, como se essa pequena demora fosse a gota d’água para seus nervos, e o levou imediatamente ao seu canto favorito da igreja, aquela parte da galeria mais perto do teto esculpido e iluminado pelo maravilhoso vitral de um anjo. O pequenino padre explorou e admirou tudo exaustivamente, falando com animação, mas numa voz baixa o tempo todo. Quando, durante o curso da sua investigação, ele encontrou a saída lateral da escada espiralada por onde Wilfred descera apressado para encontrar o irmão morto, Padre Brown não correu escada abaixo, e sim escada acima, com a agilidade de um macaco, e sua voz clara veio de uma plataforma externa acima. – Suba aqui, sr. Bohun – chamou ele. – O ar vai lhe fazer bem. Bohun o seguiu e apareceu num tipo de galeria ou sacada de pedras fora do templo, a partir da qual se podia ver a ilimitável planície onde a pequena colina em que estavam se erguia, com florestas até o horizonte purpúreo pontilhado de vilarejos e pequenas propriedades. Nítido e quadrado, mas um tanto pequeno lá embaixo, estava o pátio do ferreiro, no qual o inspetor fazia umas anotações e o cadáver permanecia deitado como uma mosca esmagada. – Poderia ser o mapa do mundo, não é mesmo? – disse Padre Brown. – Sim – assentiu Bohun muito sério, balançando a cabeça. Logo abaixo e ao redor deles, o traçado da construção gótica lançava-se para fora, em direção ao vazio, perturbador e rápido como um suicídio. Há aquele elemento de energia titânica na arquitetura da Idade Média que, seja qual for o aspecto observado, ele sempre parece estar aos pinotes, como o lombo indomável de um cavalo enlouquecido. Essa igreja foi esculpida em pedra antiga e bruta, coberta das barbas de velhos fungos e enodoada por ninhos de pássaros. Quando vista de baixo, ela se projetava como fontes em direção às estrelas, mas quando a viam, como agora, de cima, ela vertia como cataratas no abismo silente. Pois aqueles dois homens na torre ficaram admirando o mais terrível aspecto do gótico: monstruosas ilusões de óptica e desproporções, perspectivas estonteantes, vislumbres de coisas pequenas e grandiosas e coisas grandes e ínfimas, enfim, uma confusão de pedras suspensas no ar. Detalhes de pedra, imensos na sua proximidade, perdiam o realce em contraste com a repetitiva paisagem de campos e pequenas propriedades, pigmeus vistos à distância. Um pássaro esculpido ou uma besta num canto mais pareciam dragões rastejantes ou voadores devastando pastagens e vilarejos abaixo. Toda a atmosfera era confusa e perigosa, como se os homens estivessem suspensos no ar, cercados por asas giratórias de gênios colossais, e toda aquela antiga igreja, tão alta e rica quanto uma catedral, parecia atingir a ensolarada região como uma chuvarada. – Acho que é meio perigoso ficar parado num lugar alto como este, mesmo que seja para rezar – disse Padre Brown. – As alturas foram feitas para serem observadas, não para observar-se a partir delas. – Quer dizer que alguém pode cair? – perguntou Wilfred.
– Quero dizer que, se não cai o corpo de alguém, pode cair sua alma – disse o outro padre. – Não estou lhe entendendo muito bem – comentou Bohun obscuramente. – Observe o ferreiro, por exemplo – continuou Padre Brown com calma –, um bom homem, mas não um cristão: severo, arrogante, implacável. Bem, sua religião escocesa foi constituída por homens que rezavam em colinas e altos penhascos e que aprenderam a desprezar o mundo e a venerar o paraíso. A humildade é a mãe dos gigantes. Vemos coisas enormes quando se está no vale, e apenas coisas minúsculas quando se está no pico. – Mas ele... ele não fez isso – retorquiu Bohun trêmulo. – Verdade – disse o outro com uma voz estranha. – Sabemos que ele não fez. Depois de um momento prosseguiu, mirando tranquilamente a campina ao longe com os olhos pálidos e acinzentados. – Conheci um homem – disse ele –, que começou adorando com os outros em frente ao altar, mas que cresceu gostando das alturas e lugares isolados para rezar, cantos e nichos no campanário ou na torre da igreja. Uma vez, em um desses lugares estonteantes, nos quais o mundo inteiro parecia curvar-se perante ele como uma roda, seu juízo também foi abalado, e ele julgou-se Deus. Tanto que apesar de ser um bom homem, ele cometeu um grande crime. O rosto de Wilfred estava virado para o outro lado, mas suas mãos ossudas ficaram azuis e brancas ao apertarem o parapeito de pedra. – Ele pensou que recebera o poder de julgar o mundo e matar o pecador. Nunca teria esse pensamento se tivesse ajoelhado, com outros homens, no chão. No entanto, viu todos os homens vagando como insetos. Viu um especialmente, pavoneando-se bem à sua frente, insolente e bem visível, com um chapéu verde brilhante: um inseto venenoso. Gralhas crocitaram nos cantos do campanário, mas não se escutou outro som até Padre Brown continuar. – Também o tentou o fato de que tinha em sua mão um dos piores mecanismos da natureza, isto é, a gravidade, aquele insano e veloz caminho que faz toda e qualquer criatura da terra retornar voando ao seu coração quando é solta de um lugar mais alto. Veja o inspetor e seu andar pomposo, bem abaixo de nós na ferraria. Se eu largasse uma pedrinha deste parapeito, ela o atingiria com a velocidade de uma bala. Se eu deixasse cair uma marreta, até mesmo uma marreta pequena... Wilfred Bohun passou uma das pernas por cima do parapeito e Padre Brown o agarrou pela gola no mesmo minuto. – Não por esta porta – disse ele bem gentilmente –, esta porta leva ao inferno. Bohun cambaleou contra a parede e o fitou com olhos espantados. – Como sabe tudo isso? – exclamou ele. – É um demônio?
– Sou um homem – respondeu Padre Brown com ar sério –, e, por isso mesmo, tenho todos os demônios do mundo no meu coração. Escute – emendou depois de breve pausa –, sei o que o senhor fez; ao menos, consigo imaginar grande parte. Quando deixou seu irmão, o senhor estava agitado e tomado por tamanha raiva e indignação que apanhou uma pequena marreta, meio inclinado a matá-lo por causa da impureza de sua boca. Ao invés disso, recuou, metendo-a embaixo do seu casaco abotoado, e correu para a igreja. Rezou fervorosamente em muitos lugares, abaixo do vitral do anjo, no estrado do mezanino e num estrado ainda mais alto, de onde podia ver o chapéu oriental do coronel como a carapaça de um besouro verde rastejando. Então uma terrível ideia tomou o seu espírito, e o senhor deixou que o raio divino caísse. Wilfred levou a mão fraca à cabeça e perguntou em voz baixa: – Como sabe que ele parecia um besouro verde? – Ah, isso – disse o outro com o indício de um sorriso –, foi apenas o bom senso. Mas preste atenção. Digo que sei tudo isso, mas ninguém mais precisa saber. O próximo passo é seu, não farei mais nada, vou guardar isso como um segredo de confissão. Se me perguntar por quê, posso dar muitas razões, e apenas uma lhe diz respeito. Deixo as coisas a seu cargo porque o senhor não foi tão longe com seu erro, como os assassinos fazem. O senhor não ajudou a resolver o crime colocando a culpa no ferreiro quando era fácil fazê-lo, nem colocou a culpa na mulher dele, o que também teria sido fácil. Tentou resolver o crime colocando a culpa no imbecil, pois sabia que ele não sofreria. Esse é um dos detalhes que me compete perceber nos assassinos. Agora desça ao vilarejo e siga o seu caminho tão livre quanto o vento, pois aqui eu disse minha última palavra. Desceram em absoluto silêncio a escada em espiral e viram a luz do sol na ferraria. Wilfred Bohun, cuidadosamente, abriu o portão de madeira do pátio e, dirigindo-se reto ao inspetor, declarou: – Gostaria de me entregar. Eu matei o meu irmão.
O OLHO DE APOLO
Aquela centelha esfumaçada e singular, misto de confusão e transparência, que compõe o estranho segredo do Tâmisa, mudava gradualmente de cinzenta para brilhante à medida que o sol atingia o zênite sobre Westminster e dois homens atravessavam a ponte de Westminster. Um era bem alto, e o outro, muito baixo; poderiam ser comparados de forma grotesca à arrogante torre do relógio do Parlamento e os mais humildes arcos da abadia de Westminster, até porque o baixinho vestia uma batina. O altão oficialmente chamava-se monsieur Hercule Flambeau, detetive particular, e estava indo para o seu novo escritório no recém-construído conjunto de edifícios que dava para a entrada da abadia. A descrição oficial do baixote: reverendo J. Brown, vinculado à igreja São Francisco Xavier, em Camberwell, onde estivera visitando um leito de morte antes de vir conhecer o novo escritório do amigo. O prédio fora construído no estilo americano, não só pela altura de arranha-céu, mas também pelo elaborado sistema de telefones e elevadores. Mas a obra ainda estava em fase de acabamento e não tinha funcionários suficientes; apenas três inquilinos tinham se mudado. Os escritórios logo acima e logo abaixo do de Flambeau estavam ocupados; os dois andares superiores e os três inferiores estavam inteiramente desocupados. Mas algo muito mais impressionante chamava a atenção quando se olhava o novo edifício pela primeira vez. Salvo por alguns restos de andaimes, o único objeto deslumbrante fora erigido do lado externo do escritório logo acima do andar de Flambeau: uma enorme efígie dourada do olho humano, rodeada por raios de ouro, do tamanho de duas ou três janelas do edifício. – O que cargas d’água é aquilo? – perguntou Padre Brown parando estarrecido. – Ah, uma nova religião – respondeu Flambeau, rindo. – Uma daquelas novas religiões que perdoam os seus pecados dizendo que você nunca pecou. Algo ao estilo da Ciência Cristã, acho eu. O fato é que um camarada que se autodenomina Kalon (não tenho ideia qual é o nome dele, mas sei que não pode ser esse) se mudou para o escritório acima do meu. Meus vizinhos são duas senhoras datilógrafas no andar de baixo e esse entusiasmado e velho charlatão no andar de cima. Ele se considera o novo sacerdote de Apolo e venera o sol. – É melhor ele tomar cuidado – disse Padre Brown. – O sol era o mais cruel de todos os deuses. Mas o que aquele olho monstruoso significa? – Pelo que entendo, é uma teoria deles – respondeu Flambeau –, que o homem pode suportar qualquer coisa desde que sua mente esteja bem centrada. Os dois maiores símbolos deles são o sol e o olho aberto, pois eles dizem que uma pessoa realmente saudável consegue olhar direto para o sol. – Uma pessoa realmente saudável – comentou Padre Brown – não se preocuparia com isso. – Bom, isso é tudo o que posso falar a respeito dessa nova religião – continuou Flambeau abstraído. – E claro que ela alega conseguir curar todas as doenças físicas. – E consegue curar a única doença espiritual? – perguntou Padre Brown, com curiosidade séria. – E qual seria a única doença espiritual? – perguntou Flambeau, sorrindo. – Ah, pensar que se está muito bem – disse o amigo. Flambeau estava mais interessado no pequeno e quieto escritório abaixo do dele do que no resplandecente templo acima. Era um sulista lúcido, incapaz de se imaginar outra coisa que não católico ou ateu; e novas religiões de natureza brilhante e pálida não atraíam seu interesse. Porém, as pessoas sempre atraíam seu interesse, especialmente as bonitas; além do mais, as vizinhas do andar de baixo eram duas figuras singulares. O escritório era dirigido por duas irmãs esguias e morenas; uma delas alta e digna de admiração. De perfil aquilino, sombrio e impaciente, era o tipo de mulher que, sempre que se pensa nela, é o perfil que nos vem à mente, como o fio de uma lâmina bem afiada. Parecia talhar seu próprio caminho na vida. Os olhos tinham um brilho espantoso, mas era como o brilho do aço e não de diamantes; e sua silhueta esbelta e altiva era um pouco formal demais para seu encanto. A irmã mais moça se parecia com ela, porém numa versão piorada: mais cinzenta, mais pálida e mais insignificante. As duas vestiam-se de preto, roupas práticas de corte masculino. Havia milhares de mulheres comedidas e tenazes como elas nos escritórios londrinos; no entanto, o interesse delas estava em sua posição real e não na sua posição aparente. Pauline Stacey, a mais velha das duas irmãs, era de fato a herdeira do título de nobreza, das terras e da grande fortuna da família; fora criada e educada em castelos e jardins até que uma fria impetuosidade (peculiaridade das mulheres modernas) a tivesse levado ao que ela considerava uma existência mais realista e elevada. Na verdade, não abrira mão da sua fortuna; se tivesse feito isso, haveria uma renúncia romântica ou monástica quase contraditória ao seu magistral utilitarismo. Dizia que mantinha a sua fortuna para usá-la em causas sociais práticas. Parte do dinheiro fora investido no seu negócio, o centro de datilografia modelo; outra parte fora distribuída entre várias associações e grupos que promoviam avanços para esse tipo de ocupação entre as mulheres. Ninguém poderia saber com certeza até que ponto Joan, a irmã e sócia, compartilhava desse idealismo levemente prosaico. Mas ela seguia a líder com uma adoração canina que, de certa forma, era mais encantadora, com seu toque trágico, que a determinação rígida e solene da irmã mais velha. Pauline Stacey, por sua vez, não levava a tragédia em consideração; acostumara-se a negar a sua existência. Sua rígida sagacidade e fria impaciência tinham divertido muito Flambeau na primeira vez em que se encontraram. Ele se demorara nas imediações do elevador no hall de entrada enquanto esperava pelo garoto ascensorista, que geralmente conduzia os visitantes pelos vários andares. Mas aquela moça de olhos astutos de falcão obviamente se recusara a permitir tal demora autorizada. Ela afirmou, mordaz, que sabia tudo sobre o funcionamento do elevador e não precisava depender de garotos – e muito menos de homens. Embora o escritório dela ficasse no quarto pavimento, ela conseguiu, sem nenhuma cerimônia e no pouco tempo disponível, apresentar a Flambeau muitos de seus pontos de vista principais; em termos gerais, ela era uma mulher moderna e independente, que adorava o maquinário moderno. O olhar escuro e luminoso ardia com intensa raiva daqueles que repudiavam a ciência mecânica e que pediam a volta à natureza. Segundo ela, todos deveriam ser capazes de manejar as máquinas, assim como ela podia manejar o elevador. Pareceu até um pouco ofendida quando Flambeau lhe abriu a porta do elevador; e este cavalheiro subiu ao próprio escritório com um sorriso nos lábios que refletia sentimentos contraditórios à lembrança daquela mulher autoconfiante e de pavio curto. Obviamente tinha um gênio forte, prático e sagaz; os movimentos das mãos, finas e elegantes, eram bruscos e até mesmo hostis. Certa vez Flambeau foi até o escritório dela para tratar de assuntos relativos a trabalhos de datilografia e viu que ela recém havia atirado no meio da sala os óculos da irmã e pisara em cima. E já disparava uma crítica acalorada às “teorias médicas doentias” e à detestável aceitação de fraqueza que tal objeto sugeria. E ainda proibiu a irmã de trazer tamanha inutilidade artificial e mórbida ao escritório novamente. Perguntou se esperavam que ela usasse pernas de pau, cabelo falso ou olhos de vidro; falou isso com os olhos faiscando como terrível cristal. Flambeau, perplexo com esse fanatismo, não pôde deixar de perguntar à srta. Pauline (com lógica francesa e direta) por que um par de óculos representava um sinal de fraqueza maior do que um elevador; e, já que a ciência podia nos ajudar em algumas coisas, por que não em outras? – São coisas tão diferentes – enfatizou Pauline Stacey de forma esnobe. – Baterias e motores e todas aquelas coisas representam a força do homem... sim, sr. Flambeau, e a força da mulher também! Devemos tirar proveito dessas máquinas fantásticas que encurtam distâncias e desafiam o tempo. É avançado e esplêndido... é ciência de verdade. Mas esses acessórios e muletas detestáveis que os médicos vendem... ora, são apenas símbolos de covardia. Os médicos se apegam a pernas e braços como se tivéssemos nascido aleijados e escravos das doenças. Mas, sr. Flambeau, eu nasci livre! As pessoas só acreditam que precisam dessas coisas porque foram ensinadas a ter medo em vez de ter força e coragem. Da mesma forma que as idiotas das babás dizem às crianças que elas não devem olhar diretamente para o sol; e assim elas não conseguem fazer isso sem piscar. Mas por que, dentre todas as estrelas, haveria uma que eu não posso olhar? O sol não é meu dono nem senhor, e vou abrir meus olhos e olhar diretamente para ele sempre que tiver vontade. – Os seus olhos – retorquiu Flambeau, com uma mesura excêntrica – vão ofuscar o sol. Sentiu prazer ao elogiar aquela beldade estranha e reservada, em parte porque elogios a deixavam confusa e sem ação. Mas, assim que subiu de volta ao seu escritório, deu um profundo suspiro e assobiou, dizendo a si mesmo: “Quer dizer então que ela está nas mãos daquele charlatão e seu olho dourado do andar aí de cima”. Por menos que soubesse ou se interessasse pela nova religião de Kalon, já tinha ouvido falar a respeito de sua noção particular da contemplação do sol. Logo descobriu que os laços espirituais entre os andares acima e abaixo dele eram estreitos e crescentes. O homem que se autodenominava Kalon era uma criatura magnífica, digna de ser, do ponto de vista físico, o pontífice de Apolo. Era quase tão alto quanto Flambeau e muito mais bonito, com barba dourada, olhos azuis penetrantes e uma cabeleira que mais parecia a juba de um leão. Em sua compleição física, era a fera loira de Nietzsche, porém toda essa beleza animal era realçada, abrilhantada e até mesmo suavizada pelo intelecto e espiritualidade genuínos. Se ele se parecesse com um dos grandes reis saxões, seria com um dos que também foram santos. E tudo isso apesar da incoerência cockney da vizinhança; de ele ter um escritório no sexto andar de um prédio da Victoria Street; de o empregado do escritório (um jovem comum e engomadinho) ficar sentado na antessala, entre ele e o corredor; de o nome dele estar escrito em placa de bronze e de o símbolo dourado da sua doutrina pairar sobre a rua como o anúncio de um oculista. Nem essa vulgaridade toda conseguia tirar do homem chamado Kalon a opressão e inspiração nítidas que emanavam de seu corpo e alma. No frigir dos ovos, um homem na presença desse charlatão sentia-se na presença de um grande homem. Mesmo no terno folgado de linho que usava no escritório como roupa de trabalho, ele era uma figura fascinante e formidável. E, diariamente, quando fazia a saudação ao sol, paramentado em vestes brancas, diadema dourado na cabeça, sua aparência era tão grandiosa que a risada das pessoas que passavam pela rua morria nos lábios. Três vezes ao dia o novo adorador do sol ia até a sacadinha do seu escritório, na frente da toda Westminster, proferir alguma litania para o seu cintilante senhor: no romper da aurora, ao pôr do sol e no bater do meio-dia. E foi durante o soar das doze badaladas das torres do Parlamento e da igreja paroquial que Padre Brown, o amigo de Flambeau, pela primeira vez levantou a cabeça e avistou o imaculado sacerdote de Apolo. Flambeau, que já havia visto o suficiente daquelas saudações diárias ao deus-sol, precipitou-se à entrada do prédio sem ao menos esperar seu amigo clérigo. Mas Padre Brown, seja por interesse profissional em rituais ou por um profundo interesse pessoal em disparates, estacou e olhou em direção à sacada do adorador do sol da mesma forma que pararia para olhar um espetáculo de fantoches. O profeta Kalon já estava aprumado, em vestes prateadas e mãos erguidas, e o som da sua voz estranhamente penetrante podia ser ouvido em toda a rua movimentada proferindo sua litania solar. Já estava no meio do ritual; o olhar fixo no globo flamante. Difícil dizer se ele enxergava alguma coisa ou alguém neste mundo. Mas pode-se afirmar que, sem sombra de dúvida, ele não enxergava o sacerdote de rosto redondo que, paralisado no meio da multidão, o encarava com olhos piscantes. Esta talvez fosse a diferença mais inusitada que separava aqueles dois homens: Padre Brown não conseguia olhar nada sem piscar, mas o sacerdote de Apolo conseguia olhar aquela intensa luz do meio-dia sem um único movimento sequer das pálpebras. – Ó sol – clamava o profeta. – Ó estrela, que de tão majestosa não é admitida entre as estrelas! Ó fonte que jorra silenciosamente nesse lugar sagrado chamado espaço! Imaculado pai de todas as coisas imaculadas e incansáveis, chamas imaculadas, flores imaculadas e picos imaculados. Pai, vós sois mais inocente que todos os vossos filhos inocentes e quietos; pureza original, na paz em que... Um estrondoso impacto como a aceleração reversa de um foguete foi partido por uma gritaria estridente e incessante. Cinco pessoas saíram correndo em direção à entrada do prédio enquanto outras três correram na direção oposta, e por um momento ensurdeceram umas às outras. Por um momento, a sensação de algo hediondo e totalmente inesperado pareceu se espalhar pela rua levando as más notícias... notícias piores do que se podia imaginar, já que ninguém sabia o que havia acontecido. Dois vultos permaneceram parados depois da comoção geral: o belo sacerdote de Apolo na sacada e o feioso padre de Cristo lá embaixo. Por fim, Flambeau, com sua silhueta alta e sua energia titânica, surgiu entrada do prédio e controlou a pequena multidão. Como um navio que toca a sirene no meio do nevoeiro, Flambeau elevou a voz pedindo que alguém chamasse um médico, e, assim que se voltou para a entrada escura e abarrotada de curiosos, seu amigo Padre Brown discretamente esgueirou-se atrás dele. Mesmo quando se esquivava e forçava a passagem no meio da multidão, ele ainda pôde ouvir a cantilena imponente e monótona do sacerdote do sol invocando o deus feliz, amigo das fontes e flores. Padre Brown encontrou Flambeau e outras seis pessoas paradas em volta do poço pelo qual o elevador geralmente descia. Mas o elevador não tinha descido. Alguma outra coisa descera em seu lugar, alguma coisa que deveria ter descido pelo elevador. Por pelo menos quatro minutos Flambeau ficara olhando para baixo; vira os miolos escorrendo do crânio esmigalhado e o corpo ensanguentado daquela linda mulher que negava a existência da tragédia. Nunca tivera a menor dúvida que se tratava de Pauline Stacey, e, apesar de ter mandado chamar um médico, não tinha a menor dúvida de que ela estava morta. Não conseguia lembrar ao certo se havia gostado ou não dela; havia muitas razões tanto para gostar como para não gostar. Mas ela havia sido uma pessoa na vida dele, e o insuportável pathos dos detalhes e da rotina apunhalavam-no com todas as pequenas adagas da perda. Lembrou de seu rosto bonito e de seus discursos pedantes com um súbito e secreto prazer que é puramente fruto do amargor da morte. Num piscar de olhos, como do nada, como um raio vindo de lugar nenhum, aquele corpo bonito e desafiador fora arremessado para a morte no poço do elevador. Teria sido suicídio? Em se tratando de uma pessoa tão insolente e otimista, parecia impossível. Teria sido assassinato? Mas quem teria, naquele edifício praticamente desabitado, o objetivo de matar alguém? Numa torrente de palavras ásperas que esperava que soassem fortes, mas que soaram fracas, perguntou onde estava aquele tal de Kalon. Uma voz, normalmente séria, calma e profunda, lhe assegurou que Kalon estivera na sacada adorando ao seu deus nos últimos quinze minutos. Quando Flambeau ouviu a voz e sentiu a mão de Padre Brown, voltou seu rosto trigueiro para ele e perguntou de maneira abrupta: – Neste caso, se ele esteve este tempo todo lá, quem pode ter feito isto? – Talvez fosse melhor a gente subir e procurar saber – respondeu Padre Brown. – Temos meia hora antes de a polícia começar a agir. Deixando o corpo da herdeira assassinada a cargo dos médicos, Flambeau correu escadaria acima até o escritório de datilografia, encontrou-o completamente vazio e então correu para sua própria sala. Chegando lá, voltou-se para o amigo de maneira abrupta, o rosto pálido ostentando uma expressão estranha. – A irmã dela – constatou com seriedade alarmante –, a irmã dela parece ter saído para dar uma volta. Padre Brown assentiu com a cabeça e completou: – Ou ela pode ter subido até o escritório daquele sacerdote do sol. Se eu fosse você, verificaria isso, e depois vamos todos conversar a respeito do ocorrido na sua sala. Ou melhor – acrescentou rapidamente, como se lembrasse de algo –, será que algum dia vou deixar de ser tão burro? É claro, no escritório delas, aí embaixo. Flambeau arregalou os olhos, mas seguiu o padre escada abaixo até o escritório vazio das irmãs Stacey, onde esse pastor de atitude impenetrável sentou-se numa confortável cadeira de couro vermelho na entrada da sala, de onde podia ver as escadas e os patamares, e esperou. Porém, não precisou esperar por muito tempo. Uns quatro minutos depois três pessoas desceram as escadas, tendo em comum apenas a expressão solene. A primeira era Joan Stacey, irmã da morta – evidentemente ela estivera no andar de cima, no templo provisório de Apolo; a segunda era o próprio sacerdote de Apolo, que, encerrada sua ladainha, descia majestosamente as escadas vazias – alguma coisa em suas vestes brancas, na barba e no cabelo repartido fazia lembrar o Cristo desenhado por Gustave Doré; a terceira era Flambeau, de cenho franzido e um tanto desnorteado.
A srta. Joan Stacey, de rosto abatido e cabelos morenos com prematuras mechas grisalhas, dirigiu-se diretamente a sua mesa e começou a arrumar seus papéis com gestos rápidos. A simples atividade trouxe todos de volta à realidade. Se a srta. Joan Stacey era uma criminosa, era uma criminosa calculista. Padre Brown a observou com atenção por alguns instantes, com um sorrisinho estranho nos lábios, e então, sem tirar os olhos dela, dirigiu-se a outra pessoa. – Profeta – disse ele, provavelmente dirigindo-se a Kalon. – Gostaria que o senhor me contasse tudo a respeito de sua religião. – Será um prazer – disse Kalon, inclinando a cabeça que ainda ostentava o diadema. – Mas não tenho certeza se entendi direito. – Como não? – disse Padre Brown, de seu modo francamente cético. – Deixe-me explicar: aprendemos que, se um homem tem princípios básicos realmente ruins, em parte deve ser culpa dele mesmo. Mas, mesmo assim, podemos diferenciar um homem que insulta sua consciência de forma clara daquele homem com uma consciência mais ou menos ofuscada por sofismas. Ora, o senhor acha mesmo que matar é errado ou não? – Isso é uma acusação? – perguntou Kalon com muita calma. – Não, são as palavras da defesa – respondeu Brown de maneira igualmente serena. No silêncio longo e pesado da sala, o profeta de Apolo levantou-se devagar; e pareceu mesmo o sol nascente. Ele preencheu aquela sala com luz e brilho de tal maneira que se tinha a impressão que poderia, com a mesma facilidade, preencher a planície de Salisbury. Sua silhueta, envolta nas vestes sacerdotais, pareceu cobrir toda a sala com roupas clássicas; sua gesticulação épica parecia estendê-la a perspectivas mais grandiosas, fazendo o vulto pequenino e preto do clérigo moderno parecer uma falha e um intrometimento, um borrão redondo e escuro no esplendor da Hélade. – Finalmente nos encontramos, Caifás – disse o profeta. – A sua igreja e a minha são as únicas realidades nesta terra. Eu adoro o sol e você, a obscuridade dele; você é o sacerdote do Deus moribundo e eu, do Deus vivo. A sua atual demonstração de desconfiança e calúnia é digna de sua batina e do seu credo. Toda a sua igreja nada mais é do que uma polícia rancorosa; não passam de espiões e detetives procurando arrancar confissões de culpa das pessoas, seja por traição ou por tortura. Você condenaria as pessoas por crimes, eu as condenaria pela inocência. Você as convenceria do pecado, eu as convenceria da virtude. “Leitor dos livros do mal, mais uma palavra antes de eu fazer desaparecer para sempre seus pesadelos infundados. Nem mesmo de longe você entenderia que estou pouco me importando se você pode ou não me condenar. As coisas que você chama de desgraça e horrível morte na forca são, para mim, nada mais do que o ogro de um livro infantil para quem é adulto. Você disse que estava oferecendo as palavras da defesa. Dou tão pouca importância à terra de fantasia desta vida que vou lhe oferecer as palavras da acusação. Apenas uma coisa pode ser dita contra mim nesta questão, e vou dizer eu mesmo. A mulher que está morta era minha amada e minha noiva; não conforme os ritos que as suas capelinhas de zinco consideram legais, mas por uma lei mais pura e mais rígida que você jamais vai entender. Ela e eu vivíamos em um mundo diferente do seu e circulávamos por palácios de cristal, enquanto você se arrastava por túneis e corredores de tijolos. Ora, sei que policiais (teológicos ou não) sempre acreditam que onde existe amor logo deve haver ódio; portanto, eis o primeiro motivo para a acusação. Mas o segundo motivo é mais grave, não reluto em dizer. Não só é verdade que Pauline me amava, mas também é verdade que hoje mesmo, pela manhã, antes de morrer, ela escreveu naquela mesa um testamento deixando meio milhão de libras para mim e para minha nova igreja. Ora, onde estão as algemas? Pensa que me importo com as tolices que podem fazer comigo? O trabalho forçado será apenas como esperar por ela numa estação à beira da estrada. A forca será apenas ir aos braços dela num carro extremamente veloz.” Falou com a eloquente autoridade de um orador, e Flambeau e Joan Stacey o miraram com surpresa e admiração. O rosto de Padre Brown não parecia expressar nada a não ser extremo desconforto; olhou para o chão com a testa franzida de dor. O profeta do sol encostou-se confortavelmente no consolo da lareira e continuou: – Em poucas palavras, apresentei a vocês o caso completo contra mim... o único caso possível contra mim. E, em ainda menos palavras, vou despedaçar o caso, de modo que não reste nenhum vestígio dele. Quanto ao fato de eu ter cometido ou não esse crime, a verdade está em uma frase: eu não poderia ter cometido esse crime. Pauline Stacey caiu deste andar cinco minutos depois do meio-dia. Uma centena de pessoas vai sentar no banco das testemunhas para afirmar que eu estava em pé, na sacada da minha própria sala, desde as primeiras badaladas do meio-dia até meio-dia e quinze, o período habitual de minhas orações públicas. Meu funcionário (respeitável moço de Clapham, sem nenhum tipo de parentesco comigo) vai jurar que esteve sentado na minha antessala durante toda a manhã e que nenhuma mensagem foi recebida. Ele vai jurar que cheguei dez minutos antes do meio-dia, quinze minutos antes de qualquer rumor sobre o acidente, e que, em nenhum momento, deixei o escritório ou a sacada. Ninguém jamais teve álibi tão perfeito; eu poderia convocar metade da população de Westminster. Acho que é melhor guardar as algemas. O caso está encerrado. “Mas, por fim – prosseguiu ele –, para que não paire a menor sombra de dúvida, vou falar tudo o que querem saber. Acredito que sei como minha infeliz amiga encontrou a morte. Podem me culpar por isso, se quiserem, ou a minha fé e filosofia pelo menos, mas, com certeza, não podem me prender. É de conhecimento de todos os que estudam as verdades superiores que certos peritos e illuminati têm, na história, alcançado o poder de levitação, isto é, a capacidade de ficarem suspensos no ar. Isso nada mais é do que uma parte daquela conquista geral da matéria que é o principal elemento da nossa sabedoria oculta. A coitada da Pauline tinha um gênio impulsivo e ambicioso. Para dizer a verdade, acho que, de certa forma, ela se considerava mais conhecedora desses mistérios do que realmente era, e com frequência me dizia, quando descíamos juntos no elevador, que, se alguém tivesse força de vontade suficiente, poderia flutuar como uma pena sem nenhum perigo. Creio solenemente que, em certo êxtase de nobres pensamentos, ela tentou o milagre. Sua força de vontade ou sua fé devem tê-la abandonado naquele momento crucial, e a lei inferior da matéria vingou-se de maneira horrível. Eis a história completa, cavalheiros, muito triste e, como pensam, muito insolente e cruel, mas certamente não criminosa e nem de qualquer forma relacionada comigo. No manual da polícia, acho melhor considerar isso um suicídio. Sempre vou considerá-lo um fracasso heroico em prol do progresso da ciência e da lenta escalada ao céu.” Foi a primeira vez que Flambeau viu Padre Brown derrotado. Ele continuava sentado, mirando o chão, o cenho enrugado e aflito, como se estivesse com vergonha. Era impossível evitar a sensação despertada pelas aladas palavras do profeta: ali estava um suspeitador da humanidade taciturno e profissional, dominado pelo mais orgulhoso e mais puro espírito de liberdade e saúde naturais. Por fim disse, piscando como se estivesse em sofrimento físico: – Bem, se for assim, o senhor não precisa fazer mais nada além de pegar o tal testamento e ir embora. Eu me pergunto onde a pobre senhora o deixou. – Deve estar ali, na mesa dela, perto da porta, acho eu – disse Kalon, naquela poderosa atitude inocente que parecia exonerá-lo por completo. – Ela me frisou que ia fazer isso hoje pela manhã, e a vi mesmo escrevendo enquanto subia pelo elevador até a minha sala. – A porta do escritório dela estava aberta naquele momento? – perguntou o padre, com o olhar fixo num canto do capacho. – Estava – confirmou Kalon, calmamente. – Ah! E, desde então, esteve sempre aberta – disse Padre Brown, continuando o silencioso estudo do capacho. – Tem um papel aqui – disse a inflexível srta. Joan, com a voz um pouco estranha. Ela havia cruzado a sala em direção à mesa da irmã junto à porta e segurava uma folha de papel almaço azul. Tinha um sorriso amargo no rosto que parecia não se ajustar àquela cena ou ocasião, e Flambeau a encarou com um olhar sombrio. Kalon, o profeta, manteve-se longe do papel com a nobre inconsciência com que superava as dificuldades. Mas Flambeau pegou o papel das mãos dela e leu o documento com o mais profundo espanto. O texto realmente começava da maneira formal de um testamento, mas, após as palavras “deixo em herança tudo que tenho”, a escrita terminava de maneira abrupta com uma série de rabiscos, e não havia nenhum sinal do nome do herdeiro. Flambeau, surpreso, entregou aquele testamento truncado para o seu amigo, que passou os olhos nele e o ofereceu, silenciosamente, ao sacerdote do sol. Um instante depois aquele pontífice, em suas gloriosas e majestosas vestes, atravessara a sala em duas passadas largas, postando-se em frente a Joan Stacey. Os olhos azuis de Kalon quase saltaram fora de órbita. – Que palhaçada você andou fazendo aqui? – gritou ele. – Não foi só isso que Pauline escreveu. Todos ficaram surpresos ao ouvi-lo falar numa voz bem diferente, com estridente sotaque americano; toda a imponência e o bom inglês britânico caíram como um disfarce. – É a única coisa em cima da mesa – disse Joan, enfrentando-o com firmeza, com o mesmo sorriso malevolente. De repente, o homem irrompeu numa torrente de blasfêmias e insultos. Havia algo chocante na queda daquela máscara, e era como se caísse ao chão o rosto verdadeiro de um homem. – Olhe aqui! – gritou com evidente sotaque americano, ofegante de tanto xingar. – Posso ser um aventureiro, mas acho que você é uma assassina. Sim, cavalheiros, finalmente o crime está explicado, e sem o elemento de levitação. A pobre moça está escrevendo um testamento a meu favor; a maldita irmã entra e luta pela caneta, arrasta a pobre coitada até o poço e a joga ali antes que ela possa terminar o documento. Céus! Suponho que, no final das contas, vamos precisar das algemas. – Como o senhor bem salientou – respondeu Joan, com calma assustadora –, o seu funcionário é um jovem bastante respeitável, que conhece a natureza de um juramento; e ele vai jurar diante de qualquer corte que eu estava lá em cima, no seu escritório, tratando de alguns trabalhos de datilografia, cinco minutos antes e cinco minutos depois da queda da minha irmã. O sr. Flambeau vai dizer que me encontrou lá. O silêncio dominou a sala. – Ora, então – gritou Flambeau –, Pauline estava sozinha quando caiu e foi suicídio! – Ela estava sozinha quando caiu – afirmou Padre Brown –, mas não foi suicídio. – Então como ela morreu? – perguntou Flambeau, impaciente. – Foi assassinada. – Mas ela estava sozinha – objetou o detetive. – Foi assassinada quando estava completamente sozinha – respondeu o padre. Todos os outros o fitaram, mas ele permaneceu sentado com a mesma atitude de desânimo, com uma ruga na testa redonda e um semblante de vergonha e tristeza impessoais; a voz dele era inexpressiva e triste. – O que quero saber – gritou Kalon, com uma imprecação – é quando a polícia vai chegar para prender esta irmã sanguinária e cruel. Matou um membro da própria família e me roubou meio milhão de libras, tão sagradamente minhas como... – Ora, ora, profeta – interrompeu Flambeau, com um sorriso de escárnio –, lembre-se que este mundo todo é uma terra de fantasia. O hierofante do deus-sol fez um esforço para voltar ao seu pedestal. – Não é só o dinheiro – ele gritou –, embora ele fosse ajudar a causa em todo o mundo. É também o desejo da minha amada. Para Pauline tudo isso era sagrado. Aos olhos de Pauline... Padre Brown levantou-se de maneira tão súbita que sua cadeira caiu para trás. Ele estava mortalmente pálido e, no entanto, parecia cheio de esperança; seus olhos brilhavam. – É isto! – exclamou numa voz clara. – É por aí que devemos começar. Os olhos de Pauline... O profeta alto postou-se à frente do pequenino padre, transtornado, quase louco. – O que quer dizer com isso? Como ousa? – gritou repetidamente. – Aos olhos de Pauline... – repetiu o padre, o olhar brilhando cada vez mais. – Continue, em nome de Deus, continue. O mais hediondo crime que os fanáticos já instigaram parece mais leve depois da confissão; e rogo que o senhor confesse. Continue, continue... aos olhos de Pauline... – Me deixe em paz, demônio! – bradou Kalon, lutando como um gigante acorrentado. – Quem é você, espião maldito, para tecer as suas teias em volta de mim, para me espreitar e examinar? Me deixe em paz! – Devo detê-lo? – perguntou Flambeau, movendo-se rapidamente em direção à saída, pois Kalon já tinha escancarado a porta. – Deixe-o passar – disse Padre Brown, com um suspiro profundo e estranho que parecia ter vindo das profundezas do universo. – Deixe Caim passar, pois ele pertence a Deus. Houve um silêncio prolongado na sala quando Kalon retirou-se, o que, para o espírito violento de Flambeau, era uma interrogação longa e agonizante. A srta. Joan com bastante calma organizava os papéis de sua mesa. – Padre – disse Flambeau por fim –, é meu dever, não só minha curiosidade, é meu dever descobrir, se puder, quem cometeu o crime. – Que crime? – perguntou Padre Brown. – O crime com que estamos lidando, é claro – respondeu seu amigo, com impaciência. – Estamos diante de dois crimes – disse Brown –, crimes de naturezas diferentes e cometidos por criminosos diferentes. A srta. Joan Stacey, tendo reunido e guardado seus papéis, dirigiu-se à gaveta para trancá-la. Padre Brown continuou, dispensando a ela tanta atenção quanto ela lhe dispensava. – Os dois crimes – observou ele – foram cometidos contra a mesma fraqueza da mesma pessoa, numa batalha pelo seu dinheiro. O autor do crime maior se viu frustrado pelo crime menor; o autor do crime menor ficou com o dinheiro. – Ah, não fale como se estivesse em uma conferência – gemeu Flambeau. – Diga o que aconteceu em poucas palavras. – Posso fazer isso com uma única palavra – respondeu o amigo. A srta. Joan Stacey ajeitava, na frente de um espelhinho, o chapéu preto e prático na cabeça, com uma cara fechada e profissional e, enquanto a conversa prosseguia, pegou sem pressa a bolsa e a sombrinha e saiu da sala. – A verdade está numa palavra, numa palavrinha – disse Padre Brown. – Pauline Stacey estava cega. – Cega! – repetiu Flambeau, e levantou-se lentamente, projetando toda a sua enorme estatura. – Estava sujeita à cegueira devido à herança genética – continuou Brown. – Sua irmã teria começado a usar óculos se Pauline tivesse permitido, mas, por filosofia ou capricho, achava que ninguém deve encorajar tais doenças rendendo-se a elas. Não admitia a dificuldade para enxergar, ou tentava não fazer caso dela por capricho. Assim, sua visão ficava cada vez pior devido ao esforço; mas o pior ainda estava por vir. E veio com esse precioso profeta, ou seja lá como ele se intitula, que a ensinou a olhar firme para o sol quente a olho nu. Considerava isso a aceitação de Apolo. Ah, se esses novos pagãos fossem apenas os velhos pagãos, seriam um pouco mais prudentes! Os velhos pagãos sabiam que a mera adoração da Natureza nua tem um lado cruel. Sabiam que o olho de Apolo pode ferir e cegar. Houve uma pausa, e o padre continuou em voz suave, mas entrecortada: – Se aquele demônio a cegou deliberadamente ou não, não há nenhuma dúvida que a matou deliberadamente com a ajuda da sua cegueira. A própria simplicidade do crime é doentia. Sabemos que ele e ela subiam e desciam naqueles elevadores sem a ajuda do ascensorista; sabemos também como esses elevadores deslizam de maneira suave e silenciosa. Kalon trouxe o elevador até o andar da moça e a viu, pela porta aberta, escrevendo em seu jeito lento e desfocado, o testamento que havia prometido a ele. Chamou por ela animadamente para informar que o elevador estava esperando e que ela viesse quando estivesse pronta. Em seguida, apertou o botão do elevador e correu, sorrateiro, para o seu andar, atravessou a própria sala, saiu para a sacada e começou tranquilo a rezar diante da rua apinhada de gente quando a pobre moça, após encerrar seu trabalho, correu alegremente rumo ao elevador, onde o amado a esperava, e deu um passo... – Não! – gritou Flambeau. – Ele queria ganhar meio milhão de libras ao apertar aquele botão – continuou o pequenino padre, na voz inexpressiva que usava para falar de tais horrores. – Mas aquilo não deu em nada. Não deu em nada porque havia outra pessoa que também queria o dinheiro e que também sabia do segredo sobre a visão da coitada da Pauline. Havia uma coisa a respeito daquele testamento que, acho eu, ninguém notou: embora estivesse inacabado e sem assinatura, a outra srta. Stacey e uma empregada sua já haviam assinado como testemunhas. Joan assinou primeiro, alegando que Pauline podia terminar depois, num descaso tipicamente feminino pelas práticas legais. Portanto, Joan queria que a irmã assinasse o testamento sem testemunhas reais. Por que motivo? Pensei na cegueira e tive certeza que ela queria que Pauline assinasse em isolamento porque não queria que ela assinasse de jeito nenhum. Pessoas como as irmãs Stacey sempre usam caneta-tinteiro e isso era bem típico de Pauline. Por hábito, por sua grande força de vontade e de memória, ela ainda conseguia escrever quase tão bem com antes, mas ela não saberia dizer quando sua caneta precisava de tinta. Por causa disso, sua irmã carregava, cuidadosamente, suas canetas com tinta... todas, menos essa. Esta aqui foi negligenciada de propósito pela irmã; o pouco de tinta que ainda havia foi suficiente para umas poucas linhas e logo parou de escrever por completo. E o profeta perdeu quinhentas mil libras e cometeu um dos crimes mais brutais e brilhantes na história da humanidade; tudo isso, por nada. Flambeau dirigiu-se à porta aberta e ouviu a polícia subindo as escadas. Voltouse e disse: – O senhor deve ter acompanhado tudo com uma atenção diabólica para ter ligado o crime a Kalon em dez minutos. Padre Brown deu uma espécie de sobressalto e disse: – Ah, a ele! Na verdade, acompanhei mais atentamente para descobrir sobre a srta. Joan e a caneta-tinteiro. Mas sabia que Kalon era o criminoso antes de chegar à porta da frente. – Deve estar brincando! – exclamou Flambeau. – Estou falando sério – respondeu o padre. – Garanto que sabia que ele havia cometido o crime, mesmo antes de saber o que tinha feito. – Mas por quê? – Esses estoicos pagãos – respondeu Brown, pensativo – sempre fracassam por força própria. Ouviu-se um estrondo e um grito na rua, e o sacerdote de Apolo não se sobressaltou nem olhou em volta. Eu não sabia bem o que havia acontecido. Mas sabia que ele estava esperando por aquilo.
Aquela centelha esfumaçada e singular, misto de confusão e transparência, que compõe o estranho segredo do Tâmisa, mudava gradualmente de cinzenta para brilhante à medida que o sol atingia o zênite sobre Westminster e dois homens atravessavam a ponte de Westminster. Um era bem alto, e o outro, muito baixo; poderiam ser comparados de forma grotesca à arrogante torre do relógio do Parlamento e os mais humildes arcos da abadia de Westminster, até porque o baixinho vestia uma batina. O altão oficialmente chamava-se monsieur Hercule Flambeau, detetive particular, e estava indo para o seu novo escritório no recém-construído conjunto de edifícios que dava para a entrada da abadia. A descrição oficial do baixote: reverendo J. Brown, vinculado à igreja São Francisco Xavier, em Camberwell, onde estivera visitando um leito de morte antes de vir conhecer o novo escritório do amigo. O prédio fora construído no estilo americano, não só pela altura de arranha-céu, mas também pelo elaborado sistema de telefones e elevadores. Mas a obra ainda estava em fase de acabamento e não tinha funcionários suficientes; apenas três inquilinos tinham se mudado. Os escritórios logo acima e logo abaixo do de Flambeau estavam ocupados; os dois andares superiores e os três inferiores estavam inteiramente desocupados. Mas algo muito mais impressionante chamava a atenção quando se olhava o novo edifício pela primeira vez. Salvo por alguns restos de andaimes, o único objeto deslumbrante fora erigido do lado externo do escritório logo acima do andar de Flambeau: uma enorme efígie dourada do olho humano, rodeada por raios de ouro, do tamanho de duas ou três janelas do edifício. – O que cargas d’água é aquilo? – perguntou Padre Brown parando estarrecido. – Ah, uma nova religião – respondeu Flambeau, rindo. – Uma daquelas novas religiões que perdoam os seus pecados dizendo que você nunca pecou. Algo ao estilo da Ciência Cristã, acho eu. O fato é que um camarada que se autodenomina Kalon (não tenho ideia qual é o nome dele, mas sei que não pode ser esse) se mudou para o escritório acima do meu. Meus vizinhos são duas senhoras datilógrafas no andar de baixo e esse entusiasmado e velho charlatão no andar de cima. Ele se considera o novo sacerdote de Apolo e venera o sol. – É melhor ele tomar cuidado – disse Padre Brown. – O sol era o mais cruel de todos os deuses. Mas o que aquele olho monstruoso significa? – Pelo que entendo, é uma teoria deles – respondeu Flambeau –, que o homem pode suportar qualquer coisa desde que sua mente esteja bem centrada. Os dois maiores símbolos deles são o sol e o olho aberto, pois eles dizem que uma pessoa realmente saudável consegue olhar direto para o sol. – Uma pessoa realmente saudável – comentou Padre Brown – não se preocuparia com isso. – Bom, isso é tudo o que posso falar a respeito dessa nova religião – continuou Flambeau abstraído. – E claro que ela alega conseguir curar todas as doenças físicas. – E consegue curar a única doença espiritual? – perguntou Padre Brown, com curiosidade séria. – E qual seria a única doença espiritual? – perguntou Flambeau, sorrindo. – Ah, pensar que se está muito bem – disse o amigo. Flambeau estava mais interessado no pequeno e quieto escritório abaixo do dele do que no resplandecente templo acima. Era um sulista lúcido, incapaz de se imaginar outra coisa que não católico ou ateu; e novas religiões de natureza brilhante e pálida não atraíam seu interesse. Porém, as pessoas sempre atraíam seu interesse, especialmente as bonitas; além do mais, as vizinhas do andar de baixo eram duas figuras singulares. O escritório era dirigido por duas irmãs esguias e morenas; uma delas alta e digna de admiração. De perfil aquilino, sombrio e impaciente, era o tipo de mulher que, sempre que se pensa nela, é o perfil que nos vem à mente, como o fio de uma lâmina bem afiada. Parecia talhar seu próprio caminho na vida. Os olhos tinham um brilho espantoso, mas era como o brilho do aço e não de diamantes; e sua silhueta esbelta e altiva era um pouco formal demais para seu encanto. A irmã mais moça se parecia com ela, porém numa versão piorada: mais cinzenta, mais pálida e mais insignificante. As duas vestiam-se de preto, roupas práticas de corte masculino. Havia milhares de mulheres comedidas e tenazes como elas nos escritórios londrinos; no entanto, o interesse delas estava em sua posição real e não na sua posição aparente. Pauline Stacey, a mais velha das duas irmãs, era de fato a herdeira do título de nobreza, das terras e da grande fortuna da família; fora criada e educada em castelos e jardins até que uma fria impetuosidade (peculiaridade das mulheres modernas) a tivesse levado ao que ela considerava uma existência mais realista e elevada. Na verdade, não abrira mão da sua fortuna; se tivesse feito isso, haveria uma renúncia romântica ou monástica quase contraditória ao seu magistral utilitarismo. Dizia que mantinha a sua fortuna para usá-la em causas sociais práticas. Parte do dinheiro fora investido no seu negócio, o centro de datilografia modelo; outra parte fora distribuída entre várias associações e grupos que promoviam avanços para esse tipo de ocupação entre as mulheres. Ninguém poderia saber com certeza até que ponto Joan, a irmã e sócia, compartilhava desse idealismo levemente prosaico. Mas ela seguia a líder com uma adoração canina que, de certa forma, era mais encantadora, com seu toque trágico, que a determinação rígida e solene da irmã mais velha. Pauline Stacey, por sua vez, não levava a tragédia em consideração; acostumara-se a negar a sua existência. Sua rígida sagacidade e fria impaciência tinham divertido muito Flambeau na primeira vez em que se encontraram. Ele se demorara nas imediações do elevador no hall de entrada enquanto esperava pelo garoto ascensorista, que geralmente conduzia os visitantes pelos vários andares. Mas aquela moça de olhos astutos de falcão obviamente se recusara a permitir tal demora autorizada. Ela afirmou, mordaz, que sabia tudo sobre o funcionamento do elevador e não precisava depender de garotos – e muito menos de homens. Embora o escritório dela ficasse no quarto pavimento, ela conseguiu, sem nenhuma cerimônia e no pouco tempo disponível, apresentar a Flambeau muitos de seus pontos de vista principais; em termos gerais, ela era uma mulher moderna e independente, que adorava o maquinário moderno. O olhar escuro e luminoso ardia com intensa raiva daqueles que repudiavam a ciência mecânica e que pediam a volta à natureza. Segundo ela, todos deveriam ser capazes de manejar as máquinas, assim como ela podia manejar o elevador. Pareceu até um pouco ofendida quando Flambeau lhe abriu a porta do elevador; e este cavalheiro subiu ao próprio escritório com um sorriso nos lábios que refletia sentimentos contraditórios à lembrança daquela mulher autoconfiante e de pavio curto. Obviamente tinha um gênio forte, prático e sagaz; os movimentos das mãos, finas e elegantes, eram bruscos e até mesmo hostis. Certa vez Flambeau foi até o escritório dela para tratar de assuntos relativos a trabalhos de datilografia e viu que ela recém havia atirado no meio da sala os óculos da irmã e pisara em cima. E já disparava uma crítica acalorada às “teorias médicas doentias” e à detestável aceitação de fraqueza que tal objeto sugeria. E ainda proibiu a irmã de trazer tamanha inutilidade artificial e mórbida ao escritório novamente. Perguntou se esperavam que ela usasse pernas de pau, cabelo falso ou olhos de vidro; falou isso com os olhos faiscando como terrível cristal. Flambeau, perplexo com esse fanatismo, não pôde deixar de perguntar à srta. Pauline (com lógica francesa e direta) por que um par de óculos representava um sinal de fraqueza maior do que um elevador; e, já que a ciência podia nos ajudar em algumas coisas, por que não em outras? – São coisas tão diferentes – enfatizou Pauline Stacey de forma esnobe. – Baterias e motores e todas aquelas coisas representam a força do homem... sim, sr. Flambeau, e a força da mulher também! Devemos tirar proveito dessas máquinas fantásticas que encurtam distâncias e desafiam o tempo. É avançado e esplêndido... é ciência de verdade. Mas esses acessórios e muletas detestáveis que os médicos vendem... ora, são apenas símbolos de covardia. Os médicos se apegam a pernas e braços como se tivéssemos nascido aleijados e escravos das doenças. Mas, sr. Flambeau, eu nasci livre! As pessoas só acreditam que precisam dessas coisas porque foram ensinadas a ter medo em vez de ter força e coragem. Da mesma forma que as idiotas das babás dizem às crianças que elas não devem olhar diretamente para o sol; e assim elas não conseguem fazer isso sem piscar. Mas por que, dentre todas as estrelas, haveria uma que eu não posso olhar? O sol não é meu dono nem senhor, e vou abrir meus olhos e olhar diretamente para ele sempre que tiver vontade. – Os seus olhos – retorquiu Flambeau, com uma mesura excêntrica – vão ofuscar o sol. Sentiu prazer ao elogiar aquela beldade estranha e reservada, em parte porque elogios a deixavam confusa e sem ação. Mas, assim que subiu de volta ao seu escritório, deu um profundo suspiro e assobiou, dizendo a si mesmo: “Quer dizer então que ela está nas mãos daquele charlatão e seu olho dourado do andar aí de cima”. Por menos que soubesse ou se interessasse pela nova religião de Kalon, já tinha ouvido falar a respeito de sua noção particular da contemplação do sol. Logo descobriu que os laços espirituais entre os andares acima e abaixo dele eram estreitos e crescentes. O homem que se autodenominava Kalon era uma criatura magnífica, digna de ser, do ponto de vista físico, o pontífice de Apolo. Era quase tão alto quanto Flambeau e muito mais bonito, com barba dourada, olhos azuis penetrantes e uma cabeleira que mais parecia a juba de um leão. Em sua compleição física, era a fera loira de Nietzsche, porém toda essa beleza animal era realçada, abrilhantada e até mesmo suavizada pelo intelecto e espiritualidade genuínos. Se ele se parecesse com um dos grandes reis saxões, seria com um dos que também foram santos. E tudo isso apesar da incoerência cockney da vizinhança; de ele ter um escritório no sexto andar de um prédio da Victoria Street; de o empregado do escritório (um jovem comum e engomadinho) ficar sentado na antessala, entre ele e o corredor; de o nome dele estar escrito em placa de bronze e de o símbolo dourado da sua doutrina pairar sobre a rua como o anúncio de um oculista. Nem essa vulgaridade toda conseguia tirar do homem chamado Kalon a opressão e inspiração nítidas que emanavam de seu corpo e alma. No frigir dos ovos, um homem na presença desse charlatão sentia-se na presença de um grande homem. Mesmo no terno folgado de linho que usava no escritório como roupa de trabalho, ele era uma figura fascinante e formidável. E, diariamente, quando fazia a saudação ao sol, paramentado em vestes brancas, diadema dourado na cabeça, sua aparência era tão grandiosa que a risada das pessoas que passavam pela rua morria nos lábios. Três vezes ao dia o novo adorador do sol ia até a sacadinha do seu escritório, na frente da toda Westminster, proferir alguma litania para o seu cintilante senhor: no romper da aurora, ao pôr do sol e no bater do meio-dia. E foi durante o soar das doze badaladas das torres do Parlamento e da igreja paroquial que Padre Brown, o amigo de Flambeau, pela primeira vez levantou a cabeça e avistou o imaculado sacerdote de Apolo. Flambeau, que já havia visto o suficiente daquelas saudações diárias ao deus-sol, precipitou-se à entrada do prédio sem ao menos esperar seu amigo clérigo. Mas Padre Brown, seja por interesse profissional em rituais ou por um profundo interesse pessoal em disparates, estacou e olhou em direção à sacada do adorador do sol da mesma forma que pararia para olhar um espetáculo de fantoches. O profeta Kalon já estava aprumado, em vestes prateadas e mãos erguidas, e o som da sua voz estranhamente penetrante podia ser ouvido em toda a rua movimentada proferindo sua litania solar. Já estava no meio do ritual; o olhar fixo no globo flamante. Difícil dizer se ele enxergava alguma coisa ou alguém neste mundo. Mas pode-se afirmar que, sem sombra de dúvida, ele não enxergava o sacerdote de rosto redondo que, paralisado no meio da multidão, o encarava com olhos piscantes. Esta talvez fosse a diferença mais inusitada que separava aqueles dois homens: Padre Brown não conseguia olhar nada sem piscar, mas o sacerdote de Apolo conseguia olhar aquela intensa luz do meio-dia sem um único movimento sequer das pálpebras. – Ó sol – clamava o profeta. – Ó estrela, que de tão majestosa não é admitida entre as estrelas! Ó fonte que jorra silenciosamente nesse lugar sagrado chamado espaço! Imaculado pai de todas as coisas imaculadas e incansáveis, chamas imaculadas, flores imaculadas e picos imaculados. Pai, vós sois mais inocente que todos os vossos filhos inocentes e quietos; pureza original, na paz em que... Um estrondoso impacto como a aceleração reversa de um foguete foi partido por uma gritaria estridente e incessante. Cinco pessoas saíram correndo em direção à entrada do prédio enquanto outras três correram na direção oposta, e por um momento ensurdeceram umas às outras. Por um momento, a sensação de algo hediondo e totalmente inesperado pareceu se espalhar pela rua levando as más notícias... notícias piores do que se podia imaginar, já que ninguém sabia o que havia acontecido. Dois vultos permaneceram parados depois da comoção geral: o belo sacerdote de Apolo na sacada e o feioso padre de Cristo lá embaixo. Por fim, Flambeau, com sua silhueta alta e sua energia titânica, surgiu entrada do prédio e controlou a pequena multidão. Como um navio que toca a sirene no meio do nevoeiro, Flambeau elevou a voz pedindo que alguém chamasse um médico, e, assim que se voltou para a entrada escura e abarrotada de curiosos, seu amigo Padre Brown discretamente esgueirou-se atrás dele. Mesmo quando se esquivava e forçava a passagem no meio da multidão, ele ainda pôde ouvir a cantilena imponente e monótona do sacerdote do sol invocando o deus feliz, amigo das fontes e flores. Padre Brown encontrou Flambeau e outras seis pessoas paradas em volta do poço pelo qual o elevador geralmente descia. Mas o elevador não tinha descido. Alguma outra coisa descera em seu lugar, alguma coisa que deveria ter descido pelo elevador. Por pelo menos quatro minutos Flambeau ficara olhando para baixo; vira os miolos escorrendo do crânio esmigalhado e o corpo ensanguentado daquela linda mulher que negava a existência da tragédia. Nunca tivera a menor dúvida que se tratava de Pauline Stacey, e, apesar de ter mandado chamar um médico, não tinha a menor dúvida de que ela estava morta. Não conseguia lembrar ao certo se havia gostado ou não dela; havia muitas razões tanto para gostar como para não gostar. Mas ela havia sido uma pessoa na vida dele, e o insuportável pathos dos detalhes e da rotina apunhalavam-no com todas as pequenas adagas da perda. Lembrou de seu rosto bonito e de seus discursos pedantes com um súbito e secreto prazer que é puramente fruto do amargor da morte. Num piscar de olhos, como do nada, como um raio vindo de lugar nenhum, aquele corpo bonito e desafiador fora arremessado para a morte no poço do elevador. Teria sido suicídio? Em se tratando de uma pessoa tão insolente e otimista, parecia impossível. Teria sido assassinato? Mas quem teria, naquele edifício praticamente desabitado, o objetivo de matar alguém? Numa torrente de palavras ásperas que esperava que soassem fortes, mas que soaram fracas, perguntou onde estava aquele tal de Kalon. Uma voz, normalmente séria, calma e profunda, lhe assegurou que Kalon estivera na sacada adorando ao seu deus nos últimos quinze minutos. Quando Flambeau ouviu a voz e sentiu a mão de Padre Brown, voltou seu rosto trigueiro para ele e perguntou de maneira abrupta: – Neste caso, se ele esteve este tempo todo lá, quem pode ter feito isto? – Talvez fosse melhor a gente subir e procurar saber – respondeu Padre Brown. – Temos meia hora antes de a polícia começar a agir. Deixando o corpo da herdeira assassinada a cargo dos médicos, Flambeau correu escadaria acima até o escritório de datilografia, encontrou-o completamente vazio e então correu para sua própria sala. Chegando lá, voltou-se para o amigo de maneira abrupta, o rosto pálido ostentando uma expressão estranha. – A irmã dela – constatou com seriedade alarmante –, a irmã dela parece ter saído para dar uma volta. Padre Brown assentiu com a cabeça e completou: – Ou ela pode ter subido até o escritório daquele sacerdote do sol. Se eu fosse você, verificaria isso, e depois vamos todos conversar a respeito do ocorrido na sua sala. Ou melhor – acrescentou rapidamente, como se lembrasse de algo –, será que algum dia vou deixar de ser tão burro? É claro, no escritório delas, aí embaixo. Flambeau arregalou os olhos, mas seguiu o padre escada abaixo até o escritório vazio das irmãs Stacey, onde esse pastor de atitude impenetrável sentou-se numa confortável cadeira de couro vermelho na entrada da sala, de onde podia ver as escadas e os patamares, e esperou. Porém, não precisou esperar por muito tempo. Uns quatro minutos depois três pessoas desceram as escadas, tendo em comum apenas a expressão solene. A primeira era Joan Stacey, irmã da morta – evidentemente ela estivera no andar de cima, no templo provisório de Apolo; a segunda era o próprio sacerdote de Apolo, que, encerrada sua ladainha, descia majestosamente as escadas vazias – alguma coisa em suas vestes brancas, na barba e no cabelo repartido fazia lembrar o Cristo desenhado por Gustave Doré; a terceira era Flambeau, de cenho franzido e um tanto desnorteado.
A srta. Joan Stacey, de rosto abatido e cabelos morenos com prematuras mechas grisalhas, dirigiu-se diretamente a sua mesa e começou a arrumar seus papéis com gestos rápidos. A simples atividade trouxe todos de volta à realidade. Se a srta. Joan Stacey era uma criminosa, era uma criminosa calculista. Padre Brown a observou com atenção por alguns instantes, com um sorrisinho estranho nos lábios, e então, sem tirar os olhos dela, dirigiu-se a outra pessoa. – Profeta – disse ele, provavelmente dirigindo-se a Kalon. – Gostaria que o senhor me contasse tudo a respeito de sua religião. – Será um prazer – disse Kalon, inclinando a cabeça que ainda ostentava o diadema. – Mas não tenho certeza se entendi direito. – Como não? – disse Padre Brown, de seu modo francamente cético. – Deixe-me explicar: aprendemos que, se um homem tem princípios básicos realmente ruins, em parte deve ser culpa dele mesmo. Mas, mesmo assim, podemos diferenciar um homem que insulta sua consciência de forma clara daquele homem com uma consciência mais ou menos ofuscada por sofismas. Ora, o senhor acha mesmo que matar é errado ou não? – Isso é uma acusação? – perguntou Kalon com muita calma. – Não, são as palavras da defesa – respondeu Brown de maneira igualmente serena. No silêncio longo e pesado da sala, o profeta de Apolo levantou-se devagar; e pareceu mesmo o sol nascente. Ele preencheu aquela sala com luz e brilho de tal maneira que se tinha a impressão que poderia, com a mesma facilidade, preencher a planície de Salisbury. Sua silhueta, envolta nas vestes sacerdotais, pareceu cobrir toda a sala com roupas clássicas; sua gesticulação épica parecia estendê-la a perspectivas mais grandiosas, fazendo o vulto pequenino e preto do clérigo moderno parecer uma falha e um intrometimento, um borrão redondo e escuro no esplendor da Hélade. – Finalmente nos encontramos, Caifás – disse o profeta. – A sua igreja e a minha são as únicas realidades nesta terra. Eu adoro o sol e você, a obscuridade dele; você é o sacerdote do Deus moribundo e eu, do Deus vivo. A sua atual demonstração de desconfiança e calúnia é digna de sua batina e do seu credo. Toda a sua igreja nada mais é do que uma polícia rancorosa; não passam de espiões e detetives procurando arrancar confissões de culpa das pessoas, seja por traição ou por tortura. Você condenaria as pessoas por crimes, eu as condenaria pela inocência. Você as convenceria do pecado, eu as convenceria da virtude. “Leitor dos livros do mal, mais uma palavra antes de eu fazer desaparecer para sempre seus pesadelos infundados. Nem mesmo de longe você entenderia que estou pouco me importando se você pode ou não me condenar. As coisas que você chama de desgraça e horrível morte na forca são, para mim, nada mais do que o ogro de um livro infantil para quem é adulto. Você disse que estava oferecendo as palavras da defesa. Dou tão pouca importância à terra de fantasia desta vida que vou lhe oferecer as palavras da acusação. Apenas uma coisa pode ser dita contra mim nesta questão, e vou dizer eu mesmo. A mulher que está morta era minha amada e minha noiva; não conforme os ritos que as suas capelinhas de zinco consideram legais, mas por uma lei mais pura e mais rígida que você jamais vai entender. Ela e eu vivíamos em um mundo diferente do seu e circulávamos por palácios de cristal, enquanto você se arrastava por túneis e corredores de tijolos. Ora, sei que policiais (teológicos ou não) sempre acreditam que onde existe amor logo deve haver ódio; portanto, eis o primeiro motivo para a acusação. Mas o segundo motivo é mais grave, não reluto em dizer. Não só é verdade que Pauline me amava, mas também é verdade que hoje mesmo, pela manhã, antes de morrer, ela escreveu naquela mesa um testamento deixando meio milhão de libras para mim e para minha nova igreja. Ora, onde estão as algemas? Pensa que me importo com as tolices que podem fazer comigo? O trabalho forçado será apenas como esperar por ela numa estação à beira da estrada. A forca será apenas ir aos braços dela num carro extremamente veloz.” Falou com a eloquente autoridade de um orador, e Flambeau e Joan Stacey o miraram com surpresa e admiração. O rosto de Padre Brown não parecia expressar nada a não ser extremo desconforto; olhou para o chão com a testa franzida de dor. O profeta do sol encostou-se confortavelmente no consolo da lareira e continuou: – Em poucas palavras, apresentei a vocês o caso completo contra mim... o único caso possível contra mim. E, em ainda menos palavras, vou despedaçar o caso, de modo que não reste nenhum vestígio dele. Quanto ao fato de eu ter cometido ou não esse crime, a verdade está em uma frase: eu não poderia ter cometido esse crime. Pauline Stacey caiu deste andar cinco minutos depois do meio-dia. Uma centena de pessoas vai sentar no banco das testemunhas para afirmar que eu estava em pé, na sacada da minha própria sala, desde as primeiras badaladas do meio-dia até meio-dia e quinze, o período habitual de minhas orações públicas. Meu funcionário (respeitável moço de Clapham, sem nenhum tipo de parentesco comigo) vai jurar que esteve sentado na minha antessala durante toda a manhã e que nenhuma mensagem foi recebida. Ele vai jurar que cheguei dez minutos antes do meio-dia, quinze minutos antes de qualquer rumor sobre o acidente, e que, em nenhum momento, deixei o escritório ou a sacada. Ninguém jamais teve álibi tão perfeito; eu poderia convocar metade da população de Westminster. Acho que é melhor guardar as algemas. O caso está encerrado. “Mas, por fim – prosseguiu ele –, para que não paire a menor sombra de dúvida, vou falar tudo o que querem saber. Acredito que sei como minha infeliz amiga encontrou a morte. Podem me culpar por isso, se quiserem, ou a minha fé e filosofia pelo menos, mas, com certeza, não podem me prender. É de conhecimento de todos os que estudam as verdades superiores que certos peritos e illuminati têm, na história, alcançado o poder de levitação, isto é, a capacidade de ficarem suspensos no ar. Isso nada mais é do que uma parte daquela conquista geral da matéria que é o principal elemento da nossa sabedoria oculta. A coitada da Pauline tinha um gênio impulsivo e ambicioso. Para dizer a verdade, acho que, de certa forma, ela se considerava mais conhecedora desses mistérios do que realmente era, e com frequência me dizia, quando descíamos juntos no elevador, que, se alguém tivesse força de vontade suficiente, poderia flutuar como uma pena sem nenhum perigo. Creio solenemente que, em certo êxtase de nobres pensamentos, ela tentou o milagre. Sua força de vontade ou sua fé devem tê-la abandonado naquele momento crucial, e a lei inferior da matéria vingou-se de maneira horrível. Eis a história completa, cavalheiros, muito triste e, como pensam, muito insolente e cruel, mas certamente não criminosa e nem de qualquer forma relacionada comigo. No manual da polícia, acho melhor considerar isso um suicídio. Sempre vou considerá-lo um fracasso heroico em prol do progresso da ciência e da lenta escalada ao céu.” Foi a primeira vez que Flambeau viu Padre Brown derrotado. Ele continuava sentado, mirando o chão, o cenho enrugado e aflito, como se estivesse com vergonha. Era impossível evitar a sensação despertada pelas aladas palavras do profeta: ali estava um suspeitador da humanidade taciturno e profissional, dominado pelo mais orgulhoso e mais puro espírito de liberdade e saúde naturais. Por fim disse, piscando como se estivesse em sofrimento físico: – Bem, se for assim, o senhor não precisa fazer mais nada além de pegar o tal testamento e ir embora. Eu me pergunto onde a pobre senhora o deixou. – Deve estar ali, na mesa dela, perto da porta, acho eu – disse Kalon, naquela poderosa atitude inocente que parecia exonerá-lo por completo. – Ela me frisou que ia fazer isso hoje pela manhã, e a vi mesmo escrevendo enquanto subia pelo elevador até a minha sala. – A porta do escritório dela estava aberta naquele momento? – perguntou o padre, com o olhar fixo num canto do capacho. – Estava – confirmou Kalon, calmamente. – Ah! E, desde então, esteve sempre aberta – disse Padre Brown, continuando o silencioso estudo do capacho. – Tem um papel aqui – disse a inflexível srta. Joan, com a voz um pouco estranha. Ela havia cruzado a sala em direção à mesa da irmã junto à porta e segurava uma folha de papel almaço azul. Tinha um sorriso amargo no rosto que parecia não se ajustar àquela cena ou ocasião, e Flambeau a encarou com um olhar sombrio. Kalon, o profeta, manteve-se longe do papel com a nobre inconsciência com que superava as dificuldades. Mas Flambeau pegou o papel das mãos dela e leu o documento com o mais profundo espanto. O texto realmente começava da maneira formal de um testamento, mas, após as palavras “deixo em herança tudo que tenho”, a escrita terminava de maneira abrupta com uma série de rabiscos, e não havia nenhum sinal do nome do herdeiro. Flambeau, surpreso, entregou aquele testamento truncado para o seu amigo, que passou os olhos nele e o ofereceu, silenciosamente, ao sacerdote do sol. Um instante depois aquele pontífice, em suas gloriosas e majestosas vestes, atravessara a sala em duas passadas largas, postando-se em frente a Joan Stacey. Os olhos azuis de Kalon quase saltaram fora de órbita. – Que palhaçada você andou fazendo aqui? – gritou ele. – Não foi só isso que Pauline escreveu. Todos ficaram surpresos ao ouvi-lo falar numa voz bem diferente, com estridente sotaque americano; toda a imponência e o bom inglês britânico caíram como um disfarce. – É a única coisa em cima da mesa – disse Joan, enfrentando-o com firmeza, com o mesmo sorriso malevolente. De repente, o homem irrompeu numa torrente de blasfêmias e insultos. Havia algo chocante na queda daquela máscara, e era como se caísse ao chão o rosto verdadeiro de um homem. – Olhe aqui! – gritou com evidente sotaque americano, ofegante de tanto xingar. – Posso ser um aventureiro, mas acho que você é uma assassina. Sim, cavalheiros, finalmente o crime está explicado, e sem o elemento de levitação. A pobre moça está escrevendo um testamento a meu favor; a maldita irmã entra e luta pela caneta, arrasta a pobre coitada até o poço e a joga ali antes que ela possa terminar o documento. Céus! Suponho que, no final das contas, vamos precisar das algemas. – Como o senhor bem salientou – respondeu Joan, com calma assustadora –, o seu funcionário é um jovem bastante respeitável, que conhece a natureza de um juramento; e ele vai jurar diante de qualquer corte que eu estava lá em cima, no seu escritório, tratando de alguns trabalhos de datilografia, cinco minutos antes e cinco minutos depois da queda da minha irmã. O sr. Flambeau vai dizer que me encontrou lá. O silêncio dominou a sala. – Ora, então – gritou Flambeau –, Pauline estava sozinha quando caiu e foi suicídio! – Ela estava sozinha quando caiu – afirmou Padre Brown –, mas não foi suicídio. – Então como ela morreu? – perguntou Flambeau, impaciente. – Foi assassinada. – Mas ela estava sozinha – objetou o detetive. – Foi assassinada quando estava completamente sozinha – respondeu o padre. Todos os outros o fitaram, mas ele permaneceu sentado com a mesma atitude de desânimo, com uma ruga na testa redonda e um semblante de vergonha e tristeza impessoais; a voz dele era inexpressiva e triste. – O que quero saber – gritou Kalon, com uma imprecação – é quando a polícia vai chegar para prender esta irmã sanguinária e cruel. Matou um membro da própria família e me roubou meio milhão de libras, tão sagradamente minhas como... – Ora, ora, profeta – interrompeu Flambeau, com um sorriso de escárnio –, lembre-se que este mundo todo é uma terra de fantasia. O hierofante do deus-sol fez um esforço para voltar ao seu pedestal. – Não é só o dinheiro – ele gritou –, embora ele fosse ajudar a causa em todo o mundo. É também o desejo da minha amada. Para Pauline tudo isso era sagrado. Aos olhos de Pauline... Padre Brown levantou-se de maneira tão súbita que sua cadeira caiu para trás. Ele estava mortalmente pálido e, no entanto, parecia cheio de esperança; seus olhos brilhavam. – É isto! – exclamou numa voz clara. – É por aí que devemos começar. Os olhos de Pauline... O profeta alto postou-se à frente do pequenino padre, transtornado, quase louco. – O que quer dizer com isso? Como ousa? – gritou repetidamente. – Aos olhos de Pauline... – repetiu o padre, o olhar brilhando cada vez mais. – Continue, em nome de Deus, continue. O mais hediondo crime que os fanáticos já instigaram parece mais leve depois da confissão; e rogo que o senhor confesse. Continue, continue... aos olhos de Pauline... – Me deixe em paz, demônio! – bradou Kalon, lutando como um gigante acorrentado. – Quem é você, espião maldito, para tecer as suas teias em volta de mim, para me espreitar e examinar? Me deixe em paz! – Devo detê-lo? – perguntou Flambeau, movendo-se rapidamente em direção à saída, pois Kalon já tinha escancarado a porta. – Deixe-o passar – disse Padre Brown, com um suspiro profundo e estranho que parecia ter vindo das profundezas do universo. – Deixe Caim passar, pois ele pertence a Deus. Houve um silêncio prolongado na sala quando Kalon retirou-se, o que, para o espírito violento de Flambeau, era uma interrogação longa e agonizante. A srta. Joan com bastante calma organizava os papéis de sua mesa. – Padre – disse Flambeau por fim –, é meu dever, não só minha curiosidade, é meu dever descobrir, se puder, quem cometeu o crime. – Que crime? – perguntou Padre Brown. – O crime com que estamos lidando, é claro – respondeu seu amigo, com impaciência. – Estamos diante de dois crimes – disse Brown –, crimes de naturezas diferentes e cometidos por criminosos diferentes. A srta. Joan Stacey, tendo reunido e guardado seus papéis, dirigiu-se à gaveta para trancá-la. Padre Brown continuou, dispensando a ela tanta atenção quanto ela lhe dispensava. – Os dois crimes – observou ele – foram cometidos contra a mesma fraqueza da mesma pessoa, numa batalha pelo seu dinheiro. O autor do crime maior se viu frustrado pelo crime menor; o autor do crime menor ficou com o dinheiro. – Ah, não fale como se estivesse em uma conferência – gemeu Flambeau. – Diga o que aconteceu em poucas palavras. – Posso fazer isso com uma única palavra – respondeu o amigo. A srta. Joan Stacey ajeitava, na frente de um espelhinho, o chapéu preto e prático na cabeça, com uma cara fechada e profissional e, enquanto a conversa prosseguia, pegou sem pressa a bolsa e a sombrinha e saiu da sala. – A verdade está numa palavra, numa palavrinha – disse Padre Brown. – Pauline Stacey estava cega. – Cega! – repetiu Flambeau, e levantou-se lentamente, projetando toda a sua enorme estatura. – Estava sujeita à cegueira devido à herança genética – continuou Brown. – Sua irmã teria começado a usar óculos se Pauline tivesse permitido, mas, por filosofia ou capricho, achava que ninguém deve encorajar tais doenças rendendo-se a elas. Não admitia a dificuldade para enxergar, ou tentava não fazer caso dela por capricho. Assim, sua visão ficava cada vez pior devido ao esforço; mas o pior ainda estava por vir. E veio com esse precioso profeta, ou seja lá como ele se intitula, que a ensinou a olhar firme para o sol quente a olho nu. Considerava isso a aceitação de Apolo. Ah, se esses novos pagãos fossem apenas os velhos pagãos, seriam um pouco mais prudentes! Os velhos pagãos sabiam que a mera adoração da Natureza nua tem um lado cruel. Sabiam que o olho de Apolo pode ferir e cegar. Houve uma pausa, e o padre continuou em voz suave, mas entrecortada: – Se aquele demônio a cegou deliberadamente ou não, não há nenhuma dúvida que a matou deliberadamente com a ajuda da sua cegueira. A própria simplicidade do crime é doentia. Sabemos que ele e ela subiam e desciam naqueles elevadores sem a ajuda do ascensorista; sabemos também como esses elevadores deslizam de maneira suave e silenciosa. Kalon trouxe o elevador até o andar da moça e a viu, pela porta aberta, escrevendo em seu jeito lento e desfocado, o testamento que havia prometido a ele. Chamou por ela animadamente para informar que o elevador estava esperando e que ela viesse quando estivesse pronta. Em seguida, apertou o botão do elevador e correu, sorrateiro, para o seu andar, atravessou a própria sala, saiu para a sacada e começou tranquilo a rezar diante da rua apinhada de gente quando a pobre moça, após encerrar seu trabalho, correu alegremente rumo ao elevador, onde o amado a esperava, e deu um passo... – Não! – gritou Flambeau. – Ele queria ganhar meio milhão de libras ao apertar aquele botão – continuou o pequenino padre, na voz inexpressiva que usava para falar de tais horrores. – Mas aquilo não deu em nada. Não deu em nada porque havia outra pessoa que também queria o dinheiro e que também sabia do segredo sobre a visão da coitada da Pauline. Havia uma coisa a respeito daquele testamento que, acho eu, ninguém notou: embora estivesse inacabado e sem assinatura, a outra srta. Stacey e uma empregada sua já haviam assinado como testemunhas. Joan assinou primeiro, alegando que Pauline podia terminar depois, num descaso tipicamente feminino pelas práticas legais. Portanto, Joan queria que a irmã assinasse o testamento sem testemunhas reais. Por que motivo? Pensei na cegueira e tive certeza que ela queria que Pauline assinasse em isolamento porque não queria que ela assinasse de jeito nenhum. Pessoas como as irmãs Stacey sempre usam caneta-tinteiro e isso era bem típico de Pauline. Por hábito, por sua grande força de vontade e de memória, ela ainda conseguia escrever quase tão bem com antes, mas ela não saberia dizer quando sua caneta precisava de tinta. Por causa disso, sua irmã carregava, cuidadosamente, suas canetas com tinta... todas, menos essa. Esta aqui foi negligenciada de propósito pela irmã; o pouco de tinta que ainda havia foi suficiente para umas poucas linhas e logo parou de escrever por completo. E o profeta perdeu quinhentas mil libras e cometeu um dos crimes mais brutais e brilhantes na história da humanidade; tudo isso, por nada. Flambeau dirigiu-se à porta aberta e ouviu a polícia subindo as escadas. Voltouse e disse: – O senhor deve ter acompanhado tudo com uma atenção diabólica para ter ligado o crime a Kalon em dez minutos. Padre Brown deu uma espécie de sobressalto e disse: – Ah, a ele! Na verdade, acompanhei mais atentamente para descobrir sobre a srta. Joan e a caneta-tinteiro. Mas sabia que Kalon era o criminoso antes de chegar à porta da frente. – Deve estar brincando! – exclamou Flambeau. – Estou falando sério – respondeu o padre. – Garanto que sabia que ele havia cometido o crime, mesmo antes de saber o que tinha feito. – Mas por quê? – Esses estoicos pagãos – respondeu Brown, pensativo – sempre fracassam por força própria. Ouviu-se um estrondo e um grito na rua, e o sacerdote de Apolo não se sobressaltou nem olhou em volta. Eu não sabia bem o que havia acontecido. Mas sabia que ele estava esperando por aquilo.
O SINAL DA ESPADA PARTIDA
Os mil braços da floresta, eram acinzentados, e seu milhão de dedos, prata. Num céu ardósia, de um azul-escuro esverdeado, as estrelas desoladas brilhavam como estilhas de gelo. Todo aquele cenário de floresta densa e povoação esparsa estava enregelado com uma geada cortante e quebradiça. As sombras negras entre os troncos das árvores se pareciam com as insondáveis cavernas negras do impiedoso inferno escandinavo, um inferno de frio imensurável. Até mesmo a torre da igreja, quadrada e de pedras, de tão nórdica lembrava o neopaganismo, como se fosse uma torre dos bárbaros entre rochedos do mar da Islândia. Era uma noite estranha para alguém explorar o cemitério do pátio de uma igreja. Mas, por outro lado, talvez valesse a pena. Das cinzas e restos da floresta, ele erguia-se de súbito numa espécie de corcova ou banqueta de relva verde, acinzentada pela luz das estrelas. A maior parte dos túmulos ficava num declive, e o caminho que conduzia até a igreja era íngreme como uma escadaria. Na parte mais alta do monte, na única parte proeminente e plana, estava o monumento que tornara famoso aquele lugar. Destoava dos túmulos de aparência uniforme ao redor, pois se tratava do trabalho de um dos maiores escultores da Europa moderna. A fama dele, contudo, fora esquecida de imediato, esvaecendo-se em meio à fama do homem cuja imagem ele esculpira. A escultura em metal maciço mostrava, pelos riscos do pequeno lápis prateado das estrelas, a figura imponente de um soldado deitado: as mãos fortes, postas em adoração perpétua; a cabeça avantajada descansava, tendo uma arma como travesseiro. A face venerável era barbuda, ou melhor, com as suíças emendando no bigode farto, à antiga moda dos coronéis. O uniforme, apesar do feitio simples, era o das guerras modernas. A seu lado, à direita, havia uma espada cuja ponta fora arrancada, e à sua esquerda, uma Bíblia. Nas fúlgidas manhãs de verão chegavam carruagens lotadas de americanos e de suburbanos cultos para ver o sepulcro. Mas, mesmo nessas ocasiões, eles reconheciam a ampla floresta, cujo domo úmido era o cemitério com o pátio da igreja, como um lugar misterioso e negligenciado. Naquela escuridão regelante de pleno inverno, alguém pensaria estar entregue à companhia das estrelas. Entretanto, no silêncio daqueles bosques rígidos, um portão de madeira rangeu, e os dois vultos de preto subiram a trilha até o túmulo. A frígida luz estelar parecia tão pálida que não se podia desvendar nada acerca desses dois homens, a não ser o fato de que os dois vestiam roupa preta. Um deles era enorme, e o outro (por contraste, talvez) muito, muito pequeno. Subiram até o grande túmulo inscrito do lendário guerreiro e permaneceram ali, observando, por alguns minutos. Não havia ninguém, talvez nada vivo num raio de grande alcance. Alguém de imaginação mórbida poderia bem se perguntar se eles próprios eram humanos. De qualquer forma, o início da conversa dos dois tinha algo de estranho. Após o primeiro silêncio, o baixinho disse ao outro: – Onde um homem sábio esconde um seixo? E o alto respondeu em voz baixa: – Na praia. O baixinho fez que sim com um gesto de cabeça e, após breve silêncio, disse: – Onde um homem sábio esconde uma folha? E o outro respondeu: – Na floresta. Fez-se novo silêncio, e o homem alto prosseguiu: – Então, quando um homem sábio precisa esconder um diamante verdadeiro, sabe-se que ele vai escondê-lo entre falsos diamantes? É isso? – Não, não – disse o baixinho, rindo –, vamos esquecer o que passou. Ele bateu os pés gelados no chão por um ou dois segundos e então disse: – Não é nada disso que estou pensando. Trata-se de outra coisa, bem diferente. Acenda um fósforo, por favor. O grandalhão remexeu o bolso, e logo a chama de um atrito iluminou de dourado todo o lado plano do monumento. Ali estavam gravadas, em letras pretas, as palavras conhecidas e lidas, com reverência, por tantos americanos: “À memória sagrada do general Sir Arthur St. Clare, Herói e Mártir, que sempre venceu e poupou seus inimigos, mas por eles foi traiçoeiramente assassinado. Possa Deus, em quem ele confiava, recompensá-lo e vingá-lo”. O fósforo queimou os dedos do grandão, escureceu e caiu. Ele já ia riscar outro, quando seu amigo baixinho o interrompeu: – Já está bom, Flambeau, velho amigo, já vi o que queria. Ou melhor, não vi o que não queria. Agora precisamos caminhar dois ou três quilômetros pela estrada até a primeira estalagem, então vou tentar contar tudo a você. Pois os céus sabem que um homem precisa de uma lareira e de uma bebida quando se atreve a contar uma história dessas. Desceram aquela trilha íngreme, travaram de novo o portão enferrujado e partiram com passadas reverberantes pelo caminho da floresta álgida. Já haviam andado meio quilômetro, quando o menor voltou a falar. E disse: – Sim, um sábio esconde um seixo na praia. Mas o que ele faz se não existe praia? O que você sabe a respeito do problema do grande St. Clare? – Não sei nada a respeito de generais ingleses, Padre Brown – respondeu o grandalhão, rindo –, exceto um pouco sobre a polícia inglesa. Só sei que o senhor me arrastou para uma longa peregrinação por todos os santuários desse camarada, seja ele quem for. Daria para pensar que ele foi enterrado em seis lugares diferentes. Vi memoriais ao general St. Clare na Abadia de Westminster. Vi a estátua equestre de um furioso cavaleiro, o general St. Clare, no aterro do rio Tâmisa: um cavalo com as patas dianteiras no ar. Vi um medalhão do general St. Clare na rua onde ele nasceu, e outro na rua onde morava; agora o senhor me arrasta nessa escuridão até o esquife dele no cemitério do vilarejo. Já estou um pouco cansado dessa personalidade magnífica, até porque nem sequer imagino quem foi ele. O que é que o senhor tanto procura em todas essas criptas e efígies? – Estou procurando uma palavra – disse Padre Brown. – Uma palavra que não está escrita. – Bem – disse Flambeau –, o senhor vai me dizer alguma coisa a respeito disso? – Devo separar o relato em duas partes – observou o padre. – Primeiro, tem o que todos sabem, e depois, tem o que eu sei. Agora, o que todo mundo sabe é breve e simples, mas está totalmente errado. – Isso mesmo – exclamou, animado, o homem grande chamado Flambeau –, vamos começar pelo lado errado. Vamos começar com a história conhecida de todos que não é verdadeira. – Se não for de todo falsa, é pelo menos bastante inadequada – prosseguiu Brown. – Pois, na verdade, tudo o que o público em geral sabe resume-se apenas no seguinte: que Arthur St. Clare foi um grande general inglês, muito bem-sucedido. Sabe também que, após esplêndidas mas cuidadosas campanhas, tanto na Índia quanto na África, ele estava no comando da luta contra o Brasil, quando o grande patriota brasileiro, Olivier, proclamou seu ultimato. Sabe também que, na ocasião, St. Clare, com um exército muito pequeno, atacou Olivier (este à frente de um exército bem maior) e foi capturado após heroica resistência. E sabe que, depois de sua captura, para o repúdio do mundo civilizado, St. Clare foi enforcado na árvore mais próxima. Depois que os brasileiros se retiraram, ele foi encontrado ali, balançando, com sua espada partida pendurada no pescoço. – E essa história popular é falsa? – adiantou Flambeau. – Não – disse seu amigo em voz baixa –, até onde se sabe, essa história é verdadeira. – Bem, creio que o que se sabe é suficiente! – exclamou Flambeau. – Mas, se a história popular é verdadeira, qual é o mistério? Já tinham passado por centenas de árvores cinzentas e tenebrosas sem que o pequenino padre respondesse. Então ele mordiscou seu dedo, pensativo, e disse: – Ora, o mistério é um mistério da psicologia. Ou melhor, um mistério de duas psicologias. Naquela campanha brasileira, dois dos homens mais famosos da história moderna agiram contra sua natureza. Veja bem: Olivier e St. Clare eram ambos heróis, um fato bem conhecido e inquestionável; era como a luta entre Heitor e Aquiles. Agora, o que você me diz de um episódio em que Aquiles fosse vacilante e Heitor, traiçoeiro? – Prossiga – disse o grandão, com impaciência, enquanto o outro mordiscava o dedo mais uma vez. – Sir Arthur St. Clare era um soldado à moda antiga, religioso, do tipo que nos salvou durante o Grande Motim – prosseguiu Brown. – Ele pensava primeiro no dever e depois no prazer; era, sem dúvida, mesmo com toda a sua coragem pessoal, um comandante prudente, que se indignava especialmente com a perda desnecessária de soldados. Em sua última batalha, no entanto, arriscou uma investida que até uma criança acharia absurda. Não era necessário ser estrategista para perceber a tempestade se armando, como não é necessário ser estrategista para sair da frente de um ônibus em movimento. Bem, esse é o primeiro mistério: onde é que o general inglês estava com a cabeça? O segundo enigma: onde estava o coração do general brasileiro? O presidente Olivier podia ser considerado um visionário ou uma praga, mas até seus inimigos admitiam que era magnânimo ao ponto de ser quixotesco. Quase metade dos soldados capturados por ele havia sido libertada e até mesmo coberta de privilégios. Homens que tinham sido injustos com ele comoviam-se diante daquela pessoa simples e afável. Por que demônios teria ele se vingado de forma diabólica uma única vez em toda sua vida, e justo do único golpe que não tinha como atingi-lo? Eis a questão: um dos homens mais sábios do mundo agiu como um idiota sem motivo aparente, e um dos homens mais generosos do mundo comportou-se como um demônio sem motivo aparente. Isso é tudo. Deixo o resto com você, meu jovem. – Não, de forma alguma – ronquejou o outro. – Eu é que deixo o resto com o senhor; e o senhor é que vai me contar tudo. – Bem – retomou Padre Brown –, não é justo dizer que a impressão do público seja apenas o que eu disse, sem mencionar que dois fatos aconteceram depois disso. Não posso dizer que eles lancem nova luz sobre a questão, pois ninguém consegue entender o que significam. Mas esses fatos lançaram um novo tipo de trevas; lançaram as trevas em novas direções. A primeira coisa é a seguinte: o médico dos St. Clare brigou com a família e começou a publicar uma série violenta de artigos, nos quais dizia que o falecido general era um fanático religioso; mas, de acordo com a lenda, isso significava pouco mais que um carola. Seja como for, a história parou por aí. Todos sabiam, é claro, que St. Clare conservava algumas excentricidades da religião puritana. O segundo incidente foi ainda mais arrebatador. Havia naquele malsucedido e desolado regimento, que realizou o ataque precipitado no Rio Negro, um certo Capitão Keith, na época noivo da filha de St. Clare e mais tarde seu esposo. Ele foi um dos prisioneiros de Olivier e, como todos os outros menos o general, parece ter sido tratado com generosidade e libertado sem demora. Uns vinte anos mais tarde, este homem, então tenente-coronel Keith, publicou uma espécie de autobiografia intitulada “Um oficial inglês em Burma e no Brasil”. Nas linhas em que o leitor procura ansioso um relato do mistério acerca da desgraça de St. Clare, é possível ler o seguinte: “Em todas as demais partes deste livro, com exceção da derrota no Rio Negro, descrevi os acontecimentos exatamente como ocorreram, adepto que sou da tradicional opinião de que a glória da Inglaterra é suficientemente antiga e não precisa de justificativas. E meus motivos, embora particulares, são honrosos e mandatórios. Devo, no entanto, acrescentar o seguinte para fazer justiça à memória de dois homens ilustres: o general St. Clare foi acusado de inabilidade nessa ocasião; posso ao menos testemunhar que essa ação, corretamente compreendida, foi uma das mais brilhantes e sagazes da sua vida. O presidente Olivier, em relato semelhante, é acusado de uma brutal injustiça. Penso que devo à honra de um inimigo dizer que ele agiu, naquela ocasião, com mais virtude ainda do que de costume. Simplificando, posso assegurar a meus concidadãos que St. Clare não foi nenhum tolo e que Olivier não foi cruel como pode ter parecido. Isso é tudo o que tenho a dizer, e nenhuma consideração terrena poderá induzir-me a acrescentar uma palavra sequer a este relato”. Uma lua grande e gelada como uma bola de neve reluzente surgia através dos galhos entrelaçados diante deles; e, com essa luz, o narrador tinha conseguido lembrar do texto do capitão Keith a partir de um pedaço de papel impresso. Assim que dobrou o papel e colocou-o de volta no bolso, Flambeau ergueu a mão com um típico gesto francês. – Espere um pouco, espere um pouco – exclamou, muito entusiasmado. – Acho que consigo adivinhar de primeira. Prosseguiu, a respiração difícil, espichando a cabeça de cabelos pretos e o pescoço largo de búfalo para a frente, como um homem ao vencer uma corrida. O padre baixinho, encantado e curioso, teve dificuldade para trotar ao seu lado. Diante deles, as árvores retrocediam suavemente, para a direita e para a esquerda, descortinando a estrada que descia em meio a um vale descampado sob a luz da lua até mergulhar em outro bosque, como um coelho entrando na toca. A entrada para aquela floresta mais adiante parecia pequena e arredondada, como o buraco negro de um túnel distante de estrada de ferro. E foi só depois de quase cem metros, quando já parecia a boca de uma caverna, que Flambeau voltou a falar. – Entendi tudo – exclamou por fim, batendo na coxa com sua mão enorme. – Quatro minutos raciocinando e posso contar eu mesmo toda a sua história. – Certo – concordou seu amigo. – Conte, então. Flambeau levantou a cabeça mas baixou a voz. – O general Sir Arthur St. Clare – disse – veio de uma família em que a loucura era hereditária e direcionou todo seu empenho para esconder esse fato da filha e, se possível, até de seu futuro genro. Certo ou errado, ele pensou que a derrocada final se aproximava e decidiu pelo suicídio. No entanto, um suicídio comum viria reforçar a ideia que o aterrorizava. Com a campanha se aproximando, aquelas nuvens negras avolumavam-se em seu cérebro; por fim, em um momento de loucura, sacrificou seu dever público em prol do seu dever pessoal. Correu apressado para a batalha, na esperança de tombar ao primeiro tiro. Quando percebeu que não havia conseguido mais que a captura e o descrédito, a bomba lacrada em seu cérebro explodiu, e ele partiu a própria espada e se enforcou. Fixou o olhar na fachada cinza da floresta à sua frente, em cuja única brecha negra a estrada mergulhava, como na boca de uma sepultura. Pode ser que algo ameaçador na estrada, engolida assim tão de repente, tenha reforçado sua vívida visão da tragédia, pois ele estremeceu. – Uma história horrível – disse. – Uma história horrível – repetiu o padre de cabeça baixa –, mas não a história verdadeira. Então jogou a cabeça para trás com uma espécie de desespero e gritou: – Ah! Quem dera fosse assim! Flambeau virou o rosto, olhou para baixo e encarou o amigo. – A sua é uma história limpa – exclamou Padre Brown, muito comovido –, uma história doce, pura, sincera, tão aberta e branca quanto aquela lua. A loucura e o desespero são inocentes o bastante. Há coisas piores, Flambeau. Num impulso, Flambeau olhou para a lua recém evocada; de onde estava, via um galho preto diante dela, curvo, no exato formato do chifre do diabo. – Padre... padre! – gritou Flambeau com o gesto francês, dando passos ainda mais rápidos à frente. – O senhor está sugerindo que foi pior ainda? – Pior ainda – disse o padre como um eco de um túmulo. E mergulharam no claustro negro do bosque, que passava ligeiro de cada lado deles numa escura tapeçaria de troncos, como um daqueles corredores sombrios de um sonho. Em pouco tempo estavam nas mais secretas entranhas da floresta e sentiam bem perto deles folhagens que não conseguiam enxergar, e então o padre repetiu: – Onde é que um homem sábio esconde uma folha? Na floresta. Mas o que ele faz se não há floresta? – Bem, bem – exclamou Flambeau irritado –, o que ele faz? – Cultiva uma floresta para escondê-la – disse o padre com uma voz vaga. – Um pecado horrendo. – Olhe aqui – exclamou impaciente seu amigo, pois a floresta sombria e o provérbio sombrio o haviam deixado um pouco nervoso –, o senhor vai me contar essa história ou não? Que outras evidências estão faltando? – Tem mais três evidências – disse o outro –, que descobri em buracos e esquinas e vou contar em ordem lógica ao invés de cronológica. Antes de mais nada, claro, nossa autoridade no assunto e no evento da batalha provém de relatórios bastante lúcidos do próprio Olivier. Ele estava entrincheirado com dois ou três regimentos nas planícies que desciam até o rio Negro. Havia do outro lado do rio um terreno mais baixo e mais pantanoso. E, para além deste, um campo em leve aclive, onde ficava o primeiro posto avançado inglês, apoiado por outros que se localizavam, no entanto, bem mais à retaguarda. O exército britânico, como um todo, era muitíssimo superior em números, mas este regimento, em particular, ficava distante de sua base o suficiente para que Olivier considerasse o projeto de atravessar o rio a fim de liquidá-lo. Ao pôr do sol, no entanto, tinha decidido manter sua posição, forte e privilegiada. Ao nascer do sol, na manhã seguinte, ficou estupefato ao ver que aqueles poucos ingleses desgarrados, completamente sem retaguarda, tinham se lançado à travessia do rio, metade por uma ponte à direita, e a outra metade por um vau rio acima, para se concentrarem na margem pantanosa, logo abaixo de onde ele, Olivier, estava. “Só o fato de tentarem um ataque com aquele contingente contra uma posição daquelas já era inacreditável, mas Olivier percebeu algo ainda mais extraordinário. Pois, em vez de tentarem alcançar um terreno mais sólido, esse regimento insano, tendo deixado o rio na retaguarda com um único e impensado movimento de ataque, não fez mais nada, só permaneceu ali, imóvel no lodo como mosquedo no melado. Nem precisa dizer que os brasileiros abriram grandes buracos nos ingleses com carga de artilharia, que eles só conseguiram rebater com fogo enérgico, mas cada vez menos intenso de seus rifles. Mesmo assim, nunca se entregaram; e o relato curto e grosso de Olivier termina com um forte tributo de admiração pelo heroísmo místico desses imbecis. Olivier escreveu: ‘Nossa linha por fim avançou e os levou até o rio; capturamos o próprio General St. Clare e vários outros oficiais. O coronel e o major foram baixas da batalha. Não posso deixar de reconhecer que poucas cenas já vistas na História foram mais admiráveis do que a última trincheira desse extraordinário regimento: oficiais feridos pegando os rifles de soldados mortos, e o próprio general nos confrontando de cima de um cavalo, a cabeça a descoberto e a espada partida’. Quanto ao que aconteceu com o general depois disso, Olivier se calou tanto quanto o Capitão Keith.” – Bem – grunhiu Flambeau –, prossiga para a próxima evidência. – A próxima evidência – disse Padre Brown – levou muito tempo para ser encontrada, mas vai levar pouco para contar. Encontrei por fim, num albergue nos charcos de Lincolnshire, um velho soldado que não só tinha sido ferido no Rio Negro, mas também havia se ajoelhado junto ao coronel do regimento quando este morreu. Era um tal de Coronel Clancy, um touro de um homem irlandês; e parece que ele morreu quase tanto da raiva que sentiu como dos balaços que levou. Não foi ele, em absoluto, o responsável por aquela incursão ridícula; ela deve ter sido imposta a ele pelo general. Suas últimas e notáveis palavras, de acordo com o meu informante, foram as seguintes: “Lá vai o maldito burro velho, com a ponta da espada partida. Preferia que fosse a cabeça”. Repare que todos parecem ter observado este detalhe da lâmina partida, apesar de que a maioria considera esse fato com mais reverência que o falecido Coronel Clancy. E agora, vamos ao terceiro fragmento. O caminho dos dois através do bosque transformou-se numa subida íngreme, e o narrador fez uma breve pausa para tomar fôlego antes de prosseguir. Então continuou no mesmo tom de formalidade: – Há apenas um ou dois meses, um certo oficial brasileiro, depois de ter lutado contra Olivier e deixado seu país, morreu na Inglaterra. Era uma figura conhecida tanto aqui como no Continente, um espanhol de nome Espado. Eu o conheci pessoalmente, um velho dândi com nariz de tucano. Por diversas razões particulares, obtive permissão para ver os documentos que ele tinha deixado. Ele era católico, obviamente, e eu o acompanhei até o fim. Nada do que ele me disse iluminou qualquer cantinho da história sombria de St. Clare, mas ele me entregou uns cinco ou seis cadernos simples: os diários de um soldado inglês qualquer. Só posso imaginar que foram encontrados pelos brasileiros com um dos soldados mortos. De qualquer forma, as anotações cessam de repente na noite da véspera da batalha. “Mas, com certeza, vale a pena ler a narração daquele último dia da vida do pobre coitado. Eu a tenho comigo, mas está muito escuro para ler aqui, então vou lhe fazer um resumo. A primeira parte do registro é cheia de piadas, que por certo circulavam entre os homens, a respeito de alguém que eles chamavam de Urubu. Não parece que essa pessoa, seja lá quem, fosse um deles, nem ao menos um inglês. Também não é mencionado exatamente como um dos inimigos. Mais parece que ele seria um mensageiro local, um não combatente; talvez um guia ou um jornalista. Ele confabulava em particular com o velho Coronel Clancy, mas era visto com mais frequência conversando com o major. Na verdade, o major é um tanto proeminente na narrativa desse soldado: um homem magro, de cabelos escuros, aparentemente chamado Murray; um irlandês do norte, um puritano. Há muitas piadas, uma atrás da outra, sobre o contraste entre a austeridade desse cidadão de Ulster e a sociabilidade do Coronel Clancy. Há também uma piada sobre o Urubu vestindo roupas de cores berrantes. “Mas toda essa falta de seriedade está espalhada aqui e ali, como as notas de uma corneta. Atrás do acampamento inglês e quase paralela ao rio, estava uma das poucas estradas daquele distrito. No sentido oeste, a estrada fazia uma curva em direção ao rio, cruzando-o pela ponte anteriormente mencionada. No sentido leste, a estrada recuava mato adentro, e dali a uns três quilômetros encontrava-se o próximo posto avançado inglês. Daquela direção vinham pela estrada, naquele fim de tarde, o brilho e o barulho de um destacamento de cavalaria ligeira, no qual até mesmo esse simples relator pôde reconhecer, com espanto, o general com seus homens. Ele montava o grande cavalo branco que você viu tantas vezes em documentos ilustrados e retratos da Academia. E você pode estar certo de que a continência que lhe fizeram não era mera cerimônia. Pelo menos, ele não perdeu tempo com formalismos, mas, saltando logo da sela, misturou-se ao grupo de oficiais e entregou-se a um discurso enfático, apesar de confidencial. O que mais chamou a atenção de nosso amigo, o escritor do diário, foi a sua particular disposição para discutir questões com o major Murray; mas, de fato, essa preferência, embora não estivesse combinada, não foi de forma alguma artificial. Os dois homens eram compassivos, homens que “liam suas Bíblias”, ambos do velho tipo de oficial evangélico. Seja como for, o certo é que o general, quando voltou a montar, continuava a conversar entusiasmado com Murray, e que, enquanto conduzia o seu cavalo a passo estrada abaixo em direção ao rio, o cidadão alto de Ulster ainda o acompanhava, a pé, ao lado das rédeas, num debate acalorado. Os soldados observaram os dois até desaparecerem por trás de um grupo de árvores onde a estrada dava uma guinada em direção ao rio. O coronel tinha voltado para sua tenda, e os homens, a suas rondas; o homem do diário demorou-se por mais quatro minutos e presenciou uma cena maravilhosa. “O grande cavalo branco que marchara descendo devagar a estrada, como fizera em tantos cortejos, arremeteu no sentido contrário, galopando estrada acima em direção a eles como se estivesse enlouquecido para ganhar uma corrida. Primeiro, pensaram que tivesse disparado com o homem montado em seu dorso, mas logo perceberam que fora impelido à velocidade máxima pelo próprio general, um excelente cavaleiro. Cavalo e homem se arremessaram sobre eles como um redemoinho, e depois, puxando as rédeas do cavalo de guerra instado a parar de supetão, o general virou-se para eles com o rosto em chamas e gritou pelo coronel como a trombeta que acorda os mortos. “Na minha compreensão, todos os abalos sísmicos daquela catástrofe desabaram uns sobre os outros, como se fossem árvores derrubadas nas mentes de homens como o nosso amigo do diário. Com a agitação confusa de um sonho, os homens viram-se tombando, literalmente tombando, em suas fileiras, com a informação de que um ataque deveria ter início de imediato do outro lado do rio. Dizia-se que o general e o major tinham descoberto alguma coisa na ponte e só havia tempo para lutarem pela sobrevivência. O major tinha voltado sem demora para convocar a reserva que havia ficado atrás, na estrada. Era duvidoso se, mesmo com a urgência do chamado, a ajuda chegaria até eles a tempo, mas eles teriam de atravessar a correnteza naquela noite e atingir o ponto mais alto do terreno pela manhã. É bem com a movimentação e o pulsar daquela marcha noturna que o diário termina, de repente.” Padre Brown subira mais um pouco, pois o caminho pelo bosque ficara mais estreito, íngreme e serpenteante, até terem a impressão de que estavam subindo uma escada em caracol. A voz do padre vinha de cima, da escuridão. – Tem ainda um outro detalhe, pequeno e aterrador. Quando o general os impeliu àquela carga de cavalaria, ele começou a desembainhar a espada; depois, como que envergonhado daquele melodrama, guardou-a novamente. A espada de novo, está vendo? Uma luz tênue irrompeu pela malha de ramos acima deles, jogando a sombra de uma rede em volta de seus pés, pois estavam subindo de novo rumo à fraca luminosidade da noite nua. Flambeau sentia a verdade a seu redor como uma atmosfera, mas não como uma ideia. Respondeu com o cérebro confuso: – Bom, qual é o problema da espada? Oficiais costumam carregar espadas, não é? – Elas não costumam ser mencionadas na guerra moderna – disse o outro, com indiferença –, mas neste caso a gente tropeça com a bendita espada por toda parte. – Bem, o que tem isso demais? – rosnou Flambeau. – Foi um incidente insignificante e engenhoso, a lâmina do velho se partindo em sua última batalha. Qualquer um apostaria que os registros documentariam esse detalhe, como de fato aconteceu. Em todos esses túmulos e coisas, a espada é mostrada partida no mesmo ponto. Espero que o senhor não tenha me arrastado para esta expedição polar só porque dois homens, com um bom olho para desenhos e retratos, viram a espada partida de St. Clare. – Não – disse Padre Brown, com uma voz aguda como um tiro de pistola –, mas quem viu a espada partida? – O que o senhor está querendo dizer? – exclamou o outro, permanecendo quieto sob as estrelas. De repente eles tinham saído pelos portões cinza do bosque. – Eu disse: quem viu a espada quebrada? – repetiu Padre Brown com obstinação. – De qualquer forma, não foi o escritor do diário, já que o general a embainhou a tempo. Flambeau olhou em volta à luz da lua, como alguém que ficou cego olharia para o sol; e seu amigo prosseguiu, pela primeira vez com entusiasmo: – Flambeau – exclamou –, eu não posso provar, mesmo depois de toda essa caçada pelos túmulos. Mas eu estou certo disso. Vou acrescentar apenas mais um minúsculo detalhe que derruba a coisa toda por terra. O coronel, por um estranho acaso, foi um dos primeiros a ser atingido por uma bala. Ele foi ferido muito antes de as tropas chegarem perto. Mas ele viu a espada partida de St. Clare. Por que estava partida? Como é que foi partida? Meu amigo, ela foi partida antes da batalha. – Ah! – disse seu amigo, com uma espécie de humor desesperado. – Esclareçame, por favor: onde está a outra parte? – Posso contar – disse o padre de imediato. – No canto nordeste, do cemitério da Catedral Protestante de Belfast. – É mesmo? – indagou o outro. – O senhor procurou? – Não foi possível – respondeu Brown, com verdadeiro pesar. – Tem um enorme monumento de mármore em cima dela, um monumento ao heroico Major Murray, que morreu lutando com brio na famosa Batalha do Rio Negro. De repente, Flambeau pareceu ter voltado à vida.
– O senhor está querendo dizer – exclamou com aspereza – que o General St. Clare odiava Murray e o assassinou no campo de batalha porque... – Você ainda está cheio de pensamentos bons e puros – disse o outro. – Foi bem pior que isso. – Bem – disse o homem alto –, meu estoque de imaginação maligna se esgotou. O padre parecia realmente não saber por onde começar e por fim disse outra vez: – Onde um homem sábio esconde uma folha? Na floresta. O outro não respondeu. – Se não houvesse floresta, ele fabricaria uma floresta. E, se quisesse esconder uma folha morta, fabricaria uma floresta morta. Continuou não havendo resposta, e o padre acrescentou com mais brandura ainda e em voz mais baixa. – E, se um homem tivesse que esconder um cadáver, ele fabricaria um campo de cadáveres para escondê-lo. Flambeau começou a bater o pé, demonstrando intolerância com a demora no tempo e no espaço, mas Padre Brown prosseguiu como se dando continuidade à sua última frase. – Sir Arthur St. Clare, como já disse, era um homem que lia a sua Bíblia. E esse era exatamente o problema dele. Quando é que as pessoas vão entender que não adianta um homem ler a sua Bíblia a menos que ele também leia a Bíblia dos outros? Um tipógrafo lê uma Bíblia para achar erros de tipografia. Um mórmon lê a Bíblia e descobre poligamia; um cientista-cristão lê a sua e descobre que não temos braços nem pernas. St. Clare era um velho soldado protestante anglo-indiano. Agora, pense o que isso pode significar e, por favor, não se faça de desentendido. Pode significar um homem com um físico formidável vivendo nos trópicos, numa sociedade oriental, imergindo, sem qualquer bom-senso ou orientação, num livro oriental. Claro, ele leu o Antigo Testamento em vez do Novo. Claro, ele descobriu no Antigo Testamento tudo o que bem entendesse... lascívia, tirania, traição. Ah, arrisco dizer que St. Clare era honesto, no real sentido da palavra. Mas de que adianta um homem ser honesto em sua adoração à desonestidade? “Em todos os países quentes e secretos aonde aquele homem foi, ele manteve um harém, torturou testemunhas, acumulou ouro de má procedência; mas, sem dúvida, ele teria afirmado, com olhar seguro, que fez isso pela glória do Senhor. A minha teologia se resume à seguinte pergunta: qual Senhor? De toda forma, tem algo num mal desses que abre porta após porta do inferno, e sempre para câmaras cada vez menores. Este é o verdadeiro caso contra o crime: um homem não se torna cada vez mais selvagem, ele se torna cada vez mais ganancioso. St. Clare logo se viu sufocado por dificuldades de suborno e chantagem e precisava cada vez mais de dinheiro. Assim, na época da Batalha do Rio Negro, ele já havia caído de um mundo para outro, até chegar ao lugar referido por Dante como o fundo do universo.” – O que o senhor está querendo dizer? – perguntou seu amigo de novo. – Estou dizendo que – replicou o clérigo e, de repente, apontou para uma poça coberta de gelo que brilhava iluminada pela lua. – Você se lembra quem Dante colocou no último círculo gelado? – Os traidores – disse Flambeau e estremeceu. À medida que olhava ao redor, para aquela paisagem inumana de árvores, de relevos afrontosos e quase obscenos, ele chegou perto de se imaginar um Dante, e o padre, com a fluência de sua voz, era Virgílio conduzindo-o por uma terra de pecados eternos. A voz prosseguiu: – Olivier, como você sabe, era quixotesco e não permitiria espiões e serviço secreto. Mas a coisa foi feita, como tantas outras, pelas suas costas. Foi concebida pelo meu velho amigo Espado. Ele era o típico homem vaidoso que gosta de vestir cores vivas, um dândi, cujo nariz adunco rendeu-lhe o apelido de Urubu. Como se fosse um filantropo no front, ele se introduziu no exército inglês e por fim pôs as mãos em cima de seu homem corrupto (graças a Deus!), o homem que estava no topo. St. Clare tinha sérios problemas financeiros e precisava de montanhas de dinheiro. O desacreditado médico da família estava ameaçando fazer revelações chocantes, que depois começaram e foram interrompidas; narrativas de coisas monstruosas e préhistóricas em Park Lane; coisas praticadas por um evangélico inglês que cheiravam a sacrifício humano e hordas de escravos. Também precisava de dinheiro para o dote de sua filha, pois, para ele, a fama da riqueza era tão doce quanto a própria riqueza. Estava por um fio, e o fio rebentou. Entregou os ingleses ao Brasil, e a riqueza se derramou vinda dos inimigos da Inglaterra. Mas outro homem conversou com Espado, o Urubu. De algum modo o jovem major de Ulster, moreno e austero, desconfiou da odiosa verdade, e quando eles desceram juntos lentamente pela estrada em direção à ponte, Murray estava dizendo ao general que ele deveria renunciar de imediato, caso contrário seria julgado por uma corte marcial e fuzilado. O general contemporizou com ele até chegarem à orla de árvores tropicais próxima à ponte; e ali, às margens do rio melodioso, perto das palmeiras iluminadas (pois consigo ver a cena), o general puxou sua espada e cravou-a no corpo do major. A estrada hibernal fez uma curva e entrou numa comprida área de terreno elevado em meio ao frio cortante e às formas negras e cruéis de arbustos e moitas, mas Flambeau teve a impressão de enxergar mais além a tênue borda de uma auréola que não era nem de luz estelar nem do luar e sim de algum fogo feito por mãos humanas. Fixou ali o olhar enquanto o relato chegava ao final. – St. Clare era um cão dos infernos, mas era um cão de pedigree. Nunca, eu juro, ele foi tão forte e tão lúcido quanto na hora que o pobre Murray caiu a seus pés como massa fria e informe. Nunca em todas suas vitórias, como disse com precisão o Capitão Keith, esse homem grandioso foi tão grandioso como nessa última derrota desprezada pelo mundo. Olhou friamente para sua arma para enxugar o sangue e viu que a ponta que ele havia fincado entre os ombros da vítima tinha se partido em seu corpo. Viu com toda calma, como que através de uma grande vidraça, tudo que se seguiria. Viu que os homens iriam encontrar o cadáver assassinado sem explicação, iriam retirar a ponta da espada, também inexplicada, ou a falta de espada. Ele tinha matado, mas ainda restava silenciar a vítima. Mas seu intelecto orgulhoso e autoritário se levantou contra o desafio: ainda havia uma saída. Ele poderia tornar aquele cadáver menos inexplicável. Poderia criar uma montanha de cadáveres para cobrir aquele corpo. Em vinte minutos, oitocentos soldados ingleses marchariam para a morte. O brilho cálido, por trás do bosque de inverno negro, se tornava mais rico e mais claro; Flambeau prosseguia com passadas largas a fim de alcançá-lo. Padre Brown também apressou o passo, mas parecia absorvido por inteiro em seu relato. – Tal foi a bravura daqueles mil ingleses, e tal foi o gênio de seu comandante, que, se tivessem atacado de imediato a colina, até mesmo sua marcha insensata poderia ter encontrado alguma ventura. Mas a mente maligna que brincava com eles como se fossem fantoches tinha outros objetivos e razões. Eles tinham que permanecer no pântano perto da ponte ao menos até que cadáveres britânicos fossem uma visão comum ali. Então, a última cena espetacular: o soldado santo de cabelos prateados desistiria de sua espada despedaçada para evitar a continuação do massacre. Ah, para um improviso até que foi bem organizado. Mas penso (não posso provar) que foi ali, enquanto se atolavam no lodo sangrento que alguém duvidou... e alguém desconfiou. Calou-se por um instante e depois disse: – Há uma voz de algum lugar me dizendo que o homem que desconfiou foi o apaixonado... o homem que estava prestes a se casar com a filha do velho. – Mas e Olivier e o enforcamento? – perguntou Flambeau. – Olivier, em parte por nobreza, em parte por estratégia, quase nunca sobrecarregava sua marcha com prisioneiros – explicou o narrador. – Ele libertava a todos na maior parte dos casos. Libertou a todos neste caso. – Todos menos o general – disse o homem alto. – Todos – disse o padre. Flambeau uniu as sobrancelhas negras: – Não consigo pescar tudo ainda – disse. – Há outra cena, Flambeau – disse Brown no seu mais místico meio-tom. – Não posso provar, mas posso fazer mais que isso: posso ver. Sob o sol da manhã, um acampamento se desfaz no meio das colinas tórridas e nuas, e uniformes brasileiros se perfilam em pelotões e colunas para marchar. Olivier está parado, de camisa vermelha, e a sua longa barba negra balança ao vento. Chapéu de abas largas na mão, ele está dizendo adeus ao grande inimigo que está libertando, o simples veterano de cabeça nevada, que lhe agradece em nome de seus homens. Os sobreviventes ingleses estão parados atrás, atentos; ao lado deles há víveres e veículos para a retirada. Os tambores rufam, os brasileiros se movem, os ingleses ficam imóveis como estátuas. Assim permanecem até que os últimos zunidos e brilhos comecem a sumir no horizonte tropical. Então, de repente, todos eles mudam de atitude; como homens mortos que retornam à vida, voltam suas cinquenta faces para o general... e a expressão naqueles rostos jamais será esquecida. Flambeau deu um grande pulo. – Ah! – exclamou. – Não está querendo dizer que... – Sim – disse Padre Brown, com uma voz tocante e profunda –, foi um braço inglês que colocou a corda ao redor do pescoço de St. Clare, creio ter sido o mesmo que pôs o anel na mão da sua filha. Eram mãos inglesas as que o arrastaram à árvore da vergonha, as mãos de homens que o adoravam e costumavam segui-lo até a vitória. Eram almas inglesas (Deus, perdoe e compadeça-se de nós!) que olharam para ele balançando sob aquele sol estrangeiro na forca verde de palmeira. E desejaram em seu ódio que ele desabasse até o inferno. Quando os dois chegaram ao topo da colina derramou-se sobre eles a forte luz escarlate de uma hospedaria inglesa de cortinas vermelhas. A estalagem ficava de perfil para a estrada, como quem fica de lado para ampliar a hospitalidade. Suas três portas ficavam todas abertas com letreiros convidativos, e mesmo de onde estavam, podiam ouvir o burburinho e o riso de pessoas felizes por uma noite. – Não preciso lhe contar mais nada – disse Padre Brown. – Eles o julgaram no agreste e o destruíram; e depois, pela honra da Inglaterra e da filha do enforcado, fizeram juramento de que se calariam para sempre sobre a história do dinheiro do traidor e da lâmina da espada do assassino. Quem sabe (com a ajuda dos Céus) tentaram esquecer tudo isso. Vamos tentar esquecer, também. Veja, chegamos à nossa hospedaria. – De todo o meu coração – disse Flambeau, que tinha recém entrado no bar iluminado e barulhento quando deu um passo para trás e quase caiu na estrada. – Maldição! Olhe aqui! – exclamou e apontou com o dedo em riste para o letreiro quadrado de madeira pendurado por cima da estrada. Mostrava meio apagada a forma de um cabo de sabre tosco e uma lâmina encurtada. Estava inscrito em falsas letras arcaicas: “O emblema da espada partida”. – Não estava preparado? – perguntou Padre Brown gentilmente. – Ele é o deus deste país, a metade das hospedarias e parques e ruas levam seu nome e carregam sua história. – Pensei que tínhamos nos livrado do leproso – exclamou Flambeau e cuspiu na estrada. – Enquanto o bronze for sólido e existirem pedras, você nunca se verá livre dele na Inglaterra – disse o padre, olhando para baixo. – Suas estátuas de mármore elevarão com orgulho as almas de meninos inocentes por centenas de anos. Seu túmulo na vila recenderá a lealdade bem como a lírios. Milhões de pessoas, que nunca o conheceram, vão amá-lo como a um pai... o homem a quem as últimas pessoas com quem esteve trataram como esterco. Ele será um santo e jamais se contará a verdade a seu respeito, porque afinal eu decidi. Há tanto benefícios como malefícios em contar segredos, então coloco meu comportamento em teste. Todos esses jornais vão se extinguir, o movimento anti-Brasil já terminou, Olivier já foi honrado em toda parte. Mas prometi a mim mesmo que em qualquer lugar onde, pelo nome em metal ou mármore que vai durar como as pirâmides, o coronel Clancy, o capitão Keith, o presidente Olivier ou qualquer outra pessoa inocente viesse a ser acusada de modo injusto, então eu falaria. Se apenas St. Clare fosse acusado injustamente, eu me calaria. E assim farei. Irromperam na taverna de cortinas vermelhas, que não era apenas confortável, mas até luxuosa por dentro. Sobre uma mesa, havia uma réplica do túmulo de St. Clare, a cabeça de prata inclinada, a espada de prata partida. Nas paredes havia fotografias coloridas da mesma cena e do sistema de carruagens que transportavam turistas para vê-la. Sentaram-se em confortáveis bancos acolchoados. – Venha, está frio – exclamou Padre Brown –, vamos tomar um vinho ou uma cerveja. – Ou um conhaque – disse Flambeau.
Os mil braços da floresta, eram acinzentados, e seu milhão de dedos, prata. Num céu ardósia, de um azul-escuro esverdeado, as estrelas desoladas brilhavam como estilhas de gelo. Todo aquele cenário de floresta densa e povoação esparsa estava enregelado com uma geada cortante e quebradiça. As sombras negras entre os troncos das árvores se pareciam com as insondáveis cavernas negras do impiedoso inferno escandinavo, um inferno de frio imensurável. Até mesmo a torre da igreja, quadrada e de pedras, de tão nórdica lembrava o neopaganismo, como se fosse uma torre dos bárbaros entre rochedos do mar da Islândia. Era uma noite estranha para alguém explorar o cemitério do pátio de uma igreja. Mas, por outro lado, talvez valesse a pena. Das cinzas e restos da floresta, ele erguia-se de súbito numa espécie de corcova ou banqueta de relva verde, acinzentada pela luz das estrelas. A maior parte dos túmulos ficava num declive, e o caminho que conduzia até a igreja era íngreme como uma escadaria. Na parte mais alta do monte, na única parte proeminente e plana, estava o monumento que tornara famoso aquele lugar. Destoava dos túmulos de aparência uniforme ao redor, pois se tratava do trabalho de um dos maiores escultores da Europa moderna. A fama dele, contudo, fora esquecida de imediato, esvaecendo-se em meio à fama do homem cuja imagem ele esculpira. A escultura em metal maciço mostrava, pelos riscos do pequeno lápis prateado das estrelas, a figura imponente de um soldado deitado: as mãos fortes, postas em adoração perpétua; a cabeça avantajada descansava, tendo uma arma como travesseiro. A face venerável era barbuda, ou melhor, com as suíças emendando no bigode farto, à antiga moda dos coronéis. O uniforme, apesar do feitio simples, era o das guerras modernas. A seu lado, à direita, havia uma espada cuja ponta fora arrancada, e à sua esquerda, uma Bíblia. Nas fúlgidas manhãs de verão chegavam carruagens lotadas de americanos e de suburbanos cultos para ver o sepulcro. Mas, mesmo nessas ocasiões, eles reconheciam a ampla floresta, cujo domo úmido era o cemitério com o pátio da igreja, como um lugar misterioso e negligenciado. Naquela escuridão regelante de pleno inverno, alguém pensaria estar entregue à companhia das estrelas. Entretanto, no silêncio daqueles bosques rígidos, um portão de madeira rangeu, e os dois vultos de preto subiram a trilha até o túmulo. A frígida luz estelar parecia tão pálida que não se podia desvendar nada acerca desses dois homens, a não ser o fato de que os dois vestiam roupa preta. Um deles era enorme, e o outro (por contraste, talvez) muito, muito pequeno. Subiram até o grande túmulo inscrito do lendário guerreiro e permaneceram ali, observando, por alguns minutos. Não havia ninguém, talvez nada vivo num raio de grande alcance. Alguém de imaginação mórbida poderia bem se perguntar se eles próprios eram humanos. De qualquer forma, o início da conversa dos dois tinha algo de estranho. Após o primeiro silêncio, o baixinho disse ao outro: – Onde um homem sábio esconde um seixo? E o alto respondeu em voz baixa: – Na praia. O baixinho fez que sim com um gesto de cabeça e, após breve silêncio, disse: – Onde um homem sábio esconde uma folha? E o outro respondeu: – Na floresta. Fez-se novo silêncio, e o homem alto prosseguiu: – Então, quando um homem sábio precisa esconder um diamante verdadeiro, sabe-se que ele vai escondê-lo entre falsos diamantes? É isso? – Não, não – disse o baixinho, rindo –, vamos esquecer o que passou. Ele bateu os pés gelados no chão por um ou dois segundos e então disse: – Não é nada disso que estou pensando. Trata-se de outra coisa, bem diferente. Acenda um fósforo, por favor. O grandalhão remexeu o bolso, e logo a chama de um atrito iluminou de dourado todo o lado plano do monumento. Ali estavam gravadas, em letras pretas, as palavras conhecidas e lidas, com reverência, por tantos americanos: “À memória sagrada do general Sir Arthur St. Clare, Herói e Mártir, que sempre venceu e poupou seus inimigos, mas por eles foi traiçoeiramente assassinado. Possa Deus, em quem ele confiava, recompensá-lo e vingá-lo”. O fósforo queimou os dedos do grandão, escureceu e caiu. Ele já ia riscar outro, quando seu amigo baixinho o interrompeu: – Já está bom, Flambeau, velho amigo, já vi o que queria. Ou melhor, não vi o que não queria. Agora precisamos caminhar dois ou três quilômetros pela estrada até a primeira estalagem, então vou tentar contar tudo a você. Pois os céus sabem que um homem precisa de uma lareira e de uma bebida quando se atreve a contar uma história dessas. Desceram aquela trilha íngreme, travaram de novo o portão enferrujado e partiram com passadas reverberantes pelo caminho da floresta álgida. Já haviam andado meio quilômetro, quando o menor voltou a falar. E disse: – Sim, um sábio esconde um seixo na praia. Mas o que ele faz se não existe praia? O que você sabe a respeito do problema do grande St. Clare? – Não sei nada a respeito de generais ingleses, Padre Brown – respondeu o grandalhão, rindo –, exceto um pouco sobre a polícia inglesa. Só sei que o senhor me arrastou para uma longa peregrinação por todos os santuários desse camarada, seja ele quem for. Daria para pensar que ele foi enterrado em seis lugares diferentes. Vi memoriais ao general St. Clare na Abadia de Westminster. Vi a estátua equestre de um furioso cavaleiro, o general St. Clare, no aterro do rio Tâmisa: um cavalo com as patas dianteiras no ar. Vi um medalhão do general St. Clare na rua onde ele nasceu, e outro na rua onde morava; agora o senhor me arrasta nessa escuridão até o esquife dele no cemitério do vilarejo. Já estou um pouco cansado dessa personalidade magnífica, até porque nem sequer imagino quem foi ele. O que é que o senhor tanto procura em todas essas criptas e efígies? – Estou procurando uma palavra – disse Padre Brown. – Uma palavra que não está escrita. – Bem – disse Flambeau –, o senhor vai me dizer alguma coisa a respeito disso? – Devo separar o relato em duas partes – observou o padre. – Primeiro, tem o que todos sabem, e depois, tem o que eu sei. Agora, o que todo mundo sabe é breve e simples, mas está totalmente errado. – Isso mesmo – exclamou, animado, o homem grande chamado Flambeau –, vamos começar pelo lado errado. Vamos começar com a história conhecida de todos que não é verdadeira. – Se não for de todo falsa, é pelo menos bastante inadequada – prosseguiu Brown. – Pois, na verdade, tudo o que o público em geral sabe resume-se apenas no seguinte: que Arthur St. Clare foi um grande general inglês, muito bem-sucedido. Sabe também que, após esplêndidas mas cuidadosas campanhas, tanto na Índia quanto na África, ele estava no comando da luta contra o Brasil, quando o grande patriota brasileiro, Olivier, proclamou seu ultimato. Sabe também que, na ocasião, St. Clare, com um exército muito pequeno, atacou Olivier (este à frente de um exército bem maior) e foi capturado após heroica resistência. E sabe que, depois de sua captura, para o repúdio do mundo civilizado, St. Clare foi enforcado na árvore mais próxima. Depois que os brasileiros se retiraram, ele foi encontrado ali, balançando, com sua espada partida pendurada no pescoço. – E essa história popular é falsa? – adiantou Flambeau. – Não – disse seu amigo em voz baixa –, até onde se sabe, essa história é verdadeira. – Bem, creio que o que se sabe é suficiente! – exclamou Flambeau. – Mas, se a história popular é verdadeira, qual é o mistério? Já tinham passado por centenas de árvores cinzentas e tenebrosas sem que o pequenino padre respondesse. Então ele mordiscou seu dedo, pensativo, e disse: – Ora, o mistério é um mistério da psicologia. Ou melhor, um mistério de duas psicologias. Naquela campanha brasileira, dois dos homens mais famosos da história moderna agiram contra sua natureza. Veja bem: Olivier e St. Clare eram ambos heróis, um fato bem conhecido e inquestionável; era como a luta entre Heitor e Aquiles. Agora, o que você me diz de um episódio em que Aquiles fosse vacilante e Heitor, traiçoeiro? – Prossiga – disse o grandão, com impaciência, enquanto o outro mordiscava o dedo mais uma vez. – Sir Arthur St. Clare era um soldado à moda antiga, religioso, do tipo que nos salvou durante o Grande Motim – prosseguiu Brown. – Ele pensava primeiro no dever e depois no prazer; era, sem dúvida, mesmo com toda a sua coragem pessoal, um comandante prudente, que se indignava especialmente com a perda desnecessária de soldados. Em sua última batalha, no entanto, arriscou uma investida que até uma criança acharia absurda. Não era necessário ser estrategista para perceber a tempestade se armando, como não é necessário ser estrategista para sair da frente de um ônibus em movimento. Bem, esse é o primeiro mistério: onde é que o general inglês estava com a cabeça? O segundo enigma: onde estava o coração do general brasileiro? O presidente Olivier podia ser considerado um visionário ou uma praga, mas até seus inimigos admitiam que era magnânimo ao ponto de ser quixotesco. Quase metade dos soldados capturados por ele havia sido libertada e até mesmo coberta de privilégios. Homens que tinham sido injustos com ele comoviam-se diante daquela pessoa simples e afável. Por que demônios teria ele se vingado de forma diabólica uma única vez em toda sua vida, e justo do único golpe que não tinha como atingi-lo? Eis a questão: um dos homens mais sábios do mundo agiu como um idiota sem motivo aparente, e um dos homens mais generosos do mundo comportou-se como um demônio sem motivo aparente. Isso é tudo. Deixo o resto com você, meu jovem. – Não, de forma alguma – ronquejou o outro. – Eu é que deixo o resto com o senhor; e o senhor é que vai me contar tudo. – Bem – retomou Padre Brown –, não é justo dizer que a impressão do público seja apenas o que eu disse, sem mencionar que dois fatos aconteceram depois disso. Não posso dizer que eles lancem nova luz sobre a questão, pois ninguém consegue entender o que significam. Mas esses fatos lançaram um novo tipo de trevas; lançaram as trevas em novas direções. A primeira coisa é a seguinte: o médico dos St. Clare brigou com a família e começou a publicar uma série violenta de artigos, nos quais dizia que o falecido general era um fanático religioso; mas, de acordo com a lenda, isso significava pouco mais que um carola. Seja como for, a história parou por aí. Todos sabiam, é claro, que St. Clare conservava algumas excentricidades da religião puritana. O segundo incidente foi ainda mais arrebatador. Havia naquele malsucedido e desolado regimento, que realizou o ataque precipitado no Rio Negro, um certo Capitão Keith, na época noivo da filha de St. Clare e mais tarde seu esposo. Ele foi um dos prisioneiros de Olivier e, como todos os outros menos o general, parece ter sido tratado com generosidade e libertado sem demora. Uns vinte anos mais tarde, este homem, então tenente-coronel Keith, publicou uma espécie de autobiografia intitulada “Um oficial inglês em Burma e no Brasil”. Nas linhas em que o leitor procura ansioso um relato do mistério acerca da desgraça de St. Clare, é possível ler o seguinte: “Em todas as demais partes deste livro, com exceção da derrota no Rio Negro, descrevi os acontecimentos exatamente como ocorreram, adepto que sou da tradicional opinião de que a glória da Inglaterra é suficientemente antiga e não precisa de justificativas. E meus motivos, embora particulares, são honrosos e mandatórios. Devo, no entanto, acrescentar o seguinte para fazer justiça à memória de dois homens ilustres: o general St. Clare foi acusado de inabilidade nessa ocasião; posso ao menos testemunhar que essa ação, corretamente compreendida, foi uma das mais brilhantes e sagazes da sua vida. O presidente Olivier, em relato semelhante, é acusado de uma brutal injustiça. Penso que devo à honra de um inimigo dizer que ele agiu, naquela ocasião, com mais virtude ainda do que de costume. Simplificando, posso assegurar a meus concidadãos que St. Clare não foi nenhum tolo e que Olivier não foi cruel como pode ter parecido. Isso é tudo o que tenho a dizer, e nenhuma consideração terrena poderá induzir-me a acrescentar uma palavra sequer a este relato”. Uma lua grande e gelada como uma bola de neve reluzente surgia através dos galhos entrelaçados diante deles; e, com essa luz, o narrador tinha conseguido lembrar do texto do capitão Keith a partir de um pedaço de papel impresso. Assim que dobrou o papel e colocou-o de volta no bolso, Flambeau ergueu a mão com um típico gesto francês. – Espere um pouco, espere um pouco – exclamou, muito entusiasmado. – Acho que consigo adivinhar de primeira. Prosseguiu, a respiração difícil, espichando a cabeça de cabelos pretos e o pescoço largo de búfalo para a frente, como um homem ao vencer uma corrida. O padre baixinho, encantado e curioso, teve dificuldade para trotar ao seu lado. Diante deles, as árvores retrocediam suavemente, para a direita e para a esquerda, descortinando a estrada que descia em meio a um vale descampado sob a luz da lua até mergulhar em outro bosque, como um coelho entrando na toca. A entrada para aquela floresta mais adiante parecia pequena e arredondada, como o buraco negro de um túnel distante de estrada de ferro. E foi só depois de quase cem metros, quando já parecia a boca de uma caverna, que Flambeau voltou a falar. – Entendi tudo – exclamou por fim, batendo na coxa com sua mão enorme. – Quatro minutos raciocinando e posso contar eu mesmo toda a sua história. – Certo – concordou seu amigo. – Conte, então. Flambeau levantou a cabeça mas baixou a voz. – O general Sir Arthur St. Clare – disse – veio de uma família em que a loucura era hereditária e direcionou todo seu empenho para esconder esse fato da filha e, se possível, até de seu futuro genro. Certo ou errado, ele pensou que a derrocada final se aproximava e decidiu pelo suicídio. No entanto, um suicídio comum viria reforçar a ideia que o aterrorizava. Com a campanha se aproximando, aquelas nuvens negras avolumavam-se em seu cérebro; por fim, em um momento de loucura, sacrificou seu dever público em prol do seu dever pessoal. Correu apressado para a batalha, na esperança de tombar ao primeiro tiro. Quando percebeu que não havia conseguido mais que a captura e o descrédito, a bomba lacrada em seu cérebro explodiu, e ele partiu a própria espada e se enforcou. Fixou o olhar na fachada cinza da floresta à sua frente, em cuja única brecha negra a estrada mergulhava, como na boca de uma sepultura. Pode ser que algo ameaçador na estrada, engolida assim tão de repente, tenha reforçado sua vívida visão da tragédia, pois ele estremeceu. – Uma história horrível – disse. – Uma história horrível – repetiu o padre de cabeça baixa –, mas não a história verdadeira. Então jogou a cabeça para trás com uma espécie de desespero e gritou: – Ah! Quem dera fosse assim! Flambeau virou o rosto, olhou para baixo e encarou o amigo. – A sua é uma história limpa – exclamou Padre Brown, muito comovido –, uma história doce, pura, sincera, tão aberta e branca quanto aquela lua. A loucura e o desespero são inocentes o bastante. Há coisas piores, Flambeau. Num impulso, Flambeau olhou para a lua recém evocada; de onde estava, via um galho preto diante dela, curvo, no exato formato do chifre do diabo. – Padre... padre! – gritou Flambeau com o gesto francês, dando passos ainda mais rápidos à frente. – O senhor está sugerindo que foi pior ainda? – Pior ainda – disse o padre como um eco de um túmulo. E mergulharam no claustro negro do bosque, que passava ligeiro de cada lado deles numa escura tapeçaria de troncos, como um daqueles corredores sombrios de um sonho. Em pouco tempo estavam nas mais secretas entranhas da floresta e sentiam bem perto deles folhagens que não conseguiam enxergar, e então o padre repetiu: – Onde é que um homem sábio esconde uma folha? Na floresta. Mas o que ele faz se não há floresta? – Bem, bem – exclamou Flambeau irritado –, o que ele faz? – Cultiva uma floresta para escondê-la – disse o padre com uma voz vaga. – Um pecado horrendo. – Olhe aqui – exclamou impaciente seu amigo, pois a floresta sombria e o provérbio sombrio o haviam deixado um pouco nervoso –, o senhor vai me contar essa história ou não? Que outras evidências estão faltando? – Tem mais três evidências – disse o outro –, que descobri em buracos e esquinas e vou contar em ordem lógica ao invés de cronológica. Antes de mais nada, claro, nossa autoridade no assunto e no evento da batalha provém de relatórios bastante lúcidos do próprio Olivier. Ele estava entrincheirado com dois ou três regimentos nas planícies que desciam até o rio Negro. Havia do outro lado do rio um terreno mais baixo e mais pantanoso. E, para além deste, um campo em leve aclive, onde ficava o primeiro posto avançado inglês, apoiado por outros que se localizavam, no entanto, bem mais à retaguarda. O exército britânico, como um todo, era muitíssimo superior em números, mas este regimento, em particular, ficava distante de sua base o suficiente para que Olivier considerasse o projeto de atravessar o rio a fim de liquidá-lo. Ao pôr do sol, no entanto, tinha decidido manter sua posição, forte e privilegiada. Ao nascer do sol, na manhã seguinte, ficou estupefato ao ver que aqueles poucos ingleses desgarrados, completamente sem retaguarda, tinham se lançado à travessia do rio, metade por uma ponte à direita, e a outra metade por um vau rio acima, para se concentrarem na margem pantanosa, logo abaixo de onde ele, Olivier, estava. “Só o fato de tentarem um ataque com aquele contingente contra uma posição daquelas já era inacreditável, mas Olivier percebeu algo ainda mais extraordinário. Pois, em vez de tentarem alcançar um terreno mais sólido, esse regimento insano, tendo deixado o rio na retaguarda com um único e impensado movimento de ataque, não fez mais nada, só permaneceu ali, imóvel no lodo como mosquedo no melado. Nem precisa dizer que os brasileiros abriram grandes buracos nos ingleses com carga de artilharia, que eles só conseguiram rebater com fogo enérgico, mas cada vez menos intenso de seus rifles. Mesmo assim, nunca se entregaram; e o relato curto e grosso de Olivier termina com um forte tributo de admiração pelo heroísmo místico desses imbecis. Olivier escreveu: ‘Nossa linha por fim avançou e os levou até o rio; capturamos o próprio General St. Clare e vários outros oficiais. O coronel e o major foram baixas da batalha. Não posso deixar de reconhecer que poucas cenas já vistas na História foram mais admiráveis do que a última trincheira desse extraordinário regimento: oficiais feridos pegando os rifles de soldados mortos, e o próprio general nos confrontando de cima de um cavalo, a cabeça a descoberto e a espada partida’. Quanto ao que aconteceu com o general depois disso, Olivier se calou tanto quanto o Capitão Keith.” – Bem – grunhiu Flambeau –, prossiga para a próxima evidência. – A próxima evidência – disse Padre Brown – levou muito tempo para ser encontrada, mas vai levar pouco para contar. Encontrei por fim, num albergue nos charcos de Lincolnshire, um velho soldado que não só tinha sido ferido no Rio Negro, mas também havia se ajoelhado junto ao coronel do regimento quando este morreu. Era um tal de Coronel Clancy, um touro de um homem irlandês; e parece que ele morreu quase tanto da raiva que sentiu como dos balaços que levou. Não foi ele, em absoluto, o responsável por aquela incursão ridícula; ela deve ter sido imposta a ele pelo general. Suas últimas e notáveis palavras, de acordo com o meu informante, foram as seguintes: “Lá vai o maldito burro velho, com a ponta da espada partida. Preferia que fosse a cabeça”. Repare que todos parecem ter observado este detalhe da lâmina partida, apesar de que a maioria considera esse fato com mais reverência que o falecido Coronel Clancy. E agora, vamos ao terceiro fragmento. O caminho dos dois através do bosque transformou-se numa subida íngreme, e o narrador fez uma breve pausa para tomar fôlego antes de prosseguir. Então continuou no mesmo tom de formalidade: – Há apenas um ou dois meses, um certo oficial brasileiro, depois de ter lutado contra Olivier e deixado seu país, morreu na Inglaterra. Era uma figura conhecida tanto aqui como no Continente, um espanhol de nome Espado. Eu o conheci pessoalmente, um velho dândi com nariz de tucano. Por diversas razões particulares, obtive permissão para ver os documentos que ele tinha deixado. Ele era católico, obviamente, e eu o acompanhei até o fim. Nada do que ele me disse iluminou qualquer cantinho da história sombria de St. Clare, mas ele me entregou uns cinco ou seis cadernos simples: os diários de um soldado inglês qualquer. Só posso imaginar que foram encontrados pelos brasileiros com um dos soldados mortos. De qualquer forma, as anotações cessam de repente na noite da véspera da batalha. “Mas, com certeza, vale a pena ler a narração daquele último dia da vida do pobre coitado. Eu a tenho comigo, mas está muito escuro para ler aqui, então vou lhe fazer um resumo. A primeira parte do registro é cheia de piadas, que por certo circulavam entre os homens, a respeito de alguém que eles chamavam de Urubu. Não parece que essa pessoa, seja lá quem, fosse um deles, nem ao menos um inglês. Também não é mencionado exatamente como um dos inimigos. Mais parece que ele seria um mensageiro local, um não combatente; talvez um guia ou um jornalista. Ele confabulava em particular com o velho Coronel Clancy, mas era visto com mais frequência conversando com o major. Na verdade, o major é um tanto proeminente na narrativa desse soldado: um homem magro, de cabelos escuros, aparentemente chamado Murray; um irlandês do norte, um puritano. Há muitas piadas, uma atrás da outra, sobre o contraste entre a austeridade desse cidadão de Ulster e a sociabilidade do Coronel Clancy. Há também uma piada sobre o Urubu vestindo roupas de cores berrantes. “Mas toda essa falta de seriedade está espalhada aqui e ali, como as notas de uma corneta. Atrás do acampamento inglês e quase paralela ao rio, estava uma das poucas estradas daquele distrito. No sentido oeste, a estrada fazia uma curva em direção ao rio, cruzando-o pela ponte anteriormente mencionada. No sentido leste, a estrada recuava mato adentro, e dali a uns três quilômetros encontrava-se o próximo posto avançado inglês. Daquela direção vinham pela estrada, naquele fim de tarde, o brilho e o barulho de um destacamento de cavalaria ligeira, no qual até mesmo esse simples relator pôde reconhecer, com espanto, o general com seus homens. Ele montava o grande cavalo branco que você viu tantas vezes em documentos ilustrados e retratos da Academia. E você pode estar certo de que a continência que lhe fizeram não era mera cerimônia. Pelo menos, ele não perdeu tempo com formalismos, mas, saltando logo da sela, misturou-se ao grupo de oficiais e entregou-se a um discurso enfático, apesar de confidencial. O que mais chamou a atenção de nosso amigo, o escritor do diário, foi a sua particular disposição para discutir questões com o major Murray; mas, de fato, essa preferência, embora não estivesse combinada, não foi de forma alguma artificial. Os dois homens eram compassivos, homens que “liam suas Bíblias”, ambos do velho tipo de oficial evangélico. Seja como for, o certo é que o general, quando voltou a montar, continuava a conversar entusiasmado com Murray, e que, enquanto conduzia o seu cavalo a passo estrada abaixo em direção ao rio, o cidadão alto de Ulster ainda o acompanhava, a pé, ao lado das rédeas, num debate acalorado. Os soldados observaram os dois até desaparecerem por trás de um grupo de árvores onde a estrada dava uma guinada em direção ao rio. O coronel tinha voltado para sua tenda, e os homens, a suas rondas; o homem do diário demorou-se por mais quatro minutos e presenciou uma cena maravilhosa. “O grande cavalo branco que marchara descendo devagar a estrada, como fizera em tantos cortejos, arremeteu no sentido contrário, galopando estrada acima em direção a eles como se estivesse enlouquecido para ganhar uma corrida. Primeiro, pensaram que tivesse disparado com o homem montado em seu dorso, mas logo perceberam que fora impelido à velocidade máxima pelo próprio general, um excelente cavaleiro. Cavalo e homem se arremessaram sobre eles como um redemoinho, e depois, puxando as rédeas do cavalo de guerra instado a parar de supetão, o general virou-se para eles com o rosto em chamas e gritou pelo coronel como a trombeta que acorda os mortos. “Na minha compreensão, todos os abalos sísmicos daquela catástrofe desabaram uns sobre os outros, como se fossem árvores derrubadas nas mentes de homens como o nosso amigo do diário. Com a agitação confusa de um sonho, os homens viram-se tombando, literalmente tombando, em suas fileiras, com a informação de que um ataque deveria ter início de imediato do outro lado do rio. Dizia-se que o general e o major tinham descoberto alguma coisa na ponte e só havia tempo para lutarem pela sobrevivência. O major tinha voltado sem demora para convocar a reserva que havia ficado atrás, na estrada. Era duvidoso se, mesmo com a urgência do chamado, a ajuda chegaria até eles a tempo, mas eles teriam de atravessar a correnteza naquela noite e atingir o ponto mais alto do terreno pela manhã. É bem com a movimentação e o pulsar daquela marcha noturna que o diário termina, de repente.” Padre Brown subira mais um pouco, pois o caminho pelo bosque ficara mais estreito, íngreme e serpenteante, até terem a impressão de que estavam subindo uma escada em caracol. A voz do padre vinha de cima, da escuridão. – Tem ainda um outro detalhe, pequeno e aterrador. Quando o general os impeliu àquela carga de cavalaria, ele começou a desembainhar a espada; depois, como que envergonhado daquele melodrama, guardou-a novamente. A espada de novo, está vendo? Uma luz tênue irrompeu pela malha de ramos acima deles, jogando a sombra de uma rede em volta de seus pés, pois estavam subindo de novo rumo à fraca luminosidade da noite nua. Flambeau sentia a verdade a seu redor como uma atmosfera, mas não como uma ideia. Respondeu com o cérebro confuso: – Bom, qual é o problema da espada? Oficiais costumam carregar espadas, não é? – Elas não costumam ser mencionadas na guerra moderna – disse o outro, com indiferença –, mas neste caso a gente tropeça com a bendita espada por toda parte. – Bem, o que tem isso demais? – rosnou Flambeau. – Foi um incidente insignificante e engenhoso, a lâmina do velho se partindo em sua última batalha. Qualquer um apostaria que os registros documentariam esse detalhe, como de fato aconteceu. Em todos esses túmulos e coisas, a espada é mostrada partida no mesmo ponto. Espero que o senhor não tenha me arrastado para esta expedição polar só porque dois homens, com um bom olho para desenhos e retratos, viram a espada partida de St. Clare. – Não – disse Padre Brown, com uma voz aguda como um tiro de pistola –, mas quem viu a espada partida? – O que o senhor está querendo dizer? – exclamou o outro, permanecendo quieto sob as estrelas. De repente eles tinham saído pelos portões cinza do bosque. – Eu disse: quem viu a espada quebrada? – repetiu Padre Brown com obstinação. – De qualquer forma, não foi o escritor do diário, já que o general a embainhou a tempo. Flambeau olhou em volta à luz da lua, como alguém que ficou cego olharia para o sol; e seu amigo prosseguiu, pela primeira vez com entusiasmo: – Flambeau – exclamou –, eu não posso provar, mesmo depois de toda essa caçada pelos túmulos. Mas eu estou certo disso. Vou acrescentar apenas mais um minúsculo detalhe que derruba a coisa toda por terra. O coronel, por um estranho acaso, foi um dos primeiros a ser atingido por uma bala. Ele foi ferido muito antes de as tropas chegarem perto. Mas ele viu a espada partida de St. Clare. Por que estava partida? Como é que foi partida? Meu amigo, ela foi partida antes da batalha. – Ah! – disse seu amigo, com uma espécie de humor desesperado. – Esclareçame, por favor: onde está a outra parte? – Posso contar – disse o padre de imediato. – No canto nordeste, do cemitério da Catedral Protestante de Belfast. – É mesmo? – indagou o outro. – O senhor procurou? – Não foi possível – respondeu Brown, com verdadeiro pesar. – Tem um enorme monumento de mármore em cima dela, um monumento ao heroico Major Murray, que morreu lutando com brio na famosa Batalha do Rio Negro. De repente, Flambeau pareceu ter voltado à vida.
– O senhor está querendo dizer – exclamou com aspereza – que o General St. Clare odiava Murray e o assassinou no campo de batalha porque... – Você ainda está cheio de pensamentos bons e puros – disse o outro. – Foi bem pior que isso. – Bem – disse o homem alto –, meu estoque de imaginação maligna se esgotou. O padre parecia realmente não saber por onde começar e por fim disse outra vez: – Onde um homem sábio esconde uma folha? Na floresta. O outro não respondeu. – Se não houvesse floresta, ele fabricaria uma floresta. E, se quisesse esconder uma folha morta, fabricaria uma floresta morta. Continuou não havendo resposta, e o padre acrescentou com mais brandura ainda e em voz mais baixa. – E, se um homem tivesse que esconder um cadáver, ele fabricaria um campo de cadáveres para escondê-lo. Flambeau começou a bater o pé, demonstrando intolerância com a demora no tempo e no espaço, mas Padre Brown prosseguiu como se dando continuidade à sua última frase. – Sir Arthur St. Clare, como já disse, era um homem que lia a sua Bíblia. E esse era exatamente o problema dele. Quando é que as pessoas vão entender que não adianta um homem ler a sua Bíblia a menos que ele também leia a Bíblia dos outros? Um tipógrafo lê uma Bíblia para achar erros de tipografia. Um mórmon lê a Bíblia e descobre poligamia; um cientista-cristão lê a sua e descobre que não temos braços nem pernas. St. Clare era um velho soldado protestante anglo-indiano. Agora, pense o que isso pode significar e, por favor, não se faça de desentendido. Pode significar um homem com um físico formidável vivendo nos trópicos, numa sociedade oriental, imergindo, sem qualquer bom-senso ou orientação, num livro oriental. Claro, ele leu o Antigo Testamento em vez do Novo. Claro, ele descobriu no Antigo Testamento tudo o que bem entendesse... lascívia, tirania, traição. Ah, arrisco dizer que St. Clare era honesto, no real sentido da palavra. Mas de que adianta um homem ser honesto em sua adoração à desonestidade? “Em todos os países quentes e secretos aonde aquele homem foi, ele manteve um harém, torturou testemunhas, acumulou ouro de má procedência; mas, sem dúvida, ele teria afirmado, com olhar seguro, que fez isso pela glória do Senhor. A minha teologia se resume à seguinte pergunta: qual Senhor? De toda forma, tem algo num mal desses que abre porta após porta do inferno, e sempre para câmaras cada vez menores. Este é o verdadeiro caso contra o crime: um homem não se torna cada vez mais selvagem, ele se torna cada vez mais ganancioso. St. Clare logo se viu sufocado por dificuldades de suborno e chantagem e precisava cada vez mais de dinheiro. Assim, na época da Batalha do Rio Negro, ele já havia caído de um mundo para outro, até chegar ao lugar referido por Dante como o fundo do universo.” – O que o senhor está querendo dizer? – perguntou seu amigo de novo. – Estou dizendo que – replicou o clérigo e, de repente, apontou para uma poça coberta de gelo que brilhava iluminada pela lua. – Você se lembra quem Dante colocou no último círculo gelado? – Os traidores – disse Flambeau e estremeceu. À medida que olhava ao redor, para aquela paisagem inumana de árvores, de relevos afrontosos e quase obscenos, ele chegou perto de se imaginar um Dante, e o padre, com a fluência de sua voz, era Virgílio conduzindo-o por uma terra de pecados eternos. A voz prosseguiu: – Olivier, como você sabe, era quixotesco e não permitiria espiões e serviço secreto. Mas a coisa foi feita, como tantas outras, pelas suas costas. Foi concebida pelo meu velho amigo Espado. Ele era o típico homem vaidoso que gosta de vestir cores vivas, um dândi, cujo nariz adunco rendeu-lhe o apelido de Urubu. Como se fosse um filantropo no front, ele se introduziu no exército inglês e por fim pôs as mãos em cima de seu homem corrupto (graças a Deus!), o homem que estava no topo. St. Clare tinha sérios problemas financeiros e precisava de montanhas de dinheiro. O desacreditado médico da família estava ameaçando fazer revelações chocantes, que depois começaram e foram interrompidas; narrativas de coisas monstruosas e préhistóricas em Park Lane; coisas praticadas por um evangélico inglês que cheiravam a sacrifício humano e hordas de escravos. Também precisava de dinheiro para o dote de sua filha, pois, para ele, a fama da riqueza era tão doce quanto a própria riqueza. Estava por um fio, e o fio rebentou. Entregou os ingleses ao Brasil, e a riqueza se derramou vinda dos inimigos da Inglaterra. Mas outro homem conversou com Espado, o Urubu. De algum modo o jovem major de Ulster, moreno e austero, desconfiou da odiosa verdade, e quando eles desceram juntos lentamente pela estrada em direção à ponte, Murray estava dizendo ao general que ele deveria renunciar de imediato, caso contrário seria julgado por uma corte marcial e fuzilado. O general contemporizou com ele até chegarem à orla de árvores tropicais próxima à ponte; e ali, às margens do rio melodioso, perto das palmeiras iluminadas (pois consigo ver a cena), o general puxou sua espada e cravou-a no corpo do major. A estrada hibernal fez uma curva e entrou numa comprida área de terreno elevado em meio ao frio cortante e às formas negras e cruéis de arbustos e moitas, mas Flambeau teve a impressão de enxergar mais além a tênue borda de uma auréola que não era nem de luz estelar nem do luar e sim de algum fogo feito por mãos humanas. Fixou ali o olhar enquanto o relato chegava ao final. – St. Clare era um cão dos infernos, mas era um cão de pedigree. Nunca, eu juro, ele foi tão forte e tão lúcido quanto na hora que o pobre Murray caiu a seus pés como massa fria e informe. Nunca em todas suas vitórias, como disse com precisão o Capitão Keith, esse homem grandioso foi tão grandioso como nessa última derrota desprezada pelo mundo. Olhou friamente para sua arma para enxugar o sangue e viu que a ponta que ele havia fincado entre os ombros da vítima tinha se partido em seu corpo. Viu com toda calma, como que através de uma grande vidraça, tudo que se seguiria. Viu que os homens iriam encontrar o cadáver assassinado sem explicação, iriam retirar a ponta da espada, também inexplicada, ou a falta de espada. Ele tinha matado, mas ainda restava silenciar a vítima. Mas seu intelecto orgulhoso e autoritário se levantou contra o desafio: ainda havia uma saída. Ele poderia tornar aquele cadáver menos inexplicável. Poderia criar uma montanha de cadáveres para cobrir aquele corpo. Em vinte minutos, oitocentos soldados ingleses marchariam para a morte. O brilho cálido, por trás do bosque de inverno negro, se tornava mais rico e mais claro; Flambeau prosseguia com passadas largas a fim de alcançá-lo. Padre Brown também apressou o passo, mas parecia absorvido por inteiro em seu relato. – Tal foi a bravura daqueles mil ingleses, e tal foi o gênio de seu comandante, que, se tivessem atacado de imediato a colina, até mesmo sua marcha insensata poderia ter encontrado alguma ventura. Mas a mente maligna que brincava com eles como se fossem fantoches tinha outros objetivos e razões. Eles tinham que permanecer no pântano perto da ponte ao menos até que cadáveres britânicos fossem uma visão comum ali. Então, a última cena espetacular: o soldado santo de cabelos prateados desistiria de sua espada despedaçada para evitar a continuação do massacre. Ah, para um improviso até que foi bem organizado. Mas penso (não posso provar) que foi ali, enquanto se atolavam no lodo sangrento que alguém duvidou... e alguém desconfiou. Calou-se por um instante e depois disse: – Há uma voz de algum lugar me dizendo que o homem que desconfiou foi o apaixonado... o homem que estava prestes a se casar com a filha do velho. – Mas e Olivier e o enforcamento? – perguntou Flambeau. – Olivier, em parte por nobreza, em parte por estratégia, quase nunca sobrecarregava sua marcha com prisioneiros – explicou o narrador. – Ele libertava a todos na maior parte dos casos. Libertou a todos neste caso. – Todos menos o general – disse o homem alto. – Todos – disse o padre. Flambeau uniu as sobrancelhas negras: – Não consigo pescar tudo ainda – disse. – Há outra cena, Flambeau – disse Brown no seu mais místico meio-tom. – Não posso provar, mas posso fazer mais que isso: posso ver. Sob o sol da manhã, um acampamento se desfaz no meio das colinas tórridas e nuas, e uniformes brasileiros se perfilam em pelotões e colunas para marchar. Olivier está parado, de camisa vermelha, e a sua longa barba negra balança ao vento. Chapéu de abas largas na mão, ele está dizendo adeus ao grande inimigo que está libertando, o simples veterano de cabeça nevada, que lhe agradece em nome de seus homens. Os sobreviventes ingleses estão parados atrás, atentos; ao lado deles há víveres e veículos para a retirada. Os tambores rufam, os brasileiros se movem, os ingleses ficam imóveis como estátuas. Assim permanecem até que os últimos zunidos e brilhos comecem a sumir no horizonte tropical. Então, de repente, todos eles mudam de atitude; como homens mortos que retornam à vida, voltam suas cinquenta faces para o general... e a expressão naqueles rostos jamais será esquecida. Flambeau deu um grande pulo. – Ah! – exclamou. – Não está querendo dizer que... – Sim – disse Padre Brown, com uma voz tocante e profunda –, foi um braço inglês que colocou a corda ao redor do pescoço de St. Clare, creio ter sido o mesmo que pôs o anel na mão da sua filha. Eram mãos inglesas as que o arrastaram à árvore da vergonha, as mãos de homens que o adoravam e costumavam segui-lo até a vitória. Eram almas inglesas (Deus, perdoe e compadeça-se de nós!) que olharam para ele balançando sob aquele sol estrangeiro na forca verde de palmeira. E desejaram em seu ódio que ele desabasse até o inferno. Quando os dois chegaram ao topo da colina derramou-se sobre eles a forte luz escarlate de uma hospedaria inglesa de cortinas vermelhas. A estalagem ficava de perfil para a estrada, como quem fica de lado para ampliar a hospitalidade. Suas três portas ficavam todas abertas com letreiros convidativos, e mesmo de onde estavam, podiam ouvir o burburinho e o riso de pessoas felizes por uma noite. – Não preciso lhe contar mais nada – disse Padre Brown. – Eles o julgaram no agreste e o destruíram; e depois, pela honra da Inglaterra e da filha do enforcado, fizeram juramento de que se calariam para sempre sobre a história do dinheiro do traidor e da lâmina da espada do assassino. Quem sabe (com a ajuda dos Céus) tentaram esquecer tudo isso. Vamos tentar esquecer, também. Veja, chegamos à nossa hospedaria. – De todo o meu coração – disse Flambeau, que tinha recém entrado no bar iluminado e barulhento quando deu um passo para trás e quase caiu na estrada. – Maldição! Olhe aqui! – exclamou e apontou com o dedo em riste para o letreiro quadrado de madeira pendurado por cima da estrada. Mostrava meio apagada a forma de um cabo de sabre tosco e uma lâmina encurtada. Estava inscrito em falsas letras arcaicas: “O emblema da espada partida”. – Não estava preparado? – perguntou Padre Brown gentilmente. – Ele é o deus deste país, a metade das hospedarias e parques e ruas levam seu nome e carregam sua história. – Pensei que tínhamos nos livrado do leproso – exclamou Flambeau e cuspiu na estrada. – Enquanto o bronze for sólido e existirem pedras, você nunca se verá livre dele na Inglaterra – disse o padre, olhando para baixo. – Suas estátuas de mármore elevarão com orgulho as almas de meninos inocentes por centenas de anos. Seu túmulo na vila recenderá a lealdade bem como a lírios. Milhões de pessoas, que nunca o conheceram, vão amá-lo como a um pai... o homem a quem as últimas pessoas com quem esteve trataram como esterco. Ele será um santo e jamais se contará a verdade a seu respeito, porque afinal eu decidi. Há tanto benefícios como malefícios em contar segredos, então coloco meu comportamento em teste. Todos esses jornais vão se extinguir, o movimento anti-Brasil já terminou, Olivier já foi honrado em toda parte. Mas prometi a mim mesmo que em qualquer lugar onde, pelo nome em metal ou mármore que vai durar como as pirâmides, o coronel Clancy, o capitão Keith, o presidente Olivier ou qualquer outra pessoa inocente viesse a ser acusada de modo injusto, então eu falaria. Se apenas St. Clare fosse acusado injustamente, eu me calaria. E assim farei. Irromperam na taverna de cortinas vermelhas, que não era apenas confortável, mas até luxuosa por dentro. Sobre uma mesa, havia uma réplica do túmulo de St. Clare, a cabeça de prata inclinada, a espada de prata partida. Nas paredes havia fotografias coloridas da mesma cena e do sistema de carruagens que transportavam turistas para vê-la. Sentaram-se em confortáveis bancos acolchoados. – Venha, está frio – exclamou Padre Brown –, vamos tomar um vinho ou uma cerveja. – Ou um conhaque – disse Flambeau.
AS TRÊS FERRAMENTAS DA MORTE
Tanto por vocação quanto por convicção, Padre Brown sabia mais que a maioria de nós que toda pessoa se torna honrada depois de morta. Mas até mesmo ele sentiu uma súbita incongruência quando lhe bateram à porta, ao raiar do dia, para dizer que Sir Aaron Armstrong fora assassinado. Havia algo de irracional e impróprio naquela conexão entre violência secreta e uma figura tão divertida e popular. Sim, porque Sir Aaron Armstrong era divertido a ponto de ser pândego e popular de uma maneira quase lendária. Era como ouvir dizer que Sunny Jim, o personagem dos anúncios de cereal matinal, tivesse se enforcado, ou que sr. Pickwick, o personagem de Charles Dickens, tivesse morrido no Asilo de Lunáticos Hanwell. Pois embora Sir Aaron fosse um filantropo e, assim, lidasse com o lado mais obscuro da nossa sociedade, orgulhava-se de fazê-lo no estilo mais brilhante possível. Seus discursos políticos e sociais eram avalanches de histórias cômicas e rendiam boas gargalhadas; tinha uma saúde de ferro; sua ética era otimismo puro; e lidava com o alcoolismo (seu assunto favorito) com aquela alegria imorredoura e até mesmo monótona que com tanta frequência marca o venturoso abstêmio total. A história oficial de sua conversão era bem conhecida nos mais austeros púlpitos e plataformas: de como ele tinha sido levado, ainda menino, da teologia escocesa para o uísque escocês; e de como tinha se livrado de ambos e se transformado (conforme dizia, com modéstia) naquilo que era. Contudo, a copiosa barba branca, o rosto de querubim e os óculos faiscantes de Sir Aaron, nos incontáveis jantares e congressos em que apareciam, tornavam difícil de acreditar que ele já tivesse sido coisa tão mórbida como um bêbado ou um calvinista. Percebia-se: ele era o ser humano que mais levava a sério a sua alegria. Havia morado na zona rural de Londres, em Hampstead, numa bela casa, alta mas não ampla, uma torre moderna e prosaica. O lado mais estreito de seus lados estreitos debruçava-se sobre o talude verde e íngreme que descia até a estrada de ferro e sacudia com a passagem dos trens. Sir Aaron Armstrong, como ele mesmo explicava animado, não se abalava com isso. Mas, se o trem já havia dado muitos sustos na casa, naquela manhã as coisas se inverteram. Foi a casa que deu um susto no trem. A locomotiva diminuiu a marcha e parou logo além daquele ponto onde um canto da casa se impunha sobre a abrupta encosta relvada. Os artefatos mecânicos, em sua maioria, devem ser freados de forma lenta; a causa viva dessa parada, porém, surgira muito rápido. Um homem todo vestido de negro, até mesmo (como ficou registrado) no mais horroroso detalhe das luvas negras, apareceu na beira da encosta logo acima do trem e agitou as mãos negras, parecendo um moinho de vento revestido de pele de marta. Isso por si só dificilmente pararia um trem, mesmo em marcha lenta. Mas o grito que veio do homem, segundo o que se comentou depois, foi algo extremamente anormal e insólito. Foi um daqueles gritos que se sobressaem de modo horrível, mesmo quando não se consegue ouvir o que está sendo dito. A palavra em questão era “Assassinato!”. O maquinista, no entanto, jura que teria parado mesmo se tivesse ouvido apenas aquela entonação medonha e decidida e não a palavra. Com o trem parado, o mais superficial dos olhares poderia perceber muitas características da tragédia. O homem de preto sobre a encosta verde era Magnus, o criado particular de Sir Aaron Armstrong. O baronete, em seu otimismo, muitas vezes fizera troça das luvas negras do lúgubre assistente, mas dificilmente alguém riria dele naquele exato instante. Tão logo um ou dois curiosos haviam descido do trem e atravessado a sebe esfumaçada, viram, caído quase ao pé do barranco, o corpo de um velho num camisolão amarelo com um debrum vermelho vivo. Um fio de corda parecia preso à perna dele, enroscado, provavelmente, durante uma luta corporal. Havia uma ou outra mancha de sangue, embora pequenas, mas o corpo jazia curvo e alquebrado numa posição impossível para qualquer criatura viva. Era Sir Aaron Armstrong. Alguns instantes de perplexidade depois, apareceu um homem de barba clara, a quem alguns dos viajantes saudaram, reconhecendo-o como Patrick Royce, o secretário do falecido, em outros tempos muito conhecido nos círculos boêmios e mesmo famoso nas artes boêmias. De modo mais vago, porém até mais convincente, ele ecoou a angústia do criado. Quando a terceira pessoa daquela casa, Alice Armstrong, filha do falecido, chegou já cambaleante e trêmula ao jardim, o maquinista já havia dado um fim àquela parada. O apito soou e o trem seguiu bufando para buscar ajuda na próxima estação. Padre Brown fora então sem demora chamado a pedido de Patrick Royce, o corpulento e ex-boêmio secretário. Royce era irlandês de nascimento, daquele tipo casual de católico que nunca lembra da religião até se ver realmente num beco sem saída. Mas o pedido de Royce podia ter sido menos prontamente atendido se um dos detetives oficiais não fosse amigo e admirador do informal Flambeau; e era impossível ser amigo de Flambeau sem conhecer as inúmeras histórias de Padre Brown. Por isso, enquanto o jovem detetive (cujo nome era Merton) guiava o pequenino padre através dos campos até a estrada de ferro, a conversa deles era mais sigilosa do que seria de se esperar entre dois completos estranhos. – Pelo que posso ver – disse Merton com franqueza –, a coisa toda não faz sentido. Não há nenhum suspeito. Magnus é um solene bobalhão, bobo demais para ser um assassino. Royce foi o melhor amigo do baronete por anos; e a filha, sem dúvida, adorava o pai. Além disso, é tudo muito absurdo. Quem ia querer matar um velhote alegre como Armstrong? Quem ia querer manchar as mãos com o sangue daquele que faz o discurso depois do banquete? Seria como matar o Papai Noel! – Sim, era uma casa alegre – concordou Padre Brown. – Era uma casa alegre enquanto ele estava vivo. Acha que vai continuar alegre agora que ele está morto? Merton estremeceu um pouco e dirigiu a seu acompanhante um olhar atento: – Agora que ele está morto? – repetiu. – Sim – continuou o padre, impassível –, ele era alegre. Mas será que sua alegria era contagiante? Sejamos francos: havia outra pessoa alegre na casa além dele? Por uma brecha entrou na mente de Merton aquela estranha luz da surpresa sob a qual enxergamos pela primeira vez aquilo que já sabíamos o tempo todo. Já visitara a família Armstrong várias vezes devido a pequenos casos policiais do filantropo, e, pensando bem, era uma casa deprimente. Os cômodos tinham o pé-direito muito alto e eram muito frios; a decoração, ordinária e rústica; os corredores por onde soprava o vento encanado eram iluminados por uma luz elétrica mais fraca que o luar. E embora o rosto escarlate e a barba prateada do velho brilhassem como fogueira em cada sala ou corredor, não deixavam para trás qualquer calor. Sem dúvida, esse desconforto espectral do ambiente devia-se em parte à própria vitalidade e exuberância do proprietário; ele não precisava de lareiras nem luminárias, dizia, pois levava consigo o próprio calor. Quando Merton, porém, lembrou dos outros habitantes da casa, foi obrigado a reconhecer que eram como sombras de seu senhor. O criado rabugento, com suas monstruosas luvas negras, era quase um pesadelo; Royce, o secretário, era encorpado, um verdadeiro touro, num terno de tweed, a barba curta cor de palha, surpreendentemente salpicada de cinza como o tweed e a testa larga exibindo várias rugas precoces. Também tinha boa índole, mas uma índole triste, quase como se tivesse o coração partido – o ar de alguém que fracassara na vida. Quanto à filha de Armstrong, era difícil de acreditar que fosse filha dele, tão pálida era sua cor e tão delicada a sua compleição. Era graciosa, sim, mas tinha uma instabilidade em seu aspecto que lembrava um álamo. Merton às vezes se perguntava se ela aprendera a tremer com os estrondos da passagem dos trens. – Veja bem – disse Padre Brown, piscando com modéstia –, não tenho certeza de que a alegria de Armstrong fosse tão alegre... para as outras pessoas. Você diz que ninguém poderia matar um velhote tão bem-humorado, mas não tenho certeza; ne nos inducas in tentationem. Se eu tivesse que matar alguém – acrescentou, simplesmente –, ouso dizer que mataria um otimista. – Por quê? – exclamou Merton, achando graça. – Acha que as pessoas não gostam de alegria? – As pessoas gostam de risadas frequentes – respondeu Padre Brown –, mas não creio que gostem de sorrisos permanentes. Alegria sem humor é algo exasperante. Caminharam por algum tempo em silêncio ao vento que soprava ao longo da encosta gramada junto aos trilhos e, ao chegarem sob a comprida sombra que se projetava da alta casa de Armstrong, Padre Brown disse, de repente, mais como quem se livra de um pensamento importuno do que alguém que o oferece com seriedade: – É claro, a bebida não é em si mesma boa ou ruim. Mas às vezes não consigo deixar de pensar que homens como Armstrong sentem a falta de um copo de vinho, vez que outra, para entristecê-los. O chefe de Merton, um inspetor grisalho e eficientíssimo chamado Gilder, aguardava no talude pelo juiz investigador, conversando com Patrick Royce, cujos ombros largos, barba e cabelos espetados sobressaíam-se. Isso era ainda mais perceptível porque Royce caminhava sempre com passos enérgicos e resolvia seus pequenos afazeres de casa e escritório num estilo pesado e humilde, como um búfalo puxando uma carroça. Levantou a cabeça com prazer incomum ao ver o padre e afastou-se um pouco na companhia dele. Enquanto isso, Merton dirigia-se ao inspetor mais velho com o devido respeito, mas sem evitar uma certa impaciência pueril. – Bem, sr. Gilder, conseguiu ir adiante nesse mistério? – Aqui não há mistério algum – respondeu Gilder, olhando sob pálpebras sonhadoras para as gralhas. – Bem, pelo menos para mim há – disse Merton, sorrindo. – É muito simples, meu rapaz – observou o inspetor-chefe, cofiando a barba pontuda e grisalha. – Três minutos depois de você ter ido buscar o padre do sr. Royce, tudo veio à tona. Sabe aquele criado de rosto pálido e luvas negras que parou o trem? – Eu o reconheceria em qualquer lugar. Ele me dá arrepios. – Bem – disse Gilder, num tom arrastado –, quando o trem se pôs em movimento de novo, o homem também sumiu. Um criminoso um tanto frio, não acha? Escapar no próprio trem que foi buscar a polícia. – Tem absoluta certeza, suponho – comentou o jovem –, que ele matou mesmo o patrão? – Sim, meu filho, tenho absoluta certeza – respondeu Gilder, seco –, pela simples razão de que ele se foi com vinte mil libras em espécie que estavam na escrivaninha do patrão. A única coisa que pode apresentar alguma dificuldade é saber como ele o matou. O crânio parece quebrado por uma arma grande, mas não há arma nenhuma por aí, e o assassino teria achado incômodo levá-la embora consigo, a menos que fosse uma arma pequena demais para ser notada. – Talvez a arma fosse grande demais para ser notada – ponderou o padre, com uma risadinha estranha. Gilder voltou-se frente a esse comentário inusitado e com seriedade reprovadora perguntou a Brown o que queria dizer. – É um jeito meio bobo de se expressar, eu sei – reconheceu o Padre Brown, como que se defendendo. – Parece um conto de fadas. Mas o pobre Armstrong foi morto com um porrete enorme, um enorme bastão verde, grande demais para ser visto, e que podemos chamar de terra. Rachou o crânio contra esta encosta verde que estamos pisando. – O que quer dizer com isso? – perguntou o detetive, brusco. Padre Brown voltou o rosto redondo como a lua para a estreita fachada da casa acima e piscou várias vezes. Seguindo o seu olhar, os investigadores viram que, bem alto, nos fundos da casa, havia uma janela de sótão aberta. – Não perceberam – explicou apontando meio sem jeito como uma criança – que ele foi jogado lá de cima? Gilder franziu o cenho ao examinar a janela e disse: – Bem, isso sem dúvida é possível. Mas não vejo por que o senhor tem tanta certeza disso. Brown abriu bem os olhos cinzentos. – Ora – disse ele –, tem um pedacinho de corda ao redor da perna do morto. Não enxergam outro pedaço de corda preso lá em cima, no canto da janela? Lá naquela altura a coisa parecia uma diminuta partícula de pó ou cabelo, mas o velho e astuto investigador deu-se por satisfeito. – O senhor tem toda razão – disse ele ao Padre Brown. – Com certeza, ponto para o senhor. Quando ele falou isso, um trem especial de um só vagão apareceu na curva da ferrovia à esquerda e, parando, descarregou mais um grupo de policiais, no meio dos quais se viu o semblante encabulado de Magnus, o empregado fugitivo. – Por Júpiter! Eles o prenderam – exclamou Gilder, adiantando-se com vivacidade. – Acharam o dinheiro? – gritou ele para o primeiro policial. O homem o encarou com uma expressão curiosa e disse: – Não. – E acrescentou: – Pelo menos não aqui. – Quem de vocês é o inspetor, por gentileza? – indagou o homem chamado Magnus. Quando ele falou, todos compreenderam imediatamente como aquela voz conseguira parar o trem. Tinha aparência insípida, cabelo preto liso, rosto sem cor e um leve toque oriental nas fendas horizontais dos olhos e da boca. Seu nome e parentesco de fato permaneciam incertos, desde que Sir Aaron o “resgatara” da ocupação de garçom num restaurante de Londres e (como diziam alguns) de outras ocupações ainda mais infames. Sua voz, porém, era tão vívida quanto o rosto era morto. Seja devido à exatidão ao falar uma língua estrangeira ou em deferência ao mestre (que era um pouco surdo), a inflexão de voz de Magnus tinha uma qualidade particularmente aguda e penetrante, e todo o grupo teve um sobressalto quando ele falou.
– Sempre soube que isso ia acontecer – afirmou em voz alta, com descarada indiferença. – Meu pobre patrão fazia pouco de mim porque eu usava roupas pretas, mas eu sempre dizia que devia estar pronto para o enterro dele. E fez um rápido movimento com as mãos enluvadas de preto. – Sargento – disse o inspetor Gilder, mirando aquelas mãos negras com raiva –, o que está esperando para colocar algemas nesse camarada? Ele me parece bem perigoso. – Bem, senhor – retrucou o sargento, com o mesmo olhar de estranheza –, não sei se podemos. – Como assim? – perguntou o outro com aspereza. – Não o prenderam? Um leve sorriso de escárnio abriu os lábios rasgados, e o apito de um trem que se aproximava pareceu estranhamente replicar a zombaria. – Nós o prendemos – respondeu o sargento com ar grave – quando estava saindo da delegacia de polícia em Highgate, onde tinha ido depositar todo o dinheiro do patrão aos cuidados do inspetor Robinson. Gilder observou o criado com muito espanto. – Por que cargas d’água você fez isso? – perguntou a Magnus. – Para mantê-lo a salvo do criminoso, é claro – respondeu ele com calma. – Com certeza – disse Gilder – o dinheiro de Sir Aaron poderia ter sido deixado em segurança com a família de Sir Aaron. O final dessa sentença foi abafado pelo ruído do trem que vinha sacolejando e estalando, mas no meio de todo aquele barulho infernal a que a casa, por infelicidade, era com frequência submetida, os homens puderam ouvir as sílabas da resposta de Magnus distintas como o badalar de um sino: – Não tenho razão alguma para confiar na família de Sir Aaron. Todos os homens, imóveis, tiveram a sensação espectral da presença de uma pessoa nova na cena, e Merton mal se surpreendeu ao olhar para cima e ver o rosto pálido da filha de Armstrong por sobre o ombro de Padre Brown. A sua beleza jovem de estilo argênteo contrastava com o cabelo castanho, tão opaco e empoeirado que em algumas mechas parecia grisalho. – Cuidado com o que você diz – disse Royce com aspereza. – Assim vai assustar a srta. Armstrong. – Espero que sim – disse o homem da voz cristalina. A mulher estremeceu, e as demais pessoas olharam-no intrigadas. Ele continuou: – Estou mais ou menos acostumado aos tremores da senhorita Armstrong. Eu a tenho visto tremer por anos a fio. Alguns diziam que ela tremia de frio e outros que ela tremia de medo, mas eu sei que ela tremia de ódio e raiva venenosa... inimigos que tiveram seu banquete esta manhã. Ela já teria fugido com o amante e todo o dinheiro a estas alturas se não fosse por mim. Desde que meu pobre patrão a impediu de se casar com aquele bêbado mau caráter... – Pare – disse Gilder, bastante ríspido. – Não temos nada a ver com suas fantasias ou suspeitas sobre a família. A menos que você tenha alguma prova concreta, suas meras opiniões... – Ah, vou lhe dar provas concretas – interrompeu-o Magnus, com seu timbre penetrante. – Vai ter que me intimar, sr. Inspetor, e eu vou ter que dizer a verdade. E a verdade é esta: um minuto após o velho ter sido jogado, sangrando, pela janela, corri para o sótão e encontrei a filha dele desfalecida no chão, ainda segurando uma adaga suja de sangue. Permita-me entregá-la também às autoridades. Tirou do bolso interno do fraque uma comprida faca de cabo de chifre com a lâmina manchada de vermelho e entregou-a delicadamente ao sargento. Então retrocedeu outra vez, e as fendas de seus olhos quase lhe sumiram do rosto num amplo sorriso chinês de escárnio. Merton sentiu um mal-estar quase físico à vista dele e então sussurrou para Gilder: – Com certeza aceitaria a palavra da srta. Armstrong contra a dele, não? Padre Brown de súbito ergueu o rosto numa expressão tão renovada que o rosto parecia recém-lavado. – Sim – disse ele, irradiando inocência –, mas será que a palavra da srta. Armstrong é mesmo contrária à dele? A moça emitiu um gritinho assustado e peculiar, e todos os olhares se voltaram para ela. Seu corpo estava rígido, como que paralisado, mas o seu rosto, na moldura de castanho desmaiado, estava vivo, estarrecido de surpresa. Pôs-se de pé como se de repente tivesse sido laçada pelo pescoço e estrangulada. – Este homem – disse Gilder com gravidade – afirma que a senhorita foi encontrada segurando uma faca, sem sentidos, depois do assassinato. – O que ele diz é verdade – respondeu Alice. Sem que se dessem conta, Patrick Royce entrou pisando forte no círculo que eles formavam, com sua cabeçorra inclinada, e proferiu estas estranhas palavras: – Bem, se eu tiver que ir, primeiro quero ter um pouco de prazer. Seus enormes ombros se ergueram e ele desferiu um soco de aço no afável rosto mongoliano de Magnus, deixando-o estatelado na grama como uma estrela-do-mar. Dois ou três policiais imediatamente colocaram as mãos sobre Royce, mas, para todos os demais, parecia que a razão se rompera e o universo se transformara numa farsa sem sentido. – Chega disso, sr. Royce – gritou Gilder, em tom autoritário. – Vou mandar prendê-lo por agressão. – Não, não vai – respondeu o secretário, numa voz como um gongo de ferro –, vai me prender por homicídio.
Gilder lançou um olhar alarmado para o homem caído ao chão, mas, já que a pessoa ultrajada estava se pondo de pé e limpando um pouco de sangue do rosto basicamente incólume, disse apenas: – O que quer dizer com isso? – É mesmo verdade, como diz esse sujeito – explicou Royce – que a srta. Armstrong desmaiou com uma faca na mão. Mas ela não tinha sacado da faca para matar o pai e sim para defendê-lo. – Para defendê-lo – repetiu Gilder com gravidade. – De quem? – De mim – disse o secretário. Alice olhou para ele com uma expressão confusa e desconcertada no rosto, e então disse baixinho: – No fim das contas, me alegra ver que você é corajoso. – Vamos lá para cima – disse Patrick Royce tenso –, e eu lhes mostro como foi essa maldita história. O sótão, que era o gabinete particular do secretário (cela bastante pequena para um ermitão daquele tamanho), tinha na verdade todos os vestígios de um drama violento. Perto do centro havia um grande revólver no chão, como se tivesse sido jogado para longe; mais à esquerda estava caída uma garrafa de uísque, aberta, mas não completamente vazia. A toalha da mesinha estava puxada e pisoteada, e uma corda, igual àquela no corpo, pendia desordenada pela abertura da janela. Havia dois vasos quebrados na cornija da lareira e outro no tapete. – Eu estava bêbado – disse Royce; e essa simplicidade naquele homem precocemente arrasado de alguma forma nos causava pena como o primeiro pecado de um bebê. – Sabem tudo sobre mim – continuou tranquilamente. – Todos sabem como minha história começou, e talvez o fim dela seja assim também. Já me consideraram esperto, e pode ser que eu tenha sido feliz também; Armstrong resgatou das tavernas o que restava de meu corpo e de meu intelecto, e sempre foi gentil comigo à sua maneira, pobre criatura! Só que não me deu permissão para casar com Alice; e todos vão concordar que era a coisa certa a fazer. Bem, os senhores podem tirar suas próprias conclusões e não vão querer que eu entre em detalhes. Lá está a minha garrafa de uísque quase vazia no canto da sala; lá está o meu revólver quase descarregado no tapete. A corda que estava na minha caixa de ferramentas foi encontrada no corpo, e da minha janela é que o corpo foi atirado. Não é preciso detetive algum para desvendar a minha tragédia; é tão comum neste mundo como erva-daninha. Entrego-me ao patíbulo; e, por Deus, já basta! Após um sinal discreto, os policiais rodearam o homenzarrão para levá-lo preso, mas esse comedimento de certa forma contrastou com a cena singular de Padre Brown, de joelhos no tapete à entrada do quarto, como no meio de uma ridícula oração. Sendo uma pessoa um tanto indiferente à figura social que fazia, ele permaneceu naquela posição, parecendo um quadrúpede com uma cabeça humana muito engraçada. – Eu digo – falou ele com seu bom coração – que isso realmente não serve. No começo disseram que não tinham encontrado nenhuma arma. Mas agora estamos encontrando armas demais. Há uma faca para apunhalar, a corda para enforcar e a pistola para disparar, e, no fim das contas, ele quebrou o pescoço caindo da janela! Isso não está certo. Não é econômico – e sacudiu a cabeça mirando o chão como um cavalo que pasta. O inspetor Gilder abrira a boca com sérias intenções, mas, antes que pudesse falar, a grotesca figura no chão continuou com loquacidade. – E agora três coisas impossíveis. Primeiro estes buracos no tapete, por onde entraram seis balas. Por que raios alguém atiraria no tapete? Um bêbado tenta atirar na cabeça do inimigo, aquela coisa que está arreganhando os dentes para ele. Não vai querer comprar briga com seus pés, nem cercar os chinelos. E aí tem a corda. Tendo terminado com o tapete, Padre Brown levantou as mãos e colocou-as nos bolsos, mas, ainda ajoelhado, continuou impassível: – Em que possível bebedeira uma pessoa, tentando enrolar uma corda no pescoço de alguém, a colocaria nas pernas? Royce, afinal, não estava tão bêbado assim; do contrário, estaria dormindo como uma pedra agora. E, o mais simples de tudo, tem a garrafa de uísque. Está sugerindo que um dipsomaníaco lutou por uma garrafa de uísque e, quando venceu, jogou-a no chão, num canto, derramando metade fora e deixando a outra metade intacta? Essa é a última coisa que um dipsomaníaco faria. Levantou-se desajeitadamente e disse para o assassino confesso, em claro tom de penitência: – Sinto muitíssimo, meu caro, mas sua história é pura balela. – Padre – disse Alice Armstrong, em voz baixa –, posso ter uma palavra com o senhor em particular? Esse pedido forçou a saída do comunicativo clérigo pelo corredor e, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa na sala contígua, a moça já começara a falar com estranha energia. – O senhor é um homem esperto – disse ela – e está tentando salvar Patrick, eu sei. Mas não adianta. O âmago desta história é negro, e quanto mais coisas o senhor descobrir, mais coisas vai achar contra esse homem sofrido que eu amo. – Por quê? – perguntou Brown, mirando-a com calma. – Porque – respondeu ela também calmamente – eu o vi cometer o crime com meus próprios olhos. – Ah! – disse Brown impassível. – E o que foi que ele fez? – Eu estava no quarto ao lado – ela explicou. – As duas portas estavam fechadas, mas de repente ouvi uma voz, como nunca ouvi antes, vociferando “Inferno, inferno, inferno” repetidas vezes. Então as duas portas tremeram com o primeiro disparo do revólver. Pela terceira vez, a coisa disparou antes que eu pudesse abrir as portas e ver a sala cheia de fumaça e a pistola fumegando na mão de meu pobre, louco Patrick; e eu o vi disparar a última descarga assassina com meus próprios olhos. Então ele se jogou contra o meu pai, pendurado cheio de terror no parapeito da janela, e, numa luta feroz, tentou estrangulá-lo com a corda, que foi arremessada por cima da cabeça dele, mas escorregou pelos ombros até os pés. Então o laço se fechou ao redor de uma perna e Patrick o arrastou como um maníaco. Eu juntei uma faca do tapete e, correndo entre os dois, consegui cortar a corda antes de desmaiar. – Compreendo – disse Padre Brown, com a mesma fria cordialidade. – Obrigado. Enquanto a moça desmaiava por conta de suas recordações, o sacerdote foi direto para o gabinete ao lado, onde encontrou Gilder e Merton sozinhos com Patrick Royce, que estava sentado em uma cadeira, algemado. Disse, então, ao inspetor, submisso: – Eu poderia ter uma palavrinha com o prisioneiro na sua presença? Podem tirar suas algemas por um instante? – É um sujeito muito forte – disse Merton baixinho. – Por que o senhor quer soltálo? – Bem, pensei – respondeu o sacerdote singelamente – que talvez pudesse ter a grande honra de apertar sua mão. Os dois detetives olharam-no com surpresa, e Padre Brown acrescentou: – Não vai lhes contar? O homem da cadeira sacudiu a cabeça tosquiada e o padre voltou-se impaciente: – Então eu conto – disse. – Vidas particulares são mais importantes que reputações públicas. Vou salvar os vivos. E deixar que os mortos enterrem seus mortos. Ele se aproximou da janela fatídica e piscou, olhando para fora enquanto falava. – Eu disse a vocês que neste caso havia armas demais e uma só morte. Digo agora que não eram armas e que não foram usadas para causar a morte. Todas aquelas ferramentas terríveis, o laço, a faca ensanguentada, a pistola que disparou, eram ferramentas de uma curiosa misericórdia. Não foram usadas para matar Sir Aaron, mas para salvá-lo. – Para salvá-lo! – repetiu Gilder. – E do quê? – Dele mesmo – disse Padre Brown. – Ele era um maníaco suicida. – O quê? – gritou Merton, num tom de incredulidade. – E a Religião da Alegria...? – É uma religião cruel – disse o sacerdote, voltando o olhar para fora da janela. – Por que não o deixavam chorar um pouco, como seus antepassados? Seus planos se esvaziaram; suas grandes visões perderam o vigor; atrás daquela máscara alegre estava o cérebro vazio do ateu. No fim, para manter suas qualidades hilariantes perante o público, caiu de novo no vício da bebida, abandonado há tanto tempo. Mas há no abstêmio sincero esse terror em torno do alcoolismo: ele imagina e espera aquele inferno psicológico sobre o qual adverte os outros. Isso despencou prematuramente sobre o pobre Armstrong, e hoje pela manhã tal era o seu estado que se sentou aqui e gritou que estava no inferno, em voz tão estranha que sua filha não reconheceu. Estava louco pela morte e, com os truques simiescos dos loucos, espalhou ao redor de si a morte em muitas formas: um laço corrediço, o revólver de seu amigo e uma faca. Royce entrou por acaso e agiu num piscar de olhos. Jogou a faca no tapete atrás de si, arrancou-lhe o revólver e, não tendo tempo de descarregá-lo, esvaziou-o tiro após tiro no chão. O suicida viu uma quarta forma de morte e correu em direção à janela. O salvador fez a única coisa que podia: correu atrás dele com a corda e tentou amarrarlhe as mãos e os pés. Foi então que a infeliz moça entrou e, mal interpretando a luta, esforçou-se para libertar o pai. No começo, ela apenas machucou os dedos do pobre Royce, de onde veio todo o sangue desse episódio. Por certo perceberam que ele deixou sangue, mas nenhum ferimento, no rosto do criado? Momentos antes de a pobre moça desmaiar, ela conseguiu cortar a corda que prendia seu pai, de modo que ele despencou da janela rumo à eternidade. Houve um longo silêncio, quebrado lentamente pelo ruído metálico produzido por Gilder ao abrir as algemas de Patrick Royce, a quem ele disse: – Acho que você deveria ter dito a verdade. Você e a jovem valem mais que o obituário de Armstrong. – Dane-se o obituário de Armstrong – gritou Royce, rude. – Não vê que ela não deve saber? – Não deve saber o quê? – perguntou Merton. – Ora, que ela matou o próprio pai, seu idiota! – vociferou o outro. – Ele estaria vivo agora, se não fosse por ela. Saber disso pode levá-la à loucura. – Não, não creio que isso a enlouqueça – comentou Padre Brown, ao apanhar seu chapéu. – Acho até que eu devo contar a ela. Mesmo os enganos mais assassinos não estragam a vida como os pecados. De qualquer modo, acho que agora os dois vão ficar mais felizes. Tenho que voltar à Escola para Surdos. Ao sair para o gramado, um conhecido de Highgate parou-o e disse: – O juiz investigador chegou. O inquérito já vai começar. – Preciso voltar à Escola para Surdos – disse Padre Brown. – Lamento não poder ficar para o inquérito.
Tanto por vocação quanto por convicção, Padre Brown sabia mais que a maioria de nós que toda pessoa se torna honrada depois de morta. Mas até mesmo ele sentiu uma súbita incongruência quando lhe bateram à porta, ao raiar do dia, para dizer que Sir Aaron Armstrong fora assassinado. Havia algo de irracional e impróprio naquela conexão entre violência secreta e uma figura tão divertida e popular. Sim, porque Sir Aaron Armstrong era divertido a ponto de ser pândego e popular de uma maneira quase lendária. Era como ouvir dizer que Sunny Jim, o personagem dos anúncios de cereal matinal, tivesse se enforcado, ou que sr. Pickwick, o personagem de Charles Dickens, tivesse morrido no Asilo de Lunáticos Hanwell. Pois embora Sir Aaron fosse um filantropo e, assim, lidasse com o lado mais obscuro da nossa sociedade, orgulhava-se de fazê-lo no estilo mais brilhante possível. Seus discursos políticos e sociais eram avalanches de histórias cômicas e rendiam boas gargalhadas; tinha uma saúde de ferro; sua ética era otimismo puro; e lidava com o alcoolismo (seu assunto favorito) com aquela alegria imorredoura e até mesmo monótona que com tanta frequência marca o venturoso abstêmio total. A história oficial de sua conversão era bem conhecida nos mais austeros púlpitos e plataformas: de como ele tinha sido levado, ainda menino, da teologia escocesa para o uísque escocês; e de como tinha se livrado de ambos e se transformado (conforme dizia, com modéstia) naquilo que era. Contudo, a copiosa barba branca, o rosto de querubim e os óculos faiscantes de Sir Aaron, nos incontáveis jantares e congressos em que apareciam, tornavam difícil de acreditar que ele já tivesse sido coisa tão mórbida como um bêbado ou um calvinista. Percebia-se: ele era o ser humano que mais levava a sério a sua alegria. Havia morado na zona rural de Londres, em Hampstead, numa bela casa, alta mas não ampla, uma torre moderna e prosaica. O lado mais estreito de seus lados estreitos debruçava-se sobre o talude verde e íngreme que descia até a estrada de ferro e sacudia com a passagem dos trens. Sir Aaron Armstrong, como ele mesmo explicava animado, não se abalava com isso. Mas, se o trem já havia dado muitos sustos na casa, naquela manhã as coisas se inverteram. Foi a casa que deu um susto no trem. A locomotiva diminuiu a marcha e parou logo além daquele ponto onde um canto da casa se impunha sobre a abrupta encosta relvada. Os artefatos mecânicos, em sua maioria, devem ser freados de forma lenta; a causa viva dessa parada, porém, surgira muito rápido. Um homem todo vestido de negro, até mesmo (como ficou registrado) no mais horroroso detalhe das luvas negras, apareceu na beira da encosta logo acima do trem e agitou as mãos negras, parecendo um moinho de vento revestido de pele de marta. Isso por si só dificilmente pararia um trem, mesmo em marcha lenta. Mas o grito que veio do homem, segundo o que se comentou depois, foi algo extremamente anormal e insólito. Foi um daqueles gritos que se sobressaem de modo horrível, mesmo quando não se consegue ouvir o que está sendo dito. A palavra em questão era “Assassinato!”. O maquinista, no entanto, jura que teria parado mesmo se tivesse ouvido apenas aquela entonação medonha e decidida e não a palavra. Com o trem parado, o mais superficial dos olhares poderia perceber muitas características da tragédia. O homem de preto sobre a encosta verde era Magnus, o criado particular de Sir Aaron Armstrong. O baronete, em seu otimismo, muitas vezes fizera troça das luvas negras do lúgubre assistente, mas dificilmente alguém riria dele naquele exato instante. Tão logo um ou dois curiosos haviam descido do trem e atravessado a sebe esfumaçada, viram, caído quase ao pé do barranco, o corpo de um velho num camisolão amarelo com um debrum vermelho vivo. Um fio de corda parecia preso à perna dele, enroscado, provavelmente, durante uma luta corporal. Havia uma ou outra mancha de sangue, embora pequenas, mas o corpo jazia curvo e alquebrado numa posição impossível para qualquer criatura viva. Era Sir Aaron Armstrong. Alguns instantes de perplexidade depois, apareceu um homem de barba clara, a quem alguns dos viajantes saudaram, reconhecendo-o como Patrick Royce, o secretário do falecido, em outros tempos muito conhecido nos círculos boêmios e mesmo famoso nas artes boêmias. De modo mais vago, porém até mais convincente, ele ecoou a angústia do criado. Quando a terceira pessoa daquela casa, Alice Armstrong, filha do falecido, chegou já cambaleante e trêmula ao jardim, o maquinista já havia dado um fim àquela parada. O apito soou e o trem seguiu bufando para buscar ajuda na próxima estação. Padre Brown fora então sem demora chamado a pedido de Patrick Royce, o corpulento e ex-boêmio secretário. Royce era irlandês de nascimento, daquele tipo casual de católico que nunca lembra da religião até se ver realmente num beco sem saída. Mas o pedido de Royce podia ter sido menos prontamente atendido se um dos detetives oficiais não fosse amigo e admirador do informal Flambeau; e era impossível ser amigo de Flambeau sem conhecer as inúmeras histórias de Padre Brown. Por isso, enquanto o jovem detetive (cujo nome era Merton) guiava o pequenino padre através dos campos até a estrada de ferro, a conversa deles era mais sigilosa do que seria de se esperar entre dois completos estranhos. – Pelo que posso ver – disse Merton com franqueza –, a coisa toda não faz sentido. Não há nenhum suspeito. Magnus é um solene bobalhão, bobo demais para ser um assassino. Royce foi o melhor amigo do baronete por anos; e a filha, sem dúvida, adorava o pai. Além disso, é tudo muito absurdo. Quem ia querer matar um velhote alegre como Armstrong? Quem ia querer manchar as mãos com o sangue daquele que faz o discurso depois do banquete? Seria como matar o Papai Noel! – Sim, era uma casa alegre – concordou Padre Brown. – Era uma casa alegre enquanto ele estava vivo. Acha que vai continuar alegre agora que ele está morto? Merton estremeceu um pouco e dirigiu a seu acompanhante um olhar atento: – Agora que ele está morto? – repetiu. – Sim – continuou o padre, impassível –, ele era alegre. Mas será que sua alegria era contagiante? Sejamos francos: havia outra pessoa alegre na casa além dele? Por uma brecha entrou na mente de Merton aquela estranha luz da surpresa sob a qual enxergamos pela primeira vez aquilo que já sabíamos o tempo todo. Já visitara a família Armstrong várias vezes devido a pequenos casos policiais do filantropo, e, pensando bem, era uma casa deprimente. Os cômodos tinham o pé-direito muito alto e eram muito frios; a decoração, ordinária e rústica; os corredores por onde soprava o vento encanado eram iluminados por uma luz elétrica mais fraca que o luar. E embora o rosto escarlate e a barba prateada do velho brilhassem como fogueira em cada sala ou corredor, não deixavam para trás qualquer calor. Sem dúvida, esse desconforto espectral do ambiente devia-se em parte à própria vitalidade e exuberância do proprietário; ele não precisava de lareiras nem luminárias, dizia, pois levava consigo o próprio calor. Quando Merton, porém, lembrou dos outros habitantes da casa, foi obrigado a reconhecer que eram como sombras de seu senhor. O criado rabugento, com suas monstruosas luvas negras, era quase um pesadelo; Royce, o secretário, era encorpado, um verdadeiro touro, num terno de tweed, a barba curta cor de palha, surpreendentemente salpicada de cinza como o tweed e a testa larga exibindo várias rugas precoces. Também tinha boa índole, mas uma índole triste, quase como se tivesse o coração partido – o ar de alguém que fracassara na vida. Quanto à filha de Armstrong, era difícil de acreditar que fosse filha dele, tão pálida era sua cor e tão delicada a sua compleição. Era graciosa, sim, mas tinha uma instabilidade em seu aspecto que lembrava um álamo. Merton às vezes se perguntava se ela aprendera a tremer com os estrondos da passagem dos trens. – Veja bem – disse Padre Brown, piscando com modéstia –, não tenho certeza de que a alegria de Armstrong fosse tão alegre... para as outras pessoas. Você diz que ninguém poderia matar um velhote tão bem-humorado, mas não tenho certeza; ne nos inducas in tentationem. Se eu tivesse que matar alguém – acrescentou, simplesmente –, ouso dizer que mataria um otimista. – Por quê? – exclamou Merton, achando graça. – Acha que as pessoas não gostam de alegria? – As pessoas gostam de risadas frequentes – respondeu Padre Brown –, mas não creio que gostem de sorrisos permanentes. Alegria sem humor é algo exasperante. Caminharam por algum tempo em silêncio ao vento que soprava ao longo da encosta gramada junto aos trilhos e, ao chegarem sob a comprida sombra que se projetava da alta casa de Armstrong, Padre Brown disse, de repente, mais como quem se livra de um pensamento importuno do que alguém que o oferece com seriedade: – É claro, a bebida não é em si mesma boa ou ruim. Mas às vezes não consigo deixar de pensar que homens como Armstrong sentem a falta de um copo de vinho, vez que outra, para entristecê-los. O chefe de Merton, um inspetor grisalho e eficientíssimo chamado Gilder, aguardava no talude pelo juiz investigador, conversando com Patrick Royce, cujos ombros largos, barba e cabelos espetados sobressaíam-se. Isso era ainda mais perceptível porque Royce caminhava sempre com passos enérgicos e resolvia seus pequenos afazeres de casa e escritório num estilo pesado e humilde, como um búfalo puxando uma carroça. Levantou a cabeça com prazer incomum ao ver o padre e afastou-se um pouco na companhia dele. Enquanto isso, Merton dirigia-se ao inspetor mais velho com o devido respeito, mas sem evitar uma certa impaciência pueril. – Bem, sr. Gilder, conseguiu ir adiante nesse mistério? – Aqui não há mistério algum – respondeu Gilder, olhando sob pálpebras sonhadoras para as gralhas. – Bem, pelo menos para mim há – disse Merton, sorrindo. – É muito simples, meu rapaz – observou o inspetor-chefe, cofiando a barba pontuda e grisalha. – Três minutos depois de você ter ido buscar o padre do sr. Royce, tudo veio à tona. Sabe aquele criado de rosto pálido e luvas negras que parou o trem? – Eu o reconheceria em qualquer lugar. Ele me dá arrepios. – Bem – disse Gilder, num tom arrastado –, quando o trem se pôs em movimento de novo, o homem também sumiu. Um criminoso um tanto frio, não acha? Escapar no próprio trem que foi buscar a polícia. – Tem absoluta certeza, suponho – comentou o jovem –, que ele matou mesmo o patrão? – Sim, meu filho, tenho absoluta certeza – respondeu Gilder, seco –, pela simples razão de que ele se foi com vinte mil libras em espécie que estavam na escrivaninha do patrão. A única coisa que pode apresentar alguma dificuldade é saber como ele o matou. O crânio parece quebrado por uma arma grande, mas não há arma nenhuma por aí, e o assassino teria achado incômodo levá-la embora consigo, a menos que fosse uma arma pequena demais para ser notada. – Talvez a arma fosse grande demais para ser notada – ponderou o padre, com uma risadinha estranha. Gilder voltou-se frente a esse comentário inusitado e com seriedade reprovadora perguntou a Brown o que queria dizer. – É um jeito meio bobo de se expressar, eu sei – reconheceu o Padre Brown, como que se defendendo. – Parece um conto de fadas. Mas o pobre Armstrong foi morto com um porrete enorme, um enorme bastão verde, grande demais para ser visto, e que podemos chamar de terra. Rachou o crânio contra esta encosta verde que estamos pisando. – O que quer dizer com isso? – perguntou o detetive, brusco. Padre Brown voltou o rosto redondo como a lua para a estreita fachada da casa acima e piscou várias vezes. Seguindo o seu olhar, os investigadores viram que, bem alto, nos fundos da casa, havia uma janela de sótão aberta. – Não perceberam – explicou apontando meio sem jeito como uma criança – que ele foi jogado lá de cima? Gilder franziu o cenho ao examinar a janela e disse: – Bem, isso sem dúvida é possível. Mas não vejo por que o senhor tem tanta certeza disso. Brown abriu bem os olhos cinzentos. – Ora – disse ele –, tem um pedacinho de corda ao redor da perna do morto. Não enxergam outro pedaço de corda preso lá em cima, no canto da janela? Lá naquela altura a coisa parecia uma diminuta partícula de pó ou cabelo, mas o velho e astuto investigador deu-se por satisfeito. – O senhor tem toda razão – disse ele ao Padre Brown. – Com certeza, ponto para o senhor. Quando ele falou isso, um trem especial de um só vagão apareceu na curva da ferrovia à esquerda e, parando, descarregou mais um grupo de policiais, no meio dos quais se viu o semblante encabulado de Magnus, o empregado fugitivo. – Por Júpiter! Eles o prenderam – exclamou Gilder, adiantando-se com vivacidade. – Acharam o dinheiro? – gritou ele para o primeiro policial. O homem o encarou com uma expressão curiosa e disse: – Não. – E acrescentou: – Pelo menos não aqui. – Quem de vocês é o inspetor, por gentileza? – indagou o homem chamado Magnus. Quando ele falou, todos compreenderam imediatamente como aquela voz conseguira parar o trem. Tinha aparência insípida, cabelo preto liso, rosto sem cor e um leve toque oriental nas fendas horizontais dos olhos e da boca. Seu nome e parentesco de fato permaneciam incertos, desde que Sir Aaron o “resgatara” da ocupação de garçom num restaurante de Londres e (como diziam alguns) de outras ocupações ainda mais infames. Sua voz, porém, era tão vívida quanto o rosto era morto. Seja devido à exatidão ao falar uma língua estrangeira ou em deferência ao mestre (que era um pouco surdo), a inflexão de voz de Magnus tinha uma qualidade particularmente aguda e penetrante, e todo o grupo teve um sobressalto quando ele falou.
– Sempre soube que isso ia acontecer – afirmou em voz alta, com descarada indiferença. – Meu pobre patrão fazia pouco de mim porque eu usava roupas pretas, mas eu sempre dizia que devia estar pronto para o enterro dele. E fez um rápido movimento com as mãos enluvadas de preto. – Sargento – disse o inspetor Gilder, mirando aquelas mãos negras com raiva –, o que está esperando para colocar algemas nesse camarada? Ele me parece bem perigoso. – Bem, senhor – retrucou o sargento, com o mesmo olhar de estranheza –, não sei se podemos. – Como assim? – perguntou o outro com aspereza. – Não o prenderam? Um leve sorriso de escárnio abriu os lábios rasgados, e o apito de um trem que se aproximava pareceu estranhamente replicar a zombaria. – Nós o prendemos – respondeu o sargento com ar grave – quando estava saindo da delegacia de polícia em Highgate, onde tinha ido depositar todo o dinheiro do patrão aos cuidados do inspetor Robinson. Gilder observou o criado com muito espanto. – Por que cargas d’água você fez isso? – perguntou a Magnus. – Para mantê-lo a salvo do criminoso, é claro – respondeu ele com calma. – Com certeza – disse Gilder – o dinheiro de Sir Aaron poderia ter sido deixado em segurança com a família de Sir Aaron. O final dessa sentença foi abafado pelo ruído do trem que vinha sacolejando e estalando, mas no meio de todo aquele barulho infernal a que a casa, por infelicidade, era com frequência submetida, os homens puderam ouvir as sílabas da resposta de Magnus distintas como o badalar de um sino: – Não tenho razão alguma para confiar na família de Sir Aaron. Todos os homens, imóveis, tiveram a sensação espectral da presença de uma pessoa nova na cena, e Merton mal se surpreendeu ao olhar para cima e ver o rosto pálido da filha de Armstrong por sobre o ombro de Padre Brown. A sua beleza jovem de estilo argênteo contrastava com o cabelo castanho, tão opaco e empoeirado que em algumas mechas parecia grisalho. – Cuidado com o que você diz – disse Royce com aspereza. – Assim vai assustar a srta. Armstrong. – Espero que sim – disse o homem da voz cristalina. A mulher estremeceu, e as demais pessoas olharam-no intrigadas. Ele continuou: – Estou mais ou menos acostumado aos tremores da senhorita Armstrong. Eu a tenho visto tremer por anos a fio. Alguns diziam que ela tremia de frio e outros que ela tremia de medo, mas eu sei que ela tremia de ódio e raiva venenosa... inimigos que tiveram seu banquete esta manhã. Ela já teria fugido com o amante e todo o dinheiro a estas alturas se não fosse por mim. Desde que meu pobre patrão a impediu de se casar com aquele bêbado mau caráter... – Pare – disse Gilder, bastante ríspido. – Não temos nada a ver com suas fantasias ou suspeitas sobre a família. A menos que você tenha alguma prova concreta, suas meras opiniões... – Ah, vou lhe dar provas concretas – interrompeu-o Magnus, com seu timbre penetrante. – Vai ter que me intimar, sr. Inspetor, e eu vou ter que dizer a verdade. E a verdade é esta: um minuto após o velho ter sido jogado, sangrando, pela janela, corri para o sótão e encontrei a filha dele desfalecida no chão, ainda segurando uma adaga suja de sangue. Permita-me entregá-la também às autoridades. Tirou do bolso interno do fraque uma comprida faca de cabo de chifre com a lâmina manchada de vermelho e entregou-a delicadamente ao sargento. Então retrocedeu outra vez, e as fendas de seus olhos quase lhe sumiram do rosto num amplo sorriso chinês de escárnio. Merton sentiu um mal-estar quase físico à vista dele e então sussurrou para Gilder: – Com certeza aceitaria a palavra da srta. Armstrong contra a dele, não? Padre Brown de súbito ergueu o rosto numa expressão tão renovada que o rosto parecia recém-lavado. – Sim – disse ele, irradiando inocência –, mas será que a palavra da srta. Armstrong é mesmo contrária à dele? A moça emitiu um gritinho assustado e peculiar, e todos os olhares se voltaram para ela. Seu corpo estava rígido, como que paralisado, mas o seu rosto, na moldura de castanho desmaiado, estava vivo, estarrecido de surpresa. Pôs-se de pé como se de repente tivesse sido laçada pelo pescoço e estrangulada. – Este homem – disse Gilder com gravidade – afirma que a senhorita foi encontrada segurando uma faca, sem sentidos, depois do assassinato. – O que ele diz é verdade – respondeu Alice. Sem que se dessem conta, Patrick Royce entrou pisando forte no círculo que eles formavam, com sua cabeçorra inclinada, e proferiu estas estranhas palavras: – Bem, se eu tiver que ir, primeiro quero ter um pouco de prazer. Seus enormes ombros se ergueram e ele desferiu um soco de aço no afável rosto mongoliano de Magnus, deixando-o estatelado na grama como uma estrela-do-mar. Dois ou três policiais imediatamente colocaram as mãos sobre Royce, mas, para todos os demais, parecia que a razão se rompera e o universo se transformara numa farsa sem sentido. – Chega disso, sr. Royce – gritou Gilder, em tom autoritário. – Vou mandar prendê-lo por agressão. – Não, não vai – respondeu o secretário, numa voz como um gongo de ferro –, vai me prender por homicídio.
Gilder lançou um olhar alarmado para o homem caído ao chão, mas, já que a pessoa ultrajada estava se pondo de pé e limpando um pouco de sangue do rosto basicamente incólume, disse apenas: – O que quer dizer com isso? – É mesmo verdade, como diz esse sujeito – explicou Royce – que a srta. Armstrong desmaiou com uma faca na mão. Mas ela não tinha sacado da faca para matar o pai e sim para defendê-lo. – Para defendê-lo – repetiu Gilder com gravidade. – De quem? – De mim – disse o secretário. Alice olhou para ele com uma expressão confusa e desconcertada no rosto, e então disse baixinho: – No fim das contas, me alegra ver que você é corajoso. – Vamos lá para cima – disse Patrick Royce tenso –, e eu lhes mostro como foi essa maldita história. O sótão, que era o gabinete particular do secretário (cela bastante pequena para um ermitão daquele tamanho), tinha na verdade todos os vestígios de um drama violento. Perto do centro havia um grande revólver no chão, como se tivesse sido jogado para longe; mais à esquerda estava caída uma garrafa de uísque, aberta, mas não completamente vazia. A toalha da mesinha estava puxada e pisoteada, e uma corda, igual àquela no corpo, pendia desordenada pela abertura da janela. Havia dois vasos quebrados na cornija da lareira e outro no tapete. – Eu estava bêbado – disse Royce; e essa simplicidade naquele homem precocemente arrasado de alguma forma nos causava pena como o primeiro pecado de um bebê. – Sabem tudo sobre mim – continuou tranquilamente. – Todos sabem como minha história começou, e talvez o fim dela seja assim também. Já me consideraram esperto, e pode ser que eu tenha sido feliz também; Armstrong resgatou das tavernas o que restava de meu corpo e de meu intelecto, e sempre foi gentil comigo à sua maneira, pobre criatura! Só que não me deu permissão para casar com Alice; e todos vão concordar que era a coisa certa a fazer. Bem, os senhores podem tirar suas próprias conclusões e não vão querer que eu entre em detalhes. Lá está a minha garrafa de uísque quase vazia no canto da sala; lá está o meu revólver quase descarregado no tapete. A corda que estava na minha caixa de ferramentas foi encontrada no corpo, e da minha janela é que o corpo foi atirado. Não é preciso detetive algum para desvendar a minha tragédia; é tão comum neste mundo como erva-daninha. Entrego-me ao patíbulo; e, por Deus, já basta! Após um sinal discreto, os policiais rodearam o homenzarrão para levá-lo preso, mas esse comedimento de certa forma contrastou com a cena singular de Padre Brown, de joelhos no tapete à entrada do quarto, como no meio de uma ridícula oração. Sendo uma pessoa um tanto indiferente à figura social que fazia, ele permaneceu naquela posição, parecendo um quadrúpede com uma cabeça humana muito engraçada. – Eu digo – falou ele com seu bom coração – que isso realmente não serve. No começo disseram que não tinham encontrado nenhuma arma. Mas agora estamos encontrando armas demais. Há uma faca para apunhalar, a corda para enforcar e a pistola para disparar, e, no fim das contas, ele quebrou o pescoço caindo da janela! Isso não está certo. Não é econômico – e sacudiu a cabeça mirando o chão como um cavalo que pasta. O inspetor Gilder abrira a boca com sérias intenções, mas, antes que pudesse falar, a grotesca figura no chão continuou com loquacidade. – E agora três coisas impossíveis. Primeiro estes buracos no tapete, por onde entraram seis balas. Por que raios alguém atiraria no tapete? Um bêbado tenta atirar na cabeça do inimigo, aquela coisa que está arreganhando os dentes para ele. Não vai querer comprar briga com seus pés, nem cercar os chinelos. E aí tem a corda. Tendo terminado com o tapete, Padre Brown levantou as mãos e colocou-as nos bolsos, mas, ainda ajoelhado, continuou impassível: – Em que possível bebedeira uma pessoa, tentando enrolar uma corda no pescoço de alguém, a colocaria nas pernas? Royce, afinal, não estava tão bêbado assim; do contrário, estaria dormindo como uma pedra agora. E, o mais simples de tudo, tem a garrafa de uísque. Está sugerindo que um dipsomaníaco lutou por uma garrafa de uísque e, quando venceu, jogou-a no chão, num canto, derramando metade fora e deixando a outra metade intacta? Essa é a última coisa que um dipsomaníaco faria. Levantou-se desajeitadamente e disse para o assassino confesso, em claro tom de penitência: – Sinto muitíssimo, meu caro, mas sua história é pura balela. – Padre – disse Alice Armstrong, em voz baixa –, posso ter uma palavra com o senhor em particular? Esse pedido forçou a saída do comunicativo clérigo pelo corredor e, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa na sala contígua, a moça já começara a falar com estranha energia. – O senhor é um homem esperto – disse ela – e está tentando salvar Patrick, eu sei. Mas não adianta. O âmago desta história é negro, e quanto mais coisas o senhor descobrir, mais coisas vai achar contra esse homem sofrido que eu amo. – Por quê? – perguntou Brown, mirando-a com calma. – Porque – respondeu ela também calmamente – eu o vi cometer o crime com meus próprios olhos. – Ah! – disse Brown impassível. – E o que foi que ele fez? – Eu estava no quarto ao lado – ela explicou. – As duas portas estavam fechadas, mas de repente ouvi uma voz, como nunca ouvi antes, vociferando “Inferno, inferno, inferno” repetidas vezes. Então as duas portas tremeram com o primeiro disparo do revólver. Pela terceira vez, a coisa disparou antes que eu pudesse abrir as portas e ver a sala cheia de fumaça e a pistola fumegando na mão de meu pobre, louco Patrick; e eu o vi disparar a última descarga assassina com meus próprios olhos. Então ele se jogou contra o meu pai, pendurado cheio de terror no parapeito da janela, e, numa luta feroz, tentou estrangulá-lo com a corda, que foi arremessada por cima da cabeça dele, mas escorregou pelos ombros até os pés. Então o laço se fechou ao redor de uma perna e Patrick o arrastou como um maníaco. Eu juntei uma faca do tapete e, correndo entre os dois, consegui cortar a corda antes de desmaiar. – Compreendo – disse Padre Brown, com a mesma fria cordialidade. – Obrigado. Enquanto a moça desmaiava por conta de suas recordações, o sacerdote foi direto para o gabinete ao lado, onde encontrou Gilder e Merton sozinhos com Patrick Royce, que estava sentado em uma cadeira, algemado. Disse, então, ao inspetor, submisso: – Eu poderia ter uma palavrinha com o prisioneiro na sua presença? Podem tirar suas algemas por um instante? – É um sujeito muito forte – disse Merton baixinho. – Por que o senhor quer soltálo? – Bem, pensei – respondeu o sacerdote singelamente – que talvez pudesse ter a grande honra de apertar sua mão. Os dois detetives olharam-no com surpresa, e Padre Brown acrescentou: – Não vai lhes contar? O homem da cadeira sacudiu a cabeça tosquiada e o padre voltou-se impaciente: – Então eu conto – disse. – Vidas particulares são mais importantes que reputações públicas. Vou salvar os vivos. E deixar que os mortos enterrem seus mortos. Ele se aproximou da janela fatídica e piscou, olhando para fora enquanto falava. – Eu disse a vocês que neste caso havia armas demais e uma só morte. Digo agora que não eram armas e que não foram usadas para causar a morte. Todas aquelas ferramentas terríveis, o laço, a faca ensanguentada, a pistola que disparou, eram ferramentas de uma curiosa misericórdia. Não foram usadas para matar Sir Aaron, mas para salvá-lo. – Para salvá-lo! – repetiu Gilder. – E do quê? – Dele mesmo – disse Padre Brown. – Ele era um maníaco suicida. – O quê? – gritou Merton, num tom de incredulidade. – E a Religião da Alegria...? – É uma religião cruel – disse o sacerdote, voltando o olhar para fora da janela. – Por que não o deixavam chorar um pouco, como seus antepassados? Seus planos se esvaziaram; suas grandes visões perderam o vigor; atrás daquela máscara alegre estava o cérebro vazio do ateu. No fim, para manter suas qualidades hilariantes perante o público, caiu de novo no vício da bebida, abandonado há tanto tempo. Mas há no abstêmio sincero esse terror em torno do alcoolismo: ele imagina e espera aquele inferno psicológico sobre o qual adverte os outros. Isso despencou prematuramente sobre o pobre Armstrong, e hoje pela manhã tal era o seu estado que se sentou aqui e gritou que estava no inferno, em voz tão estranha que sua filha não reconheceu. Estava louco pela morte e, com os truques simiescos dos loucos, espalhou ao redor de si a morte em muitas formas: um laço corrediço, o revólver de seu amigo e uma faca. Royce entrou por acaso e agiu num piscar de olhos. Jogou a faca no tapete atrás de si, arrancou-lhe o revólver e, não tendo tempo de descarregá-lo, esvaziou-o tiro após tiro no chão. O suicida viu uma quarta forma de morte e correu em direção à janela. O salvador fez a única coisa que podia: correu atrás dele com a corda e tentou amarrarlhe as mãos e os pés. Foi então que a infeliz moça entrou e, mal interpretando a luta, esforçou-se para libertar o pai. No começo, ela apenas machucou os dedos do pobre Royce, de onde veio todo o sangue desse episódio. Por certo perceberam que ele deixou sangue, mas nenhum ferimento, no rosto do criado? Momentos antes de a pobre moça desmaiar, ela conseguiu cortar a corda que prendia seu pai, de modo que ele despencou da janela rumo à eternidade. Houve um longo silêncio, quebrado lentamente pelo ruído metálico produzido por Gilder ao abrir as algemas de Patrick Royce, a quem ele disse: – Acho que você deveria ter dito a verdade. Você e a jovem valem mais que o obituário de Armstrong. – Dane-se o obituário de Armstrong – gritou Royce, rude. – Não vê que ela não deve saber? – Não deve saber o quê? – perguntou Merton. – Ora, que ela matou o próprio pai, seu idiota! – vociferou o outro. – Ele estaria vivo agora, se não fosse por ela. Saber disso pode levá-la à loucura. – Não, não creio que isso a enlouqueça – comentou Padre Brown, ao apanhar seu chapéu. – Acho até que eu devo contar a ela. Mesmo os enganos mais assassinos não estragam a vida como os pecados. De qualquer modo, acho que agora os dois vão ficar mais felizes. Tenho que voltar à Escola para Surdos. Ao sair para o gramado, um conhecido de Highgate parou-o e disse: – O juiz investigador chegou. O inquérito já vai começar. – Preciso voltar à Escola para Surdos – disse Padre Brown. – Lamento não poder ficar para o inquérito.
G. K. Chesterton
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















