



Biblio VT




Em um livro publicado em 1994, Fisiognomia da metrópole moderna, Willi BolIe procura retomar um projeto feito nos textos de Walter Benjamim. A leitura de Boile deixa claro que o objeto em estudo, para ele e para Benjamim, é a modernidade, percebida como um momento histórico no qual coexistem relações, transformações, situações, fatos, construções próprias — um conjunto que forma uma “mentalidade” específica, com seus tipos humanos, atores sociais, comportamentos, conflitos, perspectivas, conceitos, gêneros literários etc.
O projeto de uma “fisiognomia” vai em direção a essa mentalidade, busca um rosto para a Modernidade. Assim, a “fisiognomia” é primeiro moderna e, depois, por causa disso, da metrópole. Bolle retoma Benjamim e a sua procura de apreender em cidades concretas — Paris, Moscou, Berlim — uma imagem abstrata que lhe forneça o retrato que procura percebendo o quanto a metrópole se torna texto — alegórico, dialético — e ao mesmo tempo se funde com a Modernidade. A metrópole se torna a Modernidade, sendo o espaço onde esta encontra sua forma mais concreta, visível. Daí o propósito de uma “fisiognomia”, termo arcaico, retomado por Benjamim, que reúne ao mesmo tempo história e imagem e que pode ser definido como a arte de conhecer o caráter de algo a partir de seus traços exteriores.
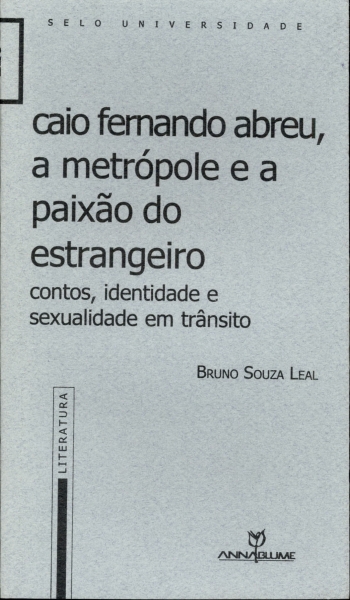
A releitura da obra do pensador alemão do início do século, feita no quase cem anos depois, ainda aponta para elos fundamentais do mundo contemporâneo. Um deles é a ligação estreita entre a metrópole, tal como é hoje — um espaço urbano típico — e a Modernidade, fazendo com a primeira tenha contornos históricos únicos. Outro, é a característica desse espaço único ser a “arena” na qual a identidade é algo que pode ser encarnado numa máscara flutuante entre os atores sociais. Além disso, como o próprio Benjamim indicou, a preocupação com a metrópole é a preocupação com a contemporaneidade. O mundo ocidental de hoje, seja ele moderno ou pós-moderno, é o mundo das metrópoles. Ou, em outras palavras, é o mundo que resultou de vários projetos de modernidade. No entendimento da relação identidade/metrópole, muitos foram os pensadores que apontaram para as transformações que, mesmo tendo se configurado inicialmente no século XIX, chegam até hoje. Num texto clássico, por exemplo, Georg Simmel (1976) busca na metrópole, a exemplo de Benjamim, as características que condicionam e problematizam a vida moderna. Simmel realiza em
seu percurso uma radiografia desse espaço, diferenciando-o de outras formações urbanas do passado e associando-o com elementos da Modernidade. A metrópole, para ele, é o lugar do fluxo constante de pessoas e objetos; é a sede da economia monetária, onde a dimensão econômica uniformiza os indivíduos e as coisas e determina relações e atitudes; é, também, uma estrutura impessoal, que se sobrepõe aos indivíduos, indiferenciando-os. É ainda, o lugar da divisão econômica do trabalho, da especialização, da fragmentação e do rompimento com vínculos históricos tradicionais. O mundo da metrópole moderna estaria impregnado do que Simmel chama de “espírito objetivo”, que predomina sobre o “espírito subjetivo”. Em outras palavras: a metrópole é marcada por uma mentalidade racional, intelectual nesse sentido, que desconsidera os aspectos emocionais e existenciais dos indivíduos como forma de dar resposta aos variados estímulos e às demandas da “economia do dinheiro”. Daí, por conseguinte, uma atitude “prosaicista” é assumida, nivelando individualidades e diferenças, dessacralizando e dessubstancializando pessoas e objetos.
Indiferença, por extensão anonimato, especialização e fragmentação. Estas são algumas das palavras-chave para o ambiente metropolitano descrito por Simmel. No entanto, além dessas, um outro conceito também fundamental se apresenta: liberdade. Com a amplitude de relações, grupos sociais, trânsitos, a metrópole se torna o lugar onde o indivíduo tem liberdade suficiente para elaborar um modo de vida próprio, pessoal, de acordo com suas escolhas e vontades. Mas o que mais chama a atenção de Simmel na metrópole moderna é o conflito que ela apresenta ao indivíduo exatamente em seu processo de individualização. Para ele, nesse espaço urbano peculiar, o indivíduo se vê, ao mesmo tempo, estimulado e embaraçado em seu processo de individualização. Esmagado pelo anonimato, pela indiferença, pela impessoalidade, características do “espírito objetivo”, ao mesmo tempo livre e desenraizado, ele tem que buscar-se, afirmar-se, constantemente, num processo de elaboração de si mesmo. Simmel resume e localiza assim esse conflito:
O século XVIII encontrou o indivíduo preso a vínculos de caráter político, agrário, corporativo, religioso. [...} Nessa situação ergueu-se o grito por liberdade e igualdade, a crença na plena liberdade de movimentos do indivíduo em todos os relacionamentos sociais e intelectuais. A liberdade permitiria de imediato que a substância nobre comum a todos viesse à tona [...] Ao lado desse ideal de liberalismo do século XVIII, no século XIX [...] outro ideal se levantou: os indivíduos, liberados dos vínculos históricos tradicionais, agora desejavam se distinguir um do outro. A escala de valores humanos já não é constituída pelo “ser humano geral” em cada indivíduo, mas antes pela unicidade e insubstitubilidade qualitativas do homem. A história externa e interna do nosso tempo segue seu curso no interior da luta e nos entrelaçamentos em mudança dessas duas maneiras de definir o papel do indivíduo no todo da sociedade. É função da metrópole fornecer a arena para este combate e a reconciliação dos combatentes (1976: 24-5 — grifos meus). O sociólogo Michel Pollack fornece um exemplo contemporâneo e parcial do ambiente da metrópole, tal como a percebe Simmel, quando observa que “com a diversidade de seus modos de vida, seus lazeres, suas facilidades de contato, as possibilidades que oferece de levar uma vida relativamente anônima e de poder compartilhar, sem dificuldade, as diferentes esferas da vida social”, a cidade “é o lugar ótimo para o desenvolvimento de uma tendência homossexual” (POLLACK, 1990: 28). A metrópole de Simmel, assim como a de Baudelaire e de Benjamim, é o palco da multidão, do tráfego da turba anônima no uso do espaço público comum. A cara figura do flâneur encontra seu hábitat em meio a essa multidão. No entanto, ao longo do século XX, muitas transformações interpuseram uma distância entre o mundo doflâneur e o do habitante da metrópole contemporânea. Marshall Berman (1987) elege como emblema desse novo estado de coisas as transformações pelas quais passou o bairro nova-iorquino do Soho, nos anos 70 do século XX. Ali, antigas construções abandonadas foram retomadas e recicladas por jovens artistas. Para Berman, isto significa que “os espaços para os quais os modernistas de hoje se orientam são espaços mais pessoais e privados que a via expressa ou a rua” (1987: 316). A vivência contemporânea do espaço urbano é, para ele, mais uma incorporação concreta na metrópole das tendências e características da modernidade. Tendo como referência primeira a realidade norte-americana, Berman acompanha na cidade os movimentos e buscas modernas, do elogio à racionalidade, utopicamente responsável pela construção de um grande futuro, que tem uma forma nas parkways e freeways da primeira metade do século XX, onde o novo se impôs através da destruição do antigo; passando pelo “grito da rua”, por volta dos anos 60, de onde emergem as vozes que ficaram esquecidas nesse processo de modernização; até a tentativa de voltar ao passado, de recuperá-lo diante da falta de saída que o projeto moderno passou a representar, a partir dos anos 70. Berman recusa-se a denominar este período mais recente de “pós-moderno”. Para ele, ainda vive-se em um outro momento da modernidade. Mais importante, porém, que uma opção por “modernismo tardio” ou por “pós-modernidade”, é fundamental a observação que a partir das últimas décadas do século XX a realidade cultural diferencia-se, de algum modo, do passado moderno que o gerou. Parece ser ponto pacífico que transformações importantes ocorreram, as divergências se situando em relação ao seu peso, ao seu significado e mesmo a que mudanças foram essas. De qualquer modo, a modernidade de hoje, certamente, não é a mesma de ontem, não importando se esse ontem se iniciou nos anos 50, no início ou final dos anos 60. Uma transformação fundamental, como indica Berman, está exatamente na relação com o passado. Em vez da destruição do velho, em nome do novo que será construído, uma outra convivência com o antigo, que o recicla, recria. Ou, retomando Fredric Jameson metaforicamente, como pode ser entendida a distinção entre “paródia” e “pastiche”, a primeira referindo-se à atitude moderna, a segunda à que seria “pós-moderna”. Ambas são a “imitação de um peculiar, ou único, idiossincrásico, estilo”. Mas enquanto a paródia tem um impulso satírico, destruidor, o pastiche é uma “prática neutra”, feita sem as convicções que definiam a atitude parodística (JAMESON, 1991: 17). Seguindo essa perspectiva, pode-se supor que a metrópole contemporânea distingue-se da metrópole moderna de uma forma especial. Não através de uma ruptura, de uma cisão entre padrões, estruturas, mentalidades etc, mas, sim, através de uma transformação de seus elementos. O passado não é mais apagado, mas, sim, recuperado, incorporado, sendo compartilhado inclusive com outras versões de si e, assim, torna-se mais um território escrito! inscrito/escritor da malha urbana. A nova imagem urbana se forma, a partir dessas alterações. A metrópole moderna como que se hiperboliza, toma-se o espaço não de uma multidão, mas de mais e mais multidões. Como parece indicar Nélson Brissac Peixoto:
A trama urbana, desfeita por contínuas reformas e transferências de população não pode mais ser mapeada por seus habitantes, não há mais como se situar na cidade [...] Mas um novo território é formado por este trânsito, esta permeabilidade generalizada. Como em uma sobreposição de círculos concêntricos, ligeiramente descentrados. Tudo circula sem cessar: estamos no meio, como o mato que cresce nas pedras. A visão se faz no meio das coisas, um entre- lugar constituído por linhas de fuga em todas as direções e dimensões aumentando o território destes múltiplos fluxos. Uma zona intersticial, onde apagam-se todos os limites, todas as fronteiras (1994: 6). Para Berman, nessa outra cidade apresenta-se a realidade de um relacionar-se conflitantemente com a própria identidade. Ela se daria, agora, ligada ao fim da(s) utopia(s) moderna(s). Diante de um presente fruto de um ideal exaurido, o indivíduo, às voltas com um passado transformado em pó por uma vontade que fez tudo que era sólido se desmanchar no ar, tem um futuro incerto: sua identidade, assim, se desintegra. Tendo isso em vista, percebe-se que o conflito definido por Simmel como central na metrópole moderna se preserva, acrescido de outras dimensões e rostos. Ainda vive-se com o desafio da individualização, sob o peso de uma mentalidade “racional”, “objetiva”, que dá ao indivíduo liberdade e igualdade e as possibilidades de sua realização pessoal e que, ao mesmo tempo, cria obstáculo e exige um esforço de singularização ainda maior ao fazer com que se perca na multidão, que se torne número, estatística, mais um habitante, lidando com homens, mulheres e objetos de forma limitada, fragmentada, impessoal. O fim da utopia moderna de um futuro feliz construído em nome da razão, como aponta Berman, traz, certamente, mais um complicador nesse processo. Entre as identidades que se movem entre as tramas da metrópole contemporânea estão aquelas cujos portadores são indivíduos homoeroticamente inclinados. Seu movimento dá origem, no tecido urbano, a espaços flexíveis, móveis, que se superpõem aos já existentes. Forma-se um espaço queer, estranho, esquerdo, no interstício de um mesmo lugar tornado outro, pelo encontro com seus outros habitantes. Afinal, ainda que muito se tenha conseguido em termos de direitos sociais, cotidianamente o homoerotismo, um estrangeiro nas sociedades heterocentradas do Ocidente, é o elemento que exige a constituição de espaços outros que possibilitem a sua manifestação e o contato entre as pessoas. Nesse sentido, Ingram, Bouthillette e Retter (1997), organizadores de uma compilação de estudos sobre erotismo e espaço, observam que: embora as pessoas que experimentam a marginalização podem querer ser mais “enraizadas”, a desigualdade no acesso aos espaços públicos continua. Para minorias, incluindo pessoas marginalizadas pela (homo)sexualidade, essas formas de “desenvolvimento desigual”, freqüentemente contribuíram para seu sentimento de isolamento e desterritorialização. Embora no final do século XX, o espaço passou a ser reconhecido como um significante do status de grupos sociais, isso ainda não transformou a sociedade, nem gerou inclusões reais (1997: 6 — no original em inglês). Para esses autores, “ao menos em termos de visibilidade, muitos de nós permanecem out there”, por aí, constrangidos pela marginalização. Ao mesmo tempo, segundo eles, esse mesmo isolamento gera um esforço de conexão, de pertencimento a uma comunidade, a uma vizinhança, cercada pelos “obstáculos e de altos custos”, no qual um “lar” é buscado e elaborado pela exclusão e diferença impostas pela homofobia. O espaço que surge desse esforço de comunhão é tanto lugar de refúgio, de habitação e de jogo e resulta da combinação de um processo de privatização do território público e da publicização da intimidade. É exatamente esse amálgama de movimentos aparentemente contraditórios que permite que Jean-Ulrich Désert (1997) afirme que o “espaço queer é um espaço virtual”, uma vez que resulta da comunicação com outro, ou seja, de exposição de um desejo, de um sentimento íntimo a alguém, e da redefinição de espaços públicos preexistentes (ruas, praças, bares, parques etc.) pelo trânsito que resulta desse contato. Esse trânsito deixa marcas, certamente, mas só saberá lê-las aqueles que compartilhem de um código marcado pelo desejo exposto. Para Ulrich, esse espaço queer, estranho, é uma zona “ativada” cuja propriedade é assumida pelo flâneur, pelo que está de passagem. A asssociação feita por Ulrich entre o sujeito homoerótico e ofláneur não é certamente gratuita. A inscrição da sexualidade no espaço da metrópole não envolve identidades fixas e, assim como o flâneur é aquele que passa, o “gay” ou a “lésbica” também são seres em trânsito. Mais que uma “fragilidade” dessas personagens, todo esse movimento aponta novamente para os elos entre sexualidade, identidade e metrópole.
A BUSCA DO EU: OS CAMiNHOS DA SEXUALIDADE
A imagem dos círculos levemente descentrados, dada por Brissac, e a dificuldade de estabilização de uma identidade em meio às multidões da metrópole contemporânea foram percebidas empiricamente por Nestor Perlongher (1993), numa pesquisa sobre a prostituição masculina em São Paulo. Em seu trabalho, o antropólogo percebeu a convivência simultânea de modelos diferentes, que atuariam na autodefinição das identidades por partes dos michês. De um lado, num extremo, o modelo antigo, hierárquico — baseado na polaridade homem versus bicha — de outro, no pólo oposto, o mais moderno, igualitário, que transforma a polaridade anterior num encontro gay versus gay. Nas suas entrevistas, Perlongher percebeu que esta sobreposição de referências diferentes causava um conflito de identificação para os michês que não sabiam como se definir ou que papel assumir. A identidade como que flutuante dos pesquisados, dentro da teia urbana da metrópole, levou o autor a concluir:
em vez de falar de identidades, passamos a falar de territorialidades, de lugares geográficos e relacionais. Isto nos convida a conceber uma trama de “pontos” e “redes” por entre os quais circulam (“transformam- se”) os sujeitos, definindo-os conforme sua trajetória e posição “topológica” na rede, e não conforme uma suposta identidade essencial (1993: 143). A coexistência de tais modelos divergentes já havia sido detectada anteriormente por Peter Fry (1982), que associa o modelo igualitário (gay/gay), o mais recente, a uma série de transformações ocorridas, segundo ele, a partir dos anos 60. Jeffrey Weeks (1985), pensando a sexualidade, agrupa tais mudanças em quatro linhas gerais, que se interpenetram mutuamente: a continuação, e mesmo a acentuação, da comercialização do sexo e da sua transformação em produto vendável [commodflcationj; a transformação nas relações entre homens e mulheres; mudanças no modo de regulação da sexualidade; e a emergência de novos, ou a reordenação dos velhos, antagonismos sociais e o aparecimento de novos movimentos políticos (1985: 21 — em inglês no original). Commodflcation e comercialização que significam que: O sexo se tornou uma alavanca para vender tudo, do automóvel à barras de sabão, enquanto que imagens de sexualidade feminina proliferaram de forma nunca antes tão explícitas. Ao mesmo tempo, novos mercados para produtos sexuais foram constantemente descobertos ou criados — entre adolescentes nos anos 50, mulheres nos anos 60, gays nos anos 70 (1985: 24 — no original em inglês). Assistindo ao sexo tornado um produto que se vende, as mulheres passaram a ser não só um objeto mais e mais explorado, como também se incorporaram decisivamente ao mercado, como mão-de-obra e como consumidoras. Paralelamente a essa mercantilização do sexo ocorreu não só uma flexibilização das leis que regulavam as relações entre homens e mulheres —como, por exemplo, o divórcio e o concubinato — como também uma maior importância do prazer sexual, tornado um fim em si mesmo na vida do indivíduo. Enquanto as taxas de divórcio crescem, a de fertilidade declina, e a distinção entre casados e não-casados tende à obscuridade, o “casal” mais que o casamento aparece como a constante na vida ocidental. Mas o sexo tornou-se ainda mais central no seu sucesso [...]. Há uma passagem inconsciente da necessidade de relações pessoais para o sucesso da performance sexual. O sexo se tornou o cimento que une as pessoas (WEEKS, 1985: 28 — no original em inglês). Além disso, uma nova agenda política, novos antagonismos se fazem presentes com a emergência dos chamados “movimentos de minorias” — negros, mulheres, homossexuais. Passam a ocupar, a partir de então, o debate político, ao lado dos tradicionais, outros temas mais recentes, como identidade, prazer, consenso e escolha. Assim, na metrópole contemporânea, seus habitantes tornam- se seres “sexualizados”, convivendo não só com novos e novos produtos, comportamentos, outras situações, modas e atitudes, como também com a exploração comercial e com uma nova dimensão política dos corpos e da sexualidade. Esta, o sexo e o prazer passam a ter cada vez mais atenção e importância na vida dos indivíduos.
O problema é que o sexual é notoriamente frágil. O casal heterossexual ainda é visto como o tijolo com o qual se constrói a sociedade, o fórum da ambição, da realização e da felicidade. Sua influência ideológica na população é imensa, mesmo que as forças que o mantêm sejam tênues. Aqui está um terreno fértil para a ansiedade sexual (WEEKS, 1985: 28 — no original em inglês). Jurandir Freire Costa (1984) percebe essa ansiedade quando, pensando a realidade brasileira, procura definir um “tipo urbano ideal”: Em linhas gerais, este indivíduo é um indivíduo em trânsito. Ele tem um pé no universo constituído pela herança da tradição burguesa e outro no mundo de valores citadinos, que tende a tornar- se hegemônico. O primeiro universo é formado pelo tríplice eixo da religião, família e propriedade, com seu corolário que é a “dignidade do trabalho livre”. Esse trinômio ético é visto como ultrapassado e demodée por uns, repressivo e reacionário por outros. No segundo., a religião é contraposta à ideologia do bem-estar físicopsicossexual, a ética familiar antiga, ao discurso técnico sobre a normalidade das relações entre os membros da familia, e a ética do trabalho, à compulsão do consumo supérfluo (1984: 119). Esse autor aponta, na tendência que tende a tornar-se hegemônica, uma moral que é “indivíduo-centrada”, que se distingue da tradicional pelo destaque ao “bem-estar pessoal”, fazendo com que esse ser urbano tenha “compulsoriamente a recorrer cada vez mais a agências de controle e manutenção da identidade pessoal” (COSTA, 1984: 120).
Nesse sentido, em relação ao desafio da identidade, Weeks percebe que:
A procura de uma “identidade verdadeira” é aqui uma ameaça e um desafio, porque é a negação da escolha. Ela clama por encontrarmos o que nós realmente somos, ou deveríamos ser. A sua realidade é a da restrição e da força. Mas, ao mesmo tempo, “identidade é diferenciação”, está ligada a afinidades baseadas na seleção, auto-realização e escolha. É, logo, algo que nós devemos procurar, algo que deve ser obtido para a estabilização do eu, para a prevenção da anomia e do desespero (1985: 188 —no original em inglês).
“Aqui”, neste caso, é tanto um lugar (a metrópole) quanto um tempo (hoje). Se o trabalho de Perlongher fornece um exemplo concreto do quanto a elaboração da individualidade se constitui em um enigma e em um desafio, dá a perceber, também, as intrincadas e profundas relações entre identidade e sexualidade, hoje em dia. Anthony Giddens, acompanhando todo esse conjunto de relações e de transformações, afirma que os grupos que integram as “minorias”, como mulheres, homossexuais masculinos e femininos, vivem de forma exemplar as questões relativas à identidade e á sexualidade. Para ele, porém, tais grupos participam de uma situação que é pertinente a todos: “a questão é de identidade sexual, mas não apenas isso. Hoje em dia, o eu é para todos um projeto reflexivo —uma interrogação mais ou menos contínua do passado, do presente e do futuro” (1992: 42). Na luta dos indivíduos, neste mundo da metrópole (pós)moderna, para preservarem sua diferença, para se distinguirem uns dos outros, eles têm, assim, a seu favor, todo uma dimensão, um aspecto de si que pode ser — e é — explorada para esse fim: a sexualidade. Uma chave para entender essa situação é dada por Michel Foucault, que afirma que a sexualidade, na sociedade ocidental moderna, passou a ser o caminho para a verdade de cada um:
nessa questão do sexo [...] desenvolvem-se dois processos sempre em mútua referência: nós lhe pedimos para dizer a verdade [...1 e lhe pedimos para nos dizer nossa verdade, ou melhor para dizer a verdade, profundamente oculta, desta verdade que nós mesmos acreditamos possua em imediata consciência (1988: 68).
Segundo Foucault, essa relação sexo/verdade foi um dos fatores fundamentais para a implantação do “dispositivo da sexualidade”, que ocorreu no Ocidente moderno. Para ele, a sexualidade não é algo ligado a uma “essência” dos seres humanos, que atravessaria os tempos. Ao contrário, é uma construção localizada historicamente:
A sexualidade é o correlato dessa prática discursiva desenvolvida latentemente, que é a scientia sexualis. As características fundamentais dessa sexualidade não traduzem uma repressão mais ou menos confundida pela ideologia ou um desconhecimento induzido pelas interdições; correspondem às exigências funcionais do discurso que deve produzir sua verdade (1988: 67).
Foucault combate, com essa concepção, o que ele chama de “hipótese repressiva”, segundo a qual o sexo foi o alvo de interdições que o sufocaram ou distorceram e o fizeram calar. Tais “forças” aos poucos teriam se afrouxado e, hoje, assiste-se e busca- se a sua liberalização. Novamente ao contrário, o sexo foi, para Foucault, o alvo, sim, de uma “vontade de saber”, disseminada por várias esferas, em especial aquelas que advogavam o uso da razão. Assim, o sexo — e a sexualidade — ao invés de se ter emudecido, foi levado, através de inúmeros expedientes, a falar; foi o “objeto” de uma série de discursos, de diversas áreas — pedagógica, médica, jurídica, religiosa; foi escavado, revirado, pesquisado; passou a ser considerado uma espécie de poder, responsável por uma extensa rede de relações causais infinitas; passou a ser visto como que contento uma substância maleável, escorregadia, incapaz de ser apreendida com precisão; foi o gerador de uma série de técnicas e artifícios elaborados especialmente para fazê-lo revelar essa suposta verdade. Foi, ainda, por fim, encravado nos corpos dos indivíduos, passando a ser o que de mais pessoal eles teriam, o centro de sua individualidade. Essa “tecnologia” que se dirige ao sexo, tem, segundo Foucault, sua raiz no ritual católico da confissão. Extrapolando a dimensão religiosa, a confissão serviu de base para um conjunto de procedimentos que foram desenvolvidos no sentido de fazer o indivíduo falar sobre si, de revelar-se, pesquisar-se; e também no sentido de saber ouvi-lo, de realizar uma espécie de hermenêutica de sua fala.
Uma nova relação do indivíduo com a sociedade entrava, então, em curso:
da “confissão”, garantia de status, de identidade e de valor atribuído a alguém por outrem, passou-se à “confissão” como reconhecimento, por alguém, de suas próprias ações ou pensamentos. O indivíduo, durante muito tempo, foi autenticado pela referência dos outros e pela manifestação de seu vínculo com outrem (família, lealdade, proteção), posteriormente passou a ser autenticado pelo discurso de verdade que era capaz de (ou obrigado a) ter sobre si mesmo. A confissão da verdade se inscreveu no cerne dos procedimentos de individualização pelo poder (1988: 58).
A implantação do dispositivo da sexualidade ocorreu, de acordo com Foucault, simultaneamente com o conjunto complexo de relações e acontecimentos históricos que constituíram a Modernidade, integrando-se a esse movimento. A sexualidade foi constituída em meio a uma vasta e ramificada rede de relações de poder. Ela não é simplesmente o alvo do poder, mas, sim, é permeada por ele.
O poder, aqui, não é visto como uma lei opressora, autoritária, como algo que vem de cima para baixo, que torna os Indivíduos passivos diante dele. Ao contrário, ele, antes, está disseminado por toda a sociedade, em todas as relações: o poder não está acima dos homens, faz parte de suas ações. Integrada a um contexto histórico, a implantação da sexualidade, da mesma forma, não obedeceu a uma estratégia única e global. Foucault agrupa quatro conjuntos de estratégias que viabilizaram o avanço da relação poder/saber, em direção ao sexo, a partir do século XVIII. São elas: a “histerização do corpo da mulher”, quando este, saturado de sexualidade, foi “posto em comunicação orgânica com o corpo social (cuja fecundidade regulada deve assegurar), com o espaço familiar (do qual deve ser alimento substancial e funcional) e com a vida das crianças”; a “pedagogização do sexo da criança”, que passou a ser vista como suscetível a uma atividade sexual que poderia ser, por sua vez, tanto “natural” como “contra a natureza”; a “socialização das condutas de procriação”, quando o casal passa a ter, em relação aos filhos, uma responsabilidade frente a todo o corpo social, sendo portanto, o alvo de uma grande atividade médica; e, por fim, a “psiquiatrização do prazer perverso”, quando “o instinto sexual foi isolado como instinto biológico e psíquico autônomo” sendo necessária, então, a análise, classificação e normatização de suas “anomalias” (1988: 99-100). As transformações que a implantação do dispositivo da sexualidade causou podem ser percebidas no seguinte trecho, que se refere à última linha de ação:
a sodomia — a dos antigos direitos civil ou canônico — era um tipo de ato interdito e o autor não passava de seu sujeito jurídico. O homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade (1988: 43).
Para Foucault, o dispositivo da sexualidade se enquadra numa espécie de tecnologia de vida, normatizadora, política. “O homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles: animal e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal, em cuja política sua vida de ser vivo está em questão” (1988: 134). Nesse universo, o sexo “dá acesso ao mesmo tempo à vida do corpo e à vida da espécie”. E é por isso que a sexualidade “tornou-se a chave da individualidade: ao mesmo tempo o que permite analisá-la e o que torna possível constituí-la” (1988: 137). Para Foucault, os movimentos de afirmação das “minorias” a que se assiste hoje em dia estão ligados ao caráter político das identidades e ao que ele chama de “polivalência tática dos discursos”: Tomemos o caso da homossexualidade. Foi por volta de 1870 que os psiquiatras começaram a constituí-la como objeto de análise médica; ponto de partida, certamente, para toda uma série de intervenções e de controles novos [....] Mas, tomando ao pé- da-letra tais discursos e contornando-os, vemos aparecer respostas em forma de desafio: está certo, nós somos o que vocês dizem, por natureza, perversão ou doença. E, se somos assim e se vocês quiserem saber o que nós somos, nós mesmos diremos, melhor que vocês. Toda uma literatura da homossexualidade, muito diferente das narrativas libertinas, aparece no final do século XIX, veja Wilde ou Gide. É a inversão estratégica de uma mesma vontade de verdade (1979: 233-4). Anthony Giddens parece reconhecer esse jogo político da identidade, quando diz, considerando a busca, nos movimentos homossexuais norte-americanos, da afirmação da expressão gay para designá-los:
Em um nível mais pessoal, no entanto, o termo gay também trouxe com ele uma referência cada vez mais difundida à sexualidade como uma qualidade ou propriedade do eu. Uma pessoa “tem” uma sexualidade, gay ou outra qualquer, que pode ser reflexivamente alcançada, interrogada ou desenvolvida (1992: 24). Jeffrey Weeks oferece ainda uma outra visão, complementar e ilustrativa, da mesma questão. O movimento gay confirmou a diferença da homossexualidade, mas também pôs em movimento uma desintegração a longo prazo da categoria, pois o mesmo ato de afirmar uma identidade gay como uma atitude política sublinha sua arbitrariedade enquanto uma descrição social (1982: 287 — no original em inglês). Uma outra conseqüência dessa “eclosão” de vozes e diferenças, para Giddens, é o fim do ideal de amor romântico, em voga no passado. Ao buscar-se, através principalmente da sexualidade, e dispondo da liberdade para elaborar um estilo de vida pessoal, independente de tradições preexistentes, o indivíduo abre mão da idealização do parceiro em nome de um relacionamento democrático que preserva sua autonomia e diferença. Segundo Giddens, o amor romântico se caracteriza por uma “identificação projetiva” dos parceiros, na qual um preenche uma espécie de vazio do outro. Essa concepção do envolvimento amoroso envolve, assim, o encontro com uma “pessoa especial”, com uma “cara-metade”, de forma a fazer do casal um só ser. Hoje, para Giddens, diferentemente, vive-se a era do “amor confluente”, que vem a ser um envolvimento administrado, que se concretiza não no encontro com um parceiro idealizado, mas, sim, de relacionamento que propicie intimidade e prazer, que seja também democrático e que preserve a autonomia, a liberdade e a diferença de cada um. Essa nova forma de envolvimento amoroso, segundo Giddens, está intimamente ligada à questão da sexualidade e a uma “política de vida” — que estaria ligada a uma “remoralização” das decisões referentes ao estilo de vida: Particularmente em suas relações com o gênero, a sexualidade deu origem á política do individual, uma expressão mal-interpretada se estiver vinculada apenas à emancipação.[...] O âmbito da política de vida cobre vários conjuntos de questões, parcialmente distintos. Um deles é o da própria auto-identidade. Na medida em que está centralizado no tempo de vida, considerado como um sistema internamente referencial, o projeto reflexivo do eu está orientado apenas para o controle. Não tem outra moralidade além daquela da autenticidade, uma versão moderna da velha máxima “sê sincero consigo mesmo”. Atualmente, dado o descuido da tradição, a pergunta “quem sou eu?” está intrincadamente ligada a “como deverei viver”. Muitas questões se apresentam aqui, mas no que diz respeito à sexualidade, a mais óbvia é a da identidade sexual (1992: 215).
Pelas palavras de Giddens pode-se perceber que o esforço de individualização atinge e transforma esferas maiores do que se poderia supor inicialmente. A partir do momento em que a sexualidade passa a ser um elemento fundamental para a auto- identidade2 dos indivíduos, sendo que essa sexualidade é única, pessoal, intransferível, e que necessita ser descoberta, pesquisada 2. Giddeus utiliza este termo, “auto-identidade”, para designar a identidade tomada para si pelo indivíduo, imerso no conjunto de relações sociais, através do “projeto reflexivo” que instaura.
E desenvolvida, ela exige uma nova postura frente ao outro e ao envolvimento amoroso. O “amor confluente” pode ser entendido exatamente como o resultado dos efeitos do dispositivo da sexualidade e da exigência de individualização sobre tais aspectos da vida humana. É, como diz Giddens, um sintoma da transformação da intimidade, transformação esta detectada por Freire Costa e por Simmel, em momentos e lugares, teóricos inclusive, distintos, que foram referidos aqui. Outras de suas conseqüências podem ser percebidas no âmbito da identidade sexual, aqui abordada através da questão homossexual. Retomando Foucault, a idéia de um tipo específico de ser humano, dotado de uma sexualidade específica, homossexual, em oposição a uma outra, heterossexual, é localizada historicamente. Da mesma forma, a opção pela afirmação de uma tal identidade de grupo é explicada como uma forma de buscar a aceitação de determinados atos e comportamentos através da ratificação subversiva dos discursos que instituíram essa verdade. O processo histórico de implantação da sexualidade forneceu uma série de modelos de identificação para os que se enquadrariam nesse grupo distinto de seres humanos. Tais modelos são fornecidos pelas culturas nas quais se inscrevem e estão, pelo menos no mundo ocidental, freqüentemente associados ao estigma da condenação moral, do desvio ou da doença. Assim como Perlongher, o psicanalista Jurandir Freire Costa (1992), ao analisar os dados de pesquisas sobre o comportamento sexual brasileiro após o advento da aids, percebeu a existência e a convivência de mais de um desses modelos, sendo que nenhum deles se mostrou suficiente para dar conta de todos os comportamentos em indivíduos homossexuais. De fato, o maior grupo entre os detectados pelas pesquisas foi composto por aquelas pessoas que não se enquadravam em nenhum deles, o que levou o autor a concluir que “a identidade homossexual, para sua estabilização, depende de fatores quase impossíveis de ser generalizados” (1992: 155). A identidade se torna um enigma, assim, que é resolvido de forma pessoal. Assim a concebe Weeks, quando afirma que a adoção de uma identidade homossexual é o resultado de construções individuais desses modelos, de “autocriações fundamentadas pela história” (1992: 108 — em inglês no original).
Isto leva o mesmo autor a dizer, num outro momento, que é a categorização social que leva a criar a noção de uniformidade (de um “grupo homossexual”), sempre com efeitos variados. A desigualdade da categorização social, as variações nas responsabilizações legais e sociais significam que as experiências homossexuais podem ser absorvidas numa variedade de diferentes estilos de vida, sem o desenvolvimento necessário de uma “identidade homossexual” (WEEKS, 1985: 209 no original em inglês). O movimento de instauração desse grupo específico de seres humanos e a sua posterior afirmação pela militância homossexual levaram, como já disse Weeks, a uma desintegração da categoria. Isto é percebido por Freire Costa quando observa, significativamente, uma tendência mais individualizante na elaboração da identidade sexual. Entre os elementos que poderiam levantar para uma definição de si, os indivíduos tendem a escolher o desejo, de caráter privado, íntimo, em detrimento do comportamento, social, público. Por outro lado, a convivência de mais de um modelo de identificação, todos insuficientes, transforma a busca do eu num projeto em elaboração constante. No caso dos “homossexuais”, o desafio se dá, na opinião de Freire Costa, em meio a uma localização limítrofe, na rede de referências existentes: o homossexual moderno converteu-se em um indivíduo preso a um duplo sistema de referências para a elaboração da sua subjetividade. De um lado, acha-se às voltas com as regras de satisfação do desejo que o orientam no sentido de buscar formas singularizadas de realização sexual; de outro, encontra-se atrelado ao velho sistema de crenças que estigmatiza o homoerotismo (COSTA, 1982: 158).
A vivência da identidade sexual, assim, se dá permeada de uma espécie de sentimento de alteridade. O indivíduo, ao mesmo tempo que conta com uma ferramenta historicamente construída, a sexualidade, lida com suas imperfeições. Ao mesmo tempo em que ratifica um discurso histórico, o modifica. Na busca da individualização, a sexualidade se apresenta como a dimensão de um desafio; antes de trazer soluções fáceis, oferece mais e mais possibilidades de perguntas e investigações. Assumir-se, principalmente no caso homossexual, coloca o indivíduo num estado de vir-a-ser; de indefinição frente a definições limitadas, a um horizonte em processo, a ser constituído, incerto. Nesse espaço multicentrado em que se entrecruzam feixes complexos de divergentes relações, o indivíduo ocupa uma posição que lhe impõe uma versão característica da dialética entre proximidade e distância: entre os diferentes pólos, o tradicional e o urbano, que lhe fornecem diferentes e contraditórios modelos e moralidades; entre um passado destruído ou reciclado, um presente inapreensível em sua completude e um futuro em projeto; entre o desafio e a ameaça da construção e delimitação da própria identidade. O eu é um outro, um outro possível, sempre a navegar entre versões do passado e possibilidades de futuro, entre imagens diferenciadas de si mesmo, por tais ou quais “territórios” da metrópole — camada social, grupo ideológico, grupo sexual, ou o que for. Ele, assim, interage consigo, com o outro, com o mundo, n(d)esse entre-lugar em que vive, de uma forma típica, como um estrangeiro. Afinal, como definiu Simmel: A unificação da proximidade e distância envolvidas em toda a relação humana organiza-se, no fenômeno do estrangeiro, de um modo que pode ser formulado da maneira mais sucinta dizendo-se que. nesta relação, a distância significa que ele, que está próximo, está distante; e a condição do estrangeiro significa que ele. que também está distante, na verdade está próximo, por ser o estrangeiro é naturalmente uma relação muito positiva: é uma forma específica de interação (1983: 183-4).
O desafio — e exigência — contemporâneo de individualização carrega consigo um estranhamento, um sentimento de inadequação, como se toda a certeza estivesse impregnada por uma transitoriedade. Ao mesmo tempo, ainda que precárias, são essas certezas que movem os indivíduos. O caráter reflexivo do eu, vivido cotidianamente, sob o signo da sexualidade, é a porta de entrada do outro: outro eu, outro mundo, outros trânsitos. O Outro, como diz Julia. Kristeva (1994), passa a habitar o eu, fazendo da fragmentação e da incompletude companheiras inseparáveis. Para Kristeva, isso pode significar que: Uma nova comunidade paradoxal está surgindo, feita de estrangeiros que se aceitam na medida em que eles próprios se reconhecem estrangeiros. A sociedade multinacional seria assim o resultado de um individualismo extremo mas consciente de suas perturbações e dos seus limites, um individualismo que se reconhece na ajuda mútua à suas fraquezas, uma fraqueza cujo outro nome é a nossa estranheza radical (1994: 205). Talvez um esboço dessa comunidade seja a dos territórios queer, constituídos pelo movimento de estrangeiros à procura de uma forma de contato, de comunhão, do outro que o identifica. Talvez, porém, essa comunidade seja tão efêmera e virtual quanto as identidades dos sujeitos homoeroticamente inclinados, sempre em trânsito, às voltas com (novos) espaços, familiares, friendly e! ou homofóbicos. Talvez, enfim, seja essa mesma a dinâmica: na construção e reconstrução desses territórios, contatos e comunidades, a diversidade se afirme no movimento e no que nele e dele permanece.
A CENA MÚLTIPLA
O estrangeiro de que fala Kristeva, quando pensa na “comunidade paradoxal” que está por vir, é um dos habitantes da metrópole contemporânea. Viver nesse ambiente é conviver com o próprio descentramento, do qual não há como escapar, mas com certeza, se pode falsear, disfarçar, tentar evitar. Afinal, esse conflito que Simmel também detecta entre formas antagônicas de individualização impõe e pressupõe a problematização da identidade ao percebê-la como um desafio constante e imperativo. Na metrópole contemporânea, são tantas as referências, é tão grande o mundo e são tantas as formas de apreendê-lo, que qualquer tentativa de uma cristalização se torna um exercício de fé, crença, ficção. Num mundo em movimento(s), o eu se fragmenta e o amalgamento desses cacos exige um “projeto reflexivo” constante. A sexualidade que, a princípio, poderia servir como um norte, tal sua pressuposta ligação com a verdade individual, também se mostra um terreno escorregadio, impreciso, um outro espaço para a dúvida e a interrogação. Vistas de perto, mesmo identidades sexuais aparentemente estabilizadas, como a do “homossexual”, se revelam circunscritas a um conjunto de relações históricas e culturais e não como constantes atemporais. O indivíduo fragmentado diante do outro que o habita e do fim das utopias modernas é o tema de uma série de textos acadêmicos de maior e menor fôlego, em diversas áreas. Porém, um outro tipo de texto, de uma outra especificidade, parece intimamente ligado a essa construção do mundo, numa radicalidade que inclusive o leva a por em questão os seus próprios limites, se situando, mesmo, coerentemente, numa espécie de entre-lugar. Trata-se da literatura contemporânea, em especial da narrativa urbana que se desenvolve na segunda metade do século em vários países ocidentais, como nos Estados Unidos com William Burroughs, por exemplo, entre vários outros; na França com, por exemplo, Ciril Collard; e no Brasil com a geração de contistas dos anos 70, entre outros. Trata-se portanto, da literatura na qual se inclui o conjunto de contos do escritor Caio Fernando Abreu, publicados em cinco livros entre 1970 e 1988. Antes de abordá-lo, contudo, é importante recuperar um conceito fundamental: o de “documento”, tal como o pensou Michel Foucault (1979). O conceito se baseia numa nova relação com a história e desta com as fontes que utiliza. Aqui, ele é tomado de empréstimo para servir de baliza, como uma elaboração da relação texto/contexto tal qual é vista aqui. Não se trata de perceber, como já foi feito, a configuração de uma época no texto, reduzindo-o a um espelho (quase) indiferente, e, sim, da visão de que o texto é história, ao mesmo tempo em que se inscreve, é escrito e escreve a história. O “documento” de que fala Foucault é aquele que resulta de uma concepção de história em que esta não é simplesmente uma “memória” que buscava nas fontes o “frescor” de algumas lembranças; é, sim, o trabalho com todo esse material que permanece, que existe sempre em qualquer sociedade. Em outras palavras: a história em sua forma tradicional se dispunha memorizar os monumentos do passado, transformando-os em documentos e fazer falarem estes rastros que, por si mesmos, raramente são verbais ou que dizem em silêncio coisa diversa do que dizem; em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tenta reconhecer o que tinham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter- relacionados, organizados em conjuntos (1979: 8).
Trabalhado enquanto documento, tal como o concebe Foucault, o texto se torna um rico material que pode, e deve ser recortado, reorganizado, burilado, fazendo com que venham à tona não só as brechas e hiatos de sua tessitura interna, como também as fissuras e interrogações inerentes à sua condição de estar-no- mundo. A literatura, por sua vez, como diz Luiz Costa Lima (1991), é um “correlato objetivo” à visão do mundo cristalizada na persona, conferindo uma organização outra a um estado de coisas, se revela um texto indócil à intromissão de um outro discurso em seus domínios. Mesmo porque, ela, no mundo industrial e pós- industrial, tem a amplitude de uma instituição,3 que envolve um modo de produção, de consumo, de inserção ideológica, econômica e política no cotidiano da sociedade. É exatamente por isso que a palavra “monumento” se faz presente neste trabalho. A literatura, tratada com o devido respeito à sua especificidade, dialoga com o mundo: inscrita na escrita da história, a literatura é prenhe de histórias. É com esse pensamento que se aborda o conjunto de cinco livros de contos publicados por Caio Fernando Abreu. Composto por um vasto número de histórias de tamanho variável, mas sempre curtas, esse conjunto, a princípio, constituiria uma espécie de amontoado de retalhos dispersos e sem ligação entre si. No entanto, esse é um dos pontos cruciais que caracterizam essa obra: 3. Utiliza-se aqui o termo instituição tal como o faz a sociologia da literatura e, em especial. Pierre Bourdieu e Jacques Dubois, retomados por Paulino, 1990.
Há entre eles uma coerência, uma espécie de organicidade manifesta em recorrências e movimentos que unem os fragmentos que a compõem, levando a pensar num texto que se formaria a partir de vários outros. Sendo o objetivo trabalhar especificamente com a equação metrópole/identidade/sexualidade que se encontra em tal texto, julga-se importante uma espécie de elaboração de suas características gerais, em diversos aspectos. Este percurso será feito com base em duas hipóteses. A primeira delas foi apresentada acima e supõe uma ligação entre os contos de forma a constituírem uma espécie de todo — multiforme, irregular — em duas dimensões: o livro e o conjunto dos cinco livros. A segunda hipótese coloca esse texto, no seu todo e em suas partes, sob o signo do estranhamento formal e temático, como se um deslocamento recorrente propiciasse a formação da própria identidade da obra. Em cada livro dos abordados aqui, um grande número de historietas, aparentemente independentes umas das outras. No entanto, tais contos estão reunidos em partes, ajuntados em grupos no interior de cada livro. Tal divisão sugere, ela mesma, uma ligação entre os textos. Mais do que isso, cada livro apresenta uma espécie de lógica, um propósito, um projeto que se delineia a partir do seu título, invariavelmente extraído do último conto. Assim o é em Inventário do irremediável, composto por narrativas que raramente ultrapassam cinco páginas e dividido em cinco inventários menores: “do amor”, “da morte”, “da solidão”, “do espanto”, cada qual com vários contos; e o “do irremediável”, que é ao mesmo tempo o último “capítulo” e o último texto. O ovo apunhalado é dividido em três partes, nomeadas como se fossem estrelas de uma constelação: “alfa”, “beta” e “gama”. Pedras de Calcutá é, de todos, o mais aparentemente descosido. Seus contos estão divididos em dois grupos, chamados simplesmente de “parte 1” e “parte II”.
A percepção de uma organicidade interna é reforçada, porém, por Morangos mofados. Composto por “o mofo”, “os morangos” e “morangos mofados” — este último um conto dividido em movimentos, como uma sinfonia — é clara aqui a idéia de um processo de fusão, ou, no sentido contrário, de desconstrução de uma imagem, que aliás nomeia a coletânea e as seções que a compõem.
Por outro lado, Os dragões não conhecem o paraíso seria a negativa dessa impressão. Afinal, são treze contos dispostos isoladamente, sem formar nenhum grupo. No entanto, a epígrafe que abre o livro sugere o contrário: Se o leitor quiser, este pode ser um livro de contos. Um livro de treze histórias independentes, girando sempre em torno de um mesmo tema: amor [...] Mas se o leitor também quiser, este pode ser uma espécie de romance-móbile. Um romance desmontável onde essas treze peças talvez possam completar-se, esclarecer-se, ampliar-se [...] para formarem uma espécie de todo. Aparentemente fragmentado mas, de algum modo — suponho — completo (Abreu: 1988). Uma leitora uma vez corroborou essa idéia, mas num outro momento. No prefácio de O ovo apunhalado, Lygia Fagundes Telles escreveu: Apontar este ou aquele conto ? Mas se vejo cada um dos textos [...] como peças de um jogo, destacáveis e curiosamente inseparáveis na sua alquimia mais profunda, cada qual trazendo sua parcela de realidade e sonho, rotina e poética magia — vida e desvida com seu mistério e sua revelação (1992: 14). Assim, o que seriam fragmentos isolados revelam também uma outra face: são parte de um corpo, um corpo por sua vez também quebrado e sem uma definição precisa, a primeira vista. Assim, o que seriam contos podem ser também momentos, trechos, partes, capítulos de um romance aberto, desossado, partido em sua estrutura clássica: um romance em ruínas. Quando, na epígrafe de Os dragões não conhecem o paraíso, é chamada a participação do leitor na própria definição do livro, expõe-se à vista de todos o caráter dialético da obra literária, tal como o concebe, por exemplo, Blanchot (1988). Abdica-se, desta forma, à atitude autoritária do autor, que se submete ao texto e este à ação do leitor. Os três atores se integram para a constituição de um todo, efêmero em grande medida. Está-se diante de uma descentralização: não há protagonista nesse embate, ainda que o texto faça a ligação entre os outros dois participantes. A obra, então, é esvaziada enquanto um todo fechado, deixa de ser algo determinado a priori e adquire uma forma no e para o ato de leitura. Autor e leitor estão colocados numa relação de alteridade e também de complementaridade, na qual o texto é ao mesmo tempo o ponto de encontro e o espaço do estranhamento. Estranhamento este que é sentido na própria célula que compõe esse corpo textual. O conto, que seria de se esperar, conteria uma narrativa coerente, curta, com princípio, meio e fim, nem sempre é encontrado com tais características nos cinco livros. Quando isso acontece, como, por exemplo, em “Sargento Garcia”, de Morangos mofados e “Pequeno Monstro”, de Os dragões não conhecem o paraíso, está-se diante de personagens que se estranham e que estão deslocados no mundo. Existem, então, dois níveis de estranhamento: um, formal, referente a uma elaboração específica da linguagem e dos elementos próprios da narrativa, em especial da narrativa curta, e outro, temático, que se delineia nas personagens descentradas do mundo e de si mesmas. Cada uma dessas dimensões apresenta suas variações. O indivíduo deslocado, que povoa todos os fragmentos, é com certeza a grande personagem dessa obra. Ele é apresentado, nos contos, associado a alguns elementos recorrentes como loucura, drogas, o desejo e o sonho — vividos de forma algumas vezes excessiva — e também à figura do estrangeiro. No conto “O afogado”, de O ovo apunhalado, por exemplo, narra-se, num ponto de vista próximo ao do protagonista, um médico, o conflito que este vive após o aparecimento de um homem desconhecido, quase morto, na praia da cidade de pescadores onde mora. O interessante, neste conto, é que o deslocamento é como que anunciado. O afogado precipita e expõe uma situação que é a do protagonista, ele mesmo um estrangeiro no lugar, incapaz de se integrar naquela comunidade. Entre ele e o outro que chega estabelece-se uma relação de identidade e de posse, causando a suspeita e a atitude agressiva por parte dos pescadores. No mesmo livro, o conto “Eles” apresenta uma situação semelhante. O “estrangeiro local” agora são dois, um menino e um adulto, outra vez habitantes de uma cidade pequenina. Desempenhando a mesma função do mar como o elemento que dá acesso aos “de fora”, um bosque é o local de encontro, em momentos diferentes, com extraterrestres muito especiais. Entre eles e os protagonistas, uma relação também de cumplicidade e identificação, como se os marcianos anunciassem algo que seria próprio dos outros. Às vezes, o descentramento irrompe, ainda que momentaneamente, em meio a uma rotina cotidiana, suspendendo e questionando uma realidade já sedimentada. É como acontece nos contos “Ai, o coração de Alzira” e “Amor e desamor”, do livro Inventário do irremediável. Em ambos, a narrativa é de um hiato, de uma pausa vivida pelas personagens em meio ao seu dia-a-dia. No primeiro, uma mulher que acorda mais cedo que o marido, num domingo de manhã, fica a fazer considerações sobre si mesma, tendo em foco sua solidão e a falta de comunicação com o companheiro, pondo em xeque as próprias escolhas. No segundo, no ônibus, outra mulher começa a desejar o homem que viaja a seu lado, entrando numa espiral de questionamentos e ansiedade. A loucura aparece tanto como uma realidade já dada aprioristicamente quanto como o resultado de um processo. Em “Uma história de borboletas”, de Pedras de Calcutá, um homem vê seu amante enlouquecido, tirando borboletas do corpo e, aos poucos, após o internamento daquele, passa a viver a mesma situação. Em “A outra voz”, de Os dragões não conhecem o paraíso, uma voz no telefone é a única ligação de alguém que está perdido em meio a seus próprios fantasmas, preso entre quatro paredes, sem comunicação, num lugar que lembra uma penitenciária ou um hospício. Mais do que casos episódicos, tais contos refletem uma constância; mais do que retratos sobre a loucura — ou o sonho, ou as drogas etc. — eles apresentam uma realidade suspensa, quebrada em sua veracidade, num estranhamento multiforme mas recorrente. Questiona-se constantemente o mundo em que se vive, mas não é só isso. Interroga-se, primeiro e primordialmente, o próprio eu, a partir de personagens que se situam á “margem” — ou se deslocam para lá. Os dois pólos (eu/mundo) interagem para uma reflexão constante sobre a existência. Nesse sentido, pode-se perceber algumas evoluções ao longo dos cinco livros. Se em Inventário do irremediável o mundo questionado é aquele que se poderia enquadrar no estereótipo “pequeno burguês-classe média”, em O ovo apunhalado opta-se por uma outra referência, as personagens vivem num mundo que não é aquele, habitam um lugar à sua margem. Nos outros livros, tal opção já é um fato com o qual se convive. Aos poucos, sai-se de um universo tradicional, interiorano em certa medida, para outro, fortemente urbano. É aqui que se inscreve o elemento histórico, geracional, que é associado aos contos.4 A crítica ao mundo burguês é feita, em O ovo apunhalado de forma mais clara, em nome de um ideário característico de uma época, os anos 60/70, a geração hippie. Em Inventário do irremediável, uma situação se repete com muita freqüência: o protagonista do conto, um adulto de meia- idade, com sua vida estabilizada, de repente interrompe sua rotina, questionando-se, e também ao mundo em que vive, num ato provisório ou de forma permanente. É o que acontece nos já citados contos, “Ai, o coração de Alzira” e “Amor e desamor”; em “Os cavalos brancos de Napoleão”, sobre a loucura que se apossa de um bem estabelecido advogado; em “Paixão segundo o entendimento”, sobre a fuga vivida durante uma masturbação; em “Fotografia”, sobre uma mulher e a sua espera do amor; em “Itinerário”, com um homem num parque diante das várias perspectivas de se perceber no mundo; em “Invento e desinvento, amor e desamor”, sobre um momento de solidão de um casal; em “Amor”, sobre o descompasso entre as ações e os pensamentos de um chefe de escritório; em “Madrugada”, quando dois homens adultos se encontram solitários e bêbados; em “Metais alcalinos”, sobre o desejo que irrompe num professor; também em “Verbo 4 como o faz Sussekind, 1985 e Hohlfeldt, 1981, entre outros.
Transitivo direto”, sobre uma professora e sua falta de amor; e em “Atalho das sombras”, quando um papagaio expõe o tédio solitário de um homem e de uma mulher casados. Ao lado desses contos, outros remetem a uma busca de entendimento, de localização, de horizonte no mundo. Os protagonistas são quase sempre homens, solitários e de idade indefinida, presumivelmente jovens. É o caso de “Corujas”, “O ovo”, “O mais longe que eu vejo”, “Aniversário” e “Ponto de fuga”, entre outros. No livro O ovo apunhalado, o questionamento desse universo “classe-média” já é feito em nome de um outro mundo, mais definido, composto não por sensações, imagens imprecisas ou objetos inanimados. É o caso dos contos “Retratos” e “Noções de Irene”. No primeiro, um solitário funcionário de escritório, de meia-idade, morador de um condomínio conservador, se depara com um jovem hippie, que lhe faz retratos, um em cada dia da semana. Através das imagens feias que vê nos desenhos e do contato com o outro, o protagonista se inquieta, interrogando-se. No segundo, um senhor de meia-idade é abandonado pela esposa, Irene, que o troca por outro jovem hippie. O conto traz o encontro dos dois homens, descrevendo o contraste entre eles e o desconforto e a sensação de perda do ex-marido. Nesse livro, há dois outros contos, “Ascensão e queda de Robbéa, manequim & robô” e “A margarida enlatada”, que fazem, de forma rara e explícita, uma crítica irônica à sociedade de consumo. A imagem mais forte deste livro — sua personagem mais constante — é o estrangeiro, aquele que traz em si a marca de outro lugar, de uma outra terra, seja ele um anjo, um afogado ou marciano. Em Pedras de Calcutá, por sua vez, esse outro mundo já tem um rosto, um desenho, mesmo que fragmentado, como deixa ver, por exemplo, o conto “Garopaba, mon amour”. Nele, uma personagem é torturada, ouvindo as acusações de ser diferente (drogas, homossexualidade) e buscando uma válvula de escape no delírio em que se misturam referências literárias, lugares exóticos e viagens (“sleeping-bag, tênis e jeans estendidos sobre a grama”), tudo ao som de Simpathy for the Devil, dos Rolling Stones. Muito do estranhamento (do eu, do mundo) presente nos livros, está ligado a uma opção de vida, à escolha de um mundo outro, marginal, alternativo. No entanto, é bom frisar que esse estranhamento remete primeiro ao eu e depois ao mundo. A perspectiva é predominantemente existencial, questiona-se a própria constituição de si, o que é a realidade, a vida, o estar-no-mundo. A esse eu descentrado que emerge nos/dos contos, corresponde uma realidade fortemente dependente do olhar que se dirige a ela, numa quebra que extrapola a dimensão temática e chega à dimensão formal. Na verdade, pode-se entrever nesse recurso ao delírio, à loucura, no registro do descentramento e da estranheza, o projeto literário que dá identidade à obra, como entende Luiz Costa Lima (1982) tendo em vista apenas os livros O ovo apunhalado e Pedras de Calcutá. Para ele, tal projeto está baseado tanto num “duplo repúdio da realidade e da ficção documental”, quanto numa tentativa de registrar/incorporar/retrabalhar as fronteiras entre o delírio, a realidade e a literatura. Assim, essa obra “antes parece documentar a tentativa de implodir as vigas de aço do mundo sério, do que a êxito de monumentalizar seu desejado aniquilamento” (1982: 212). A abordagem literária da quebra da naturalidade do real resulta numa elaboração das próprias fronteiras do gênero ficcional, numa relação ambígua. Se chamar o real de absurdo é ainda uma forma de acatá-lo, a pura transmissão delirante do delírio é ainda uma forma de aceitar que o real está com os outros. Ou, vendo a questão por outro ângulo: “enlouquecer” a frase, a pretexto de fazê-la incorporar a “contra cultura”, não impede que se mantenha a normatividade e a alijada caretice da adversária. As fronteiras entre loucura e realidade só se tornam [neste caso] ficcionalmente fecundas quando já não se identifica a lucidez com a normalidade (1982: O projeto literário que se delineia nessa obra, então, abole tais fronteiras, ou, antes, reelabora-as constantemente e, assim, age
53
no sentido inverso: ao invés de perceber o delírio a partir do real, trata de perceber o real através do delírio. Diz Costa Lima, concluindo: a condição para incorporar a vivência da insegurança total e do total questionamento dos valores não consiste em imitar literariamente a experiência do desvario, mas em constituir uma lucidez que não veja o desvario de fora, mas que o tenha como um de seus possíveis produtos. Talvez, quem sabe, o mais nobre deles (1982: 214). A percepção desse projeto literário, de reelaboração de fronteiras, se pode fazer a partir das próprias características da narrativa que compõem os textos. Os contos, enquanto tais, estão distanciados do que poderia ser sua forma mais “tradicional” ou freqüente.5 Ao invés de centrarem sua atenção na apresentação de uma seqüência de fatos, no enredo, eles se atêm a descrições de estados emocionais ou existenciais das personagens. São como que mapas, quadros, retratos que expõem paisagens íntimas. Depara-se, então, com o que Walnice Galvão (1983) chama de “conto de atmosfera”, tido por essa autora como o menos “quantitativamente” representativo dentro da literatura brasileira. No entanto, apesar de menos freqüente, o “conto de atmosfera” é uma opção dentro da tradição moderna, tendo sido alvo de atenção de grandes escritores, como Clarice Lispector. As características que marcam a versão moderna dessa espécie de “subgênero” são percebidas assim por Benedito Nunes, ao abordar a obra daquela autora brasileira: Da obra de ficção de Clarice Lispector pode ser dito, para fixarmos o indispensável 5. Forma essa associada por Walnice Galvão (1980: 167-172) ao que ela chama de “conto de enredo”, com privilégio à apresentação de episódios e não à descrições de estados psicológicos ou de ambiente, a preocupação do “conto de atmosfera”.
ponto de referência histórico-literário, que ela recai na órbita da tradição moderna, concentrada na experiência interior, á qual pertencem Á la recherche du s perdu de Proust, Ulisses de Jamos Joyce e Mrs. Dalloway de Virginia Woolf... Assim, nos romances e contos da nossa escritora, a verdadeira ação é interna e nada ocorre independettemente da experiência subjetiva das personagens (1987: 273 - grifos meus). No caso específico dos contos de Caío Fernando Abreu, a “expressão subjetiva das personagens” está vinculada, como foi mostrado, a um lugar ideológico. específico no mundo ao qual pertencem ou frente ao qual são expostos, O compromisso com a subjetividade coloca o narrador freqüentemente em foco, assumindo a fala, em dois sentidos: ou ele é o protagonista— e, com isso, quase sempre realiza uma fala catática e poética sobre si; ou ele é solidário à(s) personagem(s) que espõe, às vezes cruelmente, numa espécie de ratificação de sua angútia interna. No entanto, mesmo quando em primeira pessoa, a narrativa apresenta um distanciamento autocrítico, auto-irônico. Apesar de próximo, o narrador preserva um espaço entre si e o que ele apresenta. Centrados no eu, na sua fratura contos são o palco de uma relação singular entre esses dois pólos, narrador/ personagens. Comprometido com a loucura, com o delírio, com a quebra do real e com uma outra versão do “normal”, o narrador não acena com julgamentos morais radicais com condenações inapeláveis. Ele é, sempre, em última instância, solidário. Mais que isso, ele confecciona e integra um universo que, mesmo impreciso, angustiado ou até, às vezes, claustro fóbico não é, em relação às personagens, sempre e apenas trágico, mas também “humorístico”, tal como o concebe C. F. de la Veja (1965}
Vega percebe o ser humano às voltas com sua condição “tediosa” — a inexorabilidade da morte, a inapreensão da verdade, a incapacidade de responder a questões básicas. Diante desse quadro, para ele existem três pontos de vista possíveis, o trágico, o humor e o cômico. Diante desta ou de outra situação conflitiva, cada uma dessas perspectivas envolve uma relação específica com a ordem das coisas e com as personagens que estão dela participando. O trágico pressupõe a conflito do ser humano como o embate entre o seu desejo de liberdade e uma “necessidade” — uma força contrária — que o submete, e contra a qual não se pode sublevar. A personagem trágica desconhece essa lei e luta contra o destino, fadada ao insucesso, O cômico pressupõe, da mesma forma, o fracasso do ser humano no seu emaranhar-se nas situações da vida. Porém, ao contrario do primeiro, esse destino é conhecido por todos, exceto por uma personagem que, assim, desempenha papel ridículo, de anti-herói, se tornando motivo de troça. A situação cômica envolve, portanto, indiferença, riso e distanciamento e uma condenação mais ou menos clara e definitiva à personagem patética. O humor, por sua vez, tal qual o cômico, tem como um de seus elementos o distanciamento. Mas, diferentemente daquele, não traz a indiferença ou qualquer julgamento, estabelece, sim, um jogo de relativizações: o humorista tem a virtude de ver as coisas pelo verso e pelo reverso, uma visão que lhe outorga o acesso a muitos segredos: a nobreza do ridículo e o ridículo do nobre, a humildade da vaidade e o orgulho da modéstia, a grandeza do pequeno e a pequenez do grande (1965: 61 — no original em espanhol). O humor, assim, é um ponto de vista que fornece “uma resposta com sentido a uma situação peculiar da vida [...] [é] uma forma sutil de sabedoria construída com todas as sutilezas da alma: compreensão, ironia, reconheciniento resignado dos limites, pudor sentimental, paciência, tolerância” (1965: 47 no original em espanhol). Enquanto o trágico exige e invoca a identificação do espectador, o cômico estabelece uma relação de distanciamento, indiferença e riso. Já o humor, por sua vez, reconhece a diferença, percebe o outro enquanto outro, mas, também, no fim das contas, como um igual. O humor envolve, assim, uma relação ambígua, relativizadora e, portanto, avessa a qualquer tipo de julgamento moral — solidária em última instância, pois vislumbra um reflexo do mesmo estatuto, humano, em todas as personagens, inclusive no próprio “humorista”. No universo dos contos de Caio Fernando Abreu, todas as personagens se angustiam, todas lidam com a sua própria fragilidade, mesmo que se situem dentro dessa ou daquela classe social, O distanciamento que neles se apresenta, entre o narrador e as personagens — mesmo quando o narrador é personagem — reflete um reconhecimento da relatividade das certezas e das situações, da mesma forma que o faz a própria fratura da realidade. A lucidez apontada anteriormente por Luiz Costa Lima, então, está ligada a uma reflexão sobre a condição humana e é ela, de fato, que arma o pano de fundo sobre o qual se estrutura essa obra. Distanciando-se de si ou da personagem da qual assume e ratifica a fala, o narrador relativiza o próprio texto no qual se escreve. A ficção é alvo de uma desnaturalização, a sua fronteira com o real é explorada através do recurso ao metatexto e à intertextualidade, Isso é perceptível não só na apropriação de trechos de letras de música e de outros produtos, tanto da cultura popular quando da erudita, como também na exposição de uma autoconsciência do narrador, que chama a participação do leitor, se dirigindo a um “você” que está além do conto ou que expõe o caráter aleatório da narrativa. Isso acontece, por exemplo, no conto “Os companheiros”, que se inicia assim: “Poderia começá-la assim — pigarreou & disse: diríamos que Ele apresentava-se ou revelava-se ou expressava-se (entregava-se ?) ou fosse lá o que fosse” (ABREU, 1982: 40). Ou em “À beira do mar aberto” de Os dragões não conhecem o paraíso, que começa e termina com linhas pontilhadas. Ou, ainda, “Mel & girassóis” também do livro Os dragões não conhecem o paraíso e “Aconteceu na Praça XV” de Pedras de Calcutá, que se iniciam, respectivamente, por “Como naquele conto de Cortázar” e “Como uma personagem de Tânia Fallace” (ABREU, 1988: 99 e 1977: 66). A ruptura com uma forma tradicional acontece também na apresentação gráfica do texto. A variação de tipos de letra, por exemplo, marca tempos e espaços diferentes na narrativa, que fraturam uma personagem, pois remetem a dimensões divergentes dela mesma, como em “Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga”, de Os dragões não conhecem o paraíso. Além desse, outros procedimentos menos corriqueiros são utilizados. Como em “O afogado” de O ovo apunhalado, quando as falas de duas personagens são colocadas em colunas, em paralelo, numa mesma página. Ou em “A verdadeira história/estória de Sally CanDance (and The Kids)” de Pedras de Calcutá, um texto permeado por quadros de múltipla escolha, letras e frases de tipos diferenciados. O texto, assim, se desnaturaliza, faz lembrar ao leitor que é uma peça de ficção, que é exatamente isso: texto. Em alguns contos, isso é levado a extremos, como no último citado. Há que se destacar também o recurso à metaficção. Para Fernando Arenas (1992), que aborda os contos de Morangos mofados, tal procedimento envolve um confrontar-se com a História, unindo, assim, a reflexão existencial com a literária: Eis assim que Caio Fernando oferece vários contos de corte metaficcional que incorporam um sujeito em processo de interrogação na história. A narrativa metaficcional ou autoconsciente é essencialmente aquela que problematiza a representação ficcional à medida que se escreve. É uma narrativa consciente do fato de ser uma criação artificial [...]. No caso de Caio Fernando Abreu, vários de seus contos são uma meditação acerca do estatuto ontológico do ser e do processo da escrita (ARENAS, 1992: 55).
Observa-se, então, um texto no entre-lugar, que se coloca numa posição limítrofe, em mais de um aspecto. Enquanto fragmento, sugere uma organicidade que faz com que os contos, juntos, possam constituir um romance-móbile; internamente, rompe com uma narrativa tradicional, se situando também no espaço entre esta e a descrição, entre o ensaio e a ficção. Eis, portanto, um texto do estranhamento: do eu, do mundo, da literatura, da própria palavra. Ao tender-se para um quadro, o conto dilui, às vezes ao extremo, sua trama, as ações deixando de ser o centro do texto. Por outro lado, pelo mesmo motivo, as personagens têm a brevidade dessa descrição, estão elas também fragmentadas. São poucas as informações que indicam sua clarificação, um seu delineamento mais preciso, que insinuam sua existência para além do instante abordado no conto. São poucas as personagens que têm nome, em todos os cinco livros. Quando os têm, muitas vezes eles são simbólicos, como em “Sargento Garcia” de Morangos mofados, cujos protagonistas são “Hermes” — ambíguo como o deus grego — e, ironicamente, o militar de nome igual à figura patética das histórias em quadrinhos. Outras vezes, as personagens são designadas por detalhes que as tipificam, barrando-lhes qualquer chance de profundidade, como “o de camisa xadrez”, “a médica curandeira”, “o ator bufão” e “o jornalista cartomante” do conto “Os companheiros”, daquele mesmo livro. Mesmo quando um nome é dado, isto simplesmente não significa muito, expõe apenas a distância existente entre aquele que fala e aquele que é falado, como em “Sapatinhos vermelhos” de Os dragões não conhecem o paraíso. Ainda que às vezes preservada, nos contos de estrutura mais convencional, a palavra é freqüentemente desnaturalizada, perdendo seu vínculo com uma realidade externa. Literalizada, poetizada, carregada de significação ou esvaziada de sentido, ela também se integra a esse universo de deslocamento e interrogação. Em contos como “Mel & girassóis” de Os dragões não conhecem o paraíso, e “Fotografias” de Morangos mofados, a palavra ganha peso, ambigüidade, ironia. Nos dois, está-se diante de descrições carregadas de referências, de estereótipos. No primeiro, um homem e uma mulher estão passando férias separadamente num balneário tropical. O conto narra o envolvimento dos dois, reforçando o caráter idílico do lugar e da situação. Ao mesmo tempo, a caracterização das personagens tipifica-as, transformando-as em figuras sem rosto, reforçando seu caráter de peça falsa, de máscara fantasiosa. Em “Fotografias”, oferece-se o retrato de duas mulheres, tomadas, a princípio, como opostas. Ambas são descritas, ou melhor, “se descrevem”, utilizando imagens que constituem estereótipos, extraídas de filmes de aventuras em lugares exóticos, literatura água com açúcar e clássicos românticos. Se, no primeiro conto, a descrição do lugar e do encontro do casal estimula uma leitura irônica da harmonia e da perfeita adequação em que se encontram, no segundo, as fotografias se revelam caricaturas e as personagens seriam tipos opostos que se aproximam quando rasgam a fantasia que constroem sobre si mesmas, expondo sua fratura: a espera de um grande amor. Já em contos como “Sem Ana, blues” de Os dragões não conhecem o paraíso, e “Transformações” de Morangos mofados, a palavra é utilizada para construir imagens e dar vazão a algo que não tem forma, propiciando um mergulho na falta. Referindo-se a algo que não pode ser dito, que lhe escapa, a palavra, nesse caso, recobre algo indefmível e esvazia-se.
Dito de outra forma, isto significa que, ao buscar a apresentação de paisagens íntimas, de cunho existencial, o texto faz com que a palavra que o constitui remeta a algo que está além dela, fora de seu alcance. Perdendo ou adquirindo peso, “significado”, ela se torna imagem imprecisa, incerta, errante. É essa palavra que predomina nos contos abordados, é ela que fundamentalmente constitui esse texto, definido por Lygia Fagundes Telles como um texto “da emoção”, marcado por essa magia de encantador de serpentes que, despojado e limpo, vai tocando sua flauta e as pessoas vão se aproximando de todo aquele ritual aparentemente despojado e simples, mas terrível [...] onde as palavras se procuram no escuro e no silêncio como mãos que raramente (tão raramente, meu Deus) se encontram e se separam em meio do vazio (1992: 13).
A palavra “que se procura”, nessa obra, burilada, sustenta essa atmosfera “de encantador de serpentes” e constrói, então, o reino da sedução. Seduzir, por sua vez, segundo Jean Baudrillard (1992), é estabelecer um “jogo da ordem do signo”, um jogo de aparências, de superficie, que recusa a possibilidade de um sentido oculto. Na sedução, ao contrário, de alguma maneira é o manifesto, o discurso no que tem de mais “superficial” que se volta sobre a organização profunda (consciente ou inconsciente), para anulá-la e substituir seu encanto e a armadilha das aparências. Aparências não de todo frívolas, mas lugar de um jogo e de uma aposta, de uma paixão pelo desvio — seduzir os próprios signos é mais importante que a emergência de qualquer verdade (1992: 63-4). A palavra poetizada, carregada ou esvaziada de sentido, que alavanca o texto da obra de Caio Fernando Abreu é, desse ponto de vista, transformada em signo. Ou melhor, é trabalhada enquanto peça de ourivesaria, ao mesmo tempo alegórica — remetendo-se a algo inalcançável, impreciso, que está além do conto — e sígnica. Retomando o exemplo de “Mel & girassóis”, percebe-se que sua atmosfera idílica é construída através de descrições que assumem e incorporam clichês advindos da indústria de entretenimento, às vezes hiperbolizando-os. Ao mesmo tempo, numa linguagem muito próxima do coloquial, de grande oralidade, contribui decisivamente para essa aparência inofensiva de mais uma história de amor. Como se vê neste trecho: “e ficaram os dois se olhando, completamente molhados, direto nos olhos, quase meio-dia de sol abrasador, verão a mil. Você sabe, susto de onça, de leopardo, nesse olhar que, além dele ou dela, só abarcava o mar imenso” (ABREU, 1988: 100 — grifos meus). O recurso à metaficção se encaixa perfeitamente nessa tmosfera água com açúcar. O texto, consciente da atuação do leitor, aparentemente renuncia à estratégia de ocultar-se enquanto
61
criação artificial. No entanto, ao “desnaturalizar-se” como ficção, o texto se “naturaliza” como texto, se aproximando de um conjunto de outros textos que circulam no mundo real e, com isso, parece dizer ao leitor que é algo, sim, “natural”, comum, conhecido, pouco perigoso, próximo. Essa impressão é completa com as referências, às vezes discretas, às vezes mais explícitas, a elementos cotidianos, pequenas partes banais do mundo “real” que são incorporados aos contos. Tais referências — citações de outros textos, indicação de lugares, gestos, objetos comuns — estão soltas, jogadas aqui e ali, não integram um rosto definido, podem ser de todo mundo. Assim, os recursos meta e intertextual, e também o metaficcional, são trabalhados literariamente. Ou seja, a aparente “desnaturalização” do texto concorre para seu jogo literário de se propor elemento “natural”, que se integra organicamente ao mundo real. Esse jogo de aparências, que possibilita uma atmosfera sedutora, esse jogo de sedução, enfim, é profundamente coerente com o projeto literário que perpassa os contos e que se revela uma tessitura coerente e perene. Se, de acordo com Luiz Costa Lima (1982), o objetivo é “implodir as vigas de aço do mundo sério”, um “enlouquecimento” da realidade, então, terror, loucura, sonho, angústia e delírio se incorporam a um texto sedutor que, ao mostrar-se próximo do real e distante da artificialidade, sugere-se como um “espelho” deste. Estabelece-se, com isso, um jogo de enganos que, se por um lado, esgota-se em si mesmo, por outro, resulta numa quebra de expectativa que muitas vezes lança o leitor num terreno baldio, deixa o seu olhar atônito, o aproxima da fratura e do estranhamento. A equação está, assim, completa. As personagens sem nome, tipificadas, a restrição do enredo em favorecimento às paisagens íntimas, os recursos metaficcional e inter/metatextual, o universo solidário, “humorístico”, a atenção à loucura, ao sonho, às drogas, o deslocamento sempre presente, tudo isso são elementos que exercitam, ampliam, (re)elaboram o caráter de “via oblíqua” da literatura. E, ao mesmo tempo, por isso mesmo, põem em xeque a “naturalidade” do real, afirmam a possibilidade de mundos e realidades também oblíquos. A literatura da fragmentação e do descentramento concorre para um mundo também fragmentado e descentrado.
Daí a atmosfera de “encantador de serpentes” e a poética magia. É preciso que o leitor perca a sua noção de verdade do texto, do mundo, e que ele compartilhe, ainda que por alguns instantes, do ritual do texto “marginal”, que seja cúmplice nessa vertigem. Daí a necessidade de seduzi-lo. E de traí-lo. Para Baudrillard, a lógica da sedução é a do desprendimento do real através do próprio excesso das aparências do real. Os objetos ai se parecem muito com o que são, essa semelhança é como um segundo estado, e seu relevo, através dessa semelhança alegórica, através da luz diagonal, é o da ironia do excesso de realidade (1992: 73). Assim, “eu serei seu espelho’ significa não ‘serei seu reflexo’ mas ‘serei seu engano’. Seduzir é morrer como realidade e produzir-se como engano” (1992: 75). Ao fazer isso, a sedução indica a existência — ou pelo menos a possibilidade — de um segredo, um segredo, porém, que nada revela, que tem sua raiz no próprio engano. Portanto, “ser seduzido é ser desviado de sua verdade. Seduzir é desviar os outros de sua verdade. Essa verdade, a partir de então, forma um segredo que lhes escapa” (1992: 92). Sendo um jogo com o real, com os signos, com o outro, a sedução também é uma paixão que “não tem substância nem origem”, é a paixão “da pura forma do jogo e do lance puramente formal” (1992: 93). Por isso mesmo, a sedução não tem fim. A sua lei “é primeiro de uma troca ininterrupta, de um lance maior onde os jogos nunca são feitos, de quem seduz e de quem é seduzido e, em virtude disso, a linha divisória que definiria a vitória de um e a vitória de outro é ilegível” (1992: 29). Quando o texto se arma para trair o leitor, portanto, ele o faz para desviá-lo de sua verdade. Acena, então, com um segredo, com uma outra verdade que não se revela, que se apresenta. Essa ausência deixa o leitor só, com o texto, com seu próprio olhar, diante de um engano, de seu próprio engano. O narrador da loucura, do sonho, da inquietude existencial, assim, seduz o leitor e o coloca em trânsito por meio de um ritual, literário, que se esgota em si mesmo. O leitor se torna o companheiro de viagem do narrador e um e outro se colocam em relação de alteridade, se encontram e se perdem no mesmo jogo, no mesmo espaço. Mesmo porque: Há algo de impessoal em todo o processo de sedução, assim como em todo o crime: algo ritual, supra-subjetivo e supra-sensual de que a experiência vivida, tanto do sedutor quanto da sua vítima, é apenas o reflexo inconsciente. Dramaturgia sem sujeito. Exercício ritual da forma em que os sujeitos se consomem (1992: 114). O engano a que se submete o leitor, porém, não está restrito à ordem dos signos, das palavras e dos elementos que integram a narrativa. Ele, ao contrário, faz parte da própria narração. Dizendo de outra forma, neste texto sedutor a própria narrativa é traiçoeira, na medida em que acena com uma outra versão de si mesma, com uma outra possibilidade, em que se expõe, ela mesma como um artificio, como algo arbitrário e/ou aleatório, colocando-se sob suspeita. “A gravata”, de O ovo apunhalado, ilustra modelarmente essa característica. O conto narra como num frenesi a repentina e progressiva obsessão de um homem solitário, de vida mais ou menos estável, por uma gravata cara, muito acima de suas possibilidades de aquisição. Aquilo que seria uma hipérbole acerca do consumismo, a partir de um determinado momento revela uma outra dimensão, fazendo com que a obsessão e a gravata adquiram uma conotação metafórica, apenas insinuada, deixada incompleta. A emergência desse outro nível de leitura se dá nos momentos finais do texto, num longo parágrafo que descreve uma ação que se precipita, incontrolável, que nos chega através de uma imagem imprecisa. vaga, que se inicia assim: Todo enleado nesse pensamento, tomou-a entre os dedos de pontas arredondadas e colocou-a em volta do pescoço. Os dez dedos esmeraram em laçadas: segurou as duas pontas com extremo cuidado, cruzou a ponta esquerda com a direita, passou a direita por cima e introduziu a ponta entre um lado esquerdo e um direito. Abriu a porta do guarda-roupa, onde havia um espelho grande, olhou-se de corpo inteiro, as duas mãos atarefadas em meio às pontas do pano (Abreu, 1992: 30-1). O indivíduo que surge diante do espelho já se apresenta de forma descompassada (o corpo versus as duas mãos) e é essa fragmentação que se amplia. Uma vontade invade a personagem, tomando conta de suas ações e gerando outra imagem no espelho, que encerra o texto: Quando tentou gritar é que ergueu os olhos para o espelho e, antes de rodar sobre si mesmo para cair sobre o assoalho, ainda teve tempo de ver um homem de olhos esbugalhados, boca aberta, revelando obturações e falhas nos dentes, inúmeras rugas na testa, escassos cabelos despenteados, duas pontas de seda estrangeira movimentando-se feito cobras sobre o peito, uma das mãos cerradas com força e a outra estendida em direção ao espelho — como se pedisse socorro a qualquer coisa muito próxima mas inteiramente desconhecida (1992: 31 — grifos meus). O ser que aparece no espelho, ao mesmo tempo próximo e desconhecido, sugere sobre o que é essa outra história: o eu fragmentado, o outro que o habita. Uma dimensão que, neste caso, emerge associada a uma obsessão, obsessão pela gravata, o desejo pela gravata. A irrupção dessa outra possibilidade, presente em toda narrativa, tornada explícita de forma sutil, precipitando-se no final do conto, sugere a existência de uma outra história, de uma outra versão, de uma construção da realidade que, por sua vez, não é apresentada. É como se o narrador omitisse, propositadamente, informações sobre o que descreve, tirando partido da própria fragmentação da realidade e da personagem para indicar o que de arbitrário, parcial ou incompleto tem o texto. Mais do que isso, a narrativa se sugere alegórica, acena com a possibilidade de um duplo, de uma referência que não se alcança. Outro conto, “Rubrica”, de Pedras de Calcutá, oferece um exemplo diferente. A situação aqui é a de um fim de tarde tedioso, vivido por um rapaz jovem, sentado na escada que dá acesso ao seu apartamento, lendo um jornal, atormentado por uma menina faladora e por um pipoqueiro que anseia as guimbas dos cigarros que o outro fuma. O diálogo entre o rapaz e a menina é marcado pela ansiedade dela e pelo desinteresse dele, que a encara como um incômodo, inexorável a partir de um momento. Quando o conto caminha para o final a menina começa a falar de um circo que pertencera à sua família e que não existe mais. A falência do circo é apresentada no período do escurecimento da tarde, quando esta vira noite e é dada de forma categórica, como um fato irremediável, algo que não tem mais conserto. Quando acaba esse assunto, a menina vai embora, está muito escuro e termina o conto, deixando o protagonista com um sentimento de tristeza profunda. Num primeiro momento, essa história, banal, seria a do rapaz entediado. A ela, porém, adiciona-se uma segunda, que chega em forma fraturada através da menina. As duas narrativas estão (con)fundidas e também descompassadas, sendo que a segunda interfere, sugerindo-lhe significações, na primeira. Levado por esta, o leitor se vê diante de outra, incompleta, que desloca sua expectativa inicial. A sedução do texto atua no sentido de fazer a passagem de uma a outra ao mesmo tempo mais sutil e mais brutal. A personagem da menina exemplifica aqui o que Todorov (1979) chama de “homens-narrativa”. Estes seriam personagens especiais, que possibilitariam que duas narrativas distintas se encaixassem. Nesse caso, diz ele: A aparição de uma nova personagem ocasiona infalivelmente a interrupção da história precedente, para que uma nova história, a que explica “o eu estou aqui agora” da nova personagem, nos seja contada. Uma história segunda é englobada na primeira, esse procedimento se chama encaixe (1979: 123). No caso, a narrativa que explica o “eu estou aqui agora” é feita pela menina de forma fragmentada, incompleta e aparentemente aleatória. Essa nova história, porém, afeta decisivamente a primeira. Diz Todorov que essa narrativa, a “encaixante”, se torna a “narrativa de uma narrativa” (1979: 126). No entanto, a forma inconclusa, aparentemente banal, da narrativa “encaixada” acena com a incompreensão desse papel da primeira história e, com isso, preserva e reforça a dimensão alegórica do texto. As duas histórias remetem, conjuntamente, a algo que não está ali, que não é alcançável pelo leitor. “Rubrica”, da mesma forma, em consonância com esse impulso alegórico, exemplifica também o diálogo entre os contos de um mesmo livro. A imagem do circo, apresentada de forma descosida e aparentemente acidental, adquire um peso maior quando se alcança o conto “Recuerdos dc Ipacaray”, na Parte II de Pedras de Calcutá. Neste, uma narrativa de enredo, com uma atmosfera rara, de ingênua harmonia. A história é a de um garoto cujo melhor amigo resolve fugir com o circo que está na cidade pequena onde vivem. Fã de quadrinhos, fotonovelas e cinema, o menino leva um choque ao encontrar o companheiro fumando, ao lado da bela trapezista, falando em ir embora às escondidas. O plano falha, mas o amigo é reencontrado cheio de dor — dor de amor — e utilizando um vocabulário “adulto”, tirado de folhetins: “Mulher nefasta, me apunhalando cobardemente pelas espáduas... Tu é muito jovem para entender a minha desdita” (1977: 83). Mais do que a narrativa de uma aventura frustrada da infância, o conto traz um ritual de passagem da infância para a adolescência, de um cotidiano de desejo difuso para o do desejo sexual. A cumplicidade do protagonista com seu amigo promove a sua própria transformação. O circo, que vai embora, leva com ele os sonhos e as fantasias da infância. A crença da vinda de uma outra trupe, no próximo ano, trazendo o mesmo impacto, não surte efeito no amigo e se esvazia no amadurecimento da personagem, como deixa ver o final do conto:
Mas ele me olhou torto e antes de bater a porta repetiu que era muito tarde, que agora era tarde demais. Eu abri o almanaque do Super-man, tentei ler mas não consegui. Naquela tarde eu tava achando a Mírian Lane, o Perry White e o Jimmy Olsen bestas demais por não descobrirem nunca que o Clark Kent era o Super-homem (ABREU, 1977: 84).
Diante desse conto, o anterior, “Rubrica”, adquire um significado inesperado, O circo se transforma numa metáfora da infância e de sua ingenuidade. A sua falência, então, passa a traduzir o fim, desolador diga-se, de um mundo crédulo que não existe ou que não é mais possível. A infância se funde à cidade pequena e ambas são como que mundos perdidos. “Rubrica”, nesse sentido, sintetiza um dos movimentos que caracteriza essa obra: à ausência irrecuperável daquela ingenuidade — detectável nos poucos contos que abordam a vida de crianças em lugares interioranos — se impõe a noite e a metrópole, lugar de gente grande, de seu trânsito, do movimento contínuo, de seus problemas, das suas angústias. A dimensão alegórica que se apresenta nessa obra indica, também, que um duplo possível de cada texto é um outro conto, um outro de seus momentos. Assim como o circo, outras imagens, situações e referências permanecem, modificando-se, em vários contos, de um livro para o outro. A relação entre esses dois contos, “Rubrica” e “Recuerdos de Ipacaray”, que ao mesmo tempo que são independentes, se complementam, dialogando entre si, revela um indício da coerência interna dos livros e mesmo a possibilidade de se traçar um percurso, de um volume a outro. Levando adiante essa perspectiva, pode-se perceber o conjunto dos cinco livros e seus vários contos como um delicado estudo sobre o trânsito, sobre o destino. Não por acaso, o volume que o inicia chama-se Inventário do irremediável.6 Na outra 6. Na revisão feita, nos anos 90, Caio Fernando Abreu acentuou a idéia de destino já contida no título, ao escrevê-lo: Inventário do Ir-remediável ponta, um volume elaborado sob o signo dos dragões, que vem a ser um dos simbolos para destino. Inventário do irremediável reúne 33 contos, agrupados em quatro inventários menores: da morte, da solidão, do espanto e do amor. Um último conto encerra a coletânea e lhe empresta o nome. Os textos aqui são curtos, raramente ultrapassam cinco páginas. De todos, este é o livro mais fragmentado. A investigação do eu e seu embate com os próprios limites, vividos em paralelo com o questionamento do mundo e o confrontamento com suas forças, permeia todo este livro. Uma imagem recorrente em todos os contos é a vidraça, não por acaso algo em que o eu se reflete e contra o qual ele se bate. Sob a forma de espelho, janela ou parede de vidro, a vidraça devolve ao olhar um contorno, expõe seus limites. Assim como a vidraça, outra imagem recorrente é a do horizonte, sintetizando uma busca de um entendimento, de uma localização no/do mundo. Anseia-se por estar no mundo, que este tenha uma forma, que se realize. É nesse sentido que o inventário do irremediável se revela um mapa, um mapa do eu, do mundo, da espera pelo que virá depois. Com isso, “Horizonte” pode ser colocado numa série sinonímica com “Destino”, que, porém, é um termo suficientemente impreciso e vago para ser utilizado de forma esclarecedora. Hubert Lepargneur (1989) percebe o seu domínio semântico constituído pela confluência de vários discursos, que lhe oferecem similares, variações e componentes nem sempre convergentes. É o caso de sorte, azar, providência, karma, fatalidade, vocação, missão, acaso, entre outros. Trabalhando com o discurso teológico, mas também com a filosofia, a história, a psicanálise e a literatura, Lepargneur se propõe a fazer uma investigação acerca do destino, tendo como perspectiva sua existência no cotidiano moderno e contemporâneo, e construindo, por sua vez, um discurso que se situa no limite de vários outros. Por mais vago e inoportuno que seja, atesta Lepargneur, o destino ainda se faz presente no dia-a-dia das pessoas. Segundo ele, a modernidade — e o pensamento cartesiano — operou uma transformação no domínio do conceito, herdado tanto da antigüidade clássica quanto do pensamento cristão do medievo.
Em resumo, o antigo Destino [medieval, clássico] se decompôs em componentes positivos (o mundo que é totalmente bom e belo, o dinamismo prometedor da sociedade feliz nesta terra) [...] e em componentes negativos (pequenas culpas individuais, mas sobretudo os enormes pecados “dos outros”, imperdoáveis culpas coletivas, injustiças das estruturas e, talvez, acasos azarosos, para completar a perfeita contagem). Assim, o destino sumiu, mas reaviveu-se sob novos disfarces (1989: 61). Tais disfarces são os conceitos correlatos, como os já citados, que remetem ao destino sem exatamente nomeá-lo e que têm sua gênese em discursos diferentes. Desta forma, no mundo de hoje, “o destino é um conceito ambíguo, para designar precisamente uma realidade que pouco conhecemos, que nos escapa na sua intencionalidade ou falta de significação” (1989: 49). Nesse sentido, “o destino é apenas realidade” (1989: 108). E “a relação com o destino é antes de tudo uma dialética com o Outro, o Desconhecido, ora no mundo, ora na História, ora em si mesma” (1989: 50). O embate com o que não se conhece, com o que não se consegue apreender do mundo, ainda legitimaria um confronto do indivíduo com uma vontade superior, com um determinismo vago e impreciso. Para este autor, a existência ou não dessa ordem apriorística das coisas, maior que a vontade pessoal de alguém, não pode ser respondida cientificamente. Mesmo porque, a própria intuição do destino constitui uma experiência primordial, da psique profunda, irracional, pré-ideologizada, superando e abraçando as culturas (1989: 53 — grifo meu).
Porém, muitos orientais e não poucos ocidentais interpretam a transcorrência não como fruto cego do acaso, nem como expressão de uma vontade definida — arbitrária ou amorosa de um ser superior mas como decorrência do sistema de leis fixas que governam a natureza e, até certo ponto, a história (1989: 49). É assim que se desenvolve, para esse autor, a equação destino-realidade, e é da mesma forma que o relacionar-se com o destino é relacionar-se com o outro, com o mundo, com o que é real. Por isso, o mistério do destino não resiste tanto no imprevisto de seus episódios heterogêneos, quanto na convicção que cultuamos, segundo a qual o conjunto deve formar uma unidade capaz de sustentar um sentido global [...] O destino [portanto] traria a chave da unificação de uma existência no tempo (1989: 50-1). Refletir sobre a realidade, conseqüentemente, significa pôr “em questão o mais profundo daquilo que consideramos nossa identidade, a par com o sentido de nossa viagem” (1989: 89). Numa definição mais complexa da experiência do Destino, no mundo contemporâneo ocidental, Lepargneur oferece a seguinte síntese: Destino ecoa primeiro de uma interrogação do indivíduo sobre o sentido de sua existência e trajetória. A dimensão mistérica, simbólica e transcendente é óbvia: caminho religioso. E, segundo lugar, o destino é atribuído ao grupo, à sociedade a que pertence o indivíduo, ao clã ontem à humanidade amanhã. Se a primeira embasa a percepção mística de transcendência pessoal, esta segunda etapa desempenha papel de relevância na autoformação e conscientização de qualquer comunidade que seja [...] Esta segunda etapa socializa a intuição do destino individual,: promove a pessoa dentro do contexto de outras pessoas, porque cada um tem seu destino, e todas juntas participam do mesmo destino. Ele emerge como hipóstase que domina os contextos naturais, cósmicos e as formações sociais; esta seria a base de uma configuração mítica ou religiosa do destino (1989: 111 —grifo meu). É preciso deixar claro que esse autor diferencia mito e religião de forma que esta aparece como uma instância segunda, que amplia a primeira dando-lhe organização (doutrinária, moral, ética, ritualística etc.), preservando-lhe o caráter cosmogônico. O mito, assim, seria mais intuitivo e primário que a religião, e o caminho mítico não é necessariamente religioso, ainda que o segundo contenha o anterior. Diante desse conceito de destino, um inventário do irremediável se revela coerente com uma intuição de uma ordem superior, das “leis fixas que governam a natureza”, na medida em que se traduz numa investigação da realidade. Não uma simples realidade concreta, contextual, mas, também e principalmente, existencial, ficcional, textual. O mapa esboçado é uma tentativa de descobrir tais leis, é a busca de uma integração, ou pelo menos da visão dessa integração, numa ordem transcendente. Por outro lado, o destino não apenas designa um estado de coisas que não se apreende, dando-lhe sentido, mas também o justifica. Assim, o irremediável não é apenas detectado, mas também fundado. Ao se erigir um inventário, investiga-se um horizonte, estabelecem-se trânsitos, define-se um destino, fundamenta-se uma realidade.
O eu que se visualiza na vidraça é aquele que começa a ver seus contornos e que os interroga: será? Ele se encontra, então, dividido, em descompasso consigo mesmo e com o mundo. Esse hiato é um dos protagonistas do Inventário do irremediável, que pode também ser entendido como um compêndio habitado por seres que vivem essa fratura, personagens que, por sua vez, “ganham o mundo”, “vão em busca do destino”, nos volumes seguintes. Não por acaso, encontra-se em Os dragões não conhecem o paraíso um hexagrama chinês, extraído do 1 Ching — que é tanto um oráculo quanto um compêndio filosófico, O símbolo Ch ‘ien representa a origem de todas as coisas, reúne começo e fim. Isso reforça a certeza de um processo que une vida e morte, harmonia e desconforto, verdade e mentira. A importância dos dragões, por sua vez, encontra paralelo na astrologia, na qual o eixo do dragão é o do destino. A reflexão sobre os dragões, no fim das contas, revela-se uma reflexão sobre o destino, uma (nova) tentativa de apreender um sentido, uma ordem mítica para a realidade, a partir do ponto de vista do indivíduo, do eu. Os dragões, assim, metaforizam a vivência nesse ambiente incerto. Por um lado, são seres que “não conhecem o paraíso, onde tudo acontece perfeito e nada dói ou afaga, numa eterna monotonia de pacífica falsidade. Seu paraíso é o conflito, nunca a harmonia” (AB1u, 1988: 156). Nesse sentido, o dragão é sonho, ilusão, projeto; é uma forma do eu se estabilizar no mundo, ainda que não para sempre, por isso mesmo também é texto, puro texto, uma ordem (ou uma tentativa) de localização numa reelaboração de espaço e tempo; assim, também é ficção. E saída. Por ser o que são, é que os dragões não permanecem, os dragões são apenas a anunciação de si próprios, eles se escrevem eternamente, jamais estreiam. As cortinas não chegam a abrir para que entrem em cena. Eles se esboçam e se esfumaçam no ar, não se definem (Abreu, 1988: 155).
Sendo feitos de matéria ficcional, os dragões só adquirem concretude no texto, que mesmo assim os apresenta através dos seus vestígios. Para Clotilde Favalli, o dragão [...] é mais um símbolo dos excessos já frisados, “demônios” sufocados em uma sociedade voltada para as necessidades artificiais. Mas os dragões são ainda os marginais dessa sociedade, prostitutas, homossexuais, adolescentes, loucos, por vezes reencarnações daqueles heróis tensionados de que tanto fala a crítica marxista, em busca de valores autênticos em um mundo degradado (1988: 18). Nesse sentido, os dragões podem ser todas as personagens dos universos criados nos contos de Caio Fernando Abreu, todos eles estrangeiros, “marginais”. Da mesma forma, porém, podem ser um signo para o próprio fazer literário, para um exercício da “via oblíqua”, para a afirmação do estranhamento poético professado ao longo dos cinco volumes.
A CENA MÚLTIPLA
A ambigüidade dos dragões sintetiza uma ambivalência presente em toda a obra de Caio Fernando Abreu. A começar a pelo próprio jogo entre o todo que se forma a partir dos contos e dos livros que podem ser tomados separadamente. A oposição entre o que é efêmero e o que permanece, entre o fragmento e a unidade, encontra uma equação que, ao mesmo tempo em que a preserva, a ultrapassa, faz com que ela, de certa forma, perca o sentido. Ou seja, estabelece-se uma relação dialética entre os dois pólos de modo a organizá-los ao sabor do olhar que se dirige a eles, exercitando-se, com isso, o próprio estatuto do material em que é feito: o texto literário — construído, assim, como um espaço aberto ao passeio do leitor. O projeto literário que norteia essa obra pode, agora, ser apreendido de forma um pouco mais precisa. Na verdade, ele não se constitui de um conjunto de objetivos, propostas e estratégias coeso e constante. Ao contrário. Ele se constitui de forma reflexiva, a partir da permanência em meio a uma enorme diversidade, e no diálogo com o tempo — com o tempo da história, no qual está inscrito e que escreve, com o tempo subjetivo, íntimo, do eu e também com o tempo mítico que é interrogado em nome do entendimento da existência e da condição humana. Na definição de Luiz Costa Lima, mais do que a “absurdização” do real, o que é perene, ao longo dos cinco livros, é a constituição de uma lucidez que vê o mundo de dentro da insegurança e do questionamento totais. A busca dessa lucidez, do entendimento do que seja o estar-no-mundo, move essa obra, em cada momento sob um signo peculiar. Nesse sentido, pode-se dividir os cinco livros em dois grupos. No primeiro, composto por Inventário do irremediável, O ovo apunhalado e Pedras de Calcutá, a presença de um terror crescente, que explode sob a forma de um pesadelo claustrofóbico e que está intimamente ligado a um estranhamento que aparece sob formas variadas. Em Inventário do irremediável, a indefinição dos contornos do eu e do mundo é acompanhada por um deslocamento que irrompe de dentro para fora, imprecisamente, gerando um embrutecimento do eu, sempre à margem, sempre em desconforto. Em O ovo apunhalado, a saída lisérgica propicia uma quebra com uma conformação do mundo e também a identificação com os que vêm de — e que estão — “fora”, gerando o desterro inexorável das personagens. Em Pedras de Calcutá, o horror e a desterritorialização atingem seu ápice e parecem dominar os caminhos do eu a ponto de se transformarem em empecilho para seu movimento. No segundo momento dessa obra, composto por Morangos mofados e Os dragões não conhecem o paraíso, o terror é diluído e superado por um olhar individualista, que incorpora em si o estranhamento. A partir de então, valores ideológicos, comportamentos estigmatizados, tudo o que delimita o eu no mundo se circunscreve nele mesmo, em seu corpo, em sua angústia, em sua memória. Em Morangos mofados é feita a transição, inconclusa, de um momento a outro, através do recurso à sexualidade, pela crescente importância do outro, sob o signo dos morangos frescos. Em Os dragões não conhecem o paraíso, a solidão que toma conta das personagens não impede que alguma possibilidade de harmonia seja vislumbrada, ainda que seja através de suas várias e constantes (re)tessituras. Assim, os cinco livros se mostram coerentes e coesos não como um todo, estático, monolítico, mas como partes de um processo, com idas e vindas, no qual o que não se interrompe é o trânsito no/do tempo. Nesse sentido, é interessante notar as alterações que sofrem, de um livro a outro, algumas situações e metáforas, como indicaram alguns casos abordados anteriormente. Outros exemplos se seguem, agora. Em Morangos mofados, o conto “Fotografias” pode ser definido como a narrativa de duas esperas. As personagens Gladys e Liége, por trás das máscaras com que se apresentam, se aproximam na espera do príncipe encantado. Esse texto amplia e quebra a aparente naturalidade da situação narrada em “Fotografia”, de Inventário do irremediável. Neste, uma personagem, uma mulher, descreve a própria espera, num lugar público, do amor que não chega. O tempo dessa espera é como que congelado, dilatado até o limite do próprio texto. Enquanto que, aqui, tudo é um tanto contido, mas aparentemente verdadeiro, Gladys e Liége radicalizam essa expectativa e a transformam em um jogo de sedução. Através das imagens estereotipadas e opostas com que são apresentadas, tais personagens acrescentam amargura e ironia à espera e revelam seu aspecto farsesco e patético. O encontro de dois homens, bêbados, tarde da noite, em “Madrugada” de Inventário do irremediável, é repetido em “O rapaz mais triste do mundo” de Os dragões não conhecem o paraíso. Em ambos, uma relação de cumplicidade, acompanhada de um sutil erotismo é descrita, sendo que, no primeiro, as duas personagens têm a mesma idade e, no segundo, uma tem quase quarenta anos e a outra pouco mais de vinte. O diálogo entre esses dois contos adquire uma maior significação quando considera-se a possibilidade de haver, no segundo conto, não duas personagens, mas uma personagem em dois tempos diferentes. Esse conto é construído por meio de um narrador onisciente, ao mesmo tempo testemunha e é senhor do desenrolar da trama: ditando climas e gestos, ele aproxima o homem e o rapaz que se olham como que num espelho. Esse narrador dá uma atmosfera de sonho, de devaneio pessoal, como se estivesse imbuído de um sentimento nostálgico e de ajuste de contas com a sua trajetória. Assim, enquanto as personagens do primeiro conto olham o futuro, desta vez perscruta-se o passado. “Meio silêncio”, também de Inventário do irremediável, traz uma outra variante dessa mesma situação. Aqui, as personagens já se encontraram, são mais jovens e saem de casa para, juntos, namorando na mesma margem do rio, olharem o horizonte. Essa movimentação, esse ir para fora, acontece também em situações semelhantes dos contos “Caçada” e “Terça-feira gorda”. Nesses, o encontro dos dois homens se dá sob o signo do desejo sexual e não mais do compartilhar de uma solidão existencial. O outro é impreciso sob o olhar de uma das personagens, só é apreendido através de seu corpo fragmentado. “Caçada” tem como palco dos acontecimentos uma boate; “Terça- feira gorda”, um baile de carnaval; em ambos, as personagens estão com a percepção alterada por álcool e drogas; nos dois, elas saem em direção a um lugar deserto onde possam se amar; nos dois, seu ato é interrompido brutalmente por pessoas que surram os amantes. Enquanto que em “Caçada”, a narrativa é mais seca, prendendo-se à apresentação de uma situação de fim trágico, em “Terça-feira gorda” a oposição a que se assiste no primeiro (desejo versus repressão) adquire uma dimensão simbólica num texto que suspende a (sua) realidade, marcado por uma atmosfera de pesadelo. Se em “Meio silêncio”, as personagens encaravam silenciosa- mente seu destino, em “Caçada” este parece estar sob o signo da repressão, uma atmosfera que é hiperbolizada em “Terça-feira gorda”. No entanto, neste último, o pesadelo é algo a ser superado, como indica a localização do conto na seção “O mofo”. Em O ovo apunhalado, “O dia de ontem” elabora o limite — e sua relação — entre realidade e ficção, sonho e verdade, de forma muito próxima à de “Os dragões não conhecem o paraíso”. No entanto, isso é feito de forma menos explícita, estando a atenção do protagonista-narrador voltada na sua relação com o outro, o ser amado, também ele algo que precisa ser tecido. “Aconteceu na Praça XV”, de Pedras de Calcutá, traz dois amigos, um homem e uma mulher, que se encontram, bebem e se põem a conversar sobre a sua curta trajetória pessoal, lembrando do que foram, viveram, das escolhas que fizeram e das referências comuns num balanço melancólico mas um tanto suave, que opõe os sonhos que tiveram e a realidade que vivem. É exatamente a mesma situação de “Os sobreviventes”, de Morango mofados, com a diferença que, neste, o palco não é um bar, é a casa de uma das personagens; que, ao invés de um fim de tarde, agora a ação se dá a noite; e que, mais importante, a fala da mulher predomina, impondo um tom amargo e depressivo. “Dama da noite”, de Os dragões não conhecem o paraíso, radicaliza essa fala. Agora, a personagem feminina reina praticamente sozinha e seu desabafo está ainda mais amargo, irônico e desesperançado. A situação sofre ainda uma outra mudança: em vez de um companheiro de viagem, o outro, como em “O rapaz mais triste do mundo”, é um homem jovem e boa parte do estímulo da protagonista vem da possibilidade de poder agredi-lo e rir da sua inocência. Cada vez que essa situação é repetida, as personagens estão mais deprimidas, mais encharcadas de álcool, drogas e desilusões. O percurso percorrido está maior, também, mais complexo, mais profundo. Isto chama a atenção para um dado importante acerca dessa obra. Como nesses três contos, as suas personagens envelhecem. Por exemplo: em “Aconteceu na Praça XV” as personagens não têm ainda trinta anos; têm um pouco mais de trinta em “Os sobreviventes”; e em “Dama da noite”, a protagonista tem por volta de quarenta anos. Em Inventário do irremediável, ainda que a personagem de meia-idade seja a mais freqüente, outra também o habita, aquela jovem e sem nome. À medida que a primeira deixa de se fazer presente, esta segunda passa a imperar nos outros livros, e, curiosamente, envelhecem. Em O ovo apunhalado, elas têm vinte e poucos anos; em Pedras de Calcutá, um pouco menos de trinta; em Morangos mofados, passaram-se alguns anos; e em Os dragões não conhecem o paraíso, estão com quarenta anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. As personagens de meia-idade, nos três primeiros livros, habitam um mundo que é interrogado, posto em suspeita, e pouco e a pouco recusado categoricamente. Paralelamente, outra referência é escolhida, como já foi visto. O olhar que, ao ir “lá fora”, se toma tanto de lugar algum como de algum lugar, não afirma verdade alguma, não prega padrão algum. Muito pelo contrário, ele é todo interrogação, dúvida, curiosidade. E, aos poucos, se torna a afirmação da tolerância e da solidariedade. Na medida em que todas as verdades são ficções (mesmo o destino), qualquer um que creia em algo é vítima de uma ilusão, está preso a uma tentativa. E todas as tentativas são respeitas: “não tenho nada contra qualquer coisa que soe a: uma tentativa” (Ananu, 1980: 17), diz uma das personagens. O texto que se forma, no conjunto dos contos, portanto, é um texto do descentramento, do estranhamento do mundo, do eu, da vida, numa realidade em que tudo o que é sólido se desmancha no ar. Sendo a matéria primeira com que é feita essa obra, a preocupação existencial, possibilitando defini-la como uma reflexão, literária, ficcional, sobre o que vem a ser estar-no- mundo, é fundamental perceber que ela é feita “de fora”, por um olhar que se encontra “à margem”, que optou por ali estar. A relação de proximidade e distanciamento que caracteriza a forma de interação do estrangeiro é constituída pela escolha da inquietude, por uma opção existencial, mas também política, histórica, sexual, ideológica. Fernando Arenas (1992), pensando o universo de Morangos mofados, no qual já existe apenas esse outro lado, define seus habitantes, baseado no pensamento de Linda Hutcheon, como vozes “ex-cêntricas”, sendo voz ex-cêntrica aquela que “é tida como voz marginalizada e/ou minoritária quanto a classe social, raça, etnia, identidade sexual e/ou sexualidade face a um poder hegemônico, masculino, heterossexual, burguês” (1992: 25). É com certeza essa a voz dessas personagens que passam a predominar, num crescendo, os contos. Mais do que integrantes desse ou daquele grupo social, elas se enquadram em um ideário que se constituiu nos anos 60/70, num período de efervescência no qual se pregava “a valorização da marginalidade urbana, a liberação erótica, a experiência das drogas, a festa” (HOLLANDA, 1981: 68). No entanto: A marginalidade é tomada não como uma saída alternativa, mas no sentido de ameaça ao sistema; ela é valorizada exatamente como opção de violência, em suas possibilidades de agressão e transgressão. A contestação é assumida conscientemente. O uso de tóxicos, a bissexualidade, o comportamento descolonizado são vividos e sentidos como gestos perigosos, ilegais e, portanto, assumidos como contestação de caráter político (HOLLANDA, 1981: 68). Nesse sentido, os cinco livros e suas personagens que envelhecem, ao mesmo tempo que estão integrados nesse projeto, oferecem uma visão, de dentro, da sua evolução. Assistimos a um interrogar do mundo (Inventário do irremediável), a uma adoção desse projeto político e comportamental (O ovo apunhalado) e a um crescente avanço nesse caminho, que resulta na percepção das dificuldades de sua implementação (Pedras de Calcutá), do fim das utopias e da necessidade de um recomeço (Morangos mofados) e da sobrevivência na companhia de seus restos mortais (Os dragões não conhecem o paraíso). Isso, porém, não é tudo. Como já foi dito, uma preocupação anterior é que orienta todo o texto, uma investigação existencial que, por definição, está anterior à configuração da realidade, ainda que se alimente dela. À medida que as personagens envelhecem, elas se transformam e altera-se a sua percepção das relações, de si e do espaço em que se movem. Seu percurso passa pelo abandono de um mundo tradicional, centrado em vínculos e comportamentos preestabelecidos, típico de cidades pequenas, e a adoção de um mundo cada vez mais arraigadamente urbano. Da sensação de isolamento no mundo chega-se à convivência pacífica com a solidão inerente ao eu, ao fato de um ser um. A busca de laços, de raiz no espaço habitado resulta em um desenraizamento total, em um mundo ficcionalizado pelo excesso. Da procura pelo outro, pelo cúmplice, chega-se à valorização — e também à desmitificação — da relação amorosa. O mundo harmônico da infância dá lugar à harmonia em meio ao caos. De um olhar curioso, passa-se a um que delira, a outro de desespero, a outro que é triste e aprende a esperança e, finalmente, a outro tolerante e solidário. Nesse projeto, a estrutura das narrativas sofre alterações. Se, no ponto de partida, é todo ele fragmento, aos poucos se aglutina, se torna mais coeso. Aos 33 contos de Inventário do irremediável se contrapõe a simplicidade dos 13 de Os dragões não conhecem o paraíso. Isso, porém, esconde, mais uma vez, uma ambivalência, novamente coerente: tais textos, se são mais longos, são divididos em partes, fragmentados interiormente. A dialética que se desenha em toda a obra encontra aqui uma nova versão. Regina Zilberman (1989) percebe nesse momento uma ruptura que está ligada, em certo aspecto, a esse fôlego maior das narrativas e que apontaria para uma mudança de rumos no futuro. Cada livro, um estágio nesse percurso, pode ser entendido como um exercício, investigativo e delineador, de cartografia. Apreende-se uma existência que se altera, no texto, no tempo. Cada conto é um marco, um pedaço desse mapa. Sendo o Destino uma hipóstase, essa obra também é uma reflexão sobre si mesmo, sobre a matéria que o constitui, a ficção. Exercita-se, aqui, o seu estatuto de “correlato objetivo”, de “via oblíqua”, questionando as formas, estilos e técnicas através das quais ela é construída. A desconstrução que se processa, porém, é feita de dentro, no máximo alargando os limites que se supunha existir e ao mesmo tempo afirmando a pertinência dessa matéria como um todo que, por seu lado, não deixa de ter concretude, existência física. Nesse sentido, essa obra se enquadra no panorama traçado por Alfredo Bosi: Quando já não existe uma mitológica de base, perdidos ou estancados que foram as fontes de sabedoria tradicional, o espírito paira inquieto sobre as coisas e pessoas e, não sabendo que sentido lhes atribuir, faz da vida uma constante perplexidade (1974: Mais à frente, ele completa: A ficção introspectiva, cujos arrimos foram sempre a memória e a auto-análise, ainda resiste como pode à anomia e ao embrutecimento, saltando para universos míticos ou surreais, onde a palavra se debate e se dobra para resolver com suas próprias forças simbólicas os contrastes que a ameaçam (1974: 21-2). Assim, a loucura, as drogas, as realidades em suspensão que são freqüentes nos contos reafirmam também a própria necessidade da ficção. O texto desnaturaliza-se, se propõe sonho e desta forma se afirma enquanto delírio, tessitura. Por outro lado, o eu descentrado que o habita, diante do seu desenraizamento e do mundo ficcionalizado procura uma lógica superior, uma ordem cósmica que justifique esse estado de coisas. Só encontra o sonho. O mundo, o outro, a harmonia possível de se viver com o outro num espaço íntimo e pessoal em meio ao tráfego constante, tudo se torna sonho. Ainda que ele não dê acesso à suposta dimensão superior, sonhar é preciso. Já que tudo é nada, mas mesmo assim permanece, é de ilusão que se vive e é preciso voltar a tecer, tecer sempre, voltar a procurar o dragão para que haja algum sentido nisso tudo. Ou: o que virá depois? Nada além, nada além de uma ilusão.
O CONFIDENTE INTRANQÜILO
Apesar da perceber que tudo que é sólido desmancha no ar — e de elaborar-se a partir dessa perspectiva — o texto que se forma no conjunto dos cinco livros de Caio Fernando Abreu tem, obviamente, uma concretude. Esta é mais uma de suas ambigüidades. Aliás, ele próprio é o resultado de ambivalências. Configura-se então um espaço aberto, fragmentado, e ao mesmo tempo povoado de recorrências e exposto a associações e cruzamentos; um texto que habita o entre-lugar, portanto: entre o particular e efêmero e o comum e permanente; entre a narrativa de enredo e seu limite; entre a ligação estreita com o mundo no qual se inscreve (e ao qual escreve) e a sua própria autonomia. Esse é um texto do estranhamento, portanto, do mundo, do eu, do próprio texto, da linguagem, da literatura. Um estranhamento que só é possível porque ligado a um olhar que se situa “do lado de lá”, constituído através da inquietude, através do movimento, através da literatura, através da ex-centricidade — e não do conformado, do estático, da tradição, da filosofia ou da ciência. Essa tentativa — e todas as tentativas que a constituem — de entendimento do estar-no-mundo é feita no diálogo com o tempo, que na verdade se divide em três: o tempo do eu, subjetivo; o tempo do mundo, da realidade, dos outros; e o tempo da existência, da condição humana, um tempo mítico que perpassa e justifica todo um estado de coisas.
Nesse sentido, a oposição eu versus mundo se revela conflituosa não quando se considera por “mundo” a realidade “concreta”, na qual o outro habita. Como se viu, essa realidade primeira acaba servindo como o ambiente no qual o eu se constitui, pelo qual transita, no qual se espelha. O embate se estabelece, de fato, no descompasso existente entre o eu (e essa dimensão do mundo) e aquela realidade “anterior”, à qual é imputada a defmição das regras do jogo, ou seja, a inexorabilidade da solidão, da fratura, do trânsito, da incompletude. É com esse tempo mítico que o eu se confronta e é a ele que interroga no sentido de buscar uma razão que esclareça o porquê de estar-no- mundo irremediavelmente dessa forma. Se é feito, nesse diálogo, uma busca da verdade, esta, porém, é dada como infrutífera. Não há verdade possível nesse reino de palavras. Toda a verdade está além, na ordem das coisas, numa equação intuída, incompleta e inapreensível, a não ser através da forma oblíqua e efêmera da tessitura, do delírio, do sonho, da ficção. A verdade, nesse caso, é apenas sugerida como uma possibilidade, é alegórica, é como uma piscadela que se vislumbra. Se não há vida fora da linguagem, não há verdade perene dentro dela. Resta, então, a tentativa, a busca, o movimento, o tecer. Resta, apenas, a sedução, do ritual, do signo, do outro. Resta, apenas, o engano. Se é plausível pensar-se num todo — a obra, como julgou- se mostrar — isto só é possível devido à existência de um eu que permanece em meio à colcha de retalhos composta por contos e personagens. Esse eu, que protagoniza a reflexão, ficcional, literária, sobre o estar-no-mundo, investiga a si, ao mundo, ao destino. É esse eu que está constantemente em foco, é a partir dele, de sua fratura, de suas angústias e ansiedades, que toda a fábula se organiza. Por isso mesmo, é através das suas escolhas, daquilo que constitui e povoa o seu olhar, que se pode examinar o texto que, se escreve histórias, inscreve-se e é escrito pela história. É exatamente essa relação que se pretende abordar neste capítulo. Algumas características desse eu em processo já foram identificadas: é um ex-cêntrico, está “à margem” do mundo “tradicional”, heterossexual, católico, classe média. É também um ser que amadurece, num processo de constante reavaliação e questionamento de si, do mundo, da palavra e do próprio percurso.
O eu é, assim, um espaço ao mesmo tempo vazio de certezas e superpovoado de elementos que possibilitam um inquérito íntimo constante. Integrado a um ideário localizado no tempo, anos 70, e associado a uma geração — que pode ser definido, grosso modo, como “contracultural” — o eu se torna, com isso, mais que um baluarte de idéias, opções e ideologias: torna-se uma entidade polifônica. Nela, diferentes e localizáveis vozes nem sempre harmônicas, nem sempre dissonantes. A identidade um tanto flutuante, problematizada, tornada enigma se afirma como o elo que possibilita a ligação entre as partes para a constituição de um todo, como o alvo da procura e como ponto fulcral do processo que se desenrola e se elabora no texto literário. E a angústia da identidade é apreendida de tal forma que só é possível pensá-la como intimamente ligada a um trânsito do eu por um ambiente definido e definidor, a metrópole, marcada que está pelos conflitos, pelas características e pelos elementos e comportamentos postos em foco e em disponibilidade nesse espaço específico. Em outras palavras, o processo que se elabora no conjunto dos cinco livros tem um (entre outros) aspecto de individualização crescente, resultado de uma tentativa permanente, fundamental, de localização no mundo, da afirmação de uma singularidade frente à diversidade do eu, das realidades e perspectivas. Isto é feito através — e a partir — do trânsito por esse ambiente urbano e pela elaboração constante de dimensões específicas do eu, dimensões essas que compõem um repertório de cartas marcadas pela metrópole, como é o caso da sexualidade. Nesse sentido, pode-se perceber a importância do caráter confessional dos contos, que se debruçam sobre paisagens íntimas das personagens. Ele traz a marca de um tempo no qual o eu se constitui. É Michel Foucault quem diz que, no mundo ocidental a partir do século XVIII, a individualidade está intimamente ligada à verdade que o eu busca no fundo de si. Falar-se, confessar-se, tornou-se um imperativo típico dessa época: A confissão passou a ser, no Ocidente, uma das técnicas mais altamente valorizadas para produzir a verdade. Desde então nos tornamos uma sociedade singularmente confessanda. A confissão difundiu amplamente seus efeitos: na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos; confessam-se passado e sonhos; confessa-se a infância; confessam-se as próprias doenças e misérias, emprega-se a maior exatidão para dizer o mais dificil de ser dito; confessa-se em público, em particular, aos pais, aos educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; fazem a si próprios, no prazer e na dor, confissões impossíveis de confiar a outrem, com o que se produzem livros (1988: 59 — grifos meus).
Isto significa que, na sociedade ocidental, nos tempos modernos:
Tanto a ternura mais desarmada quanto os mais sangrentos poderes têm a necessidade de confissões, O homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente. Daí, sem dúvida, a metamorfose na literatura: de um prazer de contar e ouvir, dantes centrado na narrativa heróica ou maravilhosa das “provas” de bravura ou de santidade, passou-se a uma literatura ordenada em função de uma tarefa infinita de buscar, no fundo de si mesmo, entre as palavras, uma verdade que a própria forma de confissão acena como o inacessível (1988: 59 — grifos meus).
O conjunto dos contos e cada um dos contos são facilmente reconhecidos na palavras de Foucault. Eles realizam uma procura incessante da verdade do eu e do mundo, através das palavras, ao ponto, inclusive, de permitir a leitura de permanências e de organicidade entre si. A verdade almejada não é jamais atingida, nem mesmo através da tentativa de acesso a uma dimensão anterior, mítica, que justifica e explica todo um estado de coisas. Por outro lado, a palavra, a matéria com que é feito esse percurso, é levada ao seu limite, ao ponto em que não diz mais nada ou que diz tanto que nada significa: ela se debruça sobre o vazio, há algo que sempre lhe escapa, algo que não se alcança; há, sempre, a ausência, a incompletude. Foucault percebe a confissão e a sua disseminação no Ocidente, a partir do ritual cristão, como um elemento chave para a constituição do “sujeito”, a ser entendido tanto como “submetido” a um jogo de verdade baseado na própria investigação de si — quanto como o ser autônomo, o protagonista que concretiza sua versão pessoal desse jogo. Este, por sua vez, não é de forma alguma simples ou inocente, envolve sempre um exercício de exposição e falseamento; é ele mesmo um embate conflitivo entre afirmação e negação, entre o inconfessado e o confesso, o dito e o não dito. Essa relação ambígua pode ser vislumbrada quando se focaliza uma outra, entre a confissão e a liberdade individual. A obrigação da confissão nos é, agora, imposta a partir de tantos pontos diferentes, já está tão profundamente incorporada a nós que não a percebemos mais como efeito de um poder que nos coage; parece- nos, ao contrário, que a verdade, na região mais secreta de nós próprios, não “demanda” nada mais que revelar-se; e que, se não chega a isso, é porque a violência de um poder pesa sobre ela e, finalmente, só se poderá articular à custa de uma espécie de liberação. A confissão libera, o poder reduz ao silêncio; a verdade não pertence à ordem do poder mas tem um parentesco originário com a liberdade (FOUCAULT, 1988: 59-60 — grifos meus).
Ao confessar-se, ao falar de si, assim, o indivíduo, tornado sujeito, moderno, ocidental, crê libertar-se de amarras que o cerceariam, o reprimiriam e, conseqüentemente, impediriam sua verdade de vir à tona. Ao “liberar” essa verdade, ele estaria trazendo à luz algo oculto, porém fundamental de si mesmo. Da mesma forma, estaria libertando-se de um poder opressor, estaria quebrando um estado de coisas coercitivo para ter acesso a um outro, mais livre, mais verdadeiro, mais próximo a uma “essência” do eu, e com mais chances, por isso mesmo, de ser mais feliz e mais harmônico. Foucault acredita que, ao contrário, esse indivíduo, ao falar- se, simplesmente realiza o que se espera dele, ocupando um espaço previsto numa rede difusa de relações discursivas que até mesmo determinam a constituição (e o repertório de opções) do que seria, que elemento conteria ou com o que estaria profundamente interrelacionada essa verdade. Da mesma forma, tal exposição, feita com as palavras, envolve todo o jogo entre o dito e o não dito, entre o que se diz, da forma que se diz e o que se evita dizer, próprio dos jogos com a linguagem e dos jogos literários. Foi através da difusão do ritual da confissão que se teria instalado, segundo Foucault, o dispositivo da sexualidade. Mesmo porque, “desde a penitência cristã até os nossos dias o sexo tem sido a matéria privilegiada da confissão” (1988: 60). Através de diversas estratégias e imersa num complexo de relações de poder, constituiu-se, assim, a ligação entre sexo e verdade, identidade e sexualidade. Vivendo no mundo da metrópole — ela mesma fruto desse conjunto de relações históricas — onde a individualização é ao mesmo tempo estimulada e um desafio, como aponta Simmel (1976), o indivíduo tem na sexualidade um elemento fundamental para a constituição do seu eu. Diante da multiplicidade de tráfegos, de ambientes culturais, de indivíduos, que esse espaço apresenta, o ser que confessa tem a necessidade de um projeto reflexivo constante para determinar sua própria singularidade. Nesse sentido, o processo que se desenvolve no interior do texto literário adquire uma ressonância precisa. Estabelece-se uma relação entre o texto ficcional e a época em que se inscreve e que escreve, possibilitando que se esclareçam algumas de suas ambigüidades. Ao centrar-se no eu, por exemplo, esse texto se posiciona, a despeito de sua própria articulação dos elementos narrativos, numa tradição literária, romântica e moderna, da qual fazem parte, entre outras, as obras de Clarice Lispector e Virgínia Woolf. Imerso num conjunto de relações históricas, esse texto apresenta uma versão própria, um rosto para esse tempo. Ele funciona, nesse sentido, não apenas como um espelho para esse retrato, e nem tampouco só como uma lâmpada que ilumina traços dessa face. Ele reúne as duas imagens num todo que, por sua vez, não é igual à soma de suas partes e no qual pesam a sua própria imanência, sua concretude, sua circularidade, sua polissemia. Sem querer resolver em poucas palavras uma relação complexa, é necessário ressaltar, porém, que, ao ser um espaço em que se entrecruza um vasto número de relações, o texto literário preserva e expõe todo um caráter polifônico e aberto.7 Escrito numa época determinada, final do século XX, num espaço cultural marcado, o texto ficcional incorpora em seu interior tanto um quanto outro, articulando-se com o rosto com que ambos se apresentam em cada momento. A metrópole, por exemplo. Acompanhando a trajetória das personagens nos cinco livros, percebe-se que elas migram de um espaço a outro quando adultos, espaços esses que se opõem àquele da infância. A cidade grande se torna cada vez mais presente nos contos, em cada livro, hiperbolizando-se aos poucos, como indicam as referências, quase sempre muito episódicas, a cidades concretas. Num primeiro momento Porto Alegre, e, depois, Londres e São Paulo, são espaços sociais que se transformam em componentes do texto literário. Tais cidades grandes contrastam com outras — de resto, quase sempre sem nome — de menor porte, palco das aventuras dos primeiros anos de vida. As metrópoles são o lugar onde se vive a angústia e a procura de si; as outras, o lugar da harmonia e da ingenuidade. Em Inventário do irremediável, Porto Alegre é a cidade com o maior número de referências. No texto, ela aparece ainda possibilitando às personagens alguma espécie de enraizamento. Este é, na verdade, um espaço híbrido, um meio termo no qual convivem vínculos tradicionais e também uma certa desterritorialização. Se, em O ovo apunhalado, o estrangeiro já existia,
- Refere-se aqui ao conceito de polifonia tal como o pensou Bakthin (1993).
ele quase sempre habita um lugarejo, o qual, inclusive, tem de abandonar após a revelação de sua “alteridade”. A metrópole e a colcha de retalhos culturais que a formam se apresentam, por sua vez, a um olhar novo e curioso. Em Pedras de Calcutá, esse olhar se desencanta, O eu se perde por inteiro, afogado numa profusão de línguas, de tipos culturais, de realidades e de obstáculos à sua realização. O indivíduo luta para preservar sua diferença em meio à indiferença, à amplitude e ao anonimato com os quais se defronta e que estão incorporados de forma paradigmática à imagem que se constrói de Londres. O indivíduo se torna, assim, refém de sua singularidade. Ao mesmo tempo luta para preservá-la e a tem como salvaguarda, como último recurso, à sua identidade. Está tão livre para ser o que quer quanto submetido a um ambiente que o desumaniza. Cada vez mais solitário, apesar dos “companheiros de viagem”, o eu vive um grande momento de auto-afirmação em Morangos mofados, primeiro, e, depois, em Os dragões não conhecem o paraíso. Neles, como já foi dito, a avaliação da trajetória percorrida pelas personagens se faz mais presente. As personagens, por seu lado, acostumam-se com o próprio trânsito e também com o da metrópole e vivem momentos de integração, ainda que parcial, com o mundo em que vivem; o ambiente que as cerca, também ele já é conhecido e se torna mesmo familiar. São Paulo é o grande espaço para suas aventuras e, especialmente em Os dragões não conhecem o paraíso, suas paisagens remetem a estados d’alma, a angústias e acontecimentos já vividos. Este novo lugar se distingue do primeiro da série, identificado com Porto Alegre, por ser mais excessivo: é mais poluído, povoado, tumultuado por álcool, drogas e sentimentos. A relação com o segundo espaço (Londres), é exatamente o oposto: menos implodida em diversidade, São Paulo é mais reconhecível. No entanto, o enraizamento aqui também não se realiza, O deslocamento das personagens, ao contrário, está mais presente; ele passa mesmo a ser algo costumeiro e determinante em seu projeto de identidade. Por outro lado, neste último espaço fica mais clara uma aproximação que antes era apenas insinuada entre dois pólos distintos que se revelam, em relação simétrica e de contiguidade. O eu e o mundo, mesmo atuando freqüentemente como dimensões conflitantes, se identificam e se fundem em suas características de estranhamento, de multiplicidade, de deslocamento e de fragmentação. O eu que habita Porto Alegre tem ainda vínculos seguros, ainda que se estranhe e perscrute o horizonte, O eu que implode em fragmentos, que se desterritorializa de forma irreversível habita uma cidade estrangeira, povoada de estrangeiros. O eu que se afirma e se reconstitui tem seu trânsito num espaço também ele tumultuado, excessivo, mas, por outro lado, tomado lar: é como se se realizasse, tanto no eu quanto no mundo, uma integração a um meio totalmente fragmentado. O trânsito pelas cidades é completado com as histórias de infância e com os rituais de passagem na adolescência, Neles, o palco dos acontecimentos é a cidade pequena, habitada por pai e mãe, com uma atmosfera um tanto ingênua. A ruptura entre esses dois lugares (cidade pequena/metrópole) e essas duas realidades (infancia/maturidade) é feita na adolescência, Entre o mundo pacífico de um e o mundo angustiado e inquiridor do outro se interpõe um momento de deslocamento, um contato irremediável com o desejo, com a falta, com a solidão, com o estranhamento e com os limites do próprio eu. Diante da fratura que se impõe, o eu abandona a cidade pequena e ganha a metrópole. Ao encontrar-se só, num mundo desconhecido e inapreensível em sua completude, o eu se interroga sobre que mundo é este que não é mais aquele pequeno, fechado da infância. Por outro lado, o eu se mostra desconhecido para si mesmo. E mais, revela-se um ser que não é tão amplo ou tão prenhe de possibilidades quanto dos jogos e os sonhos de criança pareciam prometer. Ao contrário, o sujeito só pode viver sua história, ainda que seus próprios contornos não sejam eles mesmos agradáveis ou definitivos, A reflexão existencial que se corporifica nessa obra, portanto, tem como alvo e como base um estado de vir-a-ser que contamina a realidade infantil e que caracteriza o trânsito urbano. O recurso à dimensão mítica, nesse sentido, é a tentativa de encontrar respostas que interrompam — porque ancoram — esse estado de coisas. Dessa forma, o sujeito realiza tanto um mergulho em si quanto no mundo, quanto no caminho mítico (e esotérico), O eu vasculha-se, interroga-se, encontra contornos e limitações e pergunta: será? por quê? Diante dessa instabilidade do eu, da ausência de uma identidade — não apenas social, mas, principalmente, “essencial” — o mundo se torna imprecisão e profusão de tráfegos. Aos poucos, porém, a interrogação mítica perde a força e cai para pano de fundo exatamente pela vivência, cada vez mais acentuada, desse estado de vir-a-ser. Por outro lado, o vasculhar-se para encontrar uma verdade essencial, que cristalizaria o próprio eu e que lhe daria meios para se situar de forma definitiva na realidade do mundo e da existência, produz confissões em forma de paisagens íntimas, dando a elas o caráter de reflexão existenciaL Se, a julgar o que diz Michel Foucault, essa busca íntima está ligada a um contato com a própria sexualidade, o percurso do eu sugere um relacionar- se com essa matéria “obscura” de si mesma.
O MEDO DE AMAR
A investigação do irremediável, nesse sentido, revela-se um embate com essa matéria instável que constitui o eu e com as imagens e construções que ela encontra no murado. A personagem que perscruta o horizonte e se depara com sua própria imagem nas vidraças — imagem de seu corpo - é posta diante de um enigma: o desejo, a falta e a definição de si. Elas estão prisioneiras de algo que é irremediável. “O que é isso?”, “que destino é esse?”, é a pergunta que se faz. Nesse momento, o eu se debate entre duas perspectivas insuficientes. De um lado, o mundo velho, tradicional; de outro, um mundo novo, mais pertinente ao eu, mas que ainda não tem forma. A quebra da rotina das personagens de meia-idade, então, sugere o quão precária é a realidade individual e social, o que existe de aleatório e dependente de um conjunto de relações e uma conformação estável de si e do mundo. E o quanto isso é um beco sem saída (pois limitado). A sexualidade não aparece, de forma explícita, integrando o repertório de questionamentos de nenhuma das personagens. Há, apenas, nesse momento, o desejo sexual e desejo do companheiro, do outro. Em Inventário do irremediável não há, como de resto em todos os outros livros, nenhuma personagem que se defina, utilizando-se dessas palavras, como “homossexual”, “heterossexual”, “bissexual” ou o que for. Elas simplesmente têm esposas, namoradas, namorados, parceiros, companheiros; encontram outras personagens, desejam, têm pares. Vivendo os primeiros momentos de um desenraizamento, num espaço ao mesmo tempo estranho e familiar, o sujeito se encontra, porém, num estado de terror latente, com um medo que se incorpora na desumanização e no deslocamento das personagens e que está intimamente ligado a uma redução de repertórios/caminhos para o eu. Ao olhar-se nas vidraças, o eu percebe que tem uma forma — imprecisa — que lhe delimita escolhas, localizações, atitudes. E que o joga numa realidade nem sempre desejada, que não é harmônica nem aconchegante. Daí o sentido de um inventário, de destino e da fatalidade. Nenhuma metáfora explicita mais a relação, nesse momento, com o destino do eu que a do ovo que aos poucos aprisiona a personagem num horizonte limitado, de escolhas reduzidas, como no conto “O ovo”, de Inventário do irremediável. Após algumas experiências sexuais, com parceiros masculinos e femininos, o protagonista enlouquece diante de sua realidade, de si mesmo, de uma espécie de traição do destino. Quando Clotilde Favalli (1988) fala dos “impulsos” obscuros, ela parece perceber que nos momentos desse processo anteriores a Morangos mofados, em especial no inventário do irremediável, o desejo e a sexualidade são a causa (ou pelo menos, uma delas, das mais importantes) que motivam a investigação do destino e, principalmente, o deslocamento, em si e no mundo, e o sentimento de desumanização. Isto, de forma sutil, como que de esguelha, inominadamente. A investigação da sexualidade é, apenas, sugerida, é tão latente quanto o terror que se percebe nas personagens. Em O ovo apunhalado pode-se perceber movimentos opostos, mas convergentes. De um lado, o deparar-se com o destino, com a realidade mais íntima de si. De outro, uma tentativa de fuga, de quebra com uma situação desconfortável, O homoerotismo, por outro lado, nesse segundo momento, se faz presente associado à figura do estrangeiro. Em todos os contos desse livro que trazem o encontro de uma personagem com seu destino, anunciado pelo ser ou pelos seres que vêm de fora, os protagonistas são do mesmo sexo. Em todos, uma relação de forte identificação e, às vezes, de posse.
A passagem de uma referência interiorana a outra, urbana, sexual, desenraizada, é feita nos contos desse livro de forma categórica, dando-lhe a coerência de um momento de transição. A desumanização das personagens de Inventário do irremediável se reflete agora no desterro que resulta inexoravelmente do encontro com os “de fora” e da adoção da própria “loucura”. O erotismo, a sexualidade, ainda que não ocupem o centro das atenções, está presente de forma inequívoca na realidade do eu. Não se trata apenas de um desejo pelo outro, trata-se, agora, de uma rede maior, mais extensa, de relações na qual o desejo se torna índice de uma verdade constitutiva do eu que, inclusive, lhe define repertórios, caminhos e situações a serem vividas. Abraçar um ideário geracional. nesse caso, significa, então, dar significação política para essa configuração do eu; significa construir-se enquanto um projeto, ideológico, comportamental; significa, da mesma forma, um tipo de inserção no todo social. Com isso, faz-se com que a “margem” à qual é levado o eu — pela sua vivência homoerótica não seja vista como algo negativo ou como o resultado de uma anarquia hedonista ou descompromissada. A “margem” passa a ter a força de uma atitude que pretende mudar estruturas, “recusar” o poder, questionar o centro, O eu excêntrico que se delineia a partir de então é fruto não só de um movimento íntimo, no qual atuam desejo e sexualidade, como também de uma opção, de postura, de uma localização, em linhas gerais, no mundo. Ao localizar-se ideologicamente dentro de um determinado referencial, por mais aberto que este seja, limita-se o horizonte para o eu no mundo, pois alguns caminhos não serão mais percorridos. Por outro lado, o futuro continua incerto, já que está ligado a um projeto a ser concluído, que não tem sua forma definitiva. Através de Peter Fry (1982), verificou-se que é exatamente na época da emergência desse ideário, a partir dos anos 60, que se estabeleceu e começou a se difundir um outro modelo para a homossexualidade. Em oposição ao tradicional, hierárquico, (homem versus bicha), um referencial igualitário (entendido versus entendido ou gay versus gay). A sexualidade passa a ter uma nova conformação — tornando-se, de quebra, mais enigmática (porque inconclusa) ainda. Aspira-se agora a uma relação de igualdade entre o eu e o outro, O “marginal” não se assume mais como um inferior, mas, sim, como um outro. Tal “localização” no mundo, porém, antes de solucionar angústias, acrescenta mais um desafio ao eu. Ele, agora, não só tenta se afirmar a partir do, com o, ideário que toma para si, como tem que lidar com o mundo que se situa fora desse referencial. A realidade, assim, ainda permanece desconfortável, até pela própria presença desse “velho mundo” que, entre outros efeitos, reforça o limite do “novo” estado de coisas. Os movimentos de O ovo apunhalado se encontram exatamente na presença da válvula de escape onírica a essa situação não resolvida no cotidiano e na vida das personagens. O incômodo e o desconforto do/no mundo, por sua vez, explodem em Pedras de Calcutá. Eles estão por toda parte, em todos os contos, em todas a situações, em todas as personagens principais, resultando inclusive na oposição entre movimento e imobilidade, que rege o livro. A metrópole, nesse momento, se torna uma realidade concreta, visível, da qual não há como fugir, se sobrepondo às personagens e desafiando-as a se auto-afirmarem na sua própria individualidade. Soltas num mundo também ele estrangeiro, elas só têm a si mesmas e a seus fantasmas. O eu vive a certeza e o mistério da sua singularidade. Nesse sentido, a oposição movimento/imobilidade pode ser traduzida entre o imperativo do eu no sentido de realizar-se no mundo e os obstáculos que se impõem ao seu caminho. Tais obstáculos não são apenas a indiferença e o anonimato imposto pela metrópole mas também o outro mundo, o outro referencial, o “poder”, que impede ou restringe a atuação do eu. Esse “poder” assume tanto a forma de comportamentos e fantasmas vinculados à família quanto a de uma força externa que prende as personagens num lugar sombrio ou ainda de uma máquina que as joga num poço escuro e cheio de facas e estacas pontiagudas. Ele pode ser, também, aquilo que impede a realização do encontro amoroso, homoerótico. O eu, em todos os casos, é colocado à mercê da repressão e da violência, submetido ao isolamento, a condenações apriorísticas, a ter o espaço para seu trânsito reduzido. O eu se embate, de fato, com os limites de suas próprias escolhas, com a falta de opções que tem, com o destino do trânsito e da ex-centricidade.
Até aqui, no conjunto desses três livros, assistimos a um eu que busca sua forma, sua localização no mundo, debatendo-se com uma configuração incômoda do(s) lugar(es) por onde transita. A ordem, o que orienta sua aventura, é a necessidade e o desejo de encontrar seu lugar no mundo e seus iguais. Tudo isso, é claro, motivado por um deslocamento íntimo, que o constitui como estrangeiro, e pela adoção de um ideário que vê nessa situação pessoal algo de positivo, algo com o qual se pode construir a felicidade. No entanto, apesar das escolhas já feitas, dos quilômetros e das venturas já vividos, tal objetivo não consegue ser atingido, da mesma forma que uma delimitação, uma definição mais precisa do eu não encontra sua forma, O enraizamento ainda não se mostrou possível. Morangos mofados, nesse sentido, se caracteriza por ser ao mesmo tempo um balanço desse percurso e um rompimento com elementos que nele se fizeram presentes. O sujeito se depara com emoções, realidades e ilusões já conhecidas e que necessitam ser superadas. Ele se esforça para ser um sobrevivente ao esgotamento de uma realidade na qual as utopias não se concretizaram, se revelaram sonhos e morreram antes de frutificar. Sozinho com seus anseios, suas faltas e contradições, ele vê desaparecer muito do horror ou dos fantasmas que já o assombraram. Ele busca reconstruir-se na solidão da própria trajetória, na sua biografia, nas marcas da própria individualidade. A sexualidade e o erotismo ocupam, então, um espaço nunca antes visto, emergindo e tomando conta do cotidiano das personagens e se tornam algo concreto, visível, marcante. Um claro sinal dessa transformação está no diálogo que se estabelece entre alguns contos. Como mostrou-se anteriormente, a situação de um conto de Pedras de Calcutá é recuperada em Morangos mofados. Nela temos o encontro homoerótico entre duas personagens, drogadas, em uma noite de festa, O fim trágico desse enlace amoroso, alvo da violência de personagens desconhecidos, tem em Morangos mofados um peso quase mítico, que extrapola o episódico. É como se se revelasse uma vontade divina, uma verdade do destino que pregasse a impossibilidade da realização sensual. Não parece de pouca importância a localização dessa estória na parte do “mofo”. Fazem companhia a ela as desilusões com projetos anteriores, os excessos de álcool e drogas, a autopiedade, as fugas, a indiferença com o outro, o desencontro. Se em Pedras de Calcutá, essa história aparece como uma realidade do mundo, em Morangos mofados ela surge, então, como algo antigo, um medo empoeirado, um incômodo velho e, até certo ponto, sem sentido. Na parte “morangos”, em oposição a “o mofo”, os velhos fantasmas são retomados ainda com uma certa angústia mas trazendo um quê de autovalorização. No conto “Sargento Garcia” vê-se de forma modelar o processo de transformação presente nesse momento, num ritual de passagem que traz a reafirmação de uma trajetória, de opções de vida e também uma nova configuração para os elementos que os envolvem, um novo equacionamento de conhecidos problemas. A história de “Sargento Garcia” traz a iniciação homoerótica e sexual de um adolescente e se divide em duas partes. Na primeira, uma entrevista para o alistamento militar, quando são apresentados os protagonistas (“Hermes”, o adolescente, e o “sargento Garcia”). Entre eles, uma relação de poder hierárquica e também de um sutil erotismo. A segunda parte se inicia fora do quartel. É quando “Hermes” é alvo da sedução do “Sargento Garcia” e se depara com seu destino. E o enfrenta. O encontro sexual dos dois se dá num espaço especial, um tanto decadente, um tanto mítico, habitado por uma única personagem, “Isadora”, uma “bicha” que se veste de mulher, dona da casa de quartos e que vaticina a “Hermes”: “ninguém esquece uma mulher como Isadora” (1982: 97). No quarto, Hermes se depara com a atitude autoritária, preconceituosa e brutalizante do sargento Garcia, que o chama de “veadinho sujo, bichinha louca” e tenta interromper o ato sexual. Após o gozo solitário do outro, Hermes foge do local. Localizado no tempo, como indica a referência ao retrato de Castelo Branco pendurado numa parede da sala do sargento, o conto se estrutura de fato sobre a localização da personagem central frente ao poder conservador, autoritário, desumano, militar. Um estranho no quartel, Hermes se recusa a se submeter a uma relação dominador/dominado, a uma hierarquia que não é apenas sexual, mas também social. Deparando-se com seu desejo, com sua (homo)sexualidade, a personagem afirma a sua (des)igualdade, a sua opção pela “margem”:
Queria dançar sobre os canteiros, cheio de uma alegria tão maldita que os passantes jamais compreenderiam. Mas não sentia nada. Era assim, então. E ninguém me conhecia. [...] Meu caminho, pensei confuso, meu caminho não cabe nos trilhos de um bonde {...] Porque ninguém esquece uma mulher como Isadora, repeti sem entender. Debruçado na janela aberta, olhando as casas e os verdes do Bonfim. Eu não o conhecia. Eu nunca o tinha visto em toda a minha vida. Uma vez desperta não voltará a dormir. O bonde guinchou na curva. Amanhã, decidi, amanhã sem falta começo a fumar (ABREU, 1982: 90). Ao rejeitar o sargento, Hermes rejeita não apenas o poder autoritário dos militares, mas também o poder “da maioria”. A recusa de um padrão de sexualidade implica numa recusa de um mundo padrão; opta-se, então, por viver no universo dos malditos, dos levados por uma paixão, um vício, um desejo: escolhe-se o reino dos que fumam. A referência ao cigarro não é gratuita. Ao fumar, ao escolher fumar, Hermes passa a integrar o time de personagens dos contos marcados pela ex-centricidade. Fumar é mais que um simples detalhe, é como se fosse um sinal que identificasse todos aqueles que vivem sob o signo da vivência do deslocamento e da estranheza, todos aqueles que se entregam a uma paixão, a um vício. Por outro lado, essa atitude remete a um estado de coisas próprio do eu, a um deslocamento que, apesar de ligado à sexualidade, não está restrito a ela. Esta situação é constitutiva do indivíduo, próprio do eu, como indica o recurso à dimensão mitológica na nomeação da personagem. “Sargento Garcia”, não por acaso, está localizado naquela parte do livro posta sob o signo das frutas vermelhas, intumescidas e sumarentas. É a partir disso que pode-se reavaliar todo o processo desenvolvido até aqui nesse conjunto de textos e as transformações que nele são operadas.
Imagem de cunho sensual, erótico, o morango fresco se opõe ao mofado, nascendo dessa matéria putrefata dentro do ciclo de transformações da vida. É, assim, o símbolo da afirmação, da possibilidade de permanência do eu frente à sujeira do mundo e à poeira de velhos fantasmas; é a crença no movimento e a recusa de uma autocondenação, autocomiseração, auto-rejeição. De Inventário do irremediável a Pedras de Calcutá, o eu busca uma localização no mundo, tenta entendê-lo e nele se encontrar. No entanto, chega em Pedras de Calcutá a um estado de profundo desespero e impotência. Ressoando ainda no “mofo”, essa infelicidade dá lugar a uma nova constituição de si, a partir do mergulho radical na própria singularidade. Isto só é possível após a desilusão com certezas e sonhos e a convivência angustiada com a própria desterritorialização. Em outras palavras, o projeto para o mundo deixa de ser importante e dá lugar a um projeto individual. Tanto o ideàrio que se adotou quanto o “poder” que o combatia não têm mais a mesma força. Estão, agora, como que inscritos, sob variadas formas, no território múltiplo e anônimo da metrópole. Não importam os outros, parece-se dizer, o eu já conquistou, a duras penas, o direito à própria liberdade. Agora, importam, apenas, o eu e o outro, na busca de um espaço próprio em meio ao anonimato e à profusão de tráfegos. Em “Sargento Garcia”. a personagem erotizada, sexualizada. rejeita todo um referencial que a desvaloriza e que cria obstáculos para sua realização no mundo. Ela se ergue frente a esse todo, a esse conjunto de relações culturais e de poder e afirma sua própria individualidade, apostando, mais uma vez, na busca de um caminho seu, pessoal, longe dos trilhos do bonde anônimo, impessoal, indiferente, O processo de individualização chega então a um momento decisivo. Agora, ao afirmar-se, o eu inicia uma outra fase desse processo, enraizando-se na sua própria estranheza. Essa diferença, inclusive, é marcada por sentimento de privilégio, à recusa da maioria corresponde a sensação de se pertencer a uma casta especial, ao grupo dos “eleitos”, dos apaixonados. Como mostra a descrição do encontro entre Saul e Raul, personagens de “Aqueles dois”: “Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra — talvez por isso, quem sabe?” (ABREU, 1982: 133).
Esse sentimento não é novo. Ao contrário, se fez presente anteriormente. Desta vez, porém, ele vem sem angústia ou desterro, O homoerotismo passa a ser visto com outros olhos, como algo que, estando presente e integrando o eu nesse grupo de “malditos”, não implica uma realidade perigosa, desesperadora ou irremediável. Ao mesmo tempo, ele esvazia-se, começa a perder o peso que teria na definição da identidade. Em Os dragões não conhecem o paraíso, a sensação de privilégio se perde um tanto em meio à banalização do sexo e do erotismo. A solidão das personagens está maior e, com ela, está também uma certa dessacralização do eu, da sexualidade, do mundo, da trajetória. Por isso mesmo é que a memória passa a ter tanta importância. Solitário no ambiente da metrópole tornada lar, o sujeito aprofunda mais e mais seu enraizamento em si mesmo, na sua estranheza. O meio para isso é a memória, a revisão do percurso, a revisão de sentimentos, de velhas angústias e, da mesma forma, a reafirmação e a reconstituição de uma identidade, que resulta, assim, da biografia e não da sexualidade ou de um lugar no mundo. Melhor dizendo, a identidade vem a ser o resultado de uma permanência, da caracterização de um olhar sobre o mundo e sobre si mesmo, da vivência daquelas fraturas e ansiedades. O eu se firma, então, onde menos se esperava, nem lá no horizonte, nem ali no íntimo de si, mas, sim, num entre-lugar, no meio do caminho, no olhar que se dirige para dentro e para fora e que se constituiu ao longo dos anos: o eu se afirma no próprio deslocamento. O peso da sexualidade diminui, então. Valoriza-se a procura, o encontro, o amor e não as formas de sua apreensão pelo mundo. Se o estigma sobrevive, ele perde seu poder: o eu se liberta dele, completando seu processo de individualização. Outras antigas fontes de conflito também têm sua força diminuída. Não que tenham deixado de existir, apenas tomam, como no caso da sexualidade, a forma de uma equação já muito vivida. Assim acontece com as oposições eu/mundo, movimento/imobilidade. Na verdade, enquanto o sujeito, pouco a pouco, enraíza-se em si mesmo, ele passa também a se identificar com a conformação desterritorializada do mundo, faz do trânsito contínuo o seu lar, como já foi dito. Assim, não sendo mais um obstáculo para o movimento do eu mesmo porque se revela um espaço de múltiplos tráfegos —, a metrópole estimula e se torna o palco para a viagem da memória. Inquieto e artífice de sua singularidade, o eu, na sua relação com o mundo, faz seu olhar voltar-se mais radicalmente do que nunca para os tempos e os espaços íntimos. Uma das treze histórias que integram esse romance-móbile Os dragões não conhecem o paraíso pode ser eleita como um terreno privilegiado para percepção do que ocorre nesse último momento do processo de individualização. “O pequeno monstro” dialoga, ao mesmo tempo, com duas situações recorrentes nos “estágios” anteriores: o ritual de passagem no fim da infância e o encontro com o estrangeiro, com o arauto da estranheza. Com isso, o conto redispõe alguns dos elementos com que se fez esse percurso, dando-lhes novos significados. O teatro dos acontecimentos desta vez é uma casa de praia — um espaço híbrido, já que é familiar e ao mesmo tempo desconhecido — onde o protagonista, um garoto, está passando férias com os pais. Esta personagem vive uma profunda rejeição de si, estranhando seu corpo, seus sentimentos e atitudes. Tudo por causa da “coisa” escura, gosmenta, que está presente em seu interior e que se recusa a sair. Tal situação é quebrada com a chegada do primo Alex, mais velho, morador da cidade grande, fumante, de trajes e hábitos “modernos” — calça jeans, por exemplo. O protagonista espera e assiste à chegada desse estrangeiro com um misto de fascinação e recusa. No entanto, o primo Alex, aos poucos se faz mais presente ao olhar do outro, primeiro através da expectativa de sua chegada, depois do seus objetos pessoais, depois do seu corpo e, por fim, de uma atitude definitiva. As duas personagens se encontram numa tarde, num quarto, a sós, quando o desejo do protagonista emerge frente à intimidade que se estabelece entre ele e o outro. A relação sexual dos dois, a masturbação conjunta, tem o impacto do desvendamento — de si, do outro. No gozo do garoto, a saída da “coisa” escura e gosmenta que se revela branca e pacificadora. A harmonia se estabelece então no e por causa desse encontro. A partida do estrangeiro, do anjo anunciador da estranheza, do Alex, deixa na protagonista o sinal da paixão, da sexualidade, da necessidade do outro.
Ao contrário do que acontece nas versões anteriores das situações aqui entrelaçadas, tornadas uma só, a intimidade com o estrangeiro não implica o desterro e, sim, a autodescoberta e realização. O espaço para esse contato é restrito às duas personagens, não há “outros” à sua volta, sejam eles amigos de infância, vizinhos, companheiros de infortúnio, O eu é, desta forma, posto diante de si mesmo e do outro que o habita. O estrangeiro, nesse caso, é o anjo anunciador de uma situação interna, constitutiva do eu, que se torna o único centro das atenções. Já não se faz necessário uma investigação do horizonte, os obstáculos à realização (homo)erótica não se fazem presentes. Envolvendo, assim, uma desconsideração do mundo, uma dessacralização dos empecilhos ao movimento do eu, a vivência da singularidade que se afirma no conto exige, porém, a presença de um outro ator, de uma outra personagem, de um outro estranho. Mais do que nunca, o outro revela sua importância vital. Ele representa, de fato, a possibilidade de algum recentramento no presente e com vistas no futuro. No entanto, se tal possibilidade existe ela é apenas isso, algo possível, e a harmonia que se espera só é vislumbrada a posteriori, no exercício da memória e na afirmação do olhar estrangeiro. Nos extremos desse processo de transformação, dois momentos bem distintos, inventário do irremediável e Os dragões não conhecem o paraíso. No primeiro, a quase total ausência de relações sexuais. No último, contos que chegam a beirar a pornografia. Antes, o corpo (do eu, do outro) desconhecido, fraturado, desconjuntado, pouco visível, quase abstrato. Depois, o corpo concreto, desejado, explorado, ainda um tanto cindido pelo olhar, porém mais inteiro, um tanto imperativo. No meio do caminho, o corpo que toma forma, que se revela, que apodrece de dentro para fora, no isolamento do eu, que se impõe à rotina e que deixa de ser assustador. A emergência do corpo no cotidiano das personagens corresponde à reformulação de uma antiga oposição, entre o amor idílico e o amor sexual, sem sentido diante da impossibilidade do acesso total, completo, ao outro. Amar e transar não mais se distinguem, antes se completam e, com isso, pode-se estabelecer um espaço de um trânsito pessoal, íntimo, em meio à multiplicidade de tráfegos do mundo.
A PAIXÃO DO ESTRANGEIRO
A importância do outro, a presença da sexualidade, a atenção ao corpo e a busca de uma saída individual para o estado de vira-ser no qual as personagens se encontram podem aparentemente encobrir a inquietude que pontua toda a obra. A reflexão sobre o estar-no-mundo, porém, mantém a sua pulsação ao longo de todos os textos, ainda que dê a impressão de que tenha perdido espaço. Na verdade, a adoção dessa saída individual reflete o que caracteriza exatamente essa investigação existencial. Nesse sentido, a sexualidade desempenha um papel significativo. Por um lado, ela está por trás do deslocamento e da fratura, tirando as personagens do mundo ingênuo da infância. Por outro, ela é um índice desse estar-no-mundo tão angustiado, o que permite localizá-lo e estabelecer-lhe uma configuração histórica. Por outro lado, ainda, o relacionar-se com a sexualidade permite caracterizar o eu, dentro desse feixe de relações sociais. Afinal, o mergulho em si à busca da verdade é feito a partir do e no reino da sexualidade, envolvendo um embate com os contornos do si e a adoção de um ideário comportamental e político. Enquanto a atenção está voltada para o todo, para o mundo, a sexualidade pontua e perpassa a estranheza e a desumanização das personagens. Quando se opta pela saída individual, ela passa a ser o centro das atenções. Quando essa individualização avança, a sexualidade se torna o espaço da liberdade, quase um espaço em branco, sem maiores perigos a oferecer. Fernando Arenas, abordando o universo de Morangos mofados, percebe que “a pulsação homoerótica que move a narrativa funciona mais como alegoria de uma angústia de ordem ontológica” (1992: 61). Isso é válido para toda a obra e expõe o quão imbricadas estão a reflexão existencial e a vivência da sexualidade. Nesse sentido, tanto faz se as personagens são hetero, homo ou bissexuais, O importante é que elas, ao procurar sua verdade, esbarram na própria incapacidade de definir-se através da sexualidade. Por outro lado, o texto literário não só ratifica tal dimensão do eu como o espaço definidor de uma identidade, como também mostra o limite, a incapacidade da sexualidade de cumprir o que promete.
Com isso, a dimensão sexual é ultrapassada para que se busquem respostas, uma verdade, um sentido, no tempo anterior a uma configuração da realidade. Realiza-se, então, uma crítica da sexualidade feita de dentro dela mesma — e de dentro da literatura — incorporando nesse percurso um permanente diálogo com o tempo. Não é à toa que Jurandir Freire Costa, pensando num determinado conto de Morangos mofados,8 associa suas personagens a um determinado tipo urbano, O eu que se afirma nessa obra, da mesma forma que adota um ideário de geração, se identifica com um determinado comportamento — com uma cosmovisão, no dizer de Freire Costa típico da metrópole. Diz Costa: Os heróis, todos jovens, habitam um mundo de descrença, cinismo e perplexidade. Parecem convencidos de que a história perdeu o prumo e a terra está devastada, povoada por homens ocos [...]. Contemplam o caos e sobrevivem à espera da “coisa maravilhosa”. Mas, enquanto o milagre não surge, concentram-se no próximo orgasmo e no próximo “barato”. Céticos em relação a tudo, parecem buscar no corpo e no prazer que dele podem extrair o que lhes resta de sentimento de identidade histórica e pessoal (1984: 118). Ou seja, a própria aposta na sexualidade como elemento definidor do eu indica que esse eu está inscrito no tempo e dele se alimenta. Nesse sentido, a sua vivência não o caracteriza como um eu na metrópole, mas, sim, como um eu da metrópole. Esse ser metropolitano, por um lado, vive com os limites da própria metrópole, que, afinal, envolve implicitamente a “periferia”, o que sugere não só outras conformações desse mesmo espaço, como também uma vivência que está, curiosamente, à margem dela. 8. Trata-se de “Os companheiros” (COSTA, 1984: 1 178).
Por outro lado, vive-se na metrópole o próprio limite desse universo, dessa cosmovisão. Construir-se através da sexualidade, buscar uma essência libertadora, almejar uma verdade transcendente, nada disso é possível. Instrumentalizado, forjado na metrópole, o eu põe em xeque seu próprio mundo metropolitano. É ultrapassá-lo, em certo sentido. Em outras palavras, a personagem que se aterrorizava com seus próprios contornos, com seu destino (sexual, inclusive) e que buscou na sexualidade a definição de si, chega aos quarenta anos (em Os dragões não conhecem o paraíso) ultrapassando essa conformação irremediável de si. Mergulhando na sexualidade, o sujeito se coloca acima e maior que ela. Da mesma forma, realizando, em linhas gerais, um mergulho em si mesmo em busca da sua verdade, acaba por afirmar-se não no mergulho ou na verdade, mas no olhar que se dirige ao mundo e a si mesmo. A marca primeira que caracteriza a reflexão existencial perpetrada nessa obra, é, então, o caráter de ex-centricidade desse eu, que se desloca na própria dimensão que configuraria sua marginalidade. O início desse percurso se dá num momento marcado historicamente — os anos 70 — quando a descoberta e liberação da própria sexualidade, era um objetivo comum. E, além disso, as sexualidades “diferentes” podiam ser vividas dentro de uma moral que não as excluísse totalmente, que, ao contrário, as considerasse parte indissolúvel — e portanto legítima — do eu. O louco ou anormal propunha sua (des)integração a partir da própria loucura. O estrangeiro, o louco, se auto-afirmava como uma forma pertinente de interação, dentro de um ideal que pregava a liberação de todas as formas de prisão, de amarras que cerceassem a essência interior do eu. É interessante perceber que é exatamente a ausência dessa verdade íntima — que, de alguma forma, estaria em comunicação com uma verdade superior, cósmica, existencial — que move as personagens, a partir do momento em que se suspende uma realidade conformada, até o momento que em que elas se encontram diante da memória de si mesmas. Buscada, mas jamais alcançada, essa justificativa para o mundo, para o eu, da vida enfim, perde seu encanto, sem jamais deixar de ser perseguida, à medida que o estrangeiro enraíza-se na sua própria estranheza, no seu próprio olhar.
Em outras palavras: se a adoção da loucura, de uma alteridade social, sexual e política, tinha como objetivo de uma vida mais próxima da essência do eu, o não encontrar dessa verdade primeira faz com que reste a própria loucura, marcando a trajetória desse eu, que assim se diferencia — e nela se afirma. A loucura, mais que a lucidez, se torna um lugar, um outro lugar — tolerante, humanista — legítimo e legitimador das personagens. A memória traz as marcas dessa opção que individualiza o eu que, por sua vez, mantém sua escolha, ainda que ele a perceba, no fim das contas, como um sonho. Por outro lado, pode-se ver, nesse percurso, o que Foucault chama de política da vida, o quanto, no mundo contemporâneo, viver está profundamente imbricado a um projeto político, seja ele da adoção da loucura ou não. Essa trajetória das personagens, toda uma série de transformações históricas interferem nos seus rumos, transparecendo no texto literário. Ditadura militar, drogas, esoterismo, abertura democrática — todo um movimento, ou antes, um conjunto de movimentos de uma época envolve a obra, ao mesmo tempo integrando-se a ela e localizando-a. Assim, se estabelece o diálogo entre história e ficção, nesse caso específico. Por um lado, o texto está inscrito num tempo, e este respira, sobrevive, no interior desse texto. Por outro, o próprio universo da obra constitui o seu tempo. O eu que confessa, que busca a saída esotérica e alucinógena, que se fratura em busca de si mesmo, que se angustia com a própria sexualidade, ele é tributário de uma configuração histórica que o escreve e que, ao mesmo tempo, ele escreve. E ultrapassa, na sua diferença de texto literário. A reflexão existencial sobre o estar-no-mundo significa, por um lado, uma elaboração do estar num mundo, circunscrito na história; por outro, significa, uma construção própria, marcada por uma busca de entendimento, do que seria o estar-no-mundo. Por outro lado, ainda, envolve uma versão própria de um material único, a ficção, e aí se estabelece um diálogo com uma outra tradição, com uma outra história, da mesma forma que a reflexão existencial se encontra com uma reflexão sobre os limites e as características da própria literatura. Se é um estrangeiro que se afirma no percurso das personagens dos cinco livros, ele não pertenceria a princípio à comunidade paradoxal detectada por Kristeva, mas, aos poucos, ele se torna um de seus membros, ao enraizar-se em si mesmo. Se é literária a reflexão existencial, ela ganha forma dentro da literatura, num processo constante de exercício, questionamento e afirmação desse material. O eu que se enraíza em si mesmo, se enraíza na própria ficção que o constitui. Daí a imagem dos dragões, que não conhecem o paraíso porque não estréiam nunca, não são realidade, só ensaiam o outro, o sonho, o marginal, um possível. Daí a necessidade de tecer, de tecer sempre. Daí o encontro entre realidade e ilusão: um e outro se igualam no material com que são elaborados. Daí a paixão, pelo ritual, pela sedução, pelo outro, pelas palavras, pelo sonho, pelo estar-no-mundo. Não por acaso Lygia Fagundes Telles coloca esse texto sob o signo da emoção: Emoção esta que é vertida para uma linguagem que em alguns momentos atinge a rara plenitude próxima de um estado de graça. Linguagem que o coloca [o autor] na família dos possessos [...] cultivadores não só da “paixão da linguagem”, na expressão de Octávio Paz, mas também da “linguagem da paixão” (1992: 14). Essa linguagem leva ao que se poderia chamar de esvaziamento da palavra, o que, no entanto, não envolve recusa. Ao contrário, é preciso lembrar que isto só é possível através das palavras, é feito de dentro delas, com elas. Com isso, à palavra é reconhecida a pertinência e a autoridade, é ratificado (submetendo-se) o seu poder e seu valor como instrumento a ser burilado, utilizado, explorado ao extremo. Por outro lado, Lygia Fagundes Telles utiliza significativamente a palavra “paixão” para designar essa linguagem de desbravamento e exploração. Gérard Lébrun, por sua vez, lembra que “a paixão é sempre provocada pela presença ou imagem de algo que leva a reagir, geralmente de improviso. Ela é, então, o sinal dc que eu vivo na dependência permanente do Outro: um ser autárcico não tem paixões” (1987: 18).
A linguagem da paixão, portanto, se mostra coerente com a busca do outro, que é tanto o sonho, quanto o eu, quanto o amor, quanto a literatura. Envolvendo passividade e movimento, a paixão tem importância fundamental para o estrangeiro, como percebe Júlia Kristeva. Ela define esse ser como alguém que rejeita a origem e procura um mundo, algo que não está presente, que ainda não se fez. Em trânsito, o estrangeiro, ao mesmo tempo lida com o ódio que os outros, os nativos, têm por ele e se alimenta disso. Afinal: Todo nativo se sente mais ou menos estrangeiro em seu próprio lugar e esse valor metafórico do termo estrangeiro primeiramente conduz o cidadão a um embaraço referente à sua identidade sexual, nacional, política, profissional. Em seguida, empurra-o para uma identificação, certamente casual, mas não menos intensa — com o outro (KRJSTEVA, 1994: 27). Isto o leva — ou pode levar — a pôr em suspensão a própria noção de eu, de permanência, de singularidade, de repetição, como se se dissesse “o eu é sempre outro e o si não existe” (1994: 18). Assim, o encontro se torna fundamental para o estrangeiro. Afinal, ele, o encontro, “equilibra o nomadismo”, sendo o “cruzamento de duas alteridades”, acolhendo o estrangeiro “sem fixá-lo”. Diante do encontro, os estrangeiros se dividem em crédulos e cínicos, entre os que anseiam que ele ocorra, que se alimentam dele, e os que a ele se entregam numa vertigem aparentemente sem paixão. Aparentemente, apenas. Pois — e este é o ponto fundamental — os estrangeiros são seres apaixonados, pelo próprio desligamento, pela própria indiferença, pela própria errância. A chama que trai seu fanatismo latente só aparece quando ele se liga seja a uma causa, a uma profissão, a uma pessoa. Então ele encontra nisso mais que um país: uma fusão, onde não existem mais dois seres mas um único que se consome, total, aniquilado [...] todos os estrangeiros que fizeram uma “escolha” acrescentam à sua paixão pela indiferença uma certa intransigência fervorosa, que revela a origem de seu exílio (KRJSTEVA, 1994: 17). No entanto, diz Lébrun, “não existe paixão, no sentido mais amplo, senão onde houver mobilidade, imperfeição ontológica. Se assim for, a paixão é um dado sublunar e da existência humana” (1987: 18). Assim, a reflexão sobre o estar-no-mundo, sobre o trânsito, sobre a incompletude, é coerente com a paixão pela tessitura, pela sedução, pelo outro, pela errância. Assim, a metrópole possibilita uma existência e é palco para a paixão de um estrangeiro que é um texto, que se constitui em um tempo, e que é ele mesmo paixão, de personagens inquietas, de um mundo em movimento, de uma escritura que se processa.
A INQUIETUDE DO ESTRANGEIRO
Muito se falou até aqui sobre o estranhamento. Por um lado, ele parece constituir uma realidade interna às personagens do texto ficcional, estranhas e apreendidas quase sempre no próprio ato de estranhar-se. Por outro, ele aparece como o resultado, como a face mais visível de um estado de coisas que tem suas raízes em algo anterior, mais profundo, intuído. Por outro, ainda, ele está associado ao próprio material com que tais personagens são tecidas, a literatura, e ao uso desse material que constitui e dá forma a um universo ao qual se procurou dar um rosto possível. Perpassando todas essas versões do estranhamento, percebe- se sua ligação com outro conceito muito utilizado: “estrangeiro”. Estranhar é “reparar”, é “não se conformar”, é “esquivar-se”. Algo ou um ser estranho é “fora do comum”, “enigmático”: é algo ou um ser estrangeiro. Há uma estranheza em todo estrangeiro, assim como ser estrangeiro é viver o estranhamento. E mais: ser estrangeiro significa fazer do estranhamento uma forma de interação, numa conjugação própria da dialética proximidade/distância. Nesse sentido, o estrangeiro é uma definição pertinente para caracterizar todo um relacionar-se presente na obra literária em questão. O percurso percorrido até aqui objetivou exatamente apreender, em mais de um nível, o que significa relacionar-se enquanto estrangeiro, que figura é essa e que vivências ela impõe. Assim, num primeiro momento, buscou-se mostrar a sua existência empírica, resultado de uma conjunção de fatores que caracterizam o mundo contemporâneo, quando um estrangeiro se tornou habitante da metrópole, sendo por ela constituído. Num segundo momento, o alvo foi o texto literário, quando se pretendeu mostrar a vivência e a trajetória de personagens, que compõem um eu que permanece ao longo do percurso, marcadas pelo estranhamento. Por último, o encontro desses dois estranhos, desses dois estrangeiros, como forma de se caracterizar todo um escrever(se) no/do mundo por parte da obra ficcional em foco. Tem-se a impressão de que esse encontro dá a medida de uma forma de inserção no mundo por parte do texto literário em questão. Sendo, por definição, como literatura, “via oblíqua”, os contos de Caio Fernando Abreu constroem-se conscientes de sua estranheza, da mesma forma que dão voz a estrangeiros que vivem em seu interior. Esse outro ser estranho é esculpido com as marcas da história, que pontua e caracteriza sua trajetória. Nesse sentido, esse estrangeiro se torna um confidente da própria estranheza, constituindo um universo que, se é solidário com quem o habita, é da mesma forma sedutor e traiçoeiro para quem vem de fora. Ao olhar estrangeiro do leitor pede-se cumplicidade, mas não conformidade. Ao contrário, o trânsito se afirma a cada instante, mover-se é necessário, nem que seja para reafirmar um ritual, o da palavra, o da própria sedução, o da literatura. Assim, estranheza rima com inquietude, com movimento. Se, como se julgou mostrar, é feito um diálogo com o tempo, faz-se necessário, então, o caminhar no tempo, que esse tempo de fato exista, que se instaure o devir. O eu que se angustia diante de um estado de vir-a-ser não abdica do futuro, do que está por vir. Vivenciando o tempo, assim, e sendo estranhamento, o texto estranha e constrói estranhezas que, por sua vez, o habitam, lançando sobre ele seu olhar oblíquo, o mundo e a história. Nesse interagir, afirma-se, no fim das contas, a própria tessitura. Se, a princípio, uma necessidade de verdade se impunha de forma categórica, aos poucos ela vai cedendo lugar à necessidade de contar, recontar, viver e reviver histórias. Só assim é que se vislumbra alguma possibilidade de verdade. Aos poucos, ao ser que realiza essa procura, só resta, mesmo, o tempo, inscrito na memória, e as palavras, signos pelos quais a verdade se trai. O estrangeiro que sobrevive ao longo de cinco livros e de várias histórias viaja, assim, no tempo e na própria estranheza que o constitui. Aliás, é exatamente essa viagem que o define, que possibilita sua existência e que dá forma ao seu interagir. Como diz Olgária Matos: quanto ao viajante autêntico, este parte permanentemente; é distância entre o eu e o mim que torna a partida possível [...J [ele] é “emboscado” pelo tempo, envelhece no entretempo da partida e do retorno. Na procura do que é estrangeiro, inassimilável, está em questão o ato mesmo de pensar. A desunião é constitutiva da fusão. Na cintilância andrógina do momento, há o instante, a um só tempo, da iluminação e da revelação do conhecimento de si e da história coletiva, pois cada um de nós se assemelha mimeticamente ao período histórico em que vive (1995: 27-8). O estrangeiro que habita a metrópole é reconstituído por um texto estrangeiro, que o fragmenta e o põe em trânsito por cidades também reescritas. Nesse viajar, entram em questão o próprio tempo, a própria estranheza, o mundo que o envolve, o material que o constitui. Uma reflexão existencial e literária é posta em curso, então, por meio da multiplicidade de histórias, de personagens, de situações, de tempos. A idéia de um todo, de um conjunto, esboçada nessa dissertação, portanto, tem a fugacidade de um olhar, tem a dimensão de uma possibilidade à qual se alude, feita ela mesma, numa viagem. Acompanhando aquela outra viagem, não há como negar a pertinência da palavra paixão que se associou a ela. Diante da verdade intuída, do trânsito pela história e pelos espaços múltiplos, o texto se afirma e se constitui sob o signo da paixão, que é principalmente paixão da linguagem. Por outro lado, “paixão” pode ser usada também para designar uma epopéia, um percurso por entre situações e lugares, no decorrer de um determinado instante. É ela, a essa paixão, que se alude também quando se diz da “paixão do estrangeiro”. Entre quedas, fraturas, superações e recomeços, sobrevive o tempo, sobrevive o impulso que faz caminhar, sobrevive a estranheza e a paixão por esse olhar que desloca e esclarece, que se encerra e se abre ao outro, ao desconhecido, ao que virá.
Caio Fernando Abreu
O melhor da literatura para todos os gostos e idades














