



Biblio "SEBO"




Foi assim que Charley quase caiu quando o soberbo Andreas abriu a porta (Andreas vestido com probidade cândida e linho branco) e penetrou de cabeça no quarto. Em sua cama, com os ombros nus, o rosto vermelho de tanto rir e os olhos faiscantes de autoridade, a Doriacci fitava-o sem raiva e sem indulgência.
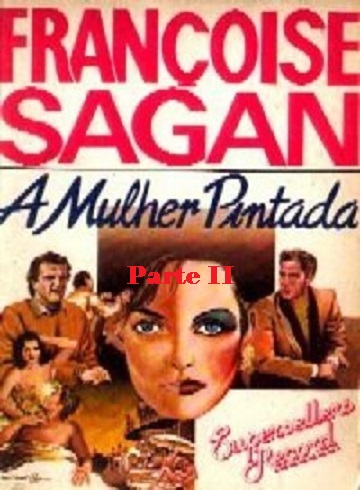
— Sr. Bollinger — disse ela —, já de pé a esta hora? O senhor quer tomar o café da manhã conosco?... Se esta desordem não o assustar. . .
E com seu belo braço ainda liso ela mostrava o quarto. "Um quarto de amantes", observou Charley tristemente, com as roupas, os cigarros e os livros, o copo de água e os travesseiros espalhados na desordem inimitável do prazer. Balbuciando, sentou-se na ponta da cama, cabisbaixo, com as mãos nos joelhos como um primeiro comungante. Sem qualquer outro comentário a seu comportamento infamante, a Doriacci pediu chá para três pessoas, torradas, geléias e suco de frutas. Esse café da manhã seguia de perto um champanha noturno, a julgar pela garrafa ainda fresca e o rosto do camareiro, completamente exausto:
O pobre Emilio não dormiu por minha causa — disse a Diva, designando-o a Charley. — Eu o recomendo à sua indulgência — concluiu, tirando de uma das bolsas uma dezena de notas que pousou sem pudor e sem ostentação sobre a bandeja do infeliz Emilio, que voltou a se colorir ante essa visão. — Então, Charley, esta visita é em honra de quê? Novos dramas hoje, já? Todo dia acontece alguma coisa neste navio, e não das mais simples.
O que a senhora quer dizer? — perguntou Charley (a curiosidade fazia-o sentar-se mais firmemente na cama, de onde já quase escorregara três vezes, pois a vergonha o levara a se colocar quase na extremidade).
Andreas também viera sentar-se na cama, mas com os pés no chão, um pouco enviesado, "com uma discrição tão inútil quanto enternecedora", aos olhos de Charley. .
— Certamente acontecem coisas... — disse a Doriacci. — Uma: a sua Clarisse nacional ficou linda; dois: o belo
Julien a ama; três: ela quase lhe corresponde; quatro: Olga e o sr. Lethuillier, depois de seus amores contrariados, já se aborrecem juntos. O produtor ruivo e a altiva Edma vão namorar muito brevemente. Quanto a Andreas. . . — disse, dando tapinhas no nariz do rapaz como se ele fosse um cachorrinho —, ele está loucamente apaixonado por mim. Não é, Andreas? — disse, com crueldade.
— Isso lhe parece impertinente de minha parte, não é? — disse Andreas a Charley. — Meus sentimentos lhe parecem falsos ou interesseiros?
Ele visivelmente não se divertia de todo, e Charley se perguntou mais uma vez por que ele próprio vivia cedendo à sua curiosidade, já que era sempre punido, num prazo mais ou menos longo. Desta vez fora rápido, e mudou de assunto para fugir à punição dessa cena que, afinal, comentaria alegremente, mas que sofria ao ver explodir diante dele.
— Você sabe que nós temos neste navio um tesouro artístico? — disse com sua voz misteriosa.
E a Doriacci já se erguia sobre os travesseiros, apaixonada, mas Andreas conservou os olhos baixos.
— O que é? — perguntou. — E, primeiro, como é que você sabe? Desconfio de seus informantes, meu belo Charley, desconfio de suas fontes: e no entanto você sabe de tudo neste navio, mesmo que não se saiba como — disse ela, pérfida.
Mas Charley não estava em condições de protestar e continuou:
Julien Peyrat comprou em Sydney, há dois meses, por uma ninharia, uma vista de Paris sob a neve assinada por Marquet, um pintor admirável, próximo dos impressionistas, que tem alguns quadros que são um esplendor. . .
Eu conheço e adoro Marquet — disse a Doriacci. — Obrigada!
E ele está pronto a revendê-lo por cinqüenta mil dólares — disse Charley lentamente (não teria um ar mais trágico se tivesse jogado uma bomba sobre a coberta da cama). — Isto é, vinte e cinco milhões de francos antigos! Por nada, veja só!
Eu compro — disse a Doriacci, batendo com a mão na coberta, como se Charley fosse um avaliador. — Não — voltou ela atrás —, não compro. Onde é que poria esse Marquet? Eu não paro de viajar. . . Um quadro deve ser visto, olhado todo o tempo com olhos amorosos, e este ano não paro de viajar. O senhor sabe, sr. Bollinger, que descendo deste navio tomo logo um avião para os Estados Unidos, onde canto no dia seguinte à noite, no Lincoln Cen-ter de Nova York, aonde este senhor quer que eu o leve — continuou, estendendo sem olhar uma mão carinhosa para Andreas, que recuou, e ela, portanto, não tocou, mas que procurou vagamente no ar, mas só com a mão, e a que renunciou com a mesma expressão bonachona, "sempre com aquele ar de estar se dirigindo a um cachorrinho", pensou Charley.
E ele se levantou involuntariamente. Sofria por Andreas e se espantava, sendo seu interesse evidente que a Doriacci lhe restituísse o rapaz, ou pelo menos lhe desse uma oportunidade de capturá-lo. "Decididamente ele tinha muito bom coração", disse consigo mesmo, voltando-se à porta e dirigindo-lhes com a mão um adeusinho dengoso. Um rosnar feroz vindo da cabina adjacente fê-lo descer o corredor a galope, só parando aos pés de Ellédocq, com seu colar de barba tranqüilizador.
Atrás dele, no quarto em desordem, a Doriacci já não ria. Olhava Andreas e os belos cabelos cortados muito curtos na nuca.
Não gosto que você me faça cara amarrada, mesmo diante de Charley.
Por que mesmo diante de Charley? — perguntou Andreas com um ar perfeitamente inocente e intrigado, o que ainda espantava a Diva, essa arte de mentir num rapaz tão límpido.
Porque isso só pode lhe dar prazer — falou sorrindo, para que não pensasse que ela tinha sido enganada.
— Por quê?
Esse ar de incompreensão de súbito exasperou a Doriacci. A insónia já começava a lhe atacar os nervos, e ela o sentia, mas não podia se privar de suas noites em claro, os únicos momentos em que se divertia um pouco, por vezes muito, mas com uma alegria que não dependia de todo de seus companheiros, pois era a seus acessos de riso frouxo, a suas próprias palhaçadas que ela se entregava de bom humor ou sarcástica em seus delírios, seus projetos ou lembranças, todas derrisórias, extravagantes e que deixavam esses jovens coitados mais aterrorizados do que alegres. Andreas pelo menos tinha a seu favor a vantagem de rir de seus risos e também de fazer rir com suas anedotas, sem que para isso negligenciasse seus deveres de amante, que realizava com um fervor difícil de encontrar nesses tempos, tanto entre os jovens como em adultos, nessa época em que só se falava de sexo com crueza, avidez e impolidez, tudo batizado de liberdade. Era bom que Andreas, aliás, perfeitamente franco sobre seus meios de vida, não fosse hipócrita sobre seus costumes.
Porque Charley está apaixonado por você, caso você o ignore realmente. E sou eu o obstáculo entre ele e você neste navio. Se nós nos separarmos ele poderá consolá-lo.
Como?... — disse Andreas, corando. — Você pensa que eu me deixaria consolar por Charley?
— E por que não?
E ela se pôs a rir, porque, bizarramente, por uma vez, não a divertia levar Andreas a mentir, como tinha feito mentir os outros, seus brilhantes predecessores, que essa questão embaraçava por vezes até a mentira.
— Em todo caso não me faça mais trombas, está bem? Diante de ninguém. Talvez eu o leve a Nova York, mas de jeito nenhum se você ficar emburrado.
Andreas não respondeu. Fechou os olhos, estendido na cama. Ela poderia pensar que dormia, não fosse o franzido das sobrancelhas e a melancolia da boca, que denunciavam um homem acordado e triste por isso. A Doriacci assobiou imediatamente, já era tempo de pôr as coisas em pratos limpos com esse falso tolo vindo de Nevers, sem o que ela se encontraria nos piores embaraços. . . Embora não a chocasse, embora ela nunca pensasse nela sem pretexto, a lembrança do suicídio de um jovem regente de Roma, por sua causa, dez anos antes, não a tinha abandonado completamente.
O capitão Ellédocq, na cabine de comando, fixava o mar estendido diante dele, um mar plano como a mão, o que não o impedira de pousar sobre ele um olhar desconfiado e agressivo. Ellédocq, pensou Charley, parecia prestes a esfregar as mãos e dizer "Agora nós, meu velho", como se partisse num rápido veleiro para os roaring fordes1. O heroísmo reprimido ou, em todo caso, não utilizado por Ellédocq explicava aos olhos do compreensivo Charley seu mau humor perpétuo e sua solidão, que não pareciam sombrear a vida da mulher que Charley vira com Ellédocq em Saint-Malo, muito alegre, havia quase dois anos. Eles não tinham filhos, graças a Deus, pensou Charley, que via diante dele lactentes barbudos. Charley levantou a cabeça e gritou:
— Capitão! Olá, capitão! — com voz ligeiramente rouca.
O senhor de bordo inclinou um rosto imperioso e grave para
1 Qualquer das duas áreas do oceano entre os 40 e 50 graus de latitude norte e sul, caracterizadas por fortes ventos e águas encapeladas. (N. do E.)
Charley; olhou-o de alto a baixo, observou com tristeza o blazer de veludo marrom antes de resmungar:
O quê? O que foi que houve?
Bom dia, capitão — disse Charley, vivo e alegre por natureza e, apesar de toda a sua experiência, tentando ainda agradar ao seu superior. — O cão do mestre Kreuze acordou. . . Ouvi-o rosnar ao passar, e não era nada tranqüilizador! Emilio, o primeiro camareiro, ameaçou descer em Siracusa se o cão não for preso. E já não temos soníferos para ele. . .
E Ellédocq, entregue às suas tempestades imaginárias, e levado portanto a desafiar o Mediterrâneo, deixou cair um olhar de desprezo sobre Charley e suas preocupações domésticas.
Chateia. . . História de cão. . . Jogá-lo na água. . . Não é meu ofício. . . Arranje-se. . .
Já está feito — objetou Charley, mostrando sua tíbia. — Se esse animal morder a sra. Bautet-Lebrêche, por exemplo, ou o imperador do açúcar, teremos processo em cima de processo!. . . Lembro-lhe, meu capitão, que o senhor é o único responsável por este navio e por tudo o que aqui acontece!... — E para acentuar essa responsabilidade, Charley bateu com os saltos, chegando mesmo a pôr uma certa graça nesse movimento militar.
Você. . . medo? — perguntou Ellédocq, escarnecedor. — Ah, ah, ah!
Calou-se, e Charley, virando-se, viu o terrível espetáculo: lançado sobre suas quatro patas quase mecânicas, a uma velocidade crescente, o cão em questão se aproximava deles. "Parece maior do que seu tamanho natural", pensou Charley, e suas pernas levaram-no a desenvolver uma velocidade desconhecida até então, escondendo-o atrás de uma mesa, enquanto o animal louco furioso subia os degraus reais, no alto dos quais estava Ellédocq.
— Onde está esse cão, Charley?. . . Onde está ele, o maldito? — clamava Ellédocq, com voz interrogativa e imperiosa, já furioso de esperar uma resposta que, infelizmente, chegou logo.
Alguma coisa o agarrou pela barriga da perna, atravessou sua sólida roupa de marinheiro, suas meias de lã e, tendo atingido a pele, firmou-se. A voz trovejante foi substituída por um grito agudo de lebre, um grito de desespero que espantou o homem do leme e o fez levantar os olhos mais uma vez para as gaivotas inocentes.
— Arranquem isto daqui, meu Deus! — ordenava Ellédocq a ninguém, tentando dar pontapés com o pé livre no cão desatinado, pontapés falhos que o fizeram tropeçar e cair de quatro diante de seu algoz. Ellédocq tentou ainda recuperar sua voz de macho e sua coragem, mas gritou: "Charley! . . . Charley!. . .", com uma voz de virgem entregue às feras.
Charley, tendo subido as escadas mais do que lentamente, levantou a cabeça à altura do chão, sem ousar subir, e considerou o que se passava com um rosto que exprimia compreensão de um mordido por outro mordido, mas também covardia de um homem experiente.
— E então? Você não pode fazer nada? — gritou Ellédocq com tanta raiva quanto desespero. — Eu o farei desembarcar, vou despedi-lo em Cannes, sr. Bollinger! — disse, reencontrando como sempre, quando sentia emoção, a prática do sujeito, do verbo e do objeto. — Chame o sr. Peyrat, pelo menos, então. . . — gemia ele (porque a coragem deste lhe fora elogiada dez vezes e em dez versões diferentes mas concordantes).
Enquanto Ellédocq continuava a ganir e a gemer com sua voz de eunuco, Charley desceu escada abaixo, tentando esconder sua profunda satisfação. O capítulo Ellédocq aterrorizado por um buldogue. Não parava de rir. Mas não fez rir a Julien, que tinha dormido no máximo três horas naquela noite e chegou de roupão, com o rosto cansado e um ar perplexo, ao local do suplício.
Mas por que eu? — resmungara com tristeza durante o trajeto relativamente longo de sua cabina ao tombadilho de comando. — Por que é sempre em cima de mim que tudo cai? Eu já o livrei desse cão, e com prazer, meu caro Charley, mas não sinto o mesmo heroísmo por Ellédocq. Você me compreende...
Ele vai ficar com uma raiva mortal de mim — retorquiu Charley — se não o livrar imediatamente. Vai ficar furioso e humilhado, e isso pesará sobre todo o cruzeiro. . . E depois, aliás, o que mais lhe caiu em cima, como você disse?
Desde a partida — disse Julien com vigor —, é em cima de mim que caem as mulheres em lágrimas e os cães furiosos! Eu vim aqui para descansar, o senhor sabe, sr. Bollinger — dizia, quando chegaram à porta para ver o leão abatido pelo rato.
Os dois se misturavam no chão; Julien se lançou, agarrou o animal pela pele do pescoço e do traseiro, mas não depressa o bastante para evitar ser mordido, por sua vez, cruelmente. Acabou lançando o cão para fora e fechando a porta, mas seu pulso e a panturrilha de Ellédocq vertiam sangue, púrpura em Julien e mais violáceo em Ellédocq, observou Charley, que considerava tudo através da estética. Enquanto se trocavam lenços, a porta vibrava com os golpes das unhas e os latidos do cão privado de sua presa. Viram afinal aparecer no tombadilho, sem dúvida acordado pela voz do sangue, Hans Helmut Kreuze, de roupão de lã marrom e negro, com alamares grenás e bege do pior efeito, pensaram, ao mesmo tempo, os três prisioneiros. Hans Helmut apanhou o cão como pôde e tudo acabou na enfermaria.
Julien foi, portanto, parar na enfermaria. E após uma boa meia hora de costura horrível em seu punho, adormeceu, desistindo da escala e do concerto. E foi ali então que, de noite, viu Clarisse chegar. Fora precedida de tarde por Olga, Charley, Edma e Simon Béjard, este por amizade, as duas mulheres para bem ressaltar sua feminilidade e sua compaixão natural. Julien, em relação a Clarisse, estava bem decidido a aproveitar essa feminilidade, mas sem para isso procurar sua compaixão e apesar da inimitável monotonia do ambiente em torno deles.
A enfermaria era uma grande peça, maior do que as suítes dos intérpretes reais, uma grande peça branca onde se podia muito bem operar uma pessoa e onde estavam armados ao todo dois leitos vazios, além do de Julien, e uma mesa com rodas coberta de material cirúrgico, que Julien suplicou logo a Clarisse que tirasse de sua vista.
Foi com essas tesouras que me torturaram toda a manhã.
Está doendo? — perguntou Clarisse, que estava vestida de cores vivas sob seu novo rosto, que se tornara pálido, o que fazia dela o negativo da mulher que subira a bordo, cinco dias antes, com o rosto rebocado, escarlate e seu rígido costume cinza-negro.
Julien ficou mais uma vez impressionado com sua beleza: com ele Clarisse se vestiria sempre assim, dessa maneira vistosa, já que era linda de se ver, e ele, em vez de temer que olhassem para ela, dali por diante faria tudo para isso.
— Esse vestido é muito, muito bonito — disse com convicção, lançando-lhe um olhar apreciador de mestre, que, por um segundo, desagradou a Clarisse antes de diverti-la. — Pensou em você, em mim, em nós, enfim? — continuou Julien, que assim esquecia a dor aguda no braço por causa dos batimentos hesitantes de seu coração, que por vezes martelavam as costelas e por vezes desapareciam completamente, quase em síncope.
O que é que você quer que eu pense? — disse Clarisse com ar resignado. — Que você tem um fraco por mim é possível, Julien, embora isso me pareça aberrante. E ainda que eu sinta o mesmo por você — acrescentou com aquela franqueza que sempre desconcertava Julien —, isso não muda nada. Não tenho nenhuma razão para deixar Eric, que nada me fez. E que pretexto eu poderia inventar? .. . Seu flerte com a atrizinha? Ele sabe muito bem que eu não me importo. . . Ou pelo menos deveria sabê-lo.
E então — disse Julien erguendo-se no leito —, se a fidelidade não é exigível no seu "casal" — (e acentuou o termo "casal" por zombaria) —, tome-me como amante, como flerte, como você diz. . . Eu conseguirei certamente um dia legalizar tudo isso. O que a impede neste momento preciso, nesta peça onde estamos sós, de me beijar, por exemplo?
Nada — disse Clarisse num tom de voz distraído e estranho. Depois, como que cedendo a alguma coisa em que sua vontade e sua decisão não intervinham, inclinou-se para Julien, beijou-o longamente e, quando se reergueu, foi fechar a porta à chave e, tendo apagado a luz, veio se despir perto dele no escuro.
Uma hora mais tarde ele se encontrava no bar com a mão enfaixada, em companhia de Edma e da Doriacci, que se enterneceram com sua sorte, com uma compaixão bem feminina que ele suportava com um prazer bem masculino. Clarisse, perto dele, nada dizia.
— Ainda assim foi uma pena que não visse Cartago! — disse Edma Bautet-Lebrêche. — Mas, afinal, você verá Alicante.
— Acho que para mim não haverá cidade mais bonita do que Cartago — disse Julien, sorrindo, com aquela voz de convalescente um pouco lamentosa que adotara vendo seu prestígio crescer com o curativo.
Clarisse, com a cabeça inclinada e os cabelos brilhantes sob a lâmpada, parecia sentir saudades de sua máscara, aquela maquilagem horrível que, em todo caso, impediria seu enrubescimento. A Doriacci olhava esse rubor com um interesse que o redobrou.
— Va bene, va bene. . . — disse a Doriacci sorrindo. Estendendo suas mãozinhas gordas e carnudas por cima da cadeira de tombadilho, deu uns tapinhas nas de Clarisse, subjugada. A Diva lhe dava medo ou pelo menos a impressionava tão visivelmente, que Julien teve vontade de apertá-la junto ao peito por essa admiração ingênua e manifesta. Mais uma vez, talvez a décima naquela noite, só pôde refrear esse desejo e renunciar. "Tinham feito uma loucura, indo juntos para a cama", pensava ele. E tão desastrado quanto infeliz, queixou-se a Clarisse, com a qual se encontrava afinal, após duas horas de tédio e lembranças deliciosas.
—Quando eu só podia imaginar seu corpo e você — murmurou ele censurando —, só havia minha imaginação que funcionava e urrava para a lua de noite na cabina. Agora a memória participa, e isso é realmente atroz!
Clarisse, pálida, olhava-o sem responder, com os olhos úmidos e brilhantes, e Julien ficou com raiva de si mesmo até a morte, por sua brutalidade.
Perdão — disse. — Eu lhe peço perdão. Você me faz uma falta enorme. . . Vou passar o tempo todo a segui-la neste navio, vendo-a e não podendo tocá-la. . . Sinto sua falta, Clarisse, há duas horas como se fossem dois meses.
Eu também — disse ela —, mas será difícil encontrar-me com você.
Julien lamentava agora ter deixado a venda de seu Marquet nas mãos de Charley Bollinger; temia que este, à força de hábeis afetações, ainda estivesse no mesmo ponto ao chegar a Cannes. Ora, era em Cannes que ele, Julien, deveria se precipitar ao banco mais próximo e depositar os vinte e cinco milhões do quadro, dos quais, infelizmente, a metade iria para o seu texano, mas a outra, graças a Deus, iria para a sua conta, permitindo-lhe fugir com Clarisse para céus mais clementes. "Mas nunca me restaria bastante tempo nem bastantes escalas", pensava ele, "para persuadir Clarisse a seguir-me, tarefa tão árdua como encontrar o meio de fazê-lo."
Entretanto, sabia por experiência, o golpe do Marquet devia superexcitar a priori os passageiros do Narcissus. Entre pessoas ricas, essa paixão por um bom negócio era tão viva quanto inútil. Mas isso tornava infinito o campo de suas operações, pois um abatimento num par de luvas ou numa mercearia interessava-lhes tanto quanto uma redução em zibe-linas na Rue de La Paix, e a situação financeira da mercearia nãò lhes causava mais inquietação do que a do grande peleteiro.
A compra do quadro era portanto uma das pechinchas mais apaixonantes nesse pequeno círculo, dourado por fora, levando-se em conta as enormes diferenças que podiam ali ocorrer e às quais eles chegavam, aterrorizando o pintor ou esnobando as galerias. Era sem dúvida elegante, aproveitando a ignorância ou a pressa de um infeliz vendedor encurralado, pagar-lhe metade do preço pela tela, e também era muito elegante pagar dez vezes o preço por essa mesma tela na Sotheby's, por exemplo, no momento em que um amador ou um museu também a desejavam. Nos dois casos, era a vaidade ou a rapacidade que se satisfazia; mas só no primeiro caso o negócio era bom para esse Midas. Porque se tivessem refletido ter-se-iam dado conta de que esse negócio não seria bom, pois provavelmente não revenderiam nunca esse quadro (nem pelo dobro, nem pelo triplo do seu preço de compra), já que não teriam necessidade disso. Não percebiam, portanto, que estavam apenas finalmente bloqueando o seu belo dinheiro em telas de que não gostavam ou que não compreendiam. Era felizmente graças à existência de assaltantes que podiam esquecê-las nos cofres-fortes, de onde só as tiravam para confiá-las a algum museu. . . Naturalmente, os amadores de pintura, consultando o catálogo, veriam escritas em letrinhas negras: "Coleção particular do sr. e da sra. Bautet-Lebrêche", por exemplo (ainda que coleção particular, apenas, fosse também chique). Mas o que o público admiraria então, olhando para esse quadro que eles próprios não contemplavam nunca, seria o faro artístico dos proprietários, de que, de imediato, não estavam tão convencidos, em vez de admirar esse senso dos bons negócios que estavam certos de existir.
Essa era pelo menos a teoria que Julien pensava ter, naquela manhã, apoiado à amurada e olhando para um mar cinza-azul, em cujo final os esperaria o porto de Bejaia. Espalhados ao acaso num ambiente muito cinematográfico, os outros passageiros exibiam em suas cadeiras atitudes enlanguescidas, olhos cercados de olheiras por uma eventual insónia, mais ou menos agradável ao que parecia, porque os olhos vermelhos de Simon Béjard, os traços puxados de Clarisse e as faces cavadas do próprio Julien não evocavam essa serenidade prometida pelos irmãos Pottin. Só Olga, um pouco mais adiante e fingindo ler, com ar grave, as memórias póstumas de um político (que já em vida fora muito aborrecido), mostrava bom aspecto, faces rosadas de mocinha. Sentado perto dela, Andreas, com expressão sombria e romanticamente belo no seu casaco negro, parecia mais do que nunca filho do século (do século XIX, naturalmente). Quanto à Doriacci, com a cabeça atirada para trás e emitindo por vezes resmungos roucos e inesperados — que evocavam antes o horrível Fuschia do que os trinados de uma coloratura —, fumava cigarro após cigarro antes de jogá-los tanto sem maldade como sem preocupação aos pés de Armand Bautet-Lebrêche; ele tinha então, a cada vez, que erguer-se de sua espreguiçadeira, esticar a perna para longe da cadeira e apagá-los com seu sapato de verniz. . . Uma ameaça pairava em alguma parte naquele navio, entre os seus passageiros civilizados; e no entanto o dia estava bonito e o ar, perfumado do cheiro de uva passa, de terra aquecida ao máximo, de café morno e de sal que anunciava a África.
A própria Edma, embora rindo da conversa de Julien, e lançando por vezes na direção de Clarisse olhares afetuosos de sogra, a própria Edma sentia estremecer sob sua pele, sem seu consentimento, pequenos músculos do pescoço e do maxilar, sinais que sabia serem prenúncios de algum terremoto. De tempos em tempos, levava ali a mão, como para domá-los com os dedos.
Armand Bautet-Lebrêche, embora de espírito perfeitamente científico, fora demasiado submetido ao empirismo dominante de sua época para não se lembrar e temer, ele também, o futuro próximo anunciado por esses tremores no pescoço de Edma. Era sem dúvida essa apreensão que lhe fazia apagar distraidamente e sem reclamar umas após outras as pontas de cigarros da Diva. Quanto a Lethuillier, que representava como todos os dias seu número mudo de jornalismo poliglota, levantava por vezes a cabeça de suas gazetas espanholas, italianas, inglesas e búlgaras para lançar ao mar perfeitamente azul e plano um olhar suspeito, como se esperasse ver surgir, como no relato de Terameno, o horrível animal fatal a Hipólito. Simon Béjard, a seu lado, não chegava a se distrair com o 421 que jogava contra si mesmo, numa melancolia que parecia ricochetear ao mesmo tempo que os dados na mesa verde, com um ruído monótono e exasperante. A chegada de Charley deu alguma esperança ao grupo, mas ele não estava animado e mergulhou muito depressa na morosidade geral.
Essa atmosfera chegara a tal ponto que, vendo o capitão Ellédocq acompanhado de Kreuze na outra ponta do navio, martelando o tombadilho com passos pesados, na direção deles, os passageiros do Narcissus tiveram um momento de esperança, ou até mesmo de prazer. Mas infelizmente os dois homens também não conseguiram, mais do que os outros, levantar o ânimo geral, e a esperança de dias melhores se desfez em pensamentos dirigidos para barcos mais alegres. Num último esforço, Charley fez vir o barman, mas este último, só recebendo encomendas de sucos de frutas e água mineral, exibia uma bandeja a tal ponto deprimente que até mesmo o duplo seco de Simon passou despercebido. Agora já não era um anjo que passava no silêncio, era uma coorte, uma legião vibrando com todas as suas harpas.
Foi então que a Doriacci fechou a bolsa com um estalo sonoro, tão sonoro que atraiu logo a atenção dos mais distraídos; a Doriacci, tirando os óculos escuros com hastes incrustadas de strass, mostrou a todos uns olhos faiscantes e uma boca fina, mordida sem cuidado pelos dentes brancos (daquela brancura nacarada que só se obtinha com o dr. Thompson em Beverly Hills, na Califórnia).
— Este navio é realmente confortável, é verdade, mas o público é lamentável — disse com voz firme. — Mestre Hans Helmut Kreuze e eu vivemos há seis dias cercados por surdos, e por surdos ignorantes e pretensiosos! Talvez mestre Kreuze tenha sido apelidado de "grande rústico", mas é melhor ser um "grande rústico" do que um desses pobres pequenos rústicos que pululam aqui e ali, neste tombadilho ou no outro.
O silêncio em torno dela era completo: ouviam-se as gaivotas.
— Eu desço em Bejaia — recomeçou ela. — Sr. Bollinger, o senhor faria o favor de alugar para mim um avião, particular ou não, para levar-me a Nova York?. . . enfim, primeiro a Cannes.
Simon Béjard, atingido pelo espanto, deixou rolar seus dados no chão do convés, e o ruído teve o efeito de uma blasfêmia.
— Mas calma — disse Edma Bautet-Lebrêche corajosamente, porque os olhos da Doriacci a fulminaram à primeira palavra. — Mas por quê, minha querida amiga?. . . Por quê. . .
— Por quê? Ah, ah, ah!
A Doriacci era mais do que sarcástica e tornou a emitir seus ah, ah, desprezíveis duas ou três vezes enquanto começava, de pé, a enfiar na cesta, com uma raiva metódica, toda a confusão acumulada sobre a mesa ao seu lado: batom, pente, tabaqueira, caixa de pílulas, pó-de-arroz, isqueiro de ouro, cartas, leque, livro, etc. Todos esses objetos, tendo apanhado ar do mar alto, voltaram para sua jaula habitual. Virou-se para Edma:
— A senhora sabe o que se tocou ontem à noite? — lançou ela, fechando a cesta tão violentamente que a fechadura quase saltou. — A senhora sabe o que tocamos ontem à noite?
— Mas. . . mas certamente — disse Edma com voz fraca, um vislumbre de pânico nascente no olhar de hábito tão seguro. — Certamente. . . Vocês tocaram Bach, enfim o mestre Kreuze tocou Bach e a senhora cantou os lieder de Schubert, não foi?. . . Não? — perguntou, virando-se para os outros, com o olhar cada vez mais ansioso à medida que aqueles covardes desviavam os olhos. — Não foi, Armand? . . — acabou recorrendo ao marido, esperando nem tanto plena confirmação, mas pelo menos uma concordância muda de cabeça.
Mas, desta vez, Armand, com os olhos fixos atrás dos óculos, mas com uma fixidez alienada, não respondeu, nem mesmo olhou para ela.
— Pois bem, vou lhes dizer o que tocamos ontem!
E a Doriacci, pondo a sua cesta debaixo do braço e fechando o braço por cima como se temesse que lha arrancassem, retomou:
Nós tocamos Au clair de la lune, Hans Helmut e eu mesma: ele no piano com acompanhamentos variados e eu em todas as línguas da terra. A claro di luna — cantarolou ela depressa. — E ninguém se mexeu! Ninguém percebeu, não é?. . . Se há alguém, que diga então — acrescentou, desafiando com o olhar e com a voz (e todos se encolheram em suas poltronas e ficaram olhando para os pés). — Só houve um infeliz tabelião de Clermont-Ferrand que me disse alguma coisa vaga e ainda assim timidamente.
Mas é um absurdo!... — disse Edma com voz de falsete, cuja tonalidade a surpreendeu a ponto de fazê-la interromper a frase.
Ah, isso é um absurdo. . . — disse Olga, heróica também. — É incrível. . . A senhora está certa? — perguntou tolamente, e o olhar da Doriacci a fez encolher-se no casaco como se desaparecesse fisicamente do tombadilho.
Um silêncio denso pairava no convés, um silêncio que raros borborigmos não puderam quebrar, e que parecia se tornar definitivo quando Ellédocq, de pé, tossiu duas vezes para clarear a voz, com o rosto expressando a gravidade e a firmeza de um embaixador plenipotenciário; essa atitude, vinda dele, provocou na assistência, com esse simples raspar de garganta, uma espécie de terror premonitório.
— Eu peço muitas desculpas — disse (marcando pela adição do "eu" e do "muitas" a gravidade das circunstâncias). — ... Eu peço muitas desculpas, mas o programa é rigoroso.
— Perdão?. . .
A Doriacci procurava visivelmente com os olhos um animal viscoso, uma serpente ou um boi na sua direção, e não achava nada que ela pudesse escutar, mas isso não interrompeu Ellédocq. Ele jogou a cabeça para trás, mostrando assim no pescoço uma faixa de pele desprovida de pêlos, situada entre a glote e o colarinho, uma faixa de pele virgem que, apenas percebida, causou em todo mundo o efeito de uma obscenidade; e começou a recitar com sua bela voz grave os capítulos de sua enumeração, marcados sobre os dedos espessos e arqueadas, no papel de provas:
Portofino: taça de frutos do mar, osso buco, sorvete; Scarlatti, Verdi. Capri: suflê de Brandemburgo, turnedôs Rossini; peça montada, Strauss, Schumann. — (Depois de cada músico citado estendia na direção dos virtuosos respectivos um indicador inquisidor.) —- Cartago: caviar cinza, escalopes. . .
Ah! cale-se, por Deus! — gritou Edma, fora de si. — Cale-se, comandante! Não é possível ser tão tolo, nem também. . . nem também. . .
Batia as asas, as pálpebras, os ombros, as mãos, batia no ar e estava pronta a bater no capitão quando este pousou uma mão peremptória sobre seu ombro magro, sob cuja pressão ela literalmente desmoronou na poltrona, com um grito de revolta. Os homens do grupo levantaram-se, sendo Simon Béjard o mais furioso, Armand Bautet-Lebrêche, o menos. Mas isso não interrompeu nem por um instante a memória admirável do capitão.
— . . .Cartago: caviar, escalopes à italiana, bomba gelada. Bach e Schubert — concluiu, triunfantemente.
Sempre indiferente aos olhos furiosos dos machos e aos olhos estatelados das mulheres, continuou:
— Respeito ao regulamento obrigatório. Au clair de la lune não inscrito na ficha técnica de Cartago, devia haver Bach e Schubert, ponto — concluiu. — Não execução do contrato igual. . .
E interrompeu-se bruscamente, porque Fuschia, fechado no paiol com seu leito de palha, seus ossos de borracha e suas triplas rações diárias, acabara de escapar por um desses milagres que fazem duvidar de Deus e, tendo atravessado o tombadilho sem que, graças ao clamor dos participantes, se ouvisse seu sinistro ofegar, acabara de atravessar a barreira de três ou quatro pares de pernas negligentemente estendidas no convés, passeando o olhar de seus olhos cegos sobre cada um dos passageiros aterrorizados, como no Juízo Final, antes de tornar a partir inexplicavelmente num pequeno galope para a porta do bar, por onde desapareceu. Uma onda de alívio passou pelos infelizes sobreviventes, mas esse alívio não chegava aos pés de sua vergonha; a Doriacci, de pé e embora menor do que os quatro homens, lembrou-lhes:
— Quando não se é capaz de fazer amor e ouvir música ao mesmo tempo, não se embarca num cruzeiro musical deste gênero — disse. — Ou se sobe a dois num navio comum e mais barato, ou então se parte só e levando soníferos! Quando se é incapaz de fazer os dois, naturalmente — concluiu, com ar de triunfo e desprezo.
E, seguindo as pegadas de Fuschia, saiu com seu ar majestoso e ofendido, e Andreas nem tentou segui-la.
— Absurdo! Decisão absurda! Inútil se inquietar. Queixa sobre artistas encrenqueiros. A Companhia Pottin é muito firme. Vinte e sete anos de cruzeiro. Dez cruzeiros musicais. Nunca vi isso, etc.
O capitão Ellédocq, fora de si, ziguezagueava de um passageiro a outro.
Parece uma locomotiva superaquecida que deixa escapar vapores de tolice — disse Julien a Clarisse.
De fato, parece um trem — respondeu Clarisse rindo, porque Ellédocq, cessando de repente de tranqüilizar suas ovelhas, parara diante de Edma, que lhe ofereceu o maço de cigarros, com olhos aliciadores.
Vamos. . . Vamos, caro comandante, é a única maneira de o senhor relaxar. . .
E virando-se para Clarisse com um piscar de olhos, acrescentou:
É o único vício do comandante, como você sabe: não bebe, não persegue as mulheres; ele fuma, é só. . . É o único defeito que tem, e isso o levará direto à morte. Há cinco anos que lhe digo e redigo... E eu me mato a repetir-lhe que preste atenção.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu não fumo há três anos! — urrou Ellédocq, rubro. — Perguntem a Charley, às camareiras e aos maîtres d'hôtel, aos cozinheiros deste navio. . . Não fumo mais.
Nunca interrogo os empregados sobre os hábitos de meus amigos — disse Edma com altivez, antes de virar as costas e se reunir ao outro grupo, que falava de música com animação.
É uma história de loucos — dizia Olga. — Realmente incompreensível!
Você ficou ofendida? — perguntou Edma.
Não precisava ficar, eu acho — disse Olga, toda satisfeita com seu fel. — Afinal de contas, só há muito poucos anos que estou em condições de me interessar pela música.
Em condições de ter memória musical, é o que você quer dizer. Isso é outra coisa — respondeu Edma.
Mas o que é que a senhora quer dizer? — perguntou Olga.
Que se pode ter oitenta ou cem anos e ainda não estar em condições de compreender a música. Não digo escutar, digo "compreender".
Acho que é mais uma história de surdos que de loucos — interveio Charley, demasiado sorridente. — Agora, penso que foi de fato Au clair de la lune que ela nos cantou ontem em alemão.
Eu sabia que isso me lembrava alguma coisa — disse Simon ingenuamente.
Au clair de la lune, naturalmente! O senhor reconheceu! O senhor deve ter ficado muito contente. . . — disse Eric Lethuillier de repente. — Que pena que eles o tenham esclarecido!
Tal excesso de selvageria provocou um silêncio consternado, e Simon, de boca aberta, levou algum tempo a se erguer, com ar sem graça, tão hesitante que Edma, decepcionada mas penalizada, ofereceu-lhe um cigarro de consolo, já aceso, mas em vão.
— Diga-me, seu insensível chato, você está me provocando ou o quê? — rebateu Simon em voz baixa mas "bem audível", observou Edma, que, encantada, já sentia o cheiro de pólvora.
Mas em torno foi grande a surpresa. Como no tênis, os melómanos erguiam-se das cadeiras dobráveis onde haviam estado tão pacificamente sonolentos meia hora antes e, fascinados, começavam a seguir a briga com a cabeça, como metrónomos. Então, para grande prejuízo deles, Olga interveio:
— Não, não. . . Não briguem! Não suportarei, é tolo demais... — gritou, já com voz de jovem viúva.
E, com os braços em cruz, precipitou-se entre os dois homens (sem dificuldade, pois eles se olhavam a dois bons metros de distância, envenenados pelos próprios insultos e incapazes de se tocar, de se pegar com um mínimo de convicção necessária a uma briga). Recuaram, desafiando-se com o olhar e rosnando como o querido Fuschia, mas sem um milésimo de sua agressividade. Charley e Julien.puseram-lhes a mão no ombro e fingiram retê-los segundo todas as regras da polidez. A cena, apesar das conclusões lamentáveis, tinha ainda assim reanimado a atmosfera. Todos se estenderam nas cadeiras com um sentimento, conforme o caso, de decepção, orgulho ou excitação.
Sozinho, meia hora mais tarde, Andreas de Nevers, em vez de deitado, estava de pé, com a testa apoiada numa porta, a porta do apartamento número 102, reservado à Doriacci. Esperava, e de tempos em tempos batia tranqüilamente com o punho na madeira dura e fria. Batia sem fraqueza e sem humor, batia como se estivesse chegando naquele momento à porta e como se esperasse que a abrissem de braços abertos, quando fazia já uma hora que a tinham fechado em sua cara. A Doriacci, que durante todo este tempo nem .mesmo respondera aos seus apelos, fez um esforço e gritou-lhe com sua voz poderosa:
— Quero ficar só, meu querido Andreas!
— Mas eu quero ficar com você — declamou ele da porta.
E, de pé, a Doriacci, virada para o lado de onde vinha a voz dele, recuou como se a pudesse ver através da folha de madeira.
— Mas se minha felicidade é ficar sozinha! — gritou. — Você não prefere a minha felicidade à sua?
A sereia uivava, as portas batiam, e a Diva tinha a impressão de ensaiar uma ópera de Alban Berg, tirada de um libreto de Henry Bordeaux.
— Não! — gritou ele por sua vez. — Não! Porque a minha presença só lhe dará um pequeno desagrado e talvez nem isso, enquanto eu. . . ficarei muito infeliz sem você. Não há medida comum. Eu a amo mais do que a aborreço, então!.. .
Rira quando ele batera na porta mais uma vez, encole-rizara-se artificialmente. Ela não lhe diria mais palavra. Fingiria estar dormindo e até se deitaria, fecharia os olhos, como se ele a pudesse ver. E, percebendo a tolice, abriu um livro. Tentava ler, mas ouvia de tempos em tempos as bati-dinhas na porta, que a impediam de se interessar pela leitura.
Ouviu então uma voz de homem no corredor,- a voz de Eric Lethuillier, e ergueu-se nos travesseiros. A Doriacci sentiu por um instante a tentação de abrir a porta e saltar ao pescoço daquele moleque de província, um rapaz tão pouco orgulhoso, ou talvez, pelo contrário, orgulhoso a ponto de caçoar do ridículo e das zombarias dos outros. . . Já estava de pé quando ouviu por trás de sua porta a voz pausada de Eric.
— Chega, meu amigo. O que é que você está fazendo diante dessa porta há duas horas?
"Em primeiro lugar há menos de uma hora", corrigiu para si a Doriacci imediatamente. Mas Andreas não se afobava.
— Eu espero a Doriacci — disse tranqüilamente.
Você espera que lhe abram? — recomeçou Eric. — Mas se é de fato a porta da nossa Diva, certamente ela saiu. . . Quer que eu pergunte a Charley onde ela está?
Não, obrigado, não — disse a voz calma de Andreas. (E a Doriacci tornou a sentar-se, decepcionada, mas contente com a fleuma de seu amante.) — Não, ela está aqui — repetiu Andreas. — Não quer abrir neste momento, é só isso.
Houve um instante de silêncio.
— Ah, bom! — disse Eric depois de um momento de espanto ostensivo. — Se você não leva isso a mal, afinal. . .
Seu riso estava contrariado. Soava falso aos ouvidos experimentados da Doriacci. Estava aborrecida consigo mesma: por que não fazia entrar aquele jovem bobo que tinha vontade de felicitar e que, além do mais, era seu amante? Seria tão mais simples!
— Então, boa sorte — dizia Eric. — A propósito, Andreas, vai para Nova York, afinal, ou não? Acautele-se: lá, num corredor de hotel, todo mundo já o teria atropelado dez vezes. . . Não se pode demorar nos States; a displicência é muito malvista lá.
"Esse grande safado vai me pagar", disse a Doriacci consigo. Ou, mais exatamente, disse ao seu reflexo no espelho, que logo lhe fez medo, e ela se acalmou: quando alguém a levava a esse ponto de cólera, fazia-se uma espécie de clique em sua cabeça, e ela sabia que a ficha fora registrada na caixa rotulada "ajuste de contas". Essa ficha sairia sozinha quando a caixa fosse aberta um dia ou outro pelo destino, se ela mesma já não se lembrasse mais. Fossem quais fossem as razões de sua cólera contra eles, a Doriacci sabia que seus adversários estavam punidos de antemão, e se felicitava. Enquanto esperava, o que faria Andreas? Surpreendeu-se a apreciar que ele não fosse covarde, defeito que era quase rescisório, aos olhos da Diva (a menos que houvesse uma virilidade muito grande num outro plano).
— Então? Você não me respondeu. — Recomeçou a voz de Eric na porta (uma voz irritada, como se o silêncio de Andreas tivesse sido acompanhado de um gesto desenvolto).
Mas não era esse o seu estilo, como sabia muito bem a Doriacci. Andreas devia ter tomado uma atitude distraída e sorridente. Aproximou-se da porta na ponta dos pés, maldizendo o fraco campo que oferecia à sua visão, por ser muito alta: nada via, piscava o olho ruim e blasfemava em voz baixa.
Mas você é então seu cavalheiro servidor? — disse Eric a Andreas. — Deveria poder entrar. Não é agradável ficar sozinho neste corredor, como uma criança. . .
É. — (A voz de Andreas parecia abafada, com uma tonalidade um pouco mais aguda.) — Este corredor é muito agradável quando se está sozinho nele.
Bem, então, eu o deixo. Aliás, você tem razão de ficar de guarda nesta porta: a Doriacci deve estar telefonando para seu substituto.
A voz de Andreas, de novo rouca, deixou escapar um som incompreensível, e a Doriacci não ouviu senão um deslizar de tecido, o ruído de um pontapé na porta, o ruído de bagagem sendo arrastada, o ruído de duas respirações ofegantes conjugadas. Bateu com o pé e pegou uma cadeira para tentar ver melhor a briga.
"Não se vê nada, per Dio." Mas mal tivera tempo de subir à cadeira e já ouvia passos se afastando de sua porta, arrastados, mancos, mas os passos de uma só pessoa, e a Doriacci, que durante três meses cantara Verdi, pensou que Andreas estivesse morto.
Andreas. . . — sussurrou, através da porta.
Sim — disse a voz, tão próxima, que ela recuou.
Parecia-lhe sentir a respiração quente do rapaz nos ombros, no pescoço, sentia a testa dele banhada de suor por causa da briga, não o mesmo do amor, aquele suor quase frio e salgado. Esperava que ele lhe pedisse para abrir, mas ele não o fazia, o imbecil, e continuava a respirar, tomando fôlego de vez em quando. Adivinhava aquela linda boca levantada sobre os dentes brancos. Adivinhava as gotinhas em seu lábio superior e reviu o buraquinho branco deixado na fronte de Andreas por uma queda de bicicleta aos doze anos, e isso acontecera havia doze anos, e chamou-o, involuntariamente, rompendo o silêncio. — Andreas? — sussurrou.
E subitamente acreditou ver a si mesma como a veria um estranho, ela seminua, de roupão, encostada à porta, do outro lado da qual se comprimia um rapaz belo demais, ensangüentado. Um rapaz que não era absolutamente como os outros, pensou, resignada, enquanto virava a chave na porta, deixando enfim entrar Andreas, que se abateu sobre seu ombro com um olho já roxo-negro, falanges esfoladas, e que, para cúmulo de tudo, sangrava sobre seu carpete. . . Um jovem cujos ombros ela abraçava sem querer, um jovem que ronronava e abalava seu quarto, sua solidão, esperando um dia abalar sua vida.
Nem bem seis dias eram passados, e Andreas tinha por vezes a impressão de ser um fardo pesado, uma pedra numa comédia ligeira e espirituosa e volátil. E por vezes, pelo contrário, tinha a impressão de ser o único a sobrevoar a matéria, o único livre de julgar como um poeta romântico, de poder julgar esses robôs poderosos, dourados por fora, cuja única liberdade afinal era fazer com o seu dinheiro um pouco mais de dinheiro. Em suma, sentia-se às vezes um provinciano entre parisienses, às vezes um francês entre suíços. A Doriacci e Julien Peyrat eram os únicos a escapar desse contágio: a Doriacci era livre por natureza e assim seria toda a vida, sendo aqueles palcos negros o único lugar em que ela era realmente livre, onde diante de gente sem rosto cantava, cega pelos refletores. Andreas sonhava vê-la cantar. Sonhava estar num camarote, o único de smoking, cercado por homens de uniforme e mulheres decotadas; ouvindo as pessoas do camarote vizinho dizerem: "Ela é encantadora. . . Que talento, que maravilhosa interpretação do texto", etc, enquanto ele se deliciaria silenciosamente. A menos que um chato ao lado deles dissesse não compreender o que achavam naquela Doriacci, falasse mal dela. Mas Andreas não se mexia porque a cortina levantava-se e a Doriacci entrava em cena sob os "Bravo! Bravo!", entre os quais ela reconhecia os de Andreas. E ela se punha a cantar. É no intervalo, um pouco mais tarde, o camarada tão crítico, voltado para os seus amigos, com os olhos cheios de água, diria: "Que beleza! Que rosto maravilhoso, que corpo soberbo!", por esta última frase Andreas passava um pouco depressa, um pouco culpado, mas de quê? E o outro imbecil perguntava como poderia se encontrar com a Doriacci, se podia dormir com ela, etc, falava a torto e a direito, até que seu vizinho lhe apontasse Andreas, sussurrando, o que levava o chato a ficar vermelho-vivo, fazendo cumprimentos acentuados para Andreas, que lhe sorria com toda a indulgência da felicidade.
E uma felicidade, mas isso ele ainda não sabia, uma felicidade que fosse sem mistura. Porque, não contente de responder aos mitos de Andreas, a Doriacci correspondia à sua natureza, e, bizarramente, à sua idade.
O ofício de produtor ensinara pelo menos alguma coisa a Simon Béjard: a coragem. Aprendera a perder toda a esperança num filme ao meio-dia e já às treze horas no bar do Fouquet mostrar às velhas corujas ali empoleiradas (e prestes a rir da infelicidade alheia) um rosto sorridente e uma anedota, se não divertida, pelo menos alegre. Em suma, Simon aprendera a se conduzir corretamente em caso de fracasso, e em Paris era um comportamento que se tornara bastante raro, o que fazia com que três mulheres rtesse navio o apreciassem. Era divertido pensar, aliás, que era graças ao seu ofício, tão malfadado e de reputação tão vulgar, que Simon Béjard se conduzia como um gentleman aos olhos de Edma e da Doriacci. Quando Simon se calava um pouco mais de três minutos, seu limite de silêncio, elas alarmavam-se, alternavam-se e, depois de o terem paparicado e feito rir, depois que cada uma delas o tivesse convencido de que só ela o compreendia, deixavam Simon vagamente reconfortado. Só Clarisse não lhe dizia nada. Sorria-lhe às vezes com a ponta dos cílios, servia-lhe uma limonada ou um uísque, jogava com ele palavras cruzadas, que simbolizavam tão bem, aos olhos de Simon, a existência sentimental de ambos; mas essas alusões esbarravam sempre numa Clarisse incompreensiva e superficial, com um ar tão infeliz que irritava Simon; desagradava-lhe, sobretudo no plano do estoicismo, que uma mulher o vencesse.
Chegando a Bejaia e aproveitando o fato de Olga e Eric terem descido ao cais para pôr cartas no correio, Simon abordou Clarisse. A percepção de ter pouco tempo para lhe falar inspirou-lhe naturalmente frases laboriosas, tempos mortos entre essas frases, silêncios. E como se atolava cada vez mais, após alguns minutos, afobado de repente com a idéia de que ela pudesse não saber a verdade (e aí Simon morreria de vergonha de a ter revelado), Clarisse teve que abordar o assunto, contra a sua vontade, para tranqüilizá-lo.
Não, meu caro Simon, nós já não nos amamos, meu marido e eu. De minha parte, isso não tem a menor importância.
Você tem sorte — falou Simon, sentado à sua mesinha no tombadilho (uma mesa onde, naturalmente, reinava uma garrafa de uísque, menos vazia porém que de hábito, e que parecia menos primordial que de hábito aos olhos de Clarisse). — Posso ficar aqui? — perguntou. — Não a incomodo demais?
Absolutamente. . . — começou Clarisse, mas seus protestos foram interrompidos pelo riso tosco de Simon:
Seria uma bobagem se nós não nos falássemos mais. . . E que incomodássemos um ao outro só por causa de uma outra pessoa. Temos ainda assim um ponto em comum muito estranho, você e eu, neste navio. Somos os dois grandes cor. . .
Psiu, Simon, psiu! Você não vai se magoar por causa dessa história ridícula, uma história de dois dias. Vai ficar nisso para Olga e para Eric. Não significa muita coisa uma paixonite física; se eles não tivessem contado, ninguém teria sabido.
— Mas é justamente o que me entristece em Olga
— comentou Simon baixando os olhos. — O fato de ela não ter procurado me poupar; contou-me tudo, não se preocupando absolutamente com o desgosto que me dava. Aliás, seu encantador marido também lhe disse, não é verdade?
Dizer, não, nem uma vez!. . . mas "fazer-me compreender", sim, mais de quinze. . .
É um bom lixo, o seu marido também. . . Falo objetivamente, minha pequena Clarisse, juro.
Eu não me atribuo o mesmo direito à objetividade
— disse Clarisse. — Eric é meu marido, e afinal existe um contrato de respeito mútuo entre nós. . .
A voz de Clarisse era firme, o que exasperou Simon:
Mas, justamente, já que ele não respeita esse contrato . . .
Sempre tive dificuldade em desprezar alguém. . .
— começou Clarisse, mas foi interrompida por Charley, que literalmente batia com os pés diante deles e girava os olhos de modo misterioso.
— Vou lhes mostrar uma coisa. . . — disse, pondo um dedo na boca. — Uma coisa soberba. . .
Levou-os à cabine de Julien, que jogava tênis com Andreas, e lhes mostrou o Marquet com mil comentários ditirâmbicos e pedagógicos fatigantes, mas nem um nem outro pensava em ir embora: Simon, porque olhava aquele quadro e o via, apreciava-o com os olhos novos que a música lhe dera, e o olhava até mesmo com prazer; e Clarisse, porque olhava a desordem em torno dela, a camisa azul, as sandálias, os jornais amassados, os cigarros esmigalhados no cinzeiro, abotoaduras no chão, uma desordem mais de colegial do que de homem maduro, que lhe parecia o próprio reflexo de Julien, que a perturbava de forma excessiva, pensava ela, mas deliciosa. Pela primeira vez tinha um sentimento de proteção em relação a Julien, em vez do contrário. E isso porque sabia dobrar melhor as camisas do que ele, e pôr ordem no quarto. Teve um pensamento de gratidão e cumplicidade pelas três garrafas de uísque guardadas no banheiro, admirou o Marquet com Simon e de boa fé, porque era bonito, mas praticamente sem vê-lo, sem mesmo fazer a mais ligeira estimativa, como lhe pedia Charley. Só reteve uma coisa do quadro: aquela mulher que virava a esquina e, por uma correspondência de espírito que eles jamais conheceriam, talvez nem ela nem Julien, sentiu-se vagamente enciumada por um instante. Ao sair da cabina, Simon pensava melancolicamente que três dias antes teria vontade de comprar esse quadro para Olga, que não gostava dele, sem se confessar que no mesmo instante ele se perguntava se esse presente não lhe recuperaria seu amor.
Reinstalaram-se no tombadilho, na companhia de Edma. A tarde terminava. A conversa versou sobre Proust, e Edma demonstrou em voz alta o mecanismo do cruzeiro.
E engraçado como todo mundo fala agora de assuntos gerais. . . É como se na partida todos quisessem saber uns dos outros e, estando informados, preferissem esquecer tudo isso o mais depressa possível, dar as costas afinal e se refugiar no impessoal. . .
Talvez essas verdades tenham se revelado explosivas — comentou Clarisse sem malícia, como se também estivesse ao abrigo dessas indiscrições passadas.
Simon encorajou-se.
— Por que você não se sente visada por todas essas intuições loucas? Perdoe-me a expressão, minha querida Clarisse, mas, se você é a Virgem Maria, seu esposo José, ao que me parece, não é muito conciliador nem compreensivo. . .
Clarisse desatou a rir, um riso encantado que deixou Simon contente de o ter provocado, mas furioso por não poder compartilhá-lo. Limitou-se pois a deixá-la rir, mas pouco a pouco cedeu ao contágio, e sua voz rouca, ofegante, menos de grande executivo do que de representante do comércio, juntou-se ao riso de Clarisse.
— Meu Deus — disse ela enxugando os olhos (e desta vez, graças à sobriedade de sua maquilagem, sem ficar com o rosto manchado). — Meu Deus, Simon, que idéia: José. . . Eric. . . é tão pouco. . . Ah, ah, ah — recomeçou a rir.
Esse riso fazia-a corar e seus olhos brilharem, dava-lhe sete anos menos, restituía-lhe aquela juventude alegre e deliciosa que, no caso de Clarisse, pulara duas gerações, portanto duas concepções do amor: as moças tinham passado da idade dos risos loucos com os rapazes de seu colégio aos amores proibidos, à idade dos amores com esses mesmos rapazes no escuro dos carros, do amor obrigatório. Moças beijadas por um amante que naquela mesma tarde lhes roubara um caramelo durante a aula de matemática.
Você me lembra minha juventude — disse Simon com expressão terna. — É o cúmulo, aliás, eu tenho vinte anos mais do que você. . .
Você está brincando — comentou Clarisse —, eu tenho trinta e dois anos.
E eu quase cinqüenta. Você vê? ... — falou Simon, cuja interrogação "Você vê?" queria dizer menos "Eu tinha razão, eu podia ser seu pai" do que "Não se poderia imaginar, não é verdade?"
"Você deveria ter freqüentado a mesma escola que Julien", acrescentou ele.
Olhava Clarisse com seu olhar pensativo e límpido, na medida em que esse olhar era límpido quando a situação o era, turvo quando se tornava turva e calculador quando ela o exigia.
Não entendi bem — disse Clarisse, cujo olhar estava francamente perturbado.
E que vocês são da mesma espécie — explicou Simon. E, reclinando-se na cadeira com a cabeça levantada para o céu, o que fazia em geral quando se dizia em plena reflexão: — Vocês são feitos para o divertimento.
Clarisse fez uma expressão tão espantada que Charley disse:
— Ele tem razão. Não parece evidente, mas é. verdade. Vocês dois estão prontos a seguir de braços dados com a vida. Nem você nem Julien têm uma idéia de si mesmos em relação aos outros, e então. . . E, na minha opinião, foi preciso que seu Eric fosse bem forte para chegar a lhe dar uma. . . E ainda mais para que ela fosse tão desastrosa! Julien é a mesma coisa: não representa nem o tipo mulherengo, nem o jogador, nem o grande conhecedor de pintura, nem o imprudente nos negócios, e no entanto ele é tudo isso.
Mas em que Olga e Eric, por exemplo, seriam diferentes?
Seriam, porque eles procuram parecer o que não são — disse Charley, um pouco embriagado pelo interesse que provocava o fruto de suas meditações. — Os outros tentam fazer crer no que eles queriam ser, mas isso não pode ser mais falso: Edma quer ser a elegante que ela é, aliás; você, Simon, o produtor atilado que você queria ser, e que se tornou, aliás, também; Armand Bautet-Lebrêche representa os grandes executivos, o que ele gosta de ser. Andreas, o sentimental que ele permanece sendo, e até mesmo Ellé-docq representa o comandante rabugento que ele quer ser, apesar da tolice desse papel. Eu mesmo represento o Charley gentil que tenho vontade de ser. Mas com Eric e Olga é outra coisa: Olga que nos fazer crer no seu desinteresse, seu gosto artístico e sua classe, o que ela não tem, perdão, Simon!, ainda que a quisesse ter! Eric quer fazer crer na sua estatura moral, seu espírito humanitário, sua tolerância, qualidades que ele não tem e não faz questão de ter, apenas simula. A única personagem cínica neste navio é Eric Le-thuillier, seu marido, cara senhora. . . — disse Charley, chegando triunfalmente ao fim do seu discurso.
Erguendo-se rápido em sua cadeira, fixou por trás de Clarisse e Simon alguma coisa para a qual eles se viraram. Era Eric, que voltava depois de uma hora de uma expedição que requeria três horas. Eric chegava a passos largos, arrastando Olga, ofegante, com os olhos brilhantes, mal dissimulando um júbilo misterioso.
Mas o que aconteceu? — perguntou Simon, de pé (porque a expressão de Eric, branco de raiva, podia significar qualquer coisa). Simon deu um passo na direção de Olga, "sempre cavalheiresco", observou Clarisse, em voz baixa, a Charley.
Simon é um bom sujeito, tomou Olga sob sua proteção, que a conservará, faça o que fizer. E Eric teria que se haver com ele se a maltratasse. . . Simon, finalmente, mesmo sofrendo, gosta bastante de Olga e lhe deseja o bem.
O que aconteceu? — repetiu Simon, e Eric o fixou com o olhar.
Pergunte a Olga — disse ele. E afastou-se a grandes passos para a cabina.
Olga demorou para sentar-se, desatar o lenço de cabeça de seda cor de areia, estender as pernas e apanhar o copo de Simon, uma pretensa limonada cheia de gim, que bebeu pela metade sem respirar. Clarisse a contemplava com uma espécie de simpatia penalizada, observou Charley, e, embora fosse pouco sensível às mulheres, não pôde deixar de admirar as incríveis melhoras estéticas que lhe trazia o fato de se saber amada ou desejada, mesmo que fosse por um trapaceiro profissional. Porque Charley, que tinha aliás esse ofício no navio, o ofício e o gosto também, tinha telegrafado a um velho australiano cuja resposta não corroborava as afirmações de Julien. Em compensação, esse mesmo amigo conhecia um certo Peyrat, grande ganhador nos diversos jogos de cartas da Europa e da América.
Essa era uma das principais razões pela quais Charley, nada enfatuado por seus conhecimentos pictóricos e ainda menos preocupado em prestar serviços a passageiros que desprezava pelo seu esnobismo, tanto quanto os outros o desprezavam, mas menos discretamente, pelos seus costumes, encarregara-se de vender o quadro de Julien; Charley só aceitara essa missão para se divertir em ludibriar indiretamente um desses melómanos tão indiferentes a outra coisa que não fosse seu conforto. Além do mais, se no futuro alguma coisa viesse à tona sobre Julien, a quem desde sua conversa a dois se afeiçoara, Charley poderia interceptar e desviar certas informações eventuais.
Enquanto esperava, o olhar de pena de Clarisse, que, mesmo infeliz, nenhuma mulher enganada teria pela amante do marido, esse olhar queria dizer que Eric Lethuillier não era de fato presente que uma mulher pudesse dar, mesmo involuntariamente, a uma outra.
Voltou à realidade para ouvir a explicação sabiamente procrastinada da bela Olga.
— Aconteceu uma coisa espantosa. . . Tão extravagante quando se pensa em Bejaia, na estação em que estamos! Não havia realmente nada na cidade que justificasse aqueles fotógrafos.
— Que fotógrafos? — perguntou Simon com voz melosa, porque o olhar espantado de Olga inspirava-lhe uma viva desconfiança.
Ela continuou, sem responder:
Por mais que eu seja famosa. . . — disse rindo um pouco demais, como se sua ausência de megalomania fosse bastante flagrante para que sua evocação fizesse rir as pessoas presentes (mas que aparentemente não era, pois ninguém pestanejou) — por mais que eu seja famosa — recomeçou ela rindo mais alto, decidida a conquistar a adesão de todos —, não posso ainda assim pensar que mandariam fotógrafos de Paris me fotografar em Bejaia de braço com o sr. Lethuillier. . . ou então deviam estar ali por causa dele. O que você acha, Clarisse? — disse virando-se para a moça, que a olhou por um instante nos olhos e sorriu lentamente como fizera pouco antes (e Simon e Charley perguntaram-se por quê, antes que a última novidade de Olga caísse no convés).
Jornalistas do Jours de France e do Minute — acrescentou Olga apoiando as duas mãos nos braços da cadeira de madeira, acariciando-os com deleite, como se fossem do mais lindo marfim.
Simon, de início perplexo, com o cenho franzido como se procurasse resolver um problema puramente matemático, rompeu numa risada um segundo antes que Charley rebentasse na gargalhada, a bandeiras despregadas, embora não querendo de modo algum mostrar-se abertamente sensível ao ridículo deles ou de seus fracassos. Os olhos de Edma brilharam. Olga tentou sem dúvida tomar -ares ingênuos e surpresos, mas a doçura de sua vingança estava muito próxima para que deixasse de aproveitar seu triunfo.
— Mas onde eles os encontraram? — perguntou Simon quando ficou mais calmo.
Falava com entusiasmo e admiração. Ele estava no máximo da felicidade porque sua amante tinha humilhado o homem que o enganara, a ele, Simon, e se rejubilava porque essa maldade de Olga significava que Eric já não representava nada para ela, e que portanto ela lhe pertencia. E como se fosse um relato de sua reconciliação, um relato lírico e cheio de bons sentimentos, fê-la repetir três vezes a história de sua vingança mesquinha e pérfida, da qual ele não fora no entanto, de modo algum, o inspirador.
— Então — disse Olga —, nós estávamos um pouco separados do grupo, Eric e eu, porque ele queria, acho, comprar sapatos para Clarisse. . . essas sandálias abertas — resmungou vagamente, assumindo um ar mais constrangido do que o necessário pela fraqueza desse argumento para explicar sua fuga do grupo. — Tínhamos entrado numa espécie de mercado, havia uma pracinha encantadora, vazia, onde eu quis experimentar os sapatos... os que comprei para mim. . . Sandálias encantadoras mesmo, você vai ver, Clarisse ... A menos que Eric tenha esquecido, no seu furor. . . — disse, de súbito preocupada. — É idiota isso. . . Eu deveria ter pensado. . .
Deixe, deixe — interveio Simon —, Clarisse preocupa-se com suas sandálias como eu com minhas próprias sapatrancas.
Então, em suma, eu me abaixava para calçá-las agarrando-me ao braço de Eric para não cair, com um pé no ar e pronto: plof, plof. . . só flashes, como numa estréia de ópera. . . Fiquei com medo de repente: todos aqueles flashes depois de toda essa luminosidade tão pura do mar, do céu. . . era horrível, como um retorno ao inverno. . . melancólico, me deu medo. . . Não sei, eu me agarrei a Eric, que, muito mais vivo do que eu, muito mais inteligente do que eu, certamente compreendera logo a intenção daqueles fotógrafos . . . E ainda mais: nem mesmo sabia para quem trabalhavam . . . Isso o teria acabrunhado. . . Enquanto Eric tentava se libertar do meu abraço forçado. . . — acrescentou rindo à simples idéia do "abraço" — os fotógrafos fugiram, mas eu os reconheci, e Eric está furioso. . . E com razão. Acho que se seus camaradinhas virem uma foto dele abraçado com uma starlet experimentando sapatos num pequeno porto romântico, isso vai lhe custar uma publicidade desagradável. . . E está furioso, completamente furioso. . . Você teria rido, se o visse, Clarisse! — continuou, introduzindo na voz uma cumplicidade deliberada que pareceu despertar Clarisse de repente, fazendo desaparecer aquele sorriso longínquo e vagamente divertido que exibira até então. E levantando-se, ela disse mais manifestamente para Simon e Charley do que para Olga:
Desculpem-me, vou ver o que meu marido está fazendo.
Sua partida foi considerada pelos dois homens e por Edma (se não por Olga) como um belo exemplo de dignidade conjugal; mas evidentemente ficaram aliviados de se encontrarem só os quatro e tagarelaram e se rejubilaram por mais de uma hora, durante a qual Olga teve oportunidade de fazer um relato mais exato e pormenorizado. Festejaram isso com champanha. Só no sexto copo Olga Lamou-roux confessou aos companheiros que fora ela quem enviara na véspera um telegrama a dois amigos jornalistas, confissão que poderia ter dispensado, pois a surpresa produzida foi visivelmente mais do que reduzida.
Mas, em Bejaia, a Doriacci não executou sua ameaça e ficou no Narcissus. Eis como.
Hans Helmut Kreuze, longe de compartilhar a raiva da Diva, dizia-se revoltado, e após algumas reflexões pedira para entrevistar-se com o capitão Ellédocq em seu gabinete. Era ali que Ellédocq mantinha seu registro de bordo, que tomado ao acaso informava, em geral:
— Comprados 50 kg de tomates.
— Consertadas braçadeiras das cortinas do grande salão.
Intervenção na discussão dos convivas.
Jogados fora 40 kg de turnedôs estragados.
Embarcadas 100 toneladas de óleo combustível.
Consertado o aquecimento.
Encontrado cardume de delfins.
O que, pondo de lado a última frase, era o cotidiano de um hoteleiro. Não importa, Ellédocq encontrava nisso uma majestade olímpica.
Seu boné, por uma vez fora do crânio, pendia de um cabide.
Por trás dele as prateleiras sustentavam livros de títulos assustadores. Como sobreviver no oceano glacial, Direito do passageiro de recusar amputação em caso de acidente, Transporte de cadáveres de um porto internacional a um porto nacional, Como evitar a propagação do tifo, etc., obras sinistras que os irmãos Pottin tinham proibido de andar pelos salões ou pelas cabinas dos passageiros. Tinham até retirado da parede de Ellédocq uma ilustração cheia de veracidade em que um infeliz passageiro, nu e azul-marinho, punha para fora uma língua violácea, enquanto um robusto marinheiro o espezinhava com um bom sorriso (não se podia esperar outra coisa). Esse cartaz também fora julgado desmoralizante pelos irmãos Pottin & Pottin, e o capitão Ellédocq só tinha portanto para recordar a gravidade de sua tarefa os livros interditados de dia, mas que podia consultar à noite em sua biblioteca. E foi igualmente para melhor mostrar sua autoridade e a gravidade própria de seu posto, que mostrou ao maestro, com um gesto imperial, uma poltrona diante da sua, sem levantar os olhos dos papéis pousados na escrivaninha (que elogiavam a superioridade dos anzóis X sobre os anzóis Y). Um soco nessa mesma escrivaninha o fez levantar a cabeça. Hans Helmut Kreuze tornara-se violáceo, porque tanto era sensível à sua hierarquia como considerava falsa a de Ellédocq: o capitão de um calhambeque, sentado, diante do mestre do teclado, Kreuze, de pé. Ellédocq levantou-se maquinalmente. Olharam-se nos olhos injetados de sangue e de colesterol, olhar que também podia preceder um infarto, mas que a ausência de diálogo tornava inegavelmente cômico.
O senhor quer o quê? — latiu Ellédocq, a quem o soco exasperara.
Eu queria indicar-lhe uma saída para o impasse da Doriacci — disse Kreuze.
E diante do ar de incompreensão, da maior debilidade mesmo, na opinião de seu interlocutor, Kreuze deu detalhes:
Conheço duas pessoas admiráveis de se ouvir, dois alunos suíços de minha escola em Dortmund e que passam férias em Bejaia. Duas pessoas que podem substituir a Doriacci de um momento para outro, se ela for embora.
Cantando o quê? — disse o capitão, perdido, consultando seu livro da lei, sua Bíblia: o programa musical já ridicularizado pela Diva, e que acabava ali, no final daquele programa.
Mas essas pessoas não cantam, tocam flauta, contrabaixo e violino. Tocaremos trios, Beethoven — disse Kreuze (exaltado com a idéia de vingança que cozinhava havia seis dias contra a Doriacci: imaginava-a substituída por ele e dois desconhecidos naquela mesma noite). — Vai ser muito desfrutável — disse a Ellédocq, inclinado sobre seu programa com as sobrancelhas franzidas, como diante de um quebra-cabeça (mas que ouvindo a palavra "desfrutável" voltou à sua desconfiança). — Uf! Enfim música de câmara — disse Kreuze, confirmando os receios de Ellédocq, embora começasse a se regozijar por se ver livre da Diva.
Entretanto ela lhe fora confiada. . . Podia lhe acontecer qualquer coisa naquele país perdido, e talvez deixá-la partir correspondesse a uma demissão e a uma desonra. . .
— Bem aborrecido — disse. — Contrato da Diva pago muito, muito caro. Eu sei, irmãos Pottin furiosos, passageiros furiosos, passageiros não aproveitaram suas cançonetas.
Se vocês aproveitavam escutando-a cantar Au clair de la lune, então que diferença faz?... — disse Kreuze, altivo. — "Au clair de la lune. .." — cantarolou, levantando os ombros.
O quê? O quê? — disse Ellédocq. — O que há com esse refrão? Clair de lune é conhecida em toda parte, a prova. . . Bela música, letra bonita, canção francesa. . .
Nós vamos tocá-la —- disse Kreuze com seu riso espesso. — Pronto, estou encantado de ter arranjado as coisas no navio, capitão.
Apertaram-se as mãos, e Ellédocq, que tinha o hábito de quebrar as falanges a quem cumprimentava, observou que a mão de Kreuze resistia à sua sem qualquer esforço, graças sem dúvida aos exercícios de dedilhado; e até arrancou-lhe um gemido. Kreuze saiu, e o capitão ficou sozinho com o registro em seu programa: "Sopa à George Sand — croquetes de frango à Prokofiev e sorvete à Rachmanínov", tendo a mais um foie gras incomum do Lot, depois do qual a Doriacci devia cantar o primeiro ato do Trovador — linha que Ellédocq riscou do programa, substituindo-a pelo trio de Beethoven tocado por Kreuze e X e Y. . .
Enquanto isso a Doriacci fazia as malas. A Doriacci iria cantar em outra parte, para outros beócios talvez piores que aqueles, tão ricos e tão incultos quanto eles. Mas antes iria se permitir oito dias de férias. A excelência de todas essas razões fazia-a esquecer a única, a verdadeira: a Doriacci fugia de Andreas de Nevers.
Nesse mesmo momento ele estava sentado nos pés da cama e olhava os lençóis e o rosto fechado da amante, que arrumava, com a ajuda da camareira, seus vestidos longos nas valises. Andreas pousava às vezes a mão no lençol aberto como se toca a areia da praia que se vai deixar e que não se verá mais, sem dúvida, como se respira no campo, ao pôr-do-sol rápido de novembro, o odor desesperante e morno, de uma doçura sem recurso, do fim das vindimas.
Andreas estava sendo abandonado e sofria sem nada dizer, sem que a Diva parecesse crer nesse desespero que o invadia por inteiro.
Quanto a Clarisse, tremia sem poder parar um instante, apesar dos seus esforços, desde que Eric saíra do banheiro de roupão, impecável e perfumado, e lhe dissera com voz tranqüila:
— Você está muito bonita hoje. Que vestido bonito! — Porque esse tipo de conversa anunciava a execução do dever conjugal aquela noite. Dever que o corpo de Clarisse aceitara e recebera bem depois que sua alma se desligara de Eric, antes de chegar a esse estado de indiferença irritada e de frieza só à idéia do amor. Mas agora havia Julien, e Julien ela não queria enganar, não podia, mesmo que tivessem feito amor muito mal na primeira vez: porque sabia, assim como Julien, que eles se reencontrariam um dia. A idéia da noite próxima já se tornava um suplício. Seu medo de Eric ainda era grande demais para que pudesse lhe recusar o corpo que ele dizia tão frio, o rosto que ele dizia sem vida. E, de fato, havia alguns anos, cada vez que ele a procurava na cama era como se ele estivesse lhe dando um presente, presente provocado pela compaixão e não pelo desejo.
Mas ao mesmo tempo que o amor de Julien e a confissão que lhe fazia de seu desejo por ela, o olhar dos outros homens no navio, seu desejo mudo, tudo isso tinha voltado a dar a Clarisse, simultaneamente com a confiança em seus encantos, a consciência de seu próprio (mas como uma propriedade bem dela, cujos desejos e recusas, até então considerados pretensiosos, pareciam-lhe agora perfeitamente lícitos). Tinha podido entregar a Eric, durante anos, um objeto mal-amado, seu corpo, mas não lhe podia confiar o objeto da posse viva e insubstituível de Julien. Dormindo com Eric enganava Julien, prostituía o corpo, renegava-se a si mesma. Julien era seu marido, seu amante e protetor, ela se dava conta disso de repente, graças à repulsa que lhe inspirava, naquela mesma noite, a beleza loura de Eric.
Chegou pálida à sala de jantar, num vestido de noite, acompanhada de Eric, de smoking. Fez, apesar de sua palidez, uma entrada notável, e Julien, que tivera de pedir emprestada uma gravata-borboleta a um barman, que se sentia pouco à vontade e mal vestido e triste por não ter podido ver Clarisse a sós, e que dessa vez não estava contente consigo mesmo, ou antes, dessa vez pensava em si mesmo e em sua aparência, Julien ficou maravilhado e estupefato por aquela mulher ser sua, e por amar a ele, Julien Peyrat, o trapaceiro nas cartas, o falsário, o miserável que dez pessoas poderiam reconhecer e pôr na cadeia, ele, que jamais fizera alguma coisa dos seus dez dedos senão pousá-los em mulheres, cartas ou dinheiro, para rejeitá-los todos, afinal. Era amado por essa mulher linda, leal, inteligente e que fora tão infeliz sem contudo se ter tornado má ou cínica, essa mulher que tinha qualidades e era de qualidade. E a vaidade, a loucura de querer levá-la com ele para onde fosse pareceram-lhe tão evidentes, que saiu num instante do bar onde todo mundo se reagrupara e foi até a amurada, a que se apoiou, com o vento batendo-lhe no rosto e despentean-do-o, desfazendo-lhe o nó frouxo da gravata, dando-lhe um ar de patife, de mafioso, de vagabundo, o que acabaria sendo. Julien detestou-se por um longo momento, inclinado sobre aquele mar azul-marinho, quase negro, diante das luzes de Bejaia. E havia bem mais de vinte anos que já não pensava em si mesmo dessa maneira, exceto quando ficava feliz e se felicitava por sua sorte. Era preciso que interrompesse os custos dessa história impossível, era preciso que ele vendesse, ou mesmo não, o Marquei; isso não tinha importância agora. Era preciso que descesse em Bejaia ao mesmo tempo que a Doriacci e esquecesse tudo.
O capitão refletia: tendo Charley partido para cuidar das compras da bela Edma, não poderia substituí-lo, ele teria que exercer aquele ofício penoso. Ellédocq tentara dez vezes pôr-se em contato com um dos irmãos Pottin, mas todos estavam de férias. Naturalmente não estavam lá com o coração batendo, diante das suas mesas, esperando que o Nareissus voltasse intacto do seu décimo sétimo cruzeiro. Só conseguira falar com o vice-presidente, chamado Magnard, que Ellédocq considerava pouco franco, sem saber por quê. E sacudia a cabeça ao evocá-lo, com uma expressão que dizia muita coisa, embora ele não pensasse nada.
Aqui Ellédocq — urrara (porque sempre urrava ao telefone) —, Ellédocq do Narcissus!
Yes, yes — respondeu a voz de Magnard (ele adotava o gênero inglês, o imbecil); — tudo bem, vocês têm tido bom tempo?
Não! — urrava Ellédocq, exasperado. (Como se ele o tivesse chamado ao telefone para falar do tempo. Esses burocratas, realmente!)
Porque o tempo aqui está maravilhoso — continuava Magnard (que devia se aborrecer terrivelmente, sozinho no escritório). _ É pena para seus passageiros...
Tudo vai bem — urrou Ellédocq. — Tempo soberbo, mas problema principal: a Doriacci quer dar o fora! Prussiano propõe dois camaradas para substituí-la. O que acha, Magnard?
O quê? O quê? — perguntava Magnard, aparentemente apavorado com a notícia. — O quê?. . . Mas quando?. . . Como foi que aconteceu isso. . . A Doriacci ainda está a bordo?
Está, mas não por muito tempo. . .
O que foi que aconteceu, capitão Ellédocq? — Magnard lembrava-lhe o seu posto, sinal de que a situação era mais grave do que Ellédocq imaginara, todo contente de se livrar dos lazzi e dos pizzicatti da Diva. — Capitão Ellédocq, o senhor é responsável por essa mulher admirável... O que foi que aconteceu?... — Um grande suspiro levantou o torso arqueado de Ellédocq, que se resignou:
Ela cantou Au clair de la lune... — disse com voz lúgubre.
Que Au clair de la lune? A sonata? Mas é para piano. De que o senhor está falando? E o público não gostou, ou o que foi?
Au clair de la lune. . . canção — disse Ellédocq, a quem as pretensões musicais de Magnard enchiam de desprezo. "Au clair de la lune que se canta, ora essa, na escola."
Houve um silêncio incrédulo.
Não é verdade, não é mesmo? — recomeçou Magnard. — Ellédocq, seja gentil, cante-me essa peça de que você está falando. . . para que eu ao menos compreenda alguma coisa. . . Depois telefonarei à Doriacci, mas é preciso que eu saiba de que se trata. . . Então, estou escutando. . .
Mas. . . mas... eu não posso... — balbuciou Ellédocq. — Impossível, aliás, eu canto desafinado!. .. E tenho mais o que fazer.
Magnard adotara sua voz de diretor adjunto:
— Cante — urrou. — Cante, Ellédocq, eu ordeno!
O capitão estava de pé na cabina, com o aparelho na mão, e lançava para a porta que ficara aberta olhares quase virginais, tão angustiado se sentia. . . Esboçou então:
— "Au clair de la lune Mon ami Pierrot.. "
— Não ouço nada! — urrou Magnard. — Mais alto! Após uma tosse, Ellédocq continuou, com voz suplicante e rouca:
— "Prête-moi ta plume..."
Não conseguiria fechar aquela porta sem largar o telefone, era impossível. . . Enxugou a testa com a mão.
— Não ouço nada! — dizia Magnard em tom jovial. — Mais alto!
O capitão tomou fôlego e abriu o peito. Tinha uma voz rouca e desafinada, mas que julgava certa e harmoniosa; bruscamente teve até certo prazer em berrar pela janela, chegando mesmo a afastar um pouco o receptor do queixo:
"Prête-moi ta plume
Pour êcrire un mot..."
Interrompeu-se de súbito: a voz de Edma ressoava às suas costas, e ele desligou no nariz do vice-presidente dos Cruzeiros Pottin & Pottin.
— Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Matam-se porcos no outono também, na Argélia?. . . Meu Deus, comandante, meu bom amigo, o senhor está aí?. . . Espero que não tenha se machucado. O senhor também ouviu esses gritos? Era horrível. . . Charley! Onde você está, Charley... Não, agora deixemos de brincadeira. O senhor sabe que tem um belo timbre, comandante? — disse Edma Bautet-Lebrê-che. — Não é, Charley? ... — acrescentou ela, "para aquele cretino", pensou Ellédocq, "que justamente retornava metido no seu blazer que pretendia ser cor de vinho mas era cor-de-rosinha".
Desta vez, Ellédocq estava esgotado: no mesmo dia tivera que refazer os programas, menus e concertos, cantar Au clair de la lune para o diretor adjunto da companhia e, agora, eis que achavam que tinha um belo timbre de voz. . .
— Ah! Mas é certo que acabarei maluco —- resmungou. E virando-se para Charley acrescentou: — Tive um dia terrivelmente fatigante, meu velho... — decididamente, esquecia-se do seu morse, sinal de um grave descalabro naquele pacotinho cinza, certamente não muito rico de circunvoluções, que constituía seu cérebro.
E seguido pelo olhar de Charley e Edma, dirigiu-se à porta, com as costas curvas, mas virou-se, lívido:
Meu Deus! E os demônios do prussiano!. . .
Que demônios? — perguntou Charley, que começava maquinalmente a pousar suas compras um pouco pesadas sobre a mesa sacrossanta do capitão.
Ellédocq, cansado demais para reagir, pousou nos embrulhos sacrílegos um olhar pesado, em que uma memória abobalhada perguntava a si mesma o que havia de errado nesse espetáculo: uma camiseta bordada de strass, um enorme frasco de material gorduroso para retirar maquilagem, e sapatos com solas grossas, tudo em cima do mataborrão, tinteiro e fichas de bordo do capitão. Charley e Ellédocq entreolharam-lhe. Charley, de repente horrorizado, mas Ellédocq, amorfo. E foi mais por sentir obrigação do que por ter vontade que Ellédocq, com seu braço direito, fez saltar tudo sobre o carpete, onde naturalmente um saco de rolos para cabelos se abriu, deixando escapar umas coisinhas rosa e verdes que rolaram alegremente no chão sob o olhar apagado de Ellédocq. Então levantou os olhos:
— Charley — disse —, vá dizer a Gõring que traga seus dois pederastas com sua flautinha e sua cabaça daqui a meia hora. Nós os ouviremos com a sra. Bautet-Lebrêche, mas que não façam gatimonhas entre eles, por Deus! — acrescentou.
E saiu batendo a porta, deixando os dois espectadores tão surpresos quanto era possível ainda estar, após quarenta ou cinqüenta anos de descobertas psicológicas, variadas no entanto.
Edma Bautet-Lebrêche, passada sua surpresa, viu-se requisitada a escutar os dois nativos de Montreux, encontrados por Kreuze, e dar sua opinião sobre o assunto. Muito divertida com a solicitação de Ellédocq e a solenidade que ele atribuía à cena, mais divertida ainda por tê-lo ouvido cantar Ma chandelle est morte1 um quarto de hora antes, acompanhou-o até o grande salão, onde, no estrado do centro, os esperavam os dois protegidos e seu protetor: dois qüinqua-genários, ou quase, "horríveis de ver", julgou Edma à primeira vista, observando seus shorts muito longos, as pernas peludas terminadas por soquetes de lã sob as tiras das sandálias. Mas prometeram trazer smokings. Kreuze e Ellédocq já estavam sentados na banqueta quando Edma chegou e quis se insinuar perto de um ou do outro sem incomodá-los, mas Ellédocq, de um salto, levantou-se e com mão de ferro a fez sentar-se entre ele e Kreuze. Antes de qualquer julgamento de ordem musical, Edma inclinou-se para Ellédocq:
_ São muito feios, o senhor não acha, comandante?
- Minha vela se apagou." (N. do T.)
É problema dele — disse Ellédocq, designando Kreuze com o queixo e uma expressão de escárnio, pouco claro para Edma...
Por quê? — perguntou (mas num cochicho, porque os dois alunos, a uma ordem latida por Kreuze, haviam começado a tocar). — Por quê? — repetiu em voz baixa, virando-se para Ellédocq.
— A senhora lhé perguntará.
Ela escutou portanto um trio de Haydn tecnicamente impecável e felicitou o mestre, triunfante, com graça, embora ficasse de novo surpresa com o tom que Ellédocq usou para felicitá-lo.
A senhora acha que eles podem substituir a Diva? — perguntou quando saíram juntos, quase de braços dados, para o tombadilho.
O senhor está sonhando! — disse Edma. — É por causa dela que todo mundo veio. Por mim, pessoalmente, confesso que a rigor passaria sem ela este ano, embora seja divina. .. Tenho outras lembranças do Narcissus, mas os outros. . . O senhor deveria falar com ela, comandante. Ou antes, o senhor deveria lhe dizer que já foi substituída, que não se preocupe, sobretudo não tenha remorsos: a
Doriacci partirá de bom grado se isso significar uma catástrofe, mas não, se sua partida for um simples incidente.
A senhora acha?... — perguntou Ellédocq, que viera a sentir, com o tempo, uma confiança por vezes perigosa mas instintiva nas decisões psicológicas um tanto arbitrárias de Edma Bautet-Lebrêche.
Eu não acho, eu sei — disse Edma em tom imperioso. — E sei porque sou igual a ela: se não faço falta não parto.
Ellédocq hesitava um pouco, ainda assim, em mergulhar de novo depois desse dia estafante numa discussão espinhosa com a Doriacci. Edma tomou-lhe o braço gentilmente.
— Vá lá, vamos lá. Eu vou com o senhor, é mais seguro. Depois o senhor irá dar uma boa cachimbada — acrescentou quase sem querer, vendo como Ellédocq estava perturbado, a tal ponto que nem pestanejou.
Mas quando chegaram à cabina da Doriacci, sua tática revelou-se supérflua. Não obtendo resposta, e tendo Ellédocq com ele a sua chave geral, como sempre, eles empurraram a porta pensando encontrar o quarto vazio, sem nenhuma baga gem, mas dando um passo viram na penumbra a Doriacci, adormecida toda vestida e, perto dela, um jovem seminu de corpo dourado soberbo, com suas mechas curtas de cabelo acobreado, estendido na cama, com o corpo perpendicular e a cabeça apoiada nas pernas da amante. Suas longas pernas, saindo do lençol, repousavam no chão.
Ellédocq corou com aquele rosado de pudor ofendido e, quando Edma lhe disse: — Que beleza, não é? — com voz cheia de respeito, indignou-se confusamente e deixou escapar um risinho, enquanto lamentava imediatamente não inspirar o mesmo respeito a Edma. Esse risinho de desprezo provocou de pronto o pedido insistente de um cigarro. Sacudiu a cabeça em negativa, sem se zangar, para grande descontentamento de Edma.
— Isso vai lhe acrescentar mais três músicos e uma coloratura. . . — vingou-se ela, passando por ele, ultrapassando-o e deixando-o para trás sem que ele reagisse. — A Companhia Pottin vai ficar encantada com essas atrações complementares. . . Vamos ver como se executa Au clair de la lune na flauta e no violoncelo.
Andreas acordou um pouco mais tarde, banhado num tênue suor, com o coração batendo violentamente antes de perceber a causa: a Doriacci o deixava, ela o tinha deixado, estava perdido. Já estava escuro na cabina, e imaginou-a na plataforma de uma estação naquele mesmo instante, esperando por ele; e depois de um momento faltou-lhe a respiração, alguma coisa se fechou sobre seu coração, provocou-lhe uma ligeira vertigem antes que se precipitasse para fora da cama, aquela cama negra e bem-amada, aquela cama perdida — mas bateu com o braço, ao se levantar, no flanco gordinho da Doriacci. Hesitou um instante em admitir aquela presença. Pela primeira vez na vida, o jovem Andreas hesitava diante de uma felicidade tão depressa devolvida. Tivera medo de morrer do coração, tivera medo de morrer, em suma, pela primeira vez. E no entanto que risco corria morrendo naquele instante, já que ela não estaria mais ali? Desde o momento em que a Doriacci deixasse sua vida, esta se tornaria vazia e sem interesse, e a morte seguia o mesmo exemplo: a morte ficava também vazia e tediosa para Andreas de Nevers. Mas agora, agora tinha a Doriacci, que seus beijos tentavam atingir através do lençol que ela puxara para cima da cabeça como proteção, recusando-lhe a menor superfície de pele nua onde pousar os lábios. Ela ria, e ele se irritava, não tocando-a com as mãos, mas apanhando o lençol com os dentes e sacudindo-o como um cãozinho, puxando-o da cama, enquando a Doriacci redobrava os risos e chegava mesmo a latir com sua bela voz grave.
O que vou encontrar atrás deste lençol, um buldo-gue, ou um dobermann?. . . uau, uau — disse com voz profunda — ou u-u-u? O que você é esta noite?
Não tenho vontade de brincar — disse Andreas, que se lembrou de repente do dia que tivera, que se lembrou do jovem desesperado, andando naqueles corredores intermináveis de solidão, o jovem pálido afobado cujo sofrimento revivia com tanta precisão, que se lançara ao ombro compadecido da mulher que lhe tinha infligido aquele sofrimento.
— Afaste-se — disse ela displicentemente. — Tenho que me vestir para o concerto.
Foi assim que ele soube, antes de todo mundo, que ela não partia mais.
Foi nessas circunstâncias que Julien e Clarisse receberam, cada um por seu lado, a música tocada pelos dois alpinistas suíços, que, libertos de seus casulos de lã e do conjunto de couro, tocavam como músicos inspirados dirigidos por Kreuze ao piano, prodigioso de sensibilidade e de tato.
O Trio número 6 de Beethoven para piano, violoncelo e violino, depois de uma entrada barulhenta mas muito rápida, parte logo para uma pequena frase lançada e desenhada no violoncelo. Pequena frase de sete notas que lhe arrebatarão um após o outro, que lhe restituirão, também, o piano e o violino. Pequena frase que parte com arrogância, como uma afirmação de felicidade, uma espécie de desafio que pouco a pouco os obceca, os ultrapassa e os desespera, embora eles tentem o tempo todo esquecê-la, embora cada um deles voe em socorro dos dois outros, quando um parece ceder-lhe à lei e ao encanto, embora cada um deles corra por vezes adiante desta mesma frase ou, para fugir, adiante do instrumento que a executa, como se fosse contagioso, embora esses três instrumentos angustiados tremam sem cessar por serem atingidos por aquela pequena frase tão cruel, reúnam-se por vezes entre eles e tentem ruidosamente falar de outra coisa, como três homens enamorados da mesma mulher, morta ou seqüestrada por um quarto e que, de qualquer forma, os teria feito sofrer igualmente. Esses esforços de nada servem. Porque mal começam a se sustentar uns aos outros, a dar prova de vigor, de alegria, de esquecimento, um esquecimento ruidoso, mal tentam compartilhar esse esquecimento entre si, um deles, como se não prestasse atenção, cantarola entre dentes, de novo, essa frase interdita, para grande desespero dos dois outros, que se vêem constrangidos a voltar a ela pela fraqueza do primeiro. Todo o tempo, todos esses esforços para falar de outra coisa e todo o tempo essas sete notas ferozes na sua graça e na sua própria doçura.
E Julien, que não gostava muito de música e cuja cultura nesse campo parara em Tchaikóvski ou na abertura do Tannhàuser, como Simon, enfim um pouco melhor, mas apenas isso, Julien teve a impressão que era a história deles que alguém lhe contava: sua história, dele e de Clarisse, essa história que iria falhar como parecia ressaltar em toda essa música, como se fosse ao mesmo tempo a das lembranças que ele não tivera, a do fracasso, a do desgosto premonitório. E quando ela voltou pela décima vez, soprada pelo violino até o piano interdito, encantado e cansado de acolhê-la, quando essas longas notas voltaram para Julien, ele teve que virar a cabeça para o mar sob a pressão ardente e louca, esquecida há muito tempo, das lágrimas sob as pálpebras. Do mesmo modo que sonhara de forma poética e irreal seu futuro com Clarisse, sua vida amorosa e sentimental com Clarisse, sua vida de amante, em suma, que sonhara com todos os seus encantos, do mesmo modo parecia-lhe agora receber de antemão todos os golpes e todos os arranhões: mas isso dentro da própria carne, na realidade concreta, tão terrivelmente concreta, que o desgosto adota nas coisas do amor, tornando tudo tão nítido, tão desértico, tão terra a terra e tão definitivo.
E o resto do concerto transcorreu com Julien voltado para o mar como se estivesse absolutamente insensível àquela música que o desesperava. E já tão confiante na natureza de Clarisse quão pouco confiante em seus destinos, Julien sabia que, por seu lado, sentada perto de Eric e sem olhar para ele, Clarisse também relacionava aquele tema com o encontro e a separação deles.
O terceiro movimento do Trio depois desse andante insuportável recolhe os pedaços num scherzo falsamente alegre, uma espécie de paródia mundana semelhante à que se sucede ao concerto depois dos aplausos intermináveis. Os dois artistas foram calorosamente felicitados, mais ainda por serem novos no navio, como que enviados a socorrer aquele barco espacial chamado N ar eis sus em sua trajetória pelo nosso velho planeta Terra. A tal ponto que apertando-lhes a mão davam-lhes tapinhas no ombro, tomavam-lhes o braço para se convencerem de sua existência real e portanto da certeza dedutível de terra firme. Julien e Clarisse, sem mesmo se verem, tinham ficado sentados alguns minutos em suas cadeiras depois que todo mundo se levantara numa algazarra tal que os dois não se ouviam. E foi só nesse momento que se olharam realmente, não se dando conta dos olhares de Eric e de Edma sobre eles. Ou antes: nem mesmo pensando nisso, a tal ponto Eric se tornara um terceiro e um importuno, mais do que um obstáculo. Não o viram empalidecer e dar três passos na direção de Julien, que vinha ao encontro de Clarisse e se sentava perto dela no mesmo instante em que, tendo afastado o piano, os marinheiros apagavam as luzes da pista. Foi portanto na semi-escuridão e tropeçando um pouco que Julien se sentou ao lado dela. E de início só viram um do outro o branco dos olhos assustados e dilatados de pânico.
Clarisse... — disse Julien em voz baixa, inclinando-se para ela, que respondeu:
Julien — pondo a mão sobre a dele e apertando-lhe os dedos nos seus "como fazem as crianças", pensou muito depressa, quando têm medo dos caminhos vazios, de noite. Mas Clarisse, não sendo mais uma criança para ele, era uma mulher que ele desejava e amava já o bastante para sofrer por não poder abraçá-la imediatamente, com um sofrimento agudo e no entanto distante, segundo acreditava, do desejo apenas físico.
Que vamos fazer? — perguntou Clarisse com uma voz sem timbre, baixa, uma voz sedutora que fez Julien pestanejar.
Vamos partir — disse ele, forçando-se a mostrar segurança, mas baixando os olhos antes dela, pronto a ouvir aquele "não" e todos os argumentos para esse "não" caírem da boca de Clarisse, como uma chuva torrencial, uma chuva odiosa e não como o raio que caiu a seus pés quando ela respondeu:
Certamente, vamos partir, juntos; mas esta noite... esta noite o que vou fazer?. . .
E então Clarisse parou porque Julien compreendera e recuara o busto para trás, procurando uma escuridão mais intensa, um afastamento maior ainda da imagem que acabara de passar diante de seus olhos, a de Eric estendido em cima de Clarisse. E em nenhum instante pensou mesmo em lhe perguntar "Por que esta noite?" "Por que agora?" "Por que subitamente é diferente das outras vezes?" "Como sabe, como conhece as pretensões de Eric?" Estava farto de saber que Clarisse jamais faria alguma coisa que o fizesse sofrer. Clarisse não dizia aquelas verdades penosas de ouvir que os melhores amigos em geral, ou os seres que nos são mais caros, distribuem. Clarisse desde já e para sempre o tomara sob a alta proteção de seu amor por ele. E o primeiro reflexo de Julien foi resmungar entre dentes, mas bastante alto para que ela o ouvisse: "Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. É a única solução!", procurando Eric com os olhos, encontrando-o e olhando-o como um completo estranho, alguém nunca visto antes, mas alguém a ser abatido. A mão de Clarisse em seu braço arrebatou-o desse movimento de ódio, e ele virou para ela um rosto desorientado e vagamente rancoroso. Tomou fôlego, lançou um olhar para Eric, agora sentado longe deles, o olhar que um cão lança a outro quando ameaçam brigar e são separados à força.
Acalme-se — disse Clarisse ternamente.
Passo a vida a me acalmar.
E imediatamente Julien se repetia: "Acalme-se, acalme-se", com aquele tom ligeiramente irritado que usava consigo mesmo no jogo, com mulheres, ou diante de um quadro. "Acalme-se, acalme-se", um tom superior mas firme, aliás, como um cavalo embalado. "Acalme-se. . . Esta carta não é a boa. . . Esta mulher não o ama. Este quadro é falso." E subitamente invejava todas aquelas pessoas, os noventa e nove por cento de amigos ou de relações que tivera ou ainda tinha que, pelo contrário, pareciam sempre exortarem-se ao perigo, ao desejo ou à confusão, como cavalos demasiado calmos ou privados de aveia. Mas essas exortações não funcionavam. Dava-se conta de que mais do que entregar Clarisse a um outro, a idéia de que esse outro fosse Eric, isto é, um homem que ela não amava e que, em todo caso, tentaria magoá-la, essa idéia o revoltava. Julien pensava com espanto que quase preferia que Clarisse amasse um pouco o homem que a queria; pelo bem dela e em prejuízo dele. Era a primeira vez que Julien preferia sua desgraça à de uma mulher.
— Ah, mas eu amo você! — disse ele ingenuamente. Sentiu-se imediatamente tranqüilizado pela gravidade
de seu amor, pela ternura desesperada que ela lhe inspirava, como se a virtude desse amor lhe garantisse reciprocidade e continuidade. Que louco ele era! Em todo caso, um outro alguém estava presente no interior de Julien e recusava compartilhar aquela mulher, coisa que sempre admitira antes, toda vez que desempenhava o papel de amante, naturalmente. Um Julien a quem bastava ser o preferido e que achava bárbaro querer ser o único, sobretudo tendo chegado por último. Ele procurou aquele Julien e por um instante disse para si mesmo: "Bem, ora, ela não vai morrer por causa disso. . . deve ter de fazer isso de tempos em tempos, como ocorre com todos os casais. E já que lhe repugna. . ." Mas de novo era essa última frase que o fazia estremecer: imaginava Clarisse tremendo, assustada, sob o peso, os gestos triviais, a respiração daquele homem. Mal ouviu a voz de Clarisse junto dele, que repetia: "O que vamos fazer? O que vamos fazer?" com a mesma voz pueril. E de súbito Julien teve uma idéia.
— Olhe para mim — disse com doçura e em voz baixa. Uma voz tão baixa que ela virou para ele um rosto espantado sobre o qual Julien inclinou-se, beijando-lhe imediatamente a boca, de início afobada, mas de súbito cedendo à sua, à lentidão, às doçuras e ao imprevisto daquele beijo furtivo diante de cem pessoas incrédulas, depois aterrorizadas.
Edma foi a primeira a vê-los, com seu olhar de águia: arregalou os olhos (era realmente um dia de surpresas, mesmo para uma mulher blasée) e, precipitando-se para Eric, hipnotizou-o literalmente, lançando-lhe, ao acaso:
— Quantos leitores o senhor tem, meu amigo?. . . Talvez duzentos mil? Há mais leitores no inverno do que no verão? Certamente, não? — e outras banalidades sem qualquer sentido. Percebia isso, mas seu pensamento perdia-se cada vez mais enquanto via com o canto do olho aquelas duas sombras abraçadas ao longe, projetando-se contra o céu azul-noite, o azul de uma noite clara atormentada pela mesma demência. Ela chegara a censurar Eric, estupefato, pela ausência de qualquer coluna sobre tricô em seu seriíssimo Fórum, quando um barman, com os olhos arregalados, a garrafa imobilizada acima dos copos, sem deixar cair uma gota, olhos que nem mesmo viam as sobrancelhas franzidas de Eric, o fez voltar-se para aquele espetáculo cativante. E Edma, que tinha um olhar decidido, não ousou olhá-lo enquanto ele os via.
Um minuto fora o bastante para que a Doriacci, que se aprontava para subir no estrado com sua fleuma habitual, visse a cena, compreendesse tudo e reagisse logo com o mesmo sangue-frio admirável de Edma, aquele sangue-frio dos antigos combatentes que só a experiência dá, e que nenhuma juventude, por mais que assim acredite, poderia substituir. Com o olhar reunira os músicos, com duas passadas largas atingira seu lugar e com o queixo eletrizara Kreuze. Foi então que Eric se precipitou para o casal, na primeira cena do terceiro ato do Trovador de Verdi (que, ligeiramente perturbada, ainda assim, a Diva pegara no meio, acabando por desconcertar o infeliz violoncelista, que tremia atrás dela). O resto dos acontecimentos foi portanto acompanhado durante todo o tempo pela bela voz, perfeitamente calma, da Doriacci, cujo microfone tinham esquecido de ligar, mas que ela dispensou muito bem, sem mesmo dar atenção a isso. Aliás, se era necessária uma bela voz para cobrir o ruído em torno dela, não havia necessidade de preocupação com os piz-zicatti ou com algumas armadilhas que existiam naquela ária, porque ninguém se interessa tanto assim pelo libreto dessa ópera. Eric lançara-se enquanto soava o Morro ma queste vis-cere, Consotino i suoi baci, cuja tradução, muito inoportuna, era: "Morrerei, mas seus beijos consolarão meu cadáver", coincidência que não chocou ninguém além dela, estando as três regras do teatro completamente negligenciadas nesse novo espetáculo. Foi no verso seguinte que ele atravessou o estrado, branco de cólera, com o rosto como que iluminado pelo furor, ao som de DeWore mie fugaci ("As horas breves da minha vida"), atirando-se em cima de Julien. Seguiu-se uma briga confusa, que se tornou ainda mais confusa com a chegada dos passageiros da primeira classe, alertados pela voz da Doriacci, e que, não tendo sido reunidos a tempo, esquecidos, segundo pensavam, vinham emburrados, procurando seus lugares com os olhos e se encontrando de súbito diante dos bancos vazios, com dois homens furiosos e despenteados engalfinhando-se como num faroeste; lançavam-se pontapés, alguns dos quais atingiam o alvo, contrariamente às clássicas brigas parisienses. Esses passageiros, já separados dos de luxo por um andar, uma diferença de trinta mil francos na passagem e uma quantidade de sólidos desprezos de parte a parte, viram-se também separados por aqueles dois energúmenos, obstáculo ainda mais intransponível que os precedentes, dir-se-ia. Andreas e Simon, tentando reter os combatentes, receberam, um deles, um valente pontapé, o outro, um uppercut. E, em suma, "foi uma carnificina bestial", como escreveu Olga a Fernande, e "uma confrontação simbólica mas flagrante", versão Micheline. "Um pugilato de corpo de guarda", disse Edma, que confundia facilmente as imagens; e "um incidente lamentável", como deve ter relatado Ellédocq aos irmãos Pottin. Enfim, terminaram por separá-los, graças a uns camareiros reunidos por Charley no máximo da excitação, do medo e do prazer por ver dois machos batendo um no outro e se machucando. Estavam ambos em estado lamentável e se perguntavam, desde o início da briga, por que infeliz acaso lhe tocara um adversário que também conhecia o boxe francês. "Se eu tivesse sabido...", pensava muito secretamente Eric, massageando a virilha, que ficara violeta desde o início do combate com um pontapé de Julien; frase que Julien, apalpando as costelas, também dizia. Levaram Eric Lethuillier, que sofria de forma visível, para dormir na enfermaria. Mas Clarisse não foi compartilhar seu sofrimento, como fizera com Julien, e como, no entanto, toda mulher honesta deveria ter feito. . . observara-lhe Edma Bautet-Lebrêche, com os cabelos ainda eriçados pela excitação e o ar nitidamente velhaco, enlaçando-a pelo ombro, fazendo-a virar as costas à sua cabina e levando-a diretamente para a de Julien. . . Ele chegou nos calcanhares dela depois de ter subornado a enfermeira, assegurando assim a seu adversário um sono reparador.
Clarisse estava sentada na borda da cama. Tinha os olhos baixos e as mãos nos joelhos. Era a própria imagem do desamparo, pensou Julien, fechando a porta atrás de si.
— Vou chamá-la de Clarisse Desespero — disse —, como a aldeia.
Há uma aldeia que. . . ?
Não — disse Julien jogando-se na poltrona mais afastada da cama, com ar descontraído. — Não, não existe uma aldeia com esse nome, mas a gente pensaria que sim, não é mesmo?
Ele tinha a impressão de estar diante de um animal selvagem ou de um criminoso um pouco nervoso, de sangue puro e assustado demais: um animal que podia magoá-lo mesmo sem intenção. Olhava para Clarisse com ar frio, e para a cama com uma ternura tão visível, que Clarisse se pôs a rir subitamente.
— Você parece o gato com as castanhas, lembra-se?. . . A fábula?. . . Existe uma fábula assim, não é? Mas o que você tem no pescoço? Você está sangrando? Você está sangrando! . . .
Julien lançou ao espelho um olhar enojado, desenvolto, em verdade macho, para ver um filete de sangue que descia por trás da orelha, e apalpou o corte com a mesma expressão desdenhosa. Mas esse desdém se transformou em reconhecimento quando viu Clarisse deixar seu refúgio e caminhar até ele, com os olhos apreensivos cheios de compaixão, quando a viu pegar-lhe a cabeça entre as mãos com um fluxo de palavras tranquilizadoras, como se fosse ele que precisasse ser tranqüilizado fisicamente. Estava ferido: ela o tinha à sua mercê. Julien voltava a ser a criança de quem se pode cuidar, a quem se pode em todo caso tocar. De gesto em gesto foi um adulto que Clarisse encontrou em seus braços, mas um adulto terno e doce que, além do prazer, queria o bem dela.
No meio da noite, Clarisse quebrara uma solidão de dez anos. Tinha desejo de alguém e que esse alguém a amasse como ele a amava e como ela já se sentia pronta para amar também.
— É engraçado — disse um pouco mais tarde —, pensava que você fosse um gângster, a primeira vez que o vi. .. e depois um americano.
Mas não os dois juntos, eu espero.
Não, separadamente. Que papel você prefere?
— Queria ser um tira inglês — disse Julien, virando o rosto (porque temia o instante em que, sabendo a verdade sobre ele, ela tomasse por mentiras odiosas e deliberadas suas reservas, suas discrições excessivas). Saberia ela então que, de certa maneira, essas mentiras eram verdade? Contanto que ela não esquecesse, então, que tinha feito tudo isso, todos esses planos bem-formados, por amor a ela e na única esperança de que, uma vez reunidos e confiando um ao outro a preocupação de suas existências, Clarisse Lethuillier estivesse tão bem com ele que não o deixaria, ladrão ou não.
— Você está com ar preocupado — disse em voz baixa. — Será a famosa tristeza que se segue ao amor? — completou ela subitamente.
E Julien olhou-a por um instante, estupefato pelas palavras que não a acreditava capaz de dizer.
— Sua pergunta é uma tolice — disse sorrindo.
E inclinados um para o outro, face contra face, tinham aquele ar satisfeito e enternecido, ligeiramente megalomaníaco, que têm os amantes depois da primeira noite de amor, quando essa noite foi sem sono por prazer e não por pesar.
É preciso que eu volte para meu quarto. Eric vai acordar. Como é que as coisas vão se arrumar agora? O que nós vamos fazer?
Nós quem? — perguntou Julien, com ar espantado e suplicante. — Quem é esse "nós"?
Você e eu, naturalmente. Eric vai segui-lo ou a mim. Vai ser odioso. . . É preciso que eu desça em Alicante e que nos tornemos a ver em Paris. . . Não poderei esperar por você todo esse tempo — disse logo em seguida. — Você poderia ficar debaixo das rodas de um ônibus ou se enganar de caminho e partir para Sydney. . . Há muitas coisas possíveis para que eu o deixe partir.
— Não tenho a menor intenção de a deixar fugir. Ele estava sentado na cama, com os cabelos eriçados.
Parecia mais um adolescente marcado do que um quadragenário, observou Clarisse, encantada, embora soubesse que esse encantamento seria o mesmo se Julien fosse calvo ou coxo, contanto que fosse ele, Julien, e que a amasse tal qual ela era.
— De todo modo — disse, esticando-se —, de todo modo, depois de ontem à noite, contrariamente ao que você pensa, Eric vai ficar completamente tranqüilo o resto da viagem. Ele pensa, não sem razão, que os amantes desconfiam quando sua história é séria. E geralmente isso é verdade. Acredite-me, o fato de eu tê-la beijado na boca diante de cem pessoas vai nos fazer parecer a cem léguas um do outro. Eu a beijei à força, com um gesto de bandido, e tive que usar de violência: portanto, eu lhe desagradava, portanto, você estava zangada, portanto, você era inocente. Entende?
— Sim, entendo — disse Clarisse, batendo os cílios, antes de se virar de bruços e pousar a cabeça sob o braço de Julien, dizendo de olhos fechados: "Não vejo nada. .. Não vejo absolutamente nada. . . Não quero absolutamente ver mais nada. Quero ficar nesta escuridão toda a minha vida".
Um pouco mais tarde, adormeceu. Mas Julien, acordado como nas primeiras vezes em que fazia amor com uma mulher que lhe agradava, Julien contemplou-a longamente enquanto ela dormia. Belos seios, uma boa curva de cadeiras, articulações finas, pele macia. Tentava adaptar essas estimativas de comprador de cavalos ao corpo de Clarisse, mas não conseguia. Naturalmente esse corpo era belo, mas ele tinha a impressão, pela primeira vez na vida, que mesmo que fosse desgracioso, a voz, os olhos e as mãos dessa mulher lhe teriam bastado para ficar tão apaixonado como estava. Ela acordou espontaneamente uma hora mais tarde, para grande alívio de Julien, que se sentia incapaz de lhe dizer que ela precisava voltar para sua cabina. Em seguida Julien caiu naqueles mesmos lençóis. Procurou o odor e o perfume de Clarisse, encontrou-os e adormeceu, exausto, enquanto imagens confusas e sensuais desfilavam sob seus olhos, mas desta vez se tratava de uma personagem que ele conhecia muito bem. Já eram suas as lembranças que via desfilar sob suas pálpebras.
O Narcissus, projetando-se sobre um céu e um mar cinza cor de ferro, parecia emergir das profundezas, fumegando água e nuvens, com sua quilha fendendo como uma faca o deslizante mar de seda, que se deixava cortar com um ruído deliciosamente alarmante de longo dilaceramento. Eram seis horas da manhã, e Julien dirigia-se ao convés superior com passos furtivos. Acontecia-lhe por vezes nessa hora, onde estivesse, numa cidade estrangeira ou no campo, sair por uma hora, durante a qual tinha a impressão de passear seu próprio corpo sonolento como um grande cão entorpecido e pouco ajuizado. Sonolento mas que, liberado dos entraves do sonho, batia com os pés à beira das avenidas ou dos campos a atravessar. Um corpo que levaria de volta para dormir em seguida, mesmo que fosse contra a vontade, porque o sono lhe era necessário, um sono que impediria suas mãos de tremer ao distribuir as cartas, um corpo cujos instintos, depois de Clarisse, tinha a impressão de ter satisfeito docilmente com dezenas de mulheres, sem que ele próprio, Julien, tivesse realmente desejado. Talvez fosse a principal força de Julien, de resto mal armado para a vida (se é que consideramos a vida uma batalha), com essa capacidade de continuar sempre o mesmo, de ser o primeiro a aceitar o erro, de não conceder qualquer consideração ao Julien que ele era ainda na véspera, admitir que podia se enganar sobre todas as coisas. E os homens e as mulheres, aliás, gostavam dele por isso. Seus amigos falavam de sua boa fé, talvez para não falar de seu orgulho. Simplesmente Julien não dava aqueles pequenos sinais agridoces da vaidade diária desse orgulho. Era assim que percorria distâncias de braços dados com sua personagem social, seus blefes e seus sonhos líricos, sem jamais pensar, quando as coisas iam mal, em pôr em sua causa um de seus três defeitos, como disse mais tarde Edma Bautet-Lebrêche, recapitulando os incidentes daquele cruzeiro: "Julien Peyrat não se amava,-mas também não se olhava: não tinha a menor idéia dele próprio e", acrescentava finalmente, "era provavelmente o único numa época intoxicada de freudismo de bolso e, portanto, deformado, era o único a só ver"a moral em relação a seus atos, sem julgá-los em relação aos motivos que os inspiravam".
Naquela manhã, Julien, acordado e incapaz de continuar naquela cama povoada, encontrou-se no convés superior diante de um imenso cartão-postal cinza e azul que representava o Mediterrâneo na aurora, em setembro. Julien estava cansado, feliz, e seus dedos tremiam um pouco, o que o irritou e enterneceu também. Uma vez amado por uma mulher ou pela sorte, Julien, arrebatado à sua indiferença benevolente, em relação a si próprio e aos outros, achava que seu corpo era amável, sólido e valoroso, qualidades e trunfos importantes justamente para a conquista das mulheres; trunfos que Julien, contudo, não protegia. Herdara, felizmente, aquilo que sua mãe durante muito tempo chamara de equilíbrio, mesmo quando saía tropeçando pelas salas de jogos mais mal-afamadas de Paris. Fechou os dedos na palma da mão e cobriu-os com o polegar, gesto um pouco cinematográfico de que se deu conta, depois, vendo o ar perplexo de Edma Bautet-Lebrêche, de robe lilás, cabelos desfeitos e uma cafeteira na mão, que acabara de trazer da cozinha. Mas, curiosamente, seu robe de cashmere e seda era fechado por uma espécie de cordão do qual pendia uma chave bizarra ou que, em todo caso, parecia mais bizarra ainda a Julien do que a presença de Edma no convés àquela hora: coincidência ainda assim imprevista e que não parecia contudo despertar a menor curiosidade nela.
É um objeto silvícola — disse Edma à pergunta muda de Julien. — Não me pergunte para que serve, você também, ou lhe darei uma resposta tão odiosa como a que dei ao pobre Kreuze.
O que foi que você lhe disse? — perguntou Julien. — Sou todo ouvidos — acrescentou sem mentir.
Porque as histórias de Edma Bautet-Lebrêche, crônica viva das fofocas de bordo, agradavam-lhe enormemente, primeiro, por causa do humor, e também por uma espécie de correção moral, um fortalecimento ostensivo dos valores burgueses que, como muitos dos seus contemporâneos, Edma, depois de os ter espezinhado e desprezado, chamava a si por vezes com firmeza. Sem dúvida, como dizia, esses valores eram indispensáveis, e Julien se perguntava se não seria para evitar que sua velhice fosse excessivamente surpreendida ou, pelo contrário, para mostrar os caminhos da doçura de viver a uma juventude brutal e desesperada, como ela acreditava que fosse. Pousara a cafeteira, e sentaram-se nas cadeiras de palha. Olhava Julien de esguelha, por trás da fumaça do cigarro, "numa pose muito 1930", constatou Julien com nostalgia. Sonhava, desde que nascera, com um mundo dirigido pelas mulheres; essas mulheres doces e belas, ou ternas ou mitômanas, em todo caso mulheres que o teriam protegido, e que ele, Julien, julgava terem um bom senso bem mais vivo do que os homens (pelo menos mais do que Julien), um mundo em que os homens ficariam aos pés das mulheres e à sua disposição, o que para ele queria dizer: ao pé da cama e à sua disposição amorosa. Ficaria naturalmente especificado que essas duas ocupações seriam adiadas para mais tarde, se necessário, em caso de vitória em Longchamp ou de ficar com a banca no bacará, em Divonne. ..
De que falávamos? — perguntou Edma, com a sua voz mais aguda. Ela só fazia essa pergunta no plural e respondia no singular. — Ah! sim, de minha correia. Pois é, eu disse a Kreuze que era para prender meus pianos. . . Fraco, de acordo, mais do que fraco, concordo com você.
Mas eu não estou de acordo. Gosto muito de respostas um pouco pesadas como essa. . . Muda o ar. . . A gente se sente de volta a uma idade mais fácil de contentar. . .
Brincadeira de criança débil mental, se é que estou me vendo bem no espelho. Não é bem isso, sabe? Este cinturão servia, ao que parece, para prender uma machadinha com a qual os silvícolas fendiam suas achas para se aquecer e cozinhar. Por que fica com esse ar de dúvida, sr. Peyrat?
Porque esse machado devia ser de um comprimento interminável para que os tais silvícolas pudessem se inclinar sem magoar terrivelmente o flanco ou se machucar na. . .
Na virilha — completou Edma com benevolência. — Sim, é possível. De qualquer modo, não trago comigo qualquer machado na vida mundana. A gente poderia, deveria mesmo, muito amiúde. . .
Mas a senhora pratica esse esporte há muito, não?... se minhas lembranças são boas. Em sociedade arremessa-se o machado depois ou antes de ter deixado a tenda?..-.
Ah, mas não se engane. Assisti a soberbos combates a machado! — disse Edma, entusiasmada por uma recordação guerreira que dava a seus olhos uma expressão bravia e sarcástica. — Eu me lembro que um dia, na casa daquela velha louca de Thoune, por exemplo. . . Ora, você não ignora quem é Mme de Thoune, não é? A mais bela coleção de Poliakoff e de De Chirico do mundo, dos Thoune, de Nova York. . .
Ah, sim! Eu sei — disse Julien entre dentes. — Então?
Então, a velha Thoune tinha sido abandonada por um belo sueco, Jarven Yuks... O belo Jarven, que se dividia entre ela e a pequena Darfeuil. . . Aliás, você talvez tenha conhecido esse Jarven em Nova York, não? Dirigia as vendas na Sotheby's. . . Um rapaz louro, alto, gênero viking. . . um pouco como o nosso homem forte de Montceau-les-Mines — Edma não hesitara em encaixar o lamentável jogo de palavras de Simon Béjard sobre o nome de Lethuillier e do seu Fórum. — Pois é, esse pobre rapaz não havia sido convidado para um jantar, numa noite de setembro, a que suas duas mulheres tinham sido convidadas por acaso. A sra. de Thoune, portanto, e a Darfeuil, que tinha então sensivelmente a minha idade. . . — disse com um ar, de início, satisfeito, esse "sensivelmente", que substituía com vantagens os "mais ou menos" na sua linguagem e na de suas amigas. (Mas então, apenas lançada, interrogou-se sobre a propriedade da palavra "sensivelmente", a propósito de uma coisa tão sensível a todos e que ela dizia lhe ser tão pouco sensível: sua idade, com que de fato pouco se preocupara durante toda a vida, mas que, à força de tanto dizê-lo, tornava-se ameaçadora. . .) — Ei-la pois à mesa com a Thoune, que fala e fala e torna a falar, uma coisa terrível. . . Uma chuva de palavras sobre o menor motivo de conversa. . . Como lhe dizer, caro Julien!... Se ela lhe falasse de cavalos ou de banqueiros de bacará, você teria ficado com horror dos cavalos e de ser banqueiro, você teria abandonado o jogo! Você se tornaria um homem desposável.
Mas — disse Julien, entre o riso e o medo, diante dessa palavra que lembrava casamento, agora que ele pensava nisso (e a loucura de seu coração o acabrunhou por um instante) —, mas que idéia engraçada!. . .
As coisas não vão bem? De repente você ficou todo perturbado. . . Foi a palavra "desposável"; é verdade que você nunca passou por isso.
Então, sou tão transparente assim?... — respondeu Julien, um pouco sem graça, embora rindo sem querer.
Completamente, para uma mulher como eu. Completamente transparente. Para os outros, não, fique tranqüilo. Eles todos se perguntam o que você realmente faz, mas ninguém se pergunta, em compensação, o que você é em profundidade.
Ainda bem. Não vejo realmente também em que meus atos e gestos poderiam interessar a quem quer que fosse.. .
Assumira uma atitude humilde ao dizer isso, um ar que provocou uma reação de alegria incrédula em Edma Bautet-Lebrêche.
— Dizíamos que eu era transparente — insistiu Julien, com voz neutra.
— Você deve me achar completamente gagá, não é? Dissera essa frasezinha com uma voz despreocupada,
por demais aguda, que a fez emitir um cuac e depois tossir com a mesma voz de falsete, com o rosto virado.
Então, Julien, você não responde? O que você pensa do nosso diálogo de agora? Não é estarrecedor?
Acho o início desta conversa esquisito de fato, mas não sua maneira de interrompê-la — (ele sorria). — Na vida você deve ter interrompido muitas coisas assim de improviso. Por exemplo, não ouvi o fim de sua história sobre a sra. de Tanc. . .
De Thoune — retificou Edma maquinalmente. — É verdade — (ela retomara sua desenvoltura e já estava aborrecida de tê-la perdido por um instante) —, pois é: a sra. de Thoune encontra aquela moça num jantar em que as duas se reuniram por acaso e não foram apresentadas também por acaso, e, por conseguinte, nenhuma delas sabia que a outra era aquela "outra" que lhe roubava um pouco de seu belo Jarven. Uma e outra, em suma, puseram-se a falar dos homens, do amor, da covardia dos homens, etc, e por uma vez a chata da faladeira emprestou seu microfone a outra pessoa. Elas se entenderam tão bem a respeito daquele amante repugnante que evocavam juntas, sem poder imaginar que se tratava da mesma pessoa, que se animaram e decidiram romper naquela mesma noite, uma e outra, com ele. E no dia seguinte de manhã foi o que fizeram. E quando, muito tempo depois, descobriram sua identidade, riram às gargalhadas e com um riso aliviado. E foi assim que o pobre Gerard ficou sozinho. . . Ele se chamava Gerard, de fato, e não Jarven nem Yuk — concluiu distraidamente.
Ele morreu? — perguntou Julien com ar triste.
De forma alguma. . . Mas por que você quereria que ele estivesse morto?. . . Ele vai muito bem. . .
Então já não se chama Gerard? — insistiu Julien.
Mas é claro, naturalmente! Por que você quer. . .
Como assim? — disse Julien, que, vendo-se atrapalhado, abandonou o assunto. — Você quer um café quente? O de sua cafeteira deve ter esfriado. . . Vamos tomá-lo no bar? Está esfriando.
Eu queria simplesmente que você me mostrasse o seu Marquet — disse Edma, endireitando-se na sua cadeira antes de se levantar graciosamente (ela o percebeu) e tomar o braço de Julien.
Receio que não seja perfeitamente digno de você — disse Julien, imóvel diante dela, sempre sorridente.
De repente, não se sentia muito bem; estava de novo num terreno minado. Podiam confundi-lo. Ele gostava de uma mulher que não devia gostar de ver seu amante confundido e que não devia ter qualquer ternura pelo tipo de homem que come num bar e não paga. . . ou abusa da confiança alheia. Essa ameaça agora delineada por Edma, essa ameaça que planava desde a partida, sem constrangê-lo muito, apenas de uma forma até então mais do que discreta, adquiriu uma tonalidade aguda, introduziu em sua vida uma espécie de desacordo com a de Clarisse, introduzia também um desacordo inelutável no equilíbrio frágil, qualquer que tivesse sido seu pensamento, entre o alegre Julien e o Julien amoroso. Esse timbre agudo arriscava parecer singularmente gritante e odioso aos ouvidos de Clarisse.
Esse Marquet não é absolutamente verdadeiro — recomeçou, inclinando-se diante de Edma. — Receio que ele desmereça seu grande salão, que tem um ar bastante soberbo, segundo a Geographical Review. . .
Ora, esta revista aqui?. . . Engraçado — piava Edma, segurando a revista que ele lhe estendia e da qual ela própria depositara alguns exemplares pelos cantos de leitura do navio (e onde se viam, de fato, em comprimento e largura, fotos tomadas de ângulos vantajosos do suntuoso apartamento parisiense dos Bautet-Lebrêche). — É um erro — recomeçou ela friamente. — Um Marquet, assinado ou não, é exatamente o que me falta, meu caro Julien.
— Ah!, isso não, assinado ele é, mas ficaria constrangido se tivesse de jurar que é autêntico.
Ele a punha numa alternativa clara, observou ela: ou tornava-se cúmplice ou o denunciava. Optou imediatamente pela primeira hipótese, mas em nenhum instante a moral burguesa de Edma sentiu-se comprometida; Julien agradava-lhe demais para que a menor engrenagem dessa aparelhagem complicada, que lhe fazia as vezes de moral, reagisse.
— De qualquer modo, uma vez que meu querido Armand fique persuadido, e isso graças aos meus juramentos, que importância. . . Aliás — lançou ela, pondo-se a caminhar na direção dos corredores, um pouco enrubescida por esta última emoção —, aliás, se acontecer; ele é capaz de ser verdadeiro, esse quadro. . . Acho-o bem pessimista.
E Julien, que vira o quadro terminado e assinado com fervor por um de seus amigos, tão dotado quanto indelicado, achou essa última frase admirável. Não, não podia vender esse Marquet a Edma, decididamente. Já não seria patifaria, seria mendicância. Esse pensamento o fez parar e, virando-se, Edma deve tê-lo compreendido, porque ficou também imobilizada antes de levantar os ombros e dizer-lhe: — Ainda assim, vamos vê-lo — com voz enternecida.
Eric voltara da enfermaria de muito bom humor. Com um bom humor intempestivo aos olhos de Clarisse, depois da última noite, um bom humor que o tornava ridículo e portanto desprezível, muito injustamente, a seus olhos. E no entanto era um bom humor muito sincero, em Eric: a possibilidade de um adultério depois desse escândalo da véspera à noite parecia-lhe nula; não fora, afinal, enganado a dez metros do lugar onde dormia. Era uma hipótese tão grosseira e tão odiosa para seu orgulho que a rejeitou ¡mediamente, como não ocorrida. Aliás, o beijo roubado a Clarisse diante da multidão mostrava bem que não fora dado de boa vontade. Pobre Clarisse, pensou Eric, que primeiro rejeitara Julien e em seguida chamara por socorro (porque essa era a lembrança de Eric). A pobre Clarisse não era decididamente entusiasmável. Mas houvera um tempo em que ela se arranjaria para não ser importunada por um homem, ou pelo menos para resistir-lhe sem escândalo. Houvera uma mulher hábil e desdenhosa, uma grande dama um pouco vamp em Clarisse, que durante muito tempo esnobara, exasperara e finalmente excitara Eric. Que sua virtude da véspera fosse fruto de uma timidez masoquista, mais do que de fidelidade sentimental, era bem menos agradável aos olhos de Eric. Mas, afinal, era divertido constatar que fosse ela, Clarisse, que alimentasse as fofocas de bordo; chegava mesmo a ser cômico.
Clarisse, virgem e mártir — disse, olhando-a no espelho, sentada em seu beliche, com os olhos fixos no mar, as mãos trêmulas, o rosto liso e desfeito. (Bela naquele momento. . . Cada vez mais bela, Clarisse.) — Você viu meu parceiro de combate hoje de manhã?
Não — respondeu Clarisse, sem se virar —, não vi ninguém esta manhã.
Falava distraidamente, quase num sussurro, e esta era uma coisa que Eric não podia suportar em ninguém, muito menos em Clarisse.
Eu a incomodo, Clarisse? — perguntou, virando-se para ela. — Você está pensando em coisas apaixonantes? Ou em coisas íntimas demais para me comunicar? — (E aí Eric já sorria abertamente diante da inverossimilhança evidente, para quem quer que fosse, Clarisse inclusive, dessas suas hipóteses, e sobretudo a de que Clarisse pudesse ter pensamentos apaixonantes.)
Sim, sim, naturalmente. . .
Não o escutava, nem ao menos o escutava, e Eric levantou-se tão bruscamente que ela deixou escapar um grito de medo e empalideceu.
Olharam-se nos olhos por um instante: Clarisse, espantada, redescobria a cor daquele cristalino, aquela cor conhecida e tão distante atualmente, aqueles olhos pálidos, sinônimos de frieza, severidade. . . Aquele olhar que a desnudava, que a censurava por alguma coisa naquele momento, sentia-o. E com os olhos sempre fixos nele, estudava aquele rosto, aquele belo rosto repelente. No instante em que formulou esses dois adjetivos corou com violência, corou por ser essa impressão tão forte a ponto de eles terem brotado tão espontaneamente e em termos tão crus. Fez um esforço para repetir: "Bonito e repelente, belo, eu o acho bonito. Repelente também". Aí está. Havia qualquer coisa de vicioso, abjeto e arrogante naquele maxilar fechado, crispado num horror que se podia perceber que era indiferente, fechado sobre palavras horríveis. . . Aquela bela boca espirituosa e desdenhosa, em repouso, aquela boca tão perfeitamente desenhada que não se podia imaginar, nem por um segundo, no menininho que Eric devia ter sido um dia.
— Então, nenhuma resposta? Sabe que está se tornando muito grosseira ultimamente, Clarisse?
A voz ferina de Eric sacudiu-a por um instante, e mais uma vez ela olhou para aquela boca de dentes brilhantes, tratados pelo dentista da família Baron, o melhor dentista da Europa e da América, e cujos honorários exorbitantes não tinham desencadeado, sequer uma vez, as explosões democráticas de Eric. Aliás, para tudo o que a seus olhos eram coisas importantes — sua saúde, investimentos e prazeres —, Eric recorria de bom grado aos fornecedores dos Baron, tão naturalmente como lhes censurava os desperdícios quando não envolviam sua pessoa. Esforçou-se por ser polida com aquele homem estranho, exasperado, que quase lhe gritava:
— Em que você está pensando?
— Eu pensava em você quando era criança. . . Sua mãe deve ficar triste por nunca vê-lo. Você talvez devesse. . .
Clarisse interrompeu-se. "O que é que me deu?", pensou, antes de se dar conta de que era seu desejo de bondade, perfeitamente natural, de não abandonar Eric à solidão, que a fazia falar assim. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ninguém amava Eric o suficiente para não se regozijar de vê-lo abandonado por ela. . . Ele primeiro ficaria louco de raiva, antes de ficar triste.
— Vou tomar o café da manhã no convés — disse Eric, irritado. E desapareceu.
Ficando só, Clarisse respirou fundo, viu-se no espelho, despenteada, com um ar inocente, e não pôde se impedir de sorrir à mulher que amava Julien Peyrat, a mulher que ele achava bonita, da qual não se cansava, ao que parecia, de sentir o contato, o calor, a luxúria, a mulher que lhe pertencia, abandonada. . . Levou as mãos às faces, virou a cabeça para sentir o perfume de seus dedos ainda não desembaraçados da noite. Levantou-se e dirigiu-se à porta, para o convés, para Julien, que, sabia, também tomava sempre o café da manhã no convés.
Sentado a uma das mesas da sala de jantar redundante de sol e de porcelana, Julien não parecia ver atrás de si as silhuetas sentadas de Eric, Armand Bautet-Lebrêche e Simon Béjard, que lançaram a Clarisse um olhar misto de surpresa e vaga censura, porque àquela hora eram em geral os homens que dispunham da sala de jantar (como, do pequeno salão, os ingleses de boa família). Mas Clarisse não os viu: olhava para Julien, ocupado em espalhar em sua torrada a manteiga dura demais. Com uma expressão contrariada e as sobrancelhas franzidas, todo o seu rosto magro e queimado estava concentrado no ato, o grande nariz bonachão, o pescoço reto, tão viril e adolescente na camisa de algodão, as grandes mãos aparentemente desajeitadas, mas tão habilidosas. . . Clarisse fechou os olhos sobre uma lembrança precisa; ela amou o físico de Julien naquele instante, mais do que jamais amara o físico de quem quer que fosse. Amou as faces afundadas e azuladas pela barba, a linha do nariz, a boca ampla e carnuda, os olhos tão móveis na sua bizarra cor de acaju, os cabelos um pouco longos demais, como os cílios, em grandes mechas desordenadas, estendidas sobre sua cabeça de ossos tão duros e movimentos tão ternos, com ares de potro. Desejou tomá-lo nos braços, cobri-lo de beijos. Subitamente ele era de seu sangue, de sua espécie, de seu mundo, de seus amigos. E era seu semelhante, seu correspondente exato. Certamente teria as mesmas lembranças e a mesma infância. Deu um passo em direção à mesa de Julien, e ele então ergueu a cabeça, viu-a e levantou-se, com os olhos úmidos de prazer, sorrindo sem querer com a violência de seu desejo.
Senhora — disse ele com voz rouca —, eu me desculpo por não a ter segurado à força esta manhã. . . Amo-a e desejo-a — continuou, com o rosto formal e arrependido, destinado às testemunhas ao longe.
Também o desejo e amo — disse ela de cabeça ereta (parecendo altiva ao longe, mas exageradamente amorosa de perto).
Eu a esperarei todo o dia em meu quarto — disse ele, sempre sussurrando.
Inclinou-se, enquanto ela se dirigia para Eric, cujo rosto, quando chegou perto, demonstrava uma indulgência cheia de desprezo.
— Então?. . . Seu apaixonado desculpou-se? Explicou-se? Estava bêbado ou o quê?
— Pode-se querer flertar com sua mulher sem se estar bêbado, meu amigo — disse Simon Béjard de sua mesa.
— Mas não beijá-la na minha frente, não acha?
A voz de Eric era cortante, mas não pareceu perturbar Simon Béjard.
— Quanto a isso estou de acordo. Beijar a mulher de outro diante do próprio é de muito mau gosto. Nas suas costas é mais conveniente.
Eric parou. Não estava em condições, evidentemente, de ditar moral àquele vulgar fabricante de filmes, cuja amante se chamava Olga, ainda por cima.
Certamente, certamente — disse, virando-se para Clarisse, sem demasiada agressividade. — Então, o belo pilantra desculpou-se?
Oh, sim! Certamente. . . — Sorria-lhe do fundo dos olhos. Lançou-lhe um olhar, aquele olhar auto-esclarecedor do amor; Eric ficou paralisado, um instante antes de a ver projetar esse mesmo olhar sobre Simon Béjard e Armand Bautet-Lebrêche, que ficaram, eles também, embasbacados, como se atingidos por um raio de calor. Mas sua estupefação não era nada, perto da de Eric. Perplexo, atingido em alguma parte de sua memória, em alguma lembrança de que não chegava a situar o quadro: o sorriso de Clarisse ao sol, voltada para ele, com aquele mesmo olhar. . . Clarisse cercada de folhas, de flores, de árvores, de vento. . . talvez no terraço de algum restaurante? Ou então na casa dela em Versalhes?. . . Não, não conseguia situar aquele instante nem formular o que fora capital naquele olhar. Nem o que ele queria dizer voltando agora aos olhos de Clarisse. Seria simplesmente seu coração, sua memória de colegial que lembrava Clarisse apaixonada por ele? Clarisse com vinte e cinco anos, os olhos úmidos de ternura quando olhava para ele. . . com toda aquela selva em torno dela, carregada de brotos azuis como promessas. . . Meu Deus! Meu Deus! Aonde queria ele chegar? Que linguagem grotesca era aquela? Sim, Clarisse acreditara amá-lo. Sim, fora bastante esperto para fazê-la crer nisso. Sim, era verdade, ela comprara um jovem marido de esquerda e para ele um jornal da mesma tendência, esperando levá-lo para o seu mundo, para os seus, amarrado ao luxo e ao conforto. . . Sim, ela fingira se interessar pelo Fórum, fingira ludibriar com ele seus tios reacionários, mas não conseguira atingir seus fins. O Fórum existia, e o amor morrera. Só a mantinha consigo por medo, sabia agora; já que ela pudera pousar nele aquele olhar apaixonado, provocado por outro, era a melhor prova, a mais evidente, de que tudo terminara entre eles e que já não o amava de modo algum. E estava tudo muito bem assim. Fizera-a sofrer bastante, a pobre Clarisse. . . Somente. . . Somente.. .
Levantou-se de um salto, chegou justo a tempo. Espantou-se confusamente, diante dos toaletes de madeira de teca, de não vomitar, junto com os ovos estrelados e torradas, pedaços de pulmão, restos de coração, um fluxo de sangue bebido por engano ao mesmo tempo que o sorriso da boca de Clarisse.
Quando voltou à sala de jantar ela estava vazia, e as vozes alegres de sua mulher e do produtor incapaz afastavam-se no convés. Ficou imóvel, escutando as vozes se apagarem. Foi Olga quem o arrancou do torpor.
— Você está muito pálido, meu amor — disse, passando-lhe um lenço sobre as têmporas, com ar preocupado. — Sofreu algum acidente?
Virou-se com esforço:
— De certo modo, sim. Comi um ovo não muito fresco. Quando penso no preço dos ovos neste navio — gritou de repente —, acho o cúmulo. Procure-me o maître d'hôtel — lançou ele a Olga, estupefata, antes de se precipitar até a cozinha.
Aí está, realmente não tem nada de um homem de esquerda, pensou Olga, enquanto ele insultava o cozinheiro e seus auxiliares de forma que pareceria excessiva, sem dúvida até mesmo aos tios Baron. Olga via-o maltratar o pessoal, consternado, com aquele júbilo de desprezo que dissimulou sacudindo a cabeça aprovadoramente quando ele a tomou como testemunha.
Venha — disse, afinal —, essa pobre gente não tem culpa de você ter pago tão caro esta viagem. . .
Não gosto que façam pouco de mim. De modo algum. É só isso.
Estava branco de raiva, com náuseas. Sentia-se esvaziado, pastoso e indignado. Chegava mesmo a se perguntar se havia razão para seu discurso. Oh! afinal, não se tratava de socialismo naquele navio de luxo. Bastava que aqueles lacaios esnobes fizessem seu trabalho convenientemente. Eram pagos para isso, como os garotos do Forum por seus encargos, como ele próprio era pago para dirigir o jornal e como. . . Só Clarisse era paga para nada fazer.
— Estou desolada, você sabe, meu caro Eric — disse Olga, depois que se sentaram no pequeno e triste bar situado na escada entre os de luxo e da primeira classe. Essa situação chamada de "conciliação" fizera de fato desse bar uma "terra de ninguém", onde ninguém se arriscava. Os de luxo por desdenharem a primeira classe, e esta por desdenhar esse desprezo. Um velho barman preparava para si próprio coquetéis imbebíveis que bebia sozinho (ou então com algum bêbado do primeiro andar, cuja mulher ainda não pensara em persegui-lo até aquele lugar). Embriagava-se e, já colocado pelo destino entre duas classes, dois andares, dois portos, dois séculos, tampouco se equilibrava bem, àquela hora, sobre as duas pernas. Esboçou um gesto de acolhida cheio de entusiasmo para os dois recém-chegados, e, apesar das injunções de Olga, que já cuidava do fígado, e a indiferença total de Eric, decidiu fazê-los testar uma de suas especialidades mais atraentes: Olga, que o vigiava com o canto do olho, viu-o com incredulidade crescente jogar conhaque, kirsch, hortelã fresca, frutas cristalizadas e angustura na sua coqueteleira. Decidiu que, forçosamente, seriam bebidas falsas e, mais confiante (muito erradamente), virou-se para Eric, que lhe perguntava em voz baixa:
— Você está desolada por quê?
— Desolada de ter sido demasiado bem informada sobre sua mulher.
— Isso não tem qualquer importância. . .
Ainda assim, esse Peyrat, que patife! Fiquei envergonhada por sua causa. . . Ah! Eric, quando vi você se precipitar para cima daquele animal, fiquei com muito medo. . . E não sem razão, infelizmente.
Por que não sem razão? Ela levou uma bela lição, e ele também, não foi?
Eric estava furioso, e furioso por estar furioso: furioso por não querer ser o vencido nessa rixa imbecil, como se tivesse havido um vencedor e um vencido. Inchava de raiva "sem querer", mas também contra si mesmo: porque lhe parecia que qualquer pretexto para qualquer sentimento violento aliviá-lo-ia de um sentimento bem menos violento, mas, pior, evitar-lhe-ia tornar a pensar naquele olhar de Clarisse, tão promissor a um outro, tão esquecido dele. "Clarisse vai certamente me fazer falta, como toda vítima a seu algoz", tentava dizer a si mesmo, ao homem ainda agora fulminado por aquele sorriso desamparado; o homem a quem chegavam, de tempos em tempos, através do tilintar dos copos, as frases tristes de Olga, as alegres do barman; o homem que recebia ainda o "sim, certamente" de Clarisse, momentos antes, com um ouvido indiferente, mas que o recebia agora como um golpe sinistro. Esse homem era ele próprio, Eric Lethuillier. Ah! Ela ia ver, ia compreender quem era aquele homem que ela acreditava amar. . . Ia ouvir boas coisas e por outros, não por ele, aliás. Enviara um telex na véspera; devia ter uma resposta agora.
— Venha — disse a Olga, interrompendo assim uma dissertação pertinente sobre a inconstância das mulheres, teoria que já conquistava a adesão completa do barman, visivelmente pronto a apoiá-la com experiências pessoais.
Mas deixando-lhe uma gorjeta régia, coisa pouco habitual nele, e a metade dos seus coquetéis, Eric levou Olga para a cabina do rádio: o telex realmente estava lá, e ultrapassava todas as suas expectativas, ou, antes, todas as suas previsões. Fora exatamente ele, Eric Lethuillier, que dirigia de longe o inquérito de seus detetives para a Brigada Mundana, na seção dos jogos, pois não era por acaso que esse mesmo Eric Lethuillier chegara a vencer seu desafio: montar e conservar o Le Fórum du Peuple. Empreendimento difícil, porém, na França dos anos 70/80, quando parecia tão tristemente engraçado evocar a liberdade de imprensa quanto o exercício da democracia. Fora-lhe preciso, para chegar a seus fins, além da fortuna de Clarisse, uma teimosia, uma ambição, uma má fé infalível; daquelas que fazem os bons diretores de jornais, e às quais se juntava, nele, um instinto excepcional a respeito das outras pessoas. E, mais precisamente, o instinto de suas taras. Farejava nos outros desde a primeira abordagem a perversidade, a covardia, a cupidez, o alcoolismo ou os vícios, tão infalivelmente, que passava ao largo de suas qualidades, geralmente tão evidentes, porém. Esse fato, que teria feito dele um maravilhoso chefe de polícia, fizera-o encontrar imediatamente a falha de Julien. O telex vindo da delegacia confirmava mais uma vez essa intuição pessimista. Assinalavam-lhe a existência, nos fichários do Quai des Orfè-vres, de um chamado Peyrat, Julien, solteiro, nem alcoólatra nem morfinômano, de costumes normais numa vida agitada, mas suspeito de trapacear várias vezes no jogo, ainda que sem provas, e ao mesmo tempo de furtos e falsificações de pinturas (nesse ponto tinha havido uma queixa em Montreal, dois anos antes). A menção "não perigoso" terminava esse relatório. E até nesses termos secos e brutais, Eric sentia, no estilo próprio do tira que o redigira, planar como que uma fraqueza por esse bom camarada Julien, tão francês, tão bom sujeito.. .
"Tão medíocre, sim. . .", martelava Eric selvagemente para si mesmo e, sem querer, para Olga, de novo sentada diante dele no grande bar, tão selvagemente que ela teve um vago sentimento de pena e de medo em relação a Peyrat.
Olga esperava com calma que Eric terminasse a leitura diante dela, Olga Lamouroux, a esperança do cinema francês, ela, insensível à grosseria daquele homem sentado à sua frente, ela apalpando no bolso um outro envelope, dirigido a ela e vindo do Echos de la Ville, o jornal das fofocas onde trabalhava seu antigo flerte, o jornal escandaloso e bem-infor-mado sobre os costumes e manias das cabeças cabeludas ou encanecidas de Paris inteira. Eric levantou os olhos, pareceu se aperceber de sua presença e, sem uma palavra de desculpas, dobrou as folhas e colocou-as no bolso.
— Você não bebe nada? — perguntou, menos como pergunta do que como afirmação. E continuou. — Bem, então até daqui a pouco.
Levantou-se e teria desaparecido sem qualquer manifestação sentimental se Edma, chegando bruscamente à porta do bar, não o tivesse feito se abaixar de repente, todo carinhoso, sobre o rosto de Olga, impávida e sorridente de raiva. Olga viu-o se afastar, antes de abrir, por sua vez, o envelope azul, de onde tirou com lentidão e uma espécie de prazer ácido as informações sobre seu amiguinho. "Lethuillier, Eric: aluno bolsista de origem pequeno-burguesa, mãe viúva, recebedora-chefe dos Correios de Meyllat. Aposentado por distúrbios nervosos, diplomado pela ena1, marido de Clarisse Baron. Nem homem, nem mulher, nem vício especial. Exceto a ena." Virou e revirou o papel entre as mãos, decepcionada e intrigada. Era a primeira vez que o Echos não encontrava qualquer horror na vida de alguém. Procurou, ainda assim, em sua memória
- École Nationale d'Administration. (N. do T.)
o que não estava certo, mas não conseguiu determinar o quê.
Julien fora obrigado a levar Simon Béjard para ver de novo seu Marquet, e Clarisse os seguiu:
— É lindo, decididamente! Por que você não o pendurou mais cedo, logo à saída de Cannes? Aí está uma companhia ideal, não é? — dizia ela diante da parede em que o Marquet substituíra de vez o quadro habitual.
Parou, enrubesceu, e Simon, com sua grosseria habitual e vigorosa, aumentou seu embaraço.
— E então, Clarisse! Ele talvez estivesse ali desde a partida, não? Como você poderia sabê-lo?
E estourou numa gargalhada sardónica que levou Clarisse a lançar um olhar desamparado a Julien.
Diga-me, meu velho — começou Julien, com uma bela voz grave. — Diga-me, meu velho — repetiu com ar tolo e digno, o que redobrou a hilaridade de Simon.
Diga-me o quê? Eu não disse nada. . . Só que a sra. Lethuillier não podia ter visto este quadro. Só isso.
Inclinou-se para o suposto Marquet, franzindo os olhos, com os calcanhares juntos, o que ressaltou sua proa e sua popa de forma desgraciosa.
Mas diga-me. . . mas diga-me. . . — resmungou. — Você sabe que ele é muito bonito, o seu Marquet. . . Sabe que é um bom negócio, um Marquet dessa época por cinqüenta mil dólares. . . Por Deus, sr. Peyrat, andar com isso entre duas camisas, uma escova de dentes e um smoking é muito mais chique do que carregar dez ternos de popelina com detalhes, como eu. Você tinha medo que a paisagem não fosse suficiente para seus apetites artísticos, meu velho?
Ele caiu nas minhas mãos no último dia — disse Julien, distraído e preocupado.
A lista dos eventuais compradores reduzia-se cada vez mais. . . Não, não podia fazer isso com Simon; com Edma já estava perdido; restavam-lhe ainda um tabelião, a sra. Bromberger, o americano, a Diva ou Kreuze. . . Mas este era visivelmente um unha-de-fome. Precisava, contudo, vender sua bela falsificação nem que fosse só para levar Clarisse por dez dias a um lugar confortável, dez dias no final dos quais o conforto lhe seria indiferente para sempre ou, pelo contrário, não lhe serviria para nada.
— O que você acha, Clarisse? — perguntou Simon, com voz de falsete.
E Clarisse sorriu a Julien antes de responder:
— Nada mau.
Ele se inclinou para ela, perguntando: — Então? .— em voz baixa, enquanto Simon, com as mãos em anteparo diante dos olhos, aproximava-se e afastava-se do quadro com a mímica de fino conhecedor, certamente tomada de um mau filme. Balançava a cabeça com convicção, como se aprovasse seus próprios pensamentos, aliás secretos, e foi com um sorriso resignado e um pouco cansado de amador satisfeito no seu esteticismo que se voltou para Julien.
— É verdade — disse —, é da boa época e não está caro. Posso lhe dizer que não é um pastelão, essa massa não é um guache. . .
A expressão de Julien pareceu ter sido irresistível a Clarisse, pois ela girou sobre os calcanhares e dirigiu-se para o banheiro, sem qualquer explicação, fechando a porta atrás de si. Os dois homens ficaram sós e, abandonando a pintura, Simon Béjard passeou o olhar de Julien até a porta do banheiro, da porta do banheiro para a cama e da cama para Julien com a mesma expressão de aprovação admirativa de pouco antes, com um laivo de lubricidade. Julien ficou frio como o mármore diante dessa cumplicidade masculina. Mas o mármore nunca fizera Simon Béjard recuar.
— Meus cumprimentos, meu velho. . . — sussurrou, com uma força que se fez ouvir através de três divisões de parede. — Meus cumprimentos. . . Clarisse, fiu-fiu, principalmente de cara lavada. . . Uma bela peça, meu velho, como o Marquet. Você tem aí dois belos prêmios, sr. Julien Pey-tat, e nenhuma falsificação, hem?. . .
E Julien, que o teria sacudido ou lhe bateria noutras circunstâncias, concordou sem querer com a asserção "nenhuma falsificação", coisa de que se arrependeu de imediato.
— E como vai com Olga? — perguntou rapidamente, mas lastimando-o logo, quando viu a lubricidade e a animação desaparecerem do rosto de Simon, agora vermelho cor de telha.
Vai indo — disse entre dentes. Depois, reaniman-do-se: — Não posso lhe tomar Clarisse, meu velho, infelizmente, mas o quadro, eu o pego. Isso pelo menos é coisa sólida. . . Se eu sofrer um golpe duro, e no cinema, hem, isso acontece, vai me valer para uma emergência. E as emergências às vezes custam uma nota preta. O que foi que houve, meu velho? Em que está pensando?
Gostaria de esperar pelo certificado do vendedor australiano — disse Julien, balbuciando e se detestando pela fraqueza. — Eu sei que ele é bom, mas seria preciso ver os papéis. . . Na pior das hipóteses eu os teria em Cannes ao chegarmos. Mas você terá a prioridade, eu lhe juro — concluiu, de repente apressado, empurrando Simon Béjard para a porta.
Simon protestava, falava de coquetéis, mas, lembrando-se de súbito dos amores culpados de Julien, confundiu-se em desculpas e fugiu numa falsa pressa bem mais constrangedora do que seu enraizamento. Julien apoiou-se à porta depois que ele saiu e puxou o ferrolho. Não ouvia qualquer ruído no banheiro, Clarisse nem mesmo acendera a luz ao se refugiar ali, e hesitou um pouco na porta diante da obscuridade. Só a mancha branca do corpo de Clarisse luzia fracamente e foi para ela que se dirigiu, com as mãos à frente, com um gesto de autoproteção e súplica ao mesmo tempo.
Simon Béjard, tolamente enternecido, julgava, com aqueles amantes, voltou de humor sentimental para sua cabina e ali encontrou Olga, estendida, com os olhos no teto e enrolada numa das posições graciosas de que ela gostava, com uma das mãos (um pouco fortes e um pouco vermelhas, aliás) pousada no coração e a outra pendente da cama, quase tocando o carpete. No seu impulso, Simon atravessou a cabina, inclinou-se, pegou aquela mão abandonada e beijou-a com a flexibilidade de um pajem, pensou, ao levantar-se com o rosto vermelho pelo esforço.
Vai acabar rasgando sua bermuda — disse Olga friamente —, estou avisando.
Você me fez comprar duas dúzias — respondeu Simon, amargo.
Ele, por sua vez, estendeu-se na cama com as duas mãos por trás da cabeça, bem decidido a ficar em silêncio, ele também. Mas, ao cabo de três minutos, estalou, incapaz de rancor, como era incapaz de resistir ao desejo mais tenaz que tivera nos últimos tempos, de compartilhar seus projetos com essa jovem, a quem em nada interessavam, essa jovem que ele podia dizer sua, sem rir e sem fazer rir qualquer grupo de indivíduos.
Pensei no seu papel, sabe? — disse, sabendo que pelo menos com esse assunto poderia extrair de Olga algo mais do que borborigmos e suspiros fatigados.
Ah, sim? — respondeu ela, com efeito, a voz viva e a mão bem acima do carpete, já no queixo, fixando nele os olhos com expressão ávida e interessada que, ele bem o percebia, só lhe vinha de seu rótulo de produtor, faiscando acima de sua cabeça desde Cannes e seu festival.
Teve vontade de dizer de repente "Desisto" ou "Não vai ser possível", dizer alguma coisa que arrancasse fluxos de lágrimas de desespero a essa jovem sem coração, que não se embaraçava como Clarisse Lethuillier (no entanto mais velha do que ela), essa moça que não corava, não cometia gafes, não passeava sobre os homens que não conhecia um olhar amoroso destinado a um outro, essa moça que não tinha medo nem desejo de outra coisa que não fosse o fracasso ou o sucesso da sua carreira. Uma carreira de andorinha, de pássaro sem cabeça, uma carreira de reflexos, de artimanhas e atitudes das quais a mais falsa seria finalmente a melhor, e à qual se agarraria sem saber por quê, da qual faria sua legenda e sua máxima, por trás da qual se alimentaria, enriqueceria, se desesperaria e envelheceria no desespero e na solidão, talvez na embriaguez, cada vez mais rara com o passar do tempo, de saber que era conhecida de múltiplos desconhecidos; esses desconhecidos múltiplos e abstratos aos quais ela atribuía, como muita gente de sua profissão, gostos e desgostos, fidelidades e excessos que teriam feito desse público, se essas suposições fossem verdadeiras, um monstro doente, débil de espírito e sanguinário. O público era o deus deles, dela e dos outros, um deus bárbaro que adoravam como os selvagens mais primitivos da África, um deus do qual veneravam os caprichos, detestavam as desgraças e desprezavam os indivíduos considerados individualmente, quando pediam autógrafos, do mesmo modo como diziam adorá-lo quando estava escondido no escuro, invisível e todopoderoso, decidido a aplaudi-los.
A pobre Olga jamais amaria alguém, nunca amaria os seres humanos, um homem, uma mulher ou uma criança, com o ardor, o sombrio ardor, não longe por vezes da grandeza do amor que dedicava a esse rebanho de desconhecidos. E ele, Simon, não passava de um intermediário entre ela e esse amante de mil cabeças, que seria detestado como um embaixador desastrado, se lhe trouxesse uma resposta negativa, e adorado até a afetação do amor se lhe trouxesse, pelo contrário, os "bravos!" desse mesmo amante monstruoso. Aliás, Olga teria razão em odiá-lo ou amá-lo porque seria só dele, Simon Béjard, que dependeria finalmente esse fracasso ou esse sucesso: dependeria da escolha que fizesse para ela: para ela, Olga Lamouroux, a quem ouvira dizer com a mesma convicção: "Prefiro filmar com X, que tem talento e que não vende um ingresso. . . porque isso é cinema", como também que: "Prefiro filmar com Y, que agrada ao público, porque, afinal, o público é que é verdadeiro". Olga, que acreditava com toda a segurança nessas duas teorias opostas e que de qualquer modo só sonhava com uma coisa: pôr seu nome no pequeno espaço em branco que lhe mostraria o indicador de Simon sobre o papel cheio de sinais misteriosos que se chamava "contrato" para os produtores e "vida" para atrizes da sua idade e outras. E até o fim da sua existência, quer Simon lhe tivesse dado a representar filmes de qualidade inferior mas bem-sucedidos ou obras-primas desdenhadas, ele continuaria sendo aos seus olhos, ainda assim, o homem com o indicador pousado naquele primeiro contrato importante. E aquele homem teria sido mais importante que seu primeiro amante ou seu primeiro amor.
— Então?. . . — disse Olga. — O que é que está pensando para esse papel?. . .
Havia em sua voz ligeiro laivo de incredulidade como se "pensar" fosse um verbo um pouco pretensioso em relação a Simon Béjard. Ele sentiu isso, hesitou em se mostrar ofendido, mas levantou os ombros e se pôs a rir de bom grado. Pensava em Clarisse e Julien, como os tinha deixado naquela grande cabina ventilada pelo ar do alto-mar vindo pela vigia aberta, como deixara Julien de pé, com ar incrédulo e sorridente, rejuvenescido por aquela expressão de dúvida, com o rosto voltado para o banheiro obscuro, onde o esperava aquela mulher encantadora e assustada, aquela Clarisse com a qual sem dúvida sonhara sem o saber toda a vida e da qual jamais teria a mínima cópia. Pensava no que teria atraído Julien para Clarisse, e o que os haveria reunido, no instante em que ele pensava nisso, no escuro, no medo e no vento daquele banheiro semelhante ao seu; ele os imaginava esbarrando um no outro no escuro, com o desa-jeitamento dos grandes desejos, e imaginava ao lado aquela cabina aberta ao sol, o mar azul metalizado batendo na vigia, os reflexos da madeira polida e o Marquet secando sua neve ao sol imprevisto. E a câmera já seguia Simon em seu sonho, atravessava a cabina num movimento lento e pacífico seguido de música também pacífica e lenta; a câmera parava diante do banheiro com a porta entreaberta, a câmera atravessava uma zona negra e imobilizava-se no rosto virado de Clarisse, os cabelos colados à testa, os olhos fechados e a boca entreaberta sobre palavras sem nexo. . .
— Mas em que você está pensando? — disse Olga. — Você está com um ar. . . É num papel para mim que você está pensando ou o quê?
— Não — disse Simon distraidamente —, não para você. . . — E levou vinte minutos para reparar os estragos causados por essa frasezinha. Mas isso não tinha importância. Já sabia quem não iria chamar, em todo caso, para filmar essa cena. Não seria Olga, e infelizmente também não seria Clarisse. Mas acabaria por achar uma mulher que se parecesse com essa imagem.
Pela primeira vez desde a partida de Cannes, Charley se encontrava face a face com Andreas. Tivera sua experiência em pederastia com mestres muito informados e cuja divisa única e definitiva era esse "Nunca se sabe", que já provara funcionar, como se dizia. Essa obstinação, essa fixidez do desejo, essa crença cega de que bastava um nada para que qualquer indivíduo de qualquer sexo pudesse esquecer por uma hora que a normalidade lhe interditava amar o seu, fora a Bíblia e o consolo do nosso infeliz comissário de bordo. Ali, tinha Andreas sozinho ao seu alcance, Andreas apoiado na amurada, com seus belos cabelos flutuando ao vento, o rosto repousado pela felicidade ou a segurança reencontrada de que essa felicidade era possível. E olhava-o com o desespero delicado que traz a inacessibilidade, mesmo recusada. Não era possível, pensava, detalhando tudo o que na beleza do pobre Andreas coincidia com as normas estéticas e sexuais das pessoas do seu gênero: o pescoço dourado, os olhos vulneráveis, a boca fresca, o torso delgado e forte ao mesmo tempo, as belas mãos, o aspecto tão perfeito, .cuidado e trabalhado como o tesouro que era para seu proprietário; tudo isso devia, lógica e infalivelmente, lhe trazer Andreas e levá-lo a sua cama. Um rapaz de vinte e cinco anos não tinha unhas tão bem-tratadas, nem corte de cabelos tão especial, nem isqueiro, abotoaduras, canetas tão harmoniosamente combinadas, nem o lenço de seda amarrado de lado com desenvoltura, nem a maneira severa e plácida de se olhar num espelho e de acolher como evidentes os olhares admiradores que essa beleza provocava nos homens e nas mulheres, com essa calma e essa segurança, nesse caso totalmente femininas. Charley via Andreas narcisista, Charley sabia que o narcisismo leva à homossexualidade, Charley não compreendia que Andreas estivesse aos pés da Diva, enquanto ele, Charley, estava aos de Andreas.
— É um absurdo, a gente nunca se vê — comentou sorrindo, com um sorriso forçado (porque de repente Andreas estava sozinho com ele, acessível, talvez. . . isso se tornava tão inquietante quanto delicioso. . .). — E você não vai dizer que a culpa é minha — disse, fazendo caretas sem querer, de forma demasiado caricatural, mas que provocou apenas uma expressão de surpresa no belo rosto impávido diante dele.
Por que seria culpa sua ou minha? — perguntou Andreas, rindo. — E, aliás, de que culpa se trata?
Isso eu ainda não sei — respondeu Charley, com um riso sonoro.
Porque Charley, inversamente ao seu tato e finura na vida de todos os dias, tão compreensivo e intuitivo, mesmo, como comissário de bordo e criador de diversões para os ricos entediados, tornava-se o próprio tolo, pesadão e desastrado quando se entregava à sua tendência e se afeminava para agradar. Era encantador de blazer, insuportável de cami-solão árabe. Enfim, parecia tão natural quando simulava virilidade quanto exagerado quando se entregava ao seu natural. Em suma, Charley, quando retomava seu posto de combate, o duro, incessante e doloroso combate da pederastia, parecia caçoar dela e torná-la derrisória. Essa contradição, que lhe fora pesada em muitos casos, também lhe evitara em muitos outros que lhe quebrassem a cara, pois ninguém podia acreditar que um indivíduo adulto pudesse ciciar e desmu-nhecar como ele o fazia" senão por derrisão. Andreas e ele lançaram-se, portanto, por um instante, olhares desafiadores; Charley, com o coração disparado, dizendo-se: "Desta vez ele me compreendeu", e Andreas, perguntando-se o que agitava assim aquele tipo encantador e a quem queria ele impressionar com toda aquela pantomima.
Eu não entendo — disse ele, sorrindo. — Desculpe-me, mas eu não entendo.
O que é que você não entende, meu querido? — disse Charley, batendo os cílios. — Você não pode ou não quer entender?
E aproximou-se um passo, com um sorriso forçado parado nos lábios, o coração na garganta, demonstrando aquele sorriso diante dele como uma bandeira branca que poderia levantar de repente em sinal de boa vontade, se as coisas se deteriorassem. E era um rosto de mártir que oferecia assim aos olhos de Andreas, estupefato, um rosto obsequioso, falsamente alegre, afobado, um rosto que se forçava a adiantar, tenso da testa ao maxilar, até tremer diante do golpe que talvez lhe dessem. Andreas recuou um passo e Charley, esgotado, aliviado com sua derrota provisória, quase renunciou a continuar a batalha. Foi-lhe preciso recorrer a toda a sua disciplina para recomeçar o assalto. Mas desta vez com o rosto grave e triste, de censura e de desgosto, supondo substituir o rosto alegre e cúmplice da aventura e do prazer. Curiosamente, esse rosto tranqüilizou Andreas, que, se por um lado não podia compartilhar aquela alegria incompreensível, estava pronto a compartilhar um desgosto sempre acessível.
Você sabe que me faz sofrer — gemeu ternamente Charley, vindo se apoiar perto dele e lançando sobre o mar calmo olhos agitados, percorrendo-o da esquerda para a direita como que perseguindo um tubarão estróina.
Eu?... Eu lhe dei algum desgosto? — perguntou Andreas. — Mas quando? Por quê?
Porque parece só olhar essa criatura de sonho: nossa Diva nacional. Parece esquecer todos os seus velhos amigos neste navio. . . Vejamos, não me diga — continuou, diante dos olhos arregalados do seu belo amor (que ele acabaria aliás por considerar imbecil, tanto ele tocava na mesma tecla) — que um rapaz como você não pode enfrentar vários amores. Você não tem o físico de um homem fiel, meu queridinho. . . Seria demasiado injusto para outras pessoas, que o amam tanto quanto a nossa Diva. . .
Os olhos de Andreas, aqueles olhos azul-claros e ingênuos como os de certos soldados nos medalhões da Guerra de 14, pararam um pouco acima de seu ombro, as sobrancelhas franziram-se, e Charley pensou ouvir o estalido, por trás dessas venezianas abertas, de uma máquina um pouco enferrujada de diapositivos e que apresentava a Andreas, em ordem, todos os rostos suscetíveis de amá-lo "tanto" naquele navio. Viu passar Clarisse, Edma, Olga, viu a máquina parar, depois retornar de trás para diante: Olga, Edma, Clarisse mais lentamente, relanceá-las a galope mais uma vez antes de parar simplesmente com um ruído de catástrofe e de ferragens sobre ele, Charley Bollinger, que era efetivamente quem o amava na mesma medida. O rosto de Andreas congelou-se, uma espécie de espasmo subiu de sua garganta e ele murmurou:
— Oh, não, por favor! — com voz suplicante e que teria feito Charley rir até as lágrimas, vinda desse rapagão, se já não estivesse à beira de outro tipo de lágrimas. Sentiu-o a tempo e com um rugido incompreensível virou-se e correu para sua cabina, para o único homem estável de sua existência: o capitão Ellédocq.
Andreas o viu partir com uma expressão desolada e culpada, e depois, como se acordasse, correu a dizer tudo à sua amante.
O Narcissus, segundo seu programa, devia ir até Alicante antes de atingir Palma. Alicante, onde beberiam xerez escutando De Falia tocado por Kreuze e a grande ária da Carmen cantada pela Doriacci, se ela desistisse do Au clair de la lune, naturalmente. Esses climas espanhóis deixavam prever alguns paroxismos passionais. Mas o siroco levantou-se de súbito, soberano dos corações e sobretudo dos corpos, e prendeu na cama quase todos os heróis do cruzeiro. Agarrados aos lençóis e às náuseas, todos renegaram seus sentimentos ou só os sentiram reduzidamente. Os elementos triunfaram sobre a maioria dos passageiros de luxo, com exceção de Armand Bautet-Lebrêche, que passou o dia, justificando sua fortuna, passeando com andar distraído pelos corredores inclinados do Narcissus. Detestava contudo a solidão, no sentido físico do termo, já que estava desde a infância votado e resignado à solidão moral.
O Narcissus refugiou-se, portanto, no fim do dia, atrás da ilha de Ibiza, queimando numa noite interminável e enfadonha uma de suas escalas favoritas.
Em Palma, tão logo o Narcissus atracara, já os passageiros desciam precipitadamente. Todos se extasiavam ante o bom ar dessa ilha ardente, como se o Narcissus fosse um cargueiro chumbado ou como se desde Cannes tivessem jogado os passageiros de luxo no fundo dos porões. Para falar a verdade, um brisa marinha varria cada recanto do Narcissus, mas alguma coisa se deteriorara definitivamente na atmosfera. Uma espécie de estagnação ameaçadora parecia pesar sobre o convés e, pondo à parte a Doriacci e Kreuze, que tinha conservado seu bom apetite, as bandejas do café da manhã tinham voltado intactas para as cozinhas. De certo modo, o jogo estava feito. . . Todos sentiam isso, estivessem ou não diretamente implicados, e tal sensação dava um tom sinistro a cada frase. Até Edma Bautet-Lebrêche, experiente, contudo, nessas situações, habituada a transformar acontecimentos notáveis em circunstâncias fúteis, mesmo a bela Edma tinha dificuldade em manobrar seu pequeno mundo; os jogadores tinham ficado demasiado nervosos, todos: até Julien Peyrat, que mostrava um rosto tenso, de sobrolho franzido, longe da sua displicência habitual. A única a aproveitar-se aparentemente dessa tensão geral foi, por uma estranheza da sorte, Clarisse Lethuillier. Recomeçara a se maquilar, mas agora com habilidade: faces afundadas, olhos mais claros e olhar mais nítido; sua beleza se afirmava, deslumbrante. Todos a olhavam, do capitão Ellédocq ao foguista. Olhavam-na passar, no braço invisível de seu louco amor. A felicidade sobrepujara tão facilmente sua perplexidade, que enternecia por momentos até a própria Olga. Enfim, só bebia demais à noite, encomendando ela própria suas doses.
Em Palma todos os jornais franceses chegados na véspera foram recolhidos pelos cuidados de Olga, nas barbas de Eric Lethuillier, que descera, porém, quase de braço com ela, numa indiferença geral; o folhetim sentimental do navio havia sido visivelmente garantido por Julien e Clarisse, cujo idílio passara à frente, de um só golpe, do romance de Olga e da Doriacci. Esse fato irritava Olga: embora felicitando-se pela afronta feita a Eric, gostaria, ainda assim, que os comentários e os sussurros lhe fossem reservados e não à pobre Clarisse. Continuava a chamá-la de pobre Clarisse para poder continuar a lamentá-la, evitando assim invejá-la. Porque, por uma reviravolta total, era agora inveja que Clarisse suscitava, e, por conseguinte, também Julien.
Olga foi a primeira a subir a bordo com os jornais apertados sob o braço, com cuidados excessivos, poder-se-ia dizer. Eric Lethuillier a seguia de perto, mostrando-se contente consigo mesmo, e, um pouco mais tarde, Julien, que passara a tarde a telefonar. Enfim, às oito da noite, todo mundo estava reunido no bar do convés e todo mundo sorria como se esse passeio em terra tivesse clareado os humores. Só Andreas tinha um aspecto triste, mas era porque a Diva ainda não chegara, estivera fora toda a tarde e ainda não voltara, duas horas antes de seu concerto. Era isso o que o capitão Ellé-docq observava, esvaziando com grande ruído chope após chope, sob o olhar reprovador do barman, habituado a servi-los na cabina do capitão, onde todos esses ruídos de aspiração perturbavam menos a atmosfera.
A seu favor, convém dizer que o capitão Ellédocq ficara excessivamente impressionado com a briga da véspera. Contrariamente ao que se poderia acreditar, tendo em vista sua corpulência e gabarito, tendo em vista também seu ar ditatorial, o capitão Ellédocq não era um homem belicoso. Não era um desses marinheiros sólidos de punhos rápidos que, nos romances de Jack London, abatem-se como carvalhos uns sobre os outros depois de cem uppercuts e vinte garrafas; pelo contrário! O capitão Ellédocq só tomara parte em duas rixas em sua longa, se não movimentada, carreira, e ainda assim a contragosto, quando, tratado de bobalhão, saco de pancadas, cornudo e covarde, teve que protestar e avançar para cima de quem o insultara para não envergonhar sua tripulação. Aliás, das duas vezes, fora literalmente posto em pedaços por homens menores: um cabo irlandês e um cozinheiro chinês. Os quais, em dois tempos e três movimentos, tinham mandado Ellédocq, com seu boné e sua autoridade, por cima do piano e dos tamboretes desses locais de pecado. A rapidez, portanto, e a violência da briga de Julien e Eric encheram-no de uma admiração sem limites tanto por um como por outro desses dois passageiros, aos quais até então reservara um sólido desprezo, tinto de indulgência em relação a Julien (treinador de cães e de mundanos), mas não em relação a Eric (pasquineiro para comunistas). Entretanto, tal admiração era acompanhada de terror, pelas conseqüências desse grave incidente. A estada de um na enfermaria e os boatos que corriam das boas graças do outro redobraram seu pânico. Já se via recebendo no convés manchado de sangue os quatro irmãos Pottin e o comissário de polícia de Cannes, ou até mesmo o ministro do Interior, a quem confessava chorando não ter feito reinar a ordem a bordo, conforme sua obrigação. O capitão passeara portanto um rosto preocupado toda a manhã e toda a tarde, o que fez com que Charley, notando-o, fosse um bom conselheiro, ao menos uma vez. Era preciso que o próprio Ellédocq, com um ramo de oliveira entre os dentes, como pomba, fosse ver os combatentes para lhes arrancar uma promessa de paz. O capitão começara por Julien Peyrat, cujo Marquet, de que todo mundo falava a bordo, dava pretexto à visita.
Belo trabalho. Bonito — resmungou Ellédocq à guisa de comentário, quando se encontrou na cabina de Julien, diante daquela paisagem de neve.
O senhor aprecia? — perguntou Julien Peyrat com um olhar oblíquo, mas sorrindo amavelmente.
E Ellédocq tornara a resmungar:
Belo trabalho, belo trabalho — desta vez com espontaneidade. Hesitava em entrar no assunto. Uma espécie de pudor viril impedia-o de solicitar a esse adulto, esse homem que tinha no máximo quinze anos menos do que ele, a promessa de não bater num tipo da mesma idade (como se fossem dois garotos da mesma escola, e Ellédocq, o inspetor principal). Ellédocq assoou-se então cuidadosamente, e tendo inspecionado o lenço, dobrou-o e tornou a pô-lo no bolso, para grande alívio de Julien.
O senhor e o camarada do Fórum — começou —, foi um caso sério. Bing, bang — acrescentou, batendo o punho na mão com vigor para ilustrar e esclarecer suas afirmações.
Foi — disse Julien, intrigado —, de fato. Lamento muito, comandante.
— Vai recomeçar logo? — inquiriu Ellédocq em tom arrogante.
Julien pôs-se a rir.
— Não fiz planos de antemão. Nada lhe posso garantir. Gostou tanto assim? Nada mal uma briga de fato, hem? — recomeçou com ar contente consigo mesmo, de súbito, e olhos brilhantes.
E Ellédocq se perguntava se não teria feito melhor evitando esse assunto, visivelmente objeto de delícias para Julien.
Brigas proibidas neste navio — recomeçou com severidade. — O senhor e os outros presos da próxima vez.
Preso! — Julien estourou numa gargalhada. — Preso? A esse preço? Comandante, o senhor não vai prender pessoas que pagaram nove milhões por um cruzeiro de oito dias ao ar livre. Ou então ponha também Hans Helmut Kreuze e seu piano! Nosso bom Hans Helmut com as suas partituras, se não quiser que nós peçamos reembolso. Seria agradável, aliás, a música, acorrentados, etc.
O capitão teve que se retirar sem obter segurança da parte desse doidivanas, mas teve muito mais sucesso junto ao outro chato, que ficou plenamente de acordo, para grande surpresa de Ellédocq. Eric Lethuillier mostrou-se mais do que pronto a fazer as pazes, pronto a selar a promessa com um aperto de mãos de homem a homem com seu antigo contendor. Sem se demorar sobre a expressão de espanto, até de temor, apresentada pela ex-mulher-palhaço testemunha da entrevista, Ellédocq trouxe portanto esse oferecimento ao primeiro dos combatentes que, surpreso ele também, ao que pareceu, só teve que segui-lo até a cabina de paz, e tudo se decidiu. Ellédocq deixou-os então, encantado consigo mesmo. E ficou muito espantado, ao terminar o relato das negociações a Charley e Edma Bautet-Lebrêche, em plena tagarelice, por não receber a curiosidade nem o entusiasmo que merecia. Na verdade, essa paz deixava um rastro de muitas suspeitas e muitos temores.
Junto com as frutas frescas, alimentos frescos, flores para os vasos e o correio, a peste introduzira-se no Narcissus sob a forma de jornais. De um jornal, sobretudo. O mesmo que Olga escondia na bolsa e que, na sede dos Cruzeiros Pottin, alguém achara engraçado juntar aos jornais do dia. Foi a Armand, a quem naturalmente isso menos interessava, que tocou esse jornal, conservado por muito tempo entre seus jornais financeiros. Não compreendeu aliás, nem mesmo mais tarde, a insistência da tal Olguinha em segui-lo por toda parte, fazendo gaiatices, pedindo-lhe conselhos sobre a Bolsa. Finalmente, abriu o jornal. Lançou muitos "Ah, oh", vendo a foto fatal, e, depois de ter lançado por cima dos óculos olhares furtivos à jovem, desapertando com o indicador a gravata quadriculada, disse:
A senhora está muito bem nessa foto, a senhora é muito fotogénica, realmente.
Sou — disse Olga, levantando os ombros. — O sr. Lethuillier também não está nada mal — acrescentou, com o mesmo tom distraído, antes de dizer: — O senhor permite? — e afinal pegar o jornal e fugir com ele.
Entrou na cabina, passou o ferolho e sentou-se na cama, ofegante. Parecia ter uma bomba nas mãos. Hesitava, ainda dividida entre o temor do que poderia fazer o belo patife, uma vez ciente, e a irresistível vontade de ver seu rosto diante do artigo, da foto, como diante do texto, cuja legenda repetia-se, gravada em sua memória desde a primeira leitura. Não podendo se decidir, foi pedir conselho, mas já era uma decisão que tomava, porque, em vez de ir consultar Edma, que, com seus reflexos de mulher do mundo hostil a todo escândalo, aconselhar-lhe-ia silêncio, como da primeira vez, ela foi procurar a Doriacci, cujo comportamento durante todo o cruzeiro indicava, sem dúvida alguma, uma ligeira paixão pelo estardalhaço. Mas para seu grande desapontamento, essa briga aparentemente não fazia vibrar o instinto guerreiro da Diva. Suas pupilas inflamaram-se de início, como faróis, mas logo depois se retraíram, parecendo querer se manter assim.
— Não convém fazer isso — disse, balançando o jornal dobrado e agitando-o um pouco como uma matraca, pensou Olga, impressionada. — Não convém porque já está tão difícil, tudo isso. . . Ela tem medo, é ruim, o outro. Não convém exasperá-lo, compreende? — disse a Doriacci, cujo rosto mudou por um instante e transformou-se no de uma mulher italiana comum, séria e compassiva. — Você sabe, eles se gostam realmente.
— Quem, eles? — perguntou Olga com irritação, retomando o jornal. — Ah, sim, Julien e Clarisse... Eu sei, sim, eu sei — acrescentou com um sorrisinho irônico que imediatamente desencadeou a raiva da Diva.
Você sabe!... O que é que sabe? Como é que sabe? Não pode saber. A rigor, você pode representar amor, e só isso. E ainda o que lhe digo é a extremo rigor. . . Desconhece tudo da gratuidade, minha pobre menina, e dos grandes sentimentos. Já se acredita uma vedete e pensará toda a sua vida que isso significa alguma coisa, é só isso. E eu fico com esse jornal — gritou, arrancando grosseiramente o pasquim das mãos de Olga, que ficou de boca aberta, indignada.
Mas. . . mas... — balbuciou ela, ficando vermelha — mas. . .
Mas nada! — disse a Doriacci, empurrando-a porta afora e batendo com as mãos uma na outra no estilo "uma boa coisa feita".
Ficaria menos entusiasmada se soubesse que Olga tinha outros quinze exemplares no quarto.
— Vejamos, minha jovem, você não vai esconder de mim aquilo que eu sei, não é mesmo? E então?
Edma assumira um ar doce e importuno para se dirigir a Olga, o ar de um professor que admite que um aluno chegue durante a aula, mas não que ele não saiba a data da Batalha de Marignan. Ela olhava fixamente aquela estrelinha ambiciosa com um sorriso conhecedor, muito conhecedor, suficientemente conhecedor para que a resistência de Olga enfraquecesse e ela cedesse. A questão era: por que não havia mais um só jornal francês em Palma e por que a própria Olga trouxera uma montanha deles para o barco, que ela dissimulara Deus sabia onde?
Você adivinhou? — começou Olga fracamente, num último esforço para escapar à "Agatha Christie-Bautet-Lebrêche".
Oh! Mas na verdade eu não "adivinhei" nada. Não Eu compreendi, não é a mesma coisa. Eu não presenciei os fatos mas a causa dos fatos: um sorriso falso, uma atenção a menos, uma grosseria a mais, e subitamente uma mulher não suporta mais um homem. . .
Era de Clarisse que Edma falava, mas suas palavras aplicavam-se perfeitamente a Olga, e esta, não pensando jamais que se falasse de alguém que não fosse ela própria, tomou isso para si e ficou maravilhada com a lucidez de Edma Bautet-Lebrêche. "Esse coração seco no fundo não era tão seco, já que a hipersensibilidade, o hiperesnobismo de Edma Bautet-Lebrêche a tornavam quase humana, quase faziam dela uma verdadeira mulher por momentos", concluiu Olga para si mesma. Proust teria ficado enregelado naquele navio (se é que ela lera as duas páginas da Anthologie des grands êcrivains français, usadas nas aulas do último ano do secundário, a antologia que prestara muitos serviços à intelectual sobrecarregada pela vida que era Olga a seus próprios olhos).
A amizade de Edma pareceu de súbito primordial para Olga Lamouroux, o-u-x e não e-u-x (essa grosseria deliberada havia se tornado um engano divertido). Olga viu-se adotada por aquele casal riquíssimo e mundano. Via-se festejada, na Avenue Foch, por sexagenários riquíssimos e austeros, deslumbrados pela sua juventude e audácia, sua "classe" também, sua maneira de restituir cartas de nobreza ao cinema francês (ao ambiente do cinema). Esses industriais todo-poderosos que se lembrariam, graças a Olga, de que Luís XIV recebia Racine à mesa, e a Champmeslé. . . (Seria mesmo a Champmeslé?. . . a verificar), e que esqueceriam, graças a Olga, os seios e nádegas dos infelizes chouriços transformados em estrelas na última década. Enquanto esperava chegar à Avenue Foch e confiar seu vison esporte ao velho maître d'hôtel, que já a adorava e com quem ela falaria gentilmente de seus reumatismos, Olga, ainda no Narcissus, mostrou à sua grande amiga, sua segunda mãe, o envelope escondido na bolsa, sentou-se a seu lado num canto vagamente iluminado e inclinou-se com ela sobre o semanário de seu amiguinho: a foto era nítida. Via-se Eric Lethuillier, com ar arrebatado pela paixão, apertando contra si uma Olga Lamouroux espantada e um pouco temerosa. Naturalmente, fora com a autoridade de um homem que vê uma mulher prestes a cair que Eric naquele dia segurara Olga pela cintura e, sem dúvida, fora também o medo de cair que provocara aquele ar contrariado em Olga. "Mas a foto não sugeria uma queda acidental e física", como observou Edma entre dentes, com um assobio apreciador mas assustado. Virou-se para Olga com as sobrancelhas franzidas:
Pois é, minha Olguinha. . . Compreendo seu medo. Esse Lethuillier vai ficar num estado!. . .
Não se preocupe comigo — disse a corajosa Olga, sempre no seu papel de filha adotiva. — Ele só verá isso em Cannes, e estarei longe.
Mas não estou preocupada com você! — retorquiu Edma, que achou essa idéia absurda. — Seria mais por Clarisse que eu me inquietaria. Esse tipo de homem faz sempre outra pessoa pagar por seus aborrecimentos, mesmo que venham de outro lado. . . Meu Deus, que foto!. . .
E a senhora leu o texto? — disse Olga, suspirando de prazer.
Edma tornou a se inclinar sobre o jornal:
"Não é o belo Eric Lethuillier, diretor do austero Fórum, que se vê aqui tentando esquecer a política e suas preocupações humanitárias? Compreende-se, vendo que a nova bandeira que abraça é a starlet número 1, a bela Olga La-mouroux, que parece menos à vontade, talvez pensando no produtor Simon Béjard (ausente na foto), cujo filme Feu et jumée triunfa ainda em Paris. Enfim! Talvez a descoberta dos encantos do capitalismo, o que no entanto já deveria ter feito com sua mulher Clarisse Lethuillier, nascida Baron das Aciarias (ausente em nossa foto), torne o sr. Lethuillier mais indulgente com o luxo dos burgueses".
_ Essa é boa! — disse Edma, rindo nervosamente. — Está começando bem. . .
E a senhora não acabou. . . — (Olga ria, mas com pouca segurança). — Olhe: "Será para denunciar seus companheiros de cruzeiro ou para compreendê-los que Eric Lethuillier, o Amigo do Povo, passa suas férias a bordo do Narcissus, cujo cruzeiro musical custou a bela quantia de noventa mil francos? Nossos leitores julgarão".
Mas isso é inaudito! — exclamou Edma. — Meu Deus... — disse, retomando o jornal das mãos de Olga. — Que dizem eles? Noventa mil francos? Mas é uma loucura! Minha secretária vai ter que se haver comigo.
— A senhora não sabia?
Olga estava sendo esnobada de fato. Ignorava que achar tudo muito caro também fazia parte do esnobismo dos ricos. Alguns chegavam a viajar na segunda classe, o que lhes dava a vantagem de economizar, coisa muito apreciada pelas maiores fortunas, e fingir assim "manter contato" com o bom povo francês.
O que pensa que Eric vai fazer? — perguntou Olga, trotando com seus escarpins no convés escuro, no encalço de Edma, cuja indignação acelerava-lhe o passo.
Não sei, mas isso vai provocar muito barulho! Diga-me, ele está muito apaixonado por você?. . . Certamente não — continuou Edma, depois do silêncio de Olga. — Ele só está apaixonado por si mesmo. E você, minha Olguinha? É aborrecido para você tudo isso, todas essas fofocas?
Em relação a Simon, sim — respondeu Olga com voz compenetrada (uma voz que de um só golpe despertou a antipatia de Edma por ela).
Ah, não! Não me diga que se preocupa um pouco que seja com o pobre Simon Béjard! Teríamos percebido!. . .
Pobre Simon. . . Sabe que ele é muito, muito simpático? É vivo, tem sensibilidade, é espantoso. . . muito espantoso. . . — retomou com ar pensativo, como uma etnóloga diante de uma variedade animal inclassificável.
"Simon é um amor, coitado, mas. . . ", ia começar Olga, mas reprimiu as palavras "um amor" antes de pronunciá-las.
Simon é um animal engraçado — concluiu.
O que é que você quer dizer, minha Olguinha, hem?. . . Sentemo-nos aqui um instante — disse Edma engolfando-se no vestiário das senhoras e sentando-se como que exausta num tamborete diante do espelho.
Quero dizer que é ótimo como amigo, mas difícil, porém, como amiguinho — disse Olga com um riso confuso, que ela própria achou delicioso, mas que fez ranger os dentes da equitativa Edma. — Simon tinha tanto medo que eu não o amasse por ele mesmo que praticamente me escondeu que era produtor! A senhora sabe?. . . Foi só em Cannes que eu soube ao mesmo tempo que era produtor e ganhara o grande prêmio. Há um ano era praticamente desconhecido; e devo dizer que éramos muitos a apostar no sucesso de Simon Béjard no cinema — continuou Olga com um risinho de orgulho, que acentuava seu desinteresse e seu faro.
A infeliz ignorava que Simon já contara a Edma como, na noite da premiação, quatro starlets tinham se jogado ao pescoço dele; e que entre as quatro estava Olga Lamouroux, o-u-x, em pessoa. Edma Bautet-Lebrêche dirigiu mentalmente um "bravo. . . mil bravos" sarcástico para Olga.
— Só agora é que ele se sente seguro de mim — continuava Olga, mergulhada em seus sonhos idílicos —, seguro de mim, de minha fidelidade. . . num certo plano. . . Porque, atenção, hem. . . — recomeçou vivamente (enquanto Edma, voltando a um estado animal à força de tanta raiva concentrada, gesticulava com a cabeça e mordia um freio inexistente) — atenção: eu falo da verdadeira fidelidade, da que dura. . . não da que está à mercê de um cinco às sete ou de um desses impulsos instintivos, uma dessas explosões de uma noite, que temos de vez em quando, nós, os jovens. . . nós, as mulheres! — corrigiu a tempo.
Pelo menos assim acreditou, mas fora muito clara: Edma tinha ouvido e compreendido, e inclinava a cabeça cada vez mais para a escova de cabelos que, no entanto, ela quase não movimentava.
Foi a primeira coisa que a Doriacci observou ao entrar no oásis do vestiário. Estava com um ar sombrio, furioso, mas ainda assim observador, pois parou diante de Edma, observando-a de início com perplexidade, depois com uma alegria no olhar e um riso baixo e tonitruante, completamente irresistível.
Mas que é que você tem? — disse Edma Bautet-Lebrêche (vagamente ofendida por ter provocado aquele riso, mas pronta a compartilhá-lo), com a cabeça parada de repente no seu moto perpétuo.
É por causa disso — explicou a Doriacci, imitando-a no espelho —, você mexe com a cabeça, mas não com a escova, como fazem os belgas com uma caixa de fósforos, sabe? Para saber se ainda há algum, eles sacodem a cabeça, mas não a caixa — repetiu de um só golpe, antes de recair nos seus cascateantes e incoercíveis ah-ah-ah, tão arrebatadores para Edma quanto irritantes para Olga, a quem esse riso lembrava sempre o incidente do "bezerro de vinte e oito anos".
Nós nos inquietávamos — disse desafiante a Doriacci, que se sentara e passava pó no rosto com uma imensa esponja rosa-viva.
"Curioso como todos esses acessórios são desmesurados", pensou Edma brevemente. Ser-lhe-ia preciso uma teoria bem estranha ou bem freudiana para comentar essa desproporção em Paris. Olga, inquieta, insistia:
Mas o que se pode fazer em Palma toda uma tarde?
É muito bonito — disse a Doriacci, cujos olhos riam. — Podem-se ver recantos encantadores ou velhos amigos, conforme a disposição. Nada aconteceu no navio fantasma na minha ausência?
Andreas quase furou o chão do convés de tanto andar, mas foi tudo o que aconteceu, acho — disse Edma.
Vejam só, nós aqui, as três A: Doria, Edma, Olga. . . É engraçado — disse Olga Lamouroux, com voz aflautada —, nossos nomes têm a mesma terminação — repetiu, diante do ar atônito das outras duas.
Contanto que não tenhamos a mesma família, não é grave — disse Edma Bautet-Lebrêche com energia. E levantándole, muito mal maquilada, aliás, acrescentou: — Minha Olguinha, seja gentil, guarde aquele papel para você, está bem? Nós tornaremos a falar sobre o assunto. . . ao mesmo tempo que sobre seus problemas psicológicos — acrescentou com voz agastada.
Tendo ficado sós, a Diva e Olga Lamouroux não se olharam de início, e foi com desconfiança e sem querer que seus olhos se cruzaram no espelho central: a Doriacci com seu olhar de autógrafo, Olga com seu sorriso ofendido.
Como vai o sr. Lethuillier? — perguntou a Doriacci com voz amável, depredadora, recurvando os cílios com uma escova inundada de rímel, tudo com uma grande expressão de frieza.
É melhor perguntar isso a Clarisse Lethuillier — retorquiu Olga com olhar distante, e que de bom grado fugiria dali se a idéia do olhar crítico da Doriacci às suas costas não lhe tivesse inspirado uma espécie de horror (e no entanto qual das duas deveria ter a tortura do remorso?), um tal horror que se decidiu a retocar as unhas dos pés com o frasco de esmalte que, felizmente, nunca a abandonava. A Doriacci fechou sua cesta gigantesca:
Se eu perguntasse alguma coisa à bela Clarisse, seriam notícias do belo Julien. Você está muito mal informada, minha filha: neste navio os casais nem sempre são os legais. . .
A ironia era por demais evidente, e Olga, pálida de raiva, deixou cair algumas gotas escarlates em seus jeans novos. Procurava desesperadamente uma resposta adequada, mas seu cérebro afobado parecia vazio, apesar de seus apelos.
— Você deveria tingir os cabelos — terminou a Doriacci, enquanto se dirigia para a porta com seu passo soberano: — Ficaria mais interessante com o ruivo-veneziano. . . Fica um pouco pobre, esse louro falso!
E desapareceu, deixando a moça à beira das lágrimas. Olga subiu para apanhar ar de novo. Espumava de raiva e só se reconfortou com a visão de Andreas no convés, vencido pelo desgosto. Depois de algumas hesitações, Olga acabou por avistar Julien Peyrat.
— Você está fazendo o footing com este tempo? Que boa idéia. . .
Julien andava no passo de Andreas, a quem alcançara, e inqueitava-se de fato com a palidez do rosto que o rapaz escondia e que ele, inclinando-se, vira rejuvenescido mas desfeito pela tristeza, o rosto de um homem muito jovem disposto a tudo. Como um soberbo rapaz como ele podia ficar nesse estado por causa de uma mulher de sessenta anos, da qual ele era o centésimo amante e não seria o último? Era o mundo pelo avesso, ainda assim. . . E apesar da afeição instintiva que sentia pela Doriacci, Julien estava furioso com ela. O garoto não tinha a frieza calculada de um gigolô, ela não devia fazê-lo pagar tão cruelmente, e a justificação que Clarisse encontrava para isso, vinda dela, inquietava-o como uma traição.
Você não se dá conta — disse Clarisse — de que se para ela, com seus sessenta anos, decidir-se a amar alguém da sua idade já seria de enlouquecer, então deixar-se enternecer por alguém como Andreas é o fim de sua vida, que poderia ser horrorosa. E se o amasse, o que aconteceria num ano, ou em cinco? Pode me dizer?
Ora, mais tarde, mais tarde... — respondeu Julien, que louvava instintivamente o provisório.
Nada tinha podido dizer a Clarisse sobre si próprio, mas não era tanto o medo de perder Clarisse o que o impedia de falar, era sobretudo o medo de ela ficar magoada e decepcionada, mais uma vez, em sua confiança nos homens. Era o que o irritava um pouco e o seduzia mais na relação com Clarisse: descobrir que estava mais ansioso por causa dela do que por si mesmo. Era essa escolha que durante muito tempo acreditara reservada aos masoquistas e às pessoas muito sentimentais, com prazer pela desgraça, absorven-do-se no seu desgosto, e que detestara instintivamente pelo que acreditara ser sua falta de naturalidade. Que se desejasse o bem de alguém que se ama parecia-lhe normal, mas que se preferisse o bem desse alguém ao próprio bem parecia-lhe literatura cor-de-rosa, quase doentia. E no entanto o que mais o horrorizava era imaginar a sua terna e bela Clarisse sendo levada de carro por Eric logo à descida do navio, uma Clarisse definitivamente resignada à solidão e detestando-o, a ele, Julien, por tê-la feito acreditar que tal solidão podia ser interrompida. Imaginava Clarisse numa casa moderna, apoiando a testa nos vidros molhados de chuva e tédio, enquanto por trás dela, num cenário bege, luxuoso e desolado, Eric Lethuillier e seus colaboradores riam depreciativamente, esperando que ela se pusesse a beber. E que bebesse demais. Diante dessa imagem ingênua, mas à qual o lado luxuoso e gelado escondia um pouco a ingenuidade, Julien torcia-se por vezes de desgosto na cama. Havia nos beijos furtivos que dava em Clarisse, ao acaso do dia, uma compaixão e uma cólera terna que a encantavam. Ela olhava os lábios grandes e cheios do amante com ternura e gratidão, quando não estava preocupada em se controlar, quase independentes de seu amor por ele, e aquela boca quente e fresca parecia-lhe de uma doçura e de um fôlego inesgotáveis, a única coisa capaz de lhe restituir os milhares de beijos de que fora privada, roubada em todos esses últimos anos. Amava o corpo magro e musculoso de Julien, um corpo nítido, infantil, com uma pele doce e viril, coberta por uma penugem dura, mais clara do que seus cabelos. Gostava da maneira infantil de Julien, da maneira como seus olhos se iluminavam quando se falava de jogo, de cavalos ou de pintura diante dele. Enternecia-se com essa criança, sonhava nesses momentos poder, muito em breve, oferecer-lhe esses cavalos ou essas telas, brinquedos, em suma. E amava o homem quando a olhava e seus olhos tornavam-se profundos e baços, infelizes, à força da contenção dos gestos, quando via seus maxilares fechados sobre palavras de amor, aquelas palavras tranquilizadoras; amava sua voz baixa usurpada, ela também, como lhe parecia. Aquela voz de Julien, viril e decidida, que dissimulava aos olhos dos outros o Julien tão sensível e tão alegre; gostava que se acreditasse forte para protegê-la e que fosse capaz de fazê-lo, se necessário. Gostava que ele quisesse decidir tudo, compartilhar tudo com ela, exceto aquela decisão da qual devia ser o único responsável, tanto para tomá-la como para mantê-la; gostava que a mantivesse na ignorância de todos os seus temores de homem livre, sua reticência a se comprometer por muito tempo; gostava que nunca lhe tivesse perguntado se eles tinham ou não razão, ou se era preciso refletir, se ela própria estava bem segura de sua escolha, ou se queria que lhe deixasse algum tempo para se decidir. Em suma, Julien nunca a deixara pensar que cabia a ela escolher, mesmo que pensasse, e recusando-lhe essa escolha evitava-lhe aquele esforço suplementar e cruel, evitava-lhe aquele papel responsável de que tinha medo, assumindo-o sozinho, embora nunca tivesse o gosto e o hábito desse papel. Mas, quanto ao resto, já compartilhava tudo com ela; e Clarisse lhe devia dizer de véspera como se vestir no dia seguinte, que camisa, que gravata e que suéter combinavam bem, e que ele devia tomar chá antes do primeiro cigarro matinal. Entrara mais na sua vida numa semana do que na de Eric em dez anos, e já sabia que era indispensável e, oh, maravilha, essa idéia a reanimava mais do que a horrorizava.
Chegando ao convés, Clarisse viu no mesmo momento Julien e Andreas vindo na direção dela, e Julien levantou os olhos e sorriu-lhe, apressando-se ao percebê-la. Também apertou o passo para se ver refletida como a imagem da felicidade naqueles olhos marrom-claros.
— Andreas está infeliz — disse Julien, empurrando o rapaz para Clarisse, e olhando-a com expressão confiante, como se ela tivesse algum poder sobre aquele caso.
Julien visivelmente acreditava que ela fosse todo-pode-rosa, responsável pela felicidade de todos, como pela dele, e começava a lhe trazer os cães perdidos ou feridos com a animação de um bom cão de caça. Contemplava-o sorridente, consciente de que Julien, toda a vida, se ela viesse a compartilhá-la, lhe traria de suas voltas por Longchamp, pelos cassinos ou outra parte (de seus campos de jogos exclusivos), uma série de miseráveis, neuróticos ou pilantras, que depositaria triunfantemente diante dela para que cuidasse de suas mágoas ou elucidasse seus problemas. Andreas era apenas o primeiro de uma longa linhagem, e, resignada, ela pegou-o pelo braço e partiu com ele para dar a volta ao convés, enquanto Julien, preguiçoso e contente consigo mesmo, apoiava-se na amurada e olhava-os se afastarem com o ar satisfeito do dever cumprido.
"O que poderia contrapor ao desgosto desse rapazinho adulto demais e belo demais?"
Julien me disse que eu devia me comportar como homem — respondia-lhe Andreas, sem que ela tivesse formulado a pergunta. — Mas eu não sei o que isso quer dizer, afinal, "conduzir-se como homem".
Julien também não — respondeu Clarisse com um sorriso —, e, aliás, eu também não! Era uma frase. . . Basta-lhe, sobretudo, que você se conduza como um homem para agradar à Doriacci, é só isso, não?
Exatamente — disse Andreas (essa precisão parecia-lhe indispensável, a ele também). — Como é que você quer que eu saiba que tipo de homem é esse? Aonde foi ela hoje?... — disse de súbito em voz baixa, como que envergonhado de sua posição. — Parece que tem um amante em cada porto!
Ou um amigo — disse Clarisse mansamente.
Nem pensei nisso. . . — balbuciou Andreas, como que atingido por um raio a essa simples idéia.
— Naturalmente, os homens nunca acreditam que a mulher que eles desejam não seja desejada por todo mundo. Não acreditam que nós possamos provocar interesse, afeição em vez de concupiscência!. . . É quase ofensivo para nós, não acha?
Espantava-se, maravilhava-se, ouvindo-se discorrer, escutando-se a reconfortar alguém, ela, que era a própria angústia encarnada, três dias antes. . .
— Mas por que me faz sofrer, se eu a amo?
E Clarisse pensava que era preciso ser muito bonito ou bem inocente para não ficar ridículo com esse gênero de frases.
Porque se a Doria o ama, vai sofrer muito — respondeu. — Daqui a algum tempo, em todo caso. De fato, é por estima que está sendo cruel com você. É porque poderia amá-lo, e isso lhe mete medo, e com razão.
Medo de quê? Eu a seguirei por toda parte, toda a minha vida! — gritava Andreas, interrompendo-a de repente. — Não é exclusivamente físico o que sinto por ela, você sabe? — sussurrava. — Gosto do caráter dela, da coragem, do senso de humor, do cinismo. . . Mesmo que não queira mais dormir comigo, eu esperarei que essa vontade lhe volte. Afinal de contas — disse com uma sinceridade desarmante —, a cama não é o principal, não é mesmo?
Certamente que não — respondeu ela com convicção, mas ainda assim desconcertada. (Porque, desde Cannes, e apesar das intuições de Julien, considerara Andreas um gigolô profissional e frio.)
Uma vez mais era no seu otimismo que Julien tinha razão. "Ainda assim", pensou, com um riso nervoso, "eis-me consolando um homem de vinte e cinco anos pela suposta infidelidade de uma mulher de sessenta. . . Decididamente tudo é possível em qualquer idade." E isso a reconfortava, nos seus trinta anos, essa idade "ingrata", pois situava-se após os encantos da juventude e antes da maturidade, comentara Julien. "É João que resmunga e João que ri", pensou ela por um instante. . .
— Se a Doriacci partir sem mim para Nova York — continuava o apaixonado no seu solilóquio —, eu me matarei — disse uma voz tão desprovida de inflexão que, de repente, Clarisse inquietou-se. — Ficarei sozinho demais desta vez, a senhora me compreende? — terminou, com um ar amável.
— Mas por que só? Deve ter um amigo ou família em alguma parte, não?
E sua própria voz mostrava inquietação. Uma Clarisse apaixonada, uma Clarisse sensível aos outros inquietava-se por causa desse homem triste. Ele recomeçou, sem levantar os olhos, num tom de desculpa:
Minha última tia morreu no ano passado, não tenho mais ninguém, em Nevers ou em qualquer outro lugar. E se a Diva não me levar, nem mesmo poderei segui-la; o cruzeiro custou-me tudo o que tinha, e mesmo vendendo minhas roupas e raquetes de tênis, não poderei ir a Nova York. . . — repetiu, com voz desesperada.
Escute, se ela não o levar para Nova York, eu lhe pagarei a viagem. Tome este cheque agora mesmo. E, se você não se servir dele, poderá rasgá-lo.
Sentara-se a uma mesa e procurava na bolsa o talão de cheques, roto mas intacto depois de seis meses! Isso significava que não tinha tido vontade de nada durante aqueles seis meses e ninguém também recorrera a ela! E Clarisse perguntava-se qual das duas hipóteses era a mais vergonhosa e mais triste.
Mas não posso — disse Andreas muito pálido, com ar revoltado. — Não posso aceitar dinheiro de uma mulher com quem. . . que eu não conheço.
Pois bem, isso provocará uma mudança nas suas regras — disse Clarisse, tirando uma caneta da bolsa e começando a preencher o cheque. "Mas de quanto?..." Já não sabia o preço de nada! Eric pagava todas as contas e comprava tudo ele próprio, com exceção da roupa dela, e ela não alterava seu guarda-roupa havia dois anos. Mas iria precipitar-se, assim que estivesse de volta, às casas de costura, e ia se cobrir de raposas cinza-azuis, pois Julien lhe dissera adorar essa cor. Naturalmente, não tinha a menor idéia do preço de uma raposa cinza-azul, nem do preço de uma passagem para Nova York. . . Escreveu cinco mil francos em algarismos e depois acrescentou o número 1 à frente do 5 ao acaso.
Pegue — disse imperativamente, e Andréa o tomou, revirou-o e, vendo a quantia, sem o menor falso pudor, assobiou entre dentes.
Upa! — (seus olhos brilharam de felicidade). — Mas é muito dinheiro! Uma passagem Paris—Nova York custa menos de três mil francos, agora. .. E depois, como faria para restituí-los? . . .
— Não é urgente — disse Clarisse, encantada com o entusiasmo do rapaz. — As usinas Baron vão muito bem, você sabe.
Andreas apertou-a contra o peito como se fosse uma criança e depois uma mulher, e Clarisse, de início estupefata, compreendeu o fraco da Doriacci e das outras senhoras da província por aquele jovem. Estavam com as faces vermelhas quando se separaram e um ria do ar espantado do outro. "Os encantos dos homens me foram restituídos", pensou Clarisse, exultante. E para fazer calar Andreas, que se desculpava, beijou-o espontânea, ligeiramente no canto dos lábios.
Olga sentia um pouco menos de raiva de Eric Lethuillier, desde que o soubera ridículo, tendo a prova em sua bolsa. Achava-lhe até mesmo um certo encanto físico, de novo, apesar de sua safadeza e maldade. Quisera acreditar na teoria do jornal; começara até mesmo imediatamente um relato no mesmo estilo: "Como tive dificuldade para me ver livre dele! Como o navio era pequeno, com aquele camarada que, de um lado, não largava do meu pé, e, de outro, não tirava os olhos de mim!, etc. . ." E quase conseguiu isso, porque Olga, como muitas pessoas de sua geração, tinha chegado ao ponto de acreditar mais facilmente nos jornais ou na televisão do que nos próprios sentidos. Em suma, quase acreditava que tivesse sido Eric Lethuillier que a perseguira com sua assiduidade, e que a recusa dela em lhe entregar o corpo mais uma vez fora o que provocara nele as frases ferozes que dissera a Armand Bautet-Lebrêche; estimulara-se com animação e vaidade quando sua memória, esse animal selvagem ainda não domesticado, lhe fizera ouvir de novo de improviso a voz de Eric, a voz de Eric dizendo: "Essa putinha intelectual", e sentiu-se de súbito invadida pela mesma vergonha, pela mesma raiva de três dias antes. . . Virou a cabeça na direção do diretor do Fórum. Olhava-a agora "com o seu belo rosto de patife", pensou de repente, num surto de raiva que a iluminou e a tornou quase desejável a Eric, que lhe repetia a pergunta com paciência.
— Eu quero comprar esse quadro — respondia ela —, mas com que dinheiro? Naturalmente o seu, mas Julien Peyrat não é imbecil. Vai achar estranho que eu disponha de vinte e cinco milhões e estranho, sobretudo, que os empregue num quadro.
— Diga-lhe então que você o está comprando para mim — disse Eric brutalmente. — O que você está querendo? De qualquer modo, ele tem necessidade de vendê-lo.
— Como é que você sabe?
A moça o exasperava agora. Eric adotou um tom paciente:
— Porque é evidente, menina.
Olga olhava-o de frente, piscando os olhos, com voz ingênua:
— Eu não tenho a impressão de que ele seja um homem em desespero: tem a expressão de um homem muito feliz com o que tem. Não parece ter outro desejo além do. ..
Interrompeu-se com um constrangimento calculado. O olhar de Eric desta vez estava frio, e Olga teve medo de ter ido longe demais.
Oh, perdão, Eric. . . Você sabe que eu não queria dizer isso. . . Meu Deus, como estou distraída. .. é terrível.
Você se ocupa desse quadro — disse Eric com voz neutra, nem sequer interrogativa.
Olga sacudiu a cabeça em sinal de assentimento, com o lenço enrolado em bola apertado contra a boca desastrada. Vira Eric empalidecer diante da evidência: a felicidade de Julien. Vira-o parar de respirar e se rejubilava, enquanto ele se afastava com passo apressado, um pouco escondido demais, desta vez.
No bar cheio de fumaça azul-clara e transparente, que lhe dava um ar de cenário de filme, os passageiros, na maioria sentados ou de pé em torno do piano, escutavam Simon Béjard, que tocava o "tema do Narcissus", que dizia ter sido tirado do folclore boêmio. Só Armand, agarrado à sua mesa-refúgio, e Clarisse e Julien, apoiados ao bar, não pareciam ouvir esse recital suplementar; este dois últimos riam com a despreocupação e a complacência das pessoas que se amam há pouco tempo, quando Eric apareceu na soleira da porta.
O rosto de Eric Lethuillier estava fechado, e ele chamou Clarisse em voz baixa mas peremptória, o que provocou no bar, durante cinco segundos esmagadores, um silêncio e um constrangimento irrefletidos, rompidos por Edma, habituada a essas tensões teatrais, que bateu com as mãos nas de Simon sobre o teclado, como teria feito com uma criança recalcitrante no solfejo. Esse gesto fez recomeçar a conversa, e só, crispado, Julien, que se levantara ao mesmo tempo que Clarisse, indicava pela sua atitude coisa bem diferente de alegria.
A Doriacci, que chegava, compreendeu tudo ao observar a expressão de Julien, e tentou amenizar a situação.
O senhor não vai me deixar beber sozinha, sr. Lethuillier! Eu queria justamente consultá-lo sobre meu programa de hoje à noite. O senhor e seus amigos, naturalmente. Os Lieder de Mahler. O que o senhor acha?
Conte com nossa confiança — disse Eric com voz exageradamente cortês. — Desculpem-nos por um momento.
E empurrou Clarisse adiante dele. A Doriacci dirigiu-se então a Julien e, levantando as mãos à altura da cabeça e virando as palmas para o ar num gesto de impotência, lançou um Ma che! expressivo mas não discreto.
— Você está pálido — disse Andreas a Julien, baten-do-lhe no braço, num gesto protetor. (Mudara de papel.) — Beba um copo, meu velho. — Encheu-lhe o copo de uísque puro, que Julien bebeu sem mesmo olhar para ele.
Se ele tocar nela — resmungou com a voz estrangulada —, se ele tocar nela, eu. . . eu... .
Mas o que é isso... Eu nada, querido Julien. Nada de nada. Você está louco... — Era Edma, que, atravessando o bar a todo o vapor, sentava-se à mesa deles com expressão de bom senso maternal.
Esse Lethuillier é esnobe demais, vejamos, demasiado mole, afinal. Não vai bater na mulher, como nos livros de Zola. É bastante consciente de suas origens, ao que parece. Deve saber bem que só os aristocratas podem bater na mulher sem que isso seja considerado vulgar. . . E, ainda assim, os aristocratas, não falo da nobreza do Império. . . Aliás, esse pobre rapaz não tem qualquer compreensão do esnobismo atual. Deveria ter entendido que, em nossa época, ser faxineira em casa de família ou postalista dá no mesmo. . . Naturalmente, faxineira seria mais exótico, mas postalista, isso parece Queneau, tem o seu encanto. . .
De quem a senhora está falando? — perguntou Andreas. — Em todo caso, acho sua teoria muito justa — disse, sacudindo a cabeça na direção de Edma, que lhe lançou o olhar e o falso sorriso reservado aos lisonjeiros desastrados.
Mas o rosto do jovem era um desmentido a essa hipótese. Era incrivelmente natural, esse lourinho sentimental, esse renegado da grande tribo dos gigolôs, pensava Edma.
— Eu lhe garanto, Julien, não se enerve. De qualquer modo, vamos jantar daqui a dez minutos.
— E se Lethuillier não trouxer a mulher para a mesa, eu mesmo a irei buscar — disse Simon Béjard.
E dava pancadinhas em seu pupilo quando Charley veio se reunir a eles com expressão igualmente penalizada. Só permaneceram à mesa, agarrados como a uma jangada, alguns velhos amorfos ou indiferentes e Olga Lamouroux, a quem Kreuze, doutoralmente e desligado de tudo aquilo, contava sua infância estudiosa e inspirada.
—Eu me pergunto como esse pobre Lethuillier pôde se tornar tão unanimemente antipático. . . enfim. . . quase unanimemente — disse Edma com um olhar de soslaio para Olga e uma pressão afetuosa na mão de Simon.
Dissera isso rindo, mas ele virou a cabeça.
Dez pence pelos seus pensamentos, sr. Peyrat — continuou, sem se perturbar. — Não, é melhor uma azeitona, afinal — continuou, espetando no copo de Julien uma azeitona preta em que ela estava de olho desde sua chegada. — Como é que Clarisse, que é bonita, rica e tão. . . sensível — (Edma Bautet-Lebrêche nunca falava da inteligência de uma mulher, a menos que ela fosse repelentemente feia) —, como Clarisse pôde casar-se com esse Savonarola?... — (Abaixou a voz no final da frase por estar um pouco insegura quanto à carreira de Savonarola e do lugar do "o" na ortografia do nome. De todo modo ele era um fanático, disso estava quase certa. . . e aliás ninguém pestanejou, porque ninguém jamais pestanejava).
Pobre Clarissezinha — disse a Doriacci sorridente (embora estivesse contrariada por Edma Bautet-Lebrêche ter pescado antes dela aquela azeitona que ela também desejava). — Em todo caso, tornou-se maravilhosa há dois dias! É a infelicidade que enfeia sempre — disse, dando tapinhas no queixo de Andreas, que também desviou os olhos. — Ah!, mas os homens não estão alegres neste navio. . . — continuou, com soberba. — Andreas, Charley, Simon, Eric. . . Não parece um cruzeiro delicioso para os homens. Em compensação, para as mulheres está sendo ótimo! — disse, jogando o belo busto para trás, com um riso cristalino que destoava terrivelmente das causas desse riso.
Os que estavam à mesa ficaram boquiabertos por um instante, e a Doriacci lançou em torno olhares de desafio, de alegria, de cólera, que evidentemente denunciavam uma alma irredutível ao julgamento dos outros. Ninguém se moveu, exceto Julien, que, apesar da tristeza, não pôde impedirse de enviar a esse símbolo da liberdade um sorriso de admiração.
— Sobre o que você quer me falar? — perguntou Clarisse, sentada há longos minutos na cama.
Eric deambulava diante dela e mudava de roupa sem uma palavra, mas assobiando, o que era mau sinal. No entanto, Clarisse olhava-o sem antipatia: arrancara-a por cinco ou dez minutos desse tempo perturbado, sensível, confuso, exigente, que é o tempo passado diante da pessoa que se ama sem se conhecer bem, esse tempo ávido e perpetuamente esfomeado. E agora, naquela cabina tranqüila, Clarisse podia se dar conta de que amava Julien, de que ele a amava, e deixar que se inflassem suas artérias, sua caixa torácica, seu coração, pensando nisso. Esquecera-se de Eric e quase se sobressaltou quando ele se instalou diante dela em mangas de camisa e aparentemente ocupado em colocar as abotoaduras. Sentara-se ao pé da cama, e Clarisse instintivamente levantou os joelhos quase até o queixo, com medo que ele a tocasse, mesmo no pé, gesto de que logo se deu conta e que a fez enrubescer e lançar um olhar temeroso a Eric. Mas ele nada vira.
Vou lhe perguntar algumas coisas — disse ele, após concluir o que estava fazendo, pondo as mãos atrás da cabeça e apoiando-se na parede com ar desenvolto. — Peço-lhe mesmo que responda com um sim ou não a perguntas bastante brutais.
Então é não — disse Clarisse instintivamente, vendo-o empalidecer de raiva, pouco habituado a ser interrompido por ela em suas encenações.
Como não? Você não quer me responder?
Quero — respondeu Clarisse pacificamente. — Não quero é responder a perguntas brutais. Não há razão alguma para você me falar brutalmente.
Houve um silêncio, e a voz de Eric era quase inaudível quando ele recomeçou:
— Pois bem, vou ser brutal, ainda assim. Todo o navio parece sustentar que você dorme com Julien Peyrat. Posso saber, eu, se é verdade? Isso me parece tão impensável quanto possível. Mas é preciso que eu possa responder a isso se me falarem, sem me tornar ridículo ou parecer hipócrita.
Lançara essa frase em tom sarcástico e um pouco enojado, mas dava-se conta de repente de que corria o risco de ela responder, e de essa resposta ser terrivelmente franca, de fato, e terrivelmente afirmativa. De súbito, daria não importa o que fosse para se ter calado e não ter abordado tal assunto com essa imprudência. Que loucura fizera? Que vertigem o empolgara? Não, não era possível. . . Era preciso acalmar-se. Clarisse não teria feito aquilo ali no navio, naquele espaço fechado onde ele próprio estava, onde poderia tê-la surpreendido e matado. . . Por que matá-la? Eric teve que se confessar que não havia outra escolha para o homem em que forçosamente teria se tornado se tivesse entrado por acaso numa cabina e encontrado Julien e Clarisse nus e abraçados.
— Então, vai me responder ou não? Minha querida Clarisse, concedo-lhe o tempo do jantar para refletir e ouvir sua resposta na sobremesa, mas minha paciência pára aí. Estamos de acordo?
Falara muito depressa justamente para que ela não tivesse tempo de responder, e não chegou a saber exatamente por que adiou por duas horas essa cerimônia. Não conseguia acreditar que fosse uma trégua que estava dando mais a si próprio que a ela. E Clarisse, dizendo: — Como você quiser — com voz cansada, parecia menos aliviada do que ele, e mais penalizada.
Para Julien o jantar fora odioso no início. Estava sentado perto de Clarisse como no primeiro dia e, sem olhá-la, via de novo aquelas mãos e uma mecha de cabelos que o tinham excitado fisicamente naquela primeira noite, aquelas mãos, aquele rosto que agora se tinham tornado seus, objetos permanentes de seu desejo, que ele queria amar e defender contra esse predador legal de olhar frio: Eric Lethuillier. Aquelas mãos e aquele rosto que não estava seguro de poder conservar nem de conservar intactos. Agora detestava Eric; e ele, que até então ignorara os miasmas, as sufocações do ódio, sentia-se infectado, gangrenado numa parte subterrânea de si mesmo, da qual não gostava. Desprezava um pouco esse Julien odiento, esse tesoureiro ciumento e assustado que, de fato, vigiava Clarisse tanto quanto Eric. E quando adiantou a perna na direção da de Clarisse, contrariava a si mesmo; e a ela também, que reprovaria essa prova vulgar do seu entendimento. Retesaria a perna e lhe lançaria um olhar, se não de desprezo, porque ela ignorava o desprezo, pelo menos magoado. E nesse caso o que faria ele? Não poderia retirar a perna nem procurar Clarisse depois. Mas ainda assim avançou-a, e era a primeira vez que Julien fazia alguma coisa contra si próprio, contra a felicidade, contra o êxito; a primeira vez que agia contra sua ética e seus desejos. Retesava-se de antemão contra o olhar surpreso de Clarisse. Já lhe virava um rosto obstinado e incompreensivo quando, após os joelhos terem se tocado, sentiu o pé de Clarisse deslizar sob o dele e a perna dela pressionar-se contra a dele com força, enquanto Clarisse virara para ele um rosto sorridente e perturbado; um rosto agradecido. . . que imobilizou Julien, deu-lhe um disparo no coração e o deixou perplexo no fogo de uma ternura intensa, naturalmente, mas da qual se sentiu prisioneiro para sempre, num desses raios de lucidez tão freqüentemente associados às felicidades chamadas cegas. "Então a gente toca o pé de uma senhora e fica corado", dizia-lhe no vazio uma vozinha cruel que, ela própria enternecida, só se permitia esse comentário por desencargo de consciência.
A escala em Palma, onde estavam agora, numa bruma violenta, previa um concerto de Chostakóvitch, do qual Hans Helmut devia tocar a parte do piano e os dois escoteiros fazerem o complemento. A Doriacci devia cantar algo de Mahler, o que fazia prever que cantaría outra coisa. Era o penúltimo recital, o último ocorreria no dia seguinte em Cannes, que se atingiría no final do dia. Bruscamente, o cruzeiro chegava ao fim e bruscamente se sentia isso. Foi com nostalgia que os passageiros das duas classes retomaram seus lugares habituais e suas atitudes habituais; Hans Helmut Kreuze estava ainda mais solene ao sentar-se ao piano, como se sua carapaça paquidérmica fosse bastante permeável para registrar essa mudança de atmosfera. Quando pousou a mão no teclado, Julien achava-se diante de Clarisse, do outro lado do círculo, como no primeiro dia. E Simon e Olga, como no primeiro dia também, sentados atrás dos Lethuillier. Andreas, sozinho em sua cadeira, naturalmente a mais próxima do microfone onde dali a pouco se apoiaria a Doriacci, e os Bautet-Lebrêche de lado, na primeira fila, para que Edma pudesse vigiar o teclado de Hans Helmut e o arco de seus companheiros. Havia apenas oito dias que, nessa mesma ordem, esses figurantes tinham embarcado; parecia-lhes uma eternidade. Esse sentimento de terem de se separar em vinte e quatro horas, depois de se terem conhecido tão pouco, em suma, tão acidentalmente; a certeza repentina de não conhecer os vizinhos, embora se tivesse pensado tê-los dissecado tão perfeitamente, impressão que de repente parecia louca e presunçosa. Encontravam-se em face de estranhos. O acaso tornava-se todo-poderoso de novo, e uma espécie de timidez retrospectiva provocava olhares furtivos e curiosos, espantados, nos corações mais indiferentes como nos espíritos mais indagadores, numa última tentativa de compreensão, uma última curiosidade que se sabia, justamente agora, e ao contrário da ocasião da partida, que nunca seria satisfeita. Isso tornava todo mundo interessante; uma espécie de auréola melancólica, a das ocasiões perdidas, pairava sobre as cabeças mais aborrecidas e as mais ingratas com todo o otimismo do pesar.
As primeiras notas que Hans Helmut Kreuze arrancou do piano vieram apoiar ainda mais essa melancolia nova. Dois minutos depois, tinham todos abaixado os olhos pelo menos uma vez sobre algo secreto em si mesmos, algo que essa música revelava de repente e que era preciso esconder a qualquer preço aos olhos dos outros.
O romantismo desarrumado da paisagem, seu lado grandioso era, no entanto, o oposto desse concerto em que Kreuze, apoiado pelos seus dois instrumentistas, repetia e martelava, sem cessar, com doçura, as quatro ou cinco notas deliciosas e fatais, essas quatro notas que evocavam infância, chuvas nos relvados do verão, cidades desertas em agosto, uma foto encontrada numa gaveta ou cartas de amor, de que se tinha rido na juventude; tudo isso o piano dizia em sustenido, em nuanças, em meia-estação; no imperfeito, em todo caso; e dizia pacificamente, como uma confissão ou uma reminiscência feliz, suavizada à força de tanta tristeza e perda.
Todos caíam no passado com mais ou menos felicidade, porque já não se tratava daquele bom passado geral, adaptado ao presente, que se tinha o hábito de rever nestes últimos tempos, quando viera a idade de modificar seu eco, de adaptá-lo à idéia que se tinha adotado de si mesmo. Dessas lembranças de que sabia apenas que tinham sido felizes e inocentes, Julien, por exemplo, não destacava uma determinada noite de jogo, um corpo de mulher ou, mais brilhantemente, um quadro que descobrira, adolescente, num museu. Revia uma praia onde chovera, na costa basca, num verão de seus dezenove anos, uma praia cinzenta margeada de espuma quase tão cinzenta e onde, no seu suéter cheio de areia, com suas mãos de unhas roídas, o sentimento de ser apenas o hóspede provisório de seu corpo tão vivo e tão perecível invadira de súbito Julien com uma alegria embriagadora e sem causa precisa. E não era do Festival de Cannes e dos "bravos!" da sala, nem das luzes dirigidas para ele nem dos flashes, nem mesmo do menininho que rondava as grandes salas escuras de manhã à noite que se lembrava Simon Béjard, mas sim de uma mulher um pouco gorda que se chamava Simone, mais velha do que ele, que o amava até a loucura, como dizia, sem nada lhe pedir senão que fosse ele próprio, e que o abraçava na plataforma da estação de trem na partida para Paris. Uma mulher que ele, de cima de seus dezoito anos e dos degraus da escada do vagão, achara um pouco provinciana e da qual se envergonhara ligeiramente.
Aquela música era docemente devastadora. Fazia cada um voltar à sua fragilidade e a suas necessidades de ternura (não sem o refluxo da amargura que deveria, no entanto, provocar essa série de fracassos e essa fome que era a vida de cada um). Quando Kreuze parou e levantou-se do tamborete, com seu cumprimento brutal, dobrado para a frente, do qual emergia vermelho, com o sangue subindo à cabeça por um instante, teve que esperar vários segundos antes dos bravos habituais; e, ainda assim, foram fracos, inseguros e como que rancorosos, embora interminavelmente prolongados. A Doriacci, que devia continuar quase de imediato, só voltou ao quadrado de luz uma hora depois e, curiosamente, passou-se uma boa meia hora sem que ninguém protestasse, ninguém se impacientasse.
Charley fora bater três vezes à porta da Doriacci durante esse entreato imprevisto, e das três vezes teve que se conter para não colar o ouvido à porta, como de hábito. Porque não eram realmente gritos o que ouvia, mas, antes, uma espécie de salmos recitados, sem pausas para um fôlego, pela voz decididamente muito jovem de Andreas, um Andreas que falava sem paixão, sem pontuação ao que parecia, um Andreas cuja entonação curiosamente não dava sentido a seu discurso. Embora tivesse esperado das três vezes três minutos diante da porta depois do seu "É a sua vez" estimulante, 'Charley só ouviu uma vez a Doriacci responder, e fora com uma voz breve, excepcionalmente baixa, como lhe parecera, apesar da extensão da coloratura. Voltara sacudindo a cabeça e desgostoso, apesar de tudo, pelo destino de Andreas. Acusava-se por estar inquieto por uma ligação cujo desfecho fatal era o único que o poderia beneficiar. "Eu sou bom demais", resmungou dolorosamente e rindo de si próprio com derrisão, aquela vez erradamente, pois Charley Bollinger era de fato um homem de grande coração e ficaria bem mais acabrunhado ainda se tivesse ouvido com clareza o que diziam aquelas vozes apagadas.
— Você precisa de uma' mãe — dissera a Doriacci, logo no princípio dessa explicação tanto tempo adiada. — Você precisa de uma mãe, e eu já não tenho mais idade para representar o papel de mãe. É excessivamente verossímil. Só as mocinhas até os vinte e cinco anos incompletos podem representar o papel de mãe com homens de todas as idades. Eu não posso mais. Não posso provocar minha sentimentalidade, nem adaptar meu comportamento a uma situação, por outro lado, inelutável! Não se fazem sonhos em torno de uma realidade, principalmente uma realidade desagradável. Você me entende? Eu procuraria de preferência um protetor, agora, meu caro Andreas. Tenho cinqüenta e dois anos e procurarei um pai, talvez porque não tive um, ou porque os tive demais, posteriormente. Não sei e também não me importa. Não creio que você sirva para pai, nem tampouco os outros senhores que freqüento há dez anos. Voltei-me, pois, por falta de pai, para gigolôs, brinquedos; e para isso, também, você não se presta, meu querido, você é sentimental demais para um brinquedo. Não é com abo-toaduras que eu transformaria sua mecânica nem sua moral. E é só isso o que eu tenho para lhe oferecer: abotoaduras. . . Você quer uma mulher, e eu só tenho um enxoval a lhe oferecer.
Dissera tudo isso de um só golpe, com voz amável e elegante, e refugiara-se então por muito tempo num silêncio que a voz de Andreas mal perturbava.
Não importa se você pode ou não pode — disse Andreas com uma voz sem timbre. — Isso nada tem a ver comigo e rigorosamente também nada tem a ver com você. A pergunta é: "Você me ama?", e não: "Você pode me amar?" Não é uma escolha que lhe peço, é um pedido para que você se abandone, se deixe seguir adiante. O que pode fazer você ser feliz contra você, já que você está feliz?
Isso não me faria nada, mas, infelizmente!, eu não posso mais — respondera-lhe a Doriacci (soberba naquela noite com um vestido decotado negro que a emagrecia e ressaltava o branco deslumbrante dos seus ombros, dando-lhe uma espécie de irrealidade, apesar do peso e da vitalidade de toda a sua pessoa). — Estou numa idade em que a gente não pode se deixar seguir para onde quer que seja, já que esse para onde quer que seja já não tem voz. Os sentimentos dobram-se imediatamente às nossas necessidades, e geralmente sem retorno. Isso é a velhice, Andreas, imagine só! É só amar o que se pode amar, é só ter vontade do que se pode ter. Isso se chama sabedoria. E confesso a você que é muito desconsolador, mas é assim. Sou lúcida, portanto, cínica. Você é lúcido, portanto, entusiasta. Pode se permitir paixões soberbas, mesmo infelizes, porque tem tempo de se entregar a outras em seguida, deliciosas, mas eu, não. Admitamos que eu o ame: você me deixará ou eu a você. Mas eu não teria mais tempo de amar ninguém depois de você e não quero morrer com um gosto amargo na boca. Meu último amante era louco por mim, e fui eu que o deixei, há dez anos.
Andreas ouvia boquiaberto essas frases que o acabrunhavam, boquiaberto e, curiosamente, admirado e grato, pois era a primeira vez que ela lhe falava tão longamente e com tanta coerência, com os pensamentos encadeados. Noutras ocasiões limitava-se a pensar alto por momentos, isto é, a comentar brevemente os saltos e as mudanças perpétuas de um pensamento descosido e engraçado. Naquele dia, fazia um esforço para lhe explicar que não o amava, que não podia amá-lo. ..
Mas se não pode me amar — ele acabou dizendo com energia e ingenuidade —, não me ame! Afinal, posso esperar e não a deixarei. Não precisará me lamber, porque não serei perigoso. Trate-me como um desprezível gigolô se você preferir, não faço questão de ser respeitável. . . Não ligo ao fato de ser respeitável, se isso me impedir de vê-la. . . Aliás, arranjei dinheiro e a seguirei a Nova York — acrescentou, com um ar enfastiado de repente, enfastiado e ao mesmo tempo assustado.
Que eu viva com você sem amá-lo?... A idéia é boa? Mas você é modesto demais, meu querido Andreas; o perigo existiria, ainda assim.
Você quer dizer que poderia me amar com o tempo? — disse Andreas com o rosto radioso e dando todos os sinais de orgulho e surpresa.
A Doriacci ficou um instante pensativa diante desse rosto, quase perturbada, ao que parecia.
— Poderia, certamente. E é por isso que vou lhe dar um endereço muito bom, caro Andreas, em Paris, para evitar esse drama, porque seria um drama para mim. A condessa Maria vive em Paris há dois anos. É encantadora, mais rica e mais moça do que eu. É louca por homens louros de olhos azuis como você. Acaba de mandar embora um amante sueco um pouco interesseiro, enfim, que mostrava demais sê-lo. É alegre, cheia de amigas, sua carreira está feita em Paris. . . Não fique com essa expressão dolorosa, chocada, eu lhe peço; foi você mesmo que me falou sobre sua educação e suas ambições...
Foi então que viu Andreas com o rosto fechado e quase feio por causa do sentimento de furor, sentimento que, por falta de ter suas pregas, seus sulcos, suas rugas num rosto que até então os ignorava, o marcava ao acaso, contraindo a boca, contradizendo a doçura do maxilar, em suma, desfigurava-o. E ele saiu com esse novo rosto, que, por um instante, a Doriacci se pôs a desejar profundamente que não fosse o último que guardaria na memória. Censurava-se um pouco, confessou ao espelho, contemplando seu reflexo a três metros. Mas censurava-se muito menos, uma vez diante do espelho, onde mil rugas, mil sombras e algumas peles caídas lhe lançavam ao rosto com gritos agudos a confirmação definitiva do seu discurso.
Afinal, os passageiros, de início surpresos, ficaram ofendidos e, de ofendidos, exasperados, furiosos. Tudo isso sem efeito aparente sobre a porta fechada da Doriacci, fechada a ferrolho sobre seus problemas sentimentais, ou, antes, sobre os de Andreas. Apesar da ternura que tinha pelo jovem, Charley não ficou aborrecido de o ver sair da cabina funesta com o rosto enfeado pela raiva, depois de ter andado de cabeça baixa e com uma expressão embotada pelo desgosto, deixando a porta entreaberta. Charley deixou-o passar e, por sua vez, veio bater mais discretamente do que teria gostado. Era a quinta vez que vinha se chocar contra essa porta em vão, e sempre batia fracamente apesar das exortações e das ordens que vinham do convés. Charley sabia muito bem o que ia acontecer: a Doriacci ia chegar ao palco fazendo gaia-tices e lançando sorrisinhos deslumbrantes e reconhecidos aos passageiros pela sua paciência. Cantaria sem constrangimentos e seria ele, Charley, que se faria detestar por ter interrompido cinco vezes em seguida o repouso reparador da maravilhosa Doriacci. Esperou, portanto, na soleira da porta, por muito tempo, aliás. E finalmente a Doriacci apareceu: seu rosto refletia cólera, ou mesmo furor. Passou diante dele sem uma palavra, sem um olhar (sem uma desculpa a fortiori), e foi para o palco como se vai para o combate. Foi só no momento de entrar que, sem se voltar para Charley, com a cabeça simplesmente virada para trás e continuando a andar como num passo de tango, dirigiu-se a Charley:
— Faz mesmo questão que eu cante diante desses cretinos? — (utilizou um outro termo mais forte) e entrou em cena sem esperar resposta.
Quando entrou, o público já chegara a um estado de exasperação inquietante. Chegava a murmurar. Olga La-mouroux, com expressão contrafeita, já fizera outras pessoas impacientes aplaudirem ironicamente, dando-lhes o exemplo, que Simon se recusara a seguir. Ele lhe pagaria mais tarde, pensou ela, bocejando ostensivamente e olhando para o relógio pela enésima vez. Mas retomou sua expressão atenta vendo chegar, "como estafeta", pensou, o pajem da retardatária. Andreas, mais pálido do que antes, lívido mesmo, deixou-se cair numa cadeira perto dos Lethuillier, ao lado de Clarisse; Olga viu que esta se virava para ele, inclinava-se, inquieta, dizia-lhe uma palavra e pegava suas mãos entre as dela.
Decididamente — disse Olga a Simon —, eu pensava que era Julien Peyrat que possuía o coração de sua amiga Clarisse.
Mas é Julien Peyrat — disse Simon seguindo o seu olhar. — Ah! Andreas só tem necessidade de ser consolado, é só. . . Devo dizer que acho Clarisse muito reconfortante para um homem.
Não para todos — disse Olga com um rápido riso, que provocou um protesto tímido de Simon.
— O que quer dizer com isso?
Que o marido dela não parece procurar consolação. . . Pelo menos não junto dela. — Houve um silêncio que Simon rompeu com dificuldade, com voz quase inaudível:
Não sei que prazer você acha em ser tão odiosa, tão horrorosa comigo. . . Mas de que me censura, além de suas próprias maldades?
Você se serve de mim — disse, com voz dura. — Só pensa no seu prazer, pouco se importa com minha carreira, confesse-o.
Mas... — disse Simon (que se deixava levar contra a vontade a uma conversa cuja conclusão lhe seria sempre desfavorável, sabia-o muito bem). — Mas vou confiar-lhe o papel principal em minha próxima produção, você sabe. . .
Porque assim você espera me conservar, fazendo-me passar de um papel para outro, tentando egoisticamente substituir minha vida particular pela minha vida profissional. É só isso.
Em resumo, você me acusa de não lhe dar papel algum ou de dar demais? Tudo isso é contraditório.
Sim — disse ela com uma calma depreciativa. — Sim, tudo isso é contraditório e não me importa. Isso o incomoda?
Deveria levantar-se e partir, nunca mais vê-la. Mas ficou pregado na cadeira. Olhava a mão de Olga, o punho tão frágil, tão doce ao tato, tão infantil na sua finura. E não podia. Não podia mais ir embora. Estava à mercê daquela starlet arrivista, que podia por vezes ser tão terna e ingênua, que tinha tanta necessidade da sua proteção, apesar de tudo o que dizia.
Você tem razão — disse ele. — Isso não tem importância, mas eu queria. . .
Cale-se — disse Olga —, cale-se... A Doriacci está chegando. Não parece muito satisfeita — acrescentou a meia voz, afundando instintivamente a cabeça entre os ombros.
De fato a Doriacci chegara. Entrou no foco de luz com a fronte baixa, o rosto marcado pela maquilagem e pela raiva, os cantos da boca descaídos, o maxilar brutal.
Houve um silêncio de espanto e de inquietação à vista dessa fúria, durante o qual os espectadores ignoraram se não seria a eles que estava logicamente reservada aquela cólera. Tremeram em suas cadeiras de palha, e até Edma Bautet-Lebrêche, que abrira a boca, fechou-a lentamente. Clarisse apertava maquinalmente entre as suas as mãos de Andreas, que parecia não mais respirar e cuja imobilidade se tornava inquietante. Olhava a Doriacci com os olhos brilhantes e redondos dos coelhos noturnos quando são apanhados pelos faróis dos carros.
Quem ficou mais impressionado ainda com essa aparição foi Hans Helmut Kreuze, que, sentado ao piano até então, ofendido na sua dignidade de estrela da música, por ter de esperar por quem quer que fosse, levantara-se como um mártir à chegada da Diva, acreditando sentir sobre ele o peso da admiração e da compaixão gerais. Mas os olhares da multidão tinham se desviado para outro lado, para aquela louca furiosa, seminua, e Hans Helmut deu pancadinhas no braço da Diva com sua partitura, para lembrar-lhe seus deveres, sem que aparentemente ela o sentisse. Apanhara o microfone com um gesto circular e brutal, um gesto de cantora de baile popular. Varreu a multidão com os seus olhos negros fulgurantes e fixos antes de detê-los em Kreuze definitivamente.
— O trovador — disse, com voz rouca e fria.
— Mas. . . — murmurou Hans Helmut, batendo com sua partitura na estante — esta noite são os Lieder de guerra. . .
— O terceiro ato, cena IV — ordenou ela sem ouvi-lo nem escutá-lo. — Vamos.
Havia um tom tão imperativo na sua brevidade que Kreuze, em vez de protestar, tornou a sentar-se e atacou os primeiros compassos da cena IV. Uma tosse tímida por trás dele lembrou-lhe a existência de seus dois discípulos qüinquagenários, e virou-se de um golpe para eles, que esperavam com os instrumentos na mão, como garfos, o que o exasperou. Latiu-lhes "O trovador, terceiro ato, cena IV", sem sequer olhar para eles. Apenas dissipados os primeiros compassos, a voz de Doriacci elevou-se como um grito, e Hans Helmut, subitamente encantado, percebeu que ia ouvir música muito bela. Esqueceu-se de tudo, esqueceu que detestava aquela mulher, precipitou-se ao contrário a seu serviço, para ajudá-la e apoiá-la. Dobrou-se totalmente aos seus impulsos, caprichos e indicações. Passou a ser o mais servil, discreto e entusiasmado de seus admiradores. E a Doriacci o sentiu imediatamente, solicitou-o com a voz, fê-lo passar adiante dela, reclamou o violoncelo, fez floreados com o violino, adiantou-se a ele de novo, demorou-se, cantou com eles com toda a confiança. Esquecera-se de suas meias, de sua calvície, de sua rudeza; eles esqueceram-se de seus caprichos, seu furor e sem-vergonhices. E durante dez minutos essas quatro pessoas se amaram e foram felizes juntas como nunca tinham sido antes com quem quer que fosse.
Clarisse sentia a mão de Andreas ficar tensa entre as suas; ela acentuava essa pressão, por sua vez, a Diva cantava bem demais, enquanto as lágrimas ou a vontade de fazer amor subiam-lhe juntas à garganta. Mas para Andreas era como se fosse atingido por cada detalhe de toda aquela beleza musical, a beleza que ia perder, era evidente, e isso era certamente atroz, já que a própria Clarisse desejava a Doriacci, na sua vontade de tocá-la, abraçá-la, pousar a cabeça naquele peito cheio, orgulhoso, e o ouvido sobre aquele coração e aqueles ombros, ouvindo nascer, subir e explodir aquela voz todo-poderosa com o mesmo respeito voluptuoso que lhe dava o prazer de um homem.
Enfim, a Doriacci lançou sua penúltima nota e manteve-a nos limites da voz fluida, forte, como que brandida acima dos passageiros, como uma ameaça ou um grito selvagem. Interminável, tão interminável, que Edma Bautet-Lebrêche levantou-se inconscientemente, como se tivesse sido erguida pela extravagante perfeição daquele grito; enquanto Hans Helmut virava-se no piano, contemplava-a com todas as suas lentes, e os dois idiotas ficavam com o arco no ar, o violino no queixo, o violoncelo mantido à distância, amedrontados e estupefatos; enquanto o navio parecia imobilizado na água, de motor desligado, e os passageiros sem vida. A nota planou assim não meia hora, mas uma hora, uma vida, que a Doriacci interrompeu brutalmente, para lançar com voz dura a última nota, agastada por ter esperado tanto tempo pela sua vez.
O navio pôs-se a navegar, e os passageiros irromperam em aplausos frenéticos. De pé berravam "Bravo! Bravo! Bravo!" com expressão de orgulho imerecido e de excessivos agradecimentos, pensou o capitão Ellédocq, que, diante dessa algazarra, não se pudera impedir de lançar um olhar ao mar, um olhar inquieto: a idéia de que de um outro navio pudessem ver seus passageiros histéricos reunidos como um rebanho em torno de um piano e urrando no meio da noite dava-lhe vergonha por antecipação. Graças a Deus não havia barcos por aquelas paragens, e Ellédocq enxugou a testa, aplaudiu por sua vez aquela fêmea cacarejante e, aliás, grosseira, pois ela afastou-se sem nem mesmo cumprimentar seus fanáticos, os pobres masoquistas que no entanto a tinham esperado uma hora e agora batiam palmas a ponto de fazer estalar as juntas. Afinal, pagavam por isso, reconheceu Ellédocq antes de se perguntar o que fazia seu boné no chão e o que ele próprio fazia aplaudindo.
Clarisse estava com os olhos cheios de água, observou Eric irritado, quando a Diva foi-se embora. Sentia-se melhor, muito mais seguro de si. Já não compreendia aquele pânico grotesco de antes do jantar, nem, sobretudo, o medo da resposta de Clarisse. Evidentemente, ia lhe responder e nada lhe dizer. Ia negar, debater-se e com isso revelar a verdade. Porque nada acontecera, dava-se conta agora. Clarisse era incapaz de fazer o que quer que fosse para o bem ou para o mal: tinha medo de sua sombra, medo de si mesma e desdém pelo próprio corpo, no entanto belo, para falar a verdade. Podia-se dizer também que a idéia desse corpo tão desdenhado sob esse rosto desfigurado, tudo isso por complexo de inferioridade. . . tudo isso não estava isento de comicidade.
Como Clarisse poderia tê-lo enganado? A pobre Clarisse, que não gostava suficientemente de si mesma para suportar que a vissem retocar o batom dos lábios; essa Clarisse com quem, para reforçar seu pudor, ele sempre fazia amor no escuro. Clarisse da qual se afastava depois como que constrangido (e como, aliás, sempre se afastava das mulheres, depois dessas pantomimas bufas, mas necessárias, em que a metade dos seres humanos, pensava, aborreciam-se horrivelmente sem jamais ousá-lo dizer, pelo menos os homens). E era bem compreensível. . . Essas criaturas frágeis que flertavam com inteligência e passavam o tempo se defendendo pretextando órgãos frágeis, nervos doentes, sentimentalidade abjeta, pieguices levadas ao extremo e uma dedicação insaciável; essas criaturas frágeis que atualmente pretendiam votar, dirigir, ou mesmo conduzir Estados, que pretendiam fazer esporte (e aí pagavam caro, perdiam sua capacidade de ser possuídas). Essas coisas frágeis e cacarejantes, fossem elas, como naquele ambiente, alcoólatras e neuróticas como Clarisse ou então discursadoras e insuportáveis como Edma, ou ainda gigantes da ópera como a Doriacci, todas essas fêmeas sempre o tinham irritado, e a infeliz Olga, afinal, parecia-lhe a menos importuna, porque pelo menos tinha o bom gosto da humildade.
Olga era humilde, mas Clarisse, não; era orgulhosa, mas não de sua fortuna, infelizmente! Era orgulhosa, de fato, daquilo que lhe escondia, daquilo que ele não conseguira descobrir e ao mesmo tempo destruir; um sentimento ou uma faculdade ou uma ética ou um fantasma, alguma coisa, em todo caso, que mantivera fora de seu alcance e que, por não lhe saber o nome nem a natureza, Eric não podia exigir que ela destruísse; essa certeza de uma resistência surda e determinada, escondida em alguma parte do subterrâneo particular de Clarisse, a princípio divertira Eric como uma luta ao mesmo tempo aberta e silenciosa, depois o irritara quando percebeu sua incapacidade de descobri-la, e finalmente tornou-se-lhe indiferente, quando achou que Clarisse estava suficientemente vencida em vários outros terrenos. Acreditara até que essa resistência fora abandonada em qualquer lugar como um velho estandarte, até esse cruzeiro, onde não somente Clarisse demonstrara a existência de sua bandeira, como também a tinha levantado um pouco para lembrar-lhe a cor.
Era a partir dali que contava começar, mas foi impedido pela música barulhenta que de repente saiu dos alto-falantes. Um velho slow de 1945, tirado de um filme que todo mundo vira na época. As time goes by.
Meu Deus — disse Edma —, meu Deus, vocês se lembram? — E procurou com os olhos alguém que estivesse disposto a se lembrar com ela. Mas não se encontrava no seu círculo de amigas. O único companheiro daqueles anos era Armand, e se lhe falasse sobre essa época, lembrar-lhe-ia a fusão de suas fábricas com Deus sabe qual outra, e só. Aliás, não podia se queixar de Armand por ele não se lembrar precisamente do rosto e do corpo de Harry Mendel, que era seu amante na época; e com quem ela se divertira representando as cenas desse filme, identificando-se com a mímica dos dois atores, seus ídolos. Seu olhar pousou por um acaso um pouco dirigido sobre Julien Peyrat, silencioso em seu canto, e a quem Edma achava que o amor não estava fazendo bem. Aliás, o amor nunca beneficiara os homens que ela conhecia, por uma espécie de má sorte.
Isso não lhe lembra nada, meu caro Julien, essa melodia linda e melancólica?... — disse com voz trêmula na última palavra, franzindo os olhos numa dor secreta e longínqua que, no estado em que estava, chegou a emocionar Julien em vez de fazê-lo rir.
Edma percebeu e aproveitou sua vantagem. O que fariam aqueles dois, o tolo sedutor e a encantadora e pobre mulher rica? Mas ela, Edma, por uma vez nada sabia. Sabia apenas que, no lugar de Clarisse, teria fugido com Julien Peyrat desde seu primeiro convite. Mas as mulheres dessa outra geração, a sua, eram mulheres ainda mulheres, graças a Deus. . . Não se consideravam iguais aos homens, achavam-se muito mais maliciosas. E se tivessem votado (as mulheres da sua idade, e ela própria), o teriam feito em favor do candidato mais sedutor, em vez de se envolverem em discussões políticas que acabavam sempre vulgarmente por ucasses e vetos incompreensíveis, aliás.
Sim — disse Julien —, como se chamava mesmo esse filme maravilhoso? Naturalmente, essa música me lembra Casablanca!
Você também chorou, não?. . . Mas você vai me dizer que não, naturalmente. . . Os homens têm vergonha de confessar que são sensíveis e chegam até a se orgulhar de não o serem. Que falta de instinto. . .
— De que é que a senhora queria que nós nos gabassemos? — disse Julien com uma voz tensa que não lhe era própria. — De poder sofrer? A senhora gosta de homens que se lamentam?
Gosto de homens que agradam, meu caro Julien! E você agrada bastante, acho, para não precisar ficar com essa cara. Sabe por que eu pedi para colocarem esse disco? Você, que é sensível, sabe por quê?
Não — disse Julien, sorrindo sem querer a essa permanente exibição de charme e cumprimentos que Edma lhe dirigia.
Pois é, eu o consegui para poder estar em seus braços sem que você fique afobado. . . Não é delicioso? Não é de uma humildade dilacerante?
Ria ao dizer isso, fixando-o com os olhos brilhantes, seus olhos de pássaro. E toda a pele de seu rosto refletia a juventude do desejo e do flerte, apesar das rugas.
— Não acredito — disse Julien, tomando-a nos braços. — Mas vai dançar comigo de qualquer maneira.
Com um relincho triunfante e batendo com os saltos no chão, Edma precipitou-se à direita, enquanto Julien também esboçava um passo à direita, e ambos, desculpando-se, voltaram para a esquerda, em arrependimento duplo, que os projetou de novo testa contra testa. Pararam, olharam-se, rindo às gargalhadas e segurando a cabeça.
— Agora sou eu que dirijo — disse Julien com voz doce. E Edma, dócil, de olhos fechados, seguiu-o nas evoluções, aliás, prudentes.
O olhar de Eric teria reprimido em quem quer que fosse a idéia desses prazeres grotescos, mas ele foi arrebatado por Olga, que o puxou para a pista. Opunha-lhe recusas, apenas polidas, às quais ela pôs fim com uma só frase: "Sem o slow, nada de quadro". Enquanto isso, Clarisse lançava a Simon Béjard o que considerava mais do que uma piscadela, mas ele retribuiu com um sorrisinho confuso e infeliz que deu pena a Clarisse, por um instante. Charley levou-a ao som dos acordes da música.
— Não é que você dance mal — disse Edma, soltando-se (como muitos homens que não sabem dançar, Julien Peyrat a apertara estreitamente sobre o coração e o ombro, escondendo-lhe assim a visão da pista, como se essa cegueira provisória lhe permitisse acreditar em seus talentos de dançarino, e como se Edma, não vendo onde ele punha os pés, não sentisse que não estava onde deviam estar); — você não dança nada! Você passeia com uma mulher. Uma mulher que, em vez de lhe dar o braço para andar, está de frente. É um passeio freado que estamos fazendo agora, não? Eu lhe devolvo a liberdade.
— Minha liberdade, pois é. . . justamente, minha liberdade é Clarisse, agora, sabe? Se ela não estiver presente me sinto inibido. . . pela sua ausência.
— A esse ponto?
Edma oscilava entre a vaidade pelo fato de Julien lhe confiar seus sentimentos e um ligeiro despeito por não ser aquela de quem ele falava com tanta melancolia e ardor. Desprendendo-se dos braços de Julien, apanhou Charley pelo ombro, parando-o decididamente nas suas evoluções.
— Meu querido Charley — disse —, você, que é um exímio dançarino, livre-me deste grandalhão desengonçado e de suas infantilidades. Perdão, Clarisse, mas vou acabar com os pés sangrando de tanto tirá-los de sob os pés de seu apaixonado. . .
E precipitou-se sobre Charley, deixando Clarisse e Julien face a face. Não quis se voltar principalmente para não os ver reunirem-se lentamente, e lentamente começarem a dançar, não sem uma visível rigidez, essa indiferença excessiva e tão reveladora dos amantes felizes no amor. Julien e Clarisse giravam lentamente e com precaução, como se cada um deles estivesse abraçando um parceiro de porcelana, mas de olhos nos olhos. Olga não pôde deixar de chamar a atenção de Eric, enquanto ao mesmo tempo se enlanguescia contra ele com sensualidade prometedora:
Não fique tão distraído, meu querido. Mantenha um ar um pouco mais concentrado, quando me apertar nos braços. Olhe Julien Peyrat, como parece levar a sério o que faz com sua mulher. É muito bom que você não seja ciumento. . .
Você falou com ele sobre o quadro? — disse Eric, após um instante de silêncio em que evitou ver o espetáculo anunciado.
Ainda não. Mas pensava falar amanhã de manhã, na piscina; nós estaremos sós e eu não ficarei tão corada! Dizer que quero oferecer esse quadro a Simon. . . será duro de engolir.
— Você é atriz, não? Que eu saiba!
— Sou, mas não estou certa de que Julien o saiba — disse com alguma irritação, como Eric observou inconscientemente. Mas calou-se e apertou-a com mais força contra si porque, virando-se, avistara Julien e Clarisse de perfil.
Ela dançava aconchegada a Julien e tinha a impressão de se apoiar num fio de alta-tensão. O mesmo curto-circuito iria fulminá-la logo, tudo poderia acontecer de novo, de feliz, de infeliz e de diferente. A vida era tudo, menos monótona, e esse tempo que lhe restava viver, e que considerava interminável uma semana antes, parecia-lhe odiosamente curto agora que tinha que dividi-lo com um homem que a desejava. Teria que mostrar a Julien todas as paisagens, todos os quadros, fazê-lo ouvir todas as músicas, contar-lhe todas as histórias guardadas em sua casa, nos celeiros e adegas de sua memória, de sua infância, cultura, vida amorosa, de sua vida solitária. E parecia-lhe que nunca teria tempo de contar tudo dessa vida, no entanto tediosa, que considerara desesperadamente tediosa até então e que, graças aos olhos de Julien, a seu desejo de compreender essa vida, de tomá-la e de recordar-se dela, tornara-se uma vida transbordante de anedotas, de brincadeiras e de tristezas pelo simples fato de ter vontade de contá-las a outra pessoa. Esse homem que vibrava junto dela com um prazer antecipado, do qual tinha um pouco de vergonha, esse homem restituíra-lhe não apenas o presente, prometera-lhe não apenas o futuro, mas restituíra-lhe um passado maravilhoso, vivo e do qual já não precisava se envergonhar. Apertou-se impulsivamente contra Julien, e ele gemeu de leve contra seu ouvido murmurando "Não, por favor", antes de recuar um passo, e ela riu alto de seu ar penalizado.
O tempo passava. Edma chegara ao paso doble com Charley. O capitão Ellédocq parecia hesitar, ele também, em dar alguns passos de plantígrado na pista, estimulado pelas súplicas de Edma. Os pares se tinham formado e desfeito, sem que jamais um deles fosse o formal, como na chegada àquele navio, quando a voz de Olga, que desaparecera havia dez minutos, ressoou de súbito assim que a música parou.
— Gostaria de saber — disse com voz tonitruante — quem mexeu no meu armário, nas minhas coisas.
Seguiu-se um silêncio aterrorizador, de todos os lados surgiram exclamações: "Como?", "Por que você diz isso?", "É um absurdo!", enquanto os dançarinos se entreolhavam com olhos desconfiados.
— Todo mundo desapareceu por um instante ou outro, minha querida Olga — disse Edma, tomando uma vez mais os acontecimentos sob seu bordão —, exceto eu. Quando danço, danço até o amanhecer. O que é que você quer dizer? Tiraram-lhe alguma coisa? Dinheiro, jóias? Parece-me pouco provável. Não é, capitão? Vejamos, Olga, o que é que lhe tiraram, minha querida Olga? Não se faz um escândalo por causa de um maço de cigarros.
— Não me roubaram nada — respondeu Olga, branca de raiva, o que a tornava feia, observou mais uma vez Edma. — Mas quiseram me tomar alguma coisa. Deram uma busca em minhas coisas. E acho isso insuportável. . . Não suportarei essa infâmia.
A voz dela subia, chegava a um ganido. E Edma, irritada, a fez sentar-se de um impulso numa poltrona, antes de lhe oferecer um conhaque, como se fosse uma náufraga.
Mas o que procuravam? — disse, com um pouco de irritação. — Terá alguma idéia, por menor que seja, do que procuravam em sua cabina?
Tenho — disse Olga, de olhos baixos. — E também quem era essa pessoa... — acrescentou, levantando a cabeça e olhando para Simon.
Ele tinha uma expressão emburrada e mal-humorada. Levantou os ombros, desviando os olhos.
Mas — hesitava Edma —, isso não é assunto particular? ... Se acha que foi Simon, talvez pudesse ter evitado essas cenas domésticas, minha Olguinha. . . Será que Simon retomou o seu contrato? Você o encontrou em pedaços no banheiro? Por acaso não será mais a heroína do próximo filme dele?
Esse alguém procurava provas sórdidas para me acabrunhar — disse Olga com voz de falsete, o que, para surpresa geral, provocou o riso de Armand Bautet-Lebrêche.
Começou com um gritinho que sobressaltou a assembléia, depois continuou em relinchos, semelhantes aos de sua mulher, minúsculos, enternecedores na sua modéstia. Olga continuou, sem parecer ouvir essa diversão inoportuna:
Esse alguém naturalmente é covarde demais para se denunciar, mas eu gostaria que o fizesse em público. Seria bom que todo mundo soubesse qual é a distinção e a elegância dessa pessoa. Isso me daria prazer, sinceramente. . .
Mas provas de quê? — gritou Edma Bautet-Lebrêche de súbito, impaciente com aquela acusação vaga tanto quanto com o riso imbecil e incontrolável do marido, que parecia contagiar Charley também.
Provas da minha infidelidade — gritou Olga. — Eis o que se procurava e não foi encontrado. Devo ter chegado antes, cedo demais para que houvesse tempo de arrumar tudo. . . Acho isso repugnante. . . repugnante! — repetiu, gritando novamente, o que fez os espasmos do imperador do açúcar se elevarem uma oitava.
Clarisse, apoiada na mesa por trás da qual Olga toni-truava como uma estátua da justiça, olhava Simon desde o início da alteração e de repente achou-o emagrecido, envelhecido, desorientado e por demais inquieto. Via-o e pensava como ele se parecia com ela, Clarisse, quando subira ao navio oito dias antes; ela, Clarisse, que ia descer do navio triunfalmente como Simon subira, amando alguém e acreditando ser amado. Parecia a Clarisse que ela roubara a Simon essa segurança bem-aventurada, e que lhe devia algo por essa perda horrível. Via até onde Olga queria ir para humilhá-lo, mas não via as razões dessa afronta ou dessa crueldade. E alguma coisa dentro dela, que sempre sentira desde a infância por cães aleijados, velhas senhoras em bancos, crianças tristes e os humilhados em geral, empurrou-a para a frente, e ela ouviu-se pronunciando, quase surpresa, a única frase capaz de afastar esse castigo da cabeça de Simon.
— Fui eu — disse em voz baixa, que teve o efeito de uma bomba.
— Você?... — perguntou Olga.
E levantou-se com os cabelos eriçados, com um "ar de medusa", pensou Clarisse, retraindo-se, como se Olga fosse lhe bater.
— Sim, eu — disse, muito depressa. — Estava com ciúmes, procurava uma carta de Eric.
No alarido que se seguiu, um alarido incrédulo e diversamente agitado, Clarisse atravessou por entre as testemunhas do escândalo, apertou na passagem a mão de Julien, que lhe sorria com todo o rosto, e zarpou para sua cabina. Ali, deixou-se cair no beliche e fechou os olhos sobre um curioso sentimento de triunfo. Tentou duas ou três vezes imitar o riso estranho de Armand Bautet-Lebrêche e, após duas ou três tentativas desgraciosas aos seus próprios ouvidos, adormeceu como uma pedra até a chegada de Eric.
A saída de Clarisse foi seguida por uma algazarra de sala de audiências. Ouviam-se soar pedaços de frases, muito incongruentes depois de Verdi e Chostakóvitch.
— Que teria ido fazer no meu quarto? — dizia Olga com o furor doloroso que alguém sente ao se ver frustrado numa justa, diante de pessoas queridas, por um estratagema de guerra.
A voz de Edma respondia à sua voz trêmula, uma voz mundana, um pouco seca, um pouco irônica, que pareceu de repente a Julien o cúmulo da jovialidade e da elegância de sentimentos.
Eu não quero que se riam de mim! — gritava Olga. — O que pensam que Clarisse foi fazer em meu quarto? Ela não gosta de Eric, não gosta mais dele, e é Julien Peyrat, aqui mesmo, que ela quer, e não esse belo patife, o sr. Lethuillier. . . É eu a compreendo, e desejo muitas felicidades ao sr. Peyrat, e eu. . .
Olga!
A voz de Edma já não tinha nada mais de displicente. Era uma voz de mulher que dá ordens, a voz de uma mulher que comandara com egoísmo e firmeza durante anos os diferentes conjuntos de sua criadagem sem que jamais um deles pudesse mandá-la para o diabo facilmente. Era o tom de uma mulher que durante o dia usava com freqüência dez vezes maior os verbos no imperativo do que em qualquer outro tempo, e dava ordens à camareira, ao cozinheiro, ao maitre d'hotel, ao motorista, a um táxi eventual, um vendedor, um manequim, no salão de chá, nas grandes lojas, e voltava para casa e continuava sendo obedecida como pela manhã. O modo interrogativo e o presente do indicativo eram muito raros nesse ambiente dourado. O ponto de exclamação bastava para muitas perguntas. Não havia mais que futuros e imperfeitos um pouco espalhados por toda parte, quer se falasse de viagens ou de amantes. E o presente ao que parecia só era recomendado para abordar o tema das doenças e dos distúrbios funcionais. Sua voz bateu exatamente numa nota em escala maior, que suspendeu os borborigmos de Olga num pequeno silêncio que Edma não deixou escapar.
O que é que você quer afinal, minha Olguinha, por favor? Que acusemos todos Simon de uma indiscrição que não cometeu? Que acusemos de perjúrio Clarisse Lethuillier? Esse gênero de confissão não deve ser agradável de fazer para ninguém, como você deve imaginar. Então o que você quer dizer? Que Simon é mentiroso e Clarisse é masoquista? Você deveria ir se deitar.
Tudo isso é ridículo. Ridículo e de mau gosto!
A exclamação de Eric não foi ouvida. Afinal de contas parecia que a vida ou a presença do responsável inicial por toda essa comédia era pouco solicitada, Eric percebia isso perfeitamente. Quer esse acontecimento tivesse sido desencadeado por ele, ou para ele, quer visasse a vigiá-lo ou a defendê-lo. Eric era o objeto de um conflito do qual se sentia o último peão. Lançou um olhar furioso para Simon, que, pálido em vez de vermelho, parecia pregado na poltrona, com as mãos pendentes, enquanto Julien lhe dava de beber, como a um ferido recente.
— Não foi Clarisse — disse Simon, restituindo o copo a Julien como a um barman, pensou Eric, ou antes como a um treinador, pensou Julien.
Tinha imensa pena de Simon Béjard, que partira alegre para seu primeiro cruzeiro de homem rico, todo contente com seu sucesso em Cannes, com sua encantadora amante, com seu futuro. Simon Béjard, que ia descer domingo em Cannes magoado, aliviado de alguns milhões e sem a menor confiança no coração das jovens. Simon, que tentava, apesar do seu desgosto, tranqüilizá-lo a respeito do ciúme de Clarisse. Julien teve por Simon um impulso de afeição que não lembrava ter tido por homem algum desde a terceira série. Julien tinha de fato conhecidos em toda parte, mas não tinha amigos; talvez porque tivessem sido escolhidos em ambiente de vagabundos, cuja gabolice e covardia o exasperavam, ou talvez por serem sujeitos corretos aos quais não poderia explicar a origem de suas rendas. Simon Béjard poderia ser um bom amigo. Aliás, Clarisse gostava muito dele.
Estou farto de saber que ela não esteve lá. Não a perdi de vista um minuto — disse, sorrindo, a Simon.
Mas por que você acha que ela fez isso? — Subitamente ficara perplexo.
Por quê? Você quer dizer por quem? Por você. Você estava numa situação catastrófica.
Cobriu-se de ridículo por mim?. . . Você está percebendo — disse Simon com voz trêmula. — Isso é que é mulher! Estou aprendendo com ela!
Então, e o que foi que aprendeu? — disse Julien, oferecendo-lhe um segundo copo como se fosse um medicamento, que Simon tomou e bebeu de uma vez, como se fosse intragável.
Quero dizer que me ensinou que o ridículo não tem a menor importância.
E levantou para Julien uns olhos embaçados que o assustaram. Ele já não suportava ver uma mulher chorar. Abraçava-a sempre contra seu casaco para não vê-la. Tinha aliás vontade de abraçá-la e consolá-la com a mão e a voz, como aos cavalos. Mas um homem em lágrimas lhe fazia o efeito contrário, envergonhava-se por ele, tinha vontade de fugir. Por isso ficou estupefato ao se virar, depois do silêncio que aparentemente servira de resposta a Simon, por encontrá-lo na espreguiçadeira com o rosto de novo bronzeado e sorridente, e sem esforço visível. Simon tinha os olhos do mesmo azul que exibia na partida.
— Não sei o que acrescentar, meu velho, porque não consigo acreditar, mas terminou. Estou livre dessa Olga — disse, dando um tapa afetuoso no braço de Julien.
Acabou mesmo?
Sim! Acabou!
Os dois homens entreolharam-se rindo, com o sorriso de Simon provocando o de Julien.
Fora de brincadeira. . . — disse Julien — fora de brincadeira? Isso passou de uma vez?
Essa é minha impressão, pelo menos. É como se fosse um espinho a menos. . . Isso já lhe aconteceu? — perguntou amavelmente a Julien, com um alívio na voz, talvez premeditado mas muito bom de ver.
Parecia-lhe que Olga tinha ido longe demais, demasiadamente longe, e que talvez tivesse ganho aquela vaza se não fosse a rapidez de Clarisse, que "tentando salvar minha honra recordou-me que eu tinha uma", disse. — Você compreende, meu velho?. . . Afinal, não vou me deixar massacrar por uma starlet, meu Deus!
— Meu Deus! Como tem razão! Mas está certo que não foi o orgulho que o desligou de qualquer amor com essa velocidade?
— Você vai ver amanhã!
Apoiada no travesseiro, com uma blusa verde-água que lhe ia muito bem, Clarisse lia à luz de uma lamparina. Ou antes, relia Os irmãos Karamázov, e os olhos brilhavam-lhe numa espécie de fervor russo que não precisava representar, sendo semi-russo o sangue dos Baron pelo lado feminino. Eric fechou a porta à chave, encostando-se nela com um sorriso enigmático, ou que queria que assim fosse, mas que pareceu à mulher simplesmente uma cópia de um filme americano ruim. Desde Julien, havia uma nova mulher em Clarisse, uma mulher de espírito excessivamente crítico quando se tratava de Eric e excessivamente indulgente quando se tratava de Julien e até dos outros passageiros. Via todo o tempo a afetação e as intenções no íntimo de Eric. Censurava-se um pouco por essa severidade, que julgava duvidosa, por datar do mesmo dia em que despertaram seus sentimentos por Julien, cujo impulso e subsistência tinham, a priori, necessidade de tal severidade.
Então?... — disse ele, com as mãos nos bolsos, elegante e louro.
Então o quê? — perguntou Clarisse, pousando o livro aberto como para mostrar que estava ocupada.
Eric pestanejou mais uma vez. Detestava que se lesse diante dele. Resistiu um instante ao desejo furioso de arrancar-lhe o livro das mãos e jogá-lo pela vigia para lhe ensinar a viver. Controlou-se a tempo.
Então, está contente com sua saída? Acha engraçado desorientar a pobre Olga na sua suspeita? Você não percebeu suficientemente o ridículo dessa busca? Ainda precisa me imiscuir em suas cenas grotescas? Gostaria que fosse mais clara sobre isso, minha querida Clarisse.
Não o compreendo — disse ela (desta vez fechando o livro, colocando-o na cama ao alcance da mão, pronto para ser aberto logo que aquele importuno a deixasse tranqüila, pareceu ainda desta vez a Eric). — Não o compreendo. Tudo isso é muito lisonjeiro para você, não? Que eu vá procurar os vestígios de minha desgraça até nas gavetas de uma rival parece-me ser algo que põe louros em sua cabeça. . .
— Existem sucessos vulgares que não dão qualquer prazer.
E uma expressão de nojo, de severidade, passou pelo seu belo rosto, enfeando-o. E Clarisse lembrou-se de quantas vezes essa expressão enojada a humilhara até o coração, sem que ela resistisse, pois não entrava em questão pôr em dúvida a inteligência, a sensibilidade e a autoridade de Eric Lethuillier. "Acalme-se, acalme-se", disse a si mesma. E, de repente, percebeu que pela primeira vez, em anos, falava consigo mesma a meia voz, como a alguém desejável e desejado, alguém em quem se pode confiar.
De qualquer modo, era bem secundário; ainda assim, por que fez isso?
Por ele — respondeu Clarisse, sacudindo a cabeça diante do absurdo dessa pergunta. — Por Simon Béjard. Aquela pilantra ia despedaçá-lo. . .
O termo "pilantra" na boca de Clarisse desconcertou-o ainda mais. Havia muitos anos os adjetivos pejorativos, por acordo tácito, eram reservados a seu uso pessoal.
Continua se interessando tanto pelos assuntos dos outros? — disse ele com má fé (e percebendo seu erro mordeu os lábios, mas já era tarde).
Quando o outro é meu marido, sim. De fachada. Sabe que não me interesso pelas histórias dos outros. . . Interesso-me apenas pela minha — disse melancolicamente, baixando suas longas pálpebras sobre os olhos azuis.
Pelo menos você chegou. . .
Hesitou um instante. Tinha a impressão de estar fazendo uma tolice. Sempre esse sentimento de temor e de risco do qual, aliás, não conseguia imaginar os resultados eventuais. E foi o orgulho, e só o orgulho em face de si mesmo, que o fez terminar a frase.
— Você chegou, pelo menos, a se interessar pela de Julien, minha querida Clarisse? Ainda continua me devendo uma resposta. . . E não me pergunte a que pergunta, seria ofensivo.
Olhava-a severo, e Clarisse levantou os olhos e os abaixou imediatamente, depois de ter cruzado com seu olhar.
— Isso lhe interessa, realmente? — perguntou, com voz hesitante.
— Sim, isso me interessa. Na realidade, só isso me interessa — disse, quase sorrindo.
E com esse sorriso, sem confessá-lo, Eric queria manter Clarisse naquela atmosfera de boa vontade, para que ela se sentisse responsável por qualquer mudança em seu novo acordo. Esse sorriso, em Eric, queria dizer, e ainda sem que ele o percebesse: "Você está vendo, eu sorrio. . . Sou complacente. Por que não continuar sem criar dificuldades?", etc. Era de fato um sorriso complacente, de paz, mas esse sorriso era tão desconhecido de Clarisse que ela o atribuiu à sua origem habitual: desprezo, condescendência, incredulidade. E, num movimento de cólera, ergueu-se no travesseiro, lançou um olhar severo a Eric, um olhar de alarme como que para preveni-lo de que devia pôr-se na defensiva, e articulou com voz fria:
— Você me perguntou se eu era amante de Julien Peyrat, não foi? Pois então sim, sou amante dele há alguns dias.
E foi só depois dessa frase que ouviu seu coração bater com pancadas redobradas e violentas; como se seu próprio coração temesse uma reação de Eric a essa frase; como se seu coração a avisasse, mas demasiado tarde. Viu Eric empalidecer na porta, viu ódio em seus olhos, ódio e também a sensação de alívio que ela conhecia bem, e que era o que ele sentia por apanhá-la em falta todas as vezes, humilhando-a com suas acusações. Em seguida, ele recuperou a cor. Deu três passos em sua direção, pegou-a pelos pulsos. Pousara um joelho na cama, apertava-lhe as mãos até magoá-la e falava a dez centímetros de seu rosto, com uma voz entrecortada, ofegante, que ela mal compreendia, de tanto medo. E ao mesmo tempo olhava um ponto negro de cravo, em geral invisível no rosto de Eric, um cravo explicável apenas pela ausência de espelho de aumento no navio. "Acho que tenho álcool", pensou absurdamente. "De fato, não está nada bonito, debaixo do nariz. . . Ele tem que fazer alguma coisa. . . o que é mesmo que ele estava dizendo?"
— Você está mentindo! É só o que você sabe fazer, mentir! Você quer me enervar, me estragar esse cruzeiro? É de um egoísmo teimoso. Todo mundo sabe. . . Conduz-se como uma selvagem com seus amigos e seus familiares sob pretexto de distração, não presta atenção a ninguém, minha querida Clarisse. Essa é sua fraqueza: não gosta das pessoas! Não gosta de sua própria mãe: você nunca a ia ver. . . mesmo a sua mãe! — dizia com raiva, quando ela o interrompeu.
De qualquer modo — disse ela calmamente —, isso não tem importância. . .
Então?. . . nada disso tem importância? Seus supostos sentimentos por esse falsário, esse cafajeste! Nada disso tem importância, hem?
Mas estranhamente sua raiva cedera, e quando ela respondeu: "Sim, talvez!", com voz neutra, ele entrou no banheiro como se não tivesse ouvido a resposta e como se, efetivamente, não tivesse mais importância.
Olga tinha se deitado naquela noite muito antes de Simon, que ficara no bar para se embriagar, sem o conseguir; quando ele voltou à cabina, viu-se atingido pelo olhar elaborado de sua doce amante. Era um olhar distante e polido, quando ele chegava depois dela, e um olhar indignado, ou mesmo chocado, quando, ao contrário, chegando depois dele, encontrava-o deitado. E esses dois olhares destinavam-se a ajudar Simon a perceber sua insignificância, o esquecimento de sua pessoa que, infalivelmente, ocasionavam. Que expressão era aquela de cão batido que ele adotara nos últimos tempos, seu querido produtor? Sem que ninguém soubesse por quê? Olga estava tão longe de pensar que alguém além dela pudesse ter sentimentos, que fazia Simon sofrer menos deliberada que naturalmente. Infelizmente sua natureza não tinha salvação. Olhava para o homem que o destino lhe dera primeiro como produtor, e em seguida como amante, que queria além disso ser amado, e que ela lhe provasse isso. "Bem que lhe provava tudo o que queria, não?", pensou ela, "entregando-se todas as noites às suas exigências." E mesmo quando ela recuava, quase por honestidade, ele devia saber que isso chateia as mulheres, tudo isso as força. "Ou então seria preciso que tivesse um outro físico." Naturalmente, o temperamento de Simon Béjard já era conhecido no ambiente cinematográfico, mas era sempre assim. Os homens como Simon eram maníacos sexuais, e os do tipo de Eric ou Andreas, aliás, eram semifrígidos. A menos que, tendo se tornado artista e cedendo ao narcisismo desse ofício, o gosto pelas mulheres se tornasse excepcional.
Enquanto esperava, lançou, pois, a Simon o olhar distante que se reserva a um desconhecido, e não teve dificuldade em mantê-lo, porque as atitudes de Simon a espantavam de verdade. Ele sentara-se no seu beliche e tinha as duas mãos ocupadas, uma tirando os sapatos e a outra acendendo o cigarro. E quando Olga lhe falou, teve a impressão de incomodá-lo pela primeira vez, desde o início do cruzeiro.
— Para onde você foi depois da crise de histeria de Edma? — perguntou-lhe.
Ele franziu as sobrancelhas sem responder, sinal de que o estava incomodando. De fato, sim, era a primeira vez em muito tempo que Simon não tinha uma atitude absolutamente disponível aos caprichos de Olga. A primeira vez que suas mãos estavam ocupadas, ao mesmo tempo que seus olhos e pensamentos, em outra coisa que não fosse sua contemplação ansiosa e suplicante. E Olga percebeu tudo de imediato, graças ao radar perpetuamente em ação e ultra-aperfeiçoado que a informava de todos os humores circundantes e lhe indicava os sinais luminosos nas encruzilhadas, sem infelizmente lhe dizer se eram vermelhos ou verdes. Nesse momento, por exemplo, pensou que fossem verdes e precipitou-se numa colisão que o radar, se fosse inteligente, lhe teria evitado. Mas era apenas instintivo, nem mesmo sensível. E a luz se acendia e apagava sem nada assinalar.
— Não me responde?
Simon olhou-a, e Olga espantou-se com o azul de seus olhos. Havia muito tempo que não notava como seus olhos eram azuis. Havia também muito tempo que não observava que Simon tinha um olhar.
Que histeria? — disse ele, suspirando. — Não vi histeria nenhuma em Edma Bautet-Lebrêche.
Ah, não? Não ouviu seus gritos, talvez?
Ouvi principalmente os seus — respondeu Simon Béjard com a mesma voz cansada.
Eu? Eu gritei?. . . Eu?
Sacudia a cabeça com um rosto de inocência perplexa, alegoria que pouco significava, era o que lhe indicava o olhar de Simon. E pela primeira vez, havia também alguns dias, ela se perturbou. Não se lembrava da cor nem tampouco da acuidade do olhar de Simon.
O que quer dizer? Que eu menti, talvez?
Não — respondeu Simon, com a mesma voz lenta que irritava Olga e que começou a lhe dar medo. — Não, você não mentiu, você disse a verdade, mas diante de vinte pessoas.
E então?
E então foram vinte, pessoas demais — disse, levantando-se e tirando o casaco lentamente, fatigado, velho, cansado, mas também cansado dela, Olga Lamouroux, starlet de segunda classe que nada teria a fazer, na volta, se Simon Béjard mudasse de opinião.
Olga Lamouroux chamou Simon de "meu querido" com voz terna e pueril e ficou emburrada no escuro, tarde demais, esperando em vão que ele fosse consolá-la de sua própria maldade. À sua primeira tentativa de mudança de beliche, Simon Béjard levantou-se, tornou a vestir o casaco e as calças com um ar vago e saiu.
No bar deserto, viu no espelho, por trás de seu copo, um homem ruivo, um pouco flácido, mas com quem não se tinha vontade de brincar. E cuja cabeleira e barriga nem se notavam, tão frio era seu olhar. "Enfim, acabaram-se a grande música e os grandes sentimentos para Simon Béjard", foi o que disse com amargura para si mesmo, desviando a cabeça de seu reflexo, do que viria a ser.
Resmungando palavras mal-humoradas, Armand passara a perna para dentro da banheira, gigantesca e ridícula para um navio, segundo achava, e agarrado com a mão direita ao apoio de segurança ali imergiu progressivamente seu corpo delgado e branco, tão desprovido de músculos que, nu, adquiria ares de odalisca.
Instalado no fundo da banheira, Armand movimentara vivamente os pés, respingando água por todos os lados e lançando gritinhos alegres. Na verdade, chegou mesmo a estalar os dedos dos pés e das mãos, feito a que se aplicava havia anos sem ao menos uma vez ter "pensado nisso". "Edma tratá-lo-ia de débil mental se o surpreendesse." Por essa razão, levantou os joelhos quase até o queixo com um gesto brusco e começou a se ensaboar vigorosamente (como fazem os garotos no colégio diante dos inspetores), quando ouviu a porta da cabina abrir-se bruscamente. Um perfume de mulher que não reconheceu insinuou-se até a banheira, luxuoso e almiscarado como uma raposa, uma raposa azul, naturalmente. "Mas e o trinco?", pensou distraidamente, desolado, resignado a se levantar, se arrancar daquela doçura da água quente e do espetáculo oferecido pelos seus pés nus, lá no fundo, quando percebeu que a resposta precedera sua pergunta. Não ouvia qualquer diálogo ao lado, Edma estava só, indubitavelmente, e além disso até assovia-va uma canção ousada, ao que parecia a Armand, que devia ter ouvido algumas semelhantes duas ou três vezes na vida: como militar, como primo de um jovem interno de hospitais e como colegial, ainda mais cedo. Ela não o chamava, e no entanto seu terno estava pendurado no cabide perto da vigia e era impossível que não o tivesse visto. Começava a sentir frio, enquanto esperava na água morna, com o queixo encaixado entre os joelhos.
— Edma? — lançou ele lamentosamente, sem saber por quê. E como não houve resposta, gritou: — Edma! —, com voz mais aguda, e tanto quanto possível mais autoritária.
Pronto, pronto. . . estou indo — disse uma voz violenta, que não era de Edma, compreendeu de repente, mas da Doriacci, que se mostrava, parando na moldura da porta. A Doriacci estava com um vestido de noite amarrotado, a pintura excessiva mal aplicada, os cabelos negros caindo nos olhos, ar excitado e alegre como depois de uma impudicícia. Em suma, a Doriacci. E ele, o imperador do açúcar, Armand Bautet-Lebrêche, estava nu como um verme, sem seus óculos e sem sua dignidade, sem uma toalha para se enrolar diante dela. Olharam-se por um segundo desafiadoramente, e Armand ouviu-se suplicar:
Saia. . . saia, por favor. . . — com uma voz rouca e irreconhecível que pareceu despertar a Doriacci de uma vez.
Meu Deus, o que é que você está fazendo aí?
É meu quarto. . . — começou Armand Bautet-Lebrêche, levantando o queixo, como fazia nos conselhos de administração, mas sempre com voz alta.
Sim, é seu quarto, não há dúvida. . . Imagine que marcara encontrar-me com Edma aqui, mais exatamente no pequeno salão. E eu era demais ali — acrescentou alegremente, antes de se sentar tranqüila na beira da banheira acima de Armand, que abaixou as mãos sobre sua virilidade, aliás pouco impressionante.
Mas a senhora tem que ir embora. . . Não vai ficar
aqui.
Dirigiu à Doriacci um rosto suplicante, cheio de um fervor imenso que lhe fez lembrar os de milhares de fãs, como os via na base da escada de serviço nas óperas do mundo inteiro, esperando um autógrafo e lançando sobre ela sua notoriedade, seu mito, seus cílios postiços e sua arte, esse mesmo rosto esfomeado e idólatra. E a ilusão foi tão perfeita que, tomada por um impulso de bondade, a Doriacci inclinou-se sobre a banheira e pôs com violência sua boca fresca na dele, para em seguida rejeitá-la como se o infeliz se tivesse adiantado meio milímetro que fosse. E deixando-o, desequilibrado, escorregar para o fundo da banheira, buscando o apoio de segurança, saiu triunfalmente.
Foi com profunda sensação de alívio, a sensação de ter escapado por pouco, ter salvo a vida, que Armand Bautet-
Lebrêche, ao menos aquela vez esquecido de seus açúcares, estendeu-se no grande leito duplo de sua cabina e começou a instalar na mesa-de-cabeceira os dez objetos indispensáveis a essa outra travessia, o sono: dispôs ali comprimidos para dormir, comprimidos para relaxar, alguns para fazer funcionar os rins, outros para impedir a nicotina de chegar aos pulmões, etc. E ainda (mas estes previstos para a manhã), os medicamentos que produziam o efeito inverso: para ficar desperto, para aumentar a pressão, para decuplicar sua vigilância, etc, tudo arrumado em quadrados numa exígua mesa-de-cabeceira, como Napoleão arrumava os seus veteranos, na Áustria. Essa providência tomava-lhe todas as noites uma boa meia hora. E pelo menos ainda valia isso, naqueles nove dias de tédio mortal. Convém acrescentar que Armand Bautet-Lebrêche não sentia qualquer revolta nem acomodação, aliás, ao tédio total em que o lançava a inatividade. Aborrecia-se, pensava, porque ele mesmo era aborrecido, ou os outros o eram. De qualquer modo, aborrecer-se não era tão grave assim, era menos grave em todo caso que uma queda imprevista de ações, ou algum embargo aos açúcares. Durante toda a sua vida, aliás, Armand Bautet-Lebrêche aborrecera-se até a morte: na casa dos pais, com seus conhecidos, na casa dos sogros e finalmente com a mulher, mas, nesse particular, tinha que dizer honestamente que sua vida fora muito menos tediosa graças a Edma; Edma fora sempre, no gênero esposa, "uma chateante, mas não uma chata", como dizia aquele autor cujo nome não lembrava mais. Mas o que estaria ela fazendo agora? Constatava em todas as ocasiões, e não sem surpresa, que sua mulher Edma, na qual nunca pensava nos seus dias de Paris, ocupava o centro de seus pensamentos assim que estavam em férias. Ela ocupava-se de tudo, cuidava para que não se preocupasse com as passagens nem com as bagagens ou com as faturas. Pegava-o pelo braço e levava-o. Em qualquer parte aonde fosse, cuidava que ficasse bem penteado, bem alimentado, bem servido de revistas financeiras diversas e de jornais da Bolsa. Graças a isso, Armand Bautet-Lebrêche passava férias excelentes, embora quando Edma desaparecesse por mais de cinco minutos se sentisse completamente perdido, até mesmo desesperado. E quando Edma voltava de suas excursões em lombo de camelo no deserto, suas expedições aos portos de prazer nos braços de um homem jovem, encontrava sempre, três horas depois, Armand acordado, sentado na cama, e todas as vezes ele a via entrar com expressão de felicidade, de prazer, de alívio também, de tal forma que ela acabava por vezes se perguntando se, no fundo, não tinham estado sempre loucamente apaixonados um pelo outro ■— pelo menos ele por ela. Isso daria um tema muito bom para um filme, pensara uma vez, e confiou a Simon Béjard: um homem e uma mulher vivem em boa harmonia há anos. Pouco a pouco, graças a detalhes, a mulher percebe que o marido a adora. Finalmente convencida, deixa-o exatamente a tempo, antes que ele lhe confesse seu amor, ajudada por um amigo de infância do marido que, ele sim, permaneceu normal.
Simon pusera-se a rir enquanto ela lhe falava a esse respeito (mas sem indicar as origens do tema). E Edma ainda ria agora, pensando na expressão de Armand se lhe dissesse: "Armand, eu o amo", assim, de repente, depois do chá. . . Cairia da cama, o pobre queridinho. De tempos em tempos Edma Bautet-Lebrêche enternecia-se assim por alguns minutos com o destino daquela formiguinha trabalhadeira e discreta chamada Armand Bautet-Lebrêche, seu marido. Por vezes, mais de três minutos mesmo, antes de lembrar que ele arruinara seus próprios amigos, que espezinhava os fracos e que a palavra "coração", quando a usava, representava o de uma usina ou de uma maquinação. Vira-o comportar-se como um mercador de escravos duas ou três vezes, e sua educação burguesa, ultrapassada e espezinhada, fizera-a compreender definitivamente as diferenças entre a pequena burguesia e as grandes fortunas, diferenças que nunca seriam por demais sublinhadas por Scott Fitzgerald. Todas essas lembranças chegavam a lhe dar um frio na espinha, anos depois.
Bateram à porta, Armand era incapaz de imaginar, com seus hábitos de normalidade, que fosse outra pessoa além do camareiro que vinha naquela hora tardia à sua cabina. Gritou: — Entre — com voz irritada, a voz de comando que retomara e de que apreciava se servir de repente dois tons mais alto, como se o ar que engolia e rejeitava brutalmente por entre os lábios expulsasse também a lembrança da Doriacci, de sua boca que cheirava a cravo ou a rosa (Armand não sabia realmente mais o que cheirava a quê, entre as flores), a lembrança do constrangimento que o atacara com risco de afogá-la. Mas quando viu que a porta ficou entreaberta, sem que ninguém com voz zelosa respondesse à sua interpelação: "Garçom", pensou que estava de novo perdido: a Doriacci teria apenas ido pôr uma toalete de noite, um vestuário aracnidiano qualquer; e como os jovens a aborreciam e os achava sem graça, como parecia se depreender de suas conversas, tinha lançado suas intenções sobre ele, Armand, devido à idade talvez, mas sobretudo pela sua fortuna. A Doriacci, apesar de seus milhões dos cachês, queria também a fortuna dos Lebrêche (Bautet era apenas o nome de solteira de sua mãe, que a família tinha ligado ao do pai, como ela desejava, e isso sem generosidade nem modéstia, pois o capital das fiações Bautet representava apenas um terço do dos Lebrêche). "Pois é, Doriacci ou não Doriacci", repetia febrilmente Armand, "a fortuna açucareira feita pelos meus pais, meus avós e meus bisavós não mudará de proprietário."
Ia explicar tudo isso imediatamente à Doriacci, talvez ela ficasse com medo. . . E na sua inocência Armand esboçou uma careta que acreditava inquietadora, mas que era antes cômica, pois Eric Lethuillier, na porta, caiu na gargalhada. O que estaria fazendo ali aquele sujeito agora? Armand Bautet-Lebrêche pestanejou do fundo de sua cama e murmurou: — Saia! saia! —, desesperadamente, como devia ter dito o papa Alexandre aos pequenos Borgias que o viam morrer. — Saia — repetiu fracamente, virando a cabeça para a esquerda e a direita, "como os moribundos nos filmes americanos", pensou bruscamente. E corou por causa do julgamento provável do olhar azul, pensativo e sensato daquele homem. Ergueu-se de um golpe na cama, sorriu, tossiu para clarear a voz e disse, estendendo uma mão pequena mas viril que não combinava com o pijama:
— Como vai você? Desculpe-me, estava sonhando.
O senhor achava mesmo que eu saísse — disse Eric, ainda com seu belo sorriso frio que atraíra, de tubarão a tubarão, uma certa consideração por parte de Armand. — Vou satisfazer seu sonho muito depressa, mas antes tenho um favor a lhe pedir, caro senhor. Veja de que se trata: minha mulher fará trinta e três anos amanhã ou depois, eu acho, ao chegarmos a Cannes. Eu queria oferecer-lhe o Mar-quet do nosso amigo Peyrat, que ela deseja, mas receio que aquela briga estúpida o iniba e impeça de vender-me o quadro. O senhor poderia fazer essa compra para mim? Aqui está um cheque para reembolsá-lo.
Mas. . . mas. . . — balbuciou Armand. — Peyrat vai ficar furioso.
— Não... — (Eric deu um sorriso um pouco cúmplice que constrangeu vagamente Armand.) — Não, se esse quadro for para Clarisse, decentemente ele não poderá se irritar. E uma vez vendido o quadro, não haverá nada a fazer. . . Além disso, acho que nosso amigo Peyrat ficará bem contente de vender esse quadro, de qualquer maneira.
Dera uma entonação a esse "bem contente" que despertou em Armand, de imediato, o homem de dinheiro à espreita, ligeiramente anestesiado por esse cruzeiro.
O que você quer dizer com contente? Você está seguro de que esse quadro é verdadeiro? Quem o confirma? Duzentos e cinqüenta mil francos são duzentos e cinqüenta mil francos ■— disse com má fé. (Porque, apesar de sua avareza, o número de zeros num cheque já não representava mais nada para ele. Mais nada, em todo caso, que se possa comprar ou dê prazer. Duzentos e cinqüenta mil francos não eram nada de fato para Armand, já que não chegava a ser uma quantia que se pudesse manobrar com eficácia na Bolsa.)
É o próprio Peyrat, que tem todos os certificados e é ele mesmo que garante — disse Eric com ar despreocupado. — E depois, você sabe, se Clarisse gosta desse quadro, gosta dele porque é belo, e não por esnobismo. Minha mulher é tudo, menos esnobe, como o senhor pode ter observado — acrescentou, inclinando um pouco a cabeça com o mesmo sorriso (que desta vez, estava seguro, repugnava realmente a Armand Bautet-Lebrêche).
Está combinado — disse, mais secamente do que queria. — Amanhã de manhã, na primeira oportunidade, eu o encontrarei na piscina e lhe farei um cheque.
Aqui está o meu — disse Eric, dando um passo na direção de Armand, e apresentando um papel azul-claro, o papel idílico de cor pastel dos bancos franceses. E como Armand não esticava a mão para apanhá-lo, Eric ficou um segundo num pé só e se perturbou, acabando por dizer: — O que faço com isto? — com uma voz hostil a que Armand Bautet-Lebrêche respondeu no mesmo tom:
Ponha-o em qualquer lugar — como se aquele papel fosse algo feio de ver. Os dois homens entreolharam-se e por uma vez Armand estava atento: Eric lançou-lhe seu sorriso maravilhoso, inclinou-se até mesmo com graça e disse:
Obrigado — com a bela voz quente que na televisão exasperava Armand, lembrou-se ele.
Eric saiu.
Armand Bautet-Lebrêche deixou-se escorregar na cama, apagou a luz e ficou imóvel no escuro três minutos, antes de se levantar, acender febrilmente o abajur e deixar escorregar pela garganta mais dois soníferos, que, se fosse preciso, resistiriam às insinuações voluptuosas da Doriacci.
O Narcissus levava dezoito horas de Palma a Carmes, que atingiria atravessando o mar alto e sem escala, estando a chegada prevista para a noite, para o jantar antes das despedidas. O tempo estava magnífico. O sol pálido estava matizado de vermelho, e o ar, mais fresco, tenso, mas de uma tensão diferente da que reinava a bordo. Sentia-se, pelo contrário, as alfinetadas de uma vivacidade e de uma vitalidade um pouco friorentas, nesse dia triunfante, andando-se pelo convés desse navio que levava seus passageiros de volta ao inverno e à cidade. Fazendo-se a conta, pensava Charley, haveria certamente maior número de passageiros aterrorizados do que encantados com a aproximação do inverno; entre os passageiros para quem Paris soava como uma promessa só havia Clarisse e Julien, para quem Paris representava dez mil quartos tranqüilos e difíceis de serem encontrados, e Edma, para quem seria uma felicidade contar em Paris as peripécias da viagem. Edma, que voltava cheia de amor por aquela multidão de ricos que a esperava e dentre a qual ela não gostava de ninguém isoladamente, mas cuja rapidez, acrimonia e esnobismo lhe esquentariam o coração, de forma extragavante, mas certa. "Talvez o esnobismo fosse afinal uma das paixões mais sãs, quando já não se tinha idade para outras", filosofava Charley, contemplando Edma, que jogava pedaços de pão aos delfins e às gaivotas com o mesmo gesto que faria provavelmente para oferecer canapés de caviar ou de patê de fígado em sua casa. Edma participava desse cruzeiro havia quatro anos. Charley, de início aterrorizado, acabara por se prender a ela, sobretudo neste ano, em que fora encantadora e só devolvera à cozinha quatro vezes o café da manhã. Nem mesmo ameaçara descer na primeira parada, como dizia, o que já era um grande progresso. Mas Charley se perguntava se esse progresso não era devido às distrações realmente numerosas aquele ano no Narcissus, que não teriam dado tempo a Edma para se demorar demasiadamente sobre o ponto de suas torradas ou o trabalho das passadeiras. Estava visivelmente encantada, lançando o pão para o ar e rindo seu grande riso mundano e tonitruante; parecia uma colegial. Parecia estar em cheio na idade ingrata, de fato, disse Charley para si mesmo, pressentindo que ela nunca sairia dessa fase, como Andreas também não sairia da infância, Julien da adolescência e Armand Bautet-Lebrêche da velhice.
Mas o que é que eles têm, Charley? Esses animais não comem pão?... — Charley aproximou-se correndo da elegante Mme Bautet-Lebrêche, vestida com uma japona azulem e uma saia plissada de linho cor de pão integral, apertada na cintura sobre uma blusa de malha estampada azul e branca, e com um chapéu do mesmo azul da japona. Parecia uma fotografia de revista de modas. Era a própria elegância, como lhe declarou inclinando-se sobre sua mão enluvada e instruindo-a sobre os costumes dos cetáceos, mas ela cortou-lhe a palavra:
É o último dia, Charley. Estou bem triste, este ano.
Tínhamos combinado, ontem, não falar nisso até Cannes ■— disse ele sorrindo.
Mas seu coração sangrava, como gostaria de confessar a Edma. De fato, seria em Cannes que Andreas desapareceria de sua vida, como da vida da Diva e dos outros passageiros. Andreas não pertencia ao mundo deles, nem ao seu ambiente ou à sua cidade, nem ao seu bando.
Andreas, como um príncipe perdido entre a plebe ignorante, vinha do seu reino de Nevers, para onde voltaria muito breve para viver uma existência pacífica e trabalhosa, de braço com uma mulher que ficaria com ciúmes dele toda a vida. Era isso o que o esperava, ou pelo menos era o que pensava Charley, que não pôde deixar de comunicar a Edma suas intuições.
— Ah! Você o vê instalado em Nantes ou em Nevers, vivendo uma vida burguesa? É engraçado, eu não o vejo assim — disse Edma com os olhos franzidos para o horizonte atrás de Charley, como se estivesse vendo ali escrito o futuro de Andreas.
Edma batia com o indicador nos lábios e parecia ter dificuldade em formular uma opinião.
Que outra coisa a senhora acha que poderia ser?
Eu, eu o vejo num mau começo de vida — disse sonhadoramente. — Vejo-o, antes, nunca partindo, não partindo nem mesmo deste navio. Mal vejo o que poderá fazer agora, no cais, sem dinheiro e sem família. . . Ah! Realmente, meu querido Charley, Deus sabe que nunca lamentei que um homem fosse viril, pois é, mas, para Andreas, preferia vê-lo em seus braços do que arrancado aos braços da Doriacci.
— Eu também teria preferido — comentou Charley, tentando sorrir.
Mas doía-lhe a garganta e assustava-o que Edma, como ele, temesse por Andreas; ela, Edma Bautet-Lebrêche, que nunca temia nada por quem quer que fosse, a não ser que esse quem quer que fosse não tivesse sido convidado a um baile a que ela iria.
Clarisse também está inquieta — disse ele em voz baixa. E Edma olhou-o, viu sua expressão, e deu-lhe tapinhas na mão, enternecida.
Também foi um cruzeiro duro para você, caro Charley.
Eu estava justamente contando os que saíram ganhando. Vejamos. . .
É uma boa idéia. . .
Edma apoiou-se na amurada perto dele e, num segundo, os dois estavam com os olhos brilhantes, o ar excitado, à idéia das maldades ou brincadeiras estúpidas a se dizerem sobre o próximo. Estavam tão divertidos de antemão que se esqueceram por duas horas do destino de Andreas.
Venha comigo — dissera a Doriacci a Simon Béjard, que achava singularmente reanimado essa manhã, e quase elegante em seus jeans e seu casaco largo demais. Via-se bem que essa manhã a jovem Olga não cuidara de seu vestuário; e que também não tivera tempo de lançar àquele pobre rapaz uma ou duas frases desagradáveis, frases de que ele procuraria se livrar durante todo o dia, conseguindo-o mas não sem um esforço tão visível, que dava pena de ver. A Doriacci chegara a pensar na última noite em subornar o bravo Simon e confiar-lhe o papel principal no plano que tinha em mente, e não, como agora, o de testemunha. Mas isso era muito complicado e sobretudo não pareceria verossímil a Andreas. Disparou na direção do bar e sentou-se tranqüilamente ao balcão, onde se apoiou para refazer sua maquilagem sem economizar batom e rímel. Tinha olheiras, o que lhe dava um ar frágil inesperado, "quase desejável", pensou Simon Béjard, esquecendo por um instante sua preferência pelas jovens em flor.
Você quer me levar a beber tão cedo? — perguntou, sentando-se ao lado dela.
Exatamente. Gilbert, dê-me dois martínis secos, por favor — disse, dirigindo seu sorriso deslumbrante e um piscar de olhos bastante acentuado ao barman louro, que estremeceu de prazer, piscadela que lhe foi confirmada quando pousou o copo diante dela e a Doriacci pousou por um segundo sua mão cheia de anéis sobre a dele, chamando-o de "meu anjo".
Eu queria lhe pedir uma coisa, sr. Béjard, além de se embebedar horrivelmente comigo mal o sol se levantou. Por que você não leva meu protegido para o cinema? Ele tem físico para isso, não?
Mas já pensei nisso — disse Simon, esfregando as mãos com expressão finória —, mas já pensei nisso, imagine. Logo que chegarmos a Paris pretendo levá-lo para fazer um teste. Temos falta, na França, de galãs dessa classe que não tenham cara de cabeleiros nem de gángsteres histéricos. Estou bem de acordo com sua opinião. Estou perfeitamente de acordo — insistiu, sem prestar atenção a sua frase, o que fez rir a Doriacci.
— Que opinião? — perguntou ela engolindo de um trago o coquetel, "aliás, terrivelmente forte", pensou Simon.
— Qual você acha que é a minha opinião?
— Pois é. . . — disse Simon, enrubescendo de repente.
— Eu queria dizer que ele também servia muito bem para o cinema.
Por que "também"? — repetiu ela, com ar sério.
Para o cinema também.
Mas o que é esse "também"?
Ah, estou me enrolando. . . Enfim, querida Doria, não me atormente, eu lhe digo que farei tudo o que queira por esse rapaz.
Posso contar com o senhor, sr. Béjard? Ou está dizendo isso para consertar a sua gafe?
Estou lhe falando seriamente. Vou me ocupar dele e de sua subsistência.
E do moral também? Acho esse rapaz muito jovem para ter desgostos amorosos. Você me promete não rir do seu desgosto?
Não precisaria fazer muito esforço — disse Simon sorrindo. Levantou os olhos e, encontrando o olhar mineral e encarvoado diante dele, viu-o ternamente pousado sobre si e ficou comovido.
—Você sabe. . . — começou.
Mas a Doria pôs a mão sobre a boca de Simon vigorosamente, o que o fez morder a língua e abandonar a fantasia.
Sim, eu sei — disse ela —, e pensei nisso também, pode imaginar.
Mas então? Não há obstáculos — disse Simon despreocupadamente.
Pare — respondeu a Doriacci nervosamente. — Tinha pensado em você para convencer Andreas da minha infidelidade e até da minha perversidade em coisas do amor. E depois pensei que não funcionaria, ele jamais acreditaria.
— Por minha ou por sua causa? — perguntou Simon.
Minha, naturalmente. Eu gosto de carne fresca, muito fresca, você sabe, não? Você lê os jornais, não é verdade?
Eu leio mas não acredito, exceto quando me convém.
Pois é, mas desta vez eles têm razão. Acho que Gilbert seria mais verossímil.
E como é que você quer fazer Andreas acreditar? E por quê, aliás?
A ordem de suas perguntas está errada — explicou severamente. — Quero que ele acredite nisso para não pensar mais em mim durante semanas e não se convencer de que o espero em Nova York. Quero que acredite para que fique tranqüilo, e eu também. E, uma única vez, acredito que mais por ele do que por mim. Quanto a saber como poderei fazê-lo acreditar, só há um meio de provar um adultério, meu caro Simon, é preciso fazê-lo diante dele. Essa a razão pela qual lhe ficaria grata se você concordasse comigo na necessidade dessa encenação, e enviasse Andreas, por volta das três horas, sob um pretexto fútil, até minha cabina, onde estarei, mas não só.
Mas... — disse Simon, chateado. — Eu não gostaria de fazer esse papel. . .
Reflita — disse a Doriacci, de repente, com ar cansado —, e beba um outro martíni, ou dois, ou três, à minha saúde. Não terei tempo de bebê-los com você, infelizmente; tenho coisas a resolver aqui — terminou, batendo com o anel na borda niquelada do bar.
E Simon, com uma reverência e uma frase confusa, virou-se nos calcanhares, deixando a Doriacci face a face com Gilbert e seus cabelos louros.
Via da porta do bar Edma Bautet-Lebrêche lindamente vestida de azul e branco, jogando alguma coisa por cima da amurada com gesto amplo e fervoroso de um semeador, inesperado nela.. . Simon estava intrigado: as gaivotas não voavam tão baixo. . . Mas o barman louro pôs fim à sua perplexidade, informando-o da existência de delfins que seguiam o navio. Em circunstâncias mais comuns, Simon teria se levantado e corrido até a amurada, imaginaria imediatamente um filme em que os delfins tivessem um papel e Olga, outro. Mas agora que fora bem-sucedido, já não podia se permitir esse amadorismo. Não tinha desculpas para perder, pois já tinha ganho. E sua natureza de produtor, despertando apesar de tudo, levou-o a pensar com alguma satisfação que essa briga e esse cansaço que sentia em relação a Olga iam lhe permitir na volta escolher para seu filme a pequena Melchior, que era encantadora e que, sem lhes falar de Einstein ou de Wagner, ainda assim seduzia os homens de qualquer idade na França; até mesmo as mulheres ela enternecia, sentimento que Olga jamais provocara, e, era preciso dizer, em sexo algum. Dispensando Olga, poderia contratar Constantin, a quem renunciara para não desa gradar à jovem, que o detestava. Assim, asseguraria um cartaz brilhante para os distribuidores, suscetível até de agradar em Nova York. Em nenhum instante se perguntou como o anunciaria a Olga: ele a amara demais, cruelmente demais para conservar na ruptura qualquer mansuetude. Não se tratava de se vingar deliberadamente; seu próprio coração, esgotado por esses choques, já não podia imagina um desgosto exterior a ele próprio. Um desgosto diferent do seu.
Saiu da sala de jantar e acendeu um cigarro no convés. Ficou ali, ao sol, com uma das mãos nos bolsos de sua velha calça. Tinha um sentimento de autonomia e de bem-estar que não experimentava há muito tempo.
O navio era encantador, decididamente, e era preciso reconhecer que Olga, sem o saber, fizera uma boa escolha. Gostava bastante de Edma; ela ia lhe fazer falta como um colega de escola, como o amigo que não tivera nestes últimos anos. Alimentava seus delfins ao longe, ou tentava fazê-lo com seus gestos extravagantes, sua voz penetrante e autoritária, que ele achava agora sedutora. Chegando perto dela, pôs-lhe a mão sobre os ombros afetuosamente e, após um ligeiro sobressalto, Edma Bautet-Lebrêche pareceu apreciar aquilo, e até apoiou-se naquele ombro, rindo ao lhe mostrar os delfins, como se eles fossem sua propriedade particular. Instintivamente, aliás, apropriava-se de tudo: de pessoas, navios, paisagens, músicas, observou Simon, e, agora, dos delfins.
Vou sentir sua falta — disse com voz ríspida. — Vou ficar com saudades suas, acho, bela Edma. . . e, depois, a gente não poderá se rever nunca em Paris. Deve haver uma grande muralha da China de açúcar-cande em torno de nós em Paris, não?
Mas de modo algum! — disse Edma, contorcendo-se (um pouco surpresa com essas mudanças na personalidade de Simon: passara do papel de vítima, portanto assexuado, para o de macho solitário e caçador, "que lhe ficava muito melhor, sem dúvida", pensou ela contemplando aqueles belos olhos azuis, o físico adequado, e a pele um pouco vermelha sob os cabelos ainda fortes, sadios, embora excessivamente vermelhos). — Mas naturalmente que sim... Nós vamos nos ver neste inverno. Você é que estará sobrecarregado, meu caro Simon, com seu filme e os prováveis aborrecimentos com a Lamouroux, o-u-x, em cena.
Acho que afinal não poderei utilizar os serviços da srta. Lamouroux, o-u-x — disse Simon com voz calma, evitando qualquer comentário desagradável. — De qualquer modo, vivo só, você sabe, em Paris e em todos os lugares.
Ah, então. . . Eram as suas férias este cruzeiro — disse, rindo (como se essa palavra, "férias", fosse ridícula no caso, como efetivamente o era, se é que se podiam chamar de férias dez dias de desgostos sentimentais).
Simon curvava a cabeça sob uma lembrança penosa: a de Olga em seu beliche, contando-lhe com detalhes a noite em Capri. Sacudiu-se e sentiu o perfume de Edma, um perfume sofisticado e delicioso que também lhe ia fazer falta, dava-se conta naquele momento. Esse perfume o teria ninado, ao que parecia, toda a viagem, pois Edma servia-se dele generosamente e deambulava por toda parte do navio sem cessar, do porão ao último convés, deixando seus eflúvios no seu rastro, como bandeiras. Simon apertou-lhe o braço. Edma, surpresa, levantou os olhos para ele, e, para sua estupefação, o produtor vulgar e ignorante da existência de Darius Milhaud beijou-a na boca rapidamente, mas com entusiasmo.
— Mas o que é que está fazendo?. . . Perdeu a cabeça?. . . — ouviu-se gemer como uma mocinha.
E os dois ficaram perplexos por um segundo, olhan-do-se antes de caírem na gargalhada, um e outro, retomando ainda rindo o clássico passeio em torno do tombadilho, de braços dados. "Sim", pensava Edma, alongando as passadas, "eles se veriam às escondidas. . . Sim, teriam uma ligação platônica ou não, que importava!" Como lhe dissera, ele ia sentir sua falta, ela ia fazer falta àquele homenzinho que achara tão feio e vulgar e que, agora, achava tão encantador, e que também sentia necessidade dela, como estava lhe dizendo naquele mesmo momento, com ar zombeteiro mas terno.
— Eu talvez conseguisse aprender boas maneiras, se você me desse aulas todas as semanas em Paris. . . não acha? Isso me daria muito. . . muito prazer, se você tivesse tempo de me instruir.
E Edma, com os olhos brilhantes e uma alegria idiota, concordou vigorosamente com a cabeça.
Foi portanto de bom humor que Simon voltou para sua cabina ali pelas onze da manhã, pensando encontrá-la vazia, como de hábito, pois Olga teria saído para jogar tênis ou gamão com Eric Lethuillier. Ficou mais decepcionado que surpreso, encontrando-a na cama num roupão de banho demasiado curto, enrolada, com as pernas dobradas, graciosamente enlanguescida em seu travesseiro, com um livro na mão e os olhos maquilados. "Ora! Ela pensou afinal em seu filme", refletiu uma pessoa cínica que fazia a lei em Simon desde a véspera e que pensava por ele. "É do meu interesse só lhe dizer as coisas depois de Cannes. Uma série de cenas nesta cabina seria infernal." E quando Olga lhe sorriu com um sorriso ligeiramente ansioso, como lhe pareceu, Simon forçou-se para lhe retribuir com outro muito cordial. E essa amabilidade nova, evidentemente forçada, acabou por preocupar Olga. Desde as nove horas da manhã, quando despertara sozinha, ao lado de uma cama nem mesmo desfeita, repetia-se os últimos acontecimentos e se preocupava com seus numerosos excessos de linguagem e gestos, que ela própria achava difícil qualificar como injúrias. O que a teria levado a fazer aquilo? E por uma vez, ao invés de esboçar um relato lírico, visando suas colegas, sobre seus caprichos romanescos, Olga guardou seus discursos para si mesma. Tratava-se bem de Fernanda e Micheline agora. .. ou, mais exatamente, seria um relato menos agradável se fosse a única coisa que tivesse que fazer durante todo o dia. E o próprio relato não teria sal, pressentia, junto ao seu auditório, se fosse um relato de uma starlet desempregada. Era preciso reconquistar Simon, e ela pensava, graças a Deus, ser perfeitamente capaz disso. De um só golpe, o que ela chamava de repugnantes apetites de Simon tornavam-se bem-vindos; por meio deles, talvez reencontrasse seu lugar e seu poder. Quanto à gentileza servil do mesmo Simon, que tanto deplorara, não estava descontente, hoje, com sua existência, que impediria Simon, pensou Olga, de descartá-la como uma velha mala. Por essa razão, quando ele entrou, ela subiu discretamente o roupão até a coxa, com um gesto rápido que ele viu no espelho ao se virar e que lhe inspirou uma resposta grosseira que teve dificuldade em conter.
Aonde é que você foi? — disse ela. — Fiquei com medo quando acordei. . . Vi-me perdida nesse navio, sozinha com esses estranhos, fora de casa, com essa gente que afinal me irrita. . . Oh, meu querido Simon, na próxima vez partiremos os dois sozinhos, está bem? Alugaremos um barco pequeno com apenas um sujeito para guiá-lo, pararemos nos botecos ao acaso, sem música clássica, sem panoramas, apenas um boteco, como você gosta. . .
É uma idéia muito boa — disse Simon com voz comedida. (Procurava rapidamente uma roupa para se trocar.) — Mas, pessoalmente, achei muito bom este cruzeiro, sabe?
Não se chateou demais com esses esnobes?
Achei-os encantadores — disse Simon, após enfiar a cabeça numa camiseta limpa. — Muito gentis mesmo.
Ainda assim. . . você é um pouco indulgente!. . . Não, acredite-me, se alguém de fora visse você, Simon, tão autêntico, na companhia desses fantoches careteiros! Posso lhe garantir que não combina. É mesmo engraçado desse ponto de vista — acrescentou, com um risinho ainda divertido, mas que ressoou lugubremente.
Aquele riso só soava falso por acaso, e poderia continuar assim. Mas Simon pigarreou de maneira tão evidente que ela interrompeu a frase, e ele puxou a camiseta com energia, sabendo um e outro que essa distância entre o riso e as palavras que o tinham precedido não lhes podia escapar, honestamente, sabendo ambos que aquele riso acabava de quebrar a frágil chance que tinham de descer como bons amigos a escada do Narcissus, ou pelo menos aparentemente como algo semelhante ao que eram ao subir. Olga puxou lentamente o roupão para as pernas, escondendo-as, enquanto seu instinto lhe dizia que já não era aquele o argumento válido, e Simon deixou a camiseta por fora da calça, sabendo que a fuga para o seu interior já não era possível. Sentaram-se cada um num beliche, com os olhos baixos, sem ousarem se olhar. E quando Simon declarou com voz morna: — E se bebêssemos alguma coisa? — Olga sacudiu a cabeça em sinal de assentimento, ela que, por causa da pele e da lucidez, nunca bebia antes das oito da noite.
A campainha do despertador estava surpreendentemente fraca, e aliás parou, ofegante, quando ele abriu os olhos. "Devia estar tocando há algum tempo", pensou Armand Bautet-Lebrêche, que se surpreendia por não tê-la ouvido antes e se perguntava por quê, até o momento em que um camareiro lhe pousou o chá nos joelhos e se queixou de ter batido três vezes sem obter resposta. Pelo menos foi o que Armand pôde perceber dos sussurros incompreensíveis que lhe chegaram. Estava surdo. Mais uma vez, com um ligeiro resfriado, agravado pela contrariedade, Armand Bautet-Lebrêche fora atacado de surdez, o que lhe acontecia de cinco em cinco anos mais ou menos. Assoou-se energicamente, inclinou a cabeça à direita e à esquerda sem conseguir desobstruir os tímpanos, tão traumatizados quanto ele próprio, parecia-lhe, pelos incidentes inenarráveis da véspera. Poderia acreditar num pesadelo, se o cheque de Le-thuillier em sua mesa-de-cabeceira não lhe provasse o con, trário. Edma dormia um sono de pedra ou já devia ter saído, o que foi verificar, antes de lembrar que ela lhe falara na véspera, como de uma festa, de seu desejo de passar o dia inteiro ao sol. O último sol do ano, como dizia lamentosamente, e como se ela não fosse se reencontrar com pederastas na Flórida e nas Bahamas, todos os anos, mal novembro se anunciava.
Vestiu-se com seus pequenos gestos metódicos e precisos, barbeou-se com o barbeador elétrico e, tendo verificado pela vigia se o navio ainda estava andando, suspeita que lhe dava o silêncio total das máquinas, partiu para o convés a fim de fazer seu passeio matinal, sem responder aos diversos bons-dias que lhe dirigiam. Tendo dado sua volta num mar sem voz, voltou para buscar seu talão de cheques e foi bater na porta de Julien Peyrat. Bateu várias vezes mesmo, esquecendo que Julien Peyrat ouvia os socos na porta. Tulien atendeu-o e declarou akuma coisa totalmente incompreensível, mas que pareciam palavras de boas-vindas, às quais Armand Bautet-Lebrêche respondeu com um brusco cumprimento de cabeça.
Que boa surpresa! O senhor é realmente a única pessoa que não visitou minha cabina e minha obra-prima. Será uma curiosidade tardia que o traz?
Não, não, absolutamente. . . Na verdade, não tenho vontade de jogar tênis agora — disse Armand Bautet-Lebrêche ao acaso —, mas poderemos jogar hoje de tarde — continuou, com expressão benévola.
Julien Peyrat estava com um ar inquieto, até mesmo decepcionado. Talvez Lethuillier tivesse razão e aquele rapaz, falsário ou não, pretendesse vender o quadro a um trouxa. . . Mas Eric Lethuillier parecia muito sabido para esse papel. . . Armand Bautet-Lebrêche deu de ombros.
Está vendendo esse quadro? — perguntou, designando a coisa pendente da parede da cabina. — Mas por quanto? Eu queria comprá-lo — concluiu secamente.
Sua mulher está sabendo dessa compra? — disse Julien, que tinha um ar perplexo e menos contente do que supusera Eric Lethuillier.
"Afinal de contas, se esse quadro é bom", pensava Armand, "deve valer bem mais de duzentos e cinqüenta mil francos."
— Estou persuadido de que vale duas vezes o preço que você pede — disse ele à guisa de resposta. — Mas se você está disposto a vendê-lo, por que não a mim? — acrescentou, com um risinho satisfeito.
— Sua mulher está de acordo?
Julien vociferava agora. Estava vermelho e de cabelos eriçados. "Ele nada tem de gentleman", pensou Armand, recuando um passo diante daqueles dentes brancos que roçavam sua orelha.
O quê? — disse por polidez e com um gesto de impaciência para seu ouvido, o que fez Julien urrar mais uma vez:
Sua mulher! Sua mulher! — antes de renunciar definitivamente a ser honesto.
Afinal de contas, Armand parecia não estar se importando a mínima, e Armand Bautet-Lebrêche não precisaria um dia vender esse quadro para viver, acontecesse o que acontecesse. Tirou, portanto, da mala, blasfemando, os poucos certificados falsos, com exclusão de um último, que correspondia, aliás, a um outro Marquet, preciosamente conservado por Julien, esse verdadeiro. Colocou-os na mão de Armand, que os enfiou no bolso sem lhes lançar um olhar, com a desenvoltura de homem rico, pensou Julien. Edma lhe devia ter feito uma cena para que o comprasse, por gentileza a ele, Julien, e Armand só tinha uma pressa, a de acabar logo com aquele negócio.
— Quanto? — perguntou com sua voz pausada e os óculos brilhando ao sol.
Ao preencher o cheque, teve uma tal expressão que fez Julien estremecer. Com sua arma na mão, seu talão de cheques, Armand Bautet-Lebrêche tinha um ar feroz e brutal, até mesmo perigoso, sentimento que não inspirava durante as férias. O único perigo que representava era um tédio pútrido.
— Duzentos e cinqüenta mil francos! — gritou Julien uma ou duas vezes (e o cão, no entanto, situado a duas cabinas e que ele pensava morto, ou amordaçado, pôs-se a rosnar para ele).
Julien escreveu a quantia no papel e o mostrou a Armand e, com um breve obrigado, Armand enfiou-se pelo corredor com o quadro debaixo do braço. O negócio fora feito tão depressa e de maneira tão inesperada que Julien não teve tempo de dizer adeus ao fiacre, à mulher, à neve. E talvez tivesse sido melhor assim, pensou, com uma lágrima no olho direito, mas o olho esquerdo encantado, pois, graças a esse papelzinho verde deixado por Armand, poderia levar Clarisse para passar dias ao sol e noites em seus braços, logo no dia seguinte. Iriam ao Var, ou ao Taiti, ou à Suécia, à Lapônia, a qualquer lugar, tudo o que ela quisesse e que agora estava em condições de lhe dar. O dinheiro não traz felicidade, não há dúvida, mas dá liberdade, constatou Julien mais uma vez.
Armand Bautet-Lebrêche, com o mesmo passo apressado, ainda sem poder ouvi-lo ressoar, atravessou o corredor acolchoado, bateu à porta de Lethuillier, entrou em seu quarto sem esperar um "Entre" que não ouvira, ele sabia, e viu Eric lhe dizer qualquer coisa, muitas coisas mesmo, com seu belo rosto animado de prazer, e, sem prestar atenção ao movimento dos lábios e das mãos agitadas, pousou o quadro no beliche vazio de Clarisse e tornou a sair sem palavra e sem ouvir nenhuma também. Armand Bautet-Lebrêche entrou em seu quarto, onde o silêncio lhe pareceu de uma qualidade ainda superior. O Financial Times chegara à caixa do correio. Instalou-se na cama completamente vestido e abriu o jornal na página em que esperava um artigo apaixonante sobre o desconto das ações petroleiras holandesas. A gentil Clarisse não tinha de que se queixar do marido, pensou no entanto. . . Edma não sabia o que dizia: não havia a menor discórdia entre os Lethuillier.
Naquele momento, Julien ardia de impaciência por encontrar Clarisse e lhe dar a notícia. Também não devia mostrar demasiado entusiasmo. Fizera bastante o papel do janota, tinha se pavoneado demais diante de Clarisse para estar exibindo agora esse fato como um triunfo, e falar desses vinte e cinco milhões como se fossem uma bagatela. Foi com ar desligado que acendeu o cigarro com seu isqueiro de baquelita, que punha tudo a perder, descobriu subitamente com vontade de rir.
— Sabe, acho que finalmente consegui arrumar nossa viagem ao inverso!. . .
Essa viagem ao inverso era o título que tinham escolhido para sua escapada, uma viagem que lhes faria sem dúvida tornar a atravessar o Mediterrâneo e partir com o sol de outubro para um país longínquo, como se o cruzeiro musical fosse apenas um treino, "como se", pensou ele, "esse navio, esses barmen louros, esses mundanos, essa gente rica, como se toda essa música divina, todas essas notas fosforescentes lançadas do convés, de noite, nesse mar onde pareciam flutuar um instante antes de desaparecer, como se essas paisagens, esses odores, esses beijos roubados, esse temor de perder o que ainda não tinham ganho", como se toda essa viagem tivesse sido concebida e executada por Julien como o cenário personalizado de seu encontro. E Julien, que detestava Richard Strauss, cantarolava agora, sem poder parar, as cinco notas de Burlesque, cinco notas triunfantes e ternas, como ele tinha a impressão de se ter tornado agora, pelo menos quando Clarisse olhava para ele. "Você está maluco", pensava, interpelando-se febrilmente, "você foi um louco por ter se metido nisso. Quando não tiver mais um vintém, irá sem dúvida trapacear em algum lugar deixando Clarisse à sua espera, sozinha no quarto de um hotel de luxo ou de uma pensão local, conforme suas últimas perdas." Ela não suportaria, mesmo que ele fosse feliz com ela e lhe mostrasse isso. Porque instintivamente sabia que, mais do que ser feliz, Clarisse sonhava ter alguém que fosse feliz por causa dela e que esse alguém lhe dissesse isso sem cessar e sem nuanças.
—Como foi que você fez? — perguntou Clarisse, sentada ao lado dele numa cadeira banhada de sol (cuja lona, vermelho-viva antes do verão, tornara-se de um rosa-aquarela um pouco kitsch, que destoava, ao ar livre, de tanta espuma, sol, maios encharcados). — Como foi que você fez? — repetiu. — Conte-me tudo, Julien. Adoro ouvir você contar suas histórias profissionais com esse ar de quem está sofrendo ainda com certas lembranças. . . com esse ar melancólico de alguém em quem o trabalho fez um milagre: Julien Peyrat, depois de ter trabalhado como um louco durante dezoito meses, entrega-se de novo ao trabalho. . . dez anos depois. . .
E pôs-se a rir sem querer diante da expressão indignada do amante.
— Seriamente — recomeçou com vivacidade, erguendo os ombros como se rejeitasse por si mesma sua frase divertida para o cesto das tolices —, falando sério, são freqüentes para você essas entradas súbitas de milhões?
Julien arqueava o torso, ou tentava fazê-lo, o que era difícil sentado numa cadeira de lona, como observou com irritação.
Não vejo em que isso possa espantá-la, em que poderia lhe parecer equívoco — disse de mau humor.
Mas não — falou Clarisse, retomando seu ar sério de repente.
E se Julien se zangasse, se ficasse de mal com ela, se não a tomasse mais nos braços com palavras de amor. . . Contemplava seu rosto zangado e fechado, via a esperança de uma vida feliz com ele diminuir rapidamente. E seu rosto refletiu uma tal desolação, um tal descontrole, que Julien instintivamente segurou-a contra si e cobriu seus cabelos de beijos intermináveis e quase brutais na sua cólera contra si próprio.
— E o quadro?... — recomeçou ela, um pouco depois, quando o medo de perder o amor dele já não lhe apertava a garganta. — O que você vai fazer dele? — acrescentou, erguendo o rosto e cobrindo-o por sua vez de beijos lentos e carinhosos, as têmporas, o canto da boca, a pele picante das bochechas, o ângulo do maxilar que vira cerrar-se por um minuto. De tempos em tempos, abandonando aquele perfil, desligava-se, com os olhos sempre fechados, e com um movimento doce e carinhoso, precavido, passava a cabeça sob o queixo de Julien, escondendo-lhe e resti-tuindo-lhe o sol com seu cabelo sedoso e ruivo como uma cortina, e tocava o outro lado do rosto abandonado até ali, que ele consolava com sua doçura ávida.
— Você me faz ficar doente — disse Julien com voz rouca, quase ameaçadora, e desembaraçou-se dos braços dela com um gesto suplicante.
Armand Bautet-Lebrêche, que não ouvira o que eles falavam, naturalmente deu meia-volta, vendo-os absorvidos um no outro, projetando-se naquele céu claro como uma bela imagem. Penetrou com passo firme no círculo dourado que vogava em torno deles e, lançando-lhes um olhar de passagem, tão pouco surpreso quanto possível, ao que parecia, de os ver nos braços um do outro, gritou-lhes: — Muito obrigado! Não tem perigo, estou de boné — antes de desaparecer no corredor dos marinheiros.
Você tem certeza de que não vendeu o quadro? — perguntou Clarisse pouco depois (quando o riso e suas conjeturas sobre o comportamento de Armand lhes permitiram recuperar o fôlego). — Você tem certeza de que ainda o tem?
Mas se estou lhe dizendo — começou Julien —, se estou lhe dizendo que o vendi, ora — acrescentou de repente, oferecendo-lhe um rosto risonho, penalizado, conquistador, um rosto tão perfeitamente masculino, tão perfeitamente infantil também, que em vez de ouvir sua frase, limitou-se a chamá-lo de "mentiroso" e olhá-lo dos pés à cabeça e da cabeça aos pés como um negociante de cavalos olhando o que acabou de comprar, ao mesmo tempo sério e encantado com o negócio feito.
Beije-me mais uma vez — pediu Julien, com voz lamentosa, com as costas na amurada e os olhos semicerra-dos contra o sol, perfeitamente beatificado de bem-estar e, principalmente, de alívio; um sentimento cuja origem não conhecia, mas ainda assim, um alívio, que fez daquela manhã um marco em sua memória sentimental, um desses momentos semelhantes àqueles em que o sol, a mão de Clarisse em seu pescoço, a luz ardente sob suas pálpebras em manchas vermelhas, o ligeiro tremor do corpo extenuado do prazer insaciado há vinte e quatro horas, mas que ainda fremia à lembrança, mais longínqua, mais violenta também dos prazeres sentidos, marcavam para sempre sua memória. Julien pressentia aquele momento, dizendo a si mesmo que se lembraria dele toda a sua vida, como um desses instantes raros, aliás, em que Julien, o ser humano mortal, amara e aceitara a idéia de sua morte, concluindo sua vida de súbito sublime. Houve um momento em que achou o destino dos homens e o seu mais do que aceitável: perfeitamente desejável. Pestanejou, entorpecido como um gato, e, levantando o olhar, viu os olhos de Clarisse pousados em seu rosto, olhos com uma luz, uma ternura insuportáveis, quase um olhar entregue, azul-pálido, um olhar brilhante e líquido que o refletia por inteiro e só pensava em refleti-lo sempre, até o fim dos mais longos cruzeiros.
A costa francesa apareceu ao longe, por volta do meio da tarde, provocando uma reunião geral junto às redes da amurada, que nem as estátuas, nem os templos, nem as escalas de toda a viagem tinham suscitado. Embora sensivelmente semelhante à costa espanhola e à italiana, pelo menos a essa distância, sua visão foi saudada por um silêncio admirativo e recolhido entre os mais chauvinistas dos passageiros franceses, pelo menos. Para Clarisse e Julien, essa costa seria o lugar em que poderiam, se não amar, sobretudo beijar-se sem ter de se esconder pelos cantos, o desejo insaciado tornando pueris e primárias, aparentemente, suas aspirações mais essenciais. Edma, por sua vez, queria suas companheiras do Ritz e dos coquetéis, Armand, seus números, a Diva e Hans Helmut, palcos, orquestras, aclamações, e Eric, sua equipe. Simon Béjard, o trabalho e o respeito de seus pares do Fouquet. Olga, seu público, e Andreas, não se saberia o quê. Charley iria reencontrar os "rapazes", entre os quais contaria com Andreas, indo talvez um pouco mais longe do que a realidade lhe permitia; e Ellédocq, o capitão Ellédocq reencontraria a sra. Ellédocq, a quem prevenira de sua chegada já por duas vezes (tendo tido o dissabor, das raras vezes em que deixara de avisar, de encontrar o carteiro ou o padeiro no leito conjugal, dois sólidos rapagões que o haviam levado a reconhecer bem depressa que sua única amante era o mar).
Jantamos à vista de Cannes esta noite — disse Edma Bautet-Lebrêche. — A partida é livre; pode ser esta noite depois do concerto, amanhã durante o dia. . . O que você pensa fazer, Julien?
Não sei — respondeu Julien, levantando os ombros. — Vai depender. . . do tempo — acrescentou, depois de lançar um olhar a Clarisse, imóvel ao longe em sua cadeira, com a cabeça para trás, deixando ver o belo pescoço e os olhos semicerrados, a bela boca de súbito triste.
E não conseguia acreditar na idéia de ser ele o amado, aquele que ia ser o possuidor de tudo aquilo, por noites e dias, o proprietário, sentimentalmente falando, dessa cabeleira ruiva, desse rosto de maçãs salientes, um rosto tão belo e tão triste, com os grandes olhos azul-cinzentos pousados nele com expressão amorosa. Era sorte demais, prazer demais, felicidade demais, ingenuidade demais, de um lado e do outro. O olhar que dirigia a Clarisse acordou reminiscências em Edma Bautet-Lebrêche. Quem a olhara assim naqueles últimos anos? E desde quando não suscitava mais aquele olhar? Um rosto maravilhado e ciumento de amor? Certamente isso não acontecera mais, não nos últimos tempos. Ah, sim! Edma Bautet-Lebrêche enrubesceu, lembrando-se de repente que era o olhar de Simon que o olhar de Julien lhe lembrava. "Que loucura!", disse consigo mesma, sorrindo involuntariamente, "que loucura! Eu e esse produtor rastaqüera e ruivo ainda por cima." Fora realmente preciso o olhar de Julien para perceber o que o outro olhar continha. Edma dirigiu-se de repente, com sua voz baixa, ao Financial Times aberto ao lado dela:
Armand, estamos velhos? — Foram precisos dois ou três apelos desesperados desse gênero para provocar a queda do jornal e dos óculos de Armand Bautet-Lebrêche, esses ingratos que abandonavam o nariz que os carregava, que se desligavam talvez por causa do tédio e da monotonia daquilo que lhe era dado ver: números e mais números.
O que você vai fazer com esse dinheiro todo? — perguntou com nova ironia e, mesmo antes que Armand pudesse lhe responder, acrescentou: — É ridículo. . . O que você vai fazer com todos esses dólares quando estivermos mortos?
Armand Bautet-Lebrêche, quase curado de sua surdez provisória, contemplou sua mulher tanto com desconfiança quanto com indignação. Realmente, não era próprio de Edma caçoar do dinheiro com essa desenvoltura. Guardara durante muito tempo, de sua infância de dificuldades, um respeito instintivo e admirativo pelo dinheiro sob todas as suas formas. Armand também não gostava muito de sarcasmos a esse respeito.
— Você quer me repetir a primeira pergunta? — perguntou secamente. — A segunda parece-me um pouco desinteressante. . . Então?
— A primeira pergunta? — disse Edma como que perdida e rindo do ar indignado do marido. — Ah! sim, sim: eu perguntei se nós ainda éramos jovens.
Certamente que não — disse Armand pausadamente —, certamente que não. E me felicito quando vejo esses moleques ladrões e incompetentes que, supõe-se, nos substituirão à frente dos negócios ou do governo; digo a mim mesmo que não irão muito longe. . .
Responda à minha pergunta — insistiu dessa vez com voz cansada: — nós somos velhos, você e eu? Envelhecemos desde aquele dia em Saint-Honoré d'Eylau em que nos unimos para o melhor e para o pior?. . .
Armand lançou-lhe um olhar subitamente desperto, tossiu, e sua pergunta saiu involuntariamente, ao que parecia:
Você se arrepende?
Eu? — disse Edma, caindo na gargalhada. — Eu? Claro que não, Armand, meu Ermy, meu Lebrêche, eu, arrepender-me da vida deliciosa que me deu?. . . Só se estivesse louca ou neurótica para não ter tomado gosto por essa vida. . . Não, foi encantador, perfeitamente encantador, eu lhe asseguro. O que poderia ter me faltado a seu lado?
Muitas vezes eu não estava presente — disse Armand, tossindo ligeiramente, ainda com os olhos baixos.
Mas, justamente, era essa maneira de viver que era genial — disse Edma sem a menor hipocrisia. — É a coabitação obrigatória que torna os casais frágeis. Vendo-se pouco, ou não muito, pode-se ficar casada durante anos: a prova...
Você não se sente só de tempos em tempos? — perguntou Armand com voz quase inquieta, o que imediatamente lançou Edma na angústia.
Armand deveria estar doente, gravemente doente, para se interessar por outra coisa que não fosse ele próprio, refletia ela, mas sem qualquer animosidade. Inclinou-se para ele.
— Está se sentindo bem, Armand? Não apanhou sol demais? Ou bebeu demais desse excelente porto? Preciso perguntar a Charley de onde vem esse porto. Não somente é bom, como embriaga a uma velocidade fantástica. . . Mas o que era mesmo que você me perguntava, meu querido marido? Já não me lembro.
— Eu também não — disse Armand Bautet-Lebrêche levantando seu estandarte à altura dos olhos e murmurando, aliviado, que escapara por pouco.
Hans Helmut Kreuze, de pé no centro da cabina, vestido de terno preto de grande cerimônia, em vez do smoking habitual, olhava-se no espelho com satisfação misturada a ligeira dúvida. Não conseguia compreender por que a Doriacci não caíra em seus braços, assegurando-lhe assim um cruzeiro ainda mais agradável. Pois, afinal, à parte o mau humor do capitão contra o pobre Fuschia, a viagem fora deliciosa. Mas jamais, jamais mesmo, tornaria a tocar em concertos de que participasse a Doriacci. . . Queixara-se dela amargamente aos seus alunos, confessara entre homens seu adultério em Berlim, e eles ficaram tão escandalizados quanto ele com o comportamento da Doriacci. Chegaram mesmo a sugerir, respeitosamente, pelo menos era assim que Hans Helmut Kreuze compreendia o termo "sugestão" quando dirigido a ele, que denunciasse seu caráter odioso aos diretores das salas da Europa e da América. Sem dúvida, podia lançar mil nuvens no céu azul e triunfante que era a carreira da Doriacci, mas temia que, se por acaso ela descobrisse seu cheiro e sua origem, não hesitasse em revelar ao mundo da música aquela noite de orgia e até mesmo o motivo de suas palavras amargas. Naquela noite ele devia tocar Faure e ela, cantar Brahms e Bellini, mas só Deus sabia o que ela escolheria no lugar. . . Sim, reconhecia fracamente, é verdade, gostaria de recuperar o lugar na cama da Doriacci. Naturalmente a experiência de Hans Helmut Kreuze era escassa, e sua amante mais paciente fora sua mulher, mas parecia-lhe ver nas trevas de sua memória o vislumbre da cintilação branca de um ombro na noite, um riso vermelho e branco sob a brancura natural dos dentes jovens e brilhantes, olhos e cabelos negros e principalmente uma voz rouca dizendo em italiano coisas escandalosas e intraduzíveis, quando não incompreensíveis. Embora se envergonhasse de pensar nisso, alguém, um anjo mau ou provocador, deixou-lhe a convicção muito íntima e muito secreta, apenas confessável a si próprio, de que através desses dias e noites cinzentos, de um cinza que atualmente cobria até mesmo as maiores aclamações, através desses anos de trabalho, recitais, triunfos, esses anos cinzentos, só a noite de Berlim de trinta anos atrás tinha um ar colorido, embora se tivesse passado na escuridão de uma noite de hotel.
Nunca se deixem agarrar pelas sensações, nem pela libertinagem — disse doutamente, voltando-se para seus dois velhos discípulos, instalados em seu salão e que de shorts, meias e sandálias, pareciam caídos de um planeta proibido a essas tentações, chegando mesmo a tornar inúteis, à primeira vista, as recomendações do seu bom mestre.
Vamos — disse Kreuze a si mesmo —, sempre haverá corações puros para tocar a boa música.
A Doriacci, numa desordem espantosa que ela pisoteava, olhava dois camareiros esgotados fecharem-lhe as malas. Tinham conseguido, um e outro, sem mostrar o menor sinal de espanto, embalar meias de homem, um calção, dois colarinhos, uma gravata-borboleta. E ambos felicitavam-se imediatamente de provarem mais uma vez, sua discrição, aliás proverbial, mas de cada vez a Doriacci lhes arrancava das mãos esses atributos masculinos e os punha de lado na cama, dizendo, com a indignação mais natural e sem a menor vergonha:
— Larguem isso, ora, não estão vendo que não me pertencem? — revoltada, ao que parecia, de que quisessem roubar, mesmo que fosse em seu proveito, o guarda-roupa lá não muito brilhante do seu amante. Convocou então Andreas, devolveu-lhe seus bens, sem parecer notar a indiferença total do rapaz por essa restituição. Estava pálido, nem ficara um pouco mais bronzeado durante o cruzeiro, e evidentemente estava infeliz. A Diva sentia grande ternura e pena dele! Mas não amor, e era disso que ele precisava, infelizmente!
— Meu querido — dizia em torno dele, passando por cima de vestidos, leques e partituras e finalmente levando-o para o quarto ao lado, aliás, igualmente atravancado, onde fechou a porta na cara dos dois camareiros. — Meu querido, você não deve ficar com essa cara, ora. . . É bonito, muito bonito, inteligente, sensível, mas isto vai passar, você é bom e vai fazer uma carreira triunfal, eu garanto. Sinceramente, meu amor — acrescentou, com um pouco mais de vivacidade (porque ele continuava imóvel, com os braços pendentes, como se estivesse no máximo do tédio). — Meu querido — continuava ela, ainda assim —, asseguro-lhe que, se tivesse podido amar alguém nestes últimos dez anos, seria você. Vou lhe enviar cartões-postais de toda parte, e quando eu vier a Paris almoçaremos juntos e enganaremos sua amante num quarto de hotel, de tarde. O que, em Paris, é sempre delicioso fazer sem que ninguém saiba, principalmente. . . Você não acredita? — perguntou com a voz um pouco irritada, apenas irritada, e ele sobressal-tou-se temerosamente.
— Sim, acredito — disse precipitadamente com ardor, até algo mais que ardor. Depois balbuciara desculpas inúteis enquanto ela o beijava na boca e o apertava contra si num movimento irreprimível de ternura antes de empurrá-lo para a porta e pô-lo do lado de fora, sem que ele fizesse um gesto de protesto.
"Espero não ter sido demasiado dura", dizia ela a si mesma com uma vaga sensação de remorso. E quando Charley veio lhe perguntar se vira Andreas descer do navio com os primeiros que saíram no barco a motor enviado de Cannes, ela não soube responder. Estava quase certa de que Andreas não suportaria aquela última noite e fugiria para terra firme a fim de continuar sua carreira. E o fato de ele ter deixado a bagagem provisoriamente indicava bem que fora um impulso impensado que o levara a deixar o Narcissus, a bordo do qual provavelmente um outro impulso o traria de volta, sem dúvida, na manhã seguinte. Preferia, aliás, que assim fosse, porque cantar diante dele seria um suplício, ou pelo menos um constrangimento. Pois todas as palavras de amor em italiano (e que graças a Deus ele talvez não compreendesse), essas palavras que lançava, em obediência às partituras, a amantes trágicos, pareciam-lhe presentes que ela não lhe dera e com as quais ele poderia despertar, ao ouvi-las. Abriu sua agenda um pouco ao acaso e assobiou da maneira mais trivial e mais inesperada na Diva das Divas. "Em três dias estarei em Nova York, em dez dias em Los Angeles, em quinze em Roma e em vinte e cinco na Austrália, naquela Sydney de onde não provinha o encantador Julien Peyrat, estava certa. Ah! Nova York. Quem a esperaria em Nova York?. . . Ah! sim, o pequeno Roy. . . que já devia estar fervendo de impaciência e organizando de antemão nuvens de mentiras que lhe permitissem escapar de Dick, seu protetor, aquele homem tão rico, tão velho e tão chato." O rosto longínquo, malicioso e frio em geral, mas por vezes entregue ao riso, do jovem Roy apareceu-lhe de repente e ela se pôs a rir também, antecipadamente confiante.
Simon Béjard contemplava sem desejo aquele traseiro, se é que se podia chamar assim, naquele corpo tão delgado, o traseiro de Olga debruçado sobre a mala dele, Simon, que ela arrumava antes da sua, numa crise de servilismo que teria preferido menos tardia. Olhava aquela boquinha cerrada sobre dentes já cobertos por jaquetas, ouvia pronunciar lugares-comuns pomposos, ou tolices pesadas, ou sentimentalismos indecentes. Perguntava-se que homem absurdo poderia tê-lo substituído durante várias semanas, a ponto de persuadi-lo de que gostava disso: essa pretensão, esse egoísmo, essa dureza, essa tolice ambiciosa, que ela transpirava por todos os poros. Esforçava-se ao máximo, por um instante, para lhe responder amavelmente, e mesmo para simplesmente lhe responder. Ah! Tinha querido mocinhas em flor! Ah! Sonhara ser pai, amante, irmão, guia dessa jovem pata intelectual e semifrígida e completamente artificial! Afinal, aquilo estava terminado. Voltando, iria procurar Margot, uma mulher da sua idade, que, ela sim, tinha um traseiro, grandes seios, riso largo, a Margot que o achava genial e que era mais inteligente do que muitas outras consideradas refinadas. Tinha sido uma sorte para ele ter convivido com Olga fora do círculo tão fechado do cinema, de nível às vezes tão pouco brilhante, que ela pudera lhe parecer superior, porque de fato o era. Tivera sorte de poder compará-la a duas mulheres realmente civilizadas, nos sentimentos e no vocabulário, em todo caso, de boas maneiras: Clarisse e Edma, uma imbatível na elegância do coração, a outra na elegância do vestuário e no campo social. A própria Doria tinha mais classe do que a pobre Olga. E Simon se perguntava ainda o que Eric teria achado de especial, além da possibilidade de fazer sofrer sua mulher, no que Simon, com seu bom caráter natural, não encontrava motivo suficiente. Para Simon, era o primeiro cruzeiro e sem dúvida o último, pelo menos por alguns anos. Sentiria saudades de Edma ainda assim, pensava, com o coração um pouco apertado, para sua grande surpresa. Poderia ser feliz com Edma, se ela não fosse tão chique e se não estivesse tão certo de envergonhá-la diante de seus amigos da Avenue Foch, cada vez que tivesse de apresentá-lo. Ainda assim, talvez ousasse vê-la às escondidas, discretamente, sozinhos, para poderem se divertir juntos, caçoar das mesmas coisas e saltar de um assunto para outro, rindo às gargalhadas como tinham feito durante dez dias. Riam exatamente das mesmas coisas, por mais diversa que tivesse sido sua educação, sua existência; e esse riso de colegial, Simon sabia agora, era um trunfo melhor para uma união, fosse qual fosse, entre um homem e uma mulher, que todos esses acordos erótico-psicológico-sentimentalóides de que os jornais estavam cheios.
Movido por um impulso súbito e esquecendo Olga debruçada sobre a mala dele, Simon pegou o telefone e pediu a cabine Bautet-Lebrêche. Nunca falara com ela por telefone, e aquela voz aguda causou-lhe de início má impressão.
— Edma. . . sou eu. Eu queria. . . — hesitou.
— Sim, sou eu, Edma — ela respondeu em voz alta. — Sim, sou eu. . . O que houve? Em que posso ajudá-lo?
Depois sua voz diminuiu, ela se calou, e ambos continuaram suspensos das duas pontas do fio, um pouco ofegantes e vagamente inquietos.
Você estava dizendo?... — soou baixo a voz de Edma, como se sussurrasse.
Eu estava dizendo a mim mesmo. . . Eu me dizia que talvez pudéssemos nos ver já nesta terça-feira... se você estiver livre — murmurava também Simon.
Tinha a testa banhada em suor, sem saber por quê. Houve um silêncio durante o qual ele quase desligou.
— Claro, naturalmente — disse enfim a voz de Edma, que parecia vir do além. — Sim, naturalmente. Eu acabei justamente de pôr meu número de telefone e meu endereço em sua caixa. . .
— Não... não.. .
E estourou numa risada com seu riso tonitruante, que fez Olga emergir da mala, furiosa mas impotente. O riso de Edma em resposta quase a fez arrancar o fone das mãos de Simon.
Não — disse Simon, não... — É engraçado... — E acrescentou: — É gozado. Nunca poderia marcar um encontro com você sem seu número de telefone. . .
É gozado — aprovou Edma, utilizando esse adjetivo pela primeira vez em sua vida. E gozado: os dois tímidos — acrescentou, rindo mais forte.
E desligaram juntos, alegres e triunfantes.
Andreas esticara-se num convés deserto, na outra ponta do navio, onde se secava roupa, portanto fora da visão dos passageiros. Só um cozinheiro árabe o vira passar, talvez nem mesmo ele. Como se tivesse visto um marciano. Era estranho pensar nisso, todos aqueles indivíduos do navio, que não se conheciam, que jamais se conheceriam e que talvez, graças a uma mina perdida, morreriam todos de uma mesma morte. Andreas esticara-se na madeira dura, arriscando-se a estragar a calça de flanela branca, e, deitado de costas, olhava para o sol, com a cabeça pousada num rolo de cordas. Fumava cigarro após cigarro, cujo gosto lhe parecia cada vez mais ácido para a garganta sedenta, e a fumaça cada vez mais pálida, contra aquele céu tão azul que cheirava tão bem. Sentia um grande vazio na mente; em suma, mais precisamente, sua atividade cerebral limitava-se a uma ária de música descoberta na véspera, no bar, um disco de Fats Waller cujas notas pareciam brotar do piano, cair das teclas brancas e lisas, como também com grande dificuldade da clarineta, de suas profundezas abissais. Uma ária feliz, de fato. Uma ária de que não se lembrava, que nunca ouvira, mas da qual reconhecia ainda assim cada nota; uma ária que não podia vir de sua infância sem tocadiscos, nem da adolescência dedicada ao rock, nem do exército, naturalmente, nem de suas loucas amantes, quando começara a trabalhar com elas; aquelas qüinquagenárias ou sexagenárias só pensavam no jerk, em rebolar diante dele com os cabelos soltos, levando as mãos para o alto, deixando ver assim as axilas empoadas sob o lamê. Lembrou-se de algumas dessas mecenas. Viu-as desfilar diante dele, umas e outras, em filas pouco densas, perguntando-se, sem amargura nem remorso, como fizera para suportá-las à mesa ou na cama. É que, naquela época, não se dava conta do que era compartilhar uma cama. Nesse campo ele jamais compartilhara qualquer coisa que fosse: dera, oferecera gestos e um corpo soberbo a pessoas que se tinham servido dele para usufruir um prazer de que não participava, e cuja eclosão e subida ele contemplava com objetividade total, por vezes até com laivos de constrangimento. Mas até quando ocorria de ser ele a atingir seus fins, abandonando a parceira a seus fantasmas pessoais, nunca tivera a impressão de compartilhar qualquer coisa que fosse. Pelo contrário, durante essas ligações que, aos vinte anos, lhe deveriam sugerir o oposto, Andreas muitas vezes tivera a impressão de que o ato do amor o afastava para sempre daquela com quem o praticava.
Mas, de qualquer modo, esses rostos que tentava rejeitar voltavam-lhe, esses e outros semelhantes, em Nevers ou em outra parte. Mas em Nevers antes de em qualquer outro lugar, já que não tinha mais dinheiro e deveria esperar praticamente no café da estação que fossem vendidos os três lotes de terra que tinham sido adquiridos em três gerações pelos homens de sua família, aqueles mesmos que tinham morrido trabalhando, sem ter conhecido os prazeres da cidade, aqueles mesmos que Andreas surpreendia-se agora a invejar. . . Porque eles talvez tivessem morrido trabalhando, mas pelo menos tinham morrido acompanhados, chorados, bem tratados. E talvez o trabalho lhes tivesse parecido suportável, já que era ele que sustentava suas mulheres e crianças. Ele, por sua vez, sabia que só recolheria jóias, jóias de homem das quais jamais se desfaria, que nem mesmo poderia dar a alguém, por causa das iniciais gravadas em ouro. . . Voltaria à província, onde circularia de salão em salão, de cama em cama, com mulheres sem classe e sem animação, mulheres ociosas como ele, que não teriam o riso tonitruante, nem os maus modos, nem o vocabulário chulo, nem a pele doce e os olhos risonhos, nem a voz, naturalmente, da Doriacci. Ah, não!, realmente não tinha vontade de voltar a Nevers e passar de carro novamente por aquela casa que conhecia bem, cuja lembrança nem os palácios, nem as pousadas de estrada tinham podido destruir. E agora, além1 dessas lembranças, de todos esses quadros azuis e ternos da infância, seria preciso acrescentar outros de cores mais cruas e violentas, cujo perfume e raiz eram também os da felicidade.
Andreas levantou a cabeça involuntariamente, de sofrimento e de revolta. Sacudiu-se, tentou sentar-se para escapar a seus inimigos cruéis, mas escorregou e se deixou cair para trás, com os braços em cruz, entregue aos ataques conjugados de sua imaginação e de sua memória. "Mas estou só, meu Deus...", gemeu indistintamente para si mesmo e para o sol que lhe bronzeava a pele já dourada, essa mesma pele que deveria assegurar-lhe a subsistência e delimitar-lhe a vida.
Uma gaivota volteava no céu com jeito de abutre, de ave de rapina. Não voava, deixava-se cair do céu ao mar. Tornava a subir na vertical, sem nada ter visto ou encontrado. Andreas seguia, com os olhos, com simpatia e camaradagem, essa alegoria da sua própria vida. Em alguns dias, teria que mergulhar, mais uma vez, em peixes mais firmes e mais rapaces do que os do mar. . . "Que farei?", disse bruscamente em voz alta, soerguendo-se, com os cotovelos apoiados atrás, no rolo de cordas. "Que farei?" Ia restituir o cheque a Clarisse, já que a Doriacci não queria que a seguisse, e, mesmo que o fizesse, isso de nada serviria: não só estava decidida a não amá-lo, como realmente não o amava. Talvez devesse partir para Paris; mas era a mesma coisa: com que dinheiro? Lá ele se deixaria apresentar à amiga da Doriacci e entraria no rebanho dessas senhoras; não se sentia com coragem para tanto. Mais precisamente, pensava que, se encontrasse de novo a Doriacci, um ano mais tarde, levando pelo braço uma dessas protetoras de luxo que ela própria lhe designara, morreria de vergonha e de arrependimento. Só lhe restava realmente Nevers. Decididamente. Nevers, onde suas aventuras já tinham provocado o riso de todas as suas miseráveis relações, riso que agora, depois de desaparecidas suas três mulheres, já não traria qualquer mistura de ternura, uma vez que as proprietárias da palavra ternura tinham morrido sem lhe revelar onde estavam escondidos seus tesouros, sem lhe dizer onde tinham guardado a inesgotável ternura de que o tinham cercado toda a vida, sem mesmo preveni-lo de que a levariam com elas e sem avisá-lo que teria de viver sem ternura. E sem mesmo prever (como os animais selvagens que se domesticam) que seria atacado e comido cru pelos seus congêneres logo na primeira saída. Eram as duas vias que se ofereciam a Andreas: uma Nevers irônica ou uma Paris amarga (pondo de lado a Legião Estrangeira, já que ele detestava a violência).
E apoiado nas cordas, sob o céu azul, naquela manhã, ouviu os motores do Narcissus seguindo implacavelmente sua rota para terra, onde não era esperado por pessoa alguma. Depois de ruminar bem esse último fato e acender mais um cigarro, levantou-se e aproximou-se da amurada, no ponto em que uma porta de ferro mais baixa lhe permitia inclinar-se um pouco mais para o mar, o mar onde lançou o cigarro.
A ponta do cigarro boiou tranqüilamente nas ondas azuis e depois, engolida num grande torvelinho, desapareceu da vista de Andreas para o fundo, no ponto em que a água ficava negra. Talvez fosse essa mesma onda, pensava absurdamente, que contemplava junto com a Doriacci, no dia em que estava feliz, e feliz sem o saber. Ela estava perto dele, ria, acariciando-lhe o punho, com os dedos quentes insinuados sob a manga do casaco, e murmurava palavras italianas eróticas, e mesmo obscenas, garantia-lhe ela rindo. Devia ter sido leviano, espirituoso, fogoso, sedutor. Talvez assim a tivesse conservado se. . . Se, o quê? Tentara ser tudo isso, fora tão leve, espirituoso e sedutor quanto podia ser. . . Não bastara. Nunca bastaria. Nunca bastaria. Poderia ser tudo o que ela quisesse na vida, insistindo, aplicando-se, forçando-se a tudo, exceto a ser leviano. E ela sabia disso, pois não fora cólera ou desprezo que suas carências tinham provocado, mas sim indiferença. E esse mesmo mar, na sua doçura ausente, parecia-lhe o exemplo, o símbolo do que o esperava. Muitos homens deviam ter-se lamentado nas suas margens durante todos esses séculos, e deviam tê-lo aborrecido. O mar representava esse mundo exterior a ele, representava os outros, era belo, frio, indiferente.
E sua solidão passada e por vir, a inutilidade de sua vida, a ausência de força, resistência, realismo, sua necessidade desesperada e pueril de ser amado, tudo isso lhe pareceu de súbito duro demais, pesado demais. Tudo isso o levou a passar a perna direta por cima da porta e suspender-se nela. Ficou por um instante em equilíbrio precário, até o momento em que o sol, batendo-lhe na nuca, e a sua pele, regozijando-se com isso, fizeram com que tivesse a impressão do desperdício que era lançar ao mar aquela máquina tão bem constituída, aquele corpo de luxo, e ele se deixou cair. O Narcissus era mais alto, muito mais alto do que ele pensava, e muito mais rápido. Uma coisa fria, final, golpeou-o, enrolou-se em torno de seu torso antes de rodear-lhe o pescoço. Alguma coisa como um cabo, pensou num milésimo de segundo, ao qual ele poderia se agarrar. E Andreas morreu pensando que estava salvo.
Por uma vez encantado com a ausência de Clarisse, Eric dera dois ou três telefonemas a Cannes, verificando se suas redes estavam bem esticadas. Em poucas horas o trapaceiro, o ladrão, o falsário estaria trancafiado.
Mas já era tempo. . . Eric controlava-se para não insultar e chutar aquele ladrão desprezível, aquele valete de copas, aquele "velho valete", pensava ele, esquecendo o fato de que eram da mesma idade e a preocupação que ele próprio tinha com sua aparência. Eric sempre se orgulhara de seu físico. Embora escondesse isso cuidadosamente, cultivava nele a idéia de que sua beleza máscula, essa beleza quase supérflua devia provocar nos outros, principalmente nas mulheres, uma espécie de gratidão. . . uma gratidão normal por um homem que não só era justo, profundo, limpo, humano, mas que além disso tornava sedutoras essas virtudes em geral ligadas a um físico ingrato. Aliás, para ser lúcido, não era apenas o dinheiro o que censurava em Clarisse, mas sua beleza, o ar de juventude, de desafio e também o ar de vulnerabilidade que já tinha quando se conheceram e dos quais hoje só gostaria de ver os vestígios, dos quais ele pensava que realmente só restavam vestígios sob aquela bárbara maquilagem. Mas agora vira-a em pleno dia no convés do navio, vira-a à luz do sol, vira-a sob as luzes, desmaquilada, e, sobretudo, sobretudo iluminada pelo desejo de um outro. Não podia deixar de se confessar que a vulnerabilidade sempre fora acompanhada desse ar de juventude, esse odor de juventude que ele sentia ainda nos cabelos dela, na voz, no riso, na maneira da andar. Acabaria como uma velha menininha, pensava por vezes, esforçando-se por desprezá-la. Mas às vezes, quando lhe impunha seus deveres conjugais e noturnos e, encolhida na posição de feto, cara aos psiquiatras, ela dormia ao seu lado, de costas, surpreendera-se duas ou três vezes olhando com uma avidez misturada de deferência aquelas costas e a nuca frágil e indomável. E mesmo, por momentos, deixara levantar-se, como uma melopéia fúnebre, uma ária esquecida e desolada, a lembrança do que aquele corpo fora para o dele no início da história de ambos. Naturalmente, a lembrança de tudo o que já não era para ela, de tanto introduzir nomes grosseiros, soava falsa para Eric também. Mas havia muita probabilidade de que aquele rosto feliz desmoronasse na manhã seguinte e deixasse lugar para outra coisa. Imaginava o rosto dela quando a natureza e a vida de seu belo amor fossem revelados. Já via aquele rosto empalidecer ainda mais, via os olhos incrédulos, a expressão de vergonha, o desejo de fuga que o cobriria pouco a pouco. Era preciso prestar atenção em seguida para não lhe repetir demais: "Eu bem que lhe disse!", levando assim esse golpe baixo a uma irritação, estragando seu triunfo. Sim, já era tempo que aquele amanhã chegasse. Deixara campo livre a Clarisse, dera-lhe rédeas soltas para que não desconfiasse de nada, que pensasse que ele era indiferente àquela louca fantasia e que um e outro chegassem desarmados pela inconsciência e pelo amor contrariado diante do comissário e dos meirinhos de Cannes. Repassava incansavelmente essa cena digna de uma imagem de Épinal: o marido apoiado pela justiça, a mulher culpada e o vilão confundido e lançado à masmorra.
Enquanto esperava, tirara o Marquèt de seu esconderijo e pousara-o no travesseiro de Clarisse com três palavras: "Feliz aniversário. Eric", que, sabia-o bem, tiraria três quartos do encanto do quadro. Mas o que poderia estar fazendo Clarisse àquela hora? Em que ponto do navio estaria falando enrubescida com seu amante, diante dos outros, os importunos que notariam eles próprios, sem que ela o percebesse, esse ofegar, essa tensão, esse desejo insuportável, distendido entre ela e Julien? Enfim, onde estaria ela? Em algum lugar no navio, no convés, rindo às gargalhadas das tolices de seu apaixonado, rindo, rindo, rindo como nunca rira com ele. Era preciso dizer que o próprio Eric tinha desde o início de seu encontro instaurado entre eles um tom solene e tenso, que dizia ser de paixão, e que excluía o riso. Aliás, não gostava de rir e desprezava o riso incontrolado de quem quer que fosse, que o arrepiava como qualquer perda do domínio da vontade. Ainda assim, teria gostado muito de oferecer-lhe aquele quadro diante de Julien Peyrat. Mas era impossível. E, de todo modo, seria preciso esperar que o último barco para Cannes tivesse desaparecido na noite incipiente, que
Julien Peyrat estivesse encurralado no navio e incapaz de fugir da armadilha.
— Como faremos? — perguntou Clarisse, sentada no bar, evitando assim olhar por muito tempo ou muito fixamente para Julien.
Por momentos, fazendo um grande esforço, bloqueando a respiração, conseguia vê-lo fora do seu status de amante, conseguia vê-lo como um homem diante dela, com olhos e cabelos castanhos, chegava mesmo a falar-lhe pausadamente, esquecendo o contato, o calor e o perfume de seus cabelos, de sua boca divertida. Mas só resistia uns segundos, e seu olhar se perturbava, a palavra esmorecia até ela virar o rosto bruscamente para o lado, incapaz de suportar por mais tempo a perturbação deliciosa, a fome, a necessidade do homem que tinha diante de si. Julien também estava reduzido aos mesmos expedientes e às mesmas distrações forçadas, ainda mais breve nele, a ponto de, no momento em que olhava para ela e via-a entregue, obcecada, impaciente, dizer-se: "Vou abraçá-la agora. . . Vou fazer isso. . . Vou acariciá-la, apertar-me contra ela, abraçá-la assim mesmo", formando desse modo imagens voluptuosas e ardentes que a proximidade daquela mulher, mesmo não estando nua, tornava indecente e cruel.
— Como farei? — perguntou ela, rodando o copo entre os longos dedos. — Como é que você quer que eu faça?
— Oh, é muito simples — disse Julien com a expressão tranqüila que assumia contra a vontade. — Você faz as malas amanhã de manhã, diz que quer partir novamente, desta vez sozinha, num outro cruzeiro. . . Não, enfim: que quer fazer sem ele um outro cruzeiro; e entra no carro onde eu a estarei esperando. . .
Debaixo do nariz dele? ... — Clarisse estava pálida de apreensão.
Pois é, debaixo do nariz aquilino dele mesmo! — disse Julien com uma alegria que não sentia. — Ele não vai se jogar em cima de você e arrastá-la à força para o carro dele, afinal. . . Nem vai tentar!
Eu não sei. Ele é capaz de tudo.
Não vai levá-la, não comigo vivo! — declarou Julien, rodando os ombros como um carregador. — Mas se você está com muito medo dele, posso ficar a seu lado quando você lhe anunciar isso. Posso até lhe dizer eu próprio, sozinho. . . Já lhe disse. . .
— Isso seria maravilhoso! — respondeu Clarisse levianamente, antes de se confessar que isso não se faz.
Estava atormentada, sem dúvida, mas outros problemas preocupavam Julien. No final das contas, ele alugaria um carro no próprio porto e levaria Clarisse para sua casa; contudo, mesmo telefonando de Cannes, não era certo que a casa estivesse suficientemente aquecida para que pudessem dormir lá naquela mesma noite. Naturalmente, havia o hotel, mas não deviam começar juntos uma vida errante. Era preciso, pelo contrário, que, rompendo as amarras, a escuna Clarisse encontrasse um porto seguro, e até mesmo uma pequena enseada, um lugar estável que seria o deles e assim permaneceria: isso significava a casinhola de Julien na região calcária do Tarn, a única coisa que lhe pertencia de fato depois de vinte anos de pôquer, cassino e corridas, e que era, aliás, um legado familiar. Clarisse, que o olhava com o canto do olho para se tranqüilizar, ficaria estupefata de saber que seu subornador procurava na cabeça e em prateleiras longínquas cobertas e travesseiros para a noite seguinte.
O jantar começou muito bem, aliás. Para aquela última noite, o capitão Ellédocq, com um ar imponente e grave como se preparasse para deixar um navio à deriva, lançara em torno olhares benevolentes, ou que assim desejava que fossem, mas que sempre aterrorizavam os jovens barmen e os maitres. Mal se sentara à grande mesa com seus hóspedes, fora chamado ao telefone e se desculpara.
— E agora? Quem vai dirigir a conversa? — perguntou Edma com uma voz aflautada que fez todo mundo rir. — É você, meu caro Lethuillier? Deveria assinalar no seu Fórum esse fenômeno de antropologia, porque, afinal, reflitamos: nós fomos trinta, trinta seres humanos neste navio, completamente dirigidos e levados a passo durante nove dias, e sem reclamar, sob as ordens de um orangotango de boné. Um animal que não compreendia uma simples palavra do que lhe dizíamos e se dirigia a nós em termos guturais. . . Nada tolo, aliás, esse animal. . . Por exemplo, compreendia bem que a campainha queria dizer "comer", "alimento", e era o primeiro a se precipitar para a sala de jantar no mesmo instante e sem mostrar a menor hesitação. . . Não é espantoso? — perguntou em meio ao riso dos vizinhos e com o apoio do riso da Doriacci, que por si só arrastaria uma sala inteira.
É pena que não tivéssemos pensado nisso antes. . . — disse Julien, enxugando os olhos. — King-Kong, nós o teríamos chamado de King-Kong.
Para ele isso não faria a menor diferença — djsse Simon. — Afinal, seu sonho é fazer todo mundo tremer diante dele e que os homens pelo menos lhe falem em posição de sentido.
Psiu! — disse Edma. — Lá vem ele. Mas sem Charley. Onde terá ido .parar Charley? — perguntou, notando seu lugar vazio ao lado, bem como a cadeira vazia de Andreas.
Espero que ao menos não tenha ido a Cannes rodar as boates de pervertidos. . . — resmungou Ellédocq para si mesmo. — Não na última noite. . . A menos que tenha feito de propósito para me aborrecer. . .
O capitão ficaria muito surpreso se lhe tivessem dito que só nesse plano ele apresentava tanto interesse quanto Mareei Proust. Quanto a Charley, não apareceu naquela noite, para grande descontentamento das senhoras. E com toda a razão: sentado em sua cabina, na beira da cama, com a cabeça em cima da bacia esmaltada, e apertando com as duas mãos as torneiras de água quente e de água fria, vomitava e chorava ao mesmo tempo, pensando no que vira no beliche de um cozinheiro da cantina, perto de um dormitório da tripulação. Era um casaco de cashmere bege e azul, do mesmo azul dos olhos de seu proprietário, mas que trazia ainda, no lugar em que o anzol do pescador mecânico o tinha agarrado, um rasgão margeado por uma mancha marrom e tenaz, uma mancha de sangue que toda a água do Mediterrâneo não conseguiria tirar. . .
Era preciso naturalmente que se calasse até que os passageiros saíssem, estivessem longe, e que nada empanasse as últimas delícias artísticas do cruzeiro musical. Charley chorou a noite toda, e tão sinceramente, e sobre lembranças tão falsas e tão ternas, sobre as esperanças que Andreas lhe deixara, sobre todo esse amor que talvez evitasse o gesto fatal! Charley chorou sobre o que não passava de um relato tendencioso de um drama de solidão e que seria substituído dentro de alguns anos, ele já sabia, pelo relato de uma paixão ardente e desesperada cujo abandono por ele, Charley, provocara a morte do único homem que amara.
A madrugada encontrou-o no mesmo lugar, com o rosto inchado, envelhecido dez anos. E foi realmente por bondade de coração, graças à sua natureza profundamente gentil, que se reteve dez vezes durante a noite para não ir chorar com a Doriacci.
Foi assim que Charley Bollinger, pela primeira e última vez, faltou ao jantar de despedida do Narcissus. Faltou também, uma hora mais tarde, aos primeiros compassos do Parabéns a você tocados ao piano por Hans Helmut Kreuze, triunfalmente anunciados pelo apagar das luzes, acompanhando o aparecimento do cozinheiro-chefe, de boné branco, emergindo das entranhas do navio após nove dias de anonimato; trazia com os braços estendidos a consagração de seus talentos: um enorme bolo decorado com os dizeres: "Feliz aniversário, Clarisse". Todo mundo dirigiu os olhares sorridentes a Clarisse, que parecia petrificada. Pôs a mão na boca:
— Meu Deus! — exclamou. — Meu aniversário. Tinha esquecido. . .
Ao lado dela, Julien, surpreso e encantado, como ficava com qualquer festa, sorria-lhe um pouco irônico e bastante prosa por lhe ter feito esquecer seu próprio nascimento.
Não se lembrava realmente? — perguntou Eric (e seu sorriso não tinha calor, embora se estendesse de orelha a orelha).
O que fez, Clarisse, para se esquecer de seu aniversário? — retiniu a voz de Edma. — Quanto a mim, infelizmente, lembro-me de cada vez e me digo: mais um. . . mais um. . . mais um. Mas para você ainda não existem essas reflexões sombrias, não é?
Como, como, "mais um ano"? — disse Simon Bé-jard, animado. — Aí está a mais jovem das mulheres queixando-se agora!
Ele exagerava um pouco, para o gosto de Edma, depois do telefonema sentimental. Olhava para Edma de frente, de face, sorria-lhe sem cessar, piscava-lhe, executava uma pantomima de amante feliz que, mesmo na ausência do marido, seria excessiva, em primeiro lugar, e, depois, de mau gosto. Edma ficou ao mesmo tempo irritada e divertida, confusamente lisonjeada de ver os olhares surpresos dos outros diante dessa conivência estranha. "Que sujeito engraçado, que sujeito engraçado", repetia-se Edma com reticências entremeadas de prazer. Sorria a Béjard, ou olhava-o severamente, de acordo com seus pensamentos, isto é, mudava de atitude a cada três minutos.
— Mas minha querida Edma — continuava justamente Simon, por cima da algazarra em torno do bolo —, mas minha querida amiga, você todos os anos desconta um, não é verdade? Você é e será uma mulher eternamente jovem, sabe bem. Uma cintura de mocinha, uma cintura de vespa mesmo. . . Asseguro-lhe que de costas parece ter quinze anos! — acrescentou, com menos habilidade.
Edma tinha, aliás, virado a cabeça justamente a tempo de não ouvi-lo, nem reparar que, toda vez que cometia uma gafe e a percebia, Simon Béjard enxugava os lábios cuidadosamente três vezes com o guardanapo. Edma encaixara um sorriso de boa vontade na sua direção:
Mas quantas velas? Quantas? — gritava com a voz de falsete que tanto irritara seu apaixonado ruivo e que agora quase o enternecia. — Então, Clarisse, você confessa? Quantas?
Isso não se diz — retrucou Eric. — Não se diz nem para uma mocinha.
Não, mas isso se diz para as senhoras idosas — respondeu Edma corajosamente, e uma expressão de sacrifício passou pelo seu rosto como nuvens sobre um céu azul. — Eu, por exemplo, eu, a velha senhora aqui, digo-lhe direta--mente, meu caro Eric: tenho cinqüenta e sete anos.
Armand Bautet-Lebrêche levantou os olhos ao céu e depois de um breve cálculo acrescentou (imediatamente) cinco anos a essa confissão.
Seguiu-se ligeiro silêncio, silêncio apenas polido, pensou Edma ulcerada, mas logo seu cavalheiro levantou a luva com a elegância habitual.
E daí? . . . E então? . . . Cinqüenta e sete, cinqüenta e oito, cinqüenta e nove, sessenta, o que isso importa se você está cheia de vida como aos vinte anos? Não vejo quem poderia dizer alguma coisa.
Você poderia dizer-lhe "psiu", por exemplo — sugeriu gravemente Julien a Edma.
Aí está um bom conselho — declarou Edma, com um ar digno que seu sorriso desmentia.
E então? — recomeçou Simon. — O que foi que eu disse de errado?. . . É verdade, sessenta anos para uma mulher de nossa época é uma idade extraordinária.
Do ponto de vista de gafes, Béjard perdera o ritmo durante aquela viagem, pensou Julien; parecia ter perdido sua arma automática e só soltava as gafes uma a uma. Naquela noite parecia que essa tendência voltara, e era um bom sinal, apesar de tudo. Lançou um olhar à jovem Olga, que parecia muito menos jovem naquela noite, que tinha a idade do descontentamento e do temor, o que lhe dava mais dez anos. Uma Olga muito decotada pelas sedas exóticas que exaltavam o seu bronzeado, um pouco demais, um pouco "natural" demais naquela roupa sofisticada. Bebia as palavras de Simon, ria às gargalhadas quando ele pedia pão e obstinava-se em tirar-lhe do casaco, com gestos maternais e voluptuosos, migalhas visíveis só a ela. Fazia dengos, era esse o termo, pensou Julien.
"Mas por que diabo Clarisse lhe escondera o aniversário? Teria esquecido, realmente? E ele que nada tinha para lhe dar!" Inclinou-se para se queixar, mas diante da expressão perplexa dela viu que, de fato, ela esquecera. E como se adivinhasse seus pensamentos, Clarisse virou-se e disse, simplesmente:
Sim, sim, sim. . . graças a você — sorrindo, diante da insistência muda dele.
Você sabe que é muito desagradável — disse Edma, enquanto instalavam o bolo diante de Clarisse e lhe davam uma faca para cortá-lo. — Ninguém nos avisou. Não tenho nada para dar a Clarisse, só roupas que não lhe serviriam ou jóias que não quereria. Estou constrangida, caro senhor — disse a Eric, que se inclinou em contrição.
Eu também, eu também, eu também — disseram os convivas, todos mostrando sinais de desolação.
O próprio Ellédocq soltou um resmungo nostálgico, como se já estivesse se imaginando no convés principal, cercado por toda a tripulação em posição de sentido, entregando a medalha de bom comportamento do Narcissus, oferecida como presente de aniversário pela Companhia Pottin à sra. Eric Lethuillier.
— Não se zanguem — disse Eric, rindo. — Eu sabia que todos vocês queriam agradar Clarisse. Assim, comprei-lhe um presente por nós todos, de sua parte e da minha.
Levantou-se com um ar misterioso, passou para o vestiário e voltou com um embrulho retangular envolto em papel pardo, que todo mundo sabia, antes mesmo que o pousasse numa cadeira na ponta da mesa, ser o Marquet para alguns e o falso Marquet para outros. Depois de um instante de surpresa todo mundo rebentou em "bravos" e cumprimentos por essa generosidade, esse perdão dos pecados oferecido por um bom marido compreensivo, embora ele próprio adúltero. Só Julien e Clarisse trocaram olhares, assustado, o de Clarisse, consternado, o de Julien.
— O que você acha? — disse Eric, olhando-o nos olhos.
— Deveria tê-lo comprado diretamente do sr. Peyrat. . . ou posso chamá-lo de Julien? Devia ter-lhe comprado diretamente, Julien, mas receei que você tivesse ficado ressentido com nossa luta de boxe e que se recusasse a vendê-lo.
Fui eu que o comprei oficialmente — disse Armand Bautet-Lebrêche, todo agitado e todo contente de representar, finalmente, um papel qualquer nessa orquestra em que, no final de nove dias, só tinha o papel sucinto do triângulo.
Foi você? — perguntou Edma com as sobrancelhas franzidas.
Pois foi — respondeu Armand, encantado e orgulhoso dessa pequena farsa, ele que urdia outras mil vezes mais difíceis e mil vezes mais perniciosas durante todo o dia em seu escritório. — Nada tolo, hem? — disse, sorrindo.
— Foi gozado. . . — acrescentou, como se jogasse à sua frente, na toalha, uma pedrinha, esse "gozado", que aliás fez o efeito de uma pedrinha.
Gozado. . . gozado.. . o que foi gozado?. . . — resmungou Edma, severa (de quem, no entanto, ele tomara o termo).
Então, Clarisse? — disse Eric. — Não é uma beleza este quadro? Você está com uma expressão estranha. . .
Foi a surpresa — disse ela corajosamente. — Uma bela surpresa, aliás. . . Adoro esse quadro.
Então aproveite-o — disse Eric com um sorriso gelado. — Vou pendurá-lo em seu quarto, e você poderá olhá-lo toda a noite. Já seria alguma coisa — acrescentou confusamente, sem que os outros pudessem ouvi-lo.
E desculpando-se retirou-se para o corredor, deixando os passageiros confusos por um instante, até que a turbulenta Edma, parecendo mesmo encabulada, fosse convidada por Simon Béjard e, literalmente entusiasmada, começasse a valsar com ele, levando atrás de si pouco a pouco todos os outros convivas para a pista. Clarisse escondeu o rosto no ombro de Julien.
O que você está pensando? — disse ela afinal. — Acho esse presente estranho.
Por quê? — perguntou Julien com voz fria e quase irritada, subitamente. — Por quê? Você não costuma receber presentes em seu aniversário? Acha que eu é que deveria ter-lhe dado o quadro? E que seria mais natural da minha parte do que da de Eric?
Você está louco — respondeu Clarisse, esfregando por um instante a cabeça contra o queixo de Julien. — Você está louco, eu ficaria furiosa. . . Vamos precisar desse dinheiro, não é, para nossas férias ao inverso? Não, o que me inquieta vindo de Eric é que seja um presente só para mim. Eric só me dá presentes para nós dois, tem-me oferecido viagens a dois, carros que ele dirigia e objetos para a casa que ele também aproveitava. Agora parece que ele disse "o seu quadro". Só Deus sabe como fui coberta de presentes só para mim, durante toda a minha infância, mas há dez anos só tenho presentes compartilhados, como diz Eric. Os únicos honrosos, diz ele. Vou lhe parecer terrivelmente egoísta, mas adoraria ter presentes só para mim. . .
Pode me confessar tudo o que você quiser — disse Julien num impulso —, acharei tudo uma delícia. Se eu puder vou lhe dar os mais belos presentes, só para você.
E ele abraçou-a contra si com uma doçura que era a do desespero, mas cuja natureza Clarisse não imaginava. Simon Béjard inclinava-se diante deles num grande gesto espetacular, como se estivesse varrendo o chão com as plumas de seu chapéu, e levava a "gentil dama", como ele dizia, para um tango especialmente antiquado. Julien, sozinho no lugar em que ela o deixara, "parecia o próprio símbolo da desorientação", pensou Edma consigo mesma, passando diante dele nos braços de um velho americano; e não sem razão, pensou, deixando-se docilmente guiar por aquele robô de pés chatos. Apesar da ausência dos dois dançarinos mais dotados e mais animados, Andreas e Charley, houve alguns instantes de excitação e divertimento, por exemplo, quando Edma quis arrastar Ellédocq para a pista, jurando-lhe que depois ele poderia fumar todos os cachimbos que quisesse. Na partida desse cruzeiro, poder-se-ia esperar que a viagem fosse agradável para Andreas e Charley, mas agora só se podia esperar que servisse de apoio para um deles, mas sem o menor erotismo.
Houve um instante menos divertido ou mais excitante, quando Olga, em lágrimas, gritando para Simon que não gostava mais dele, deixou o convés correndo, dando todos os sinais de desespero, isto é, sem batom nos lábios. Mas nenhum desses incidentes foi capaz de afugentar a tristeza, a doçura, o encanto dessa noite que recordava tantas outras tão longínquas já, tão longínquas no tempo e no espaço, aquelas noites perfumadas de jasmim e de panquecas fritas, que não voltariam, e que o inverno, já à espreita no porto, faria esquecer depressa. A Doriacci cantou melodias de De-bussy com voz doce e sentimental, uma voz cuja tristeza excluía a sensualidade, uma voz muito madura e muito jovem, um pouco suplicante, mas reservada ainda assim, uma voz secreta e que tornava absurdos e inúteis todos os pequenos segredos, descobertos ou não, desse cruzeiro. Todo mundo foi deitar cedo, alguns com lágrimas nos olhos sem saber por quê, e em maior número do que seria de supor.
Tendo afinal roído completamente todos os laços que o prendiam em seu reduto, Fuschia, enfim livre, ficou deitado alguns instantes, relaxando assim sua mandíbula dolorida depois de tantas tentativas, e em seguida partiu na caça ao homem.
Foi portanto esse coração sanguinário, e só ele, que Julien Peyrat encontrou em seu passeio noturno, mais longo que de hábito naquela madrugada. Passeava sozinho no convés e, acima do ruído sedoso e sussurrante da proa fendendo a água, tinha a impressão de que seus passos faziam vibrar o assoalho, que as tábuas fremiam sob seus pés e que aquele estalar repercutia nas vigias, nos ouvidos de Clarisse, que não o ouvia. Clarisse devia dormir tranqüila sob o falso Marquet. Clarisse, liberta de sua vida e de seus atos ao mesmo tempo que de sua solidão, Clarisse, que confiara a vida a um barco piloto, ele, Julien Peyrat, que talvez fosse afundar sob seus olhos. Não fora à toa que Eric comprara aquele quadro, Julien sabia muito bem. E perguntava-se quando e onde lhe pediria contas. Protegida contra malversações, ignorante dos furtos que eram os meios de vida de seu amante, Clarisse dormia e talvez o visse em seus sonhos. Clarisse ia provavelmente acordar feliz, sem desconfiar da brevidade de sua felicidade. E mais uma vez Julien temia por ela, temia muito mais a decepção que teria do que o risco de prisão que corria (que não era nada agradável, segundo lhe tinham dito, na República Francesa). Amava-a, era isso, e tinha um prazer masoquista em se dizer que o primeiro amor absoluto que sentia na vida terminaria antes mesmo de começar. . . e que, na única vez que ele amava "bem", esse bem o conduziria à cadeia. Contanto que não fosse logo, contanto que ainda pudesse manter junto a si aquele corpo trêmulo, sentir o perfume de Clarisse. . . Contanto que pudesse ainda mergulhar o rosto em seus cabelos, falar-lhe como a uma criança ou a um animal. . . Contanto que visse a alegria mais louca animar aquele rosto tão belo, tão nobre, na sua inocência, um rosto em que não podia deixar de pensar, às vezes como o de uma heroína de Delly, outras, como o de uma personagem de Laclos. Que o destino lhe deixasse ainda uma vez esse rosto, esses ombros, esse pescoço e as mãos ternas de
Clarisse em seus cabelos, aquela doçura extravagante que irradiava dessa mulher e que fizera de um jogador cínico um apaixonado enregelado. "Clarisse", murmurou ele três ou quatro vezes no ar do fim de noite, num ar branco a acolchoado, um ar sem sol ainda. A luz no convés àquela hora estava cinza, bege-ferrosa e triste. "A gente pensaria estar num navio abandonado, sobre um destroço num oceano Indico de grandes profundezas equívocas."
Um animal que visivelmente não vinha do oceano Indico inscreveu-se subitamente no cristalino de Julien e ali se imobilizou por um segundo: o tempo suficiente para que todos os relés, circuitos, pistas, informações da memória se organizassem e concordassem para avisar Julien, numa mensagem das mais rápidas, que era Fuschia, o cão mordedor que avançava para ele, nessa madrugada, com os pêlos eriçados de raiva; era ele, sem dúvida, que avançava para sua presa, zombeteiro e implacável. Julien só teve tempo de pular para uma escada de serviço. E na sua pressa ainda assim teve a alegria de ouvir os rosnados furiosos e decepcionados do monstro. E, logo em seguida, o prazer inegável de cuspir-lhe de cima da altura de dois metros, que a ausência de vento tornava ideal, pois era só uma questão de mira. Julien não estava muito mal ali em cima, naqueles degraus rígidos, e levou um segundo para compreender a expressão atônita do rosto da Doriacci, quando ela emergiu dos corredores. Envolta numa mistura de albornoz e camisolão africano de seda negra e vermelha, que destoava completamente de todos aqueles cinzas em torno dela, mas alegrava-os, a Doriacci lançou-lhe um olhar inquisitivo e fez-lhe um sinal com a mão para que não continuasse brincando de marinheiro, até perceber a causa de tudo.
— Ora, aqui está o meu amigo Fuschia — disse ela com sua voz tempestuosa.
O interpelado virou a cabeça para ele, e Julien, com um suspiro de resignação, preparava-se para lhe saltar em cima como sobre uma bola de rúgbi para salvar a Diva, quando o animal, para seu grande espanto, veio quase ronronando para a Doriacci, de quem lambeu os pés com energia, sem que ela mostrasse qualquer surpresa.
— Bom dia, meu Fuschiazinho — murmurou ela, pelo contrário. — Bom dia, meu cãozinho gentil. Ele reconhece a mão que o alimenta. Pois é, fui eu que lhe dei aquele chocolate gostoso, o ossinho de frango. E dei também o creme inglês, cãozinho horrível e mau; diga bom-dia à tia Doria. O que o cãozinho quer para o café da manhã? O mau Ellédocq?
"Ah! Não! É o sr. Peyrat que Fuschia quer esta manhã", disse, levantando os olhos para Julien, sobre o qual se fixaram com uma nota de ironia, pensou Julien. "Mas o que é que o senhor tem, sr. Peyrat? Não se incline dessa maneira. É de se perguntar se o senhor vai cair ou se são seus olhos que vão cair do rosto..."
— Certamente devo estar com os olhos fora das órbitas
respondeu Julien, pousando prudentemente o pé no chão.
Mas confesso-lhe que, desde Santa Blandina e os leões, nunca vi coisa semelhante.
Imagine só, sr. Peyrat, eu sou domadora — disse a Doriacci com um sorirso de derrisão —, e me pergunto por onde tem andado meu último leãozinho. Chego a ficar inquieta por ele, o que é muito mau sinal. . . Fuschia, não se mexa daqui e deixe o sr. Peyrat sossegado — disse no mesmo tom.
Não para ele — disse Julien, ao pé do mastro agora, de olhos fixos em Fuschia. — Para ele não é mau sinal, é o que eu quero dizer.
Oh, sim! — disse a Doriacci, convicta. — Oh, sim! Não faltaria mais nada ao pobre Andreas, se eu o amasse. . .
Acho que está sendo muito dura com ele! Não é um bom amante?. . . além de um sujeito encantador?
Um bom amante? Vejamos, sr. Peyrat. O bom amante é o que diz às suas amantes que elas são amantes maravilhosas.
E tornava a dizer isso com uma satisfação sombria, enquanto juntava as pontas do lenço nos ombros.
— Vai se resfriar — disse Julien, tirando o casaco para lhe pôr nos ombros, quando o perfume da Doriacci imobilizou-o por um instante.
Era o perfume de uma mulher que amara muito, enfim, que acreditara ter amado muito antes de encontrar Clarisse. Tinham até gostado muito um do outro, lembrava-se Julien, revendo o terraço do chalé na neve e sentindo as alfinetadas do frio sobre as faces e o calor daquele ventre contra o seu. Foi saindo de um cassino na Áustria, onde sua maneira de jogar um pouco louca atraíra-lhe, sexualmente, propostas de todos os lados. Convém dizer que ele ganhara no zero três vezes seguidas e no oito, quatro vezes.
Está pensando num cassino, sr. Peyrat, ou me engano? — disse a Doriacci, sempre de costas, como se esperasse que depois de lhe ter pousado nos ombros o casaco ele o ajeitasse ou fechasse.
É engraçado — disse Julien ingenuamente, e dando vagamente tapinhas no casaco, perguntou: — Como foi que adivinhou?
Quando se acusa um jogadot de estar pensando no jogo, pode-se dizê-lo um pouco antes ou depois desse pensamento, sem nunca errar.
Virou-se para ele, projetando ao mesmo tempo uma onda de perfume. Olhava-o com tal expressão de convite que Julien, hipnotizado e incapaz de recuatsem esmagar Fuschia, que o cercava, inclinou-se e beijou a Doriacci, sem saber por quê, e provavelmente sem que ela também o soubesse, simplesmente porque era a única coisa a fazer naquele momento preciso. Havia um escaler úmido de orvalho a dois passos, e um pouco mais tarde dele emergia Julien, rindo da horrível brincadeira da Doriacci a respeito das proezas amorosas de Olga Lamouroux. Sentia-se estupefato com esse semi-estupro praticado contra ele, mas nada envergonhado, curiosamente. Era, de fato, o típico acidente, pensou ele; dez minutos brutais com uma mulher que jamais desejara realmente e que não significava nada para ele, uma mulher que procurava um leãozinho de madrugada, enquanto ele próprio vagava por baixo das vigias da cabina de uma mulher casada. A Doriacci tornara a se vestir alegremente, com o rosto um pouco inchado por esse prazer roubado, mas já todo marcado pelo riso de quem pregou uma boa peça em alguém.
Cada vez que eu ouvir um disco seu — disse Julien galantemente — ou cada vez que eu for a um concerto, terei que me esforçar muito para não contar.. .
Conte, conte. Não é vergonhoso contar uma história. O que é vergonhoso é contar muitas histórias. . . Preferiria que você contasse minhas perversidades a ouvir Kreuze falar de minha voz. . . Bem, agora vou dormir. Tudo isso dá sono — disse, sem qualquer romantismo.
E, tendo beijado Julien no rosto e retomado certa altivez no olhar e no porte, desapareceu, deixando-o embasbacado.
Os policiais chegaram ao meio-dia em ponto ao Narcissus, e os passageiros da classe de luxo que haviam permanecido a bordo na última noite, isto é, todos exceto Andreas, sentados à borda da piscina ou dentro dela, sorriam diante dessa chegada. Entre aqueles corpos despidos e bronzeados, ou vestidos como gente rica em férias, os três homens vestidos de escuro e calçados com grossas sapatrancas, com as quais martelavam o convés, tinham qualquer coisa de irreal. Desapareceram por um quarto de hora na companhia de Ellédocq. Quinze minutos em que foram esquecidos, acreditando-se que tratavam de problemas de fretes ou administração. Só Julien os seguira com maus olhos, por alguns instantes, para logo esquecer-se deles também. Mas quando Eric surgiu no convés, ladeado pelos outros quatro homens, Julien compreendeu que ali havia perigo e levantou-se instintivamente, como se tentasse escapar a Clarisse e aos outros, com a intenção de explicar-se (se houvesse alguma coisa a explicar) em lugar discreto; mas essa não era a opinião de Eric. Olhando-o, Clarisse teve medo dele. Ele empalidecera, ria alto demais; em suma, rejubilava-se. E Clarisse sabia por experiência que a alegria de Eric repousava sempre nos aborrecimentos ou na desgraça alheios. Levantou-se também e segurou Julien pelo punho. O mais velho dos três policiais deu dois passos, e Julien, como uma criança inconsciente, pediu aos céus que ele caísse com sua capa e sua pasta no fundo da água.
— Sr. Peyrat, eu creio — disse o policial, mostrando os dentes. — Sou o comissário Rivel, da polícia de Cannes. Aqui está meu cartão. Estou aqui atendendo a queixa do sr. Eric Lethuillier.
De súbito, houve um silêncio total em torno da piscina. Edma fechara os olhos, por sua vez, e dizia a Armand:
Pronto, a confusão está feita. . . O que foi que lhe deu? Como foi se meter nisso?
Meter-me em quê? — perguntou Armand em voz baixa. — O que foi que eu fiz?
— Nada, nada. — Edma tornou a fechar os olhos. Julien assumira sem querer a atitude irônica, com o
rosto divertido, que opunha sempre aos golpes da sorte. Sentia Clarisse um pouco atrás de si, sentia-a no ar quente, ao sol, ao lado dele, vibrando dessa vez de medo. Já não tentava se afastar discretamente, era melhor que ela soubesse brutalmente, diretamente. "Pobre Clarisse. . . pobre querida. . .", dizia para si mesmo, e uma nota de compaixão e ternura fez seu coração resvalar entre as costelas.
— Estamos aqui atendendo a uma queixa do sr. Le-thuillier, portanto — disse o comissário Rivel. — O senhor é acusado de ter vendido ao sr. Eric Lethuillier, pela quantia de duzentos e cinqüenta mil francos, um quadro cuja origem seria impossível ao senhor desconhecer, dadas as suas qualificações profissionais. Acabamos de examinar esse Marquet com o sr. Plessis, perito junto aos tribunais, que é taxativo: o quadro é uma falsificação. E o certificado que o acompanha também.
Julien ouvia-o falar e se aborrecia. Fora atingido por uma letargia, um quase sono que ele desejava acima de tudo, que o arrancaria a esses indivíduos pomposos, suas declarações desagradáveis e a massa de papéis que tudo isso ia desencadear.
A lei é rigorosa — continuava o comissário Rivel. — Vou ser obrigado a levá-lo comigo até a delegacia, onde tomaremos seu depoimento.
Tudo isso é grotesco e ridículo e nada tem de interessante — disse a Doriacci, com os olhos faiscantes, de sua cadeira de convés. — Senhor comissário, estou espantada de ver que na França. . .
Deixe, deixe — interrompeu-a Julien —, tudo isso é inútil. — Fixava o olhar nos pés e no vinco da calça; sua única preocupação era evitar o olhar de Clarisse. Desde que aquele imbecil diante dele começara a discursar, Julien esperava, com todos os músculos do corpo contraídos, que Clarisse fugisse correndo para a sua cabina. Ela ia fazer as malas, voltar para Versalhes, deixar-se maltratar, ser infeliz, o que já esperava quando subira a bordo, mas ele tivera a crueldade, por gosto, de fazê-la crer que aquilo estava acabado. Ela choraria um pouco, enviaria a ele uma carta encantadora para lhe dizer que não lhe queria mal por isso, e jamais se tornariam a ver; ou por acaso. . . e ela desviaria o olhar com compaixão e tristeza, talvez até com alívio, pelo fato de o marido a ter arrancado a esse trapaceiro.
— O senhor reconhece os fatos, imagino? — perguntou o comissário.
Julien via diante dele o belo rosto de Lethuillier convulsionado por uma alegria amarga que lhe torcia a boca e lhe dava o aspecto de um peixe. Ouviu a voz de Clarisse levantar-se por trás dele, mas só compreendeu as palavras um segundo depois, vendo o impacto que elas causaram no rosto de Eric, onde a alegria desaparecera de um golpe para dar lugar à estupefação.
Mas é completamente ridículo... — dizia Clarisse com voz alegre, até mesmo com um risinho. — Comissário, incomodaram-no por nada; mas você poderia ter-me falado, Eric, antes de convocar esses senhores.
Falar com você de quê? — perguntou Eric friamente.
Senhor comissário — disse Clarisse, sem olhar para Eric. — Senhor comissário, estou desolada: tínhamos projetado com o sr. Peyrat e a sra. Bautet-Lebrêche pregar uma peça em meu marido por causa de sua pretensão um pouco irritante em matéria de pintura. Há alguns dias o sr. Peyrat transportava essa falsificação como uma curiosidade; por divertimento, pensamos induzir meu marido a comprar o quadro, prontos naturalmente a revelar-lhe a brincadeira quando chegássemos a Cannes. íamos lhe explicar na hora do almoço, daqui a pouco. . .
Houve um pequeno silêncio, preenchido por Edma Bautet-Lebrêche:
Devo reconhecer — disse ela aos três pobres policiais — que tudo isso é rigorosamente verdade. Estou desolada, Eric, por essa farsa, talvez de mau gosto.
É a sra. Bautet-Lebrêche? — perguntou o comissário, agora furioso, ao que parecia, e cujo tom de voz, ao se dirigir a Edma, não exibia o respeito e a deferência que ela acreditava suscitar em toda parte por onde passava.
Julien viu com prazer o busto de Edma se dilatar e seus olhos e sua voz se aguçarem.
— Eu sou a sra. Bautet-Lebrêbre, de fato. E aqui está meu marido, Armand Bautet-Lebrêche, que é comandante da Legião de Honra, presidente da Câmara de Comércio de Paris e conselheiro do Tribunal de Contas.
Armand pontuava esses títulos com pequenos movimentos de cabeça que em outras circunstâncias teriam feito Julien morrer de rir.
— Perfeitamente — dizia ele com ar indignado também, sem que se soubesse por quê, e a algazarra se generalizou.
Julien sentiu a mão de Clarisse no seu braço e virou-se como que arrependido. Ela olhava-o com os olhos dilatados pelo alívio, e uma lágrima suspensa nos cílios.
— Meu Deus! — disse ela em voz baixa —, tive medo, Julien. . . Pensei que o iriam prender por bigamia!
E sem parecer nem de leve constrangida por essa demonstração, pôs os braços em torno de seu pescoço e beijou-o entre a raiz dos cabelos e a gola da camisa de malha negra.
Um pouco mais tarde, os três policiais, encharcados de champanha, de brincadeiras e risadas, desciam as escadas agitando os braços, e Clarisse, radiosa, apoiada na amurada com os outros passageiros, murmurava a Julien:
— Meu falsariozinho, meu belo amor, o que você acha que tudo isso significa para nós?... — E ela ainda ria de alívio.
Clarisse não queria descer à cabina. Nem mesmo queria tornar a ver Eric. Freava-se com cada centímetro do corpo. E Julien estava meio surpreso, meio divertido, meio irritado com essa resistência, ou, antes, essa covardia.
Mas não pode partir assim sem uma palavra. . . Você viveu dez anos c;om esse homem.
Sim — respondeu Clarisse, desviando o olhar. — Sim, foram dez anos longos demais. Não posso dizer-lhe frente a frente que vou deixá-lo... Sou covarde demais, tenho medo. . .
Mas medo de quê? Ficarei a dois passos. Se ele for grosseiro, você' me chama, chegarei logo e recomeçaremos uma briguinha tipo western para seus belos olhos!
Ria, tentando atenuar a gravidade da situação; via Clarisse enrubescer, empalidecer, agarrar convulsivamente com suas longas mãos o braço dele, via seus olhos se escurecerem com lágrimas de raiva e medo.
Tive emoções demais hoje — disse, ofegante. — Pensei que você não padesse mais ser meu; que fosse preso, que tudo fosse acabar. . . pensei que tudo estivesse perdido, a felicidade. . .
Eu também - respondeu Julien, interrompendo seus conselhos morais — eu também, você deve imaginar. . . E isso bem que podia ter acontecido — completou, depois de um instante de silêncio.
_ O que você quer dizer?
Clarisse parecia surpresa. Sua naturalidade era perfeita demais. Ele ignorava que essa honestidade escrupulosa e esse respeito pela propriedade alheia eram noções reservadas a uma certa burguesia etn ascensão e só raramente eram praticadas pelas pessoas situadas no topo, e mesmo assim só depois de um certo estágio; a falta de escrúpulos aumentava com a fortuna.
— Você sabe; quando compreendeu que eu era um ladrão ordinário, um trapaceiro e um falsário, isso poderia tê-la feito desgostar de mim, não é?
— Não dramatize — disse Clarisse sorrindo (como se ele estivesse se acusando sem razão). — O que você fez não tem importância. Aliás — concluiu ela com um risinho que ele achou cínico —, você não terá necessidade de tudo isso, agora.
"Mas o que ela está pensando? Que quer dizer? Que pensa de mim?" As hipóteses mais extravagantes cruzavam em sua cabeça.
— O que você quer dizer? — perguntou, com voz quase suplicante.
Suplicava de fato que não o considerasse um gigolô, que ladrão já bastava. Suplicava que não o desprezasse, coisa que um dia o obrigaria a fugir, ele percebia, pois a amava.
— Quero dizer que pode ser avaliador sem precisar fazer essas coisas. Compraremos quadros juntos em toda parte, revenderemos e dividiremos os lucros, depois que você tiver reembolsado meu banco, para que fique de bom humor. Você adota uns ares tão moralistas para um falsário! — disse ela ternamente.
E Julien deixou ali, de vez, sua tentativa de compreender o que ela entendia por moralistas. Empurrou-a suavemente para a escada, com certa firmeza porém, e viu-a entrar na cabina, enquanto ele se apoiava à parede do corredor, dividido entre o desejo de pegar aquele alcagüete pelo pescoço e o de encontrar Clarisse não muito acabrunhada, nem muito ferida, nem culpada.
Eric fazia as malas, ou antes: as refazia, pois o camareiro as havia arrumado a seu modo, ignorando que o diretor do Fórum repartia suas bagagens e as classificava com tanto cuidado quanto os artigos de seu jornal. Clarisse fechou a porta e se encostou nela com o coração batendo forte e surdamente. Parecia ouvi-lo ressoar e ficar mais lento. Seu coração enfraquecia-se por momentos, arrastava-se a ponto de parar completamente, quando Eric se virou de chofre, pálido, mas decidido e afável, ao que parecia. Havia um ar de resolução em seu rosto, e de pressa, nos gestos e na voz, que confirmava as suposições de Clarisse. Ele não ia acentuar o golpe, não ia comentar coisa alguma, ia fazer de conta que nada acontecera, como todas as vezes que algo o constrangia.
— Estou arrependido de ter suspeitado do bom Julien
Peyrat. Deveria ter imaginado que era uma brincadeira, de fato. Você está com meu cheque, imagino.
— Sim — disse Clarisse.
Apresentou-lhe o belo cheque de Armand, endossado por Julien à ordem do sr. Lethuillier.
— Bem, enviarei um bilhete ao sr. Peyrat, se você tiver o endereço dele, naturalmente. Você está pronta? Teremos tempo de correr ao aeroporto de Nice e chegarei para o fechamento do jornal.
E sem parecer notar a imobilidade e a desobediência de Clarisse, passou para o banheiro, juntando escovas, pentes, tubos diversos e chegando mesmo a deixá-los cair com grande ruído na banheira, único ponto capaz de revelar sua tensão. Eric jamais deixava cair coisa alguma, nunca quebrava nada, não esbarrava nos móveis, como também não se queimava ao comer batatas quentes. Assim como não fazia o champanha espirrar ao abri-lo. Como também não. . . Clarisse tentava brecar em sua cabeça aquela enumeração de virtudes ou, antes, ausência de defeitos. Era verdade que Eric tinha alguma coisa de negativo, que tudo o que ele fazia era dirigido contra alguém, ou por recusa de alguém. Ele esbarrara na penteadeira ao passar, e Clarisse se viu no espelho como estava: de pé, pálida, feia, era assim que se achava, tendo ainda um tique imbecil, que fazia sua boca tremer para a direita, que ela não conseguia controlar. Aquela mulher pálida no espelho era completamente incapaz de dizer a verdade ou de fugir, escapar a esse belo homem bronzeado e decidido que passava e repassava às pressas diante do espelho onde seu reflexo por vezes simbolicamente escondia o dela.
— Eric. . . — disse, contudo, a mulher do espelho com voz trêmula. — Eric, vou-me embora. . . Não vou partir com você, não voltarei a Paris. . . Acho que vamos nos separar. . . Vou deixá-lo. É. . . é muito aborrecido — disse ela em sua desorientação —, mas não pode ser de outra maneira.
Eric estava diante dela, que o viu parar à sua primeira frase e assim ficar, sem se mexer, ereto sobre as duas pernas, numa posição esportiva que não combinava com o sentido de suas frases. Podia vê-lo pelo canto do olho, sem olhar para ele; via ou adivinhava ou se lembrava de um rosto atento, fechado, drogado pela ação que ia empreender, definitivamente dopado pela idéia que tinha de si mesmo, a segurança formal de que essa ação seria a única a empreender, uma vez que a escolhera. Ela o via com as mãos ao longo do corpo, o busto para a frente, ligeiramente inclinado, o olhar fixo nela. De certo modo parecia estar jogando tênis. Parecia-lhe que as bolas que ela lhe arremessava havia um minuto eram todas indefensáveis. Mas sua voz estava calma quando lhe respondeu:
Você quer dizer que vai partir com esse ladrão barato de quinquilharias, esse desenxabido, esse velho estudante expulso do colégio? Você quer dizer que se interessa por isso: seus poquerzinhos, seus quadros falsos e suas corridas? Esse primário, você, Clarisse?
Eu, Clarisse — repetiu ela atrás dele, sonhadoramente. — Eu, Clarisse. Você bem sabe que eu sou alcoólatra, mimada, indiferente e tola. . . E sem graça — acrescentou ela com uma espécie de prazer orgulhoso e profundo, com uma tonalidade na voz que era de libertação, uma tonalidade que Eric reconheceu imediatamente.
Era a mesma que soara na boca de seu motorista quando o despedira três meses antes; e a daquele grande filósofo, grande escritor, antes colaborador do Fórum, que lhe retirara para sempre sua assinatura antes das férias, em resposta a uma simples observação de Eric sobre seus artigos. Nessas três pessoas, primárias ou não, cultas ou não, e às quais estava ligado por sentimentos ou relações hierárquicas tão diferentes, ouvira soar esse sustenido, esse som, essa quase alegria, dizendo-lhe adeus. Sim, fora de fato alegria, e desta vez era a mesma coisa. Mas o que ele queria ouvir era a vergonha. E a idéia de que não conseguiria provocá-la, arrancá-la de Clarisse, como não conseguira dos outros dois, o acabrunhou, de repente, com tamanha evidência que cambaleou e enrubesceu de vergonha, mas vergonha de si próprio, diante de sua incapacidade.
— Você sabe que não vou retê-la — declarou ele, escandindo as palavras, o que reforçava a brutalidade dos termos. — Não vou amarrá-la à porta da casa de Versalhes, nem controlá-la com guarda-costas, nem fechá-la em casa.
E à medida que enumerava essas vilanias que, justamente, não faria, que se comprometia a não fazer, elas lhe pareciam, pelo contrário, as únicas soluções, as únicas saídas normais, e, muito depressa, ele disse a si mesmo que, desta vez, se encontrasse um estratagema, se conseguisse levá-la para Versalhes, depressa renunciaria a essas elegâncias estúpidas e arrancadas dele pelo medo. E Clarisse pareceu percebê-lo também, pois fez menção de recuar e esbarrou na porta, cuja maçaneta ela alcançou com as mãos atrás das costas.
Não quero matá-la — disse ele com amargura. — Sem querer ser injurioso, querida Clarisse, não vou passar no desespero e nas lágrimas os poucos dias de que precisará para descobrir quem é o sr. Peyrat.
Eu não esperava que fizesse isso — respondeu Clarisse com voz sumida. — Contava até com o Fórum para absorvê-lo e distraí-lo nos primeiros tempos.
— Você pensa em retomar o Fórum?
E, imediatamente, o absurdo dessa frase o constrangeu, apesar de tudo. Ela sabia muito bem que o jornal pertencia a ele, apesar do capital dos Baron, e ele sabia que Clarisse não o tomaria.
— Não. . . esqueça — disse ele brutalmente.
Ela piscou os olhos, como se de fato não o tivesse ouvido. Tinha a expressão tranqüila, apesar de as mãos e o lábio inferior tremerem juntos; chegava a ter um ar sereno. Provavelmente teria encontrado essa coisa invisível nela, essa arma secreta graças à qual sempre lhe escapara e a que ele não chegara a dar um nome, que jamais chegaria a nomear, sem dúvida. E esse "jamais" enfim pronunciado mentalmente teve nele o efeito de um golpe baixo. Ela nunca mais voltaria, estava certo disso agora. E mesmo que fosse culpa dela, e não dele, pelo contrário, ainda assim era uma coisa definitiva e que lhe escapava, que escapava ao seu controle, à sua vontade, que escapava ao seu poder. E foi com voz furiosa, num último sobressalto, que lançou a Clarisse:
— Se pensa que vou sentir sua falta, ou ter saudades por um instante, um só instante, minha pobre Clarisse, realmente, realmente, você está muito enganada!
Olhou-a fixamente sem a ver, sem mesmo ouvi-la, e a resposta dela só chegou a seu entendimento cinco minutos depois que ela partiu:
— Estou certa disso. E é mesmo por essa razão que éu vou-me embora.
— Naturalmente eu não estava lá — gemia Simon Béjard, lançando olhares de censura a Olga, cuja lentidão em arrumar as malas fora a causa desse atraso, ao que parecia. — Eu os teria feito calar. Não sei por quê, mas não suporto tiras. Como se Eric não soubesse que o quadro era falso! Eric já tinha dito que Julien não o teria querido vender a ele, então, hem? Está ficando quadrado, o seu marido. Não quero ofendê-lo, mas ele é um chato. É da raça dos que vivem passando sermões.
Essas diversas considerações entrecortadas pela ingestão de salmão defumado e torradas com caviar escapavam em série e sem elo aparente da boca de Simon Béjard, que as acompanhava às vezes de um olhar para a pessoa diretamente interessada em suas alusões, ou que devia sê-lo. Olga almoçava de olhos baixos, sem maquilagem, com uma blusa chemisier pied-de-poule, um calçãozinho que supostamente devia rejuvenescê-la, mas que justapondo esse toque juvenil do vestuário à melancolia do rosto só lhe dava o aspecto ambíguo de uma velha menininha mal-humorada. Ela também perdera a cena, mas agora isso pouco lhe importava. Os Lethuillier, os Bautet-Lebrêche, os Peyrat e consortes bem podiam se matar entre si ou se deixar lançar na cadeia; enquanto não assinasse o contrato de seu filme com Simon, Olga não se interessava estritamente por nada. O mundo podia voar e as grandes potências se atomizarem umas às outras. Olga estava persuadida de que a chuva atômica não atingiria os estúdios Boulogne e que os presidentes dos Estados Unidos ou da Rússia esperariam pelo menos que ela tivesse assinado o contrato e que se tivesse filmado a última imagem antes de lançar seus bombardeiros. Enquanto esperava, seguia Simon Béjard como um cachorrinho, saltava quando ele ria, rosnava quando ele ficava descontente, enchia sua gamela se ele estava com fome e acompanhava todos os seus discursos com latidos entusiastas. Simon contemplava-a por vezes com um olhar que ela pensava ser terno, mas era apenas um olhar enojado. Falava-lhe duramente, e Clarisse já se interpusera com doçura.
Clarisse estava na cabeceira da mesa, perto de um Ellé-docq sombrio e um Julien distraído e embevecido. Falava, ria, parecia no máximo da felicidade. E Julien a bebia com os olhos. Simon olhou-os por um momento e subitamente sentiu-se muito velho e muito pomposo. Clarisse ia continuar a beber, talvez Julien continuar a jogar, mas ela não se embebedaria mais e ele não trapacearia mais, não tendo realmente mais razões para fazê-lo, nem um nem outro. Ela traria um enxoval de mulher rica, ele traria o seu dote de homem feliz, e a contribuição de Clarisse seria certamente a menor. De repente pareciam duas crianças, dizia-se Simon com nostalgia, dois irresponsáveis dos quais Clarisse parecia ser a mais sensata, sem dúvida, mesmo que essa reflexão fosse fruto da desgraça. E vendo essa mulher rir e enviar olhares ardentes a seu vizinho, Simon sentia que ela podia muito bem entregar-se à felicidade e parar de ponderar. E a felicidade deles tinha chance de durar, já que ambos estavam prontos a fazer concessões, prontos para a indulgência, e ambos detestavam a desgraça. Ela por experiência, ele por instinto.
— Boa sorte! — disse Simon de repente, levantando o copo.
E todo mundo se levantou, bateu com o copo no do vizinho, com expressão emocionada, como para dizer adeus a uma vida anterior, como se todos tivessem visto um pedaço de sua existência desaparecer com aqueles nove dias tão depressa decorridos. E todo mundo sorria de sua própria emoção, exceto Eric, que já descera, e exceto Charley, demasiado sentimental, sem dúvida, e que desde a véspera estava com os olhos cheios d'água. Era tão emotivo, o pobre Charley, pensava Edma Bautet-Lebrêche, batendo seu copo por sua vez. Devia estar chorando pelo pobre Andreas, a quem não chegara a ter, no entanto, e que partira para sofrer em Nantes ou Nevers. . .
Bebamos a Andreas — disse ela —, mesmo que não esteja presente. Bebo à sua carreira!
E eu bebo à sua felicidade — disse a Doriacci com entusiasmo.
E eu bebo a Andreas ator — disse Simon.
E eu também — disseram uns atrás dos outros, até Armand Bautet-Lebrêche, cujo brinde foi interrompido pela saída precipitada, em lágrimas, de Charley Bollinger, que chegou a derrubar a cadeira. "Mas o que será que ele tem? Mas o que o simpático Charley está fazendo? Que bicho o mordeu?", etc. As diferentes hipóteses emitidas daqui e dali foram varridas por Ellédocq, sempre a par de tudo o que pudesse interessar a seu pessoal.
Charley Bollinger doente do fígado — disse ele com ar preocupado, perfeitamente conjugal. — Ontem meio-dia, três pratos ovos nevados. Vou levar especialista em Cannes.
Faz muito bem — disse Edma. — O senhor precisa se ocupar dele, comandante. Afinal, o senhor é ao mesmo tempo Seu pai e seu. . . — interrompeu-se subitamente — seu alter ego.
Quer dizer o quê? — resmungou Ellédocq, sempre desconfiado em matéria das relações entre ele e Charley.
Alter ego quer dizer um outro nós mesmos; Charley o completa, comandante. Ele tem a feminilidade, a doçura e a delicadeza, que sua virilidade tonitruante não lhe permite. Quanto à sua doença do fígado, sei de que se trata: se a atmosfera em torno do pobre Charley não estivesse perpetuamente poluída pela fumaça de charutos ou de cachimbos, ele respirada melhor e teria melhor tex. . . Ah, não, comandante, não revire os olhos, não falo obrigatoriamente do senhor, o senhor não é o único neste navio a lançar nuvens de fumaça. . . Sim, eu sei, nós sabemos todos — continuou ela com voz irritada, enquanto Ellédocq, roxo de raiva, exclamava:
Mas eu não fumo, meu Deus! Eu não fumo há três anos — sem qUe ninguém lhe prestasse atenção, exceto Kreuze, que, ao mesmo tempo que o desprezava, achava que Ellédocq tinha muita razão no seu papel e em sua preocupação com a hierarquia.
Acho o capitão Ellédocq muito corajoso, pelo contrário — disse cde, com sua voz entrecortada. — Para não dar mau exemplo, sem dúvida fuma sozinho em sua cabina. É muito louvável, pois o hábito da nicotina é muito difícil de combater, não é}> — perguntou a Ellédocq, que de vermelho se tornara rubro.
Não — urrou o capitão. — Não. Eu não fumei uma só vez, ninguém me viu fumar. Eu não fumo há três anos. O senhor nunca me viu, sr. Kreuze, nem duas vezes, nem mesmo uma ves, ninguém me viu fumar. . . ninguém — gaguejava Ellédocq, desesperado, enquanto Edma e a Doriacci, como duas colegiais, escondiam o rosto nos pequenos guardanapos.
Ellédocq levantou-se e, tendo voltado ao morse habitual, graças a um enorme esforço para manter o sangue-frio, inclinou-se diante da mesa, com os dedos no boné, heróico e escrupuloso até o fim.
— Espero partida de todos na escada.
Tornou a se inclinar e saiu. Só ficaram na mesa os Bautet-Lebrêche, a Doriacci, Béjard e Olga, Julien e Clarisse.
Já é muito tarde — disse Edma, consultando seu relógio Cartier (posto no cofre do Narcissus pelo tempo da viagem com três ou quatro berloques do mesmo preço). Nós almoçamos às duas horas, aliás, graças a você, Armand. O que foi fazer no cais a esta hora, se não for indiscrição?
Fui procurar alguns jornais financeiros, minha querida — disse Armand sem levantar os olhos do prato.
E você trouxe naturalmente os Echos de la Bourse, o Journal Financier, etc. Nem sei se as novas coleções já foram lançadas em Paris. . .
Eu lhe trouxe o Le Regard, para lhe mostrar a foto da srta. Lamouroux e do sr. Lethuillier — disse Armand, defendendo-se corajosamente. — Acho, aliás, que foi nesse momento que ele resolveu almoçar na cidade. Parecia detestar aquela fotografia, mas não estava mal.
Meu Deus — disse Edma. — Meu Deus, eu perdi isso! Quando eu penso que quase perdi sua prisão também, meu caro Julien. . . Teria ficado doente.
De fato — disse Julien de bom humor —, eu a tenho distraído bastante. Quase vendi uma falsificação ao diretor do Fórum, bati-me com ele a socos, etc, etc. — concluiu rapidamente mas não o bastante para evitar os comentários refinados de Simon Béjard.
E você lhe tomou a mulher, e você o cobriu de ridículo, e, aliás, ele o adora — disse Simon, hílare.
E caiu na gargalhada, no que foi seguido por um risinho azedo e submisso de Olga e pelo riso bem mais convincente da Doriacci, que esse dia e essa noite de solidão pareciam ter posto de muito bom humor. Ela levantou-se e andou até a porta com seu passo régio e com o seu xale vermelho-vivo. Assim fazendo, dirigiu-se a Clarisse, que beijou nas duas faces, antes de beijar Edma e Olga, depois Simon e Armand, até chegar a Julien, que beijou por último, um pouco mais demoradamente de que os outros.
— Adiós — disse ela da porta. — Estou partindo.
Se eu cantar em algum lugar em que vocês estejam, venham me ver; e sem entrada. Devo dois Lieder de Mahler, quatro árias de Mozart e uma canção de Reynald Hahn aos passageiros do Narcissus. Sejam felizes — finalizou, passando pela porta.
Os outros entreolharam-se, levantaram-se com agitação e dirigiram-se ao portaló para despedidas, junto com Ellédocq e Charley.
Clarisse segurava a mão de Julien e lançava para a cidade olhares inquietos, mas Julien levou apenas um quarto de hora para alugar um carro e embarcar metade das bagagens.
— E as outras, como as recuperarei? — perguntou ela, subindo no velho carro de aluguel.
E Julien respondeu-lhe:
— Possivelmente jamais — beijando-a. O carro deu marcha à ré, fez meia-volta no cais para pegar a estrada oeste e parou um instante diante do Narcissus.
O Narcissus exibia-se no porto, ronronando e fumegando ainda com ar alegre, satisfeito do dever cumprido, o Narcissus onde, sob um sol igual ao do dia da partida, reinava um silêncio ensurdecedor, privado das vozes dos passageiros e do ruído das máquinas. Um silêncio que Charley, subindo ao navio, achou atroz, mas Ellédocq, repousante.
Françoise Sagan
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















