



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




A torre, que em princípio não deveria estar ali, crava-se na terra um pouco antes de a floresta negra de pinheiros começar a dar lugar ao lamaçal, e então aos juncos e às árvores retorcidas pelo vento, que se espalham pela extensão de pântanos de água salgada. Depois dos pântanos e dos canais naturais está o oceano, e, descendo um pouco ao longo da costa, um farol abandonado. Toda esta região está isolada há décadas, por motivos que não são fáceis de relatar. Nossa expedição era a primeira a adentrar a Área X em mais de dois anos, e grande parte dos equipamentos deixados pelos nossos predecessores tinha enferrujado; as barracas e cabanas onde se abrigaram não passavam de cascas vazias. Correndo os olhos ao longo daquela paisagem intocada, não acredito que qualquer uma de nós já pudesse perceber a ameaça.
Éramos quatro ao todo: uma bióloga, uma antropóloga, uma topógrafa e uma psicóloga. Eu era a bióloga. Dessa vez a equipe era formada por quatro mulheres, escolhidas em razão do conjunto complexo de variáveis que regem o envio das expedições. A psicóloga, a mais velha de nós, era a líder. Ela nos hipnotizara antes de cruzarmos a fronteira, para assegurar-se de que manteríamos a calma. Precisamos de quatro dias de uma dura caminhada, depois de cruzar a fronteira, para chegar à costa.
Nossa missão era simples: retomar as investigações do governo sobre os mistérios da Área X, avançando devagar a partir do acampamento principal.
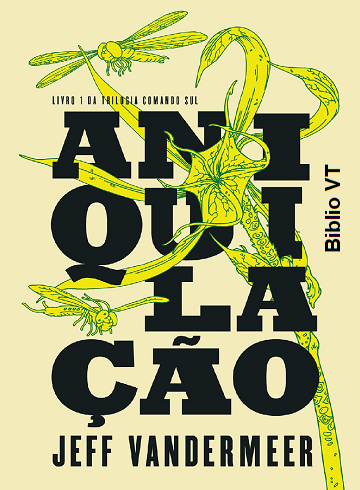
A expedição poderia durar dias, meses ou até mesmo anos, dependendo de diferentes estímulos e condições. Tínhamos trazido suprimentos para seis meses, e no acampamento principal havia em estoque o suficiente para mais dois anos. Asseguraram-nos, também, que poderíamos extrair alimentos da terra, se necessário. Toda a nossa comida era defumada, enlatada ou embalada. Nosso equipamento mais fora do comum consistia em um medidor que cada uma de nós recebera, e que ficava preso ao cinto por uma tira: um pequeno retângulo de metal preto trazendo no centro uma abertura com tampa de vidro. Se essa abertura começasse a emitir um brilho vermelho, tínhamos trinta minutos para nos refugiarmos em “um local seguro”. Não nos disseram o que o aparelho media, nem por que devíamos temer a luz vermelha. Depois das primeiras horas, eu já tinha me acostumado tanto a ele que não lhe dava mais atenção. Também fomos proibidas de levar conosco relógios ou bússolas.
Quando chegamos ao acampamento, nossa primeira tarefa foi substituir os equipamentos obsoletos ou danificados, instalando os que havíamos trazido, e armar nossas próprias barracas. Iríamos reconstruir as cabanas depois, quando nos certificássemos de que a Área X não tinha nos afetado. Os membros da última expedição tinham sumido, um por um. Ao longo do tempo, todos, cedo ou tarde, voltaram para suas famílias, de modo que não haviam propriamente desaparecido. Apenas tinham sumido da Área X e, por meios desconhecidos, reaparecido do outro lado da fronteira. Nenhum deles foi capaz de explicar como isso aconteceu. A transferência se dera ao longo de um período de dezoito meses, e não era algo que tivesse ocorrido com nenhuma das expedições anteriores. Outros fenômenos, contudo, poderiam resultar na “dissolução prematura da expedição”, como nossos superiores descreveram o problema; portanto, era necessário testar nossa resistência ao local.
E precisávamos nos aclimatar ao ambiente. Na floresta próxima ao acampamento, poderíamos encontrar ursos ou coiotes. Uma de nós poderia escutar um grasnido súbito, ver uma garça alçando voo de um galho e, distraída, pisar em uma serpente venenosa (havia pelo menos seis variedades distintas ali). Os charcos e os arroios escondiam grandes répteis aquáticos, o que nos fazia ter o cuidado de não avançar muito para dentro d’água quando colhíamos amostras. Ainda assim, esses aspectos do ecossistema não nos causavam qualquer preocupação. O que nos deixava inquietas eram outros elementos. Muito tempo atrás, existiram cidades ali, e estávamos sempre nos deparando com misteriosos sinais da presença humana: cabanas apodrecidas com teto oxidado e derruído; rodas de carroça enferrujadas semienterradas no chão; e os contornos pouco visíveis de currais de gado, que agora eram meros ornamentos para camadas de marga e folhas de pinheiro.
Muito pior, contudo, era um gemido profundo e penoso que surgia ao pôr do sol. A brisa do mar e a estranha imobilidade do ambiente influíam em nossa capacidade de calcular direções, de maneira que o som parecia infiltrado na água negra que encharcava os ciprestes. Aquela água era tão escura que podíamos ver nela os reflexos dos nossos rostos. E nunca se agitava, era lisa como vidro, refletindo os capuchos de musgo cinzento que ocultavam os ciprestes. Se olhássemos essas áreas, voltadas na direção do oceano, tudo o que víamos eram águas negras, as manchas cinzentas dos troncos das árvores e os farrapos pendurados de musgo como uma chuva imóvel. Tudo o que ouvíamos era aquele gemido baixo. O efeito que ele produzia não pode ser entendido por quem não esteve ali. A beleza de tudo também não, e, quando passamos a ver beleza na desolação, algo muda dentro de nós. A desolação tenta nos colonizar.
Como já falei, encontramos a torre em uma faixa de transição onde a floresta é alagada pelas marés e se transforma em pântano salgado. Isso aconteceu no quarto dia da expedição, quando já conseguíamos nos orientar em torno do acampamento. Não esperávamos encontrar nada ali, julgando pelos mapas que trouxemos, e também pelos documentos manchados de água e de terra que nossos predecessores deixaram para trás. Mas ali estava ela, cercada por arbustos e semioculta pelo acúmulo de musgo, do lado esquerdo da trilha: uma construção circular de pedra acinzentada que parecia ser uma mistura de cimento e conchas do mar trituradas. Media cerca de vinte metros de diâmetro e se elevava a uns vinte centímetros do solo. Nada estava gravado ou escrito em sua superfície, nada que desse qualquer ideia de sua função ou da identidade de seus construtores. No lado norte, uma abertura retangular na superfície lisa revelava uma escada que descia em espiral rumo à escuridão das profundezas. A entrada estava encoberta por teias de aranha e por destroços arrastados pelas tempestades, mas uma corrente de ar fresco soprava lá de baixo.
A princípio fui a única a considerá-la uma torre. Não sei por que a palavra torre me ocorreu, uma vez que estava enterrada no chão. Seria igualmente possível considerá-la um abrigo subterrâneo ou um edifício soterrado. E, no entanto, assim que vi a escada, lembrei-me do farol que havia na praia, e tive uma súbita visão da última expedição desertando dali aos poucos, um a um, e algum tempo depois o terreno se transformando de maneira uniforme e pré-planejada para deixar o farol erguendo-se onde sempre estivera, mas afastando essa parte inferior dele da costa. Visualizei isso em detalhes vastos e intrincados, enquanto estávamos ali paradas, e, em retrospecto, considero este o primeiro pensamento irracional que tive depois que chegamos ao nosso destino.
— Isto é impossível — disse a topógrafa, conferindo os mapas.
A sombra densa de final de tarde a envolvia em penumbra e dava às suas palavras uma urgência que não teriam em outras circunstâncias. O sol estava nos dizendo que precisaríamos usar nossas lanternas para investigar aquela impossibilidade, embora eu particularmente não tivesse objeções a fazê-lo no escuro.
— E, no entanto, está aí — disse eu. — A menos que estejamos tendo uma alucinação coletiva.
— O modelo arquitetônico é difícil de identificar — disse a antropóloga. — Os materiais são ambíguos: de origem local, mas não necessariamente construído por nativos. Sem entrar aí não saberemos se é primitivo, ou moderno, ou um meio-termo. Também não sei se eu arriscaria um palpite sobre a idade.
Não tínhamos como informar nossos superiores a respeito dessa descoberta. Uma das regras de uma expedição na Área X era não tentar nenhum contato com o lado de fora, por temor de alguma contaminação irreparável. Também não tínhamos levado conosco muitas coisas compatíveis com o nível tecnológico atual. Não tínhamos celulares ou telefones via satélite, nem computadores, nem câmeras, nem instrumentos complexos de medição, a não ser aquelas estranhas caixas pretas que pendiam dos nossos cintos. Nossas máquinas fotográficas necessitavam de câmaras escuras improvisadas. A ausência de celulares, mais do que tudo, fazia o mundo real parecer muito remoto para todas as minhas companheiras, mas eu sempre preferira viver sem eles. No que diz respeito a armas, tínhamos facas, uma caixa trancada contendo antigas armas de fogo e um rifle, este último uma relutante concessão feita aos atuais critérios de segurança.
Tudo que se esperava de nós era que fizéssemos relatos, como este, em uma espécie de diário, como este: leve, mas quase indestrutível, feito com papel impermeável, capa flexível em preto e branco, pautas azuis e uma linha vertical vermelha à esquerda, assinalando a margem. Esses diários deveriam retornar conosco, ou então ser resgatados pela próxima expedição. Recebemos instruções para proporcionar o máximo possível de contexto, de modo que alguém totalmente desinformado sobre a Área X pudesse entender nossos relatórios. Também fomos instruídas a não compartilhar com as demais o que escrevíamos nos diários; o excesso de informação compartilhada poderia distorcer nossas observações, ou pelo menos era o que acreditavam nossos superiores. Mas eu sabia por experiência própria o quanto era vã essa tentativa, esse esforço para eliminar conceitos preconcebidos. Nada que esteja vivo e respire é capaz de objetividade total — nem mesmo no vácuo, nem mesmo se tudo que aquela mente possuir for uma ânsia pela verdade capaz de qualquer sacrifício.
— Estou animada com esta descoberta! — exclamou a psicóloga, antes de termos tempo de discutir mais a respeito da torre. — Vocês também estão?
Ela não tinha feito essa pergunta até então. Durante o treinamento, costumava perguntar coisas como: “Até que ponto você acha que pode manter a calma em uma emergência?” Naqueles momentos, eu tinha a impressão de que ela era uma péssima atriz interpretando um papel. Agora, isso era ainda mais aparente, como se o fato de ser a nossa líder a deixasse nervosa por algum motivo.
— É algo muito animador... e inesperado — disse eu, tentando parecer não estar debochando, mas falhando um pouco. Estava surpresa por experimentar uma sensação crescente de agitação, principalmente porque na minha imaginação, nos meus sonhos, esta descoberta seria uma das mais banais. Na minha mente, antes de cruzarmos a fronteira, eu tinha visto tantas coisas: vastas cidades, animais exóticos, e, uma vez, durante um período de doença, um monstro enorme que se erguia das águas para destruir nosso acampamento.
A topógrafa, por sua vez, apenas deu de ombros e não respondeu à pergunta da psicóloga. A antropóloga assentiu, como se concordasse comigo. A entrada da torre se revelava como uma presença, uma superfície em branco que nos permitia escrever muitas coisas sobre ela. Essa presença se manifestava como uma febre moderada, exercendo em todas nós uma espécie de pressão.
Eu lhes diria os nomes das outras três, se isso tivesse alguma importância, mas apenas a topógrafa vai durar mais um ou dois dias. Além disso, nos recomendaram com insistência que não usássemos nossos nomes: ali, deveríamos estar focadas na missão e “tudo que fosse pessoal deveria ser deixado para trás”. Os nomes pertenciam ao lugar de onde viéramos, e não a quem nos tornamos quando transplantadas para a Área X.
Originalmente nosso grupo era formado por cinco pessoas, e incluía uma linguista. Para alcançar a fronteira, cada uma de nós teve que entrar separadamente em um quarto branco, bastante iluminado, com uma porta na extremidade oposta e, em um canto, uma cadeira de metal. A cadeira tinha buracos nas laterais por onde se poderia enfiar correias, e o que isso sugeria me deixou alarmada, mas àquela altura eu estava firme em minha determinação de chegar à Área X. A instalação que abrigava esses aposentos estava sob a administração do Comando Sul, a agência governamental clandestina que lidava com todas as questões pertinentes à Área X.
Ali esperamos, enquanto fomos submetidas a incontáveis exames e a várias rajadas de ar, umas frias, outras quentes, a partir de aberturas no teto. A certa altura, a psicóloga visitou cada uma de nós, embora eu não me recorde do que foi dito. Por fim, saímos por aquela porta afastada e fomos conduzidas até uma área central com portas duplas no fim de um longo corredor. A psicóloga nos recebeu nesse local, mas a linguista nunca mais foi vista.
— Ela mudou de ideia — disse a psicóloga, encarando com firmeza nossos olhares interrogativos. — Decidiu ficar para trás.
Isso nos deixou um pouco chocadas, mas houve também um certo alívio por não ter sido nenhuma das outras. De todas as especialidades que compunham nosso grupo, a de linguista parecia ser a mais descartável.
Depois de um instante, a psicóloga falou:
— Agora, esvaziem a mente.
Isto significava que ela nos hipnotizaria para cruzarmos a fronteira e depois se submeteria a uma espécie de auto-hipnose. Tinham nos explicado que teríamos que tomar precauções antes de cruzar a fronteira, para que nossa mente não nos pregasse nenhuma peça. Ao que parece, alucinações eram comuns. Pelo menos, foi o que nos disseram. Não estou mais certa de que isso fosse verdade. A verdadeira natureza da fronteira tinha sido ocultada de nós, por razões de segurança; sabíamos apenas que era invisível a olho nu.
Assim, quando “despertei” junto das outras, já estava usando o equipamento completo, inclusive botas de caminhada, tendo às costas uma mochila pesando cerca de vinte quilos e uma porção de outros equipamentos presos ao cinto. Nós três cambaleamos, e a antropóloga caiu de joelhos, mas a psicóloga esperou pacientemente que nos recuperássemos.
— Lamento — disse ela —, esta foi a reentrada mais suave que pude produzir.
A topógrafa soltou um xingamento, e eu olhei para ela. Tinha temperamento forte, o que deve ter contado como qualidade positiva. A antropóloga, como era de seu feitio, ficou novamente de pé, sem reclamar. E eu, como era do meu feitio, estava ocupada demais observando tudo para encarar aquele despertar brusco como uma ofensa pessoal. Notei, por exemplo, a crueldade no sorriso quase imperceptível da psicóloga enquanto ela observava nosso esforço para recuperar o equilíbrio, a antropóloga ainda cambaleando e se desculpando por isso. Depois, me dei conta de que eu podia ter interpretado mal sua expressão; talvez tivesse sido de desgosto ou autocomiseração.
Estávamos em uma trilha acidentada, coberta de seixos, folhas secas e agulhas de pinheiro úmidas. Formigas-feiticeiras e pequenos besouros-verdes se arrastavam pelo chão. Os altos pinheiros, com suas cascas escamosas, ladeavam o caminho, e as sombras de pássaros em voo traçavam linhas por entre eles. O ar era tão fresco que fustigava os pulmões, e tivemos dificuldade em respirar nos primeiros instantes, mais por uma questão de surpresa.
Então, depois de assinalar o local com um pedaço de pano vermelho amarrado a uma árvore, seguimos em frente, rumo ao desconhecido. Caso a psicóloga por algum motivo ficasse incapacitada e nós não pudéssemos mais prosseguir com a missão, nossas instruções eram para retornar àquele ponto e aguardar a “extração”. Ninguém jamais nos explicou em que consistiria a “extração”, mas estava implícito que nossos superiores podiam observar o ponto de extração, mesmo a distância, mesmo ele estando deste lado da fronteira.
Tínhamos sido instruídas a não olhar para trás após a chegada, mas mesmo assim dei uma espiada rápida, em um momento em que a psicóloga estava com a atenção voltada para outra coisa. Não sei bem o que foi que vi. Era algo brumoso, indistinto, que já tinha ficado bem lá para trás — talvez um portal, talvez uma ilusão de ótica. Apenas a impressão momentânea de um feixe efervescente de luz, sumindo depressa.
Os motivos que me levaram a ser voluntária nada tinham a ver com as minhas qualificações para a expedição. Acho que fui aceita devido à especialização em ambientes transicionais, e aquela área em particular envolvia diversas transições, ou seja, abrigava uma complexa rede de ecossistemas. Em muito poucos lugares era possível encontrar um hábitat onde, caminhando apenas uns dez quilômetros, o terreno passava de floresta para lamaçal e daí para pântano salgado e então para praia. Na Área X, disseram-me, eu iria encontrar criaturas marinhas adaptadas à mistura de água doce e salobra, e que na maré baixa nadavam ao longo dos canais formados pelos juncos, coabitando com as lontras e os cervos. Se caminhássemos pela praia, toda esburacada pelos caranguejos-uçás, de vez em quando seria possível avistar algum réptil gigante, que também tinha se adaptado àquele lugar.
Foi então que entendi por que ninguém morava na Área X, e o motivo de ela permanecer intocada, mas me esforcei para não pensar nisso. Decidi fingir para mim mesma que o lugar não passava de uma área ambiental protegida, que éramos excursionistas e por acaso também cientistas. Isto fazia sentido em outro aspecto. Não sabíamos o que tinha acontecido ali, o que ainda estava acontecendo, e qualquer teoria preconcebida poderia afetar minha análise dos indícios à medida que eles fossem sendo encontrados. Além disso, pouco me importavam as mentiras que eu dissesse a mim mesma, porque minha existência no mundo lá fora tinha se tornado tão vazia quanto a Área X. Sem nada que me prendesse a outro lugar, eu precisava estar ali. Quanto às outras, não sei o que diziam a si mesmas, e não queria saber, mas acredito que todas elas pelo menos fingiam um certo nível de curiosidade. A curiosidade podia ser uma poderosa fonte de distração.
Naquela noite conversamos sobre a torre, embora as outras três insistissem em considerá-la um túnel. A responsabilidade pelo direcionamento da nossa investigação residia em cada uma de nós, com a autoridade da psicóloga traçando um círculo mais amplo em torno dessas decisões individuais. Parte do embasamento teórico por trás do envio da expedição consistia em dar a cada membro alguma autonomia, o que ajudava a aumentar “a possibilidade de variações significativas”.
Esse vago protocolo existia devido às habilidades específicas de cada uma. Por exemplo, embora todas nós tivéssemos recebido treinamento básico em armamento e técnicas de sobrevivência, a topógrafa possuía mais experiência na área médica e maior habilidade com armas de fogo. A antropóloga já tinha sido arquiteta; na verdade, anos atrás ela sobrevivera a um incêndio em um edifício projetado por ela mesma. Esse era o único fato pessoal que eu havia descoberto ao seu respeito. Quanto à psicóloga, sabíamos sobre ela menos do que sobre qualquer outra de nós, mas acho que todas acreditávamos que ela tivesse formação na área de gerenciamento.
A discussão sobre a torre era, de certo modo, nossa primeira oportunidade para testar os nossos limites quanto a discordâncias e conciliações.
— Não acho que devamos nos focar no túnel — disse a antropóloga. — Primeiro devemos explorar mais adiante, e depois retornar com os dados colhidos nessas investigações, inclusive no farol.
Era previsível, e até talvez previdente, que a antropóloga tentasse propor uma opção mais segura, mais confortável. Embora a ideia de mapear o terreno me parecesse superficial ou repetitiva, eu não podia negar a existência da torre, à qual não havia menção em nenhum mapa.
Então a topógrafa falou:
— No presente caso, acho que devemos verificar o túnel e descartar a possibilidade de que seja algo invasivo ou ameaçador. Antes de explorarmos mais longe. Senão, seria como deixarmos um inimigo às nossas costas enquanto avançamos.
Ela era de origem militar, e pude perceber o valor dessa experiência prévia. Eu imaginava que uma topógrafa estaria sempre a favor da ideia de explorações mais amplas, portanto sua opinião tinha peso.
— Estou impaciente para explorar os hábitats daqui — disse. — Mas, pensando bem, visto que não aparece em nenhum mapa, o “túnel”... ou torre... me parece importante. Ou se trata de uma exclusão deliberada dos nossos mapas e, portanto, é algo conhecido... e nesse caso seria uma espécie de mensagem... ou é algo novo que não estava aqui quando a última expedição chegou.
A topógrafa me lançou um olhar agradecido, mas minha posição não tinha nada a ver com dar-lhe apoio. Havia algo na ideia de uma torre que descia para dentro da terra que produzia em mim uma sensação mista de vertigem e fascinação pela sua estrutura. Não poderia dizer o que me atraía e o que me amedrontava naquilo, e tinha vislumbres tanto do interior da concha de um molusco e de outros padrões comuns na natureza quanto de um salto brusco de um penhasco para o desconhecido.
A psicóloga assentiu, parecendo avaliar essas opiniões, e indagou:
— Alguém até agora já sentiu, mesmo que levemente, vontade de ir embora daqui?
Era uma pergunta legítima, mas mesmo assim desconfortante.
Nós três balançamos a cabeça em negativa.
— E quanto a você? — rebateu a topógrafa, dirigindo-se à psicóloga. — Qual a sua opinião?
A psicóloga sorriu, o que me pareceu esquisito. Mas ela sabia que qualquer uma de nós podia ter recebido a incumbência de observar como ela própria reagia a estímulos. Talvez a ideia de que uma topógrafa, uma especialista na superfície das coisas, pudesse ter sido a escolhida, em vez de uma bióloga ou uma antropóloga, a divertisse.
— Devo reconhecer que no momento estou me sentindo muito pouco à vontade. Mas não tenho certeza se isso se deve ao ambiente em geral ou à presença do túnel. Pessoalmente, gostaria de verificar e descartar o túnel.
Torre.
— Três a um, então — disse a antropóloga, visivelmente aliviada de que a decisão tivesse sido tomada em nome dela.
A topógrafa apenas deu de ombros.
Talvez eu estivesse errada sobre a questão da curiosidade. A topógrafa não parecia curiosa a respeito de nada.
— Está entediada? — perguntei.
— Estou ansiosa para prosseguir com isso — respondeu ela, dirigindo-se ao grupo, como se eu tivesse feito a pergunta em nome de todas nós.
Estávamos tendo essa conversa na nossa barraca em comum. Àquela altura já havia escurecido, e logo depois ouvimos o estranho lamento noturno que sabíamos se dever provavelmente a causas naturais, mas que mesmo assim nos provocava alguns calafrios. Como se aquilo fosse um sinal de dispersar, voltamos para nossas barracas individuais, sozinhas com nossos pensamentos. Fiquei deitada por algum tempo tentando encarar a torre como um túnel, ou como um poço, mas sem sucesso. Em vez disso, minha mente voltava o tempo todo a fazer a mesma pergunta: O que está oculto na base daquilo?
Durante a caminhada até o acampamento perto da praia, não experimentamos nada de extraordinário. Os pássaros cantavam como deveriam; os cervos fugiam, as caudas brancas erguidas como pontos de exclamação nos tons verdes e marrons da vegetação; os guaxinins, com aquelas patas abauladas, cuidavam de seus afazeres e nos ignoravam. Acho que todas nos sentíamos quase atordoadas ao caminhar em liberdade depois de tantos meses de treinamento e preparação. Enquanto estávamos naquele corredor, naquele espaço de transição, nada poderia nos tocar. Não éramos nem o que tínhamos sido antes, nem aquilo em que nos tornaríamos ao chegar ao nosso destino.
Na véspera de chegarmos ao acampamento, aquele estado de espírito foi brevemente quebrado pelo aparecimento de um enorme javali, que seguia pela trilha alguma distância a nossa frente. Estava tão longe que mesmo com nossos binóculos tivemos dificuldade em identificá-lo, de início. No entanto, apesar da pouca visão, os porcos selvagens têm um olfato poderosíssimo, e ele disparou em nossa direção quando estávamos a cerca de cem metros. Arremeteu ruidosamente ao longo da trilha, e mesmo assim ainda tivemos tempo para pensar no que faríamos. Sacamos nossos facões, e a topógrafa preparou o rifle. Talvez as balas fossem capazes de deter um javali de mais de trezentos quilos; talvez não. Não nos sentimos confiantes o suficiente para desviar nossa atenção da fera e abrir os fechos triplos dos estojos com as armas de menor calibre presos às mochilas.
Não houve tempo para que a psicóloga pudesse preparar uma sugestão hipnótica que nos ajudasse a manter o foco e o controle; tudo que ela conseguiu nos dizer foi: “Não cheguem muito perto! Não deixem que ele encoste em vocês!”, enquanto o javali se aproximava com estardalhaço. A antropóloga dava risadinhas nervosas diante do absurdo de uma situação de emergência que demorava tanto a se concretizar. Somente a topógrafa assumiu uma atitude prática e ajoelhou-se com uma perna para disparar com mais firmeza — nossas ordens incluíam uma providencial instrução: “Matar apenas se estiverem ameaçadas de morte.”
Eu continuava olhando pelo binóculo, e, à medida que o javali se aproximava, seu focinho ia ficando cada vez mais estranho. As feições estavam meio contorcidas, como se o animal estivesse passando por um conflito interno. Nada se via de extraordinário no focinho propriamente dito ou nos demais traços, e ainda assim eu tinha a impressão inquietante de alguma presença no modo como seu olhar parecia voltado para dentro e a cabeça, meio inclinada para o lado esquerdo, como se puxada por uma rédea invisível. Em seus olhos faiscava uma eletricidade que não me pareceu real. Preferi imaginar que fosse uma consequência da minha mão trêmula ao segurar o binóculo.
O que quer que estivesse consumindo a fera por dentro logo consumiu seu ímpeto de ataque. Ela se desviou bruscamente para a esquerda, com algo que só posso descrever como um guincho de angústia, e se embrenhou no mato. Quando chegamos ao local, ela já tinha desaparecido, deixando atrás de si um rastro de arbustos despedaçados.
Durante horas, meus pensamentos giraram sem parar, buscando explicações para o que eu tinha visto: parasitas ou outra interferência de natureza neurológica. Eu estava buscando teorias biológicas inteiramente racionais. Depois de algum tempo, o javali foi deixado em segundo plano, como tudo o mais que tínhamos visto desde que atravessamos a fronteira, e eu estava de novo pensando no futuro.
Na manhã seguinte à descoberta da torre, levantamos cedo, tomamos nosso café da manhã e apagamos a fogueira. Havia um frio cortante no ar que era próprio daquela estação. A topógrafa abriu o contêiner das armas e entregou a cada uma de nós uma pistola. Ela continuou de posse do rifle, que tinha a vantagem de uma lanterna fixada sob o cano. Não esperávamos abrir aquela caixa tão cedo, e, embora nenhuma de nós tenha protestado, senti uma nova tensão nos envolvendo. Sabíamos que os membros da segunda expedição à Área X tinham cometido suicídio com armas de fogo e que os membros da terceira tinham atirado uns nos outros. Foi somente após várias outras expedições não sofrerem baixas que nossos superiores permitiram novamente o uso de armas. Éramos a décima segunda expedição.
Então, nós quatro fomos até a torre. O sol se infiltrava no musgo e nas folhas, criando arquipélagos de luz na superfície lisa da entrada. Ela continuava sem nada de extraordinário, inerte, nem um pouco ameaçadora... e, no entanto, era preciso um esforço consciente para permanecer ali, olhando aquela abertura. Percebi a antropóloga checando sua caixa preta e demonstrando alívio ao ver que a luz vermelha não estava piscando. Caso contrário, teríamos que abortar nossa exploração ali, ir investigar outras coisas. Não era o que eu queria, apesar do receio.
— Até que profundidade acha que isso vai? — perguntou a antropóloga.
— Lembre-se de que precisamos confiar em nossos medidores — respondeu a psicóloga, franzindo a testa de leve. — Os medidores não mentem. A estrutura tem 18,7 metros de diâmetro, e se eleva a 19,1 centímetros do chão. O vão da escada parece ter sido posicionado na face norte, o que em algum momento pode ser significativo a respeito de sua criação. É feita de pedra e de coquina, não de metal ou tijolos. Os fatos são esses. Se não aparece nos mapas pode ser simplesmente porque uma tempestade revelou a entrada que estivera coberta.
Achei a fé da psicóloga em medições e sua racionalização da ausência da torre nos mapas estranhamente... sedutora? Talvez ela quisesse apenas nos tranquilizar, mas queria acreditar que ela estava tentando convencer a si mesma. A missão de nos liderar e, possivelmente, de saber mais do que nós devia ser difícil e solitária.
— Espero que tenha apenas uns sete palmos de profundidade, para que possamos continuar mapeando o terreno — disse a topógrafa, tentando aparentar descontração, mas então ela, e todas nós, reconhecemos logo a expressão “sete palmos abaixo da terra” infiltrando-se como um espectro na sintaxe, e um silêncio se abateu sobre o grupo.
— Quero que saibam que não consigo deixar de pensar nisso como uma torre — confessei. — Não consigo vê-la como um túnel.
Parecia importante fazer essa distinção antes de começarmos a descer, mesmo que isso influísse na avaliação delas sobre meu estado mental. Eu via uma torre, enfiando-se chão adentro. A ideia de que estávamos de pé no topo chegava a dar uma ligeira vertigem.
As três olharam para mim, como se eu fosse o estranho gemido ouvido ao entardecer, e depois de um instante a psicóloga disse, a contragosto:
— Se isso a deixa mais confortável, não vejo nenhum mal.
O silêncio pairou de novo sobre nós, ali sob a copa das árvores. Um besouro esvoaçou rumo aos galhos mais altos, deixando um rastro fino de poeira. Acho que percebemos que só naquele momento tínhamos realmente entrado na Área X.
— Eu irei na frente para ver o que tem lá embaixo — disse a topógrafa, por fim, e ficamos satisfeitas em ceder-lhe a dianteira.
O começo da escada fazia uma curva íngreme para baixo, e os degraus eram estreitos, de modo que a topógrafa teria que descer de costas. Usamos pedaços de pau para afastar as teias de aranha, enquanto ela se posicionava para a descida. Ela hesitou um pouco na abertura, o rifle a tiracolo, olhando para nós. Tinha prendido o cabelo para trás, e isso fazia as linhas de seu rosto parecerem contraídas e tensas. Era ali que deveríamos tê-la detido? Ter proposto outra linha de ação? Se era, nenhuma de nós se atreveu.
Com um sorrisinho estranho, quase como se estivesse nos julgando, a topógrafa começou a descer os degraus, até que tudo o que podíamos ver era seu rosto emoldurado pela escuridão; e depois nem isso. Ela deixou um espaço vazio que me chocou, como se o inverso tivesse acontecido e um rosto surgido subitamente no meio das trevas. Soltei um arquejo, que atraiu o olhar da psicóloga. A antropóloga estava distraída olhando para dentro do poço e não reparou.
— Está tudo bem? — perguntou a psicóloga, dirigindo-se à topógrafa.
Tudo estava bem até um instante atrás. Por que seria diferente agora?
A topógrafa respondeu com um grunhido seco, como se concordasse comigo. Durante mais alguns instantes ouvimos o ruído de sua descida dificultosa por aqueles degraus. Então permeou o silêncio, e em seguida outros movimentos em um ritmo diferente, que por alguns instantes terríveis pareciam ter sido produzidos por outra coisa.
Mas então a topógrafa gritou:
— Tudo tranquilo neste nível!
Neste nível. Alguma coisa em mim vibrou diante do fato de que minha visão de uma torre não estava sendo desmentida.
Esse foi o sinal para que eu descesse, junto com a antropóloga, enquanto a psicóloga ficava montando guarda.
— Está na hora — disse a psicóloga, tão mecanicamente quanto se nós estivéssemos na escola e a classe acabasse de ser dispensada.
Uma emoção que não fui capaz de identificar tomou conta de mim, e por um momento percebi pontinhos negros em meu campo de visão.
Segui a antropóloga por entre os restos das teias de aranha e as cascas mumificadas de insetos, mergulhando na atmosfera salobra e fresca daquele lugar, mas com tanta excitação que quase caí por cima dela. Minha última visão do mundo lá fora: a psicóloga me olhando do alto com a testa levemente franzida, e por trás dela as árvores e o azul do céu, quase ofuscante na escuridão das paredes da escada.
Lá embaixo, as sombras se espalhavam pelas paredes. A temperatura caiu, e os sons se tornaram abafados, os degraus macios absorvendo o ruído de nossos pés. Cerca de sete metros abaixo da superfície, a estrutura se alargava em um nível inferior. O teto estava a uns três metros de altura, o que queria dizer que havia cerca de quatro metros de pedra acima de nossas cabeças. A lanterna do rifle da topógrafa iluminava o espaço em volta, mas ela estava de costas para nós, examinando as paredes, que eram de um branco fosco e despidas de qualquer ornamentação. Algumas rachaduras eram indício da passagem do tempo, ou então de algum tipo de pressão. Todo aquele nível aparentava ser da mesma largura que a parte visível do topo, o que reforçava a ideia de uma estrutura inteiriça enterrada no solo.
— Vai ainda mais fundo — disse a topógrafa, e apontou o rifle para o canto mais distante, diretamente oposto ao da abertura por onde descemos.
Havia uma passagem em arco e uma escuridão que sugeria uma escada dando acesso à parte inferior. Uma torre, o que fazia daquele nível onde estávamos não bem um piso, mas um patamar, ou parte do torreão. Ela começou a caminhar na direção do arco enquanto eu ainda estava examinando as paredes com a lanterna. Sua brancura me fascinava. Tentei imaginar quem poderia ter construído aquele lugar, mas não consegui.
Voltei a pensar na silhueta do farol, como eu a vira durante o fim da tarde em nosso primeiro dia no acampamento. Supusemos que aquela estrutura era um farol porque o mapa indicava um farol naquele local e porque todas reconhecemos imediatamente a aparência que um farol deveria ter. Na verdade, tanto a topógrafa quanto a antropóloga tinham manifestado um pouco de alívio ao avistá-lo. Sua existência tanto no mapa quanto na realidade lhes trouxe segurança, deu-lhes um ponto de referência. E saberem sua função também as deixou mais seguras.
Com a torre, nada disso aconteceu. Não podíamos intuir qual era seu formato real. Não tínhamos ideia de sua função. E agora que havíamos começado a explorá-la, a torre ainda se recusava a nos dar qualquer pista. A psicóloga era capaz de recitar as medidas do “topo” da torre, mas isso não significava nada, não sem um contexto mais amplo. Sem contexto, prender-se àqueles números era uma forma de loucura.
— É um círculo regular, visto por dentro, que sugere uma grande precisão na construção do edifício — disse a antropóloga.
Do edifício. Ela já começava a abandonar a ideia de que aquilo fosse um túnel.
Todos os meus pensamentos começaram a brotar em borbotões da minha boca, como uma descarga derradeira do estado emocional que tinha me invadido na superfície.
— Mas qual é seu propósito? É concebível que não apareça nos mapas? Será que alguma das expedições anteriores o construiu e escondeu?
Perguntei isso e muito mais, sem realmente esperar uma resposta. Embora não tivéssemos detectado nenhuma ameaça, parecia importante eliminar qualquer possibilidade de silêncio. Como se, de algum modo, a brancura das paredes se alimentasse do silêncio, e alguma coisa pudesse aparecer nos espaços entre nossas palavras se não tomássemos cuidado. Se eu tivesse revelado essa ansiedade à psicóloga, sei que ela ficaria preocupada. Mas eu estava mais acostumada à solidão do que qualquer outra do grupo, e descreveria aquele lugar, naquele momento de nossa exploração, como de cautela.
Um arquejo da topógrafa me cortou no meio de uma pergunta, sem dúvida trazendo algum alívio à antropóloga.
— Olhem! — disse a topógrafa, projetando o facho de sua lanterna no espaço além da arcada.
Corremos e olhamos para a abertura no chão, juntando nossas lanternas para ajudar a iluminação.
Era mesmo uma escada que descia, desta vez uma curva espiral mais suave, com degraus bem mais largos, porém feitos do mesmo material. À altura do ombro, pouco mais de um metro e meio do chão, vi algo que a princípio tomei por trepadeiras reluzentes coladas à parede da torre, estendendo-se até sumirem nas trevas lá embaixo. Veio-me à mente a lembrança absurda do papel de parede com motivos florais que revestia o banheiro da casa que eu dividira com meu marido. Então, enquanto olhava, as trepadeiras tornaram-se mais visíveis, e percebi que formavam palavras, em letras cursivas, letras que se elevavam cerca de quinze centímetros na superfície da parede.
— Mantenham a iluminação — disse eu, e ultrapassei as duas, descendo os primeiros degraus.
O sangue fervia de novo em minha cabeça, rugia em meus ouvidos. Foi um grande ato de autocontrole dar aqueles passos. Eu não era capaz de dizer que impulso me impelira, exceto que eu era a bióloga do grupo e aquilo me pareceu estranhamente orgânico. Se a linguista estivesse ali, eu provavelmente teria lhe cedido a vez.
— Não toque nisso, seja lá o que for — advertiu-me a antropóloga.
Assenti, mas estava empolgada demais com aquela descoberta. Se tivesse tido o impulso de tocar as palavras na parede, nada teria me impedido.
Quando cheguei mais perto, será que fiquei surpresa ao perceber que era capaz de entender a língua em que aquelas palavras estavam escritas? Sim. Será que isso me encheu com uma mistura de excitação e medo? Sem dúvida. Tentei reprimir os milhares de perguntas que brotavam dentro de mim. No tom mais calmo que fui capaz de produzir, consciente da importância daquele momento, comecei a ler do princípio, em voz alta:
— De onde jaz o fruto asfixiante que veio da mão do pecador eu trarei as sementes dos mortos para partilhar com os vermes que...
O resto sumia na escuridão.
— Palavras? Palavras? — perguntou a antropóloga.
Sim, palavras.
— São feitas do quê? — perguntou a topógrafa.
Elas precisavam ser feitas de alguma coisa?
A luz projetada no restante da frase tremia e oscilava. De onde jaz o fruto asfixiante banhava-se em luz e sombra, como se ambas travassem uma batalha pelo seu significado.
— Me deem um momento, preciso chegar mais perto.
Era verdade? Sim, eu precisava chegar mais perto.
São feitas do quê?
Eu nem tinha pensado nisso, embora devesse tê-lo feito. Ainda estava tentando decifrar seu significado, então minha mente não tinha feito a transição para a ideia de recolher uma amostra. Mas como aquela pergunta me aliviou! Porque me ajudou a enfrentar a compulsão de continuar a leitura, de afundar para a escuridão mais densa e continuar descendo até ler tudo que havia para ser lido. Aquela frase inicial já se infiltrava em minha mente de maneiras inesperadas, encontrando ali um solo fértil.
Dei um passo à frente e olhei para De onde jaz o fruto asfixiante. Vi que as letras, conectadas entre si pela caligrafia cursiva, eram formadas pelo que, aos olhos de um leigo, pareceria um musgo verde e abundante, mas, na verdade, era um tipo de fungo ou outro organismo eucariótico. Os filamentos encaracolados estavam unidos de maneira bem compacta e formavam um relevo na parede. Um odor amargoso se elevava daqueles traços, junto com um discreto cheiro de mel apodrecido. Aquela floresta em miniatura oscilava, quase imperceptivelmente, como plantas submarinas submetidas a uma suave corrente marítima.
Existiam outros seres naquele pequeno ecossistema. Semiocultas pelos filamentos verdes, a maioria daquelas criaturas era translúcida e tinha o formato de minúsculas mãos cravadas na superfície pelo pulso. Nódulos dourados cobriam a ponta dos dedos dessas “mãos”. Inclinei-me para mais perto, como uma idiota, como alguém que nunca tivesse passado por meses de treinamento de sobrevivência ou mesmo estudado biologia. Alguém na ilusão de que palavras são feitas para serem lidas.
Não tive sorte — ou tive? Despertado por alguma perturbação no fluxo de ar, um nódulo na primeira letra escolheu aquele momento para arrebentar, e uma pequena nuvem de esporos dourados espirrou para fora. Recuei, mas tive a sensação de que algo tinha entrado em minhas narinas, e senti com mais força o cheiro de mel estragado.
Nervosa, recuei ainda mais, pegando emprestados alguns dos xingamentos mais veementes da topógrafa, mas apenas mentalmente. Meu instinto natural sempre foi o de dissimular. Já podia imaginar a reação da psicóloga à minha contaminação se eu a revelasse ao grupo.
— Alguma espécie de fungo — falei, por fim, respirando fundo para manter a voz sob controle. — As letras são feitas de esporocarpos. — Quem poderia dizer se era verdade? Era apenas a coisa mais próxima de uma resposta.
Minha voz deve ter parecido mais calma do que meus pensamentos, porque não houve hesitação na reação delas. No seu tom de voz não havia nenhum indício de que tivessem visto esporos explodindo de encontro ao meu rosto. Eu estava tão próxima. Os esporos eram tão minúsculos, tão insignificantes. Eu trarei as sementes dos mortos.
— Palavras? Feitas de fungos? — disse a topógrafa, ecoando estupidamente o que eu dissera.
— Não há registro de nenhuma linguagem humana que use esse método de escrita — disse a antropóloga. — Existe algum animal que se comunique dessa forma?
Tive que dar uma risada.
— Não, não há nenhum animal que se comunique assim. — Ou, se havia, eu não consegui lembrar seu nome naquele momento, e nem mais tarde.
— Está brincando? É uma brincadeira, não é? — disse a topógrafa.
Ela parecia pronta para descer até lá e mostrar que eu estava errada, mas não se mexeu.
— Esporocarpos — repliquei, quase como em um transe. — Formando palavras.
Uma calma havia se apoderado de mim. E uma sensação oposta, como se eu não conseguisse respirar, ou não quisesse, que era de natureza claramente psicológica, não fisiológica. Eu não havia percebido mudanças físicas, e, de certa forma, isso não importava. Sabia ser improvável que tivéssemos um antídoto para algo tão desconhecido no acampamento.
Mais do que tudo, eram as informações que eu estava tentando processar que me imobilizavam. Aquelas palavras eram compostas de esporocarpos simbióticos cuja espécie eu desconhecia. E o modo como os esporos estavam espalhados pelas palavras indicava que, quanto mais descêssemos pela torre, mais o ar estaria cheio de contaminadores em potencial. Havia motivos para repassar essa informação às outras, quando isto iria apenas deixá-las alarmadas? Não, decidi, talvez de modo egoísta. O mais importante era cuidar para que elas não sofressem nenhuma exposição direta até que pudéssemos voltar com o equipamento apropriado. Qualquer outra avaliação dependia de fatores ambientais e biológicos sobre os quais eu estava cada vez mais convencida de que tínhamos dados insuficientes.
Voltei a subir as escadas até o patamar de onde a topógrafa e a antropóloga me olhavam com expectativa, como se eu tivesse algo mais a dizer. A antropóloga, principalmente, estava no auge da tensão: seus olhos pareciam incapazes de se deter em alguma coisa, moviam-se o tempo todo. Talvez eu devesse ter inventado algo que a fizesse interromper essa busca incessante. Mas o que eu poderia dizer sobre as palavras na parede, exceto que eram absurdas, ou insanas, ou ambas as coisas? Eu preferiria que elas estivessem escritas em alguma língua desconhecida; de certo modo, isso teria nos apresentado um mistério menor para decifrar.
— Deveríamos voltar à superfície — disse.
Não falei isso por achar que esse fosse o melhor plano de ação, mas porque queria limitar a exposição delas aos esporos até que eu pudesse descobrir quais eram seus efeitos a longo prazo sobre mim. Também sabia que, se ficasse mais tempo ali, poderia ter a compulsão de voltar a descer as escadas para reler aquelas palavras, e elas teriam que me conter à força, e eu não sabia qual seria minha reação.
Nenhuma das duas discordou. Mas, enquanto subíamos de volta, tive um instante de vertigem, apesar de estarmos em um espaço tão fechado; uma espécie de pânico momentâneo, em que as paredes pareceram assumir um aspecto carnal, como se estivéssemos atravessando a garganta de um animal.
* * *
Quando dissemos à psicóloga o que tínhamos visto, e quando lhe recitei algumas daquelas palavras, ela a princípio ficou paralisada e estranhamente atenta. Depois resolveu descer para olhar as letras. Fiquei sem saber se deveria aconselhá-la a não fazer isso. Por fim, falei:
— Observe tudo do topo da escada. Não sabemos se há toxinas. Quando voltarmos lá, devemos usar máscaras.
Essas, pelo menos, eram uma herança deixada pela expedição anterior, seladas em um contêiner.
— Paralisia não é uma análise convincente? — disse-me ela com um olhar penetrante.
Senti uma espécie de comichão atravessar meu corpo, mas não falei nada, não fiz nada. As outras nem pareceram perceber que ela falou comigo. Só depois me dei conta de que a psicóloga tinha tentado me laçar com uma sugestão hipnótica que visava a mim, e só a mim.
Ao que parece minha reação estava enquadrada entre as respostas aceitáveis, porque ela desceu a torre enquanto aguardávamos, ansiosas. O que faríamos se ela não voltasse? Um senso de posse cresceu dentro de mim. Fiquei inquieta com a ideia de que ela pudesse sentir a mesma compulsão de ler até mais adiante, e ceder a esse impulso. Mesmo sem entender o que aquelas palavras eram, eu queria que elas significassem algo, para que eu pudesse remover a dúvida com presteza e trazer a razão de volta a todas as minhas equações. Esses pensamentos me distraíram e me fizeram não pensar nos efeitos dos esporos sobre o meu organismo.
Por sorte as outras duas não manifestaram vontade de conversar, e depois de apenas uns quinze minutos a psicóloga emergiu desajeitadamente da escada, piscando para acostumar a vista à luz do sol.
— Interessante — comentou em uma voz neutra ao se aproximar de nós, limpando as teias de aranha grudadas à roupa. — Nunca vi nada parecido. — Ela deu a impressão de que iria dizer mais alguma coisa, mas mudou de ideia.
O que a psicóloga falou nos pareceu quase idiota; e pelo visto eu não era a única a fazer esse julgamento.
— Interessante? — disparou a antropóloga. — Ninguém jamais viu nada como isso em toda a história do mundo. Ninguém. Jamais. E você diz que é interessante?
Ela parecia à beira da histeria. E, enquanto isso, a topógrafa olhava para as duas como se elas fossem os organismos alienígenas.
— Quer que eu a acalme um pouco? — perguntou a psicóloga.
Havia em sua voz uma entonação metálica que fez a antropóloga murmurar alguma coisa evasiva e desviar os olhos para o chão.
Quebrei o silêncio com uma sugestão:
— Precisamos de tempo para pensar em tudo isso e decidir o que vamos fazer agora.
O que eu queria, na verdade, era tempo para saber se os esporos que eu havia inalado iriam me afetar de maneira tão significativa que me obrigasse a revelar o que acontecera.
— Talvez a gente não tenha todo o tempo do mundo para fazer isso — disse a topógrafa.
Dentre o grupo, acho que ela havia percebido melhor as implicações do que tínhamos acabado de ver: que agora podíamos estar vivendo uma espécie de pesadelo. Mas a psicóloga a ignorou e juntou-se a mim.
— Sim, precisamos de tempo — disse ela. — Vamos passar o resto do dia fazendo o que viemos fazer.
E assim voltamos para nosso acampamento para almoçar e nos concentramos em “tarefas normais” enquanto eu monitorava meu corpo, atenta a quaisquer alterações. Será que estava com muito frio? Com muito calor? Aquela dor no joelho era de alguma pancada antiga ou algo completamente novo? Cheguei até mesmo a consultar a caixa preta no cinto, mas ela estava inerte. Nenhuma mudança radical acontecera em meu organismo, e, enquanto recolhíamos amostras e fazíamos leituras nas redondezas do acampamento — como se afastar-nos muito dali pudesse nos colocar sob o controle da torre —, fui aos poucos me acalmando e disse a mim mesma que os esporos não tinham provocado nada... mesmo sabendo que o período de incubação de algumas espécies podia ser de meses ou mesmo anos. Imagino que achei que pelo menos pelos próximos dias eu estaria a salvo.
A topógrafa ocupou-se em adicionar detalhes e nuances aos mapas que nossos superiores nos ofereceram. A antropóloga afastou-se para examinar os restos de algumas cabanas a algumas centenas de metros. A psicóloga ficou em sua barraca, escrevendo no diário. Talvez estivesse registrando ali que se encontrava cercada de idiotas; ou talvez estivesse apenas anotando cada detalhe de nossas descobertas matinais.
Quanto a mim, passei uma hora observando uma pequenina rã verde-avermelhada em cima de uma folha larga e pesada, e mais outra hora acompanhando o trajeto de uma iridescente libélula negra, um tipo de inseto que não deveria ser encontrado tão perto do mar. No resto do tempo fiquei ancorada no alto de um pinheiro, examinando com o binóculo a praia e o farol. Eu gostava de alturas. Também gostava do mar, e sentia um efeito calmante em ficar olhando para ele. O ar da Área X era muito limpo e fresco, enquanto o mundo do outro lado da fronteira era o que sempre fora nos tempos modernos: sujo, cansado, imperfeito, afundando em guerra contra si mesmo. Lá, eu sempre sentira que meu trabalho não passava de uma tentativa fútil de nos salvar de nossa própria natureza.
A riqueza da biosfera daqui se refletia na variedade de suas aves, desde canários e pica-paus até cormorões e íbis-negras. Eu também avistava um trecho do pantanal, e minha atenção foi recompensada com a visão rápida de um par de lontras. A certa altura elas ergueram a cabeça, e tive a estranha sensação de que eram capazes de me observar. Era algo que me tomava de vez em quando em meio à natureza: que as coisas não eram bem o que pareciam ser, e eu tinha que lutar contra essa sensação porque ela podia obscurecer minha objetividade científica. Havia também outra coisa se movendo pesadamente entre os caniços, mas estava próxima ao farol e encoberta pelas árvores. Eu não conseguia identificar o que era, e, depois de algum tempo, a movimentação na vegetação cessou, e a perdi de vista. Pensei que podia ser outro porco selvagem, uma vez que eles são bons nadadores e tão versáteis na escolha de seus hábitats quanto na de sua dieta.
De um modo geral, essa estratégia de nos mantermos ocupadas nos ajudou a ficar mais calmas. A tensão se dissipou ao longo do dia, e na hora do jantar já estávamos contando piadas.
— Gostaria de saber o que você está pensando — confessou-me a antropóloga.
— Não, não gostaria — repliquei, e ganhei de volta uma gargalhada que me surpreendeu.
Eu não queria sentir a voz delas dentro da minha cabeça, as ideias que tinham a meu respeito, nem suas histórias ou seus problemas. Por que iriam querer os meus?
Mas não me importava de ver que um senso de camaradagem estava brotando, mesmo que isso não fosse durar muito tempo. A psicóloga autorizou duas cervejas para cada uma de nós, das nossas provisões alcoólicas, e isso me relaxou a ponto de eu expressar desajeitadamente o desejo de manter algum tipo de contato depois de cumprimos a missão. Tinha parado de me examinar em busca de reações psicológicas ou fisiológicas à ação dos esporos, e descobri que eu e a topógrafa nos entendíamos melhor do que havia esperado. Ainda não simpatizava muito com a antropóloga, mas apenas no contexto da missão, e não devido a algo que ela tivesse me dito. Achava que, quando em ação no campo, assim como alguns atletas são bons nos treinos e péssimos durante as partidas, ela exibira até então uma certa fraqueza mental. Embora o mero ato de se apresentar para uma missão como aquela já representasse alguma coisa.
O gemido noturno dos pântanos surgiu logo após o entardecer, enquanto estávamos sentadas em volta da fogueira, e nossa primeira reação foi responder a ele, imitando-o, em uma espécie de bravata alcoolizada. Aquele animal dos alagados já parecia um velho amigo se comparado à torre. Acreditávamos que em breve iríamos fotografá-lo, documentar seus hábitos, colocar-lhe rótulos e designar um lugar para ele na taxonomia dos seres vivos. Ele se tornaria conhecido para nós de um modo que a torre jamais viria a ser. Mas paramos de responder quando a intensidade de seus gemidos cresceu e ganhou um tom irritado, como se a criatura soubesse que estávamos zombando. Houve uma risadaria nervosa entre nós, e em seguida a psicóloga usou isso como deixa para nos informar sobre as tarefas do dia seguinte.
— Amanhã voltaremos ao túnel. Vamos descer mais, tomando a precaução de usar máscaras, como foi sugerido. Registraremos as palavras da parede e tentaremos descobrir sua idade, espero. E também vamos tentar ter uma noção da profundidade do túnel. À tarde, vamos retomar nossas investigações gerais no resto da área. Vamos repetir diariamente esse cronograma até conseguirmos saber o suficiente sobre o túnel e como ele se enquadra na Área X.
É uma torre, não um túnel. Ela parecia estar sugerindo que investigássemos um shopping abandonado, a julgar pelo seu tom... e a verdade é que alguma coisa na sua fala parecia meio ensaiada.
Então de repente ela ficou de pé e disse três palavras:
— Consolidação de autoridade.
Imediatamente a topógrafa e a antropóloga, que estavam ao meu lado, relaxaram o corpo, e seus olhos perderam o foco. Fiquei chocada, mas fiz o mesmo, com a esperança de que a psicóloga não tivesse percebido aquela mínima demora. Não senti nenhum tipo de compulsão, mas parecia claro que tínhamos sido pré-programadas para entrar em estado hipnótico ao ouvir aquelas palavras.
Com uma atitude mais assertiva do que a de minutos atrás, a psicóloga disse:
— Vocês guardarão na memória a lembrança de terem debatido várias opções com relação ao túnel. Vão lembrar que acabaram concordando comigo quanto à melhor linha de ação, e que se sentiram muito confiantes com ela. Terão uma sensação de calma sempre que pensarem nessa decisão, e vão permanecer calmas quando voltarem ao interior do túnel, embora devam reagir a quaisquer estímulos de acordo com seu treinamento. Vocês não devem assumir riscos injustificados.
“Continuarão a ver uma estrutura feita de coquina e pedra. Confiarão totalmente nas suas colegas e terão um sentimento permanente de irmandade. Quando emergirem da estrutura, a visão de um pássaro em voo despertará em vocês a forte sensação de que estão fazendo a coisa certa, de que estão no lugar certo. Quando eu estalar os dedos, não se lembrarão desta conversa, mas devem obedecer minhas ordens. Vão se sentir muito cansadas e decidirão se retirar para suas barracas para ter uma boa noite de sono antes das tarefas de amanhã. Não sonharão. Não terão pesadelos.”
Fiquei olhando direto para a frente enquanto ela dizia isso, e quando a psicóloga estalou os dedos eu peguei a deixa das outras duas e imitei suas ações. Não acho que ela tenha suspeitado de algo, e me retirei para minha barraca quando as outras se direcionaram para as delas.
Agora eu tinha mais dados para processar, além da torre. Sabíamos que a presença da psicóloga era para nos proporcionar equilíbrio e calma em uma situação que podia se tornar estressante, e que parte de sua técnica envolvia sugestão hipnótica. Eu não podia condená-la por desempenhar esse papel. Mas ver isso tudo exposto de forma tão nua e crua me perturbou. Uma coisa é imaginar que você pode estar recebendo sugestões hipnóticas, e outra muito diferente é experimentá-la como mero observador. Que nível de controle ela era capaz de exercer sobre nós? O que queria dizer ao falar que tínhamos de continuar pensando que a torre era feita de coquina e pedra?
O mais importante, contudo, é que agora eu podia adivinhar pelo menos um dos efeitos dos esporos. Eles tinham me deixado imune às sugestões hipnóticas da psicóloga. Haviam me transformado em uma espécie de conspiradora contra ela. Mesmo que suas intenções fossem boas, sentia uma onda de ansiedade quando pensava na possibilidade de dizer a ela que eu era resistente à hipnose — principalmente porque isso significava que algum tipo de condicionamento embutido em nossos treinos estava parando de me afetar.
Eu estava escondendo não apenas um, mas dois segredos, o que queria dizer que eu estava firme e irreversivelmente me alienando da expedição e de seu propósito.
A alienação, em todas as formas que assumia, não era nenhuma novidade naquelas missões. Eu compreendia isso por ter tido a oportunidade, junto com as outras, de assistir às gravações das entrevistas dadas pelos membros da décima primeira expedição após seu retorno. Quando foi identificado que aqueles indivíduos haviam retornado a suas vidas anteriores, eles foram colocados em quarentena e interrogados sobre suas experiências. Era compreensível que, em muitos casos, tivessem sido os próprios membros da família a chamar as autoridades, achando o regresso de seus entes queridos estranho ou aterrorizante. Todos os documentos encontrados em poder dos “retornados” foram confiscados por nossos superiores para exame e estudo. Também estávamos autorizadas a ver esse material.
As entrevistas eram bastante curtas, e nelas todos os oito membros da expedição contavam a mesma história. Não tinham notado nenhum fenômeno extraordinário enquanto estavam na Área X nem registrado nada fora do comum, e não havia relato de nenhum conflito interno no grupo. Mas, depois de algum tempo, todos sentiram um desejo intenso de voltar para casa, e obedeceram a esse impulso. Nenhum deles era capaz de explicar como tinham cruzado a fronteira, ou por que haviam rumado direto para casa em vez de se apresentar imediatamente aos seus superiores. Um por um, eles simplesmente abandonaram a expedição, deixaram para trás seus diários e seguiram para casa. De alguma maneira.
Ao longo dessas entrevistas, suas expressões eram amistosas e seu olhar, franco. Se suas palavras pareciam um tanto monótonas, isso também tinha a ver com a calma, a tranquilidade quase onírica que todos os “retornados” possuíam, mesmo aquele homem troncudo e rijo que tinha atuado como especialista militar da expedição, uma pessoa com um temperamento enérgico e mercurial. Em termos da impressão que produziam, eu não conseguia distinguir nem um só dos oito. Tinha a sensação de que eles agora viam o nosso mundo através de um véu, e que se dirigiam aos entrevistadores através de uma vasta distância no tempo e no espaço.
Quanto às anotações, revelaram-se apenas esboços de paisagens dentro da Área X, ou breves descrições. Algumas mostravam caricaturas de animais ou de outros membros da expedição. Todos eles tinham, a certa altura, desenhado o farol ou se referido a ele. Procurar sentidos ocultos naqueles documentos era o mesmo que procurar sentidos ocultos no mundo natural que nos cerca. Se existiam, só podiam ser ativados pelo olho de quem observava.
Naquela época tudo o que eu procurava era o esquecimento, e o procurava naqueles rostos vazios e anônimos, e mesmo no mais dolorosamente familiar, uma espécie de escape benigno. Uma morte que não significasse continuar morta.
02: INTEGRAÇÃO
Pela manhã, acordei me sentindo mais alerta, de tal modo que até a casca áspera e marrom dos pinheiros, ou os volteios costumeiros dos pica-paus, representavam para mim uma pequena revelação. Aquele cansaço persistente após os quatro dias de caminhada até o acampamento já tinha me abandonado. Seria isso um efeito colateral dos esporos? Ou apenas o resultado de uma noite bem-dormida? Eu me sentia tão bem que nem liguei.
Meu devaneio, no entanto, logo foi contaminado com notícias trágicas. A antropóloga tinha desaparecido, e a barraca fora esvaziada de todos os seus pertences.
O pior, no entanto, era a aparência da psicóloga, abalada, como se não tivesse dormido a noite inteira. Ela apertava os olhos de uma maneira esquisita, e o cabelo estava mais bagunçado do que de costume. Reparei na lama seca nas laterais das botas. Apoiava o peso do corpo na perna direita, como se estivesse machucada.
— Onde está a antropóloga? — perguntou a topógrafa, enquanto eu me mantinha afastada, tentando botar um pouco de ordem naquilo.
O que você fez com a antropóloga?, era a pergunta muda que eu me fazia, sabendo que era injusta. A psicóloga não estava diferente; o fato de eu saber o segredo de seu espetáculo de ilusionismo não queria dizer necessariamente que ela representava uma ameaça.
A psicóloga interrompeu o nosso pânico crescente com uma estranha afirmação:
— Falei com ela ontem à noite. O que viu naquela... estrutura... a deixou nervosa a ponto de não querer mais continuar na expedição. Ela partiu de volta para a fronteira, onde vai aguardar a extração. Levou consigo um relatório parcial, de modo que nossos superiores tomarão conhecimento de nosso progresso.
O hábito que a psicóloga tinha de se permitir esboçar um sorrisinho nas horas mais inadequadas me deixava com vontade de lhe dar um tapa.
— Mas ela deixou o equipamento... e a pistola — disse a topógrafa.
— Ela levou consigo somente o que achava que ia precisar, para deixar mais coisas conosco, inclusive uma arma extra.
— Acha que vamos precisar de uma arma a mais? — perguntei.
Eu estava cheia de curiosidade. Em alguns aspectos eu considerava a psicóloga tão fascinante quanto a torre. Suas motivações, suas razões. Por que não recorria à hipnose agora? Talvez mesmo com nosso condicionamento implantado, algumas coisas não pudessem ser sugeridas, ou o efeito se dissipasse com a repetição, ou ela não possuía naquele momento a energia necessária para fazê-lo, depois dos acontecimentos da noite passada.
— Acho que não sabemos do que vamos precisar — respondeu a psicóloga. — Mas com certeza não precisamos da antropóloga entre nós se ela está incapaz de exercer suas funções.
A topógrafa e eu a encaramos. A topógrafa estava com os braços cruzados. Todas nós tínhamos sido treinadas para ficar de olho em nossas colegas, para detectar sinais de estresse ou disfunção mental súbita. Ela provavelmente estava imaginando o mesmo que eu: tínhamos uma escolha. Podíamos aceitar a explicação da psicóloga para o desaparecimento ou podíamos rejeitá-la. Rejeitando-a, estaríamos afirmando que ela mentiu, e ao mesmo tempo refutando sua liderança em um momento crítico. E se tentássemos seguir a trilha de volta ao ponto de origem, até alcançar a antropóloga, para verificar se a história da psicóloga era verdadeira... será que teríamos forças para retornar ao acampamento depois de tudo?
— Temos que manter o plano inicial — disse a psicóloga. — Devemos investigar... a torre.
A palavra torre, naquele contexto, era um apelo pela minha lealdade.
Ainda assim a topógrafa hesitava, como se tentasse resistir à sugestão implantada pela psicóloga durante a noite. Isto me alarmou por outro motivo. Eu não iria embora da Área X antes de examinar a torre. Esse fato estava entranhado, fazia parte de mim. E naquele contexto eu não admitia a ideia de perder outro membro do grupo tão depressa, ficando sozinha com a psicóloga. Não em um momento em que eu não sabia nada sobre ela e ainda não fazia ideia dos possíveis efeitos dos esporos sobre meu organismo.
— Ela tem razão — afirmei. — Devemos levar a missão adiante. Podemos continuar mesmo sem a antropóloga. — Mas meu olhar firme nos olhos da topógrafa deixou inteiramente claro para nós duas que voltaríamos a discutir sobre a antropóloga mais tarde.
A topógrafa assentiu com um aceno seco e desviou o olhar.
Um suspiro audível de alívio ou de exaustão veio da direção da psicóloga.
— Está resolvido, então — determinou ela, depois passou pela topógrafa e foi preparar o café da manhã.
Até então, era a antropóloga quem o providenciava.
* * *
Na torre, a situação mudou mais uma vez. Eu e a topógrafa tínhamos preparado embalagens leves com comida e água suficiente para passar um dia inteiro lá embaixo. Estávamos armadas. Pusemos as máscaras de gás para evitar os esporos, mesmo sendo tarde demais para mim. Ambas usávamos capacetes com pequenas lanternas fixadas no topo.
Mas a psicóloga ficou de pé na encosta coberta de grama, próxima da entrada da torre, e disse:
— Ficarei vigiando daqui.
— Vigiando o quê? — perguntei, incrédula.
Não queria perder a psicóloga de vista. Desejava vê-la imersa nos perigos da exploração, e não parada no topo, assumindo sobre nós todo o poder implícito nessa posição.
A topógrafa também estava insatisfeita. Em um comportamento quase de súplica, que indicava um alto grau de estresse reprimido, ela disse:
— Você tem que vir conosco. É mais seguro.
— Mas vocês precisam ter certeza de que a entrada está bem protegida — retrucou ela, encaixando um pente de munição na pistola.
O rangido do atrito do metal ecoou mais alto do que eu teria imaginado.
Os dedos da topógrafa, cerrados em torno do rifle, se contraíram tanto que vi as juntas ficarem brancas.
— Você precisa vir conosco — repetiu ela.
— Não há recompensa no risco de todas nós descermos — disse a psicóloga, e pela inflexão reconheci um comando hipnótico.
A mão da topógrafa no cabo do rifle relaxou. Suas feições tonaram-se inexpressivas por um instante.
— Tem razão — disse. — Claro que sim. Faz todo o sentido.
Uma pontada de medo percorreu minha espinha. Agora eram duas contra uma.
Pensei nisso durante um momento, avaliei todo o poder do olhar da psicóloga no momento em que ela concentrou sua atenção em mim. Cenários paranoicos, cheios de pesadelos, passaram pela minha cabeça. Voltaríamos e acharíamos a saída bloqueada. Ou a psicóloga nos abateria uma a uma, à medida que emergíssemos da torre à luz do sol. Exceto pelo fato de que ela poderia ter matado qualquer uma de nós durante o sono, ao longo da semana inteira.
— Não tem muita importância — disse eu, depois de um instante. — Você é tão valiosa para nós aqui em cima quanto lá embaixo.
E assim descemos, tal como antes, sob os olhos vigilantes da psicóloga.
* * *
A primeira coisa que notei ao chegar ao patamar, antes de nos aproximarmos da escada em espiral que descia para as profundezas, antes mesmo de encontrarmos as palavras escritas na parede, foi que... a torre estava respirando. A torre respirava, e quando eu tocava as paredes sentia nelas o eco de um coração batendo... não eram feitas de pedra, e sim de tecidos vivos. Aquelas paredes ainda eram brancas, mas uma espécie de fosforescência branco-prateada se elevava delas. O mundo pareceu rodar por um momento, e eu me sentei pesadamente junto à parede. A topógrafa veio para perto de mim, tentando me ajudar a levantar. Acho que eu ainda estava tremendo quando finalmente fiquei de pé. Não sei se posso reconstituir em palavras a enormidade daquele momento. A torre era uma espécie de criatura viva. Nós estávamos adentrando um organismo vivo.
— O que há de errado? — perguntou a topógrafa, com a voz abafada pela máscara. — O que aconteceu?
Segurei a mão dela e forcei sua palma de encontro à parede.
— Me solte!
Ela tentou se libertar, mas eu não deixei.
— Não está sentindo? — perguntei, insistente. — Não consegue sentir isso?
— Sentir o quê? Do que está falando?
Ela estava assustada, claro. Aos seus olhos, eu estava agindo irracionalmente. Mesmo assim, persisti:
— Uma vibração, uma espécie de pulsação.
Soltei a mão dela e dei um passo para trás.
Ela respirou fundo e manteve a mão encostada à parede.
— Não. Talvez. Não, não... nada.
— E a parede. Do que ela é feita?
— Pedra, é claro — disse ela.
Sob a lanterna do meu capacete, as sombras produziam buracos no seu rosto, seus olhos grandes estavam envoltos pela escuridão, e a máscara dava a impressão de que ela não tinha nariz nem boca.
Respirei fundo. Queria pôr tudo para fora: dizer que eu tinha sido contaminada, que a psicóloga estava nos hipnotizando mais do que podíamos ter suspeitado. Que aquelas paredes eram feitas de tecido vivo. Mas não disse nada. Em vez disso, fiz das tripas coração, como meu marido costumava dizer. Fiz das tripas coração porque tínhamos que avançar, e a topógrafa não era capaz de ver o que eu via, não era capaz de experimentar o que eu estava experimentando. E eu não podia forçá-la a enxergar.
— Esqueça — disse eu. — Fiquei desorientada por um segundo.
— Escute, deveríamos voltar. Você está entrando em pânico — observou ela.
Tinham dito a todas nós que na Área X poderíamos ver coisas que não existiam. Sei que era isso que ela estava pensando ao meu respeito.
Mostrei a caixa preta no meu cinto.
— Não... não está acendendo. Estamos bem.
Era um gracejo, um gracejo meio bobo, mas era.
— Você teve uma alucinação.
Ela não ia largar do meu pé com facilidade.
Você é que não vê o que está ali, pensei.
— Talvez — admiti —, mas isso também não é importante? Não é parte do objetivo? Não estamos registrando tudo? E uma coisa que eu vejo e você não vê pode ser importante.
A topógrafa pensou sobre aquilo por uns instantes.
— Como se sente agora?
— Eu me sinto bem — menti. — Não estou vendo mais nada.
Sentia como se meu coração fosse um animal preso dentro de meu peito e estivesse tentando se arrastar para fora. A topógrafa estava cercada pela aura de fosforescência branca que emanava das paredes. Nada havia desaparecido. Nada havia me deixado.
— Então, vamos em frente — decidiu a topógrafa. — Mas só se me prometer que me avisará caso veja alguma coisa anormal outra vez.
Quase ri ao ouvir aquilo, lembro-me bem. Anormal? Como palavras estranhas escritas em uma parede? Escritas entre minúsculas comunidades de criaturas de origem desconhecida.
— Prometo — disse. — E você fará o mesmo, certo? — acrescentei, devolvendo a bola, mostrando que a mesma coisa podia acontecer com ela.
— Só não me agarre novamente, senão vou machucá-la.
Assenti. Ela não gostou de saber que eu era fisicamente mais forte.
Foi nos termos daquele compromisso vacilante que tomamos a direção da escada e descemos pela garganta da torre, com as profundezas se revelando um incessante espetáculo de horrores de tal beleza e biodiversidade que eu não conseguia assimilar tudo o que via. Mas tentei, como sempre havia tentado, desde o começo de minha carreira.
A primeira coisa de que me lembrava sempre que alguém me perguntava por que me tornei bióloga era a piscina tomada de vegetação nos fundos da casa alugada onde cresci. Minha mãe era uma artista desequilibrada que obteve algum sucesso, mas tinha uma certa afeição por álcool e dificuldade em encontrar novos clientes, ao passo que meu pai era um contador desempregado, especialista em esquemas para ficar rico do dia para noite que geralmente não resultavam em nada. Nenhum dos dois parecia ter a capacidade de se focar em uma única coisa durante certo período de tempo. Às vezes me sentia como se tivesse sido cedida àquela família, em vez de ter nascido nela.
Eles não tinham a iniciativa ou a inclinação para limpar aquela piscina com formato de rim periodicamente, mesmo ela sendo pequena. Logo depois que nos mudamos, a relva nas bordas cresceu bastante. Juncos e outras plantas altas predominavam. Os pequenos arbustos que margeavam a cerca em volta da piscina cresceram até cobrir todo o metal. Havia musgo nas rachas entre os azulejos. O nível da água subiu devagar, encorpado pela chuva, e a superfície foi ficando cada vez mais lodosa. Libélulas esvoaçavam o tempo todo por aquela área. Rãs enormes foram se aproximando junto com seus girinos, que mais pareciam manchas disformes que se moviam. Aranhas-d’água e besouros aquáticos começaram a se apossar do local. Em vez de me desfazer do meu aquário de água doce de mais de cem litros, como desejavam meus pais, joguei os peixes dentro da piscina, e alguns deles sobreviveram ao choque. Garças, garças-reais e outras aves da região começaram a aparecer, atraídas pelas rãs, pelos peixes e pelos insetos. Por algum milagre, também, pequenas tartarugas passaram a habitar a piscina, embora eu não tivesse ideia de como tinham ido parar ali.
Meses depois de nossa chegada, a piscina tinha virado um ecossistema em pleno funcionamento. Eu costumava entrar devagarinho pelo portão de madeira que rangia e ficava observando, sentada em uma cadeira de jardim enferrujada que havia colocado no canto mais afastado. Apesar do medo de me afogar, muito intenso e fundamentado, eu sempre gostara de ficar nas proximidades de grandes massas de água.
Em casa, meus pais faziam as coisas banais e desordenadas que os seres humanos fazem neste mundo, às vezes com bastante ruído. Mas para mim era fácil me perder naquele microecossistema da piscina.
Inevitavelmente, minha obsessiva atenção bloqueava os inúteis sermões de meus pais, cheios de preocupação por causa da minha introversão crônica. Era como se, agindo assim, eles pudessem me convencer de que ainda tinham as rédeas nas mãos. Eu não tinha muitos amigos, ou talvez nenhum, diziam. Eu não me esforçava. Poderia estar ganhando algum dinheiro com um trabalho de meio expediente. Mas quando lhes contei que, muitas vezes, como uma formiga-leão relutante, eu tivera que me esconder dos valentões no fundo das cascalheiras que havia nos terrenos abandonados atrás da escola, eles não tiveram o que dizer. Nem quando um dia, “sem motivo algum”, dei um soco na cara de outra estudante quando ela me disse “oi” na fila do lanche.
E assim nós seguimos, cada qual trancafiado em seus próprios imperativos. Eles tinham a vida deles, e eu tinha a minha. Gostava muito de fingir que era bióloga, e fingir muitas vezes nos transforma em um fac-símile razoável do que a gente está imitando, mesmo que a distância. Registrei minhas observações a respeito da piscina em uma série de diários. Podia diferenciar cada uma das rãs: o Velho Afundão era muito diferente do Pulador Feio; e sabia em que mês a relva estaria cheia de filhotes saltitantes. Sabia quais espécies de garça permaneciam o ano todo e quais eram migratórias. Os besouros e as libélulas eram mais complicados de identificar e seus ciclos de vida, mais difíceis de deduzir, mas eu tentava entendê-los, sempre diligente. Durante esse período, evitei livros de ecologia ou biologia. Queria primeiro descobrir as informações por conta própria.
No que me diz respeito — sendo filha única e uma especialista nos usos da solidão —, minhas observações daquele paraíso em miniatura poderiam se prolongar eternamente. Cheguei até mesmo a acoplar uma lâmpada à prova d’água a uma câmera também à prova d’água, e meu plano era mergulhar a engenhoca sob a superfície escura da piscina e tirar fotos usando um longo arame flexível para acionar o disparador. Não faço ideia se aquilo iria funcionar ou não, porque de um momento para o outro meu tempo acabou. Nossa sorte chegou ao fim, e não podíamos mais pagar o aluguel da casa. Fomos para um apartamento minúsculo, atulhado dos quadros de minha mãe, que aos meus olhos não eram muito diferentes de papéis de parede. Um dos grandes traumas da minha vida era a preocupação com a piscina. Será que os próximos inquilinos seriam capazes de ver sua beleza e a importância de deixá-la como era, ou iriam destruí-la, provocando uma carnificina imensurável com o objetivo de devolver à piscina sua real função?
Nunca fiquei sabendo — não teria coragem de ir até lá, embora a beleza daquele lugar nunca saísse da minha mente. Tudo que eu podia fazer era olhar para a frente e aplicar o que tinha aprendido durante minhas observações. E nunca voltei a olhar para trás, para o bem ou para o mal. Se o financiamento de um projeto se esgotava, ou a área que estávamos estudando de repente era comprada para construção, eu nunca mais voltava ali. Existem alguns tipos de morte que não se pode obrigar alguém a reviver, um tipo de conexão tão profunda que, quando se rompe, você sente o estalo do elo partido dentro de você.
Enquanto descíamos pela torre, voltei a sentir, pela primeira vez depois de muito tempo, o calor da descoberta que eu tinha experimentado quando criança. Mas também fiquei antecipando o estalo.
De onde jaz o fruto asfixiante que veio da mão do pecador eu trarei as sementes dos mortos para partilhar com os vermes que...
Os segredos da torre continuaram a se revelar, aqueles degraus esbranquiçados como os dentes em espiral de alguma besta incomensurável, e continuamos a descer porque não havia escolha. Em alguns momentos desejei que minha mente estivesse tão bloqueada quanto a da topógrafa. Entendi por que a psicóloga havia nos poupado, e fiquei pensando em como ela era capaz de suportar aquilo, pois não tivera ninguém para protegê-la, assim, de... nada.
A princípio, havia “apenas” as palavras, e isso era o bastante. Elas apareciam sempre à mesma altura na parede a nossa esquerda, e por algum tempo tentei gravá-las, mas havia muitas, e seu sentido ia e voltava, de modo que tentar acompanhar o significado das palavras era enveredar por um caminho sem volta. Eu e a topógrafa chegamos logo a um acordo: iríamos documentar a presença física das palavras, mas seria necessária uma missão separada, outro dia, para fotografar aquela frase contínua e interminável.
...para partilhar com os vermes que se reúnem nas trevas e povoam o mundo com o poder de suas vidas enquanto nos salões mal-iluminados de outros lugares formas que nunca poderiam existir se contorcem pela impaciência dos poucos que jamais viram ou jamais foram vistos...
A sensação de inquietude por ignorar a natureza ominosa daquelas palavras era palpável. Contaminava nossas próprias frases quando conversávamos, enquanto tentávamos classificar a realidade biológica daquilo que ambas enxergávamos. Ou a psicóloga queria que nós duas víssemos as palavras e como elas estavam escritas, ou a simples tarefa de suprimir a realidade física das paredes da torre requeria um esforço monumental e desgastante.
Durante nossa descida inicial nas trevas, experimentamos várias coisas: o ar tornou-se mais fresco e úmido, e com a queda da temperatura surgiu também um odor adocicado no ar, como de um néctar diluído. Nós duas observamos ainda as minúsculas criaturas em forma de mão que viviam entre as palavras. O teto era mais alto do que teríamos imaginado, e à luz dos nossos capacetes, quando olhávamos para cima, a topógrafa via cintilações e formas espiraladas como se fossem rastros de caracóis ou de lesmas. Pequenos tufos de musgo e líquen manchavam o teto, e, exibindo uma grande capacidade de aderência, pequenas criaturas translúcidas e de pernas longuíssimas, que lembravam camarões da caverna, passeavam por ali.
Coisas que apenas eu era capaz de ver: as paredes se elevavam e abaixavam sutilmente como se respirassem. As cores das palavras mudavam produzindo um efeito quase ondulatório, como as luzes estroboscópicas de uma lula. Em uma margem de mais de sete centímetros acima das palavras visíveis e sete abaixo, viam-se vestígios de palavras anteriores, escritas na mesma caligrafia cursiva. Na prática, essas camadas de palavras formavam uma espécie de marca d’água, porque eram apenas uma mancha na parede, sendo uma pálida sugestão de algo verde ou roxo o único sinal de que antes se elevavam letras ali. A maioria parecia repetir o texto principal, mas outras não.
Durante algum tempo, enquanto a topógrafa tirava fotos das palavras vivas, fiquei lendo as letras fantasmas para ver suas variações. Era difícil — havia várias faixas superpostas, que começavam, paravam e então recomeçavam. Era fácil perder palavras isoladas e até frases inteiras. A quantidade desses escritos fantasmas mostrava que o processo acontecia há muito tempo. Sem uma ideia melhor da duração de cada “ciclo”, porém, eu não tinha como fazer nem sequer uma estimativa de quantos anos.
Havia também outro elemento de comunicação na parede. Eu não tinha certeza se a topógrafa podia vê-lo. Decidi testá-la.
— Reconhece isso? — perguntei, apontando para uma espécie de treliça que, a princípio, não notei que obedecia a um padrão específico.
Ela cobria a parede até um pouco abaixo da escrita fantasma e acima dela, com uma faixa principal correndo no meio. Parecia uma cadeia de escorpiões presos uns aos outros pelo ferrão, subindo verticalmente para então descer mais uma vez. Eu nem sabia se estava olhando para uma linguagem propriamente dita. Podia ser apenas um padrão decorativo.
Para meu alívio, ela também o avistava.
— Não, não sei o que é — disse ela. — Mas não sou especialista.
Senti um impulso de irritação, mas não em relação a ela. Eu tinha uma mente pouco adequada àquela tarefa, e a topógrafa também; precisávamos de uma linguista. Podíamos passar séculos olhando aquela escrita entrelaçada, e a ideia mais original que me ocorreria seria que ela lembrava as ramificações do esqueleto de um coral. Para a topógrafa, lembrava a rede de afluentes de um grande rio.
A certa altura, no entanto, eu era capaz de reconstruir fragmentos de algumas das variantes: Como posso descansar enquanto existe o mal no mundo... O amor de Deus ilumina qualquer um que entende os limites da resistência, permitindo o perdão... Fui escolhido para servir a um poder maior. Se a frase principal formava uma espécie de sermão sombrio e incompreensível, os fragmentos tinham com ele uma certa afinidade, mas sem a sintaxe rebuscada.
Será que eram restos de algum tipo de relato mais longo, talvez deixados por membros de expedições anteriores? Se era assim, com que intenção foram feitos? E ao longo de quantos anos?
No entanto, todas essas perguntas teriam que ser respondidas mais tarde, à luz do sol. Mecanicamente, como um robô, limitei-me a tirar fotos das frases principais — mesmo com a topógrafa achando que eu estava fotografando uma parede vazia, ou enquadrando de maneira errada algumas daquelas palavras feitas de fungos —, para pôr um pouco de distância entre mim e o que quer que eu pudesse pensar sobre tantas variantes. Enquanto isso a caligrafia principal continuava e continuava a me enervar: ... na água negra e com o sol brilhando à meia-noite, aqueles frutos amadurecerão e naquela escuridão dourada se partirão para expor a revelação da suavidade fatal da terra...
As palavras me derrotavam. Fui recolhendo amostras à medida que avançávamos, mas sem entusiasmo. Todos aqueles minúsculos fragmentos que estava guardando em tubos de vidro com o auxílio de pinças... o que teriam para me dizer? Não muito, eu sentia isso. Às vezes a gente percebe quando a verdade de certas coisas não será revelada sob o microscópio. Em pouco tempo, também, o som das pulsações por trás da parede se tornou tão alto aos meus ouvidos que precisei parar para colocar protetores e abafá-lo, em um momento em que a topógrafa estava distraída. Mascaradas, meio surdas por diferentes razões, continuamos a avançar.
* * *
Deveria ter sido eu a notar a mudança, não ela. Mas depois de uma hora de descida, a topógrafa deteve-se no degrau logo abaixo do meu.
— Não acha que as palavras na parede estão ficando... mais frescas?
— Mais frescas?
— Mais recentes.
Eu a encarei por um momento. Já tinha me acostumado àquela situação, dando o melhor de mim para fingir ser a espécie de observadora imparcial que se limita a catalogar detalhes. Mas senti todo aquele distanciamento tão duramente imposto me abandonar.
— Desligue a lanterna — sugeri, e fiz o mesmo.
A topógrafa hesitou. Depois da minha demonstração anterior de impulsividade, ia levar algum tempo para que ela voltasse a confiar em mim. E não o tipo de confiança capaz de fazê-la obedecer sem pensar a um pedido para mergulhar na escuridão comigo. Mas ela o fez. A verdade é que eu tinha deixado minha arma guardada no coldre do cinto propositalmente, e ela podia ter me abatido em um instante com seu rifle, bastando-lhe um movimento rápido para tirá-lo do ombro. Essa premonição de violência não fazia muito sentido, e, no entanto, me veio com facilidade à mente, quase como se colocada ali por forças externas.
No escuro, com a pulsação da torre ainda ecoando nos meus tímpanos, as letras, as palavras ondeavam enquanto as paredes estremeciam respirando, e eu vi que sem dúvida pareciam mais ativas, as cores mais brilhantes, a luminescência mais intensa do que eu lembrava ter visto alguns níveis acima. Era um efeito ainda mais evidente do que se as palavras tivessem sido escritas com uma caneta tinteiro. O polimento brilhante e úmido do que é novo.
Parada ali naquele lugar impossível, eu o disse antes que a topógrafa pudesse fazê-lo, para me apropriar daquela descoberta.
— Alguma coisa abaixo de nós está escrevendo essas linhas. Alguma coisa lá embaixo talvez ainda esteja escrevendo essas palavras.
Estávamos explorando um organismo que poderia conter um misterioso segundo organismo, que, por sua vez, estava usando outros organismos para produzir aquelas palavras na parede. Aquilo fazia a piscina coberta de vegetação da minha infância parecer uma coisa simplista, unidimensional.
Voltamos a acender as lanternas. Vi o medo nos olhos da topógrafa, mas também uma estranha determinação. Eu não fazia ideia do que ela via nos meus.
— Por que disse alguma coisa? — perguntou ela.
Não entendi.
— Por que você disse “alguma coisa”, em vez de “alguém”? Por que não pode ser “alguém”?
Dei de ombros.
— Pegue sua arma — disse a topógrafa com certo desgosto na voz, encobrindo alguma emoção mais profunda.
Obedeci, porque de fato não me importava. Mas segurar a arma fez com que me sentisse desajeitada, esquisita, como se aquela fosse uma reação errada ao que poderia nos acontecer.
Como até aquele ponto eu tinha meio que assumido a liderança, agora parecíamos ter trocado de papéis, e a natureza de nossa exploração consequentemente mudou.
Tínhamos estabelecido um novo protocolo. Paramos de registrar as palavras e os organismos na parede. Passamos a andar mais rápido, com a atenção focada na escuridão diante de nós. Falávamos aos sussurros, como se alguém pudesse estar nos ouvindo. Fui na frente, com a topógrafa cobrindo a retaguarda até chegarmos a uma curva, quando ela tomou a dianteira e eu a segui. Em nenhum momento falamos em voltar. A psicóloga, vigiando lá fora, parecia ter ficado a milhares de quilômetros de distância. Estávamos tomadas por uma energia nervosa produzida pela impressão de que encontraríamos uma resposta lá embaixo. Uma resposta viva, respirando.
Bom, a topógrafa podia estar pensando na situação nesses termos. Ela não sentia ou escutava a pulsação das paredes. Mas à medida que avançávamos mesmo eu não conseguia visualizar quem tinha escrito aquelas frases. Só via o mesmo de antes, quando olhei para trás após atravessar a fronteira, a caminho do acampamento: um feixe esbranquiçado e fora de foco. E mesmo assim sabia que não era algo humano.
Por quê? Por uma razão muito boa — uma razão que a topógrafa percebeu depois de mais vinte minutos de descida.
— Há alguma coisa no chão — disse ela.
Sim, tinha algo no chão. Já há bastante tempo os degraus estavam cobertos por uma espécie de resíduo. Eu não tinha parado para examiná-lo porque não queria deixar a topógrafa nervosa, já que não sabia se ela podia vê-lo ou não. Esse resíduo cobria a distância que ia da base da parede à nossa esquerda até cerca de meio metro da parede à direita. Isso significava que cobria uma extensão de cerca de três metros nos degraus.
— Deixe-me dar uma olhada — pedi, ignorando o tremor em seus dedos.
Ajoelhei-me, virando-me para dirigir o facho de luz da lanterna para os degraus que se erguiam às minhas costas. A topógrafa aproximou-se para olhar por cima do meu ombro. Aquele resíduo cintilava com um tênue brilho dourado através de flocos avermelhados como sangue seco. Parecia refletir parcialmente a luz. Toquei-o com uma caneta.
— É viscoso, como um muco — observei. — A camada nos degraus tem pelo menos três centímetros de espessura.
A impressão geral que aquilo nos dava era de algo que estava rastejando pelos degraus.
— E quanto àquelas marcas? — perguntou a topógrafa, inclinando-se para a frente e apontando outra vez.
Ela sussurrava, o que me parecia desnecessário, e sua voz estava tensa. Mas quanto mais eu percebia seu pânico aumentar, mais calma me sentia.
Examinei o rastro por algum tempo. Algo escorrendo, talvez, ou sendo arrastado, mas devagar o bastante para revelar muitas coisas nos resíduos deixados para trás. As marcas que ela apontava eram ovais, com cerca de trinta centímetros de comprimento por quinze de largura. Havia seis delas nos degraus, em duas fileiras. Uma profusão de endentações em seu interior lembrava as marcas deixadas por cílios. A cerca de vinte e cinco centímetros dessas marcas, circulando-as, havia duas linhas. Esse círculo duplo e irregular ondulava para dentro e para fora, quase como a barra de uma saia. Para além dessas “barras” havia leves sinais de outras “ondas”, como se uma força que emanasse de um corpo central tivesse deixado uma marca. Pareciam-se com as linhas deixadas na areia pelo recuo da maré, exceto pelo fato de que estavam borradas, pouco nítidas, como desenhos a carvão.
Essa descoberta me deixou fascinada. Eu não conseguia parar de olhar para aquele rastro, aquelas marcas ciliares. Imaginei que uma criatura como aquela poderia compensar o tranco dos degraus mais ou menos como uma câmera com estabilizador compensa os solavancos do terreno.
— Já viu alguma coisa assim? — perguntou a topógrafa.
— Não — respondi. Esforcei-me para reprimir uma resposta mais cáustica. — Não, nunca vi.
Algumas trilobitas, lesmas e vermes deixam rastros mais simples em comparação a esse, mas vagamente semelhantes. Eu tinha certeza de que ninguém no mundo já vira um rastro tão grande e tão complexo.
— E quanto àquilo? — indagou ela, indicando um degrau um pouco acima de nós.
Apontei o foco de luz para lá e vi a impressão de uma bota no resíduo.
— É apenas uma de nossas botas. — Comparado ao que víamos, era tão banal. Tão entediante.
A luz no capacete se moveu de um lado para o outro quando ela balançou a cabeça.
— Não. Olhe bem.
E apontou para as impressões das minhas botas e as das dela. Aquela outra marca era de um terceiro rastro, e estava subindo a escada.
— Tem razão — disse eu. — São de outra pessoa, que esteve por aqui há pouco tempo.
A topógrafa começou a praguejar.
Naquele momento, não nos ocorreu procurar por outro par de marcas de botas.
De acordo com os registros que tinham nos mostrado, a primeira expedição não relatou nada fora do comum na Área X, somente uma natureza selvagem e intocada. Depois que a segunda e a terceira expedições não voltaram, e seu destino tornou-se conhecido, as expedições cessaram durante algum tempo. Quando recomeçaram, foi utilizando voluntários cuidadosamente escolhidos que podiam ter alguma noção do risco envolvido. Desde então, algumas expedições tinham sido mais bem-sucedidas do que outras.
A décima primeira expedição, em particular, tinha passado por dificuldades — dificuldades que eu também enfrentara devido a um fato sobre o qual não fui totalmente honesta.
Meu marido estava na décima primeira expedição, na função de médico. Ele nunca quis ser médico, preferia trabalhar com primeiros socorros ou trauma. “Um enfermeiro para fazer triagem em campo”, como dizia. Foi recrutado para a Área X por um amigo, que se lembrava dele dos tempos em que tinham servido à marinha, antes de ele se tornar paramédico. Não aceitou a princípio, pois tinha ficado inseguro, mas depois de algum tempo eles o convenceram. Isso causou muito atrito entre nós, embora nosso relacionamento já estivesse passando por dificuldades.
Sei que essas informações não são muito difíceis de confirmar, mas espero que, quando lerem este relato, possam me considerar uma testemunha objetiva e confiável. Não como alguém que se apresentou como voluntária por algum motivo não ligado ao propósito da expedição. E de certo modo isso ainda é verdade, e a posição de meu marido como membro da expedição é, de muitas maneiras, irrelevante para as minhas razões de aderir a ela.
Mas como poderia não ser afetada pela Área X, mesmo que somente por intermédio dele? Certa noite, cerca de um ano depois de ele ter partido para a fronteira, eu estava deitada sozinha na cama e ouvi alguém na cozinha. Armei-me com um bastão de beisebol, saí do quarto e acendi todas as luzes da casa. Encontrei meu marido junto do refrigerador, ainda com o uniforme da expedição, bebendo leite, derramando-o pelo queixo e pelo rosto, e devorando furiosamente restos de comida.
Fiquei muda. Só conseguia olhar para ele como se fosse uma miragem que, se eu me mexesse ou dissesse qualquer coisa, iria se dissipar no nada, ou em menos do que nada.
Sentamos os dois na sala, ele no sofá e eu em uma poltrona em frente. Precisava de alguma distância daquela aparição repentina. Ele não sabia dizer como tinha deixado a Área X e não se lembrava de como havia chegado em casa. Tinha apenas uma vaga lembrança da expedição em si. Demonstrava uma calma estranha, rompida apenas por um breve momento de pânico quando lhe perguntei o que acontecera e ele percebeu que sua amnésia não era natural. Também parecia ter desaparecido de sua memória que nosso casamento tinha começado a se desintegrar, bem antes de sua ida para a expedição. Ele demonstrava aquele mesmo distanciamento de que, de maneiras sutis ou não, me acusara no passado.
Depois de algum tempo, não aguentei mais aquilo. Tirei a roupa dele, obriguei-o a tomar banho, depois o levei para o quarto e fiz amor com ele, comigo por cima. Estava querendo recuperar o que restava do homem que eu me lembrava, o homem que, tão diferente de mim, era extrovertido, impetuoso e adorava ser útil. Um velejador entusiasta que, durante duas semanas, todo ano, juntava os amigos e partia para o litoral para passear de barco. Não encontrei mais nada daquele homem.
Durante todo o tempo em que esteve dentro de mim ele olhou para meu rosto com uma expressão que mostrava que se lembrava, sim, de mim, mas somente através de uma névoa. Isso ajudou durante algum tempo, contudo. Fez com que ele se tornasse mais real, me permitiu fingir.
Mas passou rápido. Voltei a tê-lo em minha vida por apenas vinte e quatro horas. Foram buscá-lo na noite seguinte, e depois de atravessar o longo e exaustivo processo de ser revistada e liberada pela equipe de segurança, eu o visitei na clínica em que ele estava sob observação, até o fim. Aquele local antisséptico, onde o testaram e tentaram de todas as maneiras romper as barreiras de sua calma e da amnésia. Ele me saudava como a uma velha amiga — uma espécie de âncora, para dar sentido a sua vida —, mas não como amante. Confesso que ia porque tinha esperanças de que restasse alguma fagulha do homem que conheci um dia. Mas nunca a encontrei, na verdade. Mesmo quando me informaram que ele tinha sido diagnosticado com câncer sistêmico, inoperável, meu marido olhava para mim com uma expressão ligeiramente confusa no rosto.
Ele morreu seis meses depois. Durante todo esse tempo, nunca consegui ver além da superfície, nunca pude recuperar o homem que havia conhecido. Nunca pude; nem com as nossas interações pessoais, nem vendo de vez em quando as gravações das entrevistas dele e dos outros membros da expedição, que também morreram de câncer.
O que quer que tivesse acontecido na Área X, o fato é que ele não tinha voltado. Não de verdade.
Descemos ainda mais na escuridão, e fiquei me perguntando se alguma coisa daquilo também tinha sido experimentada pelo meu marido. Eu não sabia até que ponto a minha infecção mudava as coisas. Eu estava seguindo seus passos, ou ele tinha encontrado algo completamente diferente? Se fosse assim, quais seriam as diferenças na reação dele, e como isso teria afetado o que aconteceu a seguir?
A trilha de muco foi ficando mais espessa, e agora podíamos dizer que as chispas vermelhas eram organismos vivos descartados pelo que quer que estivesse lá embaixo, porque eles se agitavam naquela camada viscosa. A cor da substância tinha ficado mais intensa, e agora parecia um tapete dourado e cintilante colocado ali para nos receber para algum banquete estranho, mas magnífico.
“Devíamos voltar?” A topógrafa diria, ou eu diria.
E a outra responderia: “Depois da próxima curva. Só um pouquinho mais, e então voltamos.”
Era um teste da nossa frágil confiança. Um teste de nossa curiosidade e fascinação, ambas andando lado a lado com o medo. Um teste para saber se preferíamos ficar ignorantes ou em perigo. A sensação das botas avançando a passos mais que cuidadosos em meio àquele vômito pegajoso, o modo como aquela viscosidade parecia nos atolar mesmo enquanto íamos adiante, cedo ou tarde resultaria em inércia, nós sabíamos, se fôssemos longe demais.
Mas então a topógrafa dobrou em uma curva a minha frente e recuou às pressas, esbarrando em mim e me empurrando escada acima, e eu obedeci.
— Tem alguma coisa aí embaixo — sussurrou no meu ouvido. — Como um corpo ou uma pessoa.
Eu não quis lhe dizer que um corpo podia ser uma pessoa.
— Está escrevendo palavras na parede?
— Não, está caído junto à parede. Só vi de relance.
A respiração dela vinha rápida e curta de encontro à máscara.
— Homem ou mulher? — perguntei.
— Eu achei que fosse uma pessoa — disse ela, ignorando minha pergunta. — Achei que fosse uma pessoa. Achei que fosse.
Uma coisa era se deparar com um corpo, mas nenhum tipo de treinamento seria capaz de preparar alguém para encontrar um monstro.
E não poderíamos voltar para a superfície sem primeiro investigar esse novo mistério. Era impossível. Agarrei-a pelos ombros e a fiz olhar para mim.
— Você disse que é uma pessoa caída junto à parede. Não é o que estamos seguindo. Tem a ver com a outra pegada. Você sabe disso. Vamos nos arriscar, dar uma olhada em seja lá o que for, e depois subimos de novo. Não passaremos deste ponto, não importa o que a gente encontre, prometo.
A topógrafa assentiu. Saber que acabaria ali, que não teríamos que continuar descendo, foi o bastante para dar-lhe mais firmeza. Vamos encarar esta última coisa, e daqui a pouco veremos a luz do sol.
Começamos a avançar de novo.
Os degraus pareciam ainda mais escorregadios, mesmo que essa sensação existisse apenas em função de nosso nervosismo, e caminhamos devagar, usando a superfície branca da parede à direita para manter o equilíbrio. A torre estava silenciosa, prendendo a respiração, o pulsar de seu coração de repente ficou mais lento e mais distante do que antes, ou talvez tudo que eu estivesse ouvindo fosse o sangue latejando com força em meus ouvidos.
Após a curva, vi o vulto, e lancei sobre ele o facho de minha lanterna. Se tivesse hesitado um só segundo, jamais teria coragem. Era o corpo da antropóloga, caído de encontro à parede esquerda, com as mãos no colo, a cabeça abaixada como se estivesse rezando, e uma coisa verde brotava de sua boca. Suas roupas pareciam estranhamente desfocadas, indistintas. Um tênue brilho dourado envolvia seu corpo, quase imperceptível; acredito que a topógrafa fosse incapaz de vê-lo. Em nenhum cenário mental eu imaginava a possibilidade de a antropóloga estar viva. Tudo o que pensei foi: A psicóloga mentiu para nós. E de repente a presença dela lá em cima, vigiando a entrada, me atingiu como uma pressão intolerável.
Ergui a mão espalmada indicando à topógrafa que esperasse atrás de mim e me adiantei, apontando o facho de luz para as trevas à minha frente. Ultrapassei o corpo para me certificar de que os degraus abaixo estavam vazios, e depois retornei às pressas.
— Fique vigiando enquanto dou uma olhada no corpo — pedi. Não lhe disse que tinha sentido uma vaga impressão, quase como um eco distante, de que algo se movia lentamente lá embaixo.
— É um corpo? — perguntou a topógrafa.
Talvez ela esperasse algo mais estranho. Talvez tivesse pensado que a pessoa estivesse apenas dormindo.
— É a antropóloga — disse, e a vi assimilar a informação com uma contração dos ombros.
Sem outra palavra, ela passou por mim e assumiu uma posição defensiva alguns degraus abaixo, com o rifle de assalto erguido contra a escuridão.
Com cuidado, ajoelhei-me junto da antropóloga. Não tinha sobrado muito do seu rosto, e a pele que restara tinha estranhas marcas de queimadura. Derramando-se de sua mandíbula quebrada, que dava a impressão de ter sido arrancada em um único gesto brutal, havia uma torrente de cinzas esverdeadas, que se amontoava em seu peito. As mãos, pousadas no colo com as palmas viradas para cima, não tinham mais pele, só uma espécie de filamento diáfano e mais marcas de queimaduras. Suas pernas pareciam ter derretido e estavam meio que fundidas uma à outra, com uma bota faltando e a outra jogada ao lado da parede. Espalhados em volta dela havia alguns daqueles tubos de amostras que eu trouxera comigo. Sua caixa preta, esmagada, estava a alguns metros do corpo.
— O que houve com ela? — perguntou a topógrafa.
Ela dava olhadas rápidas e nervosas na minha direção enquanto continuava de guarda, quase como se aquilo que acontecera não tivesse acabado ainda. Como se esperasse que a antropóloga voltasse à vida de alguma forma horrível.
Não respondi. Tudo que poderia dizer era eu não sei, uma frase que vinha se tornando uma espécie de testemunho da nossa ignorância ou incompetência. Ou das duas coisas.
Projetei a luz na parede acima da antropóloga. Ao longo de um ou dois metros, a escritura na parede se tornava errática, indo para cima e para baixo, antes de se estabilizar.
...as sombras do abismo são como as pétalas de uma flor monstruosa que desabrochará dentro do crânio e expandirá a mente para além do que qualquer homem pode suportar...
— Acho que ela interrompeu o criador das frases — disse eu.
— E ele fez isto com ela?
A topógrafa estava me implorando para encontrar outra explicação.
Eu não tinha, então não respondi, voltei a examinar o corpo enquanto ela ficou lá, vigiando.
Ser bióloga não é o mesmo que ser detetive, mas comecei a pensar como um. Examinei o chão em volta do corpo, identificando primeiro as marcas das minhas botas, e depois as da topógrafa. Tínhamos obliterado as pegadas anteriores, mas ainda dava para ver alguns traços. Antes de tudo, a coisa — e não importa quais fossem as esperanças da topógrafa, eu não conseguia pensar nela como algo humano — tinha claramente entrado em um frenesi. Em vez dos rastros meio deslizantes de antes, o resíduo de muco formava uma espécie de redemoinho no sentido horário, as marcas dos “pés”, como pensávamos nelas, mais longas e estreitas devido à mudança brusca de direção. Mas por cima desses redemoinhos eu podia ver marcas de passos. Fui buscar uma das botas, tendo o cuidado de não pisar nos indícios. As pegadas no meio do redemoinho eram sem dúvida da antropóloga — e eu podia ver manchas na parede do lado oposto, como se ela tivesse se apoiado ali.
Uma imagem começou a se formar na minha mente, a da antropóloga descendo rumo às trevas para observar o criador daquelas frases. Os tubos espalhados em volta do corpo sugeriam que ela tinha pensado em colher amostras. Mas que coisa mais insana, mais idiota! Correr um risco como aquele — a antropóloga nunca tinha me dado a impressão de ser impulsiva ou corajosa. Fiquei ali por alguns momentos, e depois recuei ainda mais subindo a escada, enquanto sinalizava para a topógrafa, para sua inquietação, que ficasse onde estava. Se houvesse algo em que pudesse atirar, talvez ela ficasse mais calma, mas só o que tínhamos ali era o que se infiltrava em nossa imaginação.
Uma dúzia de degraus acima, no último ponto onde era possível ter uma visão parcial do corpo da antropóloga, encontrei dois conjuntos de pegadas de botas, um de frente para o outro. Um deles era da antropóloga. O outro não era meu nem da topógrafa.
Algo se encaixou em minha mente, e tudo ficou claro. No meio da noite, a psicóloga tinha acordado a antropóloga e a colocara sob hipnose. Juntas, as duas caminharam até a torre e desceram até ali. Naquele ponto, a psicóloga deu uma ordem à antropóloga, ainda hipnotizada, uma ordem que ela provavelmente sabia ser equivalente ao suicídio, e a antropóloga foi em direção à coisa que estava escrevendo na parede para colher uma amostra — e morreu tentando, provavelmente em agonia. A psicóloga então fugiu; pois ao descer de novo os degraus não vi mais marcas de suas botas abaixo daquele ponto.
Era pena ou empatia que eu estava sentindo pela antropóloga? Fraca, prisioneira, sem escolha.
A topógrafa me esperava, ansiosa.
— O que encontrou?
— Outra pessoa esteve aqui com a antropóloga — disse, e lhe contei minha teoria.
— Mas por que a psicóloga faria isso? — perguntou ela. — Viríamos todas para cá pela manhã, de qualquer maneira.
Eu me sentia como se estivesse observando a topógrafa a mil quilômetros de distância.
— Não faço ideia — respondi —, mas ela tem hipnotizado todas nós, e não foi apenas para nos relaxar mentalmente. Talvez esta expedição tenha um propósito diferente do que nos disseram.
— Hipnotismo — disse ela, como se a palavra não fizesse sentido. — Como sabe disso? Como pode saber disso?
A topógrafa parecia ressentida — não consegui descobrir se comigo ou com minha teoria. Mas podia entender por que se sentia assim.
— Porque, de algum modo, desenvolvi uma resistência — respondi. — Ela hipnotizou você antes de descermos aqui hoje, para se certificar de que cumpriria suas ordens. Eu vi quando ela o fez.
Eu queria confessar à topógrafa, dizer-lhe como eu havia adquirido uma resistência, mas achei que seria um erro.
— E não fez nada? Se é que tudo isso é verdade.
Pelo menos ela estava considerando a possibilidade de eu estar falando a verdade. Talvez algum resíduo, alguma lembrança difusa do episódio estivesse conservada em sua memória.
— Eu não queria que a psicóloga soubesse que não era capaz de me hipnotizar. — E também queria descer até aqui embaixo.
A topógrafa ficou pensativa por alguns instantes.
— Você pode acreditar em mim ou não — observei. — Mas saiba: quando voltarmos lá para fora, temos que estar preparadas para tudo. Talvez seja preciso dominar ou matar a psicóloga, pois não sabemos o que ela está planejando.
— E por que ela estaria planejando alguma coisa? — perguntou a topógrafa.
Aquilo seria desdém na sua voz, ou apenas medo?
— Porque ela deve ter instruções diferentes das que foram dadas a nós — disse, como se explicasse algo a uma criança.
Quando ela não respondeu, aceitei isso como um sinal de que estava começando a se acostumar com a ideia.
— Preciso ir na frente, porque ela não pode me influenciar. E você precisa usar isto aqui. Pode ajudá-la a resistir à sugestão hipnótica.
Entreguei-lhe meu par extra de protetores de ouvido.
Ela os recebeu, hesitante.
— Não — falou. — Vamos subir juntas, ao mesmo tempo.
— Isso não é muito esperto — retruquei.
— Não quero saber. Você não vai lá para cima sem mim. Não vou ficar aqui no escuro esperando que você resolva tudo.
Pensei por um instante, e falei:
— Muito bem. Mas se eu vir que ela está tentando controlar você, terei que detê-la.
Ou pelo menos tentar.
— Só se você estiver certa — disse a topógrafa. — Se estiver dizendo a verdade.
— Eu estou.
Ela me ignorou, e perguntou:
— E quanto ao corpo?
Aquilo queria dizer que tínhamos chegado a um acordo? Esperava que sim. Ou talvez ela tentasse me desarmar durante a subida. Talvez a psicóloga já a tivesse condicionado para isso.
— Vamos deixá-la aqui. O peso dela só iria nos atrapalhar, e não sabemos se estaríamos levando algum tipo de contaminação conosco.
A topógrafa assentiu. Pelo menos não era sentimental. Nada restava da antropóloga naquele corpo, e ambas sabíamos disso. Eu estava me esforçando para não pensar nos seus últimos momentos de vida, no terror que deve ter sentido enquanto continuava obedecendo às ordens que lhe tinham sido mentalmente impostas por outra pessoa, mesmo que aquilo significasse a própria morte. O que tinha visto? Para o que estava olhando quando tudo ficou escuro?
Antes de retornarmos, peguei um dos tubos de ensaio caídos em volta da antropóloga. Continha alguns traços de uma substância espessa que parecia carne e reluzia como ouro velho. Talvez ela tivesse conseguido recolher uma amostra útil antes do fim.
Enquanto subíamos de volta à superfície, tentei me distrair. Fiquei repassando meu treinamento várias vezes, procurando uma pista, algum fragmento de informação que pudesse me revelar algo sobre nossas descobertas. Mas não encontrei nada, e pude apenas me espantar com minha própria credulidade quando acreditei que tinham me passado informações úteis. A ênfase estava sempre em nossa capacidade e em nossos conhecimentos. E, pensando nisso agora, podia perceber um intento quase deliberado de obscurecer, de mascarar, disfarçado como preocupação em não nos assustar ou sobrecarregar.
O mapa foi a primeira forma de desinformação, pois o que era um mapa senão uma maneira de enfatizar certas coisas e tornar outras invisíveis? Sempre éramos mandadas de volta ao mapa, para memorizar seus detalhes. Nosso instrutor, cujo nome nunca soubemos, nos treinou durante seis longos meses para que aprendêssemos a posição do farol em relação ao acampamento, a distância em quilômetros entre um grupo de cabanas arruinadas e outro. A extensão da orla que deveríamos explorar. Quase sempre em um contexto a partir do farol, não do acampamento. Ficamos tão acostumadas com aquele mapa, com suas dimensões, com tudo que ele continha, que isso nos impediu de perguntar por que ou pelo menos o quê.
Por que aquele trecho da praia? O que havia dentro do farol? Por que o acampamento foi instalado na floresta, longe do farol, mas bastante próximo da torre (que, é claro, não existia no mapa) — e ele sempre tinha sido ali? O que havia além do mapa? Depois de descobrir a extensão da sugestão hipnótica que nos fora imposta, percebi que o foco no mapa podia ser ele próprio uma espécie de pista embutida. Que se não fazíamos perguntas era porque tínhamos sido condicionadas a não fazê-las. Que o farol, fosse sua representação ou o farol real, podia ser um gatilho subconsciente para uma sugestão hipnótica — e que ele podia também ter sido o epicentro daquilo que se espalhara para se tornar a Área X.
Minha preparação a respeito da ecologia daquele lugar tivera um foco igualmente limitado. Passei a maior parte do tempo me familiarizando com ecossistemas de transição, com a flora e a fauna, e a polinização cruzada que eu deveria encontrar. Mas também recebi um bom reforço na área de fungos e liquens, a qual, à luz daquelas palavras escritas na parede, parecia ser o verdadeiro propósito de todo aquele estudo. Se o mapa só servia para nos enganar, então a intenção da pesquisa ecológica tinha sido, no fim das contas, me preparar bem. A não ser que eu estivesse ficando paranoica. Mas, se não estivesse, isso queria dizer que eles sabiam a respeito da torre, talvez desde a primeira expedição.
A partir daí minha suspeita aumentou. Tínhamos passado por um treinamento rígido de sobrevivência e uso de armas, tão exaustivo que muitas noites íamos direto para nossas camas, que ficavam em alojamentos separados. Mesmo nas raras ocasiões em que treinávamos juntas, estávamos sempre fazendo algo diferente. Eles retiraram nosso nome a partir do segundo mês, arrancaram-no de nós. Os únicos nomes se referiam a coisas da Área X, e somente em termos gerais. Isto, também, era um meio de desviar nossa atenção e garantir que ninguém fizesse certas perguntas que só podiam ser formuladas por meio do conhecimento de detalhes específicos. Mas detalhes específicos úteis, e não, por exemplo, que existiam seis espécies de serpentes venenosas na Área X. Era uma hipótese ousada, é verdade, mas eu não estava disposta a descartar mesmo a hipótese mais improvável.
Quando ficamos prontas para cruzar a fronteira, sabíamos tudo... e não sabíamos nada.
A psicóloga não estava lá quando emergimos piscando, ofuscadas pelo sol, arrancando nossas máscaras e respirando o ar puro. Tínhamos nos preparado para qualquer tipo de situação, mas não para a ausência dela. Isso nos deixou desorientadas por algum tempo, naquele dia tão normal, o céu de um azul muito brilhante, o renque de árvores projetando sombras compridas. Retirei meus protetores de ouvido e descobri que não conseguia escutar mais as pulsações do coração da torre. Foi desconcertante como aquilo que tínhamos visto lá embaixo podia coexistir com as coisas mundanas. Era como se tivéssemos subido muito depressa depois de um mergulho em grandes profundezas, mas os sintomas da descompressão vinham da lembrança daquelas criaturas.
Continuamos examinando os arredores em busca da psicóloga, certas de que ela estava se escondendo, e meio que esperando encontrá-la, porque ela certamente teria uma explicação. Depois de algum tempo, se tornou uma obsessão ficar procurando sempre na mesma área em volta da torre. Mas por quase uma hora não conseguimos parar.
Por fim tive que admitir a verdade.
— Ela foi embora.
— Talvez tenha voltado ao acampamento — disse a topógrafa.
— Concorda que a ausência dela é um indício de culpa? — perguntei.
A topógrafa cuspiu na grama, olhando-me de perto.
— Não, não concordo. Talvez alguma coisa tenha acontecido com ela. Talvez tenha precisado voltar ao acampamento.
— Você viu as pegadas. Viu o corpo.
Ela fez um gesto com o rifle.
— Vamos para o acampamento.
Eu não conseguia decifrar o que ela estava pensando. Não sabia se estava desconfiando de mim ou apenas sendo cautelosa. A volta à superfície a tinha deixado mais corajosa, em todo caso, e eu a preferia insegura.
Mas, ao chegarmos ao acampamento, um pouco da coragem se esvaiu. A psicóloga não estava lá. Não apenas não estava, como tinha levado consigo metade dos nossos suprimentos e a maior parte das armas. Ou os enterrara em algum lugar. Mas agora tínhamos certeza de que estava viva.
Vocês precisam entender como eu me sentia naquele momento, como a topógrafa deve ter se sentido: éramos cientistas, treinadas para observar os fenômenos da natureza e os resultados da atividade humana. Não recebêramos treinamento para confrontar o desconhecido. Em situações fora do comum podemos encontrar conforto até na presença de alguém que consideramos um inimigo. Tínhamos chegado às proximidades de alguma coisa inaudita, e com menos de uma semana de missão perdemos não apenas a linguista, ainda na fronteira, mas nossa antropóloga e nossa psicóloga.
— Está bem, desisto — disse a topógrafa, jogando o rifle no chão e afundando em uma cadeira diante da barraca da antropóloga, enquanto eu vasculhava lá dentro. — Vou acreditar em você por enquanto. Vou acreditar porque de fato não tenho escolha. Não tenho nenhuma teoria melhor. O que faremos agora?
Não encontrei pistas na barraca da antropóloga. O horror do que havia acontecido com ela ainda me afetava. Ser compelida a ir de encontro à própria morte. Se minha hipótese estivesse correta, a psicóloga era uma assassina, muito mais do que o que quer que tenha matado a antropóloga.
Como não respondi à topógrafa, ela repetiu a pergunta com ênfase ainda maior:
— Então, que diabos vamos fazer agora?
Saindo da barraca, respondi:
— Vamos analisar as amostras que colhi, revelar as fotos e examiná-las. E amanhã provavelmente voltaremos à torre.
A topógrafa deu uma risada áspera enquanto lutava para encontrar as palavras. Por alguns segundos seu rosto deu a impressão de que iria se partir, talvez pela tensão de ter que combater uma sugestão hipnótica. Por fim ela conseguiu falar:
— Não, não vou voltar para aquele lugar. E é um túnel, não uma torre.
— O que quer fazer, então? — perguntei.
Como se tivesse conseguido romper alguma barreira, suas palavras vieram mais rápidas, mais determinadas.
— Vamos voltar para a fronteira e aguardar a extração. Não temos recursos para continuar, e, se o que disse é verdade, a psicóloga está por aí, agora, planejando alguma coisa, mesmo que seja apenas a desculpa que irá nos contar. E se não for o caso, se estiver morta ou ferida porque alguma coisa a atacou, é mais uma razão para cairmos fora daqui.
A topógrafa tinha acendido um cigarro, um dos poucos que nos tinham permitido trazer. Soprou duas compridas colunas de fumaça pelo nariz.
— Não estou pronta para voltar — respondi. — Ainda não. — Não estava nem um pouco pronta para isso, mesmo depois do que acontecera.
— Você prefere este lugar, não é? — disparou a topógrafa. Não parecia uma pergunta; sua voz estava impregnada de uma espécie de pena ou nojo. — Você acha que isso vai durar muito? Vou lhe dizer, mesmo em manobras militares planejadas para simular resultados negativos, vi chances melhores do que as nossas aqui.
Ela estava se deixando levar pelo medo, mesmo que tivesse razão. Decidi empregar as táticas de adiamento usadas pela psicóloga.
— Vamos dar uma olhada nas amostras que coletamos, e então decidir o próximo plano de ação. Você pode muito bem ir para a fronteira amanhã.
Ela deu outro trago no cigarro, enquanto digeria aquilo. A fronteira ainda estava a quatro dias de caminhada.
— É verdade — concordou, cedendo por enquanto.
Não falei o que estava pensando: que talvez não fosse tão simples. Que ela podia cruzar a fronteira apenas no sentido abstrato, como meu marido fizera, mas desprovida daquilo que a tornava um indivíduo. Mas não quis que ela achasse que não tinha saída.
* * *
Passei o resto da tarde examinando amostras ao microscópio, na mesa improvisada diante da minha barraca. A topógrafa ocupou-se em revelar as fotos na barraca que também servia de câmara escura, um processo frustrante para quem estava acostumada a baixar imagens digitais. Depois, enquanto as fotos secavam, ela voltou a investigar os restos dos mapas e dos documentos que a expedição anterior tinha deixado no acampamento.
Minhas amostras contavam uma série de piadas obscuras com desfechos que eu não compreendia. As células da biomassa que formava as palavras escritas na parede tinham uma estrutura pouco usual, mas ainda nos limites do aceitável. Ou talvez tais células fossem uma imitação magnífica de certos organismos saprotróficos. Fiz uma anotação mental para recolher uma amostra do que havia na parede por trás das palavras mais tarde. Eu não fazia ideia da profundidade a que os filamentos tinham penetrado, ou se havia nódulos por baixo e aqueles filamentos eram apenas sentinelas.
A amostra de tecido da criatura em forma de mão resistiu a qualquer interpretação, e isso por si só já era estranho, mas não me esclareceu em nada. Principalmente porque não encontrei células na amostra, apenas uma forma sólida de cor âmbar com bolhas de ar no interior. Durante todo o tempo, interpretei aquilo como uma amostra contaminada ou indício de que aquele organismo se decompunha muito depressa. Outra ideia só me ocorreu quando já era tarde para testá-la: a de que eu, tendo absorvido esporos daquele organismo, estava provocando alguma reação nas amostras. Não tinha acesso a instalações médicas que pudessem diagnosticar mudanças no meu corpo e na minha mente desde que fui exposta.
Por fim, havia a amostra recolhida pela antropóloga. Eu a deixara por último por motivos óbvios. Pedi à topógrafa que seccionasse um trecho, pusesse na lâmina e escrevesse o que via no microscópio.
— Por quê? — perguntou. — Por que precisa de mim para fazer isso?
Hesitei.
— Hipoteticamente... poderia haver contaminação.
Que rosto duro o dela, os dentes trincados.
— Hipoteticamente, por que você estaria mais, ou menos, contaminada do que eu?
Dei de ombros.
— Nenhum motivo em particular. Em todo caso, fui a primeira a encontrar as palavras na parede.
Ela me olhou como se eu estivesse dizendo absurdos, e deu uma risada áspera.
— Estamos muito mais envolvidas do que isso. Acha mesmo que aquelas máscaras que usamos nos protegeram de qualquer coisa que possa existir lá embaixo?
Ela estava errada — pelo menos eu achava que estava —, mas não a corrigi. As pessoas simplificam ou trivializam dados por todo tipo de motivo.
Não havia mais nada a dizer. Ela voltou às suas tarefas enquanto eu me concentrava no microscópio, examinando a amostra daquilo que tinha matado a antropóloga. A princípio não sabia o que estava vendo, porque era muito inesperado. Tecido cerebral — e não um tecido cerebral qualquer. As células eram extraordinariamente humanas, mas com algumas irregularidades. Meu pensamento na hora foi de que a amostra tinha sido contaminada, mas não pela minha presença: as anotações da topógrafa descreviam exatamente o que eu via, e quando ela voltou a examinar as amostras mais tarde, confirmou que não tinham mudado.
Continuei perscrutando pelas lentes do microscópio, erguendo a cabeça de tempos em tempos para depois espiar novamente, como se não pudesse ver corretamente a amostra. Então parei e olhei fixamente para ela até se tornar apenas uma série de floreios e círculos. Aquilo era de fato humano? Estaria fingindo ser humano? Como já falei, havia irregularidades. E como a antropóloga tinha conseguido recolher aquela amostra? Tinha apenas caminhado na direção da coisa com uma colherinha de sorvete e perguntado: “Posso fazer uma biópsia do seu cérebro?”. Não, a amostra tinha que vir das margens, do exterior. Não podia ser tecido cerebral, o que significava que certamente não era humano. Eu me senti desorientada, perdida, mais uma vez.
Foi então que a topógrafa veio até mim e jogou as fotos reveladas na minha mesa.
— Inúteis — disse ela.
Cada foto das palavras na parede era um caos de cores brilhantes e desfocadas. Cada foto de qualquer outra coisa além das palavras tinha saído um breu total. As poucas fotos restantes estavam também fora de foco. Eu sabia que isso se devia à respiração lenta a contínua das paredes, as quais deviam estar emitindo também algum tipo de calor ou outro agente que pudesse causar tal distorção. Esse pensamento me fez lembrar de que eu não tinha recolhido amostras da parede. Eu havia reconhecido que as palavras eram organismos. Sabia que as paredes também o eram, mas minha mente ainda registrava paredes como algo inerte, parte de uma estrutura. Para que tirar amostras delas?
— Eu sei — disse a topógrafa quando xinguei em voz baixa, mas sem me entender. — Alguma sorte com as amostras?
— Não. Nenhuma — falei, ainda olhando as fotos. — Algum resultado com os mapas e os documentos?
A topógrafa fez um ruído de insatisfação.
— Nem uma coisinha. Nada. Exceto que todos parecem ter uma fixação pelo farol: observando o farol, indo para o farol, morando no maldito farol.
— Então não temos nada.
Ela ignorou o que eu falara e perguntou:
— O que faremos agora?
Era nítido que ela detestava perguntar aquilo.
— Vamos jantar — propus. — Depois faremos uma busca no perímetro do acampamento para ter certeza de que a psicóloga não está escondida no mato. E pensaremos no que faremos amanhã.
— Vou lhe dizer uma coisa que não faremos amanhã. Não vamos voltar àquele túnel.
— Torre.
Ela me encarou, irritada.
Não fazia sentido ficar discutindo.
* * *
Ao anoitecer, o gemido já familiar chegou aos nossos ouvidos vindo do pântano de água salgada, enquanto comíamos junto à fogueira. Quase não o notei, de tão concentrada que estava na refeição. A comida estava deliciosa, e eu não sabia por quê. Devorei tudo, repeti o prato, e enquanto isso a topógrafa, perplexa, apenas me observava. Tínhamos pouca coisa, ou nenhuma, a dizer à outra. Conversar significaria fazer planos, e nada que eu quisesse planejar seria do agrado dela.
O vento ficou mais forte, e começou a chover. Eu via cada gota caindo como um diamante líquido e facetado, perfeito, refratando a luz mesmo com o céu nublado, e podia sentir o cheiro do mar e visualizar as ondas arrebentando na praia. O vento parecia uma coisa viva; entrava por cada um dos meus poros e trazia consigo um cheiro forte de terra e de juncos. Eu tinha tentado ignorar aquela mudança quando estivera no espaço confinado da torre, mas os meus sentidos ainda pareciam extremamente sensíveis e aguçados. Ainda estava me adaptando, mas em momentos assim eu me lembrava de que no dia anterior eu era outra pessoa.
Montamos guarda em turnos alternados. Perder um pouco de sono parecia menos imprudente do que permitir que a psicóloga se infiltrasse entre nós de surpresa; ela sabia a localização de todos os alarmes que havíamos colocado em volta do acampamento, e não tínhamos tido tempo de desarmá-los e mudá-los de lugar. Deixei que a topógrafa ficasse com o primeiro turno de vigia, como prova de boa-fé.
No meio da noite, ela veio me despertar para meu turno, mas eu já estava acordada, por causa dos trovões. Resmungando, ela foi direto para a cama. Duvido que confiasse em mim; acho que só não conseguia manter os olhos abertos nem por mais um segundo, depois de um dia tão desgastante.
A chuva aumentou de intensidade. Não tive receio de que nos desabrigasse: aquelas barracas eram as mesmas usadas pelos militares, seriam capazes de aguentar qualquer coisa mais fraca que um furacão, mas, se eu ia ter que ficar acordada, de qualquer maneira, preferia sentir a tempestade. Portanto, fui para o lado de fora, no espaço fustigado pela chuva e pelas fortes rajadas de vento. Já podia ouvir a topógrafa roncando em sua barraca; ela provavelmente já dormira em noites muito piores do que aquela. As luzes de emergência esmaecidas brilhavam nos limites do acampamento, deixando as barracas em um triângulo de sombras. Até mesmo a escuridão me parecia uma coisa viva, rodeando-me como algo sólido. Não posso dizer que sua presença fosse sinistra.
Naquele instante senti como se tudo não passasse de um sonho — o treinamento, minha vida anterior, o mundo que deixei para trás. Nada tinha importância. Só me importava aquele lugar, aquele momento, e isso não fora imposto pela hipnose da psicóloga. Arrebatada por aquela emoção tão poderosa, fiquei virada na direção do mar, olhando através dos espaços irregulares entre as árvores. Ali avultava uma escuridão ainda mais densa, a confluência entre a noite, as nuvens e o oceano. Um lugar mais além, outra fronteira.
E então, no meio da escuridão, eu vi: um lampejo de luz alaranjada. Só uma mancha luminosa, bem alta no céu. Isso me deixou intrigada, até que percebi que deveria ter origem no farol. Enquanto olhava, aquele clarão se moveu minimamente para a esquerda e para cima até sumir de novo, reapareceu após alguns minutos bem mais acima e depois apagou-se de vez. Esperei que a luz voltasse, mas não aconteceu. Por alguma razão, quanto mais a luz demorava a reaparecer, mais inquieta eu ficava, como se, naquele lugar estranho, uma luz — qualquer tipo de luz — fosse um sinal de civilização.
Tinha desabado uma tempestade naquele derradeiro dia em que fiquei sozinha com meu marido depois que ele voltou da expedição. Um dia com uma claridade de sonho, de alguma coisa que era estranha, mas também familiar; uma rotina familiar, mas uma calma estranha, mais até do que aquela à qual eu tinha me acostumado antes de ele partir.
Naquelas últimas semanas antes da expedição, tínhamos discutido... violentamente. Eu o empurrei na parede, atirei coisas nele. Tentei de tudo para quebrar aquela decisão resoluta que, agora, eu sabia ter sido provavelmente imposta a ele por sugestão hipnótica.
— Se você for — eu lhe dissera —, talvez não volte, e não pode ter certeza de que estarei esperando quando você voltar.
Isso o fez rir, o que me enfureceu, e então ele falou:
— Ah, você esteve esperando por mim esse tempo todo? Será que eu já cheguei?
A partir daí ele não parou mais, e qualquer tipo de contestação era respondida com sarcasmo — o que seria perfeitamente natural, com ou sem sugestão hipnótica. Tinha tudo a ver com sua personalidade concentrar sua atenção em alguma coisa e ir em busca dela, sem ligar para as consequências. Deixar um impulso se transformar em uma compulsão, principalmente se achasse que estava contribuindo para uma causa maior. Essa era uma das suas razões para ter ficado na marinha por mais um período.
Nosso casamento estava se desfazendo havia algum tempo, em parte porque ele era do tipo gregário e eu preferia o isolamento. Aquilo já fora uma fonte de força para nossa relação, mas não mais. Eu não o achava apenas bonito, eu admirava sua natureza confiante e extrovertida, sua necessidade de estar rodeado de pessoas — reconheci isso como um contraponto saudável à minha própria personalidade. Ele também tinha um ótimo senso de humor, e, na primeira vez em que saímos, em um parque cheio de gente, ele contornou meu jeito reticente fingindo que éramos uma dupla de detetives investigando um caso e estávamos ali para observar um suspeito. O que nos levou a inventar fatos sobre a vida das pessoas que nos cercavam, e depois sobre nós mesmos.
No começo, devo ter parecido misteriosa aos seus olhos, meu jeito reservado, minha necessidade de estar só, mesmo depois que ele julgou ter ganhado minha confiança. Ou eu era um enigma a ser decifrado, ou ele achava que assim que me conhecesse melhor teria acesso a um novo lugar, um lugar lá no fundo onde vivia outra pessoa dentro de mim. Durante uma de nossas brigas, ele admitiu isso — tentou explicar que ter se “voluntariado” para a expedição era um sinal do quanto eu o tinha afastado, e depois voltou atrás, envergonhado. Fui bem direta para que não houvesse dúvida: essa pessoa que ele queria encontrar não existia. Eu era o que parecia ser pelo lado de fora. Isso não iria mudar, nunca.
No começo do namoro, eu contara ao meu marido a respeito da piscina, quando estávamos na cama, lugar onde passávamos grande parte do tempo naquela época. Ele tinha ficado fascinado, talvez até pensando que eu faria revelações ainda mais extraordinárias. Descartou logo as partes que falavam da minha infância solitária, e focou sua atenção na piscina propriamente dita.
— Eu teria brincado de velejar.
— Barcos capitaneados pelo Velho Afundão, sem dúvida — repliquei. — E tudo seria feliz e deslumbrante.
— Não. Porque eu iria achar você carrancuda, teimosa e sinistra. Bastante sinistra.
— Pois eu iria achar você frívolo, e torceria para que as tartarugas virassem seu barco.
— Se fizessem isso, eu teria apenas que reconstruí-lo para que ficasse melhor ainda, e enquanto isso contaria às pessoas sobre a garotinha sinistra que conversava com as rãs.
Eu nunca tinha conversado com as rãs; eu sentia desprezo por quem antropomorfiza um animal.
— E o que mudaria, se não tivéssemos gostado um do outro quando crianças? — perguntei.
— Ah, eu iria gostar de você mesmo assim — disse ele, sorrindo. — Você iria me deixar fascinado, e eu iria atrás de você não importa aonde. Sem hesitar.
E assim nos encaixávamos, naquele tempo, à nossa maneira oblíqua. Estávamos juntos porque éramos opostos, e nos orgulhávamos da ideia de que isso nos fazia um casal mais forte. Nós nos deleitávamos com esse conceito; tanto, e por tanto tempo, que isso se tornou uma onda que só veio a se quebrar depois que já tínhamos nos casado... e começou a nos destruir com o passar do tempo, daquele jeito tão deprimente, tão familiar.
Mas nada disso — o bom ou o ruim — teve importância quando ele voltou da expedição. Não fiz perguntas, não trouxe de volta nenhuma de nossas velhas discussões. Quando acordei ao lado dele na manhã seguinte à sua volta, eu sabia que nosso tempo juntos estava se esgotando.
Fiz café da manhã para ele, enquanto lá fora a chuva caía com força, e raios riscavam o céu bem perto dali. Ficamos sentados à mesa da cozinha, de onde se tinha uma bela vista do exterior, por causa das portas envidraçadas que nos mostravam o quintal inteiro, e tivemos uma conversa absurdamente educada a respeito de ovos e bacon. Ele elogiou o formato do comedouro de pássaros cinzento que eu tinha instalado, e a pequena vasilha de água, agora toda borrada pelos pingos de chuva. Perguntei-lhe se tinha dormido bem, e como se sentia. Fiz até perguntas sobre a noite da véspera, sobre se caminhada de volta tinha sido muito cansativa, por exemplo.
— Não — disse ele —, não tive nenhum trabalho. — E fez luzir uma imitação do seu velho sorriso irritante.
— Quanto tempo levou? — perguntei.
— Tempo nenhum.
Não consegui ler sua expressão, mas naquele seu vazio senti algo lamentoso, algo que estava preso lá no fundo e que tentava se comunicar, sem conseguir. Meu marido nunca tinha sido lamentoso nem melancólico em todo o tempo em que estive com ele, e aquilo me amedrontou um pouco.
Ele perguntou como andava a minha pesquisa, e eu lhe contei algumas das novidades. Naquela época, eu trabalhava para uma companhia voltada para a criação de produtos naturais capazes de decompor plástico e outras substâncias não biodegradáveis. Era um tédio. Antes disso eu tinha feito pesquisa de campo, beneficiada por várias bolsas. E antes, fui uma ambientalista radical, participando de protestos e trabalhando em uma organização sem fins lucrativos recrutando doadores por telefone.
— E seu trabalho? — perguntei, meio que sondando, sem saber quantas voltas precisaria dar, pronta a fugir do mistério ao primeiro sinal de alarme.
— Ah, você sabe — respondeu ele, como se tivesse ficado longe apenas algumas semanas, como se eu fosse uma colega de trabalho, não sua amante. Sua esposa. — O mesmo de sempre. Nada novo.
Ele deu um longo gole no suco de laranja, saboreando-o de tal maneira que por um ou dois minutos parecia que nada mais existia senão o prazer que ele experimentava. Depois, começou a fazer perguntas sobre outros melhoramentos que eu fizera na casa.
Após o café da manhã, nos sentamos na varanda, vendo a chuva cair e as poças aumentarem na horta. Lemos durante algum tempo, depois voltamos para o quarto e fizemos amor. Era uma espécie de foda repetitiva, meio em transe, confortável apenas porque fomos impelidos pelo tempo lá fora. Se até aquele instante eu ainda estava me enganando, depois não podia mais afirmar que meu marido estava totalmente presente.
Então veio o almoço, em seguida assistimos à tevê — encontrei a reprise de uma corrida de barcos para ele — e conversamos sobre amenidades. Ele perguntou por alguns amigos, mas eu não sabia. Nunca os via. Nunca tinham sido amigos meus, na verdade; eu não cultivava amizades, só herdava as do meu marido.
Tentamos jogar um jogo de tabuleiro e demos risadas com algumas perguntas bobas. Então, lacunas esquisitas no seu conhecimento começaram a aparecer, e paramos de jogar, deixando que uma espécie de silêncio nos envolvesse. Ele leu o jornal, se atualizou com algumas de suas revistas prediletas, acompanhou o noticiário. Ou talvez estivesse apenas fingindo que fazia todas essas coisas.
Quando a chuva parou, acordei de um cochilo no sofá e descobri que ele não estava mais na sala. Tentei não entrar em pânico quando chequei todos os aposentos da casa e não o vi. Saí e acabei encontrando-o lá fora, na parte lateral da casa. Estava parado diante do barco que comprara alguns anos antes, e que nunca tínhamos conseguido acomodar dentro da garagem. Era apenas uma lancha, com cerca de seis metros de comprimento, mas ele a adorava.
Quando me aproximei e lhe dei o braço, vi que ele tinha uma expressão perplexa no rosto, quase desorientada, como se fosse capaz de lembrar que o barco era importante mas não soubesse por quê. Não percebeu minha presença, ficou apenas fitando o barco com um olhar cada vez mais intenso e vazio. Eu podia ver seu esforço para tentar lembrar alguma coisa importante; apenas não percebi, a não ser muito depois, que isso tinha a ver comigo. Ele poderia ter me dito alguma coisa vital, ali, naquele momento, se pelo menos pudesse lembrar o que era. Então ficamos ali juntos, e embora eu pudesse sentir o calor e o peso do seu corpo junto ao meu, o som regular de sua respiração, estávamos em mundos diferentes.
Depois de algum tempo, não aguentei mais a completa desorientação e a impessoalidade de sua angústia, de seu silêncio. Levei-o de volta para dentro de casa. Ele não resistiu. Não protestou. Não tentou olhar para o barco por cima do ombro. Acho que foi então que tomei minha decisão. Se ao menos ele tivesse olhado para trás. Se tivesse resistido, mesmo que por um momento, tudo teria sido diferente.
Na hora do jantar, quando ele estava terminando de comer, vieram buscá-lo, em quatro ou cinco carros sem nenhuma identificação e uma van. Não chegaram com violência e gritos nem exibindo algemas e armas de fogo. Em vez disso, abordaram-no com respeito, quase com medo: com aquela delicadeza cuidadosa que se pode esperar de alguém manuseando uma bomba que não explodiu. Ele os acompanhou sem reclamar, e eu deixei que levassem aquele estranho da minha casa.
Não poderia impedi-los, mas também não quis. Naquelas poucas horas finais eu tinha convivido com meu marido em uma espécie de pânico crescente, cada vez mais convencida de que o que quer que tivesse acontecido na Área X o tinha transformado em uma casca vazia, em um autômato repetindo gestos sem sentido. Alguém que eu não conhecia. A cada gesto atípico, a cada palavra, ele ia se afastando mais e mais da pessoa que eu conhecera, e, apesar de tudo que havia se passado entre nós, preservar a lembrança dele era algo importante para mim. Foi por isso que liguei para o número especial que nos tinham dado para o caso de uma emergência: eu não sabia o que fazer com ele, não podia coexistir com ele naquele estado alterado. Ao vê-lo partir, senti, para ser honesta, uma espécie de alívio, não culpa ou traição. O que mais eu poderia ter feito?
Como já disse, fiquei visitando-o nas instalações médicas até o fim. Mesmo sob hipnose naquelas entrevistas gravadas, ele não tinha nada de novo a dizer, a não ser que isso tenha sido escondido de mim. O que mais recordo é a tristeza repetitiva de suas palavras: “Eu estou andando eternamente ao longo da trilha entre a fronteira e o acampamento. Leva um tempo enorme, e sei que vou levar ainda mais tempo para voltar. Não há ninguém comigo. Estou sozinho. As árvores não são árvores e os pássaros não são pássaros e eu não sou eu, mas apenas alguma coisa que está andando há muito, muito tempo...”
Foi esta a única coisa que descobri nele depois de seu retorno: uma profunda, interminável solidão, como se ele tivesse recebido um dom e não soubesse como usá-lo. Um presente venenoso, que acabou por matá-lo. Mas seria capaz de me matar também? Essa foi a pergunta que se insinuou em minha mente quando olhei nos olhos dele nas últimas vezes, desejando adivinhar seus pensamentos, sem conseguir.
Enquanto eu prosseguia com meu trabalho cada vez mais repetitivo em um laboratório esterilizado, continuei pensando na Área X, e em como eu nunca saberia o que estava acontecendo lá. Ninguém era capaz de me dizer, e nenhum relatório podia suprir a experiência direta. Portanto, meses depois da morte do meu marido, eu me apresentei como voluntária para uma expedição na Área X. Até então, nenhum cônjuge de um ex-membro tinha participado. Acho que me aceitaram em parte porque queriam saber se essa conexão poderia fazer alguma diferença. Acho que me aceitaram a título de experiência. Mas, mesmo assim, talvez desde o começo eles tivessem a expectativa de que eu me apresentaria.
Pela manhã, parou de chover, e o céu estava azul e quase sem nuvens. Somente as folhas de pinheiro caídas nas barracas, as poças de lama e os galhos pelo chão sinalizavam a tempestade da noite anterior. O brilho que infectara meus sentidos estava se espalhando pelo meu peito; não tenho outra forma de descrever o que sentia. Dentro de mim havia um brilho, uma espécie de formigamento de energia e de expectativa que combatia minha sonolência. Isso fazia parte da mudança? Mesmo assim, não tinha importância — eu não tinha meios de combater o que acontecia em mim.
Eu também precisava tomar uma decisão, e estava dividida entre o farol e a torre. Parte daquele meu brilho queria voltar imediatamente à escuridão, e essa lógica se relacionava à valentia, ou à falta dela. Mergulhar direto na torre, sem pensar, sem planejar, seria um ato de fé, de pura resolução ou impaciência, sem nada mais por trás. Mas eu também sabia que alguém tinha ido ao farol na noite anterior. Se a psicóloga tivesse se refugiado ali, e eu a encontrasse, então poderia obter mais informações sobre a torre antes de voltar a explorá-la. Isso me parecia cada vez mais importante, mais ainda do que na noite anterior, porque o número de incógnitas apresentadas pela torre tinha se multiplicado. Portanto, na hora em que voltei a conversar com a topógrafa, já havia me decidido pelo farol.
A manhã tinha o cheiro e a sensação de um novo começo, mas não iria ser assim. Se a topógrafa não queria de modo algum voltar à torre, também não demonstrou qualquer interesse pelo farol.
— Você não quer descobrir se a psicóloga está lá?
Ela me olhou como se eu tivesse acabado de dizer uma coisa idiota.
— Escondida em um lugar com visibilidade em todas as direções? Onde nos disseram haver armas estocadas? Prefiro me arriscar aqui. Se for esperta, fará o mesmo. Pode acabar “descobrindo” que não gosta de um buraco de bala na cabeça. Além disso, ela pode estar em qualquer outro lugar.
Sua teimosia me fez vacilar. Eu não queria que nos separássemos, por motivos puramente práticos — de fato, tinham nos dito que as expedições anteriores deixavam armas estocadas no farol — e porque eu acreditava que era mais provável que ela tentasse voltar para casa se eu não estivesse ali.
— É o farol ou a torre — retruquei, tentando contornar o problema. — E seria melhor para nós duas se conseguíssemos encontrar a psicóloga antes de voltar à torre. Ela viu o que matou a antropóloga. Sabe mais do que nos contou.
A ideia que não expressei era a de que, talvez, deixando passar um ou dois dias, qualquer que fosse o ser que habitava a torre, traçando devagar aquelas palavras na parede, teria desaparecido, ou descido até um ponto tão adiante que nunca o alcançaríamos. Mas isso me trouxe à mente a imagem perturbadora de uma torre infinita, com infinitos andares descendo até o fundo da terra.
A topógrafa cruzou os braços.
— Você não entende mesmo, não é? A missão acabou.
Ela estava com medo? Ou apenas não gostava de mim o bastante para concordar? Qualquer que fosse a razão, sua opinião me irritou, bem como a expressão presunçosa em seu rosto.
Naquele instante, acabei fazendo algo que agora lamento. Falei:
— Não há recompensa no risco de descer a torre agora.
Achei que tinha sido sutil ao formular um dos comandos hipnóticos usados pela psicóloga, mas o rosto da topógrafa estremeceu em uma espécie de desorientação momentânea. Quando aquilo passou, sua expressão me mostrou que ela percebera o que eu tentara fazer. Não era sequer uma expressão de surpresa; parecia mais que eu tinha apenas confirmado uma noção que ela estava formando aos poucos e que agora se cristalizava. Foi quando descobri que as sugestões hipnóticas só funcionavam quando eram usadas pela psicóloga.
— Você faria qualquer coisa para conseguir o que quer, não é? — disparou a topógrafa.
Mas o fato era: ela tinha o rifle. Que arma eu tinha, na verdade? E convencera a mim mesma de que só escolhera aquela linha de ação para que a morte da antropóloga não fosse em vão.
Como não respondi, ela suspirou, e disse, enfim, com a voz cansada:
— Sabe, finalmente descobri, quando estava revelando essas fotos inúteis. O que mais me incomoda. Não é aquilo no túnel, ou como você se comporta, ou qualquer coisa que a psicóloga tenha feito. É este rifle que estou segurando. Este maldito rifle. Eu o desmontei para limpá-lo e descobri que é feito de partes com mais de trinta anos de idade, misturadas. Nada do que trouxemos pertence ao presente. Nem as nossas roupas, nem os sapatos. Tudo é lixo velho. Porcarias recicladas. Estamos vivendo no passado esse tempo todo. Em uma espécie de reconstituição. E por quê? — Ela emitiu um som de desprezo. — Você nem sabe o porquê.
Era o máximo que ela já me dissera até então. Tive vontade de responder que aquela informação se colocava como uma das menores surpresas na hierarquia de tudo que tínhamos descoberto. Mas não o fiz. Tudo que me restava era ser sucinta.
— Você ficará aqui até que eu volte? — perguntei.
Esta era a questão primordial, e não gostei da rapidez com que veio a resposta, nem do tom.
— O que você preferir.
— Não prometa nada que não queira cumprir.
Há muito tempo eu tinha parado de acreditar em promessas. Imperativos biológicos, sim. Fatores ambientais, sim. Promessas, não.
— Foda-se — disse ela.
E assim nos despedimos — ela reclinada naquela cadeira velha, segurando o rifle, enquanto eu saía para descobrir a origem da luz que vira na noite anterior. Levei comigo uma mochila cheia de comida e água, bem como duas pistolas, equipamento para colher amostras e um dos microscópios. Por alguma razão, levar o microscópio me dava segurança. E, não importa quanto eu tivesse insistido com a topógrafa para que me acompanhasse, havia também parte de mim que agradecia a chance de explorar sozinha, de não depender de alguém, de não ter que me preocupar com alguém.
Olhei para trás umas duas vezes antes fazer a curva na trilha, e a topógrafa ainda estava ali sentada, fitando-me como um reflexo distorcido de quem eu fora poucos dias antes.
03: IMOLAÇÃO
Uma sensação estranha tomou conta de mim, enquanto caminhava sozinha e em silêncio em meio aos últimos pinheiros e raízes de ciprestes que pareciam flutuar na água negra, o musgo acinzentado que cobria tudo. Era como se eu atravessasse a paisagem ao som de uma ária, intensa e expressiva, vibrando em meus ouvidos. Tudo estava carregado de emoção, impregnado dela, e eu não era mais uma bióloga, mas a crista de uma onda que se avolumava mais e mais e nunca quebrava na praia. Com um olhar renovado, percebi as sutilezas da transição para o pântano e para os charcos. Quando a trilha se transformou em um aclive, lagos turvos e tomados por algas começaram a aparecer à minha direita, com um canal flanqueando o caminho pelo lado esquerdo. Cursos d’água se entrelaçavam formando um labirinto por entre a floresta de juncos na margem do canal, e ilhas, oásis de árvores retorcidas pelo vento, surgiram a distância como aparições súbitas. A aparência curvada e enegrecida dessas árvores contrastava com o fundo brilhante, marrom-dourado dos juncos. A estranha luz daquele hábitat, a imobilidade geral, a sensação de espera, tudo me levava a um estado próximo ao êxtase.
Ao longe se elevava o farol, e eu sabia que existiam as ruínas de um vilarejo no caminho até ele, também marcadas no mapa. Mas à minha frente estendia-se a trilha, coberta em alguns trechos por pedaços estranhamente maltratados de madeira branca, atirados ali por tempestades do passado. Legiões de minúsculos gafanhotos vermelhos habitavam a relva alta, e havia apenas umas poucas rãs para se banquetear com eles, enquanto caminhos de relva amassada assinalavam os pontos em que grandes répteis, após o banho de sol, tinham deslizado de volta para a água. No céu, aves de rapina esquadrinhavam o solo em busca de presas, voando em círculos tão perfeitamente geométricos que pareciam programados.
Dentro daquele casulo atemporal, com o farol parecendo estar sempre à mesma distância por mais que eu caminhasse, tive mais tempo para pensar a respeito da torre e da expedição. Eu sentia que tinha abdicado de minha responsabilidade àquele ponto, havia parado de pensar nos elementos encontrados no interior da torre como parte de uma vasta entidade biológica que podia ou não ser de origem terrestre. Mas considerar a enormidade dessa ideia em um nível macro iria estilhaçar meu estado de espírito como uma avalanche desabando em meu corpo.
Então... o que, afinal, eu sabia de concreto? Quais eram os detalhes específicos? Um... organismo... estava escrevendo palavras vivas ao longo das paredes da torre, e podia estar fazendo isso havia muito tempo. Ecossistemas complexos brotavam e floresciam entre as palavras, dependentes delas, antes de morrerem aos poucos à medida que elas se desgastavam. Mas isso era um efeito colateral à criação das condições certas, de um hábitat viável. Era importante apenas na medida em que as formas de adaptação dos organismos nas palavras pudessem me dizer algo a respeito da torre. Por exemplo, os esporos que eu tinha inalado, que conduziam a uma visão verdadeira.
Esse pensamento me causou um sobressalto; os juncos do pântano, agitados pelo vento, ondularam como uma cortina ao meu redor. Tinha presumido que a psicóloga me hipnotizara para que visse a torre como uma construção de pedra, não uma entidade biológica, e que os esporos haviam me tornado resistente a essa sugestão hipnótica. Mas e se o processo fosse mais complexo do que isso? E se, de algum modo, a torre emanasse um efeito também — uma espécie de mimetismo de defesa —, e os esporos tivessem me tornado imune a essa ilusão?
Deixando esse novo contexto de lado, eu tinha muitas perguntas e poucas respostas. Qual era o papel do Rastejador? (Decidi que era importante atribuir um nome ao criador de palavras.) Qual o propósito da “recitação” física das palavras? Seu significado tinha alguma importância ou quaisquer palavras teriam o mesmo efeito? De onde vinham aquelas frases? Qual era a relação entre as palavras e a torre-criatura? Colocando a questão de outra maneira: seriam as palavras uma forma de comunicação parasítica ou simbiótica entre o Rastejador e a Torre? Ou talvez o Rastejador fosse um emissário da Torre, ou uma forma de vida independente que só depois entrou em contato com ela. Mas sem a maldita amostra não recolhida da parede da Torre, eu não podia sequer esboçar uma conjetura.
O que me conduziu de volta às palavras. De onde jaz o fruto asfixiante que veio da mão do pecador... Vespas, pássaros e outras criaturas construtoras de ninhos frequentemente usam alguma substância ou material insubstituível para criar suas estruturas, mas incorporam também outros elementos que encontram na área. Isso poderia explicar a natureza aparentemente aleatória das palavras. Elas serviam apenas como material de construção, o que talvez explicasse por que nossos superiores proibiram a presença de aparelhos de alta tecnologia na Área X — eles sabiam que tudo ali poderia ser usado de alguma maneira desconhecida e poderosa por quem quer que estivesse ocupando aquele local.
Inúmeras ideias pipocavam na minha cabeça enquanto eu observava um falcão mergulhar entre os juncos e emergir carregando nas garras um coelho se debatendo. Primeiro, que as palavras — as linhas formadas por elas, sua natureza física — eram absolutamente essenciais ao bem-estar da Torre, ou do Rastejador, ou de ambos. Eu tinha visto os resquícios tênues de tantas frases mais antigas que era possível presumir algum tipo de imperativo biológico no trabalho do Rastejador. O processo talvez alimentasse o ciclo reprodutivo dele ou da Torre. Talvez o Rastejador fosse dependente do processo, e a ação trouxesse algum benefício colateral para a Torre. Ou vice-versa. Talvez as palavras em si não tivessem tanta importância, porque se tratava de um processo de fertilização que só terminaria quando toda a parede esquerda da Torre estivesse coberta por uma camada de palavras.
A despeito de meu esforço para manter a ária ressoando em minha mente, tive que retornar rudemente à realidade, à medida que examinava aquelas hipóteses. De repente voltei a ser apenas uma pessoa abrindo caminho em meio a uma paisagem natural já conhecida. Havia muitas variáveis e dados insuficientes, e eu estava considerando algumas premissas que podiam perfeitamente não ser verdadeiras. Um exemplo disso é que durante todo o tempo eu presumira que nem o Rastejador nem a Torre fossem seres racionais, no sentido de possuírem livre-arbítrio. Minha teoria de procriação ainda poderia ser aplicada em um contexto mais amplo, mas havia outras possibilidades. O papel do ritual, por exemplo, em certas culturas e sociedades. Como eu gostaria de ter acesso à mente da antropóloga agora; mas estudando colônias de insetos aprendi algumas coisas sobre essa área do conhecimento.
E, se não se tratava de um ritual, eu voltava a considerar a possibilidade de uma forma de comunicação, dessa vez consciente, não apenas no fator biológico. O que será que aquelas palavras na parede comunicavam à Torre? Tive que presumir, ou achava que tinha, que o Rastejador não vivia apenas na Torre: ele tinha que se afastar para reunir as palavras, e precisava assimilá-las, mesmo que não as compreendesse, antes de retornar. O Rastejador precisava memorizá-las, o que era uma forma de absorção. As frases nas paredes poderiam ser indícios trazidos pelo Rastejador para serem analisados pela Torre.
Mas existe um limite para o que se pode pensar sobre até mesmo uma parte pequena de algo de dimensões monumentais. É possível pressentir a sombra daquela coisa inteira erguendo-se às suas costas, e ficamos distraídos, em parte devido ao medo de perceber o tamanho daquele leviatã imaginário. Precisei parar por ali, guardar aqueles pensamentos em um cantinho do cérebro até que pudesse registrar tudo por escrito, e, vendo-o no papel, pudesse inferir seu verdadeiro significado. Naquele momento o farol já aparecia bem maior no horizonte. Sua presença me oprimia, e me fez perceber que a topógrafa tinha razão em pelo menos uma coisa. Qualquer pessoa no farol poderia ver minha aproximação a quilômetros de distância. Percebi também que o outro efeito dos esporos — a sensação de brilho dentro do peito — continuava a me moldar enquanto caminhava, e quando cheguei às ruínas do vilarejo, o que indicava que eu estava na metade do caminho, sentia-me capaz de correr uma maratona. Não confiei naquela sensação. Parecia, de diferentes maneiras, que eu estava sendo enganada.
Tendo testemunhado a calma antinatural dos membros da décima primeira expedição, pensei muitas vezes, durante o treinamento, nos relatórios tranquilizadores da primeira expedição. A Área X, antes do Evento indeterminado que a isolara atrás de uma fronteira trinta anos atrás e a tornara sujeita a tantas ocorrências inexplicáveis, fazia parte de uma região ainda não urbanizada, próxima de uma base militar. Havia pessoas morando ali, gente simples, mas não muitas, em maioria descendentes lacônicos de antigos pescadores. O desaparecimento daquela comunidade pode ter parecido a alguns somente a intensificação de um processo que já tinha começado há várias gerações.
Quando a Área X surgiu, foi cercada de incerteza e confusão, e ainda é verdade que no mundo exterior não há muitas pessoas que saibam de sua existência. A versão oficial do governo informava uma catástrofe ambiental localizada, resultante de pesquisas experimentais feitas pelos militares. Essa versão vazou para a esfera pública no período de vários meses, de modo que, tal como a proverbial rã dentro da frigideira, as pessoas receberam as notícias gradualmente, como parte do ruído cotidiano, já saturado de matérias a respeito da devastação ecológica. Passados um ou dois anos, a questão virou assunto de adeptos das teorias da conspiração e outros elementos marginalizados. Na época em que me apresentei como voluntária e fui autorizada a receber as informações verdadeiras sobre os fatos, a ideia de uma “Área X” pairava na mente de muitas pessoas como uma espécie de conto de fadas tenebroso, algo em que não queriam prestar muita atenção. Se é que prestavam alguma. Já tínhamos tantos outros problemas...
Durante o treinamento, disseram-nos que a primeira expedição penetrou naquele território dois anos após o Evento, depois que os cientistas descobriram um modo de transpor a fronteira. Foi essa expedição que estabeleceu o perímetro do acampamento principal e produziu o primeiro esboço do mapa da Área X, confirmando os pontos de referência principais. Descobriram ali uma natureza intocada, sem nenhuma alma humana. Encontraram o que algumas pessoas chamam de “um silêncio preternatural”.
“Eu me senti mais livre do que jamais fora, e ao mesmo tempo mais limitado”, dissera um membro da expedição. “Era como se fosse capaz de fazer qualquer coisa desde que não me incomodasse em ser observado.”
Outros mencionaram sensações de euforia e picos de desejo sexual para os quais não havia explicação e que, em última análise, seus superiores não os consideraram importantes.
Se era possível notar anomalias nos seus relatórios, elas estavam situadas bem na periferia. Por exemplo, nunca vimos seus diários; em vez disso, eles prestaram seus relatórios em longas entrevistas gravadas. Isto, para mim, sugeria que nosso contato com a experiência direta deles estava sendo evitado, embora na época eu pensasse que talvez fosse por paranoia.
Alguns deles forneceram descrições do vilarejo abandonado que me pareceram inconsistentes. A deformação da madeira e o nível de deterioração geral indicavam um lugar abandonado havia muito mais tempo do que uns poucos anos. Mas se alguém tinha percebido essa estranheza antes de mim, a observação fora suprimida dos registros.
Estou convencida de que tivemos acesso aos relatórios porque não fazia diferença se tínhamos conhecimento ou não de determinados tipos de informação sigilosa. Havia apenas uma conclusão lógica: a experiência dizia aos nossos superiores que poucos de nós voltaríamos, se é que alguém conseguiria.
O vilarejo abandonado fora tão absorvido pela paisagem natural da praia que só o avistei quando já estava de frente para ele. A trilha que eu seguia desceu por uma espécie de encosta, e lá estava o vilarejo, cercado por mais árvores raquíticas. Das doze ou treze casas somente algumas ainda possuíam teto, e o que sobrara do caminho até elas era uma espécie de cascalho poroso. Algumas paredes ainda estavam de pé, a madeira escura apodrecida e enodoada de liquens, mas a maior parte havia desabado, o que me dava uma visão peculiar da parte interna: restos de mesas e cadeiras, brinquedos de criança, roupas apodrecidas, vigas do teto desabadas no chão, tudo coberto por musgo e trepadeiras. Aquele lugar exalava um cheiro pungente de produtos químicos e de mais de um animal morto apodrecendo na palha. Algumas casas tinham, ao longo do tempo, desmoronado para dentro do canal que passava ao lado do vilarejo, e suas ruínas lembravam criaturas tentando emergir da água. Tudo dava a impressão de que algo tinha acontecido ali séculos atrás, e só tinham restado vagos indícios desse evento.
Mas onde um dia existiram cozinhas, salas ou quartos, eu também vi singulares erupções de musgo ou líquen, erguendo-se a uma altura de um metro, um metro e meio, disformes — acúmulos de matéria vegetal formando quase a silhueta de membros, cabeças e torsos. Como se essa matéria, pesada demais para a gravidade, tivesse se acomodado ao pé das figuras. Ou talvez eu tenha imaginado esse efeito.
Um cenário, em particular, me marcou de um modo quase emocional. Quatro dessas erupções, uma delas “de pé” e três outras decompostas a ponto de estarem “sentadas” no que um dia poderia ter sido uma sala com uma mesinha de centro e um sofá — todas voltadas para o canto do aposento, onde se viam apenas os restos destruídos de uma lareira e uma chaminé. Senti o cheiro inesperado de limão e de hortelã em meio ao odor de mofo e argila.
Não quis ficar especulando sobre aquele cenário, seu significado ou que elemento do passado ele poderia representar. Nenhuma sensação de paz emanava daquele lugar; somente a impressão de algo incompleto ou ainda em progresso. Eu queria seguir adiante, mas primeiro recolhi algumas amostras. Sentia necessidade de documentar o que eu encontrasse, e uma foto não me pareceu suficiente, em vista do que acontecera com as outras. Cortei um pedaço do musgo da “testa” de uma das erupções. Arranquei lascas da madeira. Cheguei até a raspar a carne de animais mortos — uma raposa ferida, enroscada e ressecada, assim como um rato que devia estar morto havia apenas um ou dois dias.
Foi logo depois que deixei o vilarejo que algo peculiar aconteceu. Tive um sobressalto ao ver duas manchas aparecerem subitamente no canal e virem em minha direção, cortando a água. Meu binóculo de nada adiantou, pois a água estava opaca devido ao brilho do sol. Lontras? Peixes? Alguma outra coisa? Puxei a pistola.
Então os golfinhos emergiram, e isso produziu uma estranheza tão vívida quanto a de minha primeira descida à Torre. Sabia que aqueles golfinhos tinham se adaptado à água doce e às vezes se aventuravam pelos canais. Mas quando a mente está preparada para lidar com um leque finito de possibilidades, qualquer explicação fora dessas expectativas pode nos surpreender. Então, algo ainda mais desolador ocorreu. Quando passavam por mim, o mais próximo girou o corpo para ficar de lado e me encarou com um olho que, naquele breve momento, não me pareceu em nada com o de um golfinho. Era dolorosamente humano, quase familiar. Após um instante ele sumiu, os dois mergulharam de novo, e não pude verificar o que tinha visto. Fiquei parada ali, olhando aquelas manchas paralelas desaparecerem canal acima, na direção do vilarejo deserto. Tive a inquietante sensação de que a natureza à minha volta havia se transformado em uma espécie de camuflagem.
Um pouco abalada, continuei minha marcha rumo ao farol, que agora aparecia bem maior, intenso, com suas faixas pretas e brancas encimadas de vermelho dando-lhe um ar autoritário. Dali em diante eu não teria mais abrigo antes de chegar ao meu destino. Iria ser totalmente visível a quem (ou o que) estivesse me observando lá de cima, uma coisa anormal na paisagem natural, uma coisa que não pertencia àquele ambiente. Talvez até mesmo uma ameaça.
* * *
Era quase meio-dia quando finalmente cheguei ao farol. Tive o cuidado de beber um pouco de água e fazer um lanche rápido durante a caminhada, mas mesmo assim fiquei exausta; talvez a falta de sono estivesse me afetando. Além disso, os últimos trezentos metros até meu objetivo foram cheios de tensão, porque eu continuava me lembrando do aviso da topógrafa. Eu tinha sacado a pistola e a segurava ao lado do corpo, sem saber qual seria sua utilidade diante de um rifle potente. Durante todo o tempo fiquei de olho na janelinha visível no meio da estrutura pintada de preto e branco, e nas largas janelas panorâmicas do topo, sempre atenta a qualquer movimento.
O farol estava situado um pouco antes de uma elevação natural das dunas que parecia uma onda, virado de frente para o mar, com a praia estendendo-se abaixo dele. De perto, tinha a aparência de ter sido convertido em uma espécie de fortaleza, um fato convenientemente omitido durante nosso treinamento. Isso apenas confirmava a impressão que eu tivera a distância, porque, embora a relva ainda estivesse alta, nenhuma árvore crescia ao longo da trilha por cerca de meio quilômetro; tudo que encontrei foram velhos tocos. A cerca de duzentos metros olhei com o binóculo e vi um muro de cerca de três metros de altura circundando a área do farol que tinha vista para o continente; algo que claramente não fazia parte da construção original.
Próximo ao mar, outro muro, ainda mais fortificado e sólido, elevava-se junto à duna de areia, com cacos de vidro no topo, e, à medida que me aproximava, pude ver ameias que serviam de posto para atiradores. Tudo aquilo parecia a ponto de desmoronar praia abaixo. O fato de isso não ter acontecido ainda parecia indicar que quem o construiu devia ter feito alicerces muito profundos. A impressão era de que, no passado, o farol fora defendido por pessoas em guerra com o mar. Não gostei daquele muro, porque dava indícios de um tipo muito específico de insanidade.
A certa altura, alguém teve tempo e disposição para escalar a parede externa do farol e fixar nela pedaços pontudos de vidro, com algum tipo de cola ou adesivo. Essas lâminas de vidro começavam a cerca de um terço da altura do farol e continuavam até o penúltimo estágio, logo abaixo da parte envidraçada que abrigava a luz. Naquele ponto, uma espécie de colar de metal de quase um metro de largura contornava o farol, um elemento defensivo que fora reforçado com arame farpado enferrujado.
Alguém tinha se esforçado ao máximo para manter os outros do lado de fora. Pensei no Rastejador e nas palavras escritas na parede. Pensei na fixação pelo farol exibida nos documentos deixados pela última expedição. Mas, apesar desses elementos contraditórios, eu estava feliz em chegar à sombra fresca daquele muro úmido em volta da face continental do farol. Daquele ângulo, ninguém conseguiria me alvejar do topo ou da janelinha do meio. Eu tinha vencido o primeiro desafio. Se a psicóloga estava lá dentro, tinha decidido não recorrer à violência por enquanto.
O muro de defesa chegara a um nível de deterioração que denunciava anos de negligência. Um buraco largo e irregular dava acesso à porta de entrada do farol. Essa porta havia sido explodida de fora para dentro, e dela restavam apenas fragmentos de madeira pendendo das dobradiças enferrujadas. Uma trepadeira roxa florida tinha se apossado das paredes e se enroscava nos pedaços remanescentes no lado esquerdo. Aquilo era um pouco reconfortante, porque o que quer que tivesse ocorrido com tamanha violência fora muito tempo atrás.
A escuridão lá dentro, porém, me deixou apreensiva. Eu sabia, pela planta baixa que tinha estudado durante o treinamento, que o andar térreo do farol tinha três aposentos externos, com a escada que levava ao topo posicionada mais ou menos à esquerda, e que do lado direito as acomodações se abriam para uma área nos fundos que possuía um salão amplo. Muitos lugares para alguém se esconder.
Peguei uma pedra e a atirei rolando pelo piso através da porta dupla despedaçada. Ela bateu no chão com um ruído e rolou para dentro até sumir de vista. Não ouvi nenhum outro som, nenhum movimento, nenhuma respiração além da minha. Com a arma em punho, entrei o mais silenciosamente que pude, roçando o ombro na parede à minha esquerda, tentando localizar a escada que levava ao andar de cima.
Os aposentos externos do térreo estavam vazios. O som do vento soava abafado ali dentro, as paredes eram espessas, e somente duas pequenas janelas na parte da frente deixavam entrar alguma luz no ambiente; precisei usar a lanterna. Quando meus olhos se acostumaram à penumbra, o senso de devastação, de solidão, foi crescendo mais e mais. A trepadeira roxa parava de avançar após o umbral, incapaz de crescer nas trevas. Não havia cadeiras. O piso estava coberto de sujeira e escombros. Lá dentro não tinha nenhum tipo de objeto pessoal. Em uma área aberta encontrei a escada. Ninguém estava nos degraus me vigiando, mas tinha a impressão de que alguém poderia ter estado ali momentos atrás. Pensei em subir logo até o topo, em vez de explorar os aposentos do térreo, mas mudei de ideia. Era melhor agir como a topógrafa, com seu treinamento militar, e liberar aquela área de uma vez, mesmo sabendo que alguém poderia entrar pela porta principal enquanto eu estivesse lá em cima.
O salão dos fundos contava uma história diferente da sugerida pelos outros aposentos. Minha imaginação pôde apenas reconstituir o que acontecera de um modo muito geral, grosseiro. Ali, pesadas mesas de carvalho foram viradas para improvisar barricadas. Algumas estavam cheias de buracos de bala e outras pareciam meio derretidas ou estilhaçadas pelo tiroteio. Atrás do que restava das mesas, manchas negras espalhadas na parede ou em poças coaguladas no chão falavam de uma violência indizível e súbita. Uma camada de poeira cobria tudo, juntamente com um odor sinistro e incisivo de putrefação; eu podia ver excrementos de rato e sinais de que um catre ou uma cama havia sido colocado em um canto, em um momento posterior a tudo... embora fosse difícil saber quem poderia dormir rodeado dos vestígios de tal massacre. Alguém havia gravado à faca suas iniciais em uma das mesas: “R. S. esteve aqui”. As marcas pareciam mais recentes do que todo o resto. Era como gravar as iniciais ao visitar um monumento de guerra, se a pessoa fosse insensível o bastante. Mas ali, parecia mais um ato de bravura para combater o medo.
A escada aguardava, e, para reprimir minha náusea crescente fui na direção dela e comecei a subir. A essa altura eu tinha guardado a arma, pois precisava da mão livre para me equilibrar, mas gostaria de ter em meu poder o rifle da topógrafa. Isso me faria sentir mais segura.
Foi uma subida estranha, contrastando com as minhas descidas no interior da Torre. A fraca luz do exterior refletida naquelas paredes cinzentas era melhor do que a fosforescência da Torre, mas o que encontrei nas paredes me enervou na mesma medida, ainda que de modo diferente. Mais manchas de sangue, a maior parte nódoas espessas como se várias pessoas estivessem sangrando enquanto tentavam fugir dos agressores vindos de baixo. Às vezes filetes de sangue, às vezes borrifos na parede.
Havia palavras escritas nas paredes, mas nada que se comparasse às da Torre. Encontrei mais iniciais, mas também alguns pequenos desenhos obscenos e umas poucas frases de natureza mais pessoal. As mais longas davam pistas do que podia ter acontecido: “4 caixas de mantimentos, 3 caixas de remédios e água potável para 5 dias, se racionada; balas suficientes para todos, se necessário.” Confissões, também, que não registrarei aqui, mas que tinham a sinceridade e o peso de terem sido escritas imediatamente antes, ou durante, momentos em que os indivíduos acreditavam que a morte estava perto. Tantas pessoas precisando tanto comunicar algo que no fim significava tão pouco.
Fui encontrando objetos pela escada... um sapato perdido... um pente de munição de uma pistola automática... alguns frascos mofados de amostras que há muito tinham apodrecido ou se transformado em um líquido rançoso... um crucifixo que parecia ter sido arrancado da parede... uma prancheta, com a parte de madeira encharcada pela umidade e o metal alaranjado de ferrugem... e, o pior de tudo, um coelhinho de pelúcia quase destruído, com as orelhas esfarrapadas. Talvez um amuleto da sorte trazido às escondidas por um membro da expedição. Pelo que sabia, não havia crianças na Área X desde que a fronteira aparecera.
Mais ou menos na metade do trajeto cheguei a um andar, que devia ser o local de onde viera a luz que eu tinha avistado na noite anterior. Ainda reinava ali o silêncio, e eu não tinha ouvido nenhum indício de movimento acima de onde eu estava. A claridade era maior ali, devido às duas janelas situadas à esquerda e à direita. Naquele ponto os rastros de sangue se interrompiam bruscamente, embora ainda se vissem buracos de bala nas paredes. Cartuchos vazios estavam espalhados pelo chão, mas alguém tinha se dado o trabalho de varrê-los para os cantos, limpando o acesso para os degraus que levavam ao andar seguinte. Do lado esquerdo, alguns rifles e pistolas estavam amontoados no piso; alguns deles antigos, outros de modelos não militares. Era difícil dizer se alguém tinha mexido neles recentemente. Pensando no que a topógrafa dissera, imaginei quando acabaria encontrando um bacamarte ou outra piada de mau gosto.
Afora isso, havia apenas a poeira e o mofo, e uma pequena janela quadrada com vista para a praia e os juncos. Na parede oposta, uma fotografia desbotada em uma moldura partida, pendurada em um prego. O vidro manchado também estava quebrado, e parcialmente coberto por nódoas de mofo esverdeado. A foto em preto e branco mostrava dois homens de pé na base do farol com uma garotinha ao lado. Um círculo havia sido traçado com caneta em volta de um dos homens. Ele parecia ter uns cinquenta anos e usava um boné de pescador. Olhos penetrantes como os de uma águia brilhavam em um rosto bruto, e o olho esquerdo, semicerrado, mal podia ser visto. Uma barba espessa cobria seu rosto, dificultando entrever o queixo firme por baixo dela. Ele não sorria, mas também não estava franzindo o cenho. Eu tinha bastante experiência com faroleiros para reconhecer um quando o via. Mas havia algo mais na sua aparência, talvez por causa da maneira estranha como a poeira emoldurava seu rosto, que me fez ter certeza de que era ele quem cuidava do farol. Ou talvez eu já tivesse passado tempo demais naquele lugar, e minha mente procurasse uma resposta, qualquer uma, mesmo para as perguntas mais simples.
O vulto cilíndrico do farol atrás dos três era nítido e claro, e a porta, à direita, parecia em bom estado. Não lembrava em nada o cenário que eu acabara de ver, e fiquei imaginando quando aquela foto havia sido tirada. Quantos anos tinham decorrido entre a foto e o começo daquilo tudo? Por quantos anos o faroleiro tinha mantido sua rotina e seus rituais, vivido naquela comunidade, frequentado o bar ou o pub local? Talvez tivesse uma esposa. Talvez a menina da foto fosse sua filha. Talvez tivesse sido um cara popular. Ou solitário. Ou um pouco dos dois. Não importa: nada daquilo significou coisa alguma no fim.
Olhei para ele através daqueles anos todos, tentando saber, por aquela foto mofada, pela linha do seu queixo e pelo reflexo da luz nos seus olhos, como ele teria reagido, como teriam sido suas últimas horas. Talvez tivesse fugido a tempo, talvez não. Talvez estivesse se desfazendo em pó em algum canto escondido do térreo. Ou (e nesse instante tive um calafrio repentino) quem sabe estivesse esperando por mim lá em cima. Sob outra forma. Retirei a foto da moldura e a guardei no bolso. O faroleiro iria seguir comigo, embora eu mal pudesse contar com ele como um amuleto da sorte. Quando deixei aquele andar, veio-me a ideia peculiar de que eu não era a primeira pessoa a carregar aquela foto, que alguém sempre voltaria para substituí-la, para fazer um círculo de tinta na figura do faroleiro.
* * *
Continuei encontrando sinais de violência à medida que subia, mas nenhum corpo. Quanto mais me aproximava do topo, mais tinha a sensação de que alguém tinha morado ali recentemente. O cheiro de mofo foi dando lugar a um odor de suor, mas também a algo que parecia sabão. As escadas tinham menos destroços, e as paredes estavam limpas. Quando me abaixei sob o último lance de degraus estreitos até a sala onde ficava a lanterna do farol, com o teto se tornando bem mais baixo de repente, eu estava certa de que encontraria alguém à minha espera.
Então puxei a pistola de novo. Porém, mais uma vez, não havia ninguém ali, apenas algumas cadeiras, uma mesa cambaia sobre um tapete, e fiquei surpresa ao ver que os vidros externos ainda estavam intactos. A lanterna do farol estava opaca e inerte no centro da sala. Era possível ver a uma distância de quilômetros, em todas as direções. Fiquei um instante ali, olhando para a trilha que tinha percorrido até o farol, para a sombra distante que eu acreditava ser o vilarejo e, depois, para a direita, para o último trecho do pântano, onde a vegetação cerrada dava lugar aos arbustos retorcidos pelo vento marinho. Eram eles que, agarrados ao solo, impediam a erosão e serviam de anteparo para as dunas e os estornos por trás delas. Era apenas uma descida suave dali até a praia cintilante, a arrebentação, as ondas.
Ao olhar na outra direção, para a área do acampamento, entre o pântano e os pinheiros escuros, vi uma fumaça negra que poderia significar qualquer coisa. Mas avistei também, na direção da Torre, um brilho especial, uma fosforescência refratada, e não me permiti pensar nela. O fato de eu poder vê-la, de ter algum tipo de afinidade com ela, me inquietava. Eu tinha certeza de que ninguém que estava ali, nem a topógrafa, nem a psicóloga, podia perceber aquela perturbação do inexplicável.
Voltei minha atenção para as cadeiras, a mesa, procurando algo que pudesse me dar uma pista sobre... qualquer coisa. Depois de uns cinco minutos, tive a ideia de puxar o tapete. Por baixo dele, havia um alçapão quadrado medindo pouco mais de um metro. A aldrava estava presa à madeira do piso. Arrastei a mesa para longe com um terrível ruído que me fez ranger os dentes. Então, rapidamente, para o caso de haver alguém à espreita ali embaixo, puxei o alçapão para cima gritando alguma bobagem como “Tenho uma arma!”, apontando a pistola com uma das mãos e a lanterna com a outra.
Tive a distante sensação de sentir a pistola caindo pesadamente no piso, enquanto a lanterna vacilava em minha mão, e de alguma maneira consegui segurá-la. Não podia acreditar no que estava vendo, e me senti perdida. O alçapão se abria para um espaço que teria uns cinco metros de profundidade por dez de largura. Era evidente que a psicóloga estivera ali, porque sua mochila, várias armas, garrafas de água e uma lanterna grande estavam espalhadas do lado esquerdo. Mas não havia nenhum sinal dela.
Não, o que me deixou sem ar, o que me atingiu como um soco no estômago e me fez cair de joelhos foi o enorme monte que dominava aquele espaço, uma espécie de monturo insano. Eu estava olhando para uma enorme pilha de papéis com centenas de diários em cima — iguais àqueles que tínhamos recebido para registrar nossas observações da Área X. Cada um com uma profissão registrada na capa. Cada um, como confirmei depois, escrito do começo ao fim. Muitos, bem mais do que poderiam ter sido escritos por apenas doze expedições.
Você consegue imaginar o que foi estar ali naqueles primeiros momentos, olhando para aquele espaço escuro e vendo aquilo? Talvez possa. Talvez esteja fazendo isso agora.
O terceiro e melhor trabalho de campo que me designaram na faculdade foi viajar para um lugar remoto na costa oeste, até uma ponta recurva de terra na extremidade mais distante da civilização, em uma área que transitava entre os climas temperado e ártico. Ali, gigantescas formações rochosas tinham brotado da terra, e uma floresta tropical inteira se elevou ao redor delas. Aquele era um mundo eternamente úmido, com precipitações em torno de dois mil milímetros por ano, onde olhar para as folhas e não ver gotas d’água era um evento extraordinário. O ar era tão espantosamente limpo, e a vegetação tão densa, tão ricamente verde, que cada samambaia parecia planejada para me fazer sentir em paz com o mundo. Ursos, panteras e alces habitavam as matas, junto com uma infinidade de espécies de aves. Os peixes nos riachos desconheciam o mercúrio, e eram enormes.
Morei em uma vila de cerca de trezentas pessoas, próxima da costa. Tinha alugado um chalé perto de uma casa no alto de uma colina, que pertencera a cinco gerações de pescadores. Os donos eram um casal sem filhos, e tinham aquela espécie de severidade lacônica tão característica da região. Não fiz amigos, e não tinha certeza se aquelas pessoas que eram vizinhas havia tantos anos fossem amigas umas das outras. Somente no pub local, frequentado por todos, depois de algumas doses, podia-se ver algum sinal de amizade e camaradagem. Mas a violência também era frequente no pub, e eu me mantinha longe dele a maior parte do tempo. Eu só viria a conhecer meu futuro marido quatro anos depois, e naquela época não estava interessada em me relacionar com outras pessoas.
Havia muita coisa para me manter ocupada. Todos os dias eu dirigia por uma estrada cheia de curvas infernais, cheia de valas e traiçoeira mesmo quando seca, rumo ao lugar que eles chamavam apenas de Rock Bay. Ali, camadas de magma situadas além das praias rochosas tinham sido polidas ao longo de milhões de anos e ficado cobertas de poços com água do mar. Na maré baixa da manhã, eu fotografava esses poços, fazia medições e catalogava as formas de vida que encontrava neles, às vezes ficando até a maré alta, andando na água com minhas galochas, encharcada pelos salpicos das ondas que se espatifavam de encontro à parede de rochedos.
Existia ali, naqueles poços, uma espécie de mexilhão que não era possível encontrar em nenhum outro lugar, e que vivia em relação simbiótica com um peixe chamado gartner, em homenagem ao seu descobridor. Numerosas espécies de caracóis marinhos e de anêmonas-do-mar ocultavam-se ali também, e uma pequena e resistente lula que apelidei de São Belicoso, descartando seu nome científico, porque a melodia ameaçadora nos clarões brancos de sua luminescência fazia seu manto reluzir como a mitra de um papa.
Não me custava nada passar horas ali, observando as formas de vida que se escondiam nos poços, e às vezes eu admirava o fato de ter ganhado aquela dádiva: não somente a possibilidade de me perder por completo no momento presente, mas também de desfrutar de tamanho isolamento, que era tudo com que eu sonhava durante meus estudos e esforços para chegar àquele ponto.
Contudo, no trajeto diário de volta, eu já lamentava antecipadamente a perda daquela alegria. Porque sabia que mais cedo ou mais tarde teria que acabar. A bolsa de pesquisa era de apenas dois anos, ninguém iria se interessar por mexilhões por mais tempo que isso, e a verdade é que meus métodos de pesquisa podiam ser meio excêntricos. Eram esses os pensamentos que ocupavam minha mente à medida que a data final se aproximava e as chances de renovação me pareciam cada vez menos prováveis. Indo contra meus princípios, comecei a passar cada vez mais tempo no pub. Acordava de manhã com a cabeça rodando, às vezes na companhia de algum conhecido, mas que era apenas um estranho prestes a ir embora, e lembrava que o fim daquilo estava um dia mais próximo. Permeando tudo, no entanto, havia uma sensação de alívio — não tão forte quanto a tristeza — no pensamento, contrário a tudo que eu sentia, de que daquela maneira eu não iria me tornar uma pessoa que os habitantes locais viam de longe nas rochas e ainda consideravam uma estranha. Ah, é apenas aquela bióloga. Ela está aqui há séculos, estudando aqueles mexilhões feito uma doida. Ela fala sozinha, fica murmurando sozinha quando está no bar, mas, se você se chegar a ela com uma palavra gentil...
Quando vi as centenas de diários, senti por um longo momento que eu tinha me tornado aquela bióloga, no fim das contas. É assim que a loucura do mundo tenta colonizar você: de fora para dentro, forçando você a viver aquela outra realidade.
* * *
A realidade também invade nossa vida de outras maneiras. A certa altura, durante meu casamento, meu marido começou a me chamar de “ave fantasma”, que era sua maneira de me provocar por não estar presente o bastante em sua vida. Dizia isso com uma contração no canto dos lábios que quase formava um leve sorriso, mas eu podia ver a censura em seus olhos. Se íamos aos bares com os amigos dele, uma das suas diversões favoritas, eu falava apenas o que um prisioneiro diria sob interrogatório. Aqueles não eram meus amigos, não de verdade, mas eu também não tinha o hábito de participar de conversas amenas, nem de conversas pesadas, como costumava chamá-las. Não ligava para política, a não ser para como a política influía no meio ambiente. Não era uma pessoa religiosa. Todos os meus hobbies tinham relação com o trabalho. Eu vivia para o trabalho e me entusiasmava com a força desse vício, que era também algo profundamente particular. Não gostava de falar sobre minhas pesquisas. Não usava maquiagem nem me importava em ter sapatos novos ou conhecer as canções mais recentes. Estou certa de que os amigos do meu marido me achavam taciturna ou pior. Talvez me achassem pouco sofisticada, ou “estranhamente rude”, como ouvi um deles dizer certa vez, embora não tenha certeza de que estava mesmo falando de mim.
Eu gostava dos bares, mas não pelas mesmas razões que meu marido. Gostava daquelas longas noites nos bares, minha mente virando e revirando algum problema, algum conjunto de dados, enquanto era capaz de parecer sociável, mesmo me mantendo à parte. Ele se preocupava demais comigo, porém, e minha necessidade de ficar sozinha atrapalhava sua alegria de estar conversando com os amigos, a maioria colegas de trabalho. Eu o via deter-se no meio de uma frase e olhar para mim em busca de algum sinal de contentamento, enquanto eu, sempre mais afastada, tomava meu uísque puro.
“Ave fantasma, você se divertiu?”, perguntaria ele mais tarde.
E eu assentia e sorria.
Mas o que me divertia mesmo era me esgueirar entre as pedras para olhar o interior de um poço cheio de água salgada e entender as complexidades das criaturas que viviam naquele lugar. Satisfação, para mim, era algo ligado a ecossistemas e hábitats, orgasmo era a percepção súbita da interconexão entre as coisas vivas. Observação sempre tinha sido mais importante para mim do que interação. Ele sabia disso tudo, acredito. Mas nunca consegui lhe explicar de forma clara, embora eu tivesse tentado, e ele tivesse me ouvido. E, ainda assim, eu não era nada além de fingimento sob outras circunstâncias. Meu único dom, meu único talento, creio, era o fato de ser capaz de absorver a impressão dos lugares e me inserir neles sem dificuldade alguma. Até mesmo um bar era uma espécie de ecossistema, ainda que rústico, e alguém que entrasse no recinto, alguém sem a percepção do meu marido, poderia me ver sentada e imaginar sem dificuldade que eu era feliz, ali na minha pequena bolha de silêncio. Não teria o menor problema em presumir que eu estava bem integrada.
E mesmo que meu marido desejasse, de certa maneira, que eu me deixasse assimilar pelo ambiente, a ironia era que ele desejava se destacar. Vendo aquela enorme pilha de diários, essa foi outra coisa que me veio à mente: que a presença dele na décima primeira expedição tinha sido um erro por causa dessa qualidade. Que ali estavam os relatos indiscriminados de muitas almas, e o relato dele não poderia se destacar. Que, em última análise, ele tinha sido reduzido a um estado parecido com o meu.
Aqueles diários, aquelas lápides tão frágeis, me confrontavam mais uma vez com a morte de meu marido. Eu temia encontrar o dele, temia vir a conhecer seu verdadeiro relato, e não aqueles balbucios genéricos e vagos que ele tinha fornecido aos superiores depois da sua volta.
“Ave fantasma, você me ama?”, sussurrou ele uma vez na escuridão, antes de partir para o treinamento para a expedição, mesmo sendo ele então o fantasma. “Ave fantasma, você precisa de mim?”
Eu o amava, mas não precisava dele, e achava que era assim que as coisas deveriam ser. Uma ave fantasma podia ser um falcão em um lugar e um corvo no outro, dependendo do contexto. O pardal que disparava em voo no céu azul em uma manhã podia se transformar em uma águia-pescadora em pleno voo na manhã seguinte. As coisas eram assim, aqui. Não havia razões tão poderosas a ponto de sobrepujar o desejo de estar em harmonia com as marés, com a mudança das estações e com os ritmos que regiam todas as coisas ao meu redor.
Os diários e o resto do material formavam uma pilha mofada de quatro metros de altura e cinco de largura. Certos lugares em sua base tinham se transformado em uma espécie de massa devido à decomposição do papel. Besouros e traças circulavam naquela montanha, além de baratas miúdas com antenas inquietas. Perto do chão, espalhando-se a partir das bordas, vi o que restava de fotografias e dezenas de fitas cassete misturadas com a gosma em que tinham se transformado os papéis. Vi também indícios da passagem de ratos. Se eu quisesse recuperar algo dali, teria que descer até aquele monturo usando a escadinha fixada à borda da abertura, e remexer em uma montanha instável de polpa úmida de papel. Aquela cena ilustrava indiretamente o fragmento de escrita que eu encontrara na parede da Torre: ...as sementes dos mortos para partilhar com os vermes que se reúnem nas trevas e povoam o mundo com o poder de suas vidas...
Virei a mesa e com ela bloqueei a passagem estreita que dava para a escada do farol. Eu não fazia ideia de onde a psicóloga poderia estar, mas não queria que ela ou outra pessoa me pegasse de surpresa. Se tentassem mover a mesa pelo outro lado, eu ouviria e teria tempo de subir e sacar a arma. Também tinha uma sensação que em retrospecto posso atribuir àquele brilho que se expandia em meu peito: de uma presença que vinha de dentro, forçando meus sentidos até o limite. De vez em quando minha pele inteira se arrepiava sem nenhum motivo aparente.
Não me agradava o fato de a psicóloga ter guardado todo o seu equipamento ali ao lado dos diários, inclusive o que me pareceu ser a maioria de suas armas, se não todas. Por enquanto, porém, eu tinha que afastar esse enigma da mente, juntamente com os tremores, ainda reverberando dentro de mim, resultantes da consciência de que a maior parte do treinamento que tínhamos recebido do Comando Sul era baseada em mentiras. Quando entrei no espaço frio, escuro e protegido que havia ali embaixo, percebi o brilho dentro de mim aumentar. Isso era ainda mais difícil de ignorar, já que eu não sabia o que significava.
Minha lanterna, somada à luz que vinha do alçapão aberto, revelou que as paredes daquele lugar estavam estriadas de mofo, que em algumas partes formava faixas opacas de vermelho e verde. Visto de perto, ficava mais aparente o modo como o monturo se espalhava em camadas, e os pequenos montes de papel tornaram-se mais visíveis. Páginas rasgadas e amassadas, capas de diários úmidas e deformadas. Lentamente, o histórico da exploração da Área X parecia estar se transformando na própria Área X.
Comecei apanhando os documentos da beirada, escolhendo diários ao acaso. A maioria, à primeira vista, parecia relatar eventos rotineiros, tais como os descritos pela primeira expedição... que talvez não tivesse sido a primeira. Alguns deles eram extraordinários apenas porque as datas não faziam sentido. Quantas expedições tinham realmente transposto a fronteira? Quanta informação vinha sendo censurada e suprimida, e há quanto tempo? Será que as “doze” expedições se referiam apenas a uma fase recente de um projeto que na verdade era mais antigo, e que essa omissão era necessária para diminuir as dúvidas dos que se apresentavam como voluntários?
Existia ali o que eu chamaria de relatos pré-expedições, documentados de variadas formas. Era um arquivo obscuro de fitas cassetes, fotos com as bordas roídas, pastas cheias de papéis em decomposição que eu avistara lá de cima, sob o peso dos diários amontoados no topo. Tudo isso impregnado por um odor pesado, úmido, contendo em si o cheiro pungente de podridão, mais forte em alguns pontos do que em outros. Uma estonteante mistura de palavras manuscritas, datilografadas e impressas estava empilhada na minha mente em meio a imagens imperfeitas, como um fac-símile mental daquele próprio monturo. Tal desordem chegava, em certos momentos, a me deixar quase paralisada, mesmo sem tentar assimilar todas as contradições ali envolvidas. Percebi o peso da fotografia que guardara no bolso.
Estabeleci algumas regras iniciais, como se isso pudesse ajudar na minha tarefa. Ignorei os diários que pareciam ter sido escritos em taquigrafia, e não tentei decifrar os que pareciam estar em código. De início tentei ler alguns do começo ao fim, e depois decidi que me forçaria a uma leitura por amostragem. Mas essa leitura por alto revelou-se pior. Detive-me em páginas que descreviam atos inomináveis, que mesmo agora não consigo colocar em palavras. Notas que mencionavam períodos de “remissão” e “cessação” eram seguidas por outras se referindo a “explosões” ou “horríveis manifestações”. Não importava há quanto tempo a Área X existisse, e quantas expedições tivessem passado por ali, eu podia ver nesses registros que anos antes do aparecimento da fronteira coisas estranhas já estavam ocorrendo naquela orla. Existira uma proto-Área-X.
Alguns tipos de omissão inquietaram minha mente muito mais do que os relatos explícitos. Um diário, meio destruído pela umidade, focava-se exclusivamente nas características de um cardo com uma florescência lavanda, que brotava na área entre a floresta e o pântano. Páginas e mais páginas descrevendo a descoberta de um espécime de cardo, depois de outro, tudo isso com detalhes minuciosos sobre insetos e outras criaturas que viviam naquele micro-hábitat. Em momento algum o observador se afastou daquela planta em especial ou forneceu uma visão mais ampla que incluísse o acampamento e a vida deles na Área X. Depois de um certo tempo, comecei a ficar inquieta quando percebi uma presença terrível pairando naquelas anotações. Vi o Rastejador ou outro emissário aproximando-se pelo espaço além do cardo, e vi que o foco obsessivo da pessoa que escrevera o diário em um único objeto era uma maneira de lidar com aquele horror. Uma ausência não é uma presença, mas a cada nova descrição do cardo um calafrio percorria minha espinha. Quando a parte final do diário se dissolveu em tinta diluída e papel empapado, senti quase um alívio por me ver livre daquela enervante repetição, porque havia um efeito hipnótico, arrebatador, naquelas anotações. Se houvesse ali um número infinito de páginas, receio que eu ficaria lendo por toda a eternidade, ou até morrer de fome ou de sede.
Comecei a pensar se a ausência de referências à Torre também se encaixava nessa teoria, nessa escrita periférica das coisas.
...na água negra e com o sol brilhando à meia-noite, aqueles frutos amadurecerão...
Então encontrei, depois de várias amostras incompreensíveis ou banais, um diário diferente do meu. Era de um período anterior ao da primeira expedição, porém depois da aparição da fronteira, e fazia referências à “construção do muro”, o que claramente se referia à fortificação do farol. Uma página depois — em meio a esotéricas leituras meteorológicas — três palavras saltaram aos meus olhos: “repelindo um ataque”. Li com cuidado as anotações que vinham logo em seguida. A princípio, o autor não fez nenhuma referência à natureza do ataque ou à identidade dos atacantes, mas viera do mar e “matou quatro de nós”, embora o muro tivesse resistido. Depois, percebi que seu desespero cresceu, e li:
“ ...a desolação vem do mar mais uma vez, juntamente com as luzes estranhas e os seres marinhos que na maré alta se chocam no nosso muro. À noite, os invasores tentam se infiltrar pelas brechas de nossas defesas. Continuamos a resistir, mas a munição está acabando. Alguns querem abandonar o farol, tentar fugir seja para a ilha ou para o interior do continente, mas o comandante nos diz que precisamos obedecer às ordens. O moral está baixo. Nem tudo que está acontecendo conosco tem uma explicação lógica.”
Logo depois, o relato se extinguia. Tinha um tom fortemente irreal, como se fosse a versão ficcional de um acontecimento verdadeiro. Tentei imaginar qual seria a aparência da Área X em um tempo tão remoto, mas não consegui.
O farol tinha atraído membros das expedições como fizera com os navios que em outros tempos guiara para a segurança em meio a bancos de areia e recifes da orla. Pude apenas reforçar minha especulação anterior de que para a maior parte deles o farol era um símbolo, uma reafirmação da antiga ordem, e sua proeminência no horizonte proporcionava a ilusão de um refúgio seguro. Que ele traíra essa confiança estava claro em tudo que eu via lá embaixo. E mesmo que alguns deles soubessem disso, ainda assim tinham vindo. Por esperança. Por fé. Por estupidez.
Mas eu já começara a perceber que era preciso declarar guerra àquela força que tinha ocupado a Área X, fosse ela o que fosse, se quiséssemos combatê-la. Precisávamos nos misturar à paisagem, ou, como o autor das crônicas sobre o cardo, tínhamos que fingir durante o máximo de tempo possível que ela não estava ali. Reconhecer sua presença, tentar dar-lhe um nome, podia ser um modo de permitir sua entrada. (Pela mesma razão, suponho, continuo a me referir às mudanças ocorridas em mim como um “brilho”, porque examinar essa condição muito de perto — quantificá-la ou abordá-la empiricamente, enquanto tenho tão pouco controle sobre ela, a tornaria real demais.)
A certa altura, comecei a entrar em pânico diante da quantidade de material à minha frente e decidi refinar ainda mais minha pesquisa: iria procurar apenas por frases idênticas ou semelhantes às palavras escritas na parede da Torre. Comecei a atacar a montanha de papel de forma mais direta, abrindo caminho com as pernas até sua seção central, com o retângulo de luz acima de minha cabeça me garantindo que minha existência não se resumia àquilo. Remexi ali como os ratos e as traças, enfiei os braços naquela massa disforme e puxei qualquer coisa que conseguisse agarrar. Às vezes perdia o equilíbrio e acabava soterrada sob os papéis, lutando contra eles, o cheiro de podridão invadindo minhas narinas, minha língua. Devia estar parecendo uma pessoa desequilibrada a quem me visse lá do alto, e estava consciente disso enquanto me entregava àquela atividade tão frenética quanto inútil.
Mas encontrei o que estava procurando em mais diários do que esperava, e em geral era a frase de abertura: De onde jaz o fruto asfixiante que veio da mão do pecador eu trarei as sementes dos mortos para partilhar com os vermes... Às vezes aparecia como uma anotação manuscrita feita na margem da página ou de outra forma desconectada do restante do texto. Em um dos casos, vi-a sendo mencionada como uma frase na parede do próprio farol, que “lavamos rapidamente até apagá-la”, sem nenhuma explicação a mais. Em outro caso, em uma caligrafia fina, encontrei uma referência a “um texto em um diário que parece ter sido extraído do Velho Testamento, mas não pertence a nenhum salmo que eu consiga lembrar”. Como não ver nisso uma referência à escritura do Rastejador? ...para partilhar com os vermes que se reúnem nas trevas e povoam o mundo com o poder de suas vidas... Mas nada daquilo me deixava mais próxima de entender por que ou quem. Estávamos todos no escuro, rabiscando uma montanha de diários, e se houve algum momento em que senti o peso dos meus antecessores, foi naquela hora e naquele lugar, perdida entre tudo aquilo.
A certa altura, descobri que estava tão soterrada que não conseguiria continuar, nem mesmo repetindo mecanicamente certas ações. Eram informações demais, apresentadas de modo excessivamente fragmentado. Eu poderia passar anos pesquisando aquelas páginas e talvez nunca descobrir seus segredos, ficando, em vez disso, presa em um círculo vicioso de tentar imaginar havia quanto tempo aquele lugar existia, quem foram os primeiros a deixar seus diários ali e por que outros fariam o mesmo até que tudo se tornasse inexorável como um longo ritual. Devido a que impulso, a que fatalismo compartilhado? Tudo que consegui descobrir era que os diários de certas expedições e de certos membros estavam faltando; que aquele registro estava incompleto.
Também estava ciente de que teria que voltar para o acampamento antes do anoitecer, ou então pernoitar no farol. Não me agradava a ideia de caminhar no escuro, e, se eu não voltasse, não tinha nenhuma garantia de que a topógrafa não iria me abandonar e tentar cruzar a fronteira.
Por enquanto, decidi fazer um último esforço. Com muita dificuldade, subi no topo do monturo, fazendo o possível para não deslocar os diários. Aquilo parecia uma espécie de monstro deslizante, movediço sob as minhas botas, se recusando, como a areia das dunas lá fora, a permitir minha passagem sem oferecer uma resistência proporcional. Mas de alguma maneira consegui chegar lá.
Como tinha imaginado, os diários na parte superior do monte eram os mais recentes, e logo encontrei os que tinham sido escritos pelos membros da expedição de meu marido. Com um embrulho no estômago, continuei a procurar, sabendo que era inevitável o que eu estava a ponto de descobrir, e tinha razão. Grudado a outro diário com sangue seco ou alguma outra substância, achei-o com mais facilidade do que imaginava: o diário do meu marido, escrito naquela caligrafia firme, desenvolta, que eu conhecia de cartões de aniversário, recados na geladeira e listas de compras. A ave fantasma tinha localizado o fantasma dele em uma pilha inexplicável de outros fantasmas. Mas em vez de ficar ansiosa para ler o que estava ali, senti-me como se estivesse violando um diário íntimo que a morte dele havia trancado. Sim, sei que era um sentimento estúpido. Tudo que ele sempre desejara era que eu me abrisse, e por isso sempre se mantivera acessível. Agora, entretanto, eu teria que aceitar seu passado como algo definitivo, e achei essa descoberta intolerável.
Não consegui me obrigar a ler e tive que dominar o impulso de atirá-lo de volta na pilha; coloquei-o entre outros diários que havia separado para levar comigo para o acampamento. Peguei também duas das armas da psicóloga antes de subir a escada e sair daquele lugar agourento. Mas deixei os outros suprimentos que ela havia trazido. Talvez fosse útil dispor de algumas reservas no farol.
Era mais tarde do que eu imaginava quando emergi do alçapão; o céu estava com a cor profunda de âmbar que assinalava o entardecer. O mar resplandecia de luz, mas eu não me deixaria mais iludir pelas belezas daquele lugar. Ao longo do tempo, muitas vidas humanas passaram por aquela área, pessoas que tinham se oferecido para o exílio ou coisa pior. Por todo o ambiente pairava a presença espectral de tanta gente tentando sobreviver. Por que continuavam a nos enviar? Por que continuávamos vindo? Tantas mentiras, tão pouca capacidade de encarar a verdade. Senti que a Área X enlouquecia as pessoas, mesmo que eu ainda não estivesse louca. Um verso de uma canção voltava constantemente à minha mente: Todo este conhecimento inútil.
Depois de ficar naquele espaço por tanto tempo, eu precisava de um pouco de ar fresco e da sensação do vento. Coloquei em uma cadeira os documentos que tinha recolhido e abri a porta corrediça que dava acesso à parte externa, à plataforma circular protegida por uma grade. O vento agitou minhas roupas e fustigou meu rosto. Aquele frio repentino foi purificador e a vista, ainda melhor. Eu podia ver toda a Área X dali. Depois de um momento, porém, algum instinto ou premonição me fez olhar para baixo, para além do que restava do muro de defesa, para a praia, um trecho dela estava meio oculto pelas dunas e pelo próprio muro, mesmo daquele ângulo.
Naquele pequeno espaço avistei um pé e parte de uma perna, em meio a um monte de areia remexida. Focalizei meu binóculo no pé. Estava imóvel. A calça era familiar, a bota também, com um laço duplo e simétrico. Agarrei a grade, tentando reprimir um acesso de vertigem. Eu conhecia a dona daquela bota.
Era a psicóloga.
04: IMERSÃO
Tudo o que eu sabia sobre a psicóloga vinha das observações que fizera durante o treinamento. Ela havia desempenhado a função de uma supervisora distanciada e, em um plano mais pessoal, de nossa confidente. Só que eu não tinha nada para confessar. Talvez revelasse mais coisas sob hipnose, mas, durante as sessões normais, das quais eu tinha concordado em participar como uma das condições para ser aceita na expedição, eu me manifestava muito pouco.
— Fale-me sobre seus pais. Como eles são? — perguntava ela, um mote clássico de abertura.
— Normais — respondia, tentando sorrir enquanto pensava distantes, pouco práticos, irrelevantes, temperamentais, inúteis.
— Sua mãe é alcoólatra, correto? E seu pai é uma espécie de... golpista?
Quase perdi o controle diante do que parecia um insulto, não um comentário. E respondi quase protestando, em tom de desafio:
— Minha mãe é artista, e meu pai, empresário.
— Quais são suas lembranças mais antigas?
— O café da manhã.
Um gatinho de pelúcia que tenho até hoje. Olhando um formigueiro de formigas-leões com uma lupa. Beijando um garoto e fazendo com que tirasse a roupa na minha frente, porque eu não tinha juízo. Caindo dentro de uma fonte e batendo com a cabeça; resultado: cinco pontos na emergência do hospital e um medo permanente de morrer afogada. De novo na emergência, quando mamãe bebeu demais, seguida do alívio de quase um ano de abstinência.
De todas as minhas respostas, “o café da manhã” foi a que mais a aborreceu. Eu podia ver isso nos cantos de sua boca torcidos para baixo, na sua postura rígida, na frieza dos seus olhos. Mas ela manteve o controle.
— Você teve uma infância feliz?
— Normal — respondi.
Certa vez minha mãe estava tão bêbada que colocou suco de laranja no meu cereal, em vez de leite. A tagarelice incessante e nervosa do meu pai, que o fazia parecer perpetuamente culpado de alguma coisa. Férias em motéis baratos na praia, em que minha mãe chorava no fim porque teríamos que voltar a nossa vida eternamente sem dinheiro, mesmo que na verdade nunca tivéssemos saído dela. Aquela sensação de tragédia iminente durante a viagem para casa.
— Você convivia com o restante de sua família?
— O suficiente.
Cartões de aniversário mais apropriados a uma criança de cinco anos, mesmo quando eu completara vinte. Visitas de dois em dois anos. Um avô carinhoso com longas unhas amareladas e voz de urso. Uma avó que me dava lições sobre a importância da religião e de economizar moedas. Como eram mesmo os nomes deles?
— Como se sente fazendo parte de uma equipe?
— Ótima. Já fiz parte de equipes, muitas vezes.
E “fazer parte”, na verdade, significava ficar à parte.
— Você foi dispensada de vários dos trabalhos de campo de que participou. Sabe por quê?
Ela já conhecia a resposta, de modo que apenas dei de ombros e não falei nada.
“Está querendo participar desta expedição por causa do seu marido?”
“Você e seu marido eram muito próximos?”
“Brigavam com que frequência? E por que motivos?”
“Por que não ligou imediatamente para as autoridades na hora em que ele voltou para casa?”
Essas sessões eram claramente frustrantes para a psicóloga no aspecto profissional, no aspecto de seu longo treinamento, que se baseava em extrair informações pessoais dos pacientes, a fim de estabelecer um vínculo de confiança, e então mergulhar em assuntos mais profundos. Mas, em um nível que eu não conseguia perceber por completo, ela parecia aprovar minhas respostas. “Você é muito contida,” disse ela uma vez, mas não em tom pejorativo. Somente no segundo dia de nossa caminhada da fronteira até o acampamento me ocorreu que talvez as próprias qualidades que ela desaprovava do ponto de vista psiquiátrico me tornassem adequada para a expedição.
Agora, eu a avistava encostada a uma duna, à sombra do muro, em uma pose meio desconjuntada, com uma das pernas presa sob o corpo e a outra estendida. Estava sozinha. Pude ver, pelo seu estado, e pelas marcas a sua volta, que tinha pulado ou sido empurrada do alto do farol. É provável que não tivesse passado totalmente por cima do muro, mas se chocado nele antes de atingir o chão. Enquanto eu, à minha maneira metódica, passara horas examinando os diários, ela estava ali, sozinha, aquele tempo todo. O que eu não conseguia entender era como ainda estava viva.
O casaco e a camisa estavam cobertos de sangue, mas ela respirava e tinha os olhos abertos, voltados para o oceano, quando me ajoelhei ao seu lado. Segurava uma pistola na mão esquerda, o braço tombado ao lado do corpo; tirei delicadamente a arma de sua mão e a joguei para o lado, por precaução.
A psicóloga não pareceu notar minha presença. Toquei com delicadeza seu ombro largo, e ela soltou um grito, encolhendo-se, caindo para trás enquanto eu recuava.
— Aniquilação! — gritou ela para mim, agitando os braços em confusão. — Aniquilação! Aniquilação!
A palavra parecia ficar mais sem sentido à medida que ela a repetia, como o grito de um pássaro com uma asa quebrada.
— Sou só eu, a bióloga — falei com voz calma, mesmo tendo sido atingida por um dos seus golpes.
— Só você — disse ela com uma risadinha rouca, como se eu tivesse dito algo engraçado. — Só você.
Quando a ajudei a reerguer o corpo, ouvi um gemido rascante, e percebi que ela provavelmente tinha quebrado várias costelas. Seu braço esquerdo, até a altura do ombro, parecia mole como uma esponja dentro do casaco. Sangue escuro se acumulava em sua barriga, por baixo da mão que ela instintivamente apertava de encontro àquele local. Pelo cheiro percebi que tinha se urinado.
— Ainda está aí — disse ela com surpresa na voz. — Mas eu a matei, não?
Era a voz de alguém acordando de um sonho ou mergulhada em um.
— Nem um pouquinho.
Sua respiração saiu como um chiado rouco, e aquele véu de confusão desapareceu de seus olhos.
— Trouxe água? Estou com sede.
— Aqui está.
Encostei meu cantil à sua boca, para que ela pudesse tomar alguns goles. Gotas de sangue brilhavam no seu queixo.
— Onde está a topógrafa? — perguntou com um arquejo.
— No acampamento.
— Não veio com você?
— Não.
O vento estava agitando seus cabelos encaracolados, revelando um corte profundo na testa, talvez pelo impacto com o muro na queda.
— Ela não gosta da sua companhia? — perguntou a psicóloga. — Não gosta da pessoa que você se tornou?
Um calafrio percorreu meu corpo.
— Sou a mesma de sempre.
Os olhos da psicóloga se desviaram de novo na direção do mar.
— Eu vi você, sabe, vindo por aquela trilha na direção do farol. Foi quando tive certeza de que tinha mudado.
— O que você viu? — perguntei, para agradá-la.
Uma tosse, acompanhada de saliva manchada de sangue.
— Você era uma chama — disse ela, e eu tive um rápido vislumbre do meu brilho, tornado manifesto. — Você era uma chama, ardendo em minhas retinas. Uma chama vagando através dos brejos, através das ruínas do vilarejo. Uma chama queimando em fogo lento, um fogo-fátuo, flutuando entre o pântano e as dunas, flutuando e flutuando, não parecia humano, mas algo livre, flutuando...
Pela mudança em seu tom de voz, percebi que, mesmo naquela hora, ela estava tentando me hipnotizar.
— Não adianta — disse eu. — Sou imune à hipnose.
Sua boca se abriu, depois se fechou, depois se abriu de novo.
— Claro que é. Você sempre foi difícil — disse ela, como se falasse com uma criança.
O que era aquela estranha entonação de orgulho em sua voz?
Talvez eu devesse ter deixado a psicóloga em paz, que morresse sem fornecer mais respostas, mas eu não tinha em mim tal nível de misericórdia.
Uma pergunta me ocorreu, pois ela dissera que eu não parecia humana:
— Por que não atirou quando me aproximei?
Um esgar involuntário cruzou sua expressão quando ela voltou a cabeça para me encarar, incapaz de controlar todos os músculos do rosto.
— Meu braço, minha mão não me deixaram puxar o gatilho.
Aquilo me soou meio irreal, e eu não tinha visto nenhum sinal de um rifle abandonado na plataforma do farol. Tentei de novo.
— E sua queda? Foi um empurrão, um acidente ou de propósito?
A testa dela se franziu, uma verdadeira perplexidade se revelando através da teia de rugas que se formou nos cantos de seus olhos, como se ela só tivesse acesso a fragmentos da própria memória.
— Eu pensei... pensei que algo estava me perseguindo. Tentei atirar em você, mas não pude, e então você entrou. Aí pensei ter visto alguma coisa atrás de mim, vindo da escada na minha direção, e senti um medo tão grande que tive que fugir daquilo. Então pulei por cima da grade. Eu pulei — disse ela, como se não pudesse acreditar que tinha feito tal coisa.
— Como era a coisa que a perseguia?
Um acesso de tosse, as palavras escapavam entrecortadas:
— É algo que nunca vi. Que nunca esteve lá. Ou que vi muitas vezes. Estava dentro de mim. Dentro de você. Eu estava tentando fugir. Do que estava dentro de mim.
Naquele momento, não acreditei em uma palavra de sua explicação fragmentada; parecia sugerir que alguma coisa a seguira desde a Torre. Interpretei o frenesi da sua dissociação como parte de uma necessidade de controle. Ela tinha perdido o controle da expedição, e precisava encontrar algo ou alguém em quem jogar a culpa, por mais improvável que fosse.
Tentei uma abordagem diferente:
— Por que você levou a antropóloga para descer o “túnel” no meio da noite? O que aconteceu?
Ela hesitou, mas não dava para saber se era por cautela ou porque alguma coisa no seu corpo começou a falhar. Então disse:
— Um erro de cálculo. Impaciência. Eu precisava de informações específicas antes que puséssemos em risco nossa missão. Precisava saber nossa exata situação.
— Quer dizer, o avanço do Rastejador?
Ela deu um sorriso maldoso.
— É assim que o chama? Rastejador?
— O que aconteceu?
— O que acha que aconteceu? Deu tudo errado. A antropóloga chegou perto demais.
Tradução: Ela obrigara a antropóloga a chegar perto demais.
— Aquilo reagiu. Matou-a, e me feriu.
— Por isso, então, que você estava tão abalada pela manhã.
— Sim. E porque percebi que você já estava mudando.
— Eu não estou mudando! — gritei, em um acesso inesperado de raiva.
Ela soltou um riso meio engasgado e falou com ironia:
— Claro que não. Está apenas mostrando cada vez mais o que sempre foi. E eu não estou mudando também. Nenhuma de nós está. Tudo está uma maravilha. Vamos fazer um piquenique.
— Cale a boca. Por que nos abandonou?
— A expedição ficou comprometida.
— Isso não explica nada.
— E você alguma vez já me deu uma explicação de verdade, durante o treinamento?
— Nós não fomos comprometidas, não o bastante para abandonar a missão.
— Chegamos há apenas seis dias no acampamento e uma pessoa está morta, duas estão mudando e a outra está desistindo? Eu chamaria isso de desastre.
— Se foi um desastre, você ajudou a produzi-lo.
Percebi que, por mais que eu desconfiasse da psicóloga como pessoa, eu confiava nela como líder da expedição. E fiquei furiosa por ela nos ter traído, furiosa porque agora mesmo ela podia estar me abandonando.
— Você apenas cedeu ao pânico e desistiu.
A psicóloga assentiu.
— Isso também. Fiz isso. Fiz mesmo. Eu deveria ter percebido mais cedo que você tinha mudado. Deveria ter mandado você para a fronteira. Não deveria ter descido com a antropóloga. Mas aqui estamos nós.
Ela fez uma careta, seguida de uma tosse que estava cada vez mais cheia de secreção.
Ignorei a alfinetada e resolvi mudar a linha de questionamento quando perguntei:
— Qual é a aparência da fronteira?
O sorriso de antes voltou.
— Vou lhe dizer quando chegar lá.
— O que acontece de fato quando a cruzamos?
— Não é o que você imagina.
— Diga! O que nós atravessamos?
Eu estava começando a me sentir perdida. De novo.
Havia um brilho nos olhos dela que não me agradava, que prometia problemas.
— Quero que pense em uma coisa. Você pode ser imune à hipnose, é possível. Mas e quanto ao véu que já foi colocado? Que tal eu remover esse véu, e você ganhar acesso à lembrança de quando cruzou a fronteira? — perguntou ela. — Gostaria disso, Pequena Chama? Gostaria ou ficaria louca?
— Se tentar fazer algo comigo, eu mato você — disse, e falava a verdade.
A hipnose em geral, e o condicionamento por trás dela, tinham sido difíceis de aceitar; eram um preço muito invasivo a ser pago em troca do direito de acessar a Área X. A ideia de qualquer outro tipo de interferência era intolerável.
— Quantas das suas lembranças você acha que foram implantadas? — perguntou a psicóloga. — Quantas das lembranças do mundo lá fora você é capaz de comprovar?
— Isso não funciona comigo — disse eu. — Tenho certeza do aqui e agora, deste momento e do próximo. Conheço meu passado.
Aquele era o último bastião da ave fantasma, seu reduto inviolável. Podia ter sido perfurado pela hipnose durante o treinamento, mas não fora invadido. Disso eu tinha certeza, e continuaria a ter, porque não me restava escolha.
— Tenho certeza de que seu marido se sentia do mesmo modo antes do fim — afirmou a psicóloga.
Fiquei de cócoras diante dela, olhando-a de frente. Queria abandoná-la ali antes que ela me envenenasse, mas não consegui.
— Vamos nos concentrar nas suas próprias alucinações — disse eu. — Descreva para mim o Rastejador.
— Certas coisas precisam ser vistas com os próprios olhos. Você tem que se aproximar. Tem que se familiarizar mais com elas.
O desinteresse dela pelo destino da antropóloga era sinistro, mas o meu também era.
— O que foi que você escondeu de nós sobre a Área X?
— Essa é uma pergunta muito genérica.
Acho que a psicóloga estava se divertindo, mesmo prestes a morrer, vendo que eu precisava tão desesperadamente das respostas dela.
— Muito bem, então. O que é que as caixas pretas medem?
— Nada. Elas não medem nada. São apenas um truque psicológico para manter os membros da expedição calmos: se não há luzes vermelhas, não há perigo.
— Qual é o segredo por trás da Torre?
— Do túnel? Acha que, se soubéssemos, ainda estaríamos enviando expedições?
— Eles estão com medo. O Comando Sul.
— É o que eu acho.
— Então eles não têm respostas.
— Vou lhe contar uma: a fronteira está avançando. Por enquanto bem devagar; mas um pouquinho mais a cada ano. De uma maneira totalmente inesperada. Mas talvez daqui a pouco esteja engolindo um ou dois quilômetros por vez.
Essa ideia me manteve em silêncio por algum tempo. Quando estamos tão próximos do centro de um mistério, não há como dar alguns passos para trás e vê-lo por inteiro. As caixas pretas talvez não servissem para nada, mas em minha mente estavam piscando suas luzinhas vermelhas.
— Quantas expedições já existiram até agora?
— Ah, os diários. São muitos, não é mesmo?
— Isso não responde minha pergunta.
— Talvez eu não saiba a resposta. Talvez eu apenas não queira lhe contar.
Íamos continuar desse jeito até o fim, e eu não podia fazer nada a respeito.
— O que a “primeira” expedição descobriu?
A psicóloga fez uma careta, não de dor dessa vez, mas como se estivesse se lembrando de algo que lhe causava vergonha.
— Há um vídeo dessa expedição... alguma coisa assim. É o motivo principal de não se ter permitido tecnologia avançada desde então.
Vídeo. De certo modo, depois de ter remexido naquele monte de diários, a revelação não me surpreendeu. Prossegui:
— Quais ordens você não revelou para nós?
— Você está começando a me entediar. E estou perdendo as forças, aos pouquinhos... Às vezes revelamos mais, às vezes menos. Eles têm os parâmetros deles, suas razões.
Aquele “eles”, de certo modo, parecia feito de papelão, como se ela não acreditasse totalmente “neles”.
Com relutância, voltei às perguntas pessoais.
— O que você sabe sobre meu marido?
— Nada além do que você pode descobrir lendo o diário dele. Você o achou?
— Não — menti.
— Muito revelador, sobre você, principalmente.
Seria um blefe? Ela certamente tivera tempo o bastante no farol para encontrá-lo, lê-lo e jogá-lo de volta no monte.
Não importava. O céu estava escurecendo e se fechando sobre nós, as ondas ficavam mais volumosas, a arrebentação afugentava as aves marinhas, com suas pernas compridas, apenas para vê-las se reagrupando quando a água recuava. De repente a areia parecia mais porosa ao nosso redor. Os rastros labirínticos dos caranguejos e das minhocas continuavam a ser traçados na sua superfície. Toda uma comunidade de seres vivia ali, cuidando de suas atividades, alheia a nossa conversa. E onde ficava a fronteira marítima? Quando fizera essa pergunta à psicóloga durante o treinamento ela apenas dissera que ninguém a havia cruzado, e eu fiquei imaginando expedições que meramente se dissolveram na névoa, na luz e na distância.
Uma espécie de estertor começou a transparecer na respiração da psicóloga, que agora estava mais fraca e irregular.
— Posso fazer alguma coisa para você ficar mais confortável? — Um último ato de compaixão.
— Deixe-me aqui depois que eu morrer — disse ela. Agora, todo o medo que sentia era visível. — Não me enterre. Não me leve para lugar nenhum. Deixe-me aqui, onde é o meu lugar.
— Tem mais alguma coisa que queira me dizer?
— Nunca deveríamos ter vindo para cá. Eu nunca deveria ter vindo.
A rouquidão no seu tom de voz sugeria uma angústia que ia além de suas condições físicas.
— Isso é tudo?
— Acredito agora que essa seja realmente a única verdade fundamental.
Acho que ela queria dizer que era melhor deixar que a fronteira avançasse, ignorá-la, deixar que afetasse alguma outra geração. Eu não concordava, mas não falei nada. Depois, eu perceberia que ela queria dizer algo completamente diferente.
— Alguém já voltou de fato da Área X?
— Faz bastante tempo que não — disse a psicóloga em um sussurro exausto. — Não de verdade.
Mas não sei se ela havia ouvido a pergunta.
Sua cabeça pendeu para a frente, e ela perdeu os sentidos, depois voltou a si e olhou para as ondas. Murmurou algumas palavras, uma das quais talvez tenha sido “remota” ou “remonta”, e a outra, “chocando” ou “tocando”. Mas eu não podia ter certeza.
Dali a pouco ia escurecer. Dei-lhe mais uns goles de água. Era difícil pensar nela como uma adversária à medida que se aproximava cada vez mais da morte, mesmo consciente de que ela sabia muito mais do que tinha me contado. Mas não valia a pena ficar pensando nisso, já que ela não revelaria mais nada. E talvez eu tivesse mesmo parecido com uma chama à medida que me aproximava. Talvez essa fosse a única maneira de ela me enxergar naquele momento.
— Você já sabia a respeito dos diários? — perguntei. — Antes de chegarmos aqui?
Mas ela não respondeu.
* * *
Havia coisas que eu precisava fazer depois que ela morreu, mesmo com a luz do dia indo embora, mesmo estando relutante em fazê-las. Se ela se recusara a responder algumas das minhas perguntas enquanto estava viva, ia ter que respondê-las agora. Tirei seu casaco e o coloquei ao lado do corpo, descobrindo que ela havia escondido o próprio diário, dobrado, em um bolso interno fechado com zíper. Coloquei-o de lado também, com uma pedra em cima, as páginas sendo agitadas pelas rajadas de vento.
Então tirei meu canivete e, com grande cuidado, cortei a manga esquerda da sua camisa. A consistência esponjosa de seu ombro havia me preocupado, e vi que tinha boas razões para isso. Da clavícula até o cotovelo seu braço estava tomado por uma substância disforme, fibrosa e de cor verde-dourada, que emitia um brilho muito tênue. Pelas marcas e por um longo sulco no tríceps, aquilo parecia ter se espalhado a partir de uma ferida inicial — a ferida que ela dizia ter sido infligida pelo Rastejador. O que quer que tivesse me contaminado, era visível que esse contato diferente e mais direto tinha se espalhado mais depressa, e com consequências mais desastrosas. Certos tipos de parasitas e esporocarpos podem causar não apenas paranoia, mas esquizofrenia, alucinações realistas e, em geral, comportamento delirante. Agora eu não duvidava de que ela tivesse mesmo me visto como uma chama ambulante, que atribuíra sua incapacidade de atirar em mim a alguma força externa, que fora tomada pelo medo de alguma presença ameaçadora. No mínimo, a lembrança de seu confronto com o Rastejador teria, imagino, ajudado a desequilibrá-la até certo ponto.
Peguei uma amostra da pele de seu braço, junto com um pouco do músculo por baixo, e a guardei em um frasco de coleta. Depois tirei uma amostra do outro braço. Quando voltasse ao acampamento, examinaria os dois.
Àquela altura eu estava um pouco trêmula, portanto fiz uma pausa e voltei minha atenção para o diário. Era dedicado à transcrição das palavras na parede da Torre e estava cheio de novas passagens:
...mas se ele apodrece sob a terra ou sobre ela nos campos verdejantes, ou sob o oceano ou a céu aberto, tudo conduzirá à revelação, e à celebração, com o conhecimento de que o fruto asfixiante e a mão do pecador irão se rejubilar, pois não há pecado na sombra ou na luz que as sementes dos mortos não possam perdoar...
Havia algumas anotações rabiscadas nas margens. Uma delas dizia “faroleiro”, o que me fez imaginar se teria sido ela quem fizera um círculo em torno do homem na fotografia. Outra dizia “Norte?” e uma terceira, “ilha”. Eu não tinha ideia do que podiam significar aquelas notas, nem tirei nenhuma conclusão sobre o estado mental da psicóloga pelo fato de seu diário ser devotado àquele texto. Eu sentia apenas uma espécie de alívio, simples e descomplicado, por alguém ter levado a cabo por mim uma tarefa que de outra forma teria sido trabalhosa e difícil. Minha única pergunta era se ela recolhera aquele texto das paredes da Torre, dos diários escondidos no farol ou de alguma outra fonte completamente diferente. Ainda não sei.
Com todo cuidado para não entrar em contato com seu ombro e seu braço, revistei o corpo da psicóloga. Apalpei sua camisa e sua calça, procurando qualquer coisa oculta. Encontrei uma pequena pistola presa à perna esquerda e uma carta, em um envelope desbotado, dentro da bota direita. A psicóloga tinha escrito um nome no envelope; ou pelo menos parecia sua caligrafia. Começava com S. Seria o nome do filho dela? De um amigo? Um amante? Havia meses que eu não via ou ouvia um nome, e ver aquilo me perturbou profundamente. Parecia algo errado, algo que não combinava com a Área X. Um nome era um luxo perigoso ali. Sacrifícios não requerem nomes. Pessoas que serviam a um propósito não precisavam ser nomeadas. Por qualquer ângulo que eu encarasse, o nome era uma perturbação a mais, e indesejada, para mim — um espaço negro que continuava a crescer e crescer na minha mente.
Joguei a pistola bem longe, na areia, amassei o envelope e o atirei na mesma direção. Acabei me lembrando do diário de meu marido, e de como, de algum modo, tê-lo descoberto era pior do que a ausência dele. E, sob um certo ponto de vista, eu ainda estava irritada com a psicóloga.
Por fim, revistei os bolsos de sua calça. Encontrei algumas moedas, um seixo liso para massagear os dedos e um pedaço de papel. No papel encontrei uma lista de sugestões hipnóticas que incluíam “induzir paralisia”, “induzir aceitação” e “forçar obediência”, cada uma relacionada a uma palavra ou frase. Ela deveria estar extremamente receosa de esquecer as palavras que lhe davam poder sobre nós, para registrá-las por escrito. Sua “cola” incluía outras observações, como “Topógrafa precisa de mais incentivo” e “Antropóloga tem a mente porosa”. Sobre mim havia apenas essa frase enigmática: “O silêncio também é uma forma de violência.” Muito esclarecedor.
A palavra “Aniquilação” era seguida por “induzir suicídio imediato”.
Todas nós tínhamos sido munidas com botões de autodestruição, mas a única pessoa capaz de apertá-los estava morta.
Parte da vida do meu marido fora definida pelos pesadelos que ele tinha quando era criança. Essas experiências extenuantes o levaram a um psiquiatra. Os pesadelos envolviam uma casa, um porão e os crimes terríveis que tinham acontecido ali. Mas o psiquiatra eliminou a hipótese de lembranças reprimidas, e, no fim, o único recurso que lhe restou foi tentar drenar aquele veneno escrevendo um diário a respeito. Depois, já adulto e na universidade, poucos meses antes de se alistar na marinha, ele foi assistir a um festival de filmes clássicos... e ali, naquela tela enorme, meu futuro marido viu seus pesadelos acontecerem de verdade. Foi só então que percebeu que a tevê devia ter ficado ligada com aquele filme de terror sendo exibido quando ele tinha uns dois anos. Aquela farpa encravada em sua mente, que ele nunca tinha conseguido arrancar, dissolveu-se por completo. Ele dizia que naquele momento percebeu que estava livre, que dali em diante deixou para trás as sombras da sua infância... porque tudo não passava de uma ilusão, uma falsificação, um embuste, um garrancho na sua mente que o tinha enganado, fazendo-o ir em uma direção, quando sua intenção era outra.
“Tenho tido agora outro tipo de sonho, já faz algum tempo”, confessou ele, na noite em que me disse ter se alistado na décima primeira expedição. “Um sonho diferente, e desta vez não é um pesadelo.”
Nesses sonhos, ele flutuava sobre uma região de natureza selvagem, do ponto de vista de um falcão, experimentando uma sensação de liberdade “indescritível, como se alguém pegasse tudo que havia em meus pesadelos e os transformasse em algo maravilhoso”. À medida que os sonhos foram se repetindo e se ampliando, começaram a variar de intensidade e de ponto de vista. Em algumas noites, ele nadava nos canais do pântano. Em outras, era uma árvore ou uma gota d’água. Tudo que experimentava o deixava renovado. Tudo que experimentava o deixava ansioso para ir para a Área X.
Embora não pudesse me dizer muita coisa, ele confessou que já havia se encontrado diversas vezes com pessoas que faziam o recrutamento para a expedição. Tinha conversado com elas durante horas, e sabia que estava tomando a decisão certa. Era uma honra. Nem todo mundo era aceito; alguns eram rejeitados, e outros saíam durante o processo. Outros, ainda, lembrei a ele, deviam ter se arrependido quando já era tarde demais. Tudo que eu sabia a respeito do que ele chamava de Área X eram algumas vagas declarações oficiais a respeito de uma área de catástrofe ambiental, juntamente com boatos e sussurros evasivos. Perigo? Não tenho certeza de que isso me ocorrera na hora em que meu marido me contou que ia me deixar e que tinha escondido essa informação durante semanas. Eu ainda não tinha entrado em contato com a noção de hipnose ou de recondicionamento mental, portanto não me ocorreu que ele talvez tivesse sido sugestionado durante aquelas reuniões.
Minha resposta foi um silêncio denso enquanto ele examinava meu rosto em busca dos sinais que esperava encontrar ali. Ele me deu as costas e foi para o sofá, enquanto eu me servia de uma grande taça de vinho e sentava na cadeira em frente. Ficamos assim por um longo tempo.
Depois ele começou a falar novamente — sobre o que sabia a respeito da Área X, sobre como o seu trabalho atual não o satisfazia, sobre como ele precisava de um novo desafio. Mas eu não estava escutando. Estava pensando no meu trabalho mundano. Pensando na natureza selvagem. Em por que eu não tinha feito o que ele ia fazer agora: sonhar com outro lugar e como chegar lá. Naquele momento, eu não podia culpá-lo, nem um pouco. Eu mesma não viajava às vezes para fazer pesquisas de campo para o meu trabalho? Talvez elas não durassem vários meses, mas em princípio era tudo a mesma coisa.
As discussões vieram depois, quando aquilo foi se tornando mais real para mim. Mas nunca implorei. Nunca lhe pedi para ficar. Não faria isso. Talvez ele tenha pensado que ir na expedição salvaria nosso casamento, que de algum modo aquilo poderia nos aproximar. Não sei. Não faço ideia. Há algumas coisas que nunca serei capaz de fazer direito.
Mas enquanto eu estava ali parada junto ao corpo da psicóloga, olhando para o mar, sabia que o diário do meu marido estava à minha espera, que em breve eu descobriria que tipo de pesadelo ele tinha encontrado. Sabia, também, que eu o culpava ferozmente por ter tomado aquela decisão... e, mesmo assim, em meu cerne, eu tinha começado a crer que não havia nenhum outro lugar onde eu desejasse estar, senão a Área X.
Eu tinha me demorado muito ali, e, para voltar ao acampamento, teria que caminhar no escuro. Se conseguisse manter um bom ritmo, poderia chegar por volta da meia-noite. Havia uma certa vantagem em aparecer em uma hora inesperada, em vista do clima entre mim e a topógrafa quando parti. Alguma coisa também me aconselhava a não pernoitar no farol. Talvez fosse apenas a tensão após ter visto o estranho ferimento da psicóloga, ou talvez eu sentisse como se uma presença ainda habitasse aquele local, mas, em todo caso, eu me pus a caminho logo depois de encher minha mochila com suprimentos e guardar o diário de meu marido. Atrás de mim estava a silhueta cada vez mais solene daquilo que já não era mais um farol, e sim uma espécie de relicário. Ao olhar para trás, vi uma emanação de luz esverdeada projetando-se entre as dunas, e mais do que nunca senti a necessidade de colocar alguns quilômetros de distância entre nós. Era o ferimento da psicóloga, no lugar onde ela jazia à beira da praia, brilhando com mais força do que antes. A ideia de alguma forma de vida de crescimento acelerado reluzindo daquele jeito não permitia nenhum um exame mais minucioso. Outra frase que eu tinha visto copiada no diário dela me veio à mente: Haverá um fogo que sabe o seu nome, e na presença do fruto asfixiante a chama escura tomará cada uma das suas partes.
Depois de uma hora de caminhada, o farol já havia desaparecido na escuridão, e com ele a fonte de luz em que a psicóloga tinha se transformado. O vento ficou mais forte, e a escuridão, mais cerrada. O som permanente e distante das ondas me dava a impressão de estar escutando às escondidas uma conversa sinistra, sussurrada. Caminhei fazendo o mínimo de barulho possível pelas ruínas do vilarejo sob apenas um pequeno feixe de luar, sem querer usar minha lanterna. As erupções nos aposentos expostos estavam cercadas de sombras mais escuras que a noite, e mesmo na sua imobilidade total eu ainda sentia uma enervante sugestão de movimento. Fiquei aliviada quando as deixei para trás e alcancei o trecho da trilha onde os juncos invadiam tanto o canal, no lado que dava para o mar, quanto os pequenos lagos à esquerda. Em pouco tempo eu chegaria às águas negras e aos ciprestes, e então à solidez dos pinheiros.
Poucos minutos depois, os gemidos começaram. A princípio, pensei que os estava imaginando. Então me detive de repente, e fiquei parada, apenas ouvindo. Aquilo que tínhamos escutado todos os dias ao anoitecer estava começando de novo, e em minha pressa de deixar o farol eu tinha esquecido que a coisa habitava os juncos. Perto, assim, o som era mais gutural, cheio de raiva e de uma angústia atormentada. Parecia algo ao mesmo tempo tão humano e inumano que, pela segunda vez depois de ter chegado à Área X, fui levada a pensar no sobrenatural. O som vinha de algum ponto à minha frente, da direção oposta ao oceano, através do juncal espesso que mantinha a água longe da trilha. Parecia improvável que eu cruzasse aquele trecho sem ser ouvida pela criatura. E agora?
Por fim, decidi seguir em frente. Peguei outra lanterna, menor, e me abaixei um pouco ao acendê-la, de modo que seu clarão não pudesse ser visto facilmente entre os juncos. Andando assim, meio abaixada, fui avançando, a pistola em punho na outra mão, atenta à direção de onde vinha o som. Logo ouvi a criatura mais próxima, mas ainda a certa distância, abrindo caminho na vegetação enquanto prosseguia com seu horrível lamento.
Passaram-se alguns minutos, e consegui avançar bastante. Então, abruptamente, alguma coisa esbarrou em minha bota, fazendo-me tropeçar. Virei o facho da lanterna para o chão... e dei um pulo para trás, arfando. Incrivelmente, era um rosto humano parecendo emergir da terra. Mas quando depois de um instante nada aconteceu, apontei novamente a luz para ele; era uma espécie de máscara marrom-clara feita de pele, semitransparente, lembrando a carapaça descartada de um caranguejo-ferradura. Um rosto largo, com leves cicatrizes de acne na bochecha esquerda. Os olhos eram vazios, sem vida, fixos. Senti como se devesse reconhecer aquelas feições — que isso seria algo muito importante —, mas, sem o corpo, não consegui.
De algum modo a visão daquela máscara me restituiu um pouco da calma que eu havia perdido durante a conversa com a psicóloga. Mesmo sendo tão estranho, um exoesqueleto descartado, ainda que lembrasse um rosto humano, era o tipo de mistério que podia ser resolvido. Um mistério que, pelo menos por enquanto, ocupava o lugar da perturbadora imagem de uma fronteira que se expandia e das inúmeras mentiras contadas pelo Comando Sul.
Quando me ajoelhei e apontei a luz da lanterna para a frente, vi mais restos do que parecia ser o rastro de um animal em plena muda: uma trilha de resíduos que lembravam pedaços de pele, folhelhos e despojos orgânicos. Certamente eu encontraria mais adiante a criatura que tinha descartado aquele material, e com certeza ela era, ou tinha sido em algum momento, humana.
Lembrei-me do vilarejo deserto, dos olhos estranhos dos golfinhos. Havia ali um mistério ao qual, com o tempo, eu talvez pudesse responder pessoalmente. Mas a pergunta mais importante no momento era se logo depois da muda a coisa se tornava mais vagarosa ou mais ativa. Isso variava de espécie para espécie, e eu não era uma especialista naquela em particular. Nem tinha muita energia sobrando para encarar um novo confronto, apesar de ser tarde demais para recuar.
Seguindo em frente, cheguei a um lugar, à minha esquerda, onde os juncos tinham sido esmagados, formando uma espécie de rastro com quase um metro de largura. Os restos orgânicos, se eram mesmo aquilo, desviavam-se também naquela direção. Iluminando o caminho com a lanterna, vi que cerca de trinta metros mais adiante o rastro fazia uma curva brusca para a direita. Isso queria dizer que a criatura estava à minha frente, no meio do juncal, e seria capaz de dar outra curva e bloquear meu caminho de volta ao acampamento.
O som de algo se arrastando estava cada vez mais alto, quase tão alto quanto os gemidos. Um cheiro almiscarado preenchia o ar.
Eu não tinha nenhuma intenção de voltar para o farol, de modo que apressei o passo. Agora a escuridão era tão completa que eu podia ver apenas um ou dois metros à frente, e a lanterna ajudava muito pouco. Eu me sentia como se caminhasse por um túnel. Os gemidos se tornaram mais altos, mas eu não conseguia dizer de onde vinham, e o odor foi ficando mais desagradável. A terra coberta de juncos começou a ceder um pouco sob meus pés, e notei que a água não devia estar muito distante.
Então o gemido recomeçou, mais perto do que eu jamais o tinha escutado, mas agora misturado ao som de algo se debatendo. Parei e fiquei na ponta dos pés para lançar a luz da lanterna nos juncos à minha esquerda, a tempo de captar uma vigorosa onda de movimento, em ângulo reto com a trilha, e um barulho de esmagamento, como se uma máquina estivesse avançando por entre o mato. A coisa estava cortando caminho para me encontrar mais adiante, e o brilho dentro de mim ficou mais intenso, para sobrepujar meu pânico.
Hesitei por um segundo. Parte de mim queria ver a criatura, depois de tê-la escutado por tantos dias. Seria o que restava da cientista em mim tentando se reorganizar, aplicar a lógica em uma situação em que só a sobrevivência importava?
Se era isso, era uma parte muito pequena.
Corri. Fiquei surpresa ao ver como era capaz de correr depressa — nunca antes precisara ir tão rápido. Ao longo do túnel de escuridão cercado de juncos, sendo arranhada por eles sem nem notar, deixando que o meu brilho me impelisse para a frente. Eu tinha que ultrapassar a fera antes que ela cortasse meu caminho. Podia sentir a vibração do chão estremecendo aos seus passos, o ruído áspero dos juncos roçando no seu corpo, e havia nos gemidos um tom de expectativa que me angustiava com sua urgência.
No meio da escuridão, tive a impressão de algo pesado estar se aproximando à minha esquerda. Vislumbrei um rosto pálido, torturado, e um corpanzil maciço por trás dele. Atropelando tudo na direção de um ponto à minha frente, e eu sem escolha a não ser deixar que aquilo prosseguisse, acelerando como uma velocista rumo à linha de chegada, para poder ultrapassá-lo e ficar livre.
Estava vindo rápido, tão rápido que eu sabia que não iria conseguir, não era possível, não daquele ângulo, mas daria tudo de mim.
O momento crucial chegou. Pensei ter sentido seu bafo quente no rosto, então me encolhi e gritei sem parar de correr. Mas o caminho à minha frente estava livre e, às minhas costas, ouvi um lamento muito alto, e tive a sensação de que o espaço, o ar, estavam preenchidos. Escutei o som de uma coisa enorme tentando frear, tentando mudar de direção, e sendo impelida através dos juncos do outro lado da trilha pela própria inércia. Um lamento quase angustiado, um som que naquele lugar estava cheio de solidão, chamando por mim. E continuou chamando, implorando que eu voltasse, para vê-lo por inteiro, para admitir sua existência.
Eu não olhei para trás. Continuei correndo.
* * *
Só muito depois parei, arquejando. Com as pernas bambas, consegui caminhar até onde a trilha se abria para a área de floresta, já longe o bastante para eu procurar um grande carvalho no qual conseguisse subir e passar ali a noite, em uma posição desconfortável, apoiada na forquilha da árvore. Se a criatura tivesse me seguido, não sei o que eu teria feito. Ainda podia ouvi-la, embora estivesse novamente bem distante. Não queria pensar nela, mas não conseguia parar.
Fiquei oscilando entre acordada e dormindo, um olho sempre vigiando o chão. A certa altura, alguma coisa grande parou e farejou a base da árvore, mas logo seguiu seu caminho. Em outro momento, tive a vaga impressão de formas indefinidas se movendo a distância, mas nada aconteceu. Pareceram parar por alguns instantes, olhos luminosos flutuando nas trevas, mas não pareciam oferecer ameaça. Apertei o diário de meu marido de encontro ao peito, como um talismã para manter a noite afastada, mas ainda me recusei a abri-lo. Meu medo do que aquilo pudesse conter continuava crescendo.
A certa altura, antes do amanhecer, acordei de novo e senti que meu brilho havia se tornado algo literal: minha pele emitia uma tênue fosforescência no escuro, e tentei esconder as mãos dentro das mangas e puxar a gola para cima, para ficar menos visível, e então peguei no sono novamente. Parte de mim queria apenas dormir por toda a eternidade, durante qualquer outro evento iminente.
Mas me lembrara de outra coisa: onde eu tinha visto antes aquela máscara descartada. Era o psicólogo da décima primeira expedição, um homem cuja entrevista eu vira após retornar da fronteira. Um homem que dizia, em uma voz calma e sem entonação: “Era tudo muito bonito, tudo muito pacífico na Área X. Não vimos nada de extraordinário. Nada mesmo.” E depois dava um sorriso vago.
Eu começava a entender que a morte ali não era igual a do outro lado da fronteira.
* * *
Na manhã seguinte, minha cabeça ainda estava cheia dos gemidos da criatura quando voltei a caminhar na parte da Área X onde a trilha se transformava em uma subida íngreme, e de ambos os lados a água negra e pantanosa estava cheia de raízes de ciprestes, com sua enganosa aparência de coisas mortas. A água absorvia todos os sons, e sua superfície imóvel refletia apenas o lodo acinzentado e os ramos das árvores. Eu gostava daquela parte da trilha como de nenhuma outra. Ali o mundo parecia manter uma vigilância, rivalizada apenas pela sensação de isolamento e paz. A calma era, ao mesmo tempo, um convite para baixar a guarda e uma advertência para não fazer isso. O acampamento estava a um quilômetro e meio de distância, e eu sentia certa preguiça devido à luz e ao zumbido dos insetos na relva alta. Já estava ensaiando o que iria contar à topógrafa, pensando no que dizer e no que omitir.
O brilho em mim acendeu-se vivamente, e tive tempo de dar meio passo para o lado direito.
O primeiro tiro atingiu meu ombro esquerdo, em vez do coração, e o impacto me jogou para trás, fazendo meu corpo girar. O segundo atravessou meu tronco do lado esquerdo, não apenas me empurrando, mas me fazendo tropeçar e cair. No profundo silêncio enquanto rolava ladeira abaixo, ouvi um rugido se amplificar nos meus ouvidos. Fiquei caída no pé da colina, a respiração entrecortada, um braço estendido com a mão mergulhada na água negra, o outro preso embaixo do corpo. A princípio, a dor que eu sentia do lado esquerdo era como se alguém estivesse me abrindo com um facão e me costurando de novo. Mas logo diminuiu, passando de dolorida — com os ferimentos a bala se reduzindo como que por uma conspiração das células — a uma sensação que mais parecia a de pequeninos animais se remexendo dentro do meu corpo.
Tinham se passado apenas alguns segundos. Eu sabia que tinha que me mexer. Por sorte, minha pistola estava bem presa ao coldre, ou teria sido lançada para longe. Empunhei-a. Eu tinha visto o escopo, um pequeno círculo no meio da grama alta, havia identificado a autora da emboscada. A topógrafa era uma ex-militar, e era competente, mas não podia saber que o brilho me protegera, que o choque não tinha me feito desmaiar, que o ferimento não havia me deixado paralisada pela dor.
Rolei para ficar de bruços, pensando em me arrastar ao longo da margem.
Então ouvi a voz da topógrafa, me chamando do outro lado do dique:
— Onde está a psicóloga? O que fez com ela?
Cometi o erro de dizer a verdade.
— Está morta — gritei, tentando fazer minha voz parecer trêmula, fraca.
A resposta dela foi disparar uma rajada por cima da minha cabeça, talvez esperando que eu corresse em busca de abrigo.
— Não matei a psicóloga — gritei. — Ela pulou do alto do farol.
— Não há recompensa no risco! — disparou a topógrafa, atirando essa frase contra mim como se fosse uma granada.
Ela devia estar planejando aquele momento desde que parti. A frase não teve mais efeito em mim do que a minha tentativa de usá-la contra ela.
— Escute! Você me feriu... bastante. Pode me deixar aqui. Não sou sua inimiga.
Aquelas palavras patéticas eram uma tentativa de apaziguá-la. Esperei, mas a topógrafa não respondeu. Tudo que se ouvia era o zumbido das abelhas entre as flores silvestres, o gorgolejar da água em algum ponto além do dique. Fiquei olhando o céu espantosamente azul e pensando se era a hora de tentar me mexer.
— Volte para o acampamento, pegue os suprimentos — gritei, fazendo uma nova tentativa. — Volte para a fronteira. Eu não ligo. Não vou impedi-la.
— Não acredito em nada do que você diz! — exclamou ela, e sua voz estava um pouco mais perto, avançando pela margem oposta. — Você voltou, e não é mais um ser humano. Você deveria se matar, para eu não ter que fazê-lo.
Não gostei do tom de voz casual com que ela disse isso.
— Sou tão humana quanto você — repliquei. — Isto é uma coisa natural.
Percebi que ela não iria entender que eu estava me referindo ao meu brilho. Eu queria dizer que eu era uma coisa natural, também, mas não sabia até que ponto isso era verdade, e nada disso, de qualquer modo, iria ajudar na minha defesa.
— Diga seu nome! — exigiu ela. — Diga! Diga a porra do seu nome!
— Isso não vai fazer diferença — respondi. — Que diferença iria fazer? Não entendo por que faria diferença.
A resposta foi o silêncio. Ela não falou mais. Eu era um demônio, um diabo, algo que ela não conseguia entender ou que tinha decidido não entender. Pude ouvi-la aproximando-se cada vez mais, agachando-se para se proteger.
Ela não iria disparar de novo enquanto não tivesse a oportunidade de um tiro certeiro, enquanto eu tinha o impulso de meramente atacá-la, disparando a esmo. Em vez disso, eu meio que me arrastei, meio que engatinhei na direção dela. Ela devia estar esperando que eu tentasse fugir, que me afastasse dela, mas com o alcance de seu rifle isso equivaleria ao suicídio. Tentei controlar minha respiração. Queria escutar o menor som que ela fizesse, para descobrir sua posição.
Depois de alguns instantes, ouvi passos do outro lado, no alto da colina. Peguei um punhado de terra enlameada e o arremessei para trás, na direção de onde eu viera. Quando a terra caiu na água, a uma distância de uns quinze metros, com estardalhaço, eu já estava escalando a encosta, em um ângulo de onde mal podia ver a trilha.
O topo da cabeça da topógrafa apareceu a não mais de três metros de onde eu estava escondida. Ela rastejava em meio à relva que margeava a trilha. Mas foi apenas um vislumbre. Visível por apenas um único segundo antes de sumir. Não pensei. Não hesitei. Atirei nela.
Sua cabeça foi jogada para o lado, e ela tombou sem fazer ruído. Então se virou de costas com um gemido, como se tivesse sido perturbada em pleno sono, e ficou imóvel. Seu rosto estava coberto de sangue e a testa parecia grotescamente deformada. Voltei a descer a encosta. Encarei minha pistola, chocada. Eu me sentia como se estivesse parada entre dois futuros, mesmo já tendo tomado a decisão de viver em um deles. Agora, só restava eu.
Quando espiei de novo, mantendo-me abaixada na beira da colina por precaução, vi que ela continuava deitada, imóvel. Eu nunca havia matado alguém antes. Não tinha certeza, dada a lógica peculiar daquela área, de que tinha de fato acabado de matar alguém. Pelo menos era isso que repetia para mim mesma, tentando controlar o tremor de meu corpo. Porque, por trás de tudo aquilo, eu continuava pensando que poderia ter tentado argumentar um pouco mais com ela, ou pelo menos não ter atirado e tentado me esconder na floresta.
Levantei-me e subi a colina, sentindo o corpo todo dolorido, embora a dor no ombro se resumisse a leves pontadas. Parada junto ao corpo dela, vendo o rifle caído apontando direto para sua cabeça ensanguentada, como um ponto de exclamação, imaginei como deviam ter sido suas últimas horas no acampamento. Quais dúvidas a dilaceravam? Será que havia partido para a fronteira, hesitado, voltado ao acampamento, partido de novo, presa em um círculo de indecisão? Alguma coisa, certamente, a tinha induzido a me enfrentar, ou talvez o fato de ter passado a noite sozinha naquele lugar tivesse sido o bastante. O isolamento pode pressionar demais uma pessoa, como que lhe cobrando alguma ação. Se eu tivesse voltado quando prometi, teria sido diferente?
Não podia abandoná-la ali, mas hesitei em levá-la de volta ao acampamento para enterrá-la no velho cemitério atrás das barracas. O brilho dentro de mim me deixou insegura. E se houvesse um propósito para a presença dela naquele lugar? Enterrá-la não poderia bloquear uma capacidade de mudança que ela possuía em si, mesmo agora? Por fim rolei o corpo dela várias vezes, sentindo sua pele ainda elástica e morna, o sangue brotando do ferimento na cabeça, até chegar à beira da água. Então murmurei o quanto esperava que ela me perdoasse, e que eu a perdoava por ter atirado em mim. Não sei se estava fazendo muito sentido para nenhuma de nós àquela altura. Tudo me soava absurdo no momento em que as palavras saíam de minha boca. Se ela ressuscitasse de repente, nós provavelmente admitiríamos que não iríamos perdoar coisa alguma.
Carregando-a nos braços, entrei na água negra. Larguei-a quando estava com água pelos joelhos, e deixei-a afundar. Quando não pude mais avistar sequer a pálida anêmona aberta que era sua mão esquerda, me arrastei de volta até a terra firme. Eu não sabia se ela era uma pessoa religiosa, se esperava ressuscitar no céu ou tornar-se alimento para os vermes. Mas independentemente disso, os ciprestes formavam uma espécie de catedral sobre seu corpo, que ia afundando mais e mais.
Eu não tive tempo, contudo, para assimilar o que acontecera. Logo em seguida, quando voltei para a trilha, o brilho se apossou de mais lugares em meu corpo do que apenas os centros nervosos. Eu me deitei encolhida no chão, envolta no que parecia ser um casulo de inverno feito de gelo escuro, e meu brilho se expandiu em um brilhante halo azul com um núcleo de puro branco. Parecia que estava sendo queimada com brasas de cigarro quando uma espécie de neve cauterizadora caiu em mim e se infiltrou na minha pele. Em pouco tempo eu estava tão gelada, tão completamente entorpecida, aprisionada no meu corpo caído na trilha, que encarei fixamente as grossas folhas de relva à minha frente, e minha boca semiaberta junto à terra. Deveria sentir alívio por estar sendo poupada da dor dos meus ferimentos, mas eu estava sendo assaltada por delírios.
Lembro-me apenas de três momentos desses delírios. No primeiro, a topógrafa, a psicóloga e a antropóloga olhavam para mim de cima, através de círculos concêntricos na água, como se eu fosse um girino no fundo de uma poça. Ficaram olhando para mim durante um tempo incrivelmente longo. No segundo, eu estava sentada junto àquela criatura dos gemidos, com minha mão pousada em sua cabeça enquanto murmurava alguma coisa em uma língua que não compreendia. No terceiro, eu estava olhando para um mapa vivo da fronteira, que tinha sido representada como um enorme fosso circulando a Área X. Naquele fosso nadavam grandes criaturas marinhas, que eu contemplava sem ser vista; eu sentia a ausência do olhar delas como uma espécie de terrível consternação.
Descobri depois pelas marcas deixadas na relva que eu, durante todo aquele tempo, não havia ficado congelada: estava sendo tomada por espasmos, retorcendo-me no chão como um verme, alguma parte distante dentro de mim ainda experimentando a agonia, tentando morrer devido a ela, mesmo sendo impedida pelo brilho. Se eu tivesse sido capaz de alcançar minha pistola, acho que teria dado um tiro na cabeça... e ficado feliz com isso.
Deve estar bem claro a esta altura que não sou muito boa em contar às pessoas algumas coisas que elas se sentem no direito de saber, e neste relato, até agora, deixei de mencionar alguns detalhes sobre o brilho. E o motivo é, mais uma vez, a esperança de que a opinião inicial de qualquer leitor ao julgar a minha objetividade não seja influenciada por esses detalhes. Tentei compensar isso revelando mais informações pessoais do que eu faria em outras circunstâncias, em parte pela relevância delas quanto à natureza da Área X.
A verdade é que momentos antes de a topógrafa ter tentado me assassinar, o brilho se expandiu dentro de mim, intensificando meus sentidos, e pude sentir o movimento de seus quadris quando ela se deitou no chão para mirar o rifle. Pude ouvir o ruído das gotas de suor escorrendo pela sua testa. Sentir o cheiro do desodorante que usava, e o sabor da grama amarelada que ela esmagou ao planejar a emboscada. Quando atirei nela, foi com esses sentidos intensificados ainda em plena ação, e essa foi a única razão que a tornou vulnerável a mim.
Isso foi, em um grau extremo, uma ampliação súbita de algo que eu já vinha experimentando. Tanto na ida ao farol quanto na volta, o brilho tinha se manifestado em mim como uma espécie de resfriado leve. Senti um pouco de febre, de tosse, de sinusite. Em alguns momentos parecia que ia desmaiar, ou ficava um pouco tonta. Uma sensação de leveza e uma sensação de peso tinham se alternado, a intervalos, mas nunca chegando a um equilíbrio, de modo que eu me sentia ou flutuando ou me arrastando pelo chão.
Meu marido teria tomado alguma ação assertiva com relação a esse brilho. Teria achado mil maneiras diferentes de tentar curá-lo — de eliminar as cicatrizes, também — e não me deixaria lidar com ele em meus próprios termos, razão pela qual durante nossa vida em comum eu às vezes não lhe contava quando estava doente. Mas, neste caso, de qualquer modo, todo esse esforço teria sido inútil. Uma pessoa pode decidir desperdiçar seu tempo preocupando-se com uma morte que talvez não aconteça, ou se concentrar nas coisas que ainda lhe restam.
Quando finalmente recobrei os sentidos, já era meio-dia do dia seguinte. Eu tinha conseguido, não sei como, me arrastar de volta para o acampamento. Estava extenuada, uma casca vazia a ponto de precisar beber quase quatro litros de água nas horas seguintes para me sentir completa. A lateral do meu corpo ardia, mas eu percebi que o ferimento se recuperava de forma acelerada, o bastante para que conseguisse caminhar à vontade. O brilho, que já tinha se infiltrado em meus membros, parecia ter em seu assalto final equilibrado forças com meu corpo, e seu avanço foi contido pela necessidade de curar meus ferimentos. Os sintomas de resfriado tinham amainado um pouco, e a alternância entre as sensações de peso e leveza foi substituída por uma espécie de vibração contínua dentro de mim, e por outra sensação, muito inquietante a princípio, de que algo deslizava por baixo de minha pele, formando uma camada que a imitava com perfeição.
Eu sabia que não deveria confiar nesse bem-estar súbito, que talvez isso não passasse de um intervalo antes do início de outro estágio. Qualquer alívio que eu pudesse sentir no fato de que até agora as mudanças não pareciam mais radicais do que uma intensificação dos sentidos e dos reflexos, e de uma leve fosforescência na minha pele, empalidecia com a constatação de que, para manter o brilho sob controle, eu teria que continuar me ferindo, me machucando. Submetendo meu sistema a algum pesado choque.
Naquele contexto, ao me confrontar com o caos em que nosso acampamento havia se tornado, minha atitude foi talvez mais prosaica do que teria sido em outras circunstâncias. A topógrafa golpeara as barracas até restarem apenas longas tiras de lona dilaceradas balançando ao vento. Os registros científicos deixados pelas expedições anteriores tinham sido queimados; eu podia ver fragmentos carbonizados dos diários no meio das cinzas. Todas as armas que ela não pôde carregar foram cuidadosamente desmontadas, peça por peça; depois foram espalhadas pelo acampamento, como que em desafio. Latas de comida vazias estavam amontoadas por todos os lados. Na minha ausência, a topógrafa tinha se transformado em uma furiosa assassina em série de objetos inanimados.
Seu diário estava provocativamente largado em cima do que restava de sua cama dentro da barraca, rodeado por uma profusão de mapas, alguns deles velhos e amarelados. Mas estava em branco. As vezes em que eu a tinha visto “escrevendo” nele, afastada de nós, tinham sido mera encenação. Ela nunca tivera a intenção de permitir que a psicóloga ou qualquer uma de nós viesse a descobrir seus verdadeiros pensamentos. Percebi que respeitava isso nela.
Em todo caso, ela deixou uma derradeira declaração final e enfática, em um pedaço de papel perto da cama, que talvez ajudasse a explicar sua hostilidade: “A antropóloga tentou voltar, mas eu dei um jeito nela.” Ou estava louca ou excessivamente sã. Examinei com cuidado aqueles mapas, mas não se referiam à Área X. Ela tinha escrito várias coisas neles, observações pessoais de lembranças, e percebi que os mapas deviam mostrar lugares que ela visitara ou morara. Não pude condená-la por recorrer a eles, por procurar no passado algo que pudesse ajudá-la a suportar o presente, por mais inútil que fosse essa busca.
Quando continuei a explorar o que restava do acampamento, pude avaliar minha situação. Encontrei algumas latas de comida que ela não destruiu. Também escapou dela certa quantidade de água potável que eu, como sempre fazia, havia escondido dentro do saco de dormir. Embora todas as minhas amostras tivessem desaparecido — acredito que a topógrafa as tenha jogado na água negra do pântano, ao seguir pela trilha onde armou a emboscada para mim —, ela não conseguira salvar nem mudar nada com essa atitude. Eu mantinha meus dados e minhas observações sobre as amostras anotados em um caderninho na mochila. Iria sentir falta do meu microscópio grande, muito mais poderoso, mas o portátil serviria. Tinha ainda bastante comida para me sustentar por umas duas semanas, se racionasse. Minha água duraria três ou quatro dias, e eu sempre poderia ferver um pouco mais. Tinha fósforos suficientes para acender a fogueira por mais um mês, e, se fosse preciso, seria capaz de fazer fogo mesmo sem eles. Havia mais suprimentos à minha espera no farol, e, em último caso, na mochila da psicóloga.
Lá fora, vi a adição que a topógrafa fizera ao velho cemitério: uma sepultura vazia, recém-cavada, com um monte de terra empilhada ao lado — e, fincada no chão, uma cruz bem simples feita de galhos. A sepultura seria destinada a mim ou à antropóloga? Ou a ambas? A ideia de repousar ao lado dela por toda a eternidade não me agradou.
Mais tarde, ao começar a limpeza, tive um acesso de riso, do nada, que fez eu me curvar de dor. Lembrei-me de repente de quando lavei a louça depois do jantar, na noite em que meu marido reapareceu após cruzar a fronteira. Recordei-me perfeitamente de ter limpado o espaguete e os restos de frango de um prato, e de pensar, com uma espécie de incredulidade, como era possível uma atividade tão mundana coexistir com o mistério de seu reaparecimento.
05: DISSOLUÇÃO
Nunca me adaptei bem às cidades, mesmo necessitando morar em uma — porque meu marido precisava estar lá, porque os melhores empregos para mim estavam lá, porque eu já tinha me autossabotado quando tive oportunidades de pesquisas de campo. Mas eu não era um animal domesticado. A sujeira e a agressividade de uma cidade grande, a interminável vigília em que ela vive, as multidões, as luzes constantes obscurecendo as estrelas, a onipresente fumaça dos escapamentos, as mil maneiras em que ela prenuncia a nossa destruição... nenhuma dessas coisas me atraía.
— Aonde você vai tão tarde da noite? — perguntara meu marido várias vezes, cerca de nove meses antes de partir para a décima primeira expedição.
Havia um “mesmo” subentendido depois do “vai”, e eu podia ouvi-lo, alto, insistente.
— A lugar nenhum — dizia eu. A qualquer lugar.
— Não, sério... aonde você vai?
Devo dar-lhe o crédito de que jamais tentou me seguir.
— Não estou traindo você, se é isso que quer saber.
Uma resposta assim tão direta geralmente o fazia se calar, embora não ajudasse a deixá-lo mais seguro.
Eu tinha lhe dito que caminhar à noite me relaxava, me ajudava a dormir quando o estresse ou o tédio do meu trabalho se tornavam demais para mim. Mas na verdade eu andava apenas até chegar a um terreno baldio coberto de mato. Ele me atraía porque não estava realmente vazio. Servia de moradia para duas espécies diferentes de caracol e três espécies de lagarto, juntamente com borboletas e libélulas. A partir de uma origem vulgar — as marcas profundas deixadas por pneus de caminhão — formou-se ali um pequeno lago de água da chuva. Ovas de peixe surgiram sabe-se lá como, e girinos e peixinhos de água doce logo podiam ser vistos, bem como insetos aquáticos. O mato cresceu em volta, evitando que a erosão fizesse terra desabar lá dentro, o que destruiria o lago. Pássaros migratórios faziam dele uma de suas estações de reabastecimento.
Em termos de hábitat natural, o terreno baldio não era nada de mais, mas sua proximidade refreava o meu impulso de pegar o carro e rumar para o trecho mais próximo de mata que pudesse encontrar. Eu gostava de visitar aquele local tarde da noite porque podia ver uma raposa alerta ou um petauro-do-açúcar pousado em um poste. Curiangos se agrupavam nas proximidades para se banquetear com os insetos que enxameavam em torno das lâmpadas da rua. Ratos e corujas encenavam seus antigos rituais de predador e presa. Todos tinham um comportamento cauteloso, diferentemente dos animais da verdadeira vida selvagem; era uma cautela calejada, resultado de um histórico longo e sofrido. Histórias de encontros cheios de má-fé em território ocupado por humanos, um passado repleto de eventos trágicos.
Não contei ao meu marido que minhas caminhadas tinham destino certo porque queria manter aquele lugar só para mim. Há tantas coisas que os casais fazem meramente por hábito ou porque é o que se espera deles, e eu não ligava muito para esses rituais. Às vezes até me divertia com eles. Mas precisava ser um pouco egoísta com relação àquele trecho de vida selvagem no meio da cidade. Ele se ampliava em minha mente durante as horas de trabalho, me acalmava, dava-me uma série de dramas em miniatura para ficar acompanhando. Eu não sabia que, enquanto eu estava aplicando esse Band-Aid na minha necessidade de sair do confinamento, meu marido estava sonhando com a Área X e com espaços abertos muito mais amplos. Depois, esse paralelo me ajudou a apaziguar minha raiva pela sua partida e, mais tarde, minha confusão quando ele voltou tão mudado... mesmo que a verdade nua e crua fosse que eu ainda não tinha efetivamente compreendido o que deixara de perceber nele.
A psicóloga dissera: “A fronteira está avançando... um pouquinho mais a cada ano.”
Mas eu achei essa afirmativa muito limitada, muito ignorante. Havia milhares de espaços “mortos” como aquele terreno que eu observava, milhares de ambientes transicionais que ninguém enxergava, que tinham se tornado invisíveis porque não eram “úteis”. Qualquer coisa podia habitá-los durante algum tempo sem que ninguém percebesse. Estávamos pensando na fronteira como uma parede monolítica e invisível, mas, se os membros da décima primeira expedição conseguiram voltar sem que ninguém percebesse, não era possível que outras coisas também tivessem passado para o outro lado?
Nesta nova fase do meu brilho, enquanto me recuperava dos ferimentos, a Torre continuava me chamando incessantemente; eu podia sentir sua presença física sob a terra com uma clareza que reproduzia aquele primeiro pulsar de atração, como quando se sabe, sem precisar olhar, a posição exata do objeto de seu desejo em algum aposento. Parte disso era minha própria necessidade de voltar, mas parte talvez se devesse ao efeito dos esporos, e por isso eu a combatia, porque tinha um trabalho a fazer. E os resultados desse trabalho também ajudariam, se eu pudesse me dedicar a ele sem nenhum tipo de interferência externa, a pôr tudo aquilo em perspectiva.
Para começar, eu tinha que isolar todas as mentiras e omissões dos meus superiores em relação às verdadeiras excentricidades da Área X. Por exemplo: o conhecimento secreto de que tinha existido uma proto-Área-X, uma espécie de preâmbulo, uma cabeça de ponte estabelecida antes de tudo. Por mais que a visão daquele monte de diários tivesse alterado radicalmente minha visão da Área X, eu não achava que o fato de ter havido um número bem maior de expedições me esclarecesse muito a respeito da Torre e de seus efeitos. A principal hipótese que me ocorria era que, mesmo que a fronteira estivesse se expandindo, esse progresso podia ser considerado modesto. Os dados recorrentes encontrados nos diários, relativos à repetição de ciclos e flutuações das estações, sobre o estranho e o ordinário, eram úteis para estabelecer padrões. Mas essa informação, também, provavelmente já era conhecida pelos meus superiores e, portanto, algo já relatado por outros indivíduos. O mito de que somente algumas expedições, no período inicial sugerido pelo Comando Sul, tinham fracassado reforçava a ideia de ciclos existindo dentro de um quadro geral de avanço.
Os detalhes específicos registrados nos diários podem contar histórias de heroísmo ou covardia, de decisões certas ou erradas, mas, no fim, revelam apenas uma espécie de inevitabilidade. Ninguém tinha penetrado suas profundezas de intenção ou propósito de um modo capaz de obstruir essa intenção ou esse propósito. Todos haviam morrido ou sido assassinados, tinham voltado mudados ou normais, mas a Área X continuava a fazer o que sempre fizera... enquanto nossos superiores pareciam temer alguma reavaliação radical da situação, tanto que continuavam a enviar expedições sem qualquer conhecimento real como se essa fosse sua única opção. Alimentem a Área X, mas não a antagonizem, e talvez alguém, um dia, por sorte ou mera repetição, descubra algum tipo de explicação ou solução, antes que o mundo se torne a Área X.
Não havia nenhuma maneira de corroborar qualquer uma dessas teorias, mas me dava um consolo sombrio, em todo caso, ser capaz de formulá-las.
Guardei o diário de meu marido para ler por último, embora a atração dele sobre mim fosse tão forte quanto o apelo da Torre. Em vez disso, concentrei minha atenção nas outras coisas que trouxera: as amostras colhidas no vilarejo em ruínas e no corpo da psicóloga, juntamente com amostras de minha própria pele. Instalei meu microscópio em uma mesa instável, que a topógrafa provavelmente achara tão precária que não merecia sua atenção. As células da psicóloga, tanto as do ombro não infectado quanto as do ferimento, pareciam células humanas normais. O mesmo se dava com as células da minha própria amostra. Isso era impossível. Chequei as amostras várias vezes, até mesmo fingindo, de modo infantil, não estar muito interessada nelas antes de, de repente, examiná-las com olhos de águia.
Eu estava convencida de que aquelas células, quando ninguém estava olhando, se transformavam em algo diferente, que o mero ato de observação modificava tudo. Sabia que era loucura, e mesmo assim era no que eu acreditava. Naqueles momentos, achava que a Área X estava rindo de mim — cada folha de relva, cada inseto desgarrado, cada gota de água. O que aconteceria quando o Rastejador alcançasse o final da Torre? O que aconteceria quando ele voltasse para a superfície?
Então examinei as amostras do vilarejo: musgo da “testa” de uma das erupções, lascas de madeira, uma raposa morta e um rato. A madeira era mesmo madeira. O rato era sem dúvida um rato. O musgo e a raposa... eram células humanas modificadas. De onde jaz o fruto asfixiante que veio da mão do pecador eu trarei as sementes dos mortos...
Acho que eu deveria ter recuado do microscópio, chocada, mas já tinha passado do ponto de reagir ao que o instrumento me mostrava. Em vez disso, contentei-me em xingar em voz baixa. O javali que vimos na trilha para o acampamento, os estranhos golfinhos, o monstro atormentado no juncal. Até mesmo a ideia de que réplicas dos membros da décima primeira expedição tivessem cruzado a fronteira. Tudo aquilo reforçava os indícios mostrados pelo microscópio. Transformações estavam em andamento ali, e, mesmo que eu tivesse me sentido como parte de uma paisagem “natural” durante a caminhada até o farol, eu não podia negar que aqueles hábitats eram transicionais de uma maneira intensamente antinatural. Um alívio perverso tomou conta de mim; pelo menos tinha provas de que alguma coisa estranha estava acontecendo, juntamente com o tecido cerebral que a antropóloga havia recolhido da pele do Rastejador.
A essa altura, contudo, eu encerrara a análise das amostras. Almocei e resolvi que não iria gastar mais energia na limpeza do acampamento; essa tarefa ficaria para a próxima expedição. Era outra tarde ensolarada, ofuscante, com um céu espantosamente azul e uma temperatura amena. Fiquei sentada por algum tempo, olhando o esvoaçar das libélulas no mato, os voos cheios de piruetas de um pica-pau-vermelho. Eu estava apenas adiando o inevitável, minha volta à Torre, e mesmo assim desperdiçava meu tempo.
Quando finalmente peguei o diário de meu marido e comecei a ler, o brilho se derramou sobre mim em ondas incessantes e me conectou com a terra, com a água, as árvores, o ar, enquanto eu me abria para ele, cada vez mais.
Não havia nada do que eu esperava no diário do meu marido. Exceto por alguns trechos tensos, rabiscados às pressas, ele tinha dirigido a maior parte de suas memórias a mim. Eu não queria, e assim que isso se tornou evidente tive que resistir ao impulso de atirar o diário para longe como se fosse veneno. Minha reação nada tinha a ver com amor ou falta de amor; na verdade, devia-se a um sentimento de culpa. Ele quis compartilhar comigo aquele diário, e agora ou estava morto de verdade ou existindo em um estado além do alcance de qualquer tentativa minha de me comunicar, para dividir com ele de forma recíproca.
A décima primeira expedição era composta por oito membros, todos homens: um psicólogo, dois médicos (incluindo meu marido), um linguista, um topógrafo, um biólogo, um antropólogo e um arqueólogo. Vieram para a Área X no inverno, quando as árvores tinham perdido a maior parte de suas folhas e o juncal ficara mais escuro e espesso. Os arbustos floridos “estavam tristonhos” e pareciam “se amontoar” ao longo da trilha, como ele anotara. “Menos aves do que os relatórios disseram”, escreveu. “Mas para onde elas vão? Só a ave fantasma saberia dizer.” O céu ficava nublado com frequência, e o nível da água no pântano dos ciprestes estava baixo. “Não choveu durante todo o tempo em que estivemos aqui”, ele anotou no fim da primeira semana.
Eles também descobriram aquilo que apenas eu chamo de Torre, no quinto ou sexto dia — eu estava cada vez mais convencida de que a localização do acampamento tinha sido escolhida para facilitar essa descoberta —, mas a opinião do topógrafo de que deveriam continuar mapeando o torno fez com que seguissem um curso de ação diferente do nosso. “Nenhum de nós estava ansioso para descer lá”, escreveu meu marido. “Eu menos do que todos.” Ele tinha claustrofobia, e às vezes precisava sair do quarto no meio da noite e ir dormir no terraço.
Por algum motivo, naquele caso o psicólogo não pressionou a expedição para descer ao interior da Torre. Conduziram a exploração para mais longe, passando pelo vilarejo abandonado, pelo farol e além dele. Sobre o farol, meu marido registrou seu horror ao descobrirem os sinais da carnificina, mas que tinham sido “muito respeitosos com os mortos e não arrumaram as coisas”. Suponho que se referisse às mesas reviradas que havia no térreo. Não mencionou a foto do faroleiro na parede, o que me desapontou.
Tal como eu, eles tinham encontrado o monte de diários no topo do farol, e isso os deixara abalados. “Tivemos uma discussão intensa sobre o que fazer. Eu queria abortar a missão e voltar para casa, porque era evidente que tinham mentido para nós.” Mas parece que foi nesse ponto que o psicólogo retomou o controle sobre o grupo, mesmo que de forma limitada. Uma das diretrizes sobre a Área X era que as expedições deveriam manter-se unidas. Mas na anotação seguinte eles tinham decidido se dividir, como que para salvar a missão atendendo as vontades de cada um, e garantindo que ninguém tentaria voltar para a fronteira. O outro médico, o antropólogo, o arqueólogo e o psicólogo ficaram no farol para ler os diários e investigar a área em torno dele. O linguista e o biólogo voltaram para explorar a Torre. Meu marido e o topógrafo seguiram para além do farol.
“Você adoraria isto aqui”, escreveu ele em uma anotação especialmente entusiasmada que me sugeriu não tanto otimismo, mas uma inquietante euforia. “Você iria adorar a luz refletindo nas dunas. Iria adorar essa imensa extensão de natureza selvagem.”
Eles vaguearam ao longo da costa durante uma semana inteira, mapeando a paisagem e esperando a todo instante encontrar a fronteira, qualquer que fosse a forma que ela assumisse — provavelmente algum obstáculo que os impedisse de continuar avançando.
Mas isso nunca aconteceu.
Em vez disso, deparavam-se com o mesmo hábitat todos os dias. “Estamos caminhando para o norte, acredito”, escreveu, “mas mesmo caminhando de vinte e cinco a trinta quilômetros por dia, nada muda. É sempre a mesma coisa”, embora ele também fosse enfático ao declarar que não queria dizer que estavam “presos em algum estranho círculo vicioso”. Mas sabia que “de acordo com nossos cálculos, já deveríamos ter chegado à fronteira a esta altura”. Sem dúvida, estavam penetrando na região que o Comando Sul dizia ainda não ter sido mapeada; “uma área que tínhamos sido encorajados, pela vagueza dos nossos superiores, a presumir que estava fora da fronteira”.
Eu também sabia que a Área X terminava abruptamente não muito depois do farol. Como eu sabia? Porque nossos superiores nos disseram durante o treinamento. Então, na verdade, eu não sabia absolutamente nada.
Por fim, eles retornaram porque “atrás de nós vimos estranhas luzes cascateando a distância, e, no interior do continente, mais luzes, além de sons que não fomos capazes de identificar. Ficamos preocupados com os outros membros da expedição que havíamos deixado para trás”. No ponto em que resolveram voltar, tinham avistado “uma ilha rochosa, a primeira que vimos”, e sentiram “um impulso muito forte de explorá-la, embora não houvesse nenhum meio fácil de acessá-la”. A ilha “parecia ter sido habitada em algum momento — vimos casas de pedra espalhadas em um morro e um cais abaixo delas”.
A caminhada de volta até o farol levou quatro dias, não sete, “como se a terra tivesse encolhido”. No farol, viram que o psicólogo desaparecera, e encontraram sinais de um tiroteio sangrento no andar entre o térreo e o topo. Um sobrevivente moribundo, o arqueólogo, “disse-nos que alguma coisa ‘que não era deste mundo’ tinha subido a escada, matado o psicólogo e depois levado o corpo consigo. ‘Mas o psicólogo voltou’, disse o arqueólogo, delirante. Havia apenas dois corpos, mas nenhum era o do psicólogo. Essa ausência era inexplicável. Ele também não conseguiu nos dizer por que tinham trocado tiros. Só ficava repetindo: ‘não confiávamos uns nos outros’”. Meu marido observou que “alguns dos ferimentos deles não eram de balas, e mesmo o sangue espalhado nas paredes não correspondia ao que conheço sobre cenas de crimes. Havia um resíduo estranho no piso”.
O arqueólogo “ergueu um pouco o corpo, apoiando-se a uma parede, e ameaçou atirar em nós se chegássemos perto para olhar seus ferimentos. Minutos depois, porém, ele morreu”. Então, meu marido e o topógrafo arrastaram os corpos e os sepultaram em um trecho da praia, a uma pequena distância do farol. “Foi difícil, ave fantasma, e não sei se nos recuperamos disso. Não sei mesmo.”
Restavam apenas o linguista e o biólogo, que tinham ido para a Torre. “O topógrafo sugeriu que explorássemos a orla além do farol ou voltássemos por ela. Mas ambos sabíamos que isso era apenas evitar os fatos. O que ele estava dizendo na verdade era que deveríamos abandonar a missão e vagar a esmo pela paisagem.”
A Área X estava agora exercendo uma pressão sobre eles. A temperatura aumentava e baixava violentamente. Havia estrondos nas profundezas subterrâneas que se manifestavam como pequenos tremores na superfície. O sol surgia diante deles “com um tom esverdeado”, como se “de algum modo a fronteira estivesse distorcendo nossa visão”. Eles também viram “revoadas de pássaros rumando para o interior do continente — não da mesma espécie, mas falcões e patos, garças e águias, todos juntos como se buscando um objetivo comum”.
Na Torre, eles se aventuraram a descer apenas alguns poucos andares antes de voltarem à superfície. Notei que não havia nenhuma menção a palavras escritas na parede. “Se o linguista e o biólogo estivessem lá dentro, deveriam estar muito distantes, e não tínhamos interesse em segui-los.” Eles voltaram para o acampamento, onde encontraram o corpo do biólogo, apunhalado várias vezes. O linguista tinha deixado um bilhete dizendo apenas: “Fui para o túnel. Não me procurem.” Senti uma estranha pontada de simpatia pela baixa do colega. Sem dúvida o biólogo tinha tentado argumentar com o linguista. Ou pelo menos foi o que disse a mim mesma. Talvez ele tivesse tentado matar o linguista. Mas este fora claramente seduzido pela Torre, pelas palavras do Rastejador. Acho que saber o significado das palavras de uma maneira tão íntima seria demais para qualquer um.
O topógrafo e meu marido voltaram para a Torre ao anoitecer. O motivo de tal decisão não transparece nas anotações do diário; começaram a aparecer interrupções que correspondiam à passagem de algumas horas, sem recapitulações. Mas, durante a noite, eles viram uma procissão sinistra se encaminhando para a Torre; sete dos oito membros da décima primeira expedição, incluindo doppelgängers de meu marido e do topógrafo. “E ali, diante de mim, estava eu mesmo. Andando tão empertigado, com uma expressão tão vazia no rosto, que era evidente que não era eu... e, no entanto, era eu. Uma espécie de choque nos deixou petrificados, o topógrafo e eu. Não tentamos detê-los. De algum modo parecia impossível tentar deter a nós mesmos — e, não vou mentir, nós estávamos aterrorizados. Não pudemos fazer nada senão ficar olhando até eles descerem. Por um momento, depois, tudo fez sentido para mim, tudo que tinha acontecido. Nós estávamos mortos. Éramos fantasmas vagando por uma paisagem assombrada, e embora não soubéssemos, pessoas viviam vidas normais, tudo estava como devia ser... mas não podíamos ver através do véu, da interferência.”
Aos poucos meu marido foi se livrando daquela impressão. Os dois esperaram escondidos entre as árvores próximas da Torre, por várias horas, para ver se os doppelgängers voltariam. Discutiram sobre o que fariam se isso acontecesse. O topógrafo queria matá-los. Meu marido queria interrogá-los. Ainda em estado de choque, nenhum dos dois deu muita atenção ao fato de que o psicólogo não estava naquele grupo. A certa altura, veio da Torre um som como o de um jato de vapor, e um feixe de luz foi projetado para o céu e depois interrompido abruptamente. Mas ninguém apareceu, e os dois acabaram voltando para o acampamento.
Foi nesse ponto que eles resolveram seguir caminhos diferentes. O topógrafo já tinha visto tudo que lhe interessava e queria ir para o ponto de extração, imediatamente. Meu marido se recusou porque suspeitava, a julgar pelo que lera nos diários, que “essa ideia de retornar pelos mesmos meios que entramos pode ser na verdade uma armadilha”. Meu marido, com o passar do tempo, não encontrou obstáculos ao caminhar para o norte, e “começara a suspeitar da própria existência da fronteira”, embora ainda não fosse capaz de sintetizar “a intensidade dessa sensação” em uma teoria coerente.
Mescladas a esse registro direto do que acontecera à expedição havia observações mais pessoais, a maior parte das quais reluto em transcrever aqui. Exceto por um trecho que se refere à Área X e, também, à nossa relação:
“Vendo tudo isso, vivenciando tudo, mesmo as partes ruins, eu gostaria que você estivesse aqui. Gostaria que tivéssemos nos voluntariado juntos. Eu teria entendido você melhor aqui, caminhando para o norte. Não precisaríamos falar nada, caso você não quisesse. Isso não teria me incomodado. De jeito nenhum. E nós não voltaríamos. Teríamos continuado caminhando até não haver mais para onde avançar.”
Lenta e dolorosamente, percebi o que estava lendo desde as primeiras palavras escritas no diário dele. Meu marido tinha uma personalidade que ia muito além do seu exterior extrovertido, e, se eu tivesse sido acessível o bastante para deixar que ele passasse pelas minhas defesas, poderia ter compreendido esse fato. Só que não fiz isso, é claro. Permiti que minhas defesas fossem vencidas por poços de maré e fungos que degradam plástico, mas não por ele. De todos os aspectos de seu diário, foi esse que mais me consumiu. Ele tinha criado boa parte dos nossos problemas — me pressionando demais, querendo muitas coisas, tentando ver em mim algo que não existia. Mas eu poderia ter avançado para encontrá-lo no meio do caminho, e mantido minha independência. E agora era tarde demais.
Suas observações pessoais incluíam muitas anotações aparentemente irrelevantes. Uma descrição, à margem da página, de um poço formado pela maré nas rochas da praia próxima ao farol. Uma observação detalhada de como um talha-mar, tendo colhido um peixe grande, tentou matá-lo batendo-o em um aglomerado de ostras na maré baixa. Ele também enfiara no diário algumas fotos do tal poço. E tinha colocado com muito cuidado algumas flores comprimidas, um delgado pericarpo e folhas pouco comuns. Meu marido não se importava com isso; a mera concentração para observar o comportamento do talha-mar e escrever uma página inteira de anotações teria exigido dele um esforço enorme. Eu sabia que esses elementos estavam ali apenas para mim. Não havia termos carinhosos, mas entendi isso como parte de seu comedimento. Ele sabia que eu detestava palavras como amor.
A última anotação, escrita quando ele retornou ao farol, dizia: “Vou seguir de novo ao longo da costa. Mas não a pé. Havia um barco no vilarejo em ruínas. Com o fundo de madeira arrebentado, meio apodrecido, mas há material suficiente no muro em volta do farol para remendá-lo. Vou remar ao longo da costa até não conseguir mais. Para a ilha, ou talvez para depois dela. Se um dia você chegar a ler isto, é para lá que eu vou. É lá que eu estarei.” Seria possível existir, mesmo no meio de todos esses ecossistemas transicionais, um mais transicional ainda — nos limites da influência da Torre, mas não ainda sob a influência da fronteira?
Depois de ler o diário, ficou em mim o conforto daquela imagem fundamental, recorrente, do meu marido se jogando ao mar em um barco restaurado por ele mesmo, cruzando a arrebentação das ondas e navegando nas águas calmas mais além. A imagem dele acompanhando a orla rumo ao norte, sozinho, buscando naquela experiência a lembrança de dias mais felizes, me deixou imensamente orgulhosa dele. Mostrava o quanto era resoluto. O quanto era valente. Aquilo me aproximou dele de uma maneira mais íntima do que qualquer outro momento que passamos juntos.
Em rápidos vislumbres, em pensamentos soltos, no tempo que sucedeu à leitura, pus-me a imaginar se ele ainda estaria mantendo um diário, ou se os olhos do golfinho que eu avistara tinham me parecido familiares não apenas por lembrarem olhos humanos. Mas logo afastei esse absurdo da mente; algumas perguntas podem nos destruir por dentro se a resposta nos for negada por tempo demais.
Meus ferimentos tinham se transformado em uma dor constante, mas suportável, toda vez que eu respirava. Não foi por coincidência que, quando caiu a noite, o brilho se expandiu pelos meus pulmões e pela minha garganta de novo, a ponto de eu o imaginar escapando pela boca como vapor. Estremeci ao pensar na coluna de fumaça que seria a psicóloga vista de longe, como um pedido de socorro. Não podia esperar pelo amanhecer, mesmo que aquela imagem fosse apenas a premonição de um futuro ainda remoto. Eu precisava voltar para a Torre naquele momento. Era o único lugar para onde poderia ir. Deixei para trás o rifle e todas as pistolas, menos uma. Larguei a faca e a mochila também, e prendi um cantil de água ao cinto. Peguei minha câmera, mas depois pensei melhor e a abandonei em cima de uma pedra a meio caminho da Torre. Esse impulso de registrar iria apenas me distrair, e fotografias não eram mais importantes do que amostras. Eu tinha décadas de diários esperando por mim no farol. Gerações inteiras de expedições que haviam se transformando em espectros antes de mim. A falta de propósito delas e a enorme pressão quase me abateram. O desperdício que fora aquilo tudo.
Eu trouxera uma lanterna, mas depois percebi que podia ver razoavelmente bem com a luminosidade verde que emanava do meu corpo. Caminhei com rapidez no escuro, pela trilha que conduzia à Torre. O céu negro sem nuvens, margeado pelas fileiras estreitas de pinheiros, refletia a imensidão do espaço. Nenhuma fronteira, nenhuma luz artificial para eclipsar aqueles milhares de pontinhos cintilantes. Eu era capaz de ver tudo. Quando criança, ficava olhando o céu noturno à procura de estrelas cadentes, como todo mundo. Quando adulta, sentada no telhado do meu chalé perto da baía, e depois, me aventurando pelo terreno baldio, não buscava mais as estrelas cadentes, mas sim as fixas, e tentava imaginar que formas de vida existiriam naqueles poços de maré celestiais, tão distantes de nós. As estrelas que eu via agora pareciam estranhas, espalhadas pelo céu em padrões caóticos, as mesmas que, na noite anterior, tinham me confortado com sua familiaridade. Será que somente agora eu as estava vendo com clareza? Será que eu estava mais longe de casa do que era capaz de imaginar? Tal pensamento não deveria estar produzindo em mim aquela sensação sombria de satisfação.
* * *
O pulsar do coração da Torre parecia vir de um lugar mais distante quando penetrei nela, com a máscara de gás firmemente presa ao nariz e à boca. Não sabia se estava impedindo uma contaminação maior ou apenas tentando represar meu brilho. A bioluminescência das palavras na parede estava mais intensa, e o brilho da minha pele exposta parecia responder à altura, iluminando meu caminho. Fora isso, não senti nenhuma diferença enquanto descia os primeiros andares. Se aquele trecho superior já me era familiar, esse sentimento era contrabalançado pelo fato preocupante de que era a minha primeira vez sozinha na Torre. A cada nova curva que aquelas paredes faziam descendo rumo à escuridão, atenuada apenas pela luz verde e granulosa, eu esperava cada vez mais que alguma coisa brotasse das sombras para me atacar. Sentia falta da topógrafa naqueles momentos e tive que reprimir a sensação de culpa. E, apesar da minha concentração, percebi que era atraída pelas palavras na parede, que mesmo enquanto tentava me concentrar nas profundezas escuras, aquelas palavras continuavam a me trazer de volta. Haverá no plantio nas sombras uma graça e uma mercê que farão brotar flores escuras, e seus dentes devorarão e sustentarão e anunciarão o encerramento de uma era...
Mais cedo do que esperava cheguei ao local onde tínhamos achado o corpo da antropóloga. Fiquei de certo modo surpresa de que ela ainda estivesse ali, cercada pelos destroços de sua passagem — farrapos de tecido, a mochila vazia, um par de frascos quebrados, sua cabeça formando uma silhueta irregular. Estava coberta por uma camada fervilhante de organismos pálidos que, quando me abaixei para olhar, percebi serem aqueles minúsculos parasitas com formato de mão que viviam entre as palavras da parede. Era impossível dizer se eles a estavam protegendo, modificando ou decompondo seu corpo — assim como eu não podia saber se alguma versão da antropóloga tinha aparecido para a topógrafa perto do acampamento, depois que parti para o farol...
Não me demorei ali; continuei descendo.
Agora a pulsação da Torre começou a ecoar e a ficar mais alta. As palavras na parede tinham uma aparência mais fresca, como se tivessem acabado de “secar” após serem escritas. Comecei a reparar em um zumbido por trás das pulsações, quase como o som produzido pela estática. O ar frio e cheio de mofo daquele espaço deu lugar a algo mais tropical e saturado. Percebi que estava suando. Mais importante que isso, notei que o rastro do Rastejador sob meus pés era mais recente, mais pegajoso, e comecei a caminhar rente à parede do lado direito para evitar pisar naquela substância. As paredes também tinham mudado, pois agora uma fina camada de musgo ou líquen as recobria. Eu não gostava de ter que apertar minhas costas de encontro àquilo para evitar a substância que cobria o chão, mas não tinha escolha.
Depois de cerca de duas horas de um avanço lento, o coração da Torre pulsava tão alto que parecia abalar a própria escadaria, e o zumbido ao fundo estava se fragmentando a ponto de crepitar. Meus ouvidos zuniam àquele som, meu corpo vibrava com ele, e eu encharcava minhas roupas de suor devido à umidade, o ar abafado quase me fazendo arrancar a máscara na ânsia de respirar. Mas resisti à tentação. Estava chegando perto. Sabia que estava... do quê, eu não fazia ideia.
As palavras na parede tinham sido escritas havia tão pouco tempo que pareciam escorrer, as criaturas em forma de mão eram menos numerosas e aquelas que se manifestavam tinham a forma de punhos cerrados, como se ainda não houvessem desabrochado. Aquilo que morre pode voltar a conhecer a vida na morte porque nem tudo que apodrece é esquecido, e ao se reanimar caminhará pelo mundo em um êxtase de ignorância...
Percorri a espiral de mais um lance de degraus e, quando cheguei ao curto trecho reto antes da próxima curva... vi luz. Os indícios de uma luz dourada e nítida que emanava de um lugar fora do meu campo de visão, escondido pela parede, e o brilho dentro de mim latejou e agitou-se ao vê-la. O zumbido se intensificou a tal ponto que eu fiquei tão tonta e sob tanta pressão que quase podia sentir o sangue me escorrendo pelos ouvidos. A batida mais profunda daquela pulsação ressoava pelo meu corpo inteiro. Eu não parecia mais uma pessoa, e sim uma estação receptora de uma série de transmissões avassaladoras. Eu podia sentir o brilho escorrendo da minha boca em um borrifo quase invisível, empacando no obstáculo que era a máscara; e eu a arranquei com um arquejo. Devolva àquele que lhe deu, foi o pensamento que brotou em mim, sem que eu soubesse o que eu podia estar alimentando ou o que aquilo significava para a coleção de células e de pensamentos que constituíam meu ser.
Entendam: eu não podia mais voltar, tanto quanto não podia recuar no tempo. Meu livre-arbítrio estava comprometido, no mínimo pela grave tentação do desconhecido. Abandonar aquele local, voltar à superfície, sem dobrar aquela curva... minha imaginação iria me atormentar para sempre. Naquele instante, convenci a mim mesma de que preferiria morrer sabendo... alguma coisa, qualquer coisa.
Cruzei o limiar. Penetrei na luz.
Certa noite, durante os meus últimos meses em Rock Bay, eu me senti extremamente inquieta. Isso foi depois que recebi a confirmação de que minha bolsa não seria renovada, e antes de ter qualquer perspectiva de um novo trabalho. Tinha trazido para casa outro estranho que eu conhecera no bar, para me distrair daquela situação, mas ele fora embora horas atrás. Sofria de uma insônia que não conseguia superar, e ainda estava bêbada. Foi estúpido e perigoso, mas resolvi entrar na minha caminhonete e dirigir até os poços de maré. Queria me aproximar sorrateiramente daquelas formas de vida ocultas e tentar de algum modo pegá-las de surpresa. Pus na cabeça que os poços tornavam-se algo diferente durante a noite, quando não havia ninguém olhando. Isso é o que acontece, talvez, quando você vem estudando algo há tanto tempo que é capaz de distinguir uma anêmona-do-mar de outra em um instante, pode reconhecer qualquer um dos moradores daqueles poços no meio de uma fila de suspeitos, caso ele tenha cometido um crime.
Assim, estacionei a caminhonete e desci a trilha sinuosa que conduzia até a praia arenosa, encontrando o caminho com o auxílio de uma minúscula lanterna que trazia pendurada no chaveiro. Chapinhei a água rasa e subi em uma das pedras. Estava mesmo querendo me libertar. Minha vida inteira as pessoas me diziam que eu era excessivamente controlada, mas esse nunca foi o caso. Eu nunca estive de fato no controle, nunca quis o controle.
Naquela noite, embora eu tivesse inventado uns mil motivos para jogar a culpa nos outros, sabia que eu tinha estragado tudo. Não tinha mandado os relatórios. Não havia mantido o foco do trabalho. Registrava dados excêntricos sobre assuntos irrelevantes. Nada que pudesse deixar satisfeita a organização que tinha me concedido a bolsa. Eu me tornara a rainha dos poços de maré, e minha palavra era lei, e o que eu relatava era o que eu queria relatar. Tinha me desviado do objetivo, como sempre, porque me misturava com o ambiente à minha volta, não conseguia ficar separada de, distante de; a objetividade era um conceito estranho para mim.
Fui caminhando de poço em poço, com minha lanterninha patética, perdendo o equilíbrio meia dúzia de vezes e quase caindo. Se houvesse alguém me observando — e quem sabe se não havia? — teria visto uma bióloga meio bêbada, irresponsável, praguejando, que tinha perdido toda a perspectiva, que estava ali no meio do nada pelo segundo ano seguido e, se sentindo vulnerável e sozinha, mesmo tendo prometido a si mesma que jamais iria se sentir sozinha. As coisas que tinha dito e feito e que a sociedade definia como antissociais ou egoístas. Procurando algo nos poços de maré naquela noite, mesmo quando o que ela achara durante o dia já era mais do que um milagre. Ela poderia até estar gritando, berrando, rodopiando em cima daquelas rochas escorregadias como se as melhores botas do mundo não pudessem falhar de repente, derrubá-la nas rochas para rachar a cabeça, deixá-la com a testa cheia de lapas, cracas e sangue.
Mas o fato é que, mesmo não merecendo... Eu merecia? Estava mesmo somente à procura de algo familiar?... Encontrei algo miraculoso, algo que se revelou sob sua própria luz. Percebi uma promessa de revelação — cintilante, ondeante —, emanando de um dos poços maiores, e isso me fez parar. Eu precisava mesmo de um sinal? Precisava mesmo descobrir alguma coisa, ou apenas pensava que sim? Bem, decidi que necessitava, de fato, fazer uma descoberta, porque caminhei naquela direção, repentinamente sóbria o bastante para ir pisando com cuidado, para me deslocar arrastando os pés e não acabar rachando o crânio antes de ver o que havia dentro daquele poço.
O que encontrei quando finalmente cheguei lá, apoiando as mãos nos joelhos dobrados para espiar dentro do poço, foi uma espécie rara e colossal de estrela-do-mar, com seis braços, maior do que uma caçarola, que emanava uma luz dourada na água tranquila, como se estivesse pegando fogo. A maior parte dos biólogos deixa de lado seu nome científico e a chama de “destruidora de mundos”. Era coberta de grossos espinhos, e ao longo de suas bordas eu podia ver, franjados de verde-esmeralda, cílios delicados e transparentes, milhares deles, impulsionando-a ao longo de sua rota enquanto ela buscava sua presa: uma estrela-do-mar bem menor. Eu nunca vira uma destruidora de mundos antes, nem em um aquário, e foi algo tão inesperado que me esqueci da rocha escorregadia e quase caí, mas consegui me segurar esticando o braço e me amparando na borda do poço.
Mas quanto mais eu ficava olhando, menos compreensível a criatura se tornava. E quanto mais ela parecia um ser alienígena para mim, a sensação de que não entendia nada — sobre a natureza, sobre os ecossistemas — só fazia crescer. Havia algo em meu estado de espírito sombrio que eclipsava a razão, que me fazia ver aquele animal, que sem dúvida possuía uma posição na taxonomia — catalogada, estudada e descrita —, como algo irredutível a esse sistema. E se eu continuasse olhando, sabia que a partir de um certo ponto teria que admitir que sabia menos do que nada sobre mim mesma, fosse isso verdade ou não.
Quando finalmente consegui despregar meus olhos da estrela-do-mar e me levantei, não era capaz de dizer onde o céu e o mar se encontravam, ou se eu estava de frente para o oceano ou para a areia da praia. Fiquei à deriva, deslocada, e tudo que tinha para me orientar naquele instante era aquele farol reluzente ali embaixo.
Virar aquela curva na escadaria e encontrar o Rastejador pela primeira vez foi uma experiência semelhante àquela, só que mil vezes mais poderosa. Se em cima daquelas rochas, tantos anos atrás, não consegui distinguir entre o oceano e a praia, ali não distinguia entre as escadas e o teto, e mesmo quando cambaleei e me firmei apoiando um braço na parede, a superfície pareceu ceder ao meu toque, e tive que fazer um esforço para não cair através dela.
Ali, nas profundezas da Torre, eu não consegui compreender o que era aquilo que eu estava vendo, e mesmo agora tenho que fazer um esforço enorme para montar os fragmentos. É difícil dizer quais lacunas minha mente está preenchendo só para remover o peso de tantas coisas desconhecidas.
Falei que tinha visto uma luz dourada? Assim que passei por aquela curva, a luz não era mais dourada, e sim azul-esverdeada, e essa luz azul-esverdeada não se parecia com nada que eu já tivesse vivenciado antes. Ela se encapelava, ofuscante, sangrante e espessa, dividida em camadas e absorvente. Ultrapassava a tal ponto minha capacidade de compreender suas formas que eu mesma me forcei a deixar de lado a visão para registrar primeiro as impressões que recebia pelos outros sentidos.
O som que eu ouvia era como um crescendo de gelo ou de cristais se estilhaçando para produzir a melodia sobrenatural que eu antes tinha erradamente interpretado como um zumbido, e que passou a reproduzir um ritmo intenso que se apossou do meu cérebro. Vagamente, de algum lugar muito distante, me veio a certeza de que as palavras na parede estavam também impregnadas de som, mas que antes eu não tinha sido capaz de percebê-lo. A vibração tinha textura e peso, e com ela veio um cheiro de queimado, como o de folhas do fim do outono e como um motor imenso e distante próximo do superaquecimento. O gosto que eu sentia na boca era de salmoura ardente.
Palavras não podem... nenhuma foto poderia...
Enquanto eu me acostumava àquela claridade, o Rastejador mudava de forma com a velocidade da luz, como se zombando da minha capacidade de compreendê-lo. Era uma imagem por trás de uma série de lâminas de vidro refrator. Eram várias camadas em forma de arcada. Era um imenso monstro em forma de lesma orbitado por criaturas ainda mais bizarras. Era uma estrela cintilante. Meus olhos ficavam a todo instante desviando dele, como se um nervo óptico não fosse suficiente.
Então ele se tornou uma indescritível enormidade em minha visão maltratada, parecendo erguer-se mais e mais enquanto se aproximava de mim. Sua forma se expandiu até que ocupou mesmo os lugares onde não estava, ou onde não deveria estar. Parecia agora uma espécie de obstáculo, ou muralha, ou uma pesada porta cerrada bloqueando a escada. Não uma muralha de luz — dourada, azul, verde, existindo em outro tipo de espectro —, mas uma muralha de carne que parecia luz, com elementos nítidos e recurvos em seu interior e texturas como as do gelo formado em água corrente. E a impressão de seres vivos flutuando preguiçosamente no ar à minha volta, como pequenos girinos, mas nos limites da minha visão, de modo que eu não podia saber se era algo semelhante àqueles pontos flutuantes que são ilusões de ótica, que na verdade não existem.
No interior daquela massa despedaçada, no meio de tantas diferentes impressões do Rastejador — meio cega, mas ainda conseguindo me orientar com o auxílio dos meus outros sentidos —, pensei ter visto a sombra escura de um braço, ou uma espécie de eco de um braço, executando um movimento repetitivo e desfocado, produzindo sobre a parede à minha esquerda uma superposição de profundidade e de símbolos que tornavam seu avanço trabalhosamente lento: sua mensagem, seu código de mudança, suas recalibragens e seus ajustes, suas transformações. E, talvez, outra sombra escura, com a vaga silhueta de uma cabeça, acima do braço — mas tão indistinta quanto se eu estivesse nadando em águas turvas e visse a distância uma forma através de uma floresta densa de algas.
Nesse momento tentei recuar, tentei voltar para a superfície. Mas não pude. Fosse porque o Rastejador tinha me capturado ou porque minha mente me traíra, não consegui me mover.
O Rastejador mudava de forma, ou talvez fosse eu que estivesse desmaiando várias vezes e depois recobrando a consciência. Em um momento parecia que não existia nada ali, absolutamente nada, como se as palavras tivessem sido escritas sozinhas, e então o Rastejador surgia novamente, para em seguida sumir de novo, e só o que permanecia constante ao longo desse processo era a impressão de estar vendo um braço e as palavras sendo traçadas.
O que fazer quando os cinco sentidos que temos não bastam? Porque a verdade é que eu não podia ver aquilo de verdade, não mais do que tinha observado ao microscópio, e era isso o que mais me amedrontava. Por que eu não conseguia vê-lo? Na minha mente, eu estava inclinada sobre a estrela-do-mar em Rock Bay, e ela crescia e crescia até que ocupava não só o poço de maré, mas o mundo inteiro, e eu estava cambaleando acima da superfície luminosa e áspera, erguendo os olhos para o céu estrelado novamente, enquanto a luz dela fluía para o alto através de mim.
Sentindo a tremenda pressão daquela luz, como se todo o peso da Área X estivesse concentrado ali, mudei de tática, tentei focar minha atenção apenas na produção das palavras na parede, naquela impressão de uma cabeça, ou de um capacete, ou... do quê?... um pouco acima do braço. Uma cascata de fagulhas que eu sabia serem organismos vivos. Uma palavra nova escrita na parede. E eu ainda estava cega, e o brilho encolhido dentro de mim, reverente, como se estivéssemos em uma catedral.
A enormidade daquela experiência juntou-se ao pulsar do coração e ao crescendo do som daquela escrita incessante para me preencher por completo. Aquele momento, que eu talvez tivesse esperado durante toda minha vida, sem saber — o momento do encontro com a coisa mais bela, a coisa mais terrível que eu viria a vivenciar —, era algo além de minha capacidade de compreensão. Que equipamento inadequado eu tinha trazido comigo, e que nome inadequado eu havia escolhido para ele — para o Rastejador. O tempo foi se estendendo, e não era mais nada senão o combustível para as palavras que aquela coisa criava na parede havia sabe-se lá quantos anos e com sabe-se lá que intenção.
Não sei por quanto tempo fiquei parada naquele limiar, contemplando o Rastejador, paralisada. Eu poderia ficar olhando por toda a eternidade sem perceber o terrível passar dos anos.
Mas então, o quê?
O que acontece após a revelação e a paralisia?
A morte, ou então um despertar vagaroso. Uma volta ao mundo físico. Não é que eu tivesse me acostumado à presença do Rastejador, mas atingi um ponto — um único momento infinitesimal — em que novamente reconheci que o Rastejador era um organismo. Um organismo complexo, único, intrincado, assombroso e perigoso. Ele talvez fosse inexplicável. Talvez estivesse além da possibilidade de ser captado pelos meus sentidos — ou pela minha ciência ou pelo meu intelecto —, mas eu ainda julgava estar na presença de um tipo de criatura viva, um animal que mudava de forma de acordo com meus pensamentos. Porque mesmo então eu acreditava que ele poderia estar extraindo de minha mente todas aquelas diferentes impressões a seu respeito e projetando-as de volta, como uma espécie de camuflagem. Para sobrepujar a bióloga em mim, para frustrar a lógica que me restava.
Com um esforço que pude sentir na resistência dos meus membros, na deslocação dos meus ossos, eu consegui dar as costas ao Rastejador.
Esse simples gesto, de um afastamento tão dilacerante, representou um imenso alívio quando encostei meu corpo na parede oposta, naquela superfície fria e áspera. Fechei os olhos — para que precisava da visão, quando ela não fazia outra coisa senão me enganar? — e comecei a andar de volta, arrastando os pés, ainda sentindo aquela luz às minhas costas. Sentindo a música que vinha das palavras. A pistola, que eu esquecera totalmente, pensava em meu quadril. Naquele momento, a mera ideia de uma arma de fogo me parecia tão patética e inútil quanto a palavra amostra. Ambas implicavam um objetivo. E que objetivo havia ali?
Eu tinha dado apenas um ou dois passos quando senti aumentar o calor, a sensação de peso e umidade à minha volta, como se aquela luz espessa estivesse se transformando em um mar. Achei que fosse escapar dali, mas não era verdade. Ao dar mais um passo comecei a sufocar, e percebi que a luz tinha efetivamente se transformado em mar.
De alguma maneira, mesmo não estando propriamente embaixo d’água, eu estava me afogando.
O desespero que tomou conta de mim foi como o pânico cego de uma criança que caiu em um chafariz e descobriu, pela primeira vez, enquanto seus pulmões se enchiam de água, que podia morrer. Aquilo não tinha fim, e não havia como evitar. Eu estava submersa em um oceano azul-esverdeado cintilante. E me afogava e me debatia, até que alguma parte de mim percebeu que eu ficaria me afogando eternamente. Eu me imaginei rolando do alto das rochas, caindo, sendo golpeada pela arrebentação. Vindo dar à praia a milhares de quilômetros de onde estava, irreconhecível, sob uma nova forma, mas ainda mantendo a lembrança terrível daquele momento.
Então tive a impressão da presença de centenas de olhos às minhas costas, todos voltados para mim, observando-me. Eu era uma criaturinha em uma piscina sendo observada por uma garotinha monstruosa. Eu era um rato em um terreno baldio sendo perseguido por uma raposa. Eu era a presa que a estrela-do-mar tinha alcançado e puxado para dentro do poço de maré.
Em algum compartimento à prova d’água, meu brilho me dizia que eu tinha que reconhecer que não sobreviveria àquele momento. Eu queria viver — queria mesmo. Mas não podia mais. Não podia nem mais respirar. Então abri a boca e aceitei a água, aceitei a torrente. Só que não era água de verdade. E os olhos me observando não eram olhos, e eu estava presa ali pelo Rastejador, tinha permitido sua vinda, só então percebi, de modo que possuía sua atenção integral e não podia me mover, não podia pensar, estava indefesa e sozinha.
Uma cachoeira desabou rugindo dentro da minha mente, mas sua água era feita de dedos, uma centena de dedos, examinando e apertando a pele da minha nuca, pressionando os ossos da base do meu crânio até invadir minha mente... e então a pressão diminuiu, embora a sensação de uma força ilimitada não tenha se atenuado, e, por um instante, ainda me afogando, uma calma gélida tomou conta de mim, e através dessa calma escapou uma espécie de luz azul-esverdeada monumental. Senti um cheiro de queimado dentro da minha cabeça e houve um momento, quando gritei, que meu crânio foi esmagado, pulverizado e reconstituído pedacinho por pedacinho.
Haverá um fogo que sabe o seu nome, e na presença do fruto asfixiante a chama escura tomará cada uma das suas partes.
Era a maior agonia que eu já havia experimentado, como se uma vara de metal fosse espetada em mim repetidamente, e a minha dor se distribuísse como uma segunda pele pelo corpo. Tudo ficou contaminado de vermelho. Eu desmaiava, eu recobrava os sentidos. Eu desmaiava, recobrava os sentidos, desmaiava, perpetuamente arquejando em busca de ar, com os joelhos cedendo, arrastando os dedos na parede em busca de apoio. Minha boca se escancarou tanto com meu grito que alguma coisa estalou na mandíbula. Acho que parei de respirar por um minuto, mas o brilho dentro de mim não parou de trabalhar. Continuou oxigenando meu sangue.
Então aquela invasão terrível cessou, largou-me e se foi, e com ela a sensação de afogamento e aquele oceano espesso que estava me envolvendo. Senti um empurrão e fui atirada para um lado, para os degraus abaixo de onde o Rastejador estava. Ali fiquei jogada, cheia de escoriações. Sem nada para me amparar, caí como um saco, desmoronei diante de uma coisa que não era para existir, não era para ter me invadido. Inalei o ar, estremecendo toda, em grandes arrancos.
Mas eu não podia ficar ali, ainda sob o olhar dele. Não tinha escolha agora. Com a garganta esfolada e o corpo destruído, eu rolei pela escada rumo àquela escuridão mais densa abaixo do Rastejador, primeiro arrastando-me de quatro, tentando escapar às cegas, arrebatada por um impulso de ficar fora do seu raio de visão.
Somente quando a luz atrás de mim desapareceu gradualmente, somente quando me senti segura, desabei no chão. Fiquei caída ali por um longo tempo. Aparentemente, eu agora podia ser reconhecida pelo Rastejador. Aparentemente, eu era palavras que ele conseguia entender, diferentemente da antropóloga. Será que as minhas células poderiam esconder de mim a sua transformação durante muito tempo? Será que aquilo era o começo do fim? Mas na maior parte do tempo senti o imenso alívio de ter vencido um desafio, ainda que por pouco. O brilho dentro de mim estava encolhido, traumatizado.
* * *
Talvez minha única especialidade, meu único talento, seja a capacidade de suportar além do suportável. Não sei quando fui capaz de me erguer outra vez, de continuar, com as pernas bambas. Não sei quanto tempo levou, mas consegui ficar de pé.
Logo a escada em espiral tornou-se reta, e com isso aquela umidade sufocante se atenuou e as criaturas minúsculas que viviam na parede sumiram, e os sons do Rastejador lá em cima ficaram mais abafados. Embora eu pudesse ver os resíduos de escritas antigas na parede, até a minha própria luminescência tornou-se mais mortiça ali. Eu observava com cautela aquele traçado de palavras, como se de algum modo elas pudessem me fazer tão mal quanto o Rastejador, e mesmo assim havia um certo consolo em acompanhá-las ao caminhar. Ali as variações eram mais legíveis e faziam mais sentido aos meus olhos. E aquilo veio por mim. E afastou todo o resto. Reescritas de novo e de novo. As palavras eram mais óbvias, ali embaixo, ou era eu que agora tinha mais conhecimento?
Não pude deixar de notar que aqueles novos degraus tinham quase a mesma largura e altura dos degraus do farol. Acima de mim, a superfície lisa do teto tinha se modificado, e agora estava cortada por uma profusão de riscos profundos e curvos, entrecruzados.
Parei para beber água. Parei para respirar. As ondas de choque do meu encontro com o Rastejador ainda me açoitavam, sacudindo meu corpo. Quando prossegui, foi com uma espécie de consciência embotada de que ainda poderia haver outras revelações para absorver, e eu precisava me preparar. Fosse como fosse.
Alguns minutos depois, um pequeno feixe retangular de luz branca e difusa começou a tomar forma, lá embaixo. À medida que eu descia, ele foi ficando maior com uma relutância que eu só podia associar a hesitação. Depois de mais meia hora, imaginei que poderia ser uma espécie de porta, mas o aspecto difuso permanecia, quase como se ela estivesse tentando ocultar a si própria.
Quanto mais perto eu chegava, e com ela ainda distante, mais aumentava minha certeza de que aquela porta tinha uma estranha semelhança com o que eu vira ao olhar para trás depois de cruzar a fronteira, no início de nossa jornada rumo ao acampamento. A própria imprecisão da imagem causava essa reação, porque era um tipo específico de imprecisão.
Na meia hora seguinte, comecei a sentir uma necessidade instintiva de voltar, e só consegui reprimi-la dizendo a mim mesma que ainda não podia encarar o caminho de volta e o Rastejador. Mas os riscos no teto eram dolorosos de ver, como se estivessem gravados no exterior do meu próprio crânio, e estivessem sendo refeitos continuamente ali. Tinham se tornado linhas de uma espécie de força de repulsão. Uma hora depois, quando aquele bruxuleante retângulo branco tornou-se maior, porém não mais nítido, eu fui invadida por um sentimento tão forte de algo errado que fiquei com náuseas. A ideia de uma armadilha foi ganhando corpo em minha mente, a ideia de que aquela luz flutuando na escuridão não era uma porta absolutamente, mas a bocarra de algum monstro, e que se eu atravessasse para o outro lado seria devorada.
Finalmente me detive. As palavras continuavam, incessantes, sempre para baixo, e, pelos meus cálculos, a porta não estava a mais de quinhentos ou seiscentos degraus abaixo do ponto onde eu me encontrava. Ela resplandecia aos meus olhos; eu podia sentir um ardor em minha pele, como se estivesse sendo queimada pelo sol apenas por olhar naquela direção. Queria continuar, mas não podia. Não podia obrigar minhas pernas a fazê-lo, não podia forçar minha mente a superar o medo e o desconforto. Mesmo a ausência temporária do meu brilho, como se estivesse se escondendo, me aconselhava a não avançar.
Sentei em um degrau e fiquei ali, observando a porta por algum tempo. Minha preocupação era que aquela sensação fosse uma compulsão hipnótica residual; que, mesmo depois de morta, a psicóloga tivesse encontrado um modo de me manipular. Talvez eu tivesse sido submetida a alguma ordem ou diretriz codificada que minha infecção não fora capaz de evitar ou anular. Será que eu estava nos estágios finais de uma forma prolongada de aniquilação?
Porém, o motivo daquilo não tinha importância. Eu sabia que nunca alcançaria aquela porta. Ficaria tão enfraquecida que não conseguiria me mexer, e nunca teria condições de voltar à superfície com meus olhos cortados e cegos por aqueles sulcos no teto. Ficaria presa naqueles degraus, como a antropóloga, e seria um fracasso tão grande quanto ela e a psicóloga tinham sido, deixando de reconhecer o impossível. Assim, dei meia-volta, e, entre muitas dores, comecei a subir de volta aqueles degraus, com a imagem daquela porta de luz difusa tão gigantesca em minha mente quanto a imensidão do Rastejador.
Lembro-me de ter tido, naquele momento em que me virei, a sensação de que algo estava me espreitando da porta distante, mas quando olhei para trás vi somente aquela luz branca e bruxuleante.
* * *
Gostaria de poder dizer que o restante da jornada foi um borrão, como se eu fosse de fato a chama que a psicóloga tinha avistado e visse tudo através do meu próprio fogo. Gostaria que o que veio em seguida tivesse sido apenas a superfície e a luz do sol. Mas, embora eu merecesse que tudo aquilo acabasse... não tinha acabado ainda.
Lembro-me de cada passo doloroso e amedrontado ao subir a escada, de cada momento. Lembro-me de ter parado antes de entrar na curva onde sabia que o Rastejador estava, ainda concentrado e incompreensível na sua tarefa. Insegura, sem saber se suportaria aquela escavação da minha mente outra vez. Sem saber se enlouqueceria com a sensação de afogamento, por mais que a razão me dissesse que tudo era ilusório. Mas sabendo também que quanto mais fraca eu ficasse, mais minha mente seria capaz de me trair. Em breve acharia mais fácil recuar para dentro das sombras e me transformar em alguma espécie de concha vazia habitando os degraus lá embaixo. Talvez eu nunca mais pudesse reunir a força e a resolução para enfrentar aquilo.
Deixei para trás Rock Bay e a estrela-do-mar dentro do poço. Em vez disso, pensei no diário de meu marido. Pensei nele em um barco, em algum lugar rumo ao norte. Pensei em tudo que me esperava lá em cima, e em como não havia nada ali embaixo.
E, assim, me encostei à parede outra vez. Assim, fechei os olhos novamente. Assim, suportei mais uma vez a luz, me encolhi e gemi, esperando o mar invadir a minha boca, e minha cabeça ser rachada... mas nada daquilo aconteceu. Nada. E não sabia por quê. A não ser que, tendo me escaneado e recolhido amostras de mim, e, baseado em algum critério desconhecido, me liberado uma vez, o Rastejador não manifestasse mais nenhum interesse por mim.
Eu estava acima dele, já quase fora de vista, entrando na curva, quando alguma parte teimosa de minha mente insistiu em arriscar uma única olhadela para trás. Um último olhar imprudente e desafiador na direção de algo que eu talvez nunca compreendesse.
No meio da profusão de seres gerada pelo Rastejador, percebi que olhos me fitavam. Havia ali o rosto de um homem, envolto em sombras e cercado de coisas indescritíveis que só posso interpretar como seus carcereiros.
Sua expressão exibia uma intensidade de emoção tão despojada e complexa que me paralisou. Vi naquelas feições a resignação diante de dor e tristeza infinitas, sim, mas através dela reluzia uma espécie de sombria satisfação e de êxtase. Eu nunca vira antes uma expressão como aquela, mas o rosto eu reconhecia bem. Já o vira em uma fotografia. Olhos penetrantes como os de uma águia brilhavam em um rosto bruto, e o olho esquerdo, semicerrado, mal podia ser visto. Uma barba espessa cobria seu rosto, dificultando entrever o queixo firme por baixo dela.
Preso dentro do Rastejador, o último faroleiro me fitava, ao que parece, não apenas através de um abismo vasto e intransponível, mas também através dos anos. Porque, embora mais magro — com os olhos afundados nas órbitas e a mandíbula mais pronunciada —, o faroleiro não tinha envelhecido um dia sequer desde que aquela foto havia sido tirada, mais de trinta anos atrás. Aquele homem existia agora em um lugar que nenhum de nós seria capaz de compreender.
Ele saberia o que tinha se tornado ou há muito já teria enlouquecido? Seria mesmo capaz de me ver?
Não sei há quanto tempo ele estava me olhando, me observando, antes que eu virasse e o avistasse ali. Ou se ele sequer existia antes de eu tê-lo visto. Mas ele era real para mim e, embora eu o tenha encarado por um tempo curto, curto demais, não sei se alguma coisa foi comunicada entre nós. Quanto tempo teria sido necessário? Não havia nada que eu pudesse fazer por ele, e eu não tinha espaço para pensar em outra coisa que não fosse minha própria sobrevivência.
Deve haver coisas piores do que morrer afogado. Não sei o que ele tinha perdido ou o que poderia ter ganhado ao longo dos últimos trinta anos, mas não invejei nem um pouco seu destino.
Nunca sonhei antes de ir para a Área X, ou pelo menos nunca recordei os meus sonhos. Meu marido achava isso estranho e me disse uma vez que talvez essa peculiaridade significasse que eu vivia em um estado permanente de sonho, do qual nunca despertava. Talvez tenha falado isso de brincadeira, talvez não. Afinal de contas, ele passou anos assombrado por um pesadelo, foi moldado por ele, até que tudo aquilo desmoronou ao seu redor, revelando-se uma mera fachada. Uma casa e um porão e os crimes terríveis que aconteceram ali.
Mas eu tivera um dia difícil no trabalho, e levei a sério o que ele disse. Especialmente porque foi na última semana antes de ele partir para a expedição.
— Todos nós vivemos em uma espécie de sonho contínuo — retruquei. — Quando acordamos, é porque alguma coisa, algum acontecimento, uma alfinetada que seja, perturbou as bordas daquilo que chamamos de realidade.
— Então eu sou um alfinete perturbando as bordas da sua realidade, ave fantasma? — perguntou ele, e desta vez percebi uma certa exasperação na sua atitude.
— Ah, então está aberta a temporada de caça à ave fantasma novamente? — perguntei, erguendo a sobrancelha.
Não me sentia muito descontraída. Estava meio enjoada, mas era importante manter uma aparência normal diante dele. Quando ele voltou mais tarde, e vi o que podia ser o “normal”, desejei ter sido anormal, desejei ter gritado, ter feito qualquer coisa, menos ter reagido de maneira banal.
— Talvez eu seja um produto da sua realidade — disse ele. — Talvez eu só exista para reagir aos seus estímulos.
— Então você está fracassando de maneira espantosa — repliquei, enquanto ia à cozinha pegar um copo de água.
Ele já estava na segunda taça de vinho.
— Ou então estou obtendo um sucesso espantoso, porque você deseja que eu fracasse — disse ele, mas com um sorriso.
Ele se aproximou pelas minhas costas para me abraçar. Tinha antebraços grossos e um tórax largo. Suas mãos eram irremediavelmente masculinas, como as de alguém que deveria morar em uma caverna, ridiculamente fortes, e de grande valia quando estava velejando. Estava impregnado do cheiro de plástico de Band-Aids, como se fosse uma colônia especialmente untuosa. Ele todo era um enorme Band-Aid, aplicado diretamente na ferida.
— Ave fantasma, onde estaria você, se não estivéssemos juntos? — perguntou.
Eu não tinha resposta para isso. Não aqui. Não ali, também. Talvez em lugar nenhum.
E depois:
— Ave fantasma?
— Sim? — respondi, já resignada àquele apelido.
— Ave fantasma, estou com medo — disse ele. — Estou com medo e quero lhe fazer um pedido egoísta. Uma coisa que não tenho o direito de pedir.
— Peça assim mesmo.
Eu ainda estava zangada, mas naqueles últimos dias tinha me reconciliado com a perda, tinha conseguido encerrá-la em um compartimento, de maneira que não interferisse no meu afeto por ele. Havia uma parte de mim, também, que se revoltava com a minha perda sistemática de pesquisas de campo e invejava a oportunidade que ele estava tendo. Que se envaidecia do meu terreno baldio porque era só meu e de mais ninguém.
— Você irá à minha procura, caso eu não volte? Se for possível?
— Você vai voltar — disse a ele.
E vai estar sentado aí mesmo, como um robô, esvaziado de tudo que eu conhecia em você.
Como eu desejo, além de toda razão, que tivesse respondido ao pedido dele, mesmo que fosse para dizer não! E como desejo agora — mesmo que sempre tenha sido impossível — que, no final, eu tivesse ido para a Área X por causa dele.
Uma piscina. Uma praia rochosa. Um terreno baldio. Uma torre. Um farol. Essas coisas são e não são reais. Existem e não existem. Eu as refaço em minha mente com cada novo pensamento, cada detalhe que é recordado, e a cada vez elas são ligeiramente diferentes. Às vezes são camuflagens ou disfarces. Outras, algo mais fiel.
Quando cheguei finalmente à superfície, deitei-me de barriga para cima no topo da Torre, exausta demais para me mover, sorrindo pelo mero e inesperado prazer do calor do sol da manhã sobre as minhas pálpebras. Estava continuamente reimaginando o mundo, com o faroleiro colonizando meus pensamentos. Puxei mais de uma vez a foto que tinha guardado no bolso, olhando para o rosto dele, como se ele tivesse em mãos alguma resposta que eu não fora capaz até então de alcançar.
Queria — precisava — saber que o tinha visto de fato, que era ele e não alguma aparição invocada pelo Rastejador, e eu me apegava a qualquer coisa que me ajudasse a acreditar naquilo. O que mais me convencia não era a foto — era a amostra que a antropóloga tinha recolhido da borda do Rastejador, a amostra que eu verificara ser de tecido cerebral humano.
Assim, com isso me servindo de âncora, comecei a construir uma narrativa para o faroleiro, da melhor maneira que pude, durante o tempo em que levantei dali e mais uma vez parti de volta para o acampamento. Era difícil, porque eu não sabia absolutamente nada sobre a vida dele, não tinha nenhum daqueles indicadores que poderiam me ajudar a imaginá-lo. Tinha apenas a foto e aquele terrível vislumbre dele dentro da Torre. Tudo que eu conseguia pensar era que aquele homem tinha tido uma vida normal, talvez, mas nenhum daqueles rituais familiares que definem o “normal” tinha tido permanência — ou o tinha ajudado. Ele fora arrebatado por uma tempestade que ainda não amainara. Talvez até a tivesse visto chegando, do alto do seu farol, o Evento aproximando-se como uma espécie de onda.
E o que tinha se manifestado ali? O que eu acreditava ter sido essa manifestação? Pense nela como um espinho, talvez, um espinho longo e grosso e tão grande que estava encravado naquela parte do mundo. Injetando a si mesmo neste mundo. Desse espinho gigantesco emana uma necessidade interminável, talvez automática, de assimilar e de imitar. O assimilador e o assimilado interagem através de um catalisador que é um roteiro de palavras, que fornece energia aos poderes de transformação. Talvez seja uma criatura vivendo em perfeita simbiose com o hospedeiro de outras criaturas. Talvez seja “meramente” uma máquina. Mas, em qualquer hipótese, se ela possui inteligência, essa inteligência é muito diferente da nossa. Ela cria a partir do nosso ecossistema um mundo novo, cujos processos e objetos nos são absolutamente estranhos — um mundo que funciona por meio de ações radicais de espelhamento, e permanece oculto de tantas outras maneiras, sempre sem entregar os fundamentos de sua alteridade quando se torna aquilo com que se defronta.
Não sei como esse espinho chegou aqui, nem de que distância, mas, por sorte, destino ou plano, ele em certo momento encontrou o faroleiro e não o deixou escapar. Quanto tempo ele durou enquanto era reconstruído, tinha suas funções redefinidas, é um mistério. Não havia ninguém para observar, para testemunhar — até que, trinta anos depois, uma bióloga o vislumbra e começa a especular no que ele teria se transformado. Catalisador. Fagulha. Motor. O grão de areia que forma a pérola? Ou apenas um passageiro involuntário?
E depois que seu destino foi determinado... imagine as expedições — doze, ou cinquenta, ou uma centena, não importa — que começaram a entrar em contato com essa entidade ou entidades, que começaram a se transformar em matéria-prima e a serem refeitas. Essas expedições que vieram até aqui através de uma porta de entrada oculta em algum ponto de uma fronteira misteriosa, uma porta de entrada que é (ou talvez seja) reproduzida no fundo das profundezas da Torre. Imagine essas expedições, e reconheça que todas elas ainda existem na Área X sob alguma forma, mesmo aquelas que conseguiram retornar, especialmente as que conseguiram retornar: dispostas em camadas umas sobre as outras, comunicando-se de alguma forma que lhes restou. Imagine que essa comunicação às vezes confere um senso de estranheza à paisagem devido ao narcisismo de nosso olhar humano, mas que isso é apenas uma parte do mundo natural aqui. Talvez eu nunca saiba o que desencadeou a criação dos doppelgängers, mas isso pode não ter importância.
Imagine, também, que enquanto a Torre cria e recria o mundo no interior da fronteira, ela também manda devagar seus emissários através dessa fronteira, em quantidades cada vez maiores, de modo que em jardins abandonados e em campos sem cultivo esses emissários principiam a executar seu trabalho. Como ele viaja e de que distância vem? Que estranha matéria ele mistura e recombina? Em algum momento futuro, essa infiltração vai atingir até mesmo uma certa camada remota de rocha costeira, e germinar mansamente naqueles poços de maré que conheço tão bem... A menos, é claro, que eu esteja errada em minha conjetura de que a Área X está se erguendo do seu sono, mudando, tornando-se diferente do que era antes.
A coisa mais terrível, o pensamento que não consigo expulsar depois de tudo que vi, é que não posso mais dizer com convicção que isso seja ruim. Não quando olho a natureza intocada da Área X e depois o mundo lá fora, que nós modificamos tanto. Antes de morrer, a psicóloga disse que eu tinha mudado, e acho que ela quis dizer que eu tinha mudado de lado. Não é verdade — não sei nem sequer se existem lados, ou o que pode significar isso —, mas poderia ser verdade. Agora sei que posso ser persuadida. Uma pessoa religiosa ou supersticiosa, alguém que acredite em anjos e demônios, pode ver isso de um modo diferente. Praticamente qualquer outra pessoa pode ver de um modo diferente. Mas eu não sou uma dessas pessoas. Sou apenas a bióloga; não sinto necessidade de que nada disso tenha um sentido mais profundo.
Tenho consciência de que toda esta especulação é incompleta, inexata, imprecisa, inútil. Se não tenho respostas verdadeiras é porque ainda não sabemos que perguntas devemos fazer. Nossos instrumentos são inúteis; nossa metodologia, defeituosa; nossas motivações, egoístas.
Não me resta muito a dizer, embora eu não tenha contado tudo direito. Mas chega de tentar. Depois que deixei a Torre, passei brevemente pelo acampamento, então vim para cá, para o topo do farol. Passei quatro longos dias preparando este relato que vocês estão lendo, mesmo com todos os seus defeitos, o qual é complementado por um segundo diário que registra todas as minhas descobertas a partir das numerosas amostras recolhidas por mim e por outros membros da expedição. Escrevi inclusive um bilhete para os meus pais.
Amarrei todo esse material junto com o diário do meu marido e vou deixá-los aqui, na pilha que jaz embaixo do alçapão. A mesa e o tapete foram afastados, para que qualquer pessoa possa encontrar o que antes estava escondido. Também devolvi a foto do faroleiro à sua moldura e voltei a pendurá-la na parede. Tracei um segundo círculo em volta do rosto dele; não pude me conter.
Se as indicações dos diários são verdadeiras, então quando o Rastejador atingir o final do seu último ciclo no interior da Torre, a Área X entrará em um período convulso de barricadas e de sangue, como um cataclísmico período de muda, se podemos pensar assim. Talvez desencadeado pela dispersão dos esporos ativados que eclodem das palavras escritas por ele. Nas duas últimas noites avistei um cone de energia, cada vez maior, erguendo-se acima da Torre e se espalhando pelo espaço em volta dela. Embora nada tenha se aproximado da direção do oceano, alguns vultos emergiram do vilarejo em ruínas e se dirigiram para a Torre. No acampamento, nem sinal de vida. Na praia aqui embaixo, não ficaram nem as botas da psicóloga; é como se ela tivesse sido engolida pela areia. Todas as noites, a criatura que geme não deixa de me lembrar de que ainda mantém seu domínio sobre a região dos juncos.
Observar tudo isso apagou as últimas brasas da compulsão ardente que eu tinha de conhecer tudo... qualquer coisa... e no lugar dela fica o conhecimento de que o brilho ainda não terminou o que tem de fazer comigo. Está apenas começando, e a ideia de ter que me ferir constantemente a fim de permanecer humana me parece patética, de certo modo. Não estarei aqui quando a décima terceira expedição chegar ao acampamento. (Será que já me viram, ou falta pouco para isso? Estarei me confundindo com a paisagem, ou olhando para eles de um banco de areia no juncal, ou de dentro das águas do canal, encarando seus rostos cheios de incredulidade? Terei a sensação de que existe alguma coisa errada, ou fora do lugar?)
Meu plano é ir avançando pela Área X, ir tão longe quanto possível antes que seja tarde demais. Seguirei a rota do meu marido subindo ao longo da costa, até depois da ilha, inclusive. Não acredito que vá encontrá-lo — não preciso encontrá-lo —, mas quero ver tudo que ele viu. Quero senti-lo perto de mim, como se ele estivesse no mesmo aposento. E, para ser honesta, não posso fugir à sensação de que ele ainda está aqui, em algum lugar, mesmo que esteja totalmente transformado — no olho de um golfinho, na textura de um acúmulo de musgo, em qualquer parte e por toda parte. Talvez eu venha a encontrar um barco abandonado em uma praia deserta, se tiver sorte, e algum sinal do que aconteceu depois. Eu ficaria contente só com isso, mesmo sabendo de tudo que sei.
Essa parte eu farei sozinha, deixando vocês para trás. Não me sigam. Estou muito à frente de vocês agora, e viajando muito depressa.
Será que sempre existiu alguém como eu para enterrar os corpos, para lamentar, para dar prosseguimento depois de todos os outros terem morrido?
Sou a última baixa tanto da décima primeira expedição quanto da décima segunda.
Não vou voltar para casa.
Jeff VanderMeer
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















