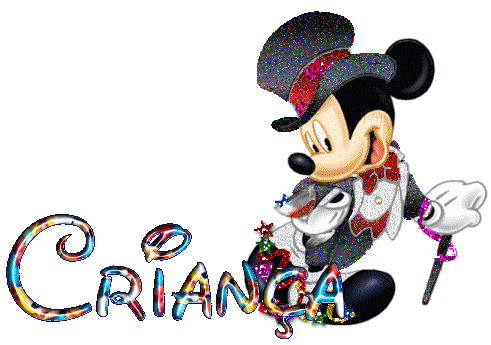Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




A NOITE DAS BRUXAS
CAPÍTULO 1
A sra. Ariadne Oliver, juntamente com sua amiga Judith Butler, com quem estava hospedada, fora ajudar nos preparativos para uma festa de crianças que ocorreria à noite daquele mesmo dia.
Naquele instante reinava uma atividade febril e caótica. Mulheres operosas entravam e saíam, arrastando cadeiras, mesinhas, trazendo vasos de flores e carregando grandes quantidades de morangas amarelas que eram arrumadas estrategicamente em determinados lugares.
Era a tradicional festa de Halloween, cujos participantes eram crianças e jovens de dez a 17 anos de idade.
A sra. Oliver, afastando-se do grupo principal, encostou-se a uma parede e levantou uma grande moranga amarela, olhando-a com uma expressão crítica.
- A última vez que vi uma moranga destas – disse ela, jogando seus cabelos grisalhos para trás de sua testa proeminente - foi nos Estados Unidos, no ano passado. Centenas e centenas. A casa estava repleta. Nunca vi tantas morangas. Na verdade - acrescentou pensativa -, nunca soube exatamente qual a diferença entre uma moranga e uma abóbora. O que é esta aqui?
- Desculpe, querida - disse a sra. Butler, ao pisar nos pés da amiga.
A sra. Oliver se encolheu ainda mais contra a parede.
- A culpa foi minha - disse. - Estou dificultando a passagem. Mas era notável ver tantas morangas ou abóboras, seja lá o que fossem. Havia-as por toda parte, nas casas comerciais, nas residências, com velas ou lâmpadas acesas dentro delas ou enfiadas na polpa. Realmente, muito interessante. Mas não era pela festa de Halloween, era pelo Dia de Ação de Graças. Nós sempre associamos morangas com a festa de Halloween, que é no fim de outubro. O Dia de Ação de Graças vem muito depois, não é? Não é em novembro, lá para a terceira semana do mês? De qualquer maneira, o Halloween aqui é sempre no dia 31 de outubro, não é? Primeiro, é o Halloween e depois vem o quê? O Dia de Finados? Em Paris, nesse dia, o povo visita os cemitérios e põe flores sobre túmulos. Não é uma festa triste. Quero dizer, as crianças vão também e se divertem. Primeiro vão aos mercados de flores e compram grandes quantidades de lindas flores. As flores nunca parecem tão belas como nos mercados de Paris.
Mulheres atarefadas se comprimiam ocasionalmente em torno da sra. Oliver, mas não lhe davam atenção, envolvidas demais com o que estavam fazendo.
Eram, na sua maioria, mães de família e mais uma ou duas solteironas; havia adolescentes prestativos, rapazes de 16 e 17 anos subindo escadas ou em pé, em cima de cadeiras, para fazer decorações, pendurar morangas ou abóboras ou balões de cores vivas numa altura adequada; meninas de 11 a 15 anos reuniam-se em grupinhos e riam muito.
- E depois do Dia de Finados - continuou a sra. Oliver, arriando seu corpanzil sobre o braço de um sofá -, vem o Dia de Todos os Santos. Estou certa, não estou?
Ninguém respondeu à pergunta. A sra. Drake, uma simpática senhora de meia-idade que ia dar a festa, tomou a palavra.
- Eu não chamo esta festa de Halloween, embora o seja na realidade. Dei-lhe o nome de festa dos Mais de Onze. É aquela espécie de grupo etário, constituído na sua maioria de jovens que estão deixando o Elms e indo para outras escolas.
- Mas esse nome não é muito preciso, não acha, Rowena? - disse num tom de desaprovação a srta. Whittaker, acomodando seu pince-nez no nariz.
A srta. Whittaker, como professora local, era sempre exigente em assuntos de precisão.
- Pois abolimos os Mais de Onze faz algum tempo.
A sra. Oliver levantou-se do sofá, desculpando-se.
"Não tenho sido útil. Fiquei sentada aqui a dizer tolices sobre morangas e abóboras, e descansando meus pés", pensou ela, com uma ligeira dor de consciência, mas sem suficiente sentimento de culpa para o dizer em voz alta.
- E agora, o que é que posso fazer? - perguntou e acrescentou: - Oh, que lindas maçãs!
Alguém acabava de entrar com uma grande bacia cheia de maçãs. A sra. Oliver era louca por maçãs.
- Que vermelhinhas! - disse.
- Na verdade não estão muito boas - disse Rowena Drake. - Mas parecem boas. É para a pesca às maçãs. Estão um pouco moles, de modo que podem ser mordidas com mais facilidade. Quer levá-las para a biblioteca, Beatrice? A pesca às maçãs se transforma sempre numa mixórdia, com a água derramando por todo lado, mas não tem importância, pois o tapete da biblioteca já está muito velho. Oh! obrigada, Joyce!
Joyce, uma vigorosa garota de 13 anos, apanhou a vasilha de maçãs. Duas caíram, rolaram e pararam aos pés da sra. Oliver, como se contidas pela mão de uma feiticeira.
- A senhora gosta de maçãs, não gosta? – perguntou Joyce. - Eu li uma vez que a senhora gosta, ou talvez tenha ouvido na televisão. A senhora não é escritora de contos policiais?
- Sou, sim - respondeu a sra. Oliver.
- Temos de levar a senhora a fazer algo relacionado com assassínios. Arranjar um assassinato na festa, hoje à noite, e induzir as pessoas a decifrá-lo.
- Não, obrigada - disse a sra. Oliver. - Jamais o repetirei.
- O que é que a senhora quer dizer com "jamais o repetirei"?
- Bem, já fiz isso uma vez e não fui muito bem-sucedida - respondeu a sra. Oliver.
- Mas a senhora escreveu uma porção de livros - disse Joyce -, e deve ter ganho muito dinheiro com eles, não é?
- Mais ou menos - respondeu a sra. Oliver, com o pensamento no imposto de renda.
- E criou um detetive finlandês.
A sra. Oliver admitiu o fato.
"Um garotinho com um ar impassível" pensou a sra. Oliver, "e que ainda não chegara à categoria dos Mais de Onze", perguntou rudemente:
- Por que um finlandês?
- Muitas vezes me faço a mesma pergunta - respondeu a sra. Oliver com sinceridade.
A sra. Hargreaves, esposa do organista, entrou na sala respirando profundamente e carregando um grande balde de plástico verde.
- Que acham disso para a pesca às maçãs? - perguntou. - É alegre, eu acho.
- Um balde metálico é melhor - opinou a srta. Lee, a assistente do médico. - Não entornará com facilidade. Onde vai botá-lo, sra. Drake?
- Acho que a biblioteca é o melhor local. O tapete dali está velho, e inevitavelmente muita água vai ser derramada.
- Está bem. Levaremos as maçãs para lá. Rowena, olhe aqui outra vasilha de maçãs.
- Deixe-me ajudar - disse a sra. Oliver.
A sra. Oliver apanhou as duas maçãs que estavam a seus pés e, quase sem notar o que estava fazendo, enfiou os dentes numa delas e começou a mastigá-la ruidosamente. A sra. Drake, num gesto firme, lhe tirou das mãos a segunda maçã e a devolveu ao cesto. Irrompeu um zumbido de conversação.
- Sim, mas onde é que vamos instalar a boca-do-dragão?
- Terá de ser na biblioteca, é a sala mais escura.
- Não, vamos colocá-la na sala de jantar.
- Teremos, primeiro, de cobrir a mesa com alguma coisa.
- Está aqui um pano de cortina verde para cobri-la, e depois se porá por cima uma cobertura de borracha.
- Que tal os espelhos? Veremos realmente nossos maridos neles?
Tirando furtivamente seus sapatos e mastigando ainda tranqüilamente sua maçã, a sra. Oliver reclinou-se mais uma vez no sofá, observando criticamente a sala cheia de gente. Pensava em seu espírito criador. "Se eu tivesse de escrever um livro com todas essas personagens, como me sairia? São todas de modo geral simpáticas, mas quem sabe?"
"De certo modo", pensava, "era um tanto fascinante não saber nada a respeito delas." Viviam todas em Woodleigh Common. Com referência a algumas, tinha vaga lembrança de fatos de que Judith lhe falara. A srta. Johnson tinha algo a ver com a igreja, achava que era a irmã do vigário. Oh, não, era irmã do organista, é claro. Rowena Drake parecia ser a manda-chuva de Woodleigh Common. Era a mulher esbaforida que trouxera o balde, um horrível balde de plástico. Acontece que a sra. Oliver nunca gostara de artigos de plástico. E depois vinham as crianças, os rapazes e as mocinhas.
Até então eram realmente apenas nomes para a sra. Oliver. Havia uma Ann, uma Beatrice, uma Cathie, uma Diana e uma Joyce, jactanciosa e que gostava de fazer perguntas. "Não gosto muito de Joyce", pensava a sra. Oliver. A moça chamada Ann era alta e superior. Havia dois adolescentes que pareciam cansados de tentar diferentes estilos de penteados, mas com resultados infelizes.
Um pequerrucho entrou na sala, demonstrando um pouco de timidez.
- Mamãe lhe mandou esses espelhos para ver se servem - disse com uma voz sumida.
A sra. Drake tomou-os das mãos do garotinho.
- Muito obrigada, Eddy.
- São espelhos comuns de mão - disse a menina chamada Ann. - Será que veremos mesmo o rosto de nossos futuros maridos neles?
- Umas vêem, outras não - respondeu Judith Butler.
- A senhora viu o rosto de seu marido quando foi a uma festa, quero dizer, a uma festa como esta?
- É claro que não - atalhou Joyce.
- Poderia ter visto - disse Beatrice com superioridade. - Chamam isso de P.E.S.: percepção extra-sensorial - acrescentou num tom de quem se compraz de estar atualizada com os termos da época.
- Li um de seus livros - disse Ann à sra. Oliver: - O Peixe Dourado da Morte. Gostei muito - disse amavelmente.
- Eu, não - disse Joyce. - Não havia bastante sangue. Gosto de crimes com muito sangue.
- Um tanto repugnante - disse a sra. Oliver. – Não acha?
- Mas é excitante - respondeu Joyce.
- Nem sempre - redargüiu a sra. Oliver.
- Eu já vi um assassinato - disse Joyce.
- Não diga tolices, Joyce - repreendeu-a a professora, a sra. Whittaker.
- Mas eu vi.
- Quer dizer que você realmente viu – perguntou Cathie, olhando Joyce com os olhos esbugalhados – um assassinato de verdade?
- É claro que ela não viu - disse a sra. Drake. - Joyce, pare de dizer tolices.
- Eu vi um crime de morte. Eu vi. Eu vi. Eu vi.
Um rapaz de 17 anos, trepado numa escada, olhou para baixo com interesse.
- Que espécie de assassinato? - perguntou.
- Não creio nisso - disse Beatrice.
- É claro que não - atalhou a mãe de Cathie. – Ela está inventando.
- Não estou. Eu vi.
- Por que você não foi contar à polícia? - perguntou Cathie.
- Porque eu não sabia que era um assassinato quando o vi. Só muito tempo depois foi que comecei a compreender que fora um crime. Alguma coisa que alguém disse só um mês ou dois depois me levou a pensar subitamente: "Ah, aquilo que eu vi era um assassinato."
- Vejam - disse Ann - como ela está inventando a história. É um contra-senso.
- Quando foi que isso aconteceu? - perguntou Beatrice.
- Há anos - respondeu Joyce. - Eu era muito pequena na ocasião - acrescentou.
- Quem matou quem? - perguntou Beatrice.
- Não direi a ninguém - disse Joyce. - Vocês ficariam horrorizados.
A srta. Lee entrou com outra espécie de balde. A conversação passou para a comparação de baldes ou vasilhas de plástico como os mais adequados para o esporte de pesca às maçãs. A maioria das auxiliares dirigiu-se à biblioteca para apreciar o local. Alguns jovens pareciam ansiosos para fazer uma demonstração, ensaiando as dificuldades e exibindo suas habilidades no esporte. Cabelos molhados e água entornada foi o resultado da prova. Foi preciso mandar vir toalhas para enxugar o chão. No fim, ficou decidido que um balde metálico seria preferível aos encantos sedutores de um balde de plástico que entornava com mais facilidade.
A sra. Oliver, depositando uma vasilha de maçãs que trouxera para completar o estoque necessário para o dia seguinte, mais uma vez se serviu de uma.
- Li no jornal que a senhora gosta muito de comer maçãs - ouviu a voz acusadora de Ann ou Susan, não sabia ao certo.
- É meu pecado costumeiro - disse a sra. Oliver.
- Seria mais engraçado se fossem melões - observou um dos rapazes. - Têm tanto suco. Imaginem a mixórdia que fariam - disse ele, olhando o tapete com agradável prelibação.
A sra. Oliver, sentindo-se culpada pela acusação pública de gulodice, saiu da sala à procura de um quarto reservado, cuja geografia em geral é facilmente identificada. Subiu as escadas e, virando à esquerda do patamar, deu com um par de namorados, agarradinhos um no outro, apoiados exatamente na porta por onde tinha pressa de passar. O casal não lhe deu a mínima atenção. Suspiravam e se enroscavam. A sra. Oliver se perguntava que idade teriam aqueles jovens. O rapaz talvez tivesse 15 anos, e a menina, pouco mais de 12, embora o desenvolvimento de seus seios a fizesse parecer mais madura.
A casa era de tamanho considerável. Tinha vários e agradáveis cantos e recantos. "Como as pessoas são egoístas", pensava a sra. Oliver. "Não se tem consideração para com os outros." Lembrou-se daquela conhecida e velha frase do passado, que lhe tinha sido dita sucessivamente por uma babá, um pajem, uma governanta, sua avó, duas tias-avós, sua mãe e outras pessoas.
- Desculpem-me - disse a sra. Oliver com voz clara e alta.
O garoto e a menina se enroscaram ainda mais, comprimindo lábios contra lábios.
- Desculpem-me - disse de novo a sra. Oliver. - Querem-me deixar passar? Preciso abrir esta porta.
O casal se apartou a contragosto. Olharam-na de maneira pouco amistosa.
A sra. Oliver entrou, bateu a porta e passou o trinco. A porta não era daquelas que se fecham bem. O som fraco de palavras lhe chegou de fora.
- Não é engraçada essa gente? - disse uma voz num tom incerto de tenor. - Será que não desconfiam que não queremos ser incomodados?
- As pessoas são tão egoístas - disse a voz aguda de uma menina. - Só pensam em si.
- Não têm consideração para com os outros – disse a voz do rapaz.
CAPÍTULO 2
Preparar uma festa para crianças dá, em geral, muito mais trabalho para os organizadores do que inventar um entretenimento para pessoas adultas. Alimentos de boa qualidade, bebidas alcoólicas convenientes e limonada, isto, para pessoas normais, é mais do que suficiente para o sucesso de uma festa. Pode custar mais dinheiro, mas é infinitamente menos trabalhoso. Nesse ponto Ariadne Oliver e sua amiga Judith Butler estavam de pleno acordo.
- Que você acha de festas de adolescentes? - perguntou Judith.
- Não entendo muito do assunto - respondeu a sra. Oliver.
- Até certo ponto - disse Judith -, acho que são provavelmente as menos trabalhosas de todas. Quero dizer, eles só querem que os adultos dêem o fora e dizem que farão tudo sozinhos.
- E fazem?
- Bem, não no sentindo que damos à palavra - respondeu Judith. - Eles se esquecem de pedir algumas coisas e pedem muitas outras de que ninguém gosta. Pondo-nos para fora, dizem que deveríamos ter providenciado coisas para eles acharem. Quebram um bocado de copos e outras coisas, e há sempre algum indesejável ou que traz algum amigo indesejável. Você sabe como é. Drogas peculiares e, como é que se chamam? Vaso de flor, cânhamo de púrpura ou LSD, que sempre achei que significassem apenas dinheiro, mas evidentemente não o é.
- Mas acho que deve custar dinheiro – sugeriu Ariadne Oliver.
- É muito desagradável, e o cânhamo tem um cheiro repugnante.
- Tudo parece tão deprimente - disse a sra. Oliver.
- De qualquer maneira, tudo correrá bem. Esteja certa de que Rowena Drake é a tal nisso. É uma excelente organizadora. Você verá.
- Não me sinto disposta para ir a uma festa - suspirou a sra. Ariadne.
- Suba e descanse um pouco durante mais ou me nos uma hora. Você verá. Vai gostar quando estiver lá. Que pena Miranda estar com febre. Como ela está desapontada por não poder ir, pobre criança.
A festa começou às 19h30. Ariadne Oliver tinha que convir que sua amiga estava com a razão. Todos chegaram pontualmente. Tudo estava esplêndido. Tudo bem imaginado e decorrendo com a precisão de um relógio. Havia luzes vermelhas e azuis nas escadas e morangas amarelas em profusão. As moças e os rapazes chegavam segurando cabos de vassoura enfeitados para uma competição. Após os cumprimentos, Rowena Drake anunciou o programa da noite.
- Primeiro, julgamento da competição dos cabos de vassoura - disse ela - com três prêmios: primeiro, segundo e terceiro. Em seguida, o corte do bolo de farinha de trigo. Isso será no jardim de inverno. Depois, a pesca às maçãs: há uma lista dos competidores pendurada ali na parede, e, finalmente, o baile. Toda vez que se apagarem as luzes, vocês deverão mudar de companheiros. Depois as moças irão para o pequeno escritório, onde receberão seus espelhos. Em seguida, o jantar, a boca-do-dragão e, finalmente, a distribuição dos prêmios.
Como em todas as festas, o início foi um tanto desenxabido. As vassouras foram apreciadas, eram pequeninas miniaturas de vassouras, e, de modo geral, sua decoração não alcançara um padrão muito alto de mérito, "o que torna a coisa mais fácil" disse a sra. Drake num aparte a uma de suas amigas.
- E isso é muito bom, pois há sempre uma ou duas crianças que, sabemos, querem apenas ganhar um prêmio a qualquer preço. De modo que podemos trapacear um pouco.
- Rowena, que falta de escrúpulo!
- Não é propriamente falta de escrúpulo. Eu apenas arranjo as coisas de tal modo que tudo seja dividido de maneira razoável e equânime. O negócio é que todo o mundo quer ganhar alguma coisa.
- O que é o jogo do bolo de farinha? – perguntou Ariadne Oliver.
-Ah, é, você não estava aqui quando o preparamos. Bem, enche-se um canecão de farinha; comprime-se bastante a farinha; depois emborca-se o canecão sobre uma bandeja, retira-se o canecão e em cima do bolo se põe uma moeda. Depois, cada qual corta uma fatia com todo cuidado para não derrubar a moeda. Quem derruba a moeda é excluído do jogo. É uma espécie de eliminação. O último, naturalmente, fica com a moeda. Bem, vamos andando.
E saíram. Gritos agudos de animação vinham da biblioteca, onde prosseguia a pesca às maçãs, e os competidores saíam dali com os cabelos molhados, depois de jogar um bocado de água nos circunstantes.
Um dos acontecimentos mais excitantes, pelo menos entre as mocinhas, foi a chegada da sra. Goodbody, que desempenhou o papel de feiticeira. Era uma faxineira local que não só era dotada de um nariz em forma de anzol e de um queixo que quase o encontrava, como sabia reproduzir, de modo admirável, uma voz de arrulho com meios-tons sinistros e agoureiros. Além disso, sabia fazer versos mágicos e burlescos.
- Bem, vamos começar. É a vez de Beatrice? Um nome muito interessante. Você quer saber como será seu futuro marido. Vamos, querida, sente-se aqui. Sim, aqui, debaixo desta lâmpada. Sente-se e segure este espelhinho em suas mãos e, logo que as luzes se acenderem, você o
verá aparecer. Você o verá olhando por cima de seu ombro. Agora, segure o espelho firmemente. Abracadabra, que verei? A face daquele que será meu esposo. Beatrice, Beatrice, você verá a face do homem que conquistará seu coração.
Um súbito raio de luz vindo do alto de uma escada, por detrás de uma tela, cruzou a sala, atingindo um determinado lugar, refletindo-se no espelhinho que as mãos trêmulas de Beatrice seguravam.
- Oh! - gritou Beatrice. - Eu o vi. Eu o vi! Posso vê-lo no meu espelho!
O facho de luz se extinguiu, as luzes foram acesas e uma fotografia colorida grudada num cartão desceu flutuando do teto. Beatrice pulava de alegria.
- Era ele! Era ele! Eu o vi - gritava. - Oh, ele tinha uma deliciosa barba ruiva.
Correu para a sra. Oliver, a pessoa que se encontrava mais próxima.
- Olha, olha. Não lhe parece maravilhoso? É a cara de Eddie Presweight, o cantor popular. Não acha?
A sra. Oliver achava que a fotografia se parecia com uma daquelas caras que diariamente lamentava ter visto em seu jornal matutino. "A barba", pensava ela, "tinha sido uma concepção tardia de um gênio".
- De onde vem tudo isso? - perguntou.
- Oh, Rowena manda Nicky fazê-los. Desmond o ajuda. Faz muitas experiências com fotografias. Ele e mais uns dois camaradas se caracterizam, com cabeleiras, suíças ou barba etc. E depois, com a luz e tudo o mais, isso dá às meninas um prazer inaudito.
- Não posso deixar de pensar - disse Ariadne Oliver - como as moças de hoje são realmente ridículas.
- Você não acha que o foram sempre? – perguntou Rowena Drake.
A sra. Oliver pensou um pouco.
- É possível que você esteja com a razão - concordou.
- Agora - gritou a sra. Drake -, vamos ao lanche.
O lanche transcorreu muito bem. Apetitosos sorvetes-torta, salgadinhos, bolinhos de camarão, queijo e doces de nozes. Os Mais de Onze se empanturraram.
- E agora - disse Rowena -, a última da noite. A boca-do-dragão. Venham por aqui, pela copa. Ótimo. Pronto. Os prêmios, primeiro.
Os prêmios foram apresentados e, em seguida, ouviu-se um grito dolente e agoureiro. As crianças se precipitaram pelo corredor de volta à sala de jantar.
Os pratos já tinham sido retirados. A mesa foi coberta com uma cortina verde, e sobre ela se achava um grande e chamejante prato de passas. Todos gritaram, correndo para a mesa e tentando apoderar-se das passas em chamas, com gritos: "Ai, me queimei! Não é interessante?"
Pouco a pouco a boca-do-dragão foi se extinguindo e, finalmente, se apagou. Acenderam-se as luzes. A festa estava acabada.
- Foi um grande sucesso - disse Rowena.
- E tinha de ser, depois de tanto trabalho que você teve.
- Foi uma beleza - disse Judith, tranqüilamente. - Uma beleza.
- E agora - acrescentou pesarosa -, precisamos limpar isso. Não podemos deixar tudo para aquelas pobres mulheres amanhã cedo.
CAPÍTULO 3
Num apartamento em Londres, o telefone tocou. O proprietário, Hercule Poirot, mexeu-se na cadeira. Foi tomado de um sentimento de frustração. Sabia, antes de atender, do que se tratava. Seu amigo Solly, que viria visitá-lo naquela noite, recomeçando sua inacabada controvérsia sobre o verdadeiro culpado do crime nos Banhos Municipais da Canning Road, ia dizer-lhe que não podia vir mais. Poirot, que reunira certas peças de prova em favor de sua própria teoria um tanto forçada, estava profundamente desapontado. Não achava que seu amigo Solly aceitaria suas sugestões, mas não tinha dúvida de que, quando Solly por sua vez começasse a expor suas idéias fantásticas, ele próprio, Hercule Poirot, seria levado imediatamente a demoli-las em nome da sanidade, da lógica, da ordem e do método. Seria horrível, para não dizer coisa pior, se Solly não viesse naquela noite. Mas o fato é que, quando se encontraram pela manhã, Solly tossia muito e parecia atacado de uma forte infecção catarral.
- Ele está com uma gripe dos diabos - disse Hercule Poirot -, e não há dúvida de que, apesar dos remédios que tenho aqui, acabaria me transmitindo o mal. É melhor que não venha. Tout de même - acrescentou com um suspiro -, isso significa que vou passar uma noite insípida.
"As últimas noites tinham sido insípidas e monótonas", pensava Poirot. Sua imaginação magnificente como era (disso ele não tinha dúvida) requeria estímulo de fontes externas. Sua mente não era dada a devaneios filosóficos. Havia tempos em que quase se arrependia de não ter ido estudar teologia na sua juventude, em vez de ingressar na polícia. A quantidade de anjos que podiam dançar na ponta de uma agulha; seria interessante achar que isso fosse importante e discutir apaixonadamente com seus colegas sobre o assunto.
Seu criado, George, entrou na sala.
- Era o sr. Solomon, Sir.
- Ah, sim - disse Hercule Poirot.
- Lamenta muito não poder vir visitá-lo esta noite. Está acamado com uma forte gripe.
- Não tem gripe coisa nenhuma - disse Hercule Poirot. - Ele apanhou foi um catarro horrível. Todo o mundo acha que tem gripe. Parece mais importante. Angaria-se mais simpatia. A dificuldade de uma constipação catarral é que é difícil reunir a quantidade adequada de consideração da parte dos amigos.
- Ainda bem, Sir, que ele não pode vir - disse George. - Esses resfriados são muito contagiosos. Não lhe conviria sair com pessoas nesse estado.
- Seria terrivelmente tedioso - concordou Poirot.
O telefone tocou de novo.
- E agora, quem estará resfriado? - perguntou. - Não chamei mais ninguém.
George atravessou a sala na direção do telefone.
- Deixa que atendo aqui - disse Poirot. – Tenho certeza de que não é nada interessante. Mas, de qualquer maneira - encolheu os ombros -, servirá para passar o tempo. Quem sabe?
- Está bem, Sir - disse George, e saiu da sala.
Poirot estendeu a mão e tirou o fone, fazendo cessar o tilintar da chamada.
- Hercule Poirot - disse com uma certa grandeza, para impressionar quem quer que estivesse na outra extremidade da linha.
- Ótimo - disse uma voz impaciente, uma voz feminina, um tanto débil pela ansiedade. - Tive receio de não encontrá-lo em casa, de que o senhor tivesse saído.
- Por que pensou isso? - perguntou Poirot.
- Porque não posso deixar de achar que, nos dias de hoje, as coisas acontecem para nos frustrar. A gente precisa de alguém com urgência, sabe que não pode esperar e se tem de esperar. Precisava urgentemente do senhor, com absoluta urgência.
- E quem é você? - perguntou Hercule Poirot.
A voz, que era de uma mulher, pareceu surpresa.
- Não me reconhece? - perguntou incredulamente.
- Ah, sim - respondeu Hercule Poirot -, é minha amiga Ariadne.
- Ah, estou num estado horrível.
- Sim, sim, percebe-se. A senhora estava correndo? A senhora está sem fôlego, não é?
- Não estava correndo. É emoção. Posso ir aí imediatamente?
Poirot deixou passar alguns segundos antes de responder. Sua amiga, a sra. Oliver, parecia muito excitada. Qualquer que fosse seu problema, passaria muito tempo a despejar suas queixas, suas mágoas, frustrações, enfim, tudo que a estivesse afligindo. Uma vez ali nos aposentos de Poirot, poderia ser difícil induzi-la a se retirar, sem uma certa dose de impolidez. As coisas que excitavam a sra. Oliver eram tantas e freqüentemente tão inesperadas, que era preciso muita arte para acompanhá-la.
- Alguma coisa a aflige?
- Sim. É claro que estou aflita. Não sei o que fazer. Não sei... oh, não consigo raciocinar. O que acho é que devo ir conversar com o senhor, contar-lhe exatamente o que aconteceu, pois o senhor é a única pessoa que pode saber o que fazer. Quem poderia dizer-me o que devo
fazer? Então, posso ir?
- Certamente, é claro que pode. Terei prazer em recebê-la.
Poirot ouviu um fone cair pesadamente na outra extremidade da linha. Chamou George, refletiu durante alguns minutos e depois mandou trazer água de cevada com limonada, limão azedo e um copo de conhaque.
- A sra. Oliver estará aqui dentro de alguns minutos - disse ele.
George retirou-se. Voltou pouco depois com o conhaque para Poirot, que o recebeu com um sinal de satisfação. George saiu, em seguida, para providenciar o refresco sem álcool, a única coisa capaz de agradar a sra. Oliver. Poirot tomou um gole de conhaque, saboreou-o suavemente, fortificando-se para a provação que estava para se abater sobre ele.
- É pena - murmurou ele - que ela seja tão dispersiva. Não obstante, tem originalidade. Quem sabe se não vou gostar do que me virá contar? - "Pode ser", refletiu por um minuto, "que me venha tomar uma grande parte da noite e que tudo seja pura tolice. Et bien, é preciso correr certos riscos na vida".
Uma campainha tocou. Dessa vez era a campainha da porta da frente do apartamento. Não foi apenas um toque no botão. Soou longamente com uma ação firme, muito eficaz na tentativa de fazer barulho.
- Não há dúvida de que está realmente excitada - disse Poirot.
Ouviu os passos de George, que se dirigia à porta; ouviu abri-la e, antes que qualquer anúncio fosse feito, a porta de sua sala de estar se abriu. Ariadne Oliver, seguida de George, irrompeu por ela. Trazia algo que se parecia com um chapéu e uma capa de oleado próprios de pescadores.
- Que diabo é isso que está usando? – perguntou Hercule Poirot. - Deixe George tirá-lo. Está muito molhado.
- É claro que está molhado - disse a sra. Oliver. – Lá fora está muito chuvoso. Nunca pensei em água antes. É coisa horrível de se imaginar.
Poirot olhou para ela com interesse.
- Posso servir-lhe um pouco de água de cevada com limão? - perguntou-lhe. - Ou poderia persuadi-la a tomar um cálice de eau de vie?
- Detesto água - respondeu a sra. Oliver.
Poirot olhou-a surpreso.
- Detesto-a. Nunca pensara nela antes. O que ela pode fazer, e tudo o mais.
- Minha cara amiga - disse Hercule Poirot, quando George a libertou das dobras pendentes do oleado ensopado. -Venha, sente-se aqui. Deixe, afinal, que George a livre do... o que é isto que está usando mesmo?
- Eu o comprei na Cornualha - respondeu a sra. Oliver. - Oleado. Um oleado feito para pescadores mesmo.
- Muito útil para eles, sem dúvida - disse Poirot -, mas acho que não lhe assenta bem. É muito pesado. Mas venha, sente-se aqui e me conte.
- Não sei como - disse a sra. Oliver, afundando-se numa poltrona. - Às vezes, o senhor sabe, não posso crer que seja verdade. Mas aconteceu; realmente aconteceu.
- Conte-me - disse Poirot.
- Foi para isso que eu vim. Mas agora que estou aqui, é tão difícil, porque não sei por onde começar.
- Que tal do começo? - sugeriu Poirot. - Ou seria uma maneira por demais convencional de agir?
- Eu não sei onde é o começo. Realmente, não sei. Poderia ter começado há muito tempo.
- Acalme-se - disse Poirot. - Reúna os vários fios da meada em sua mente e me conte. O que é que a excitou tanto?
- O senhor também ficaria excitado - disse a sra. Oliver. - Pelo menos acho que ficaria. - Olhou com certa dúvida para Poirot. - Na verdade, a gente não sabe o que seria capaz de perturbá-lo. Agüenta tantas coisas com tanta calma.
- Muitas vezes é a melhor maneira - disse Poirot.
- Está bem - disse a sra. Oliver. - Começou com uma festa,
- Ah, sim - disse Poirot, aliviado por ter algo tão comum e sadio como uma festa a lhe ser contado. – Uma festa. A senhora foi a uma festa e lá aconteceu algo.
- O senhor sabe o que é uma festa de Halloween, na véspera de Todos os Santos?
- Eu sei o que é Halloween - disse Poirot. - É o dia 31 de outubro. - Piscou os olhos ligeiramente, ao dizer: - Quando as bruxas voam em cabos de vassouras.
- Havia cabos de vassouras - respondeu a sra. Oliver.
- Ganharam prêmios por isso.
- Prêmios?
- Sim, para quem apresentasse o cabo de vassoura mais bem decorado.
Poirot olhou para ela com uma expressão de dúvida. Inicialmente aliviado com a menção de uma festa, agora a dúvida o invadia novamente. Sabendo que a sra. Oliver não tomava bebidas alcoólicas, não podia levantar uma das hipóteses que em outras circunstâncias seria levado a fazer.
- Uma festa infantil - disse a sra. Oliver. - Ou melhor, uma festa dos Mais de Onze.
- Mais de Onze?
- Bem, é assim que costumam dizer nas escolas. Isto é, quando vêem que o aluno é muito inteligente e, se for inteligente o bastante para passar os que têm mais de onze, mandam-no para o curso secundário ou coisa que o valha. Mas se não for bastante inteligente, é mandado
para um negócio que se chama moderno secundário. Um nome tolo. Não parece significar nada.
- Não entendo nada, confesso, do que está dizendo
- disse Poirot. - Parece que saiu de festas e entrou no terreno da educação.
A sra. Oliver respirou profundamente e recomeçou.
- Tudo começou realmente com as maçãs - disse ela.
- Ah, sim, teria de ser - ponderou Poirot. – Isso pode sempre acontecer com a senhora, não é?
Poirot começou a imaginar um carrinho numa ladeira e uma mulherona saindo dele e um pacote se abrindo e maçãs rolando ladeira abaixo, em cascata.
- Sim - disse ele encorajando -, maçãs.
- Pesca às maçãs - completou a sra. Oliver. - É uma
das coisas que se faz numa festa de Halloween.
- Ah, sim, acho que já ouvi falar nisso.
- Como o senhor vê, havia uma grande variedade de brincadeiras. Pesca às maçãs, corte de um bolo de farinha socada, com uma moeda em cima, espelhos mágicos...
- Para ver o rosto do seu bem-amado – sugeriu Poirot, demonstrando conhecimento.
- Ah - disse a sra. Oliver -, finalmente começa a compreender.
- Muito folclore - disse Poirot -, e tudo isso aconteceu em sua festa.
- Sim, tudo foi um sucesso. Terminou com a boca-do-dragão. Sabe o que é, passas de uva ardendo num grande prato. Suponho... - sua voz vacilou - acho que foi exatamente naquele momento que a coisa foi feita.
- Quando, o que foi feito?
- Um assassinato. Depois da boca-do-dragão todo o mundo foi para casa - disse a sra. Oliver. - Foi então, sabe, que se deu por falta dela. Uma mocinha. Uma garota chamada Joyce. Todos a chamavam e a procuravam ou perguntavam se não teria ido para casa com alguém, e sua mãe ficou um tanto aborrecida e disse que Joyce devia ter se sentido cansada ou doente ou coisa que o valha e teria ido embora sozinha, e que foi falta de consideração dela ter ido embora sem dizer nada. Toda a sorte de coisas que as mães costumam dizer quando acontecem coisas semelhantes. Mas, de qualquer maneira, não conseguimos achar Joyce.
- E ela fora sozinha para casa?
- Não - respondeu a sra. Oliver -, não tinha ido para casa... - sua voz vacilou. - Finalmente a encontramos na biblioteca. Foi ali, foi ali que alguém o fez. Pesca às maçãs. O balde estava lá. Um grande balde metálico. Não quiseram o balde plástico. Talvez se fosse o balde plástico isso não tivesse acontecido. Não seria tão pesado. Poderia ter entornado...
- O que aconteceu? - perguntou Poirot, com um tom de voz áspero.
- Foi ali que a encontramos - disse a sra. Oliver. - Alguém, sabe, empurrou sua cabeça para dentro da água com as maçãs. Empurrou-a para baixo e a manteve naquela posição até que morresse, é claro. Afogada. Afogada. Exatamente num balde de ferro quase cheio de água. Ajoelhou-se ali e empurrou a cabeça para baixo para pescar uma maçã com a boca. Detesto maçãs - disse a sra. Oliver. - Nunca mais quero ver uma maçã...
Poirot olhou para ela. Estendeu a mão e encheu um cálice com conhaque.
- Beba isso - disse-lhe - que lhe fará bem.
CAPÍTULO 4
A sra. Oliver abaixou o cálice e enxugou os lábios.
- Tem razão - disse. - Isso me ajudou. Estava ficando histérica.
- A senhora passou por um grande choque, está se vendo. Quando aconteceu isso?
- Na noite passada. Só uma noite atrás? Sim. Sim, naturalmente.
- E veio a mim.
Não era propriamente uma pergunta, mas Poirot revelava o desejo de ter mais informação do que tivera até ali.
- A senhora veio a mim, por quê?
- Achei que pudesse me ajudar - disse a sra. Oliver. - Como está vendo, a coisa não é tão simples.
- Pode ser e pode não ser - disse Poirot. – Depende muito. É preciso que me conte mais algumas coisas. A polícia, quero crer, já deve ter sido avisada. Certamente chamaram um médico. O que foi que ele disse?
- Deve haver um inquérito - respondeu a sra. Oliver.
- É claro.
- Amanhã ou depois de amanhã.
- A garota, Joyce, que idade tinha?
- Não sei exatamente. Calculo entre os 12 ou 13 anos.
- Pequena para sua idade?
- Não, não, pelo contrário, me parecia bastante madura, talvez. Volumosa - disse a sra. Oliver.
- Bem desenvolvida? A senhora se refere à aparência sexual?
- Exato, é isso que quero dizer. Mas não creio que tenha sido essa a espécie de crime. Quero dizer, isso teria sido mais simples, não teria?
- É a espécie de crime - disse Poirot - que se lê diariamente nos jornais. Uma menina que é atacada, uma criança que é atacada, sim, todos os dias. Isso aconteceu numa propriedade privada, o que torna o caso diferente, mas, talvez, não tão diferente dos outros. Ainda assim, não estou certo de que me contou tudo.
- Não, não creio que o tenha feito - disse a sra. Oliver. - Eu não disse o motivo, quero dizer, a razão por que o procurei.
- A senhora conhecia Joyce, quero dizer, conhecia-a muito?
- Não a conhecia de modo algum. Acho que lhe explicaria melhor dizendo como fui parar ali.
- Ali, ali, onde?
- Oh, num lugar chamado Woodleigh Common.
- Woodleigh Common - disse Poirot pensativo. - Ali onde recentemente...
Interrompeu-se.
- Não é muito longe de Londres. Mais ou menos a cinqüenta ou setenta quilômetros. Perto de Medchester. É um daqueles lugares de lindas casas, mas onde foi construída uma boa quantidade de edifícios. Residenciais. Há uma boa escola ali. Seus moradores podem ir fazer compras em Londres e em Medchester. Ê uma espécie de lugar comum, habitado por pessoas com o que se poderia chamar de razoáveis rendas diárias.
- Woodleigh Common - disse Poirot, de novo, pensativo.
- Estava passando uns dias ali com uma amiga. Judith Butler. É viúva. Fiz uma excursão à Grécia este ano, e Judith viajava no mesmo navio. Ficamos amigas. Ela tem uma filha, uma menina chamada Miranda, com 12 ou 13 anos de idade. Enfim, Judith convidou-me para ir passar uns dias com ela e me disse que amigas suas iam dar uma festa para crianças, que seria uma festa de Halloween. Disse que
talvez eu tivesse algumas idéias interessantes.
- Ah — disse Poirot -, dessa vez ela não sugeriu que a senhora planejasse a descoberta de um crime ou coisa semelhante?
- Interessante, não? - disse a sra. Oliver. - Acha que eu voltaria a fazer tal coisa?
- Acho improvável.
- Mas aconteceu, e isso é que é horrível - disse a sra. Oliver. - Quero dizer, não poderia ter acontecido exatamente porque eu estava lá, poderia?
- Não creio. Pelo menos... Alguém na festa sabia quem era a senhora?
- Sim - respondeu a sra. Oliver. - Uma das crianças disse alguma coisa sobre meus livros e que gostava de assassinatos. Foi isso, bem, é isto que levou ao fato... quero dizer, à razão que me trouxe aqui.
- E que a senhora não me disse ainda.
- Bem, o senhor sabe, primeiramente não pensei logo nisso. Quero dizer, as crianças às vezes fazem coisas estranhas. Quero dizer, há crianças esquisitas por aí, crianças que... bem, às vezes chego a pensar que teriam estado em asilos. Que voltam para casa para levar uma vida comum ou coisa que valha; vão e fazem coisas como essa.
- Havia alguns adolescentes na festa?
- Havia dois rapazes, ou menores, como parecem ser sempre chamados nos relatórios policiais. Entre 16 e 17 anos.
- Acho que um deles poderia ser o autor do crime. É o que a polícia pensa?
- Eles não dizem o que pensam - respondeu a sra. Oliver -, mas dão a impressão de que pensam assim.
- Joyce era uma menina atraente?
- Nem tanto - disse a sra. Oliver. - O senhor quer dizer atraente para os garotos, não é?
- Não - disse Poirot -, acho que quis dizer... bem... exatamente o sentido comum da palavra.
- Não acho que fosse uma menina muito agradável - disse a sra. Oliver. — Não era daquelas com quem se gostaria de conversar muito. Era a espécie de garota que gostava de se exibir e de se gabar. Acho que é uma idade um tanto maçante. Tenho a impressão de estar sendo cruel em dizer o que estou dizendo mas...
- Não é crueldade se dizer no crime como era a vítima - disse Poirot. - É muito, muito necessário. A personalidade da vítima é a causa de grande parte dos crimes. Quantas pessoas havia na casa na ocasião?
- O senhor se refere à festa e tudo? Bem, tenho a impressão de que havia cinco ou seis mulheres, algumas mães, uma professora, a esposa ou irmã de um médico, acho, um casal de meia-idade, os dois rapazes que tinham entre 16 e 18 anos, uma garota de 15, duas ou três de 11 e 12... Bem, mais ou menos isso. Cerca de 25 ou trinta
pessoas, talvez, ao todo.
- Alguns estranhos?
- Todos se conheciam, acho. Alguns mais do que outros. Acho que a maioria das garotas freqüentava a mesma escola. Havia mais duas senhoras que vieram para ajudar a servir os convidados e coisas do gênero. Terminada a festa, a maioria das mães foi para casa com suas filhas. Eu fiquei com Judith e mais umas duas senhoras para ajudar Rowena Drake, a senhora que deu a festa, a limpar um pouco, de modo que, quando as faxineiras chegassem de manhã, não encontrassem tanto serviço. Sabe, havia um bocado de farinha esparramada, invólucros de biscoitos e outras coisas pela casa. Assim, varremos um pouco e, finalmente, chegamos à biblioteca. E foi aí que... que a encontramos. E, então, me lembrei do que ela dissera.
- Quem? Disse o quê?
- Joyce.
- O que foi que ela disse? Estamos chegando agora ao caso, não é? Estamos chegando à razão por que veio aqui?
- Sim. Achei que aquilo não significava nada para, oh, para um médico ou para a polícia ou para qualquer pessoa, mas achei que poderia ter algum sentido para o senhor.
- Et bien - disse Poirot -, conte-me então. Que coisa foi essa que Joyce disse na festa?
- Não, durante o dia. À tarde, enquanto preparávamos as coisas. Foi depois que eles falaram sobre meus romances policiais que Joyce disse: "Eu já vi um assassinato" e sua mãe ou alguém lhe disse: "Não seja tola, Joyce, dizendo coisas assim." E uma das meninas mais velhas disse: "Você está é inventando." Ao que Joyce respondeu: "Eu vi. Eu vi o que estou falando. Eu vi. Eu vi alguém cometer um assassinato", mas ninguém acreditou nela. Todos acharam graça, e ela ficou zangada.
- Você acreditou nela?
- Eu, não, é claro.
- Compreendo - disse Poirot. - Eu compreendo. - Ficou calado por alguns instantes, tamborilando com os dedos a mesa. Depois retomou a conversa. Perguntou: - Ela não deu nenhum detalhe, nenhum nome?
- Não. Ficou exaltada e gritava, aborrecida porque a maioria das meninas estava rindo dela. As mães, acho, e as pessoas mais velhas olhavam-na com certa censura. Mas as moças e os garotos riam dela! Diziam coisas as sim: "Continue, Joyce, quando foi isso? Por que você nunca nos falou a respeito?" E Joyce respondeu: "Eu me esquecera de tudo, faz tanto tempo."
- Ah! Ela disse quanto tempo?
- "Há anos" disse ela. Sabe, com ares de uma pretensa adulta. "Por que você não foi então contar à polícia?" perguntou uma das meninas. Ann, ou Beatrice, acho. Uma moça um tanto presunçosa, superior.
- E o que foi que ela respondeu?
- Ela disse: "Porque naquela época eu não sabia que era um crime."
- Uma observação muito interessante - disse Poirot, endireitando-se na cadeira.
- Acho que ela ficou então um bocado confusa - disse a sra. Oliver. - Procurando explicar-se e se aborrecendo porque todos caçoavam dela.
Depois de uma pequena pausa, prosseguiu:
- Continuaram a lhe perguntar por que não fora à polícia, e ela continuou dizendo: "Porque na época eu não sabia que aquilo era um crime. Só muito tempo depois que acontecera foi que me dei conta do que vira."
- Mas ninguém pareceu acreditar nela, e a senhora mesma não lhe deu crédito. Mas, quando a encontrou morta, pressentiu imediatamente que poderia ter dito a verdade?
- Exatamente. Eu não sabia o que fazer, ou o que poderia fazer. Mais tarde, então, pensei no senhor.
Poirot inclinou a cabeça num gesto grave, agradecendo. Ficou calado por um ou dois minutos.
- Quero fazer-lhe uma pergunta - disse, em seguida. - Pense bem antes de respondê-la. A senhora acha que aquela jovem viu realmente um assassinato? Ou acha que simplesmente acreditava ter visto um crime?
- Acho que realmente viu - respondeu a sra. Oliver. - Na ocasião não acreditei. Pensei que estivesse lembrando vagamente de algo que tivesse visto certa feita e no momento o fantasiasse para torná-lo importante e excitante. Afirmou com muita veemência: "Eu o vi, juro-lhes. Eu o vi acontecer."
- E então?
- E então vim procurar o senhor - respondeu a sra. Oliver -, pois a única maneira de se explicar sua morte é admitir a existência de um crime do qual foi testemunha.
- Isso implicaria certas coisas. Implicaria que um dos presentes à festa teria cometido um crime e que essa pessoa teria estado ali durante o dia e ouvido o que Joyce dissera.
- O senhor não acha que eu esteja apenas imaginando coisas, acha? - perguntou a sra. Oliver. - Acha que tudo isso é apenas fruto de minha imaginação excitada?
- Uma menina foi assassinada - disse Poirot. - Assassinada por alguém bastante forte para manter sua cabeça enfiada num balde de água. Um assassínio revoltante e cometido, como poderíamos dizer, sem tempo a perder. Alguém foi ameaçado, e quem quer que representasse a ameaça teria de ser eliminado tão logo quanto fosse humanamente possível.
- Joyce não podia ter sabido quem era o assassino que ela viu - disse a sra. Oliver. - Quero crer que não teria dito o que disse se houvesse na sala alguém envolvido no caso.
- É - disse Poirot -, acho que a senhora tem razão. Ela viu o assassinato mas não viu o rosto do assassino. Temos de ir mais longe.
- Não compreendo exatamente o que pretende.
- Pode ser que alguém que estivesse presente durante o dia na casa e que tivesse ouvido a acusação de Joyce soubesse do crime, soubesse quem o cometeu, talvez estivesse profundamente envolvido com o assassino. Pode acontecer que aquele alguém acreditasse ser ele o único a saber do que sua esposa fizera, ou sua mãe ou sua filha ou seu filho. Ou talvez fosse uma mulher que soubesse o que seu marido ou sua mãe, ou sua filha ou filho tinha cometido. Alguém que pensasse que ninguém
mais soubesse. E, então, Joyce começou a falar...
- E então...
- Joyce teria de morrer.
- E agora: o que é que o senhor vai fazer?
- Agora me lembro - disse Hercule Poirot – porque o nome de Woodleigh Common me pareceu familiar.
CAPÍTULO 5
Hercule Poirot examinou cuidadosamente o pequeno portão que dava acesso à Colina dos Pinheiros. Era uma pequena mas garbosa e linda construção moderna. Hercule Poirot estava um pouco ofegante. A casinha bem-feita que tinha diante de si tinha um nome apropriado. Situava-se no alto de uma colina coberta por alguns pinheiros. Tinha um jardim pequeno, mas muito cuidado, e um homem grande e idoso empurrava sobre rodinhas, ao longo de um caminho, um grande regador metálico.
O cabelo do inspetor Spence estava todo grisalho agora; antes ele tinha apenas alguns fios de cabelos brancos nas têmporas. Não diminuíra muito a barriga. Parou de girar o aguador e olhou para o visitante ao portão. Hercule Poirot estava parado ali.
- Bendito seja Deus - disse o inspetor Spence. - Não pode ser, mas é. Sim, deve ser. Hercule Poirot, aposto.
- Ah - disse Poirot -, você me reconhece. Isso me alegra.
- Oxalá seu bigode não diminua jamais – disse Spence.
Spence deixou o regador e desceu na direção do portão.
- Malditas ervas daninhas - disse. - O que o traz aqui?
- O que me levava a muitos lugares no meu tempo - respondeu Poirot -, e há muitos anos o levou a me procurar. Assassinato.
- Eu nada tenho a ver com assassinato - disse Spence -, com exceção do caso de ervas daninhas. É o que estou fazendo agora. Aplicando herbicida. Não é tão fácil como você pensa, há sempre alguma coisa para atrapalhar. Geral mente, o tempo. Não pode ser úmido demais, nem seco demais, e assim por diante. Como é que você me descobriu? - perguntou enquanto abria o portão e Poirot entrava.
- Você me mandou um cartão de Natal, que trazia impresso seu endereço.
- Ah, é verdade. Sou antiquado, sabe. Gosto de mandar sinceros cartões de Natal a alguns velhos amigos.
- Gosto disso - disse Poirot.
- Já estou velho agora - disse Spence.
- Ambos estamos.
- Não há muito cabelo branco em sua cabeça - observou Spence.
- Resolvo isso com um preparado - observou Poirot.
- Não há necessidade de se aparecer em público com cabelos brancos, a menos que se queira.
- Bem, não creio que a pintura me assentaria - disse Spence.
- Perfeito - concordou Poirot. - Você parece mais elegante com seus cabelos grisalhos.
- Nunca poderia imaginar-me como um tipo elegante.
- Pois eu o acho. Por que veio morar em Woodleigh Common?
- Na realidade, vim morar aqui para ajudar minha irmã. Ela ficou viúva, e seus filhos, já casados, vivem no exterior, um na Austrália, o outro na África do Sul. Por isso me mudei para aqui. As pensões, hoje em dia, não dão para muita coisa, mas juntos vivemos uma vida confortável. Entre e sente-se.
Spence o conduziu para uma pequena varanda de piso brilhante onde havia cadeiras e uma ou duas mesas. O sol de outono caía agradavelmente sobre aquele recanto.
- O que lhe posso servir? - perguntou Spence. - Receio que não haja aqui bebidas especiais. Não temos groselha ou xarope de roseira ou alguma daquelas suas bebidas patenteadas. Cerveja? Ou peço a Elspeth para lhe preparar uma xícara de chá? Ou lhe ofereço ale, Coca-
Cola ou um chocolate? Minha irmã, Elspeth, é uma beberrona de chocolate.
- É muita gentileza de sua parte. Quanto a mim, prefiro uma ale. E a cerveja de gengibre? É boa, não é?
- Cem por cento.
Spence entrou na casa e voltou pouco depois trazendo dois enormes canecos de vidro.
- Estou chegando - disse ele.
Puxou uma cadeira para perto da mesa e sentou-se, colocando um copo diante dele e outro, de Poirot.
- O que foi mesmo que você disse ainda há pouco? - perguntou ele, levantando seu caneco. - Não vamos brindar ao crime. Não me envolvi mais com assassinatos, e se você se refere ao que suponho, e na realidade acho que você se refere ao crime em que estou pensando, pois não me lembro de nenhum outro mais recente, não gosto da maneira como foi cometido.
- Certo, não imaginei que você pudesse gostar.
- Estamos falando da criança que foi morta com a cabeça mergulhada num balde cheio de água!
- Sim - respondeu Poirot -, era a esse crime que me referia há pouco.
- Não sei por que você me procura - disse Spence.
- Não tenho nada a ver com a polícia hoje em dia. Já acabou tudo há muitos anos.
- Quando se é policial - disse Hercule Poirot -, nunca mais se pode deixar de o ser. Quer dizer, há sempre o ponto de vista do policial por detrás do ponto de vista do homem comum. Eu sei, eu sei por experiência própria. Eu também fui policial.
- Eu sei que você foi policial. Lembro-me de que já me disse isso. Bem, acho que nossa perspectiva já não é mais a mesma; há muito tempo que não exerço qualquer atividade policial.
- Sim, mas você deve ter ouvido falar no assunto - disse Poirot. - Tem amigos na sua profissão. Terá ouvido o que eles pensam ou imaginam ou sabem.
Spence suspirou.
- Saber demais - disse ele - é uma das dificuldades de hoje. Há um crime, um crime do tipo comum, e você sabe, quer dizer, os policiais sabem muito bem o autor provável do crime. Não podem dizer nos jornais, mas eles fazem suas pesquisas e sabem. Mas se forem além disso, bem, aí as coisas começam a se complicar.
- Você se refere às esposas e amiguinhas etc.?
- Em parte, sim. No fim, talvez, se chegue ao marido de uma. Às vezes passa-se um ano ou dois. Eu diria, sabe, Poirot, que, hoje em dia, mais que no meu tempo, mais moças se casam com tipos errados.
Hercule Poirot pensava, puxando os bigodes.
- Sim - disse ele -, acho que concordo com você. Tenho a impressão de que as moças foram sempre apreciadoras do mau caminho, como você diz, mas no passado havia salvaguardas.
- Está certo. Estavam sempre sob vigilância. Suas mães não as perdiam de vista. Suas tias e suas irmãs mais velhas as vigiavam. Suas irmãs e irmãos mais novos sabiam o que se estava passando. Seus pais não tinham dificuldades em botar para fora da casa os tipos indesejáveis. Às vezes, é claro, uma ou outra fugia com um mau elemento. Hoje em dia não há mesmo necessidade disso. A mãe não sabe com quem sua filha sai, o pai tampouco e os irmãos sabem com quem a irmã sai, mas "azar dela", dizem. Se os pais se recusam a consentir, o casal comparece diante de um juiz e consegue permissão para se casar, e então, quando o jovem que todo o mundo sabia que era um mau elemento continua a provar a todos, inclusive à sua esposa, que ele é um mau elemento, acontece o diabo! Mas amor é amor; a moça não se quer conformar com a idéia de que seu querido Fulano tem esses hábitos revoltantes, essas tendências criminosas, e assim por diante. Ela mentirá por ele, jurará que o branco é preto por ele, e tudo o mais. Sim, é difícil. Difícil para nós, quero dizer. Bem, não adianta ficar dizendo que as coisas eram melhores antigamente. Talvez apenas pensemos assim. De qualquer maneira, Poirot, como é que você se meteu nisso? Você não é daqui, não é? Sempre pensei que você morasse em Londres, pelo menos morava lá quando o conheci.
- E moro ainda em Londres. Meti-me nisso a pedido de uma amiga, a sra. Oliver. Você se lembra dela?
Spence levantou a cabeça, fechou os olhos e parecia refletir.
- Sra. Oliver? Não, acho que não.
- É escritora de contos policiais. Você a conhece. Lembre-se de quando me persuadiu a investigar o assassinato da sra. McGinty. Ou terá esquecido da sra. McGinty?
- Ah, sim. Mas já faz muito tempo. Você me prestou um grande serviço naquela ocasião, Poirot, um grande serviço. Fui-lhe pedir auxílio, e você não me decepcionou,
- Fiquei muito honrado - disse Poirot lisonjeiro - ao ser procurado por você. Devo confessar que perdi a esperança umas duas vezes. O homem que tivemos de salvar - de salvar seu pescoço naqueles dias, creio, faz muito tempo - era um homem excessivamente difícil
para se fazer alguma coisa por ele. A espécie de exemplo típico de quem não faz nada útil para si próprio.
- Casou-se com aquela moça, não foi? A beberrona. Não a lustrosa de cabelo oxigenado. Será que continuam a viver juntos? Teve alguma notícia deles?
- Não - disse Poirot -, presumo que tudo corra bem com eles.
- Não posso imaginar o que foi que ela viu nele.
- É difícil - disse Poirot -, mas é um dos grandes consolos da natureza que um homem, por mais horrível que seja, se veja cobiçado por uma mulher, mesmo quando essa cobiça possa parecer doentia.
- Não acho que viveriam para sempre felizes depois, se uma sogra fosse morar com eles.
- Não, realmente - concordou Poirot. - Ou um padrasto - acrescentou.
- Bem, eis-nos falando de novo dos velhos tempos. Tudo terminou. Sempre achei que aquele homem, não posso me lembrar agora de seu nome, devia ter administrado uma empresa funerária. Tinha a aparência e as maneiras para isso. Talvez até o fosse. A moça tinha algum recurso, não tinha? Sim, ele seria um excelente agente funerário. Posso vê-lo, todo de preto, dando ordens para o funeral. Talvez, quem sabe, fosse capaz de se entusiasmar com a espécie legítima de olmo ou de teca ou qualquer
outra madeira usada para caixões. Jamais, porém, seria um bom vendedor de seguros ou de imóveis. Bem, deixemos o passado para lá.
Em seguida, disse abruptamente:
- A sra. Oliver. Ariadne Oliver. Maçãs. Foi por causa de maçãs que ela se meteu nesse caso. A pobrezinha da menina teve sua cabeça metida dentro da água de um balde cheio de maçãs flutuantes, numa festa, não foi? É isso que interessa à sra. Oliver?
- Não creio que se tenha sentido particularmente interessada por causa de maçãs - respondeu Poirot. – Mas estava na festa.
- Você disse que ela mora aqui?
- Não, ela não mora aqui. Estava passando uns dias com uma amiga, a sra. Butler.
- Butler? Ah, sim, eu a conheço. Mora perto da igreja. Seu marido era piloto comercial. Tem uma filha. Uma menina muito bonita, de maneiras educadas. A sra. Butler ainda é bastante atraente, não acha?
- Mal-e-mal lhe fui apresentado, mas a achei bastante atraente.
- E por que se meteu nisso, Poirot? Você não estava aqui quando se deu o fato.
- Não. A sra. Oliver foi me procurar em Londres. Estava nervosa, muito nervosa. Queria que eu fizesse algo.
O inspetor Spence esboçou um ligeiro sorriso.
- Compreendo. É sempre a mesma história. Já o procurei, também, porque queria que você fizesse alguma coisa.
- E eu dei um passo a mais - disse Poirot. – Vim procurá-lo.
- Por que quer que eu faça alguma coisa? Afirmo-lhe que não posso fazer nada.
- Essa é que não. Você pode contar-me tudo que sabe sobre os moradores, sobre as pessoas que vivem nesta cidade. Sobre as pessoas que foram à festa. Sobre os pais e as mães das crianças que estavam na festa. Sobre a escola, as professoras, os advogados, os médicos. Alguém, durante a festa, induziu uma menina a se ajoelhar, talvez, quem sabe, sorrindo e dizendo: "Eu lhe mostrarei a melhor maneira de pegar uma maçã com os dentes. Eu conheço o truque." E, então, ele ou ela, quem quer que fosse, pôs uma mão sobre a cabeça da menina. Não teria
havido muita luta, nem barulho ou coisa semelhante.
- Um negócio repugnante - disse Spence. – Pensei assim quando soube da história. O que é que você quer saber? Moro aqui há um ano. Minha irmã mora há mais tempo, dois ou três anos. Não é uma cidade grande. Não é tampouco particularmente estável. As pessoas vêm e se
vão. Os maridos têm emprego em Medchester ou Great Canning, ou em alguns dos outros lugares da vizinhança. As crianças freqüentam a escola local. Acontece às vezes que o pai muda de emprego e se vão todos embora. Não é uma comunidade estável. Há, porém, alguns que moram aqui há muito tempo. Ê o caso da srta. Emlyn, a professora, e do dr. Ferguson. Mas, de modo geral, a população oscila muito.
- Concordo com você - disse Poirot - que o crime foi nojento, acho que posso esperar que você saiba quem são as pessoas nojentas desta comunidade.
- Sim - disse Spence. - É a primeira coisa que se deve procurar, não é? E o passo seguinte é procurar um adolescente nojento ou algo dessa espécie. Quem quereria estrangular ou afogar ou eliminar uma menina de 13 anos? Parece que não foi encontrado qualquer indício de ataque sexual ou coisa que o valha, o que seria a primeira coisa a saber. Hoje em dia, toda cidade pequena ou aldeia está cheia de coisas dessa espécie. Nesse ponto acho mais uma vez que há muito mais disso hoje em dia do que em
nosso tempo. Tínhamos nossos desequilibrados mentais, ou anormais, como quiser chamá-los, mas não tantos como hoje. Acho que há muitos deles fora do lugar onde deveriam estar em segurança. Nossos asilos de alienados vivem cheios, superlotados. Por isso, os médicos dizem: "Deixem que ele ou ela leve uma vida comum. Que volte e vá morar com seus parentes" etc. E daí essa porção de coisas porcas que andam por aí, ou o pobre desgraçado atormentado, como quer que encare o caso, é novamente tomado de impulso, e eis outra mulher que sai passeando e é depois encontrada num fosso de cascalho, ou que é bastante tola para tomar uma carona. Criancinhas que não voltam da escola para casa, porque aceitaram a carona de um estranho, embora tivessem sido advertidas para não aceitar caronas. Sim, acontecem hoje muitas coisas assim.
- Acha que tudo isso se ajusta ao exemplo que temos aqui?
- Bem, é a primeira coisa que se pensa – disse Spence. - Haveria alguém na festa que teria sido tomado de impulso, diremos. Talvez já tivesse feito coisa semelhante antes, talvez apenas tivesse querido fazê-lo. Eu diria que deve ter havido, no passado, um caso de agressão a criança em algum lugar. Tanto quanto eu sei, ninguém tomou conhecimento de nada dessa espécie. Quero dizer, oficialmente. Havia dois, na idade propícia, na festa. Nicholas Ranson, um jovem simpático de 17 ou 18 anos. Teria a idade adequada. Veio da costa oriental ou de algum lugar por perto, acho. Parece direito, normal, mas quem sabe? E há Desmond, internado uma vez devido a um relatório psiquiátrico, mas não diria que tenha muito a ver com isso. Sabemos que foi alguém que estava na festa, embora suponhamos, é claro, que algum estranho poderia ter se introduzido ali. Geralmente não se fecha uma casa durante uma festa. Há sempre uma porta ou uma janela lateral aberta. Um dos nossos jovens, suponho, poderia ter chegado para ver o que estava acontecendo e se tenha introduzido furtivamente. Um risco bastante grande a correr. Uma criança, uma criança que fosse a uma festa, concordaria em ir brincar de pesca às maçãs com um desconhecido'? De qualquer maneira, você não me explicou ainda, Poirot> o que o levou a se meter nisso. Você disse que foi a sra. Oliver. Alguma idéia extravagante dela?
- Não é exatamente uma idéia extravagante – disse Poirot. - É verdade que os escritores são dados a idéias fantásticas. Idéias, talvez, contrárias ao que se consideraria provável. Mas foi simplesmente algo que ela ouviu da garota.
- O quê? Da menina Joyce?
- Sim.
Spence inclinou-se para a frente e encarou Poirot inquiridoramente.
- Eu lhe contarei - disse Poirot.
Poirot recontou, em poucas palavras e pausadamente, a história que a sra. Oliver lhe contara.
- Compreendo - disse Spence, alisando seu bigode. - A menina disse o quê? Que assistira a um crime? Disse quando e como?
- Não - disse Poirot.
- O que provocou isso?
- Alguma observação, acho, sobre os crimes nos livros da sra. Oliver. Alguém disse alguma coisa a respeito à sra. Oliver. Uma das crianças, penso, no sentido de que não havia bastante sangue nem bastantes cadáveres em seus livros. Foi então que Joyce começou a falar e disse que certa vez assistira a um crime.
- Gabando-se disso? É a impressão que me está dando.
- Foi a impressão que teve a sra. Oliver. Sim, ela se vangloriava disso.
- Poderia não ter sido verdade.
- Exato, poderia não ser verdade - concordou Poirot.
- As crianças muitas vezes fazem essas afirmações extravagantes quando querem chamar a atenção para si próprias ou produzir algum efeito. Por outro lado, pode ria ser verdade. É o que você pensa?
- Não sei - respondeu Poirot. - Uma criança se gaba de ter testemunhado um crime. Poucas horas de pois, essa criança é assassinada. Você tem de admitir que há motivos para se acreditar que poderia ser verdade – é uma idéia talvez um pouco forçada - mas poderia ter sido causa e efeito. Se assim foi, alguém não perdeu tempo.
- Sem dúvida alguma - disse Spence. - Quantas pessoas estavam presentes na ocasião em que Joyce fez sua afirmação com relação ao crime, você sabe exatamente?
- Segundo a sra. Oliver, devia haver mais ou menos 14 ou 15 pessoas, talvez mais. Cinco ou seis crianças, cinco ou seis adultos que estavam preparando a festa. Mas para uma informação mais precisa, conto com você.
- Bem, isso será bastante fácil - disse Spence. – Não digo que possa fornecê-la agora, mas poderia obtê-la dos moradores locais. Quanto à própria festa, já sei como são. De modo geral, prepondera o sexo feminino. Os pais não freqüentam muito festas infantis. Mas vão olhar um pouco, às vezes, ou vão buscar seus filhos. Dr. Ferguson estava lá, o pároco também. Além deles, mães, tias, assistentes sociais, duas professoras da escola. Oh, posso dar-lhe uma lista - de mais ou menos 14 crianças. Os mais novos não iam além dos dez anos, caminhando para a puberdade.
- Acho que você reconheceria a lista dos prováveis entre eles, não reconheceria? - perguntou Poirot.
- Bem, não será tão fácil agora, se o que você disse for verdade.
- Você quer dizer que não está mais à procura de algumas pessoas com distúrbios sexuais. Em vez disso, procura alguém que tenha cometido um assassínio e escapou impunemente dele, alguém que nunca pensou que seu crime seria descoberto e que subitamente foi
tomado de verdadeiro pânico.
- Se eu pudesse ao menos ter uma idéia de quem poderia ter sido - disse Spence. - Mas acontece que não me consta que haja prováveis assassinos por aqui. E mais ainda, nada de espetacular no campo dos assassinatos.
- Prováveis assassinos podem existir em toda parte - disse Poirot -, ou diria, assassinos improváveis, mas, não obstante, assassinos. Pois assassinos improváveis não estão tão sujeitos à suspeição. Não há provavelmente muita prova contra eles, mas seria um grande choque
para um assassino dessa espécie descobrir que, na realidade, houve uma testemunha ocular de seu crime.
- Por que Joyce não disse nada na ocasião? Eis o que gostaria de saber. Teria sido subornada para silenciar? Seria arriscar demais.
- Não - disse Poirot. - Segundo me disse a sra. Oliver, Joyce, na ocasião, não sabia que aquilo era um assassinato.
- Ah, certamente isso é mais do que improvável - disse Spence.
- Não necessariamente - observou Poirot. – Quem falava era uma criança de 13 anos. Lembrava-se de algo que teria visto no passado. Não sabemos exatamente quando. Poderia ter acontecido há três ou quatro anos. Ela teria visto algo mas não se deu conta de seu verdadeiro significado. Isso poderia aplicar-se a muitas coisas que você sabe, mon cher. Um determinado acidente de trânsito. Um carro que parecia dirigido diretamente contra a pessoa ferida ou talvez morta. Uma criança poderia não constatar na ocasião que se tratava de um acidente proposital. Mas algo que alguém teria dito, ou algo que ela teria visto ou ouvido, um ou dois anos depois, poderia despertar sua memória e teria pensado talvez: "A ou B ou X fez isso de propósito. Talvez tenha sido um assassinato e não um acidente." E há muitas e muitas outras possibilidades. Algumas delas, que admito, foram sugeridas pela sra. Oliver que facilmente pode chegar a umas 12 diferentes soluções para tudo, na sua maioria não muito prováveis, mas todas possíveis. Droga adicionada à xícara de café de alguém. Coisas dessa espécie. Um empurrão, talvez, num lugar perigoso. Vocês não têm rochedos aqui, o que é pena do ponto de vista das teorias da probabilidade. Sim, acho que pode haver inúmeras possibilidades. Talvez tenha sido algum conto policial que a Joyce leu que lhe teria despertado a atenção para um incidente. Pode ter sido um incidente que a deixou intrigada na época e poderia ter dito ao ler o conto: "Bem, isso poderia ter sido assim ou assado. Será que ele ou ela fez aquilo de propósito?" Sim, há uma infinidade de possibilidades.
- E você veio aqui para pesquisá-las?
- Seria do interesse público, acho. Você não?
- Ah, e devemos ser dotados de espírito público. Será que somos, você e eu?
- Você pode pelo menos me dar informações - disse Poirot. - Conhece a gente daqui.
- Farei o que puder - disse Spence. - Vou dar corda em Elspeth. Não há muita coisa sobre as pessoas daqui que ela não saiba.
CAPÍTULO 6
Satisfeito com a promessa que obtivera, Poirot despediu-se de seu amigo. As informações de que precisava viriam, não tinha a menor dúvida quanto a isso. Deixara Spence interessado. E Spence, uma vez decidido, não era homem de voltar atrás. Sua reputação de alto funcionário aposentado da Scotland Yard lhe teria angariado amigos nos departamentos policiais envolvidos.
Em seguida - Poirot consultou seu relógio - precisava encontrar-se com a sra. Oliver, exatamente dentro de dez minutos, do lado de fora de uma casa chamada Casa das Macieiras. Na verdade, o nome parecia estranhamente apropriado.
"Realmente" pensava Poirot, "não havia jeito de fugir das maçãs. Nada poderia ser mais agradável do que uma suculenta maçã inglesa. Não obstante, as maçãs ali se misturavam com cabos de vassoura e feiticeiras, um folclore antiquado e uma criança assassinada."
Seguindo o caminho que lhe fora indicado, Poirot chegou, na hora marcada, diante de uma casa georgiana de tijolos vermelhos, com uma caprichada cerca de faia por detrás da qual se via um lindo jardim.
Poirot estendeu a mão, levantou o trinco e entrou por um portão de ferro trabalhado que trazia uma placa pintada com os dizeres Casa das Macieiras. Uma vereda conduzia à porta da frente. À semelhança daqueles relógios suíços em que figurinhas aparecem automaticamente numa portinhola acima do mostrador, a porta da frente se abriu, e a sra. Oliver surgiu nos degraus.
- Como você é pontual! - disse ela esbaforida. -Estava esperando-o da janela.
Poirot voltou e fechou o portão cuidadosamente. Praticamente, toda vez que se encontrava com a sra. Oliver, em encontro marcado ou acidentalmente, quase que de imediato parecia surgir um motivo de maçãs. Ou ela estava ou estivem comendo uma maçã - testemunha disso era uma sementinha de maçã pousada em seus seios abundantes - ou estava carregando uma sacola de maçãs. Mas, hoje, não havia qualquer sinal de maçãs. "Muito bem", pensou Poirot aprobativamente, "seria de muito mau gosto estar roendo uma maçã ali, no cenário do que tinha sido não só um crime, mas uma tragédia. Na verdade, como aquilo poderia ser classificado?" pensava. "A súbita morte de uma criança com apenas 13 anos de idade." Ele não gostava de pensar nisso. E porque não gostava de pensar nisso, estava mais do que nunca decidido que era exatamente nisso que iria pensar até que, por uma maneira ou por outra, alguma luz brilhasse na escuridão e pudesse ver claramente o que viera ver ali.
- Não compreendo por que não quis ficar com Judith Butler - disse a sra. Oliver - em vez de ir hospedar-se num hotel de quinta categoria.
- Porque é melhor investigar com um certo afastamento - explicou Poirot. - Não nos devemos deixar envolver, a senhora compreende.
- Não vejo como pode evitar ser envolvido - disse a sra. Oliver. - O senhor veio ver todo o mundo e conversar com todos, não veio?
- Decididamente - afirmou Poirot.
- Com quem já esteve até agora?
- Com meu amigo, o inspetor Spence.
- Como está ele, atualmente? - perguntou a sra. Oliver.
- Um bocado mais velho - respondeu Poirot.
- É claro - disse a sra. Oliver. - O contrário é que não poderia ser. Ele está mais surdo, ou mais cego, mais gordo ou mais magro?
Poirot pensou um pouco.
- Perdeu bastante peso. Usa óculos para ler jornal. Não me parece surdo. Se é que está, não se pode notar.
- Que pensa ele de tudo isso?
- A senhora está apressada demais - disse Poirot.
- E o que é que o senhor e ele vão fazer?
- Já tracei meu programa - disse Poirot. – Primeiro visitei e consultei meu velho amigo. Pedi-lhe para me dar, talvez, algumas informações que de outro modo não seriam fáceis de ser obtidas.
- Quer dizer que a polícia vai mandar seus homens para cá, e Spence vai ficar sabendo muita coisa através deles?
- Bem, não pensei exatamente assim, mas em linhas gerais, sim, este foi meu plano.
- E depois?
- Vim encontrá-la, madame. Preciso ver o lugar onde o negócio aconteceu.
A sra. Oliver voltou a cabeça e olhou para a casa.
- Não parece o tipo de casa onde teria ocorrido um crime, parece? - perguntou.
Poirot refletiu de novo por alguns instantes: "que instinto infalível ela tem!"
- Não - respondeu -, de modo algum se parece com esse tipo de casa. Depois que eu tiver visto onde, irei com a senhora à casa da mãe da criança morta. Quero ver o que ela tem para me contar. Esta tarde meu amigo Spence vai arranjar uma hora conveniente para eu conversar com o inspetor local. Gostaria de falar também com o médico daqui. E, possivelmente, com a diretora da escola. Às seis horas voltarei à casa de meu amigo Spence e de sua irmã. Tomarei chá e comerei algumas
salsichas com eles e discutiremos.
- Acha que lhe possa propiciar mais subsídios?
- Quero falar com a irmã dele que mora aqui há muito mais tempo. Spence veio morar com ela quando seu marido morreu. É possível que sua irmã conheça profundamente o pessoal daqui.
- Sabe com que o senhor se parece? – perguntou a sra. Oliver. - Com um computador. O senhor está se programando, sabe. Não é assim que dizem? Quero dizer que ingere essas coisas durante o dia todo e depois verá o que resulta de tudo isso.
- Sua idéia não deixa de ser interessante – disse Poirot. - É verdade, eu desempenho a parte do computador. Nutro-me de informações...
- E suponhamos que chegue a respostas totalmente erradas?
- Isso seria impossível - respondeu Hercule Poirot. - Os computadores não se comportam dessa maneira.
- Assim dizem - ponderou a sra. Oliver -, mas de vez em quando acontecem coisas que surpreendem. Por exemplo, minha última conta de luz. Sei que há um provérbio que diz que "errar é humano", mas um erro humano não é nada comparado ao que um computador pode fazer, se tentar.
Vamos entrar. Quero apresentar-lhe a sra. Drake.
"A sra. Drake, certamente, era uma senhora importante", pensava Poirot. Era uma mulher alta, simpática, de quarenta e tantos anos de idade; seus cabelos dourados estavam ligeiramente grisalhos; seus olhos eram de um azul brilhante; e nela tudo refletia habilidade e competência. Não havia festa que preparasse que não fosse um sucesso. Na sala de estar, uma bandeja de café com dois pãezinhos açucarados esperavam por eles. A Casa das Macieiras, constatou Poirot, era uma mansão admiravelmente bem cuidada. Bem mobiliada e com tapetes de primeira qualidade, tudo nela era escrupulosamente polido e limpo, e passava despercebido o fato de quase não haver ali qualquer objeto de importância. Ninguém o esperaria. As cores das cortinas e das toalhas eram agradáveis mas convencionais. Poderia ser alugada prontamente e por preço alto a um inquilino conveniente, sem precisar tirar qualquer peça preciosa ou fazer qualquer alteração na arrumação dos móveis.
A sra. Drake cumprimentou Madame Oliver e Poirot, quase sem deixar perceber o que Poirot não podia deixar de suspeitar, um sentimento de contrariedade, vigorosamente reprimido, na condição em que se encontrava como anfitriã numa ocasião social em que ocorrera algo tão anti-social como um assassinato. Como membro preeminente da comunidade de Woodleigh Common, Poirot tinha a impressão de que ela devia experimentar um sentimento de frustração por ter de certo modo falhado. O que ocorrera não deveria ter ocorrido. Com qualquer outra pessoa ou em qualquer outra casa, sim. Mas numa festa para crianças, preparada por ela, oferecida por ela, organizada por ela, nada semelhante poderia ter acontecido. De uma maneira ou de outra ela deveria ter providenciado para que isso não tivesse acontecido. E Poirot tinha também a impressão de que estava buscando, com irritação, no fundo de sua mente, uma razão para tudo. Não tanto uma razão para o crime que ocorrera, mas descobrir e identificar alguma imperfeição da parte de alguém que a estivera ajudando e que tivesse deixado de compreender, por imprevidência ou por alguma falta de percepção, que algo semelhante pudesse acontecer.
- Monsieur Poirot - disse a sra. Drake, com sua voz fina que pareceu a Poirot excelente numa pequena sala de leitura -, estou muito feliz por ter vindo aqui. A sra. Oliver esteve falando-me de como sua ajuda nos poderá ser valiosa nesse terrível acontecimento.
- Esteja certa, Madame, de que farei o que puder, mas a senhora compreenderá, com a nossa experiência da vida, que será um caso bastante difícil.
- Difícil? - perguntou a sra. Drake. - É claro que vai ser difícil. Parece incrível, absolutamente incrível, que uma coisa tão horrorosa devesse acontecer. Será - acrescentou - que a polícia vai descobrir alguma coisa? O inspetor Raglan goza de boa reputação aqui, creio. Se devem ou não chamar a Scotland Yard, não sei. A impressão que se tem é de que a morte daquela pobre criança deve ter tido uma significação local. Não preciso dizer-lhe, Monsieur Poirot - afinal de contas o senhor lê os jornais tanto quanto eu - que tem havido muitas e tristes fatalidades com crianças em todo o país. Parece que, dia a dia, se tornam mais freqüentes. A instabilidade mental parece estar aumentando, embora deva dizer que as mães e as famílias de modo geral não estão cuidando adequadamente de seus filhos, como outrora faziam. As crianças voltam da escola sozinhas quando já anoiteceu, e, pela manhã, vão sozinhas ainda no escuro. E as crianças, apesar de todas as advertências, infelizmente, perdem a cabeça quando se lhes oferecem uma carona num lindo carro. Acreditam no que lhes dizem. Acho que não se pode evitar isso.
- Mas o que aconteceu aqui, Madame, foi de natureza inteiramente diversa.
- Oh, eu sei, eu sei. Foi por isso que usei a palavra incrível. Ainda não posso acreditar nisso - disse a sra. Drake. - Tudo estava sob controle. Tudo estava arrumado. As coisas andavam em perfeita ordem, tudo de acordo com o plano. Parece, parece incrível. Pessoalmente, tenho a impressão de que deve ter havido o que eu chamaria de significação externa para o fato. Alguém teria entrado aqui em casa - coisa que não seria difícil naquelas circunstâncias -, algum portador de um sério distúrbio mental, suponho, aquela espécie de pessoas que, a meu ver, deixam os asilos simplesmente porque não há lugar para elas. Hoje em dia, há necessidade constante de novas vagas para mais pacientes. Alguém espiando por uma janela poderia ver que havia uma festa infantil, e esse pobre diabo - se é que se pode ter pena dessas criaturas, o que da minha parte, confesso, acho às vezes muito difícil aceitar - atraiu a criança e a matou. Não se pode pensar que tal coisa pudesse acontecer, mas aconteceu.
- Gostaria de que a senhora me mostrasse o lugar onde...
- Naturalmente. Mais um pouco de café?
- Não, obrigado.
A sra. Drake pôs-se de pé.
- A polícia é de opinião de que o negócio aconteceu na hora da brincadeira da boca-do-dragão, que se realizava na sala de jantar.
Ela tomou a dianteira pelo corredor, abriu a porta e, à maneira de quem faz as honras de uma casa importante a um grupo de excursionistas, mostrou a grande mesa de refeições e as pesadas cortinas de veludo.
- Estava escuro aqui, é claro, com exceção do prato em chamas. E agora...
A sra. Drake os conduziu pelo corredor e abriu a porta de uma pequena sala com poltronas, objetos esportivos e estantes de livros.
- A biblioteca - disse ela, e estremeceu um pouco.
- O balde estava ali, em cima de um lençol de plástico, é claro...
A sra. Oliver não os pôde acompanhar até a biblioteca. Ficou do lado de fora, no corredor...
- Não posso entrar - disse a Poirot -, isso me obriga a pensar demais no caso.
- Não há nada para se ver agora - disse a sra. Drake.
- Quero dizer, estou apenas lhe mostrando onde, como o senhor pediu.
- Quero crer - observou Poirot - que havia água, um bocado de água.
- É claro que havia água no balde - concordou a sra. Drake, que lançou sobre Poirot um olhar como se estivesse pensando que seu visitante não regulava muito bem.
- E havia água no plástico. Quero dizer, se a cabeça da criança foi empurrada para dentro da água, muita água deve ter derramado em torno.
- Oh, sim, muita. Mesmo durante a pesca o balde teve de ser enchido de novo uma ou duas vezes.
- E o suposto criminoso? Ele também deve ter se molhado, não acha?
- Certamente.
- Isso teria sido notado?
- Não, não, o inspetor me fez a mesma pergunta. Mas como o senhor pode imaginar, no fim da festa quase todo o mundo estava despenteado ou molhado ou sujo de farinha. Não parece haver qualquer pista interessante
nesse sentido. Quero dizer, a polícia não pensou assim.
- Tem razão - disse Poirot. - Tenho a impressão de que a única pista é a própria criança morta. Gostaria de que a senhora me contasse tudo que sabe a seu respeito.
- A respeito de Joyce?
A sra. Drake pareceu um pouco surpresa. Era como se Joyce estivesse naquele instante tão longe de seu pensamento, que se teria surpreendido ao se lembrar dela.
- A vítima é sempre importante - disse Poirot. – A vítima, sabe, é muitas vezes a causa do crime.
- Bem, suponho que sim, compreendo o que o senhor quer dizer - disse a sra. Drake, que, na realidade, não concordava. - O senhor quer voltar à sala de estar?
- E ali a senhora me contará tudo sobre Joyce - disse Poirot.
Sentaram-se de novo na sala de estar. A sra. Drake não se sentia à vontade.
- Não sei o que o senhor espera ouvir de mim, Monsieur Poirot. O senhor poderia colher toda informação, com facilidade, ou da polícia ou da mãe de Joyce. Pobre senhora, será, sem dúvida, penoso para ela mas...
- Mas o que eu quero - atalhou Poirot - não é a opinião da mãe sobre uma filha morta. É uma opinião clara, livre de preconceitos, de alguém que tenha um bom conhecimento da natureza humana. Eu diria, a senhora mesma, Madame, que tem desenvolvido aqui atividades nos campos social e do bem-estar. Ninguém, estou certo, poderia resumir com mais perfeição o caráter e a disposição de alguém de suas relações.
- Bem, é um pouco difícil. Quero dizer, as crianças nessa idade - ela tinha 13, acho, 12 ou 13 anos – são muito parecidas.
- Ah, não, certamente não - disse Poirot. - Há grandes diferenças de caráter, de disposição. A senhora gostava dela?
A sra. Drake deu a impressão de ter achado a pergunta embaraçosa.
- Bem, naturalmente, eu... eu gostava dela. Quero dizer, bem, gosto de toda criança. Aliás, como a maioria das pessoas.
- Ah, nesse ponto eu não concordo com a senhora - disse Poirot. - Considero algumas crianças antipaticíssimas.
- Bem, concordo, hoje em dia não são bem-educadas. Tudo parece ficar a cargo da escola e, naturalmente, vivem uma vida muito livre. Escolhem seus próprios amigos e, ela, oh, realmente, Monsieur Poirot.
- Era uma boa menina ou não? - perguntou Poirot com insistência.
A sra. Drake olhou para ele com uma expressão de censura.
- O senhor deve compreender, Monsieur Poirot, que a pobre criança está morta.
- Morta ou viva, isso é importante. É possível que, se ela fosse uma boa menina, ninguém tivesse querido matá-la, mas, se não era uma boa menina, alguém pode ria ter querido matá-la, e assim...
- Bem, admito por hipótese... mas não se trata, certamente, de uma questão de bondade, não é?
- Poderia ser. Ouvi dizer também que ela se gabava de ter assistido a um crime.
- Oh, aquilo - disse a sra. Drake desdenhosamente.
- A senhora não levou a coisa a sério?
- É claro que não. Era muito ridículo para se dar crédito.
- E por que ela o teria dito?
- Bem, acho que, na verdade, estavam todos excitados com a presença da sra. Oliver aqui. Você deve lembrar-se, querida, de que é uma mulher muito famosa - disse a sra. Drake, dirigindo-se à sra. Oliver.
A palavra "querida" parecia ter sido incluída na sua frase sem qualquer entusiasmo.
- Não acho que o assunto teria sido levantado em outras circunstâncias, mas as crianças ficaram muito excitadas com o encontro com uma autora famosa...
- Então Joyce disse que tinha visto um assassinato - disse Poirot pensativo.
- Sim, ela disse algo semelhante. Na verdade eu não estava prestando atenção.
- Mas a senhora se lembra de que ela disse?
- Oh, sim, ela o disse. Mas não acreditei na história - respondeu a sra. Drake. - Sua irmã a fez calar-se imediatamente, e com razão.
- E ela ficou aborrecida com isso, não ficou?
- Sim, continuou dizendo que era verdade.
- Na realidade, gabava-se disso.
- Se o senhor coloca a questão desse modo, é verdade.
- O fato poderia ter acontecido, quem sabe? - disse Poirot.
- Um contra-senso! Não creio nisso nem por um segundo - disse a sra. Drake. - Era o tipo das tolices que Joyce gostava de dizer.
- Joyce era uma menina tola?
- Bem, acho que era daquele tipo de pessoas que gostam de se exibir - respondeu a sra. Drake. - O senhor sabe, ela queria sempre ter visto mais ou ter feito mais do que as outras.
- Não era um caráter muito simpático - disse Poirot.
- Realmente - concordou a sra. Drake. - Era de fato a espécie de pessoa diante da qual a gente tinha de ficar calada o tempo todo.
- O que foi que as outras crianças disseram ao ou vi-la? Ficaram impressionadas?
- Riram-se dela - respondeu a sra. Drake. - Isso, naturalmente, a provocou mais ainda.
- Bem - disse Poirot, levantando-se -, estou satisfeito por me ter certificado sobre esse ponto.
Inclinou-se respeitosamente sobre a mão estendida da sra. Drake.
- Adeus, Madame, obrigado por me haver permitido ver o cenário dessa triste ocorrência. Espero que isso não lhe tenha despertado lembranças desagradáveis.
- Realmente - concordou a sra. Drake -, é muito penoso termos de nos lembrar de algo dessa espécie. Como eu teria gostado que nossa festinha tivesse terminado bem. Estava indo tão bem, e todo o mundo parecia estar se divertindo tanto, até que aconteceu essa coisa horrível.
Tudo, porém, que podemos fazer é procurar esquecer. É claro, foi uma infelicidade Joyce ter falado aquela tolice de ter visto um assassinato.
- Já houve algum crime de morte em Woodleigh Common?
- Que eu me lembre, não - respondeu a sra. Drake firmemente.
- Nessa época de tantos e tantos crimes – observou Poirot -, isso parece coisa realmente fora do comum, não acha?
- Bem, acho que houve o caso de um chofer de caminhão que matou um companheiro, ou coisa que o valha, e o caso de uma garotinha que foi encontrada enterrada num poço de cascalho a cerca de 24 quilômetros
daqui, mas isso foi há alguns anos. Foram ambos crimes um tanto sórdidos e que não despertaram muita atenção. Frutos, creio eu, principalmente do álcool.
- Realmente, o tipo de crime improvável de ter sido testemunhado por uma garota de 12 ou 13 anos.
- Improbabilíssimo, diria eu. E lhe posso assegurar, Monsieur Poirot, aquela afirmação de Joyce visava exclusivamente a impressionar as amiguinhas e talvez provocar o interesse de alguma personagem famosa - observou a sra. Drake, olhando na direção da sra. Oliver com certa frieza.
- De fato - disse a sra. Oliver -, acho que a culpa foi minha por ter vindo à festa.
- Oh, não, querida, é claro que não, não falei nesse sentido.
Poirot suspirou quando saiu daquela casa, acompanhado da sra. Oliver.
- Um lugar muito impróprio para um assassinato - disse ele, dirigindo-se ao portão de entrada. - Nem atmosfera, nem o sentido obsedante de tragédia, nenhum personagem digno de ser assassinado, embora não possa deixar de pensar que é possível que alguém, vez por outra, experimente algo como o desejo de estrangular a sra. Drake.
- Eu sei o que o senhor quer dizer. Ela às vezes é por demais irritante. Tão cheia de si mesma e tão presunçosa.
- Que tal o seu marido?
- Oh, ela é viúva. O marido morreu há um ou dois anos. Foi atacado de poliomielite e ficou aleijado durante alguns anos. Acho que a princípio era banqueiro. Era apaixonado por jogos e esportes, de modo que não podia suportar ter de renunciar a tudo isso e ficar inválido.
- Realmente - Poirot voltou ao assunto da menina Joyce. - Diga-me uma coisa: alguém entre os presentes levou a sério a história de Joyce sobre o crime?
- Não sei. Tenho a impressão de que não.
- As outras crianças, por exemplo?
- Bem, pensava agora mesmo nelas. Não, não acho que tenham acreditado no que Joyce estava dizendo. Pensavam que estivesse inventando histórias.
- A senhora também pensou assim, não foi?
- Bem, realmente pensei - respondeu a sra. Oliver.
- É claro - acrescentou - que a sra. Drake gostaria de acreditar que o assassinato, na realidade, nunca aconteceu, mas não creio que consiga chegar a tanto, não acha?
- Acredito que isso pode ser muito penoso para ela.
- Acredito até certo ponto - observou a sra. Oliver. - Mas acho que, entrementes, sabe, na realidade, ela se compraz em tratar do assunto. Não creio que gostaria de vê-lo encerrado para sempre.
- A senhora gosta dela? - perguntou Poirot. – Acha que seja uma boa pessoa?
- O senhor faz as perguntas mais difíceis e embaraçosas - respondeu a sra. Oliver. - Tem-se a impressão de que sua única preocupação é saber se alguém é bom ou não. Rowena Drake é o tipo da mulher mandona, que gosta de controlar tudo, coisas e pessoas. A meu ver, controla mais ou menos toda esta cidade. E a controla com eficiência. Depende, se o senhor gosta de mulheres mandonas... Eu não gosto muito...
- Que tal a mãe de Joyce, que vamos ver agora?
- É uma senhora muito boa. Um tanto ingênua, eu diria. Sinto muito a situação dela. Deve ser terrível ter uma filha assassinada, não é? E todo o mundo aqui acha que foi um crime sexual, o que concorre para agravar seu estado.
- Mas como assim, se não há qualquer sinal de violência sexual?
- Não, mas o povo gosta de pensar que essas coisas acontecem. Torna mais excitante. O senhor sabe como é o povo.
- A gente pensa que sabe, mas às vezes, bem, na realidade não sabemos nada.
- Não seria melhor que minha amiga Judith Butler o acompanhasse à casa da sra. Reynolds? Ela a conhece muito bem, ao passo que eu não a conheço.
- Seguiremos o plano traçado.
- O programa do computador prosseguirá - murmurou a sra. Oliver com rebeldia.
CAPÍTULO 7
A sra. Reynolds era um verdadeiro contraste com a sra. Drake. Nenhum ar de competência e sisudez; nem probabilidade de jamais haver. Vestia-se de preto, trazia um lenço úmido na mão e estava evidentemente pronta a se dissolver em lágrimas a qualquer momento.
- É muita bondade de sua parte - disse à sra. Oliver -, a de trazer seu amigo para nos ajudar.
Estendeu a mão úmida para Poirot e o olhou com uma expressão de dúvida.
- E se ele nos puder ajudar de qualquer maneira, serei muito grata, embora não veja o que se possa fazer. Nada a trará de volta, pobre criança. É horrível pensar nisso. Como é que se pode matar friamente uma criança daquela idade? Se ao menos pudesse ter gritado, embora eu suponha que ele tenha empurrado sua cabeça para dentro da água de uma vez e a tenha sustentado naquela posição. Oh, não agüento pensar nisso. Realmente, não agüento.
- Realmente, Madame, não quero afligi-la. Não pense nisso, por favor. Só gostaria de lhe fazer algumas perguntas que poderiam ajudar... ajudar, isto é, a descobrir o assassino de sua filha. Quero crer que a senhora mesma não faça nenhuma idéia de quem poderia ter sido, faz?
- Como poderia fazer qualquer idéia? Jamais poderia conceber que se tratasse de alguém, de alguém que morasse aqui. O lugar é muito bom, e o povo também. Acho que deve ter sido algum sujeito, um homem mau que teria entrado por uma das janelas. Talvez estivesse sob a ação de drogas, quem sabe? Vendo as luzes acesas,
verificou que era uma festa e entrou sem ser convidado.
- A senhora tem certeza de que o assassino era do sexo masculino?
- Oh, deve ter sido.
A sra. Reynolds pareceu surpresa.
- Estou certa de que foi - continuou. - Não poderia ter sido uma mulher, poderia?
- Poderia ter sido uma mulher muito forte.
- Bem, acho que compreendo o que o senhor quer dizer. O senhor quer dizer que as mulheres hoje em dia são mais atléticas e tudo o mais. Mas não fariam uma coisa dessas, estou certa. Joyce era apenas uma criança... com apenas 13 anos de idade.
- Não quero afligi-la permanecendo muito tempo aqui, Madame, ou lhe fazendo perguntas difíceis. Isso, estou certo, já está sendo feito pela polícia em algum lugar, e não quero contristá-la relembrando fatos penosos. Gostaria apenas de lhe fazer uma pergunta com relação a uma afirmação que sua filha fez na festa. Acho que a senhora não estava presente, estava?
- Não, não estava. Ultimamente não me tenho sentido muito bem, e as festas infantis são muito cansativas. Eu os conduzi de carro à casa da sra. Drake e mais tarde fui apanhá-los. Levei os três juntos, Ann, a mais velha, que tem 16 anos, e Leopold, que já tem quase 11. O que foi que Joyce disse que o senhor gostaria de saber a respeito?
- A sra. Oliver, que estava presente, lhe dirá exatamente quais foram as palavras de sua filha. Creio que ela disse que teria assistido a um assassinato.
- Joyce? Oh, ela não podia dizer uma coisa dessa. A que crime poderia ela ter presenciado?
- Bem, todo o mundo parece achar o fato bastante improvável - disse Poirot. - Gostaria apenas de ouvir a sua opinião. Acha-o provável? Ela já lhe teria falado alguma vez sobre isso?
- De ter assistido a um assassinato? Joyce?
- Convém lembrar-se, Madame - disse Poirot -, que o termo assassinato poderia ter sido usado por alguém na idade de Joyce num sentido muito amplo. Poderia ter sido apenas o fato de alguém ser atropelado por um carro, ou talvez de crianças brigando e uma empurrar a outra para dentro de um rio ou de cima de uma ponte. Algo que não tivesse sido gravemente intencional mas que teria tido um resultado infeliz.
- Bem, não consigo lembrar de nada semelhante que tivesse acontecido aqui e a que Joyce pudesse ter assistido. Além disso, ela nunca me disse nada a respeito. Devia estar pilheriando.
- Ela foi muito categórica - disse a sra. Oliver. - Continuou dizendo que era verdade e que realmente tinha visto.
- Alguém acreditou nela? - perguntou a sra. Reynolds.
- Não sei - respondeu Poirot.
- Acho que não - disse a sra. Oliver -, ou talvez não quisessem fazê-lo, bem, não quisessem encorajá-la dizendo que acreditavam.
- Pareciam dispostos a zombar dela e lhe dizer que estava com invencionices - disse Poirot, menos compassivo que a sra. Oliver.
- Bem, isso não foi muito bonito da parte deles - observou a sra. Reynolds. - Como se Joyce vivesse a inventar essas coisas.
A sra. Reynolds ruborizou-se indignada.
- Compreendo. Parece improvável - disse Poirot. - Seria mais provável, não é, que ela pudesse ter se enganado, que pudesse ter visto algo que achava poder ser descrito como um crime. Algum acidente, talvez.
- Ela me teria dito alguma coisa a respeito, não teria? - disse a sra. Reynolds, ainda indignada.
- É possível - assentiu Poirot. - Não lhe teria dito em tempo algum no passado? A senhora poderia ter se esquecido, sobretudo se não era realmente importante.
- Quando, na sua opinião?
- Não sabemos - respondeu Poirot. - Essa é uma das dificuldades. Poderia ter sido há três semanas, ou há três anos. Ela disse que na ocasião era muito "pequena". O que é que uma criança de 13 anos entende por muito pequena? Não aconteceu algo de sensacional por aqui de que a senhora pudesse lembrar-se?
- Oh, não creio. O senhor sabe, ouve-se falar de muitas coisas. Os jornais as publicam. Refiro-me a mulheres sendo atacadas, ou uma jovem ou um jovem, ou coisas semelhantes. Mas nada de importante de que me possa lembrar, nada que despertasse o interesse de Joyce ou coisa parecida.
- Mas se Joyce afirmou taxativamente que viu um crime, a senhora acha que realmente ela acreditava ter visto?
- Ela não o diria, se não acreditasse no que estivesse dizendo - respondeu a sra. Reynolds. - Acho realmente que deve ter misturado um pouco alguma coisa.
- É, é possível. Será que eu poderia falar com os seus dois filhos, que estiveram na festa também? - perguntou Poirot.
- Nada tenho a opor, embora não saiba o que o senhor espera colher deles. Ann está fazendo seu dever de casa lá em cima, e Leopold está no jardim montando um avião de modelagem.
Leopold era um garoto forte, de cara fechada, que parecia inteiramente absorto na montagem de seu avião. Só depois de alguns instantes, foi que se deu conta das perguntas que lhe estavam sendo feitas.
- Você estava lá, não estava, Leopold? Você ouviu o que sua irmã disse. O que foi que ela disse?
- Ah, o senhor se refere ao assassinato? - respondeu, aparentemente aborrecido.
- Sim, é a isso que me refiro - disse Poirot. – Será que na realidade ela viu tal coisa?
- Não, é claro que não viu - disse Leopold. – Que crime ela teria visto? Joyce era assim.
- O que é que você quer dizer com isso: Joyce era assim?
- Exibida - explicou Leopold, enrolando um pedaço de fio e soprando pelo nariz enquanto se concentrava. - Ela era o tipo da garota boba - acrescentou. - Tinha o prazer de contar fosse o que fosse, sabe, para atrair a atenção e se fazer notada.
- Então você acha realmente que ela inventou tudo?
Leopold desviou seu olhar para a sra. Oliver.
- Tenho a impressão de que ela queria impressionar a senhora - disse ele. - A senhora escreve contos policiais, não escreve? Acho que ela arranjou aquilo tudo de sorte que a senhora tomasse mais conhecimento dela do
que das outras.
- E além disso ela se comprazia em dizer essas coisas, não é? - perguntou Poirot.
- Oh, ela diria qualquer coisa - respondeu Leopold. - Aposto, porém, que ninguém acreditou nela.
- Você ouviu? Você acha que ninguém acreditou?
- Bem, eu a ouvi dizendo, mas na verdade não prestei muita atenção. Beatrice riu dela, e Cathie também. Disseram que era invencionice, ou coisa semelhante.
Não parecia haver muito mais a colher de Leopold. Subiram à procura de Ann que, aparentando ter mais de 16 anos, estava debruçada sobre uma mesa, com vários livros de estudo espalhados a seu redor.
- Sim, estive na festa - disse ela.
- Você ouviu sua irmã dizer que tinha visto um assassinato?
- Sim, ouvi, mas não lhe dei atenção.
- Você achou que fosse verdade?
- É claro que não era. Há muito tempo que não se cometem crimes de morte por aqui. Creio que há anos que não acontece aqui um assassinato propriamente dito.
- Então, na sua opinião, por que ela o teria dito?
- Oh, ela gostava de exibição, quero dizer, tinha o prazer de se mostrar. Uma vez, contou uma história maravilhosa de uma viagem que fizera através da Índia. Meu tio fez uma viagem àquele país, e ela fingia ter ido com ele. Muitas garotas na escola acreditaram piamente na sua história.
- Então você não se lembra de ter acontecido aqui nesses últimos três ou quatro anos qualquer coisa que se pudesse chamar assassinato?
- Não, só delitos comuns - respondeu Ann. – Isto é, aqueles de que falam os jornais diariamente. E, na realidade, não ocorreram aqui em Woodleigh Common. Na sua maioria, acontecem em Medchester.
- Quem você acha que matou sua irmã, Ann? Você deve ter conhecido seus amigos, você devia saber quem não gostava dela.
- Não posso imaginar quem poderia querer matá-la. O criminoso, a meu ver, só pode ser um louco.
- Não haveria alguém que tivesse discutido com ela ou que não se desse com sua irmã?
- O senhor quer dizer se ela tinha um inimigo? Acho isso uma tolice. Na realidade ninguém tem inimigos. Há apenas pessoas de quem não gostamos.
Quando Hercule Poirot e a sra. Oliver saíam do quarto, Ann disse:
- Não quero ser odiosa com relação a Joyce, por que está morta, e nem seria caridoso de minha parte, mas era uma mentirosa de marca maior. Os senhores compreendem, sinto dizer isso de minha irmã, mas é a pura verdade.
- Estamos fazendo algum progresso? - perguntou a sra. Oliver a Poirot, quando deixavam a casa da mãe de Joyce,
- Nenhum, absolutamente nenhum – respondeu Poirot. - Isso é interessante - disse pensativo.
A sra. Oliver parecia não estar de acordo com ele.
CAPÍTULO 8
Eram seis horas da tarde na Colina dos Pinheiros. Hercule Poirot pôs na boca um pedaço de salsicha, seguido logo após de um gole de chá. O chá estava forte e, para o gosto de Poirot, intragável. Mas a salsicha estava deliciosa, cozida com perfeição. Olhou, com uma expressão de cumprimento, para o outro lado da mesa, onde a sra. McKay presidia a um grande bule de chá.
Elspeth McKay era completamente diferente de seu irmão, o inspetor Spence. Onde ele era largo, ela era angular. Seu rosto magro, ovalado, abria-se para o mundo com uma arguta avaliação. Era fina como uma agulha. Não obstante, havia certa semelhança entre eles, sobretudo os olhos e o contorno do queixo. "Podia confiar em ambos", pensava Poirot, "por seu critério e bom senso". Expressavam-se de maneira diferente, mas era só isso. O inspetor Spence falava devagar e media as palavras, como resultado de contínuas e devidas meditações e deliberações. A sra. McKay ia rápida e diretamente ao assunto, como um gato perseguindo um rato.
- Muita coisa depende do caráter daquela criança - disse Poirot. - Joyce Reynolds. É isso que mais me intriga.
Olhou indagadoramente para Spence.
- Não se baseie em mim - disse Spence. – Moro aqui há muito pouco tempo. É melhor perguntar a Elspeth.
Poirot olhou para o outro lado da mesa, com as sobrancelhas levantadas em atitude indagadora. A sra. McKay, como de costume, reagiu prontamente.
- Eu diria que era propriamente uma pequena mentirosa - disse ela.
- O tipo de menina em quem não se confia e em cujas palavras ninguém acredita?
Elspeth assentiu com a cabeça, taxativamente.
- Exatamente. Inventar uma história, ah, isso sim ela sabia fazer, e com que perfeição. Eu, porém, nunca acreditei nela.
- E inventava com o objetivo de se exibir?
- Perfeito. Já lhe contaram a história da Índia, não foi? Muita gente acreditava. Alguém da família viajou realmente para o exterior. Não sei se foi seu pai ou sua mãe, seu tio ou sua tia, mas foram à Índia. Ela voltou daquelas férias com histórias fantásticas, dizendo tê-los acompanhado naquela viagem. Inventou uma história interessante de tudo isso. A história de um marajá e de uma caçada ao tigre, e a elefantes - ah, e não lhe faltava audiência e muita gente daqui acreditava nela. Mas via-se logo que contava muito mais do que tinha acontecido. No início eu achava que estivesse apenas exagerando. Mas a história crescia cada vez que ela a contava. Havia sempre mais tigres, acho que o senhor me compreende. Cada vez mais tigres do que era possível. E elefantes, também, para completar. Eu já a vira antes, também, contando histórias extravagantes.
- Sempre para chamar atenção?
- Sempre. Era a maior nisso.
- Pelo fato de uma criança inventar uma história sobre uma viagem que nunca fez - disse o inspetor Spence -, não se pode dizer que toda história exagerada que contasse fosse mentira.
- Poderia não ser - concordou Elspeth -, mas eu diria que a probabilidade é de que, de modo geral, fosse.
- Então, na sua opinião, se Joyce Reynolds saísse com uma história extravagante de ter assistido a um crime, você diria que provavelmente estaria mentindo e não acreditaria na autenticidade da história?
- Acho que sim - respondeu a sra. McKay.
- Talvez você se enganasse - disse seu irmão.
- É claro - assentiu a sra. McKay. - Qualquer um pode enganar-se. É a velha história do garoto que vivia a pedir socorro, a gritar "O lobo! O lobo!" Mas o fazia tão repetidamente, por brincadeira, que, quando apareceu um lobo de verdade, ninguém acreditou nele, e o lobo o comeu. Resumindo...
- Eu continuo achando que toda probabilidade é de que não estivesse dizendo a verdade. Mas sou justa. Talvez estivesse, quem sabe? Poderia ter visto algo. Não tanto quanto disse que viu, mas alguma coisa.
- E por isso foi morta - disse o inspetor Spence. - É preciso que você leve isso em conta, Elspeth. Joyce foi assassinada.
- Isso é verdade — disse a sra. McKay. - É por isso que estou dizendo que posso estar fazendo mau juízo dela. E, se assim for, sinto muito. Mas perguntem a qualquer pessoa que a tenha conhecido e lhes dirá que a mentira era um fraco de Joyce. Lembrem-se de que se encontrava numa festa e estava excitada. Ela haveria de querer fazer uma encenação.
- De fato, ninguém a levou a sério - disse Poirot.
Elspeth balançou a cabeça numa expressão de dúvida.
- Quem ela poderia ter visto sendo assassinado? - perguntou Poirot, desviando seu olhar do irmão para a irmã.
- Ninguém — respondeu a sra. McKay, com firmeza.
- Deve ter havido algumas mortes por aqui nesses últimos três anos.
- É evidente - disse Spence. - Os casos comuns: morte de pessoas idosas ou de inválidos; ou talvez casos de acidentes de trânsito com a fuga do motorista...
- Nenhuma morte fora do comum ou não esperada?
- Bem... - Elspeth hesitou. - Quer dizer... Spence a interrompeu.
- Rabisquei alguns nomes aqui - estendeu um pedaço de papel para Poirot. - Evitei um bocado de dificuldades, fazendo perguntas por aí.
- São estas as possíveis vítimas?
- Não chegam talvez a tanto. Digamos, dentro do raio de possibilidade.
Poirot leu em voz alta.
- Sra. Llewellyn-Smythe. Charlotte Benfield. Janet White. Lesley Ferrier... - parou, olhou para o outro lado da mesa e repetiu o primeiro nome: - Sra. Llewellyn-Smythe.
- Pode ser - disse a sra. McKay. - Talvez o senhor consiga alguma coisa aí.
Acrescentou uma palavra que soou como "ópera".
- Ópera? - Poirot ficou intrigado. Não tinha ouvido falar de nenhuma ópera.
- Sumiu da noite para o dia - disse Elspeth -, e nunca mais se ouviu falar dela.
- Da sra. Llewellyn-Smythe?
- Não, não. A ópera girl. Poderia ter facilmente adicionado alguma coisa aos medicamentos. E entraria no dinheiro todo ou assim pensava, na ocasião.
Poirot olhou para Spence como quem pede esclarecimento.
- E nunca mais se ouviu falar dela - disse a sra. McKay. - Essas estrangeiras são todas a mesma coisa.
Poirot compreendeu o sentido da palavra "ópera".
- Ah, uma au pair girl - disse ele —, uma acompanhante.
- Isso mesmo. Morava com a velha e, uma semana ou duas depois da morte de sua patroa, desapareceu por completo.
- Fugiu com algum sujeito, suponho - disse Spence.
- Bem, se havia esse sujeito, ninguém sabe - esclareceu Elspeth. - E por aqui em geral se fala muito. É comum se saber exatamente quem anda com quem.
- Alguém teria notado algo de anormal com referência à morte da sra. Llewellyn-Smythe? - perguntou Poirot.
- Não. Ela morreu de um distúrbio cardíaco. Recebia regularmente a visita do médico.
- Mas a senhora iniciou sua lista de possíveis vítimas com ela.
- Bem, era uma mulher rica, muito rica mesmo. Sua morte não foi inesperada, mas foi súbita. Foi tão de improviso que surpreendeu o próprio dr. Ferguson, embora só um pouco. Acho que esperava que ela vivesse mais. Mas os médicos têm também dessas surpresas. A sra. Llewellyn-Smythe não era do tipo que obedece a prescrições médicas. Recebera recomendações para evitar a estafa, mas agia a seu bel-prazer. Primeiramente, era apaixonada por jardinagem, e esse é o tipo de atividade que não faz bem ao coração.
Elspeth começou a contar a história.
- Ela veio morar aqui quando sua saúde começou a se abalar. Anteriormente morava no exterior. Veio para morar perto de seu sobrinho e de sua sobrinha, o sr. e a sra. Drake, e comprou a Mansão da Pedreira. Uma grande casa vitoriana que incluía uma pedreira abandonada, que a atraiu como passível de aproveitamento. Gastou milhares de libras transformando-a num jardim rebaixado ou coisa que o valha. Tinha um paisagista de Wisley a seu serviço para projetá-lo. Oh, posso-lhe assegurar que vale a pena ver.
- Irei lá olhar - disse Poirot. - Quem sabe isso talvez me propicie algumas idéias...
- Se eu fosse o senhor, não deixaria de ir. Vale mesmo a pena ver.
- A senhora disse que ela era rica, não? – perguntou Poirot.
- Era viúva de um grande construtor de navios. Não sabia onde botar o dinheiro.
- Sua morte não foi surpresa, dado o seu estado de deficiência cardíaca, mas foi súbita - disse Spence. - Ninguém duvidou de que sua morte fora devida exclusivamente a causas naturais. Colapso cardíaco ou um outro nome mais comprido que os médicos costumam usar, não sei o que das coronárias.
- Não se levantou a questão de uma autópsia? Spence meneou a cabeça.
- A morte se antecipou - disse Poirot. – Uma senhora idosa a quem é dito para tomar cuidado, para não subir nem descer escadas, para não trabalhar muito em jardinagem, e assim por diante. Mas se se trata de uma mulher enérgica, que foi durante toda a vida uma jardineira entusiasta e acostumada a fazer o que quer, então, jamais tratará essas recomendações com o devido respeito.
- É a pura verdade. A sra. Llewellyn-Smythe fez uma maravilha da pedreira - ou antes, o paisagista. Trabalharam nisso durante três ou quatro anos, ele e sua patroa. A sra. Llewellyn-Smythe viu algum jardim, creio que na Irlanda, quando participou de uma excursão de visitas a
jardins, organizada pela Nacional Trust. Com o que tinha em mente, transformaram totalmente o lugar. Oh, é preciso ver para crer.
- Foi, portanto, uma morte natural – disse Poirot -, atestada pelo médico local. É o mesmo médico que reside aqui e com quem me encontrarei daqui a pouco?
- Sim, é o dr. Ferguson. Um senhor com mais ou menos sessenta anos, bom profissional e muito estimado na cidade.
- Mas a senhora suspeita, por quaisquer outras razões além das que já me deu, de que a morte da sra. Llewellyn-Smythe poderia ter sido um assassinato?
- A ópera girl, por exemplo - disse Elspeth.
- Por quê?
- Bem, ela deve ter forjado o testamento. Quem o teria falsificado, senão ela?
- A senhora deve ter mais coisas para me contar - disse Poirot. - Que negócio é esse de testamento forjado?
- Bem, houve muita confusão no momento da legitimação, ou coisa semelhante, do testamento da velha.
- Era um testamento novo?
- Era o que eles chamam de... qualquer coisa como codi... ah, codicilo.
Elspeth olhou para Poirot, que assentiu com a cabeça.
- Ela já fizera testamentos antes - disse Spence. - Sempre a mesma coisa. Doações a instituições de caridade, legados a velhos criados, mas o grosso de sua fortuna foi sempre destinado ao seu sobrinho e à sua esposa, que eram seus parentes mais próximos.
- E o tal de codicilo?
- Deixava tudo para a ópera girl - disse Elspeth -, "por causa de sua dedicação e bondade." Algo semelhante.
- Conte-me mais sobre a au pair girl.
- Veio de algum país da Europa Central. Tinha um nome um tanto comprido.
- Quanto tempo ficou com a velha senhora?
- Exatamente um ano.
- A senhora chama sempre a sra. Llewellyn-Smythe de velha. Que idade tinha ela?
- Uns sessenta e tantos, digamos, 65 ou 66.
- Não é idade de velhice - disse Poirot incisivamente.
- Segundo consta, ela teria feito vários testamentos - continuou Elspeth. - Como Bert lhe disse, quase todos a mesma coisa. Deixava dinheiro para uma ou duas casas de caridade, e talvez, em seguida, mudava as casas e algumas diferentes lembranças para velhos criados e tudo o
mais. Mas o grosso de sua fortuna ia sempre para o sobrinho e a esposa, e acho que para uma outra prima velha que já morreu, mas naquela época ainda vivia. Deixou o bangalô que construíra para o paisagista, para residir nele quanto tempo quisesse, e alguma renda que lhe possibilitasse conservar o jardim rebaixado e permitir sua visitação pelo público. Mais ou menos assim.
- Suponho que a família tenha alegado que seu equilíbrio mental estivesse perturbado, que deveria estar sob influência indébita.
- Acho que poderiam chegar a isso - disse Spence. - Mas os advogados descobriram logo a falsificação. Não era uma falsificação muito convincente, evidentemente. Eles a identificaram quase imediatamente.
- Os fatos demonstraram que a ópera girl poderia facilmente ter feito tudo aquilo - disse Elspeth. - O senhor sabe, ela escreveu muitas e muitas cartas para a sra. Llewellyn-Smythe e, ao que parece, a velha senhora detestava mandar cartas datilografadas a amigos. Se não se tratasse de uma carta de negócios, ela sempre dizia: "Escreva a mão e procure tanto quanto possível imitar minha letra e assine meu nome." A sra. Minden, a faxineira, ouviu-a dizer isso um dia, e creio que a moça habituou-se a fazer isso e a copiar a escrita de sua patroa e, de repente, deve ter tido a idéia de fazer o que fez. Foi assim que aconteceu tudo. Mas como disse, os advogados foram argutos e descobriram logo.
- Os próprios advogados da sra. Llewellyn-Smythe?
- Sim. Fullerton, Harrison e Leadbetter. Uma firma muito respeitável de Medchester. Eles sempre trataram de seus negócios legais. De qualquer maneira, mandaram fazer perícias e a moça foi interrogada e chegaram à conclusão. A moça um dia saiu, como se a passeio, e desapareceu,
deixando a metade de seus pertences. Os advogados estavam se preparando para lhe mover uma ação, mas ela não esperou por isso. Simplesmente sumiu. Realmente, não é lá muito difícil sair deste país, desde que se faça no momento oportuno. A gente pode viajar por alguns dias para
o continente sem necessidade de passaporte. E mais ainda: com a ajuda de pessoas do outro lado, tudo pode ser arranjado muito antes que haja qualquer denúncia ou perseguição. Ela, provavelmente, deve ter voltado para o seu país ou mudou de nome e vive com amigos.
- Mas todo o mundo achou que a sra. Llewellyn-Smythe morreu de morte natural? - perguntou Poirot.
- Sim, não me lembro de que se tenha levantado qualquer dúvida a respeito. Acho apenas que seja possível, pois essas coisas aconteceram antes que o médico tivesse qualquer suspeita. Suponhamos que a menina Joyce tivesse ouvido alguma coisa, tivesse visto a au pair girl dando remédios à sra. Llewellyn-Smythe e a tivesse ouvido dizer: "Este remédio tem um gosto diferente." Ou "Oh, como é amargo" ou "É esquisito."
- Pode-se dizer que você mesma estava ali ouvindo essas coisas, Elspeth - disse o inspetor Spence. - Tudo é fruto de sua imaginação.
- Quando foi que ela morreu? - perguntou Poirot. - Pela manhã, à noite, dentro de casa, fora de casa, em casa ou não?
- Oh, em casa. Ela acabara de fazer seus trabalhos rotineiros no jardim, respirando pesadamente. Disse que estava muito cansada e que ia repousar um pouco na sua cama. Resumindo, nunca mais acordou. O que parece perfeitamente natural em termos médicos.
Poirot tirou do bolso uma caderneta de anotações. No alto da página já havia o título "Vítimas". Embaixo ele escreveu: "n° 1 - sra. Llewellyn-Smythe, possível." Nas páginas seguintes de sua caderneta lançou os outros nomes que Spence lhe passara.
- Charlotte Benfield? - indagou.
- Uma comerciária de 16 anos de idade - respondeu Spence prontamente. - Muitos ferimentos na cabeça, Foi encontrada numa estrada perto do Bosque da Pedreira. A suspeita caiu sobre dois jovens. Ambos saíam com ela de vez em quando. Nenhuma prova.
- Forneceram alguma pista para a polícia em seus interrogatórios? - perguntou Poirot.
- Como você diz, é um chavão batido. Não forneceram pista alguma. Estavam atemorizados. Disseram algumas mentiras, contradisseram-se. Não chegaram a ser indiciados como possíveis assassinos. Mas ambos poderiam ter sido.
- Como eram eles?
- Peter Gordon, 21 anos de idade. Desempregado. Teve um ou dois empregos, mas nunca os mantinha. Preguiçoso. Boa aparência. Esteve uma vez ou duas sob sursis por causa de pequenos furtos, coisas desse gênero. Nenhum registro anterior de violência. Gostava de freqüentar um grupo nojento de prováveis delinqüentes juvenis, mas de modo geral procurava evitar complicações mais graves.
- E o outro?
- Thomas Hudd. Vinte anos. Gago. Tímido. Neurótico. Queria ser professor mas não conseguiu formar-se. A mãe dele é viúva. O tipo da mãe extremosa. Afastava suas amiguinhas. Trazia-o agarrado às suas saias. Ele arranjou emprego numa papelaria. Não tem antecedentes criminais, mas há a possibilidade psicológica, assim parece. A garota troçava muito dele. O ciúme parece ter sido a causa de tudo, mas não havia provas. Ambos arranjaram álibis. Hudd estaria na casa de sua mãe, que jurou por todos os santos que ele esteve em casa com ela durante toda aquela noite, e ninguém podia dizer que não esteve ou que o tivesse visto em algum lugar ou nas proximidades do local do crime. Gordon conseguiu um álibi com um de seus amigos menos respeitáveis. Não era um grande álibi, mas não podia também ser rejeitado.
- Isso aconteceu quando?
- Há 18 meses.
- E onde?
- Numa estrada campestre não muito longe de Woodleigh Common.
- Há cerca de um quilômetro daqui – informou Elspeth.
- Perto da casa de Joyce, da casa dos Reynolds?
- Não, foi do outro lado da cidade.
- Não parece provável que Joyce se tivesse referido a esse crime - disse Poirot pensativo. - Se ela visse uma moça ser golpeada na cabeça por um jovem, provavelmente seria logo levada a pensar num crime. Não iria esperar um ano para começar a pensar em assassinato.
Poirot leu outro nome.
- Lesley Ferrier.
- Escriturário, 28 anos, empregado dos advogados Fullerton, Harrison e Leadbetter, da Market Street, em Medchester.
- Não são os procuradores da sra. Llewellyn-Smythe?
- Sim. São eles mesmos.
- O que foi que aconteceu a Lesley Ferrier?
- Foi apunhalado pelas costas. Não muito longe da hospedaria Green Swan. Dizem que ele tinha um caso com a esposa do senhorio, Harry Griffin. Era uma mulher atraente, e na verdade ainda é. Talvez esteja ficando já um bocado madura. Cinco ou seis anos mais velha do que ele,
mas o fato é que gosta de homens mais jovens do que ela.
- E a arma usada?
- A faca não foi encontrada. Dizem que Lesley tinha rompido com ela e andava com alguma outra moça, mas que moça era essa nunca se soube satisfatoriamente.
- Ah! E nesse caso, quem era o suspeito? O senhorio ou a esposa?
- Muito bem - disse Spence. - Poderiam ter sido ambos. Mais provavelmente a mulher. Era meio cigana e um bocado temperamental. Mas havia outras possibilidades. Nosso Lesley não levava uma vida exemplar. Já aos vinte anos andou implicado em falsificação de contas em
algum lugar. Ficou conhecido como falsário. Dizia-se que viera de um lar desfeito e tudo o mais. Seus patrões o defenderam. Pegou uma sentença pequena e, quando saiu da prisão, foi admitido no escritório de Fullerton, Harrison e Leadbetter.
- E depois, tornou-se honesto?
- Bem, não se pode provar. Pelo menos assim parecia no que dizia respeito a seus patrões. Mas se metera em algumas transações duvidosas com seus amigos. Ele é o que se poderia chamar de um errado cauteloso.
- De modo que a outra alternativa era?...
- Que poderia ter sido abatido por um de seus amigos menos respeitáveis. Quando se vive no meio de elementos perigosos, não é difícil receber uma facada se não se faz o que eles querem.
- Mais alguma coisa?
- Bem, ele tinha um bocado de dinheiro na sua conta bancária. Depositado em espécie. Não houve meio de se descobrir sua origem. Isso já seria motivo de indagações.
- Talvez surrupiado dos cofres de Fullerton, Harrison e Leadbetter, não? - sugeriu Poirot.
- Eles dizem que não. Mandaram um perito contador estudar e examinar minuciosamente o assunto.
- E a polícia não teve a menor idéia da procedência do dinheiro?
-Não.
- Ainda desta vez - disse Poirot -, não é o crime de Joyce.
Leu o último nome.
- Janet White.
- Foi encontrada estrangulada numa estrada que fazia um atalho entre o prédio escolar e sua casa. Ela partilhava o apartamento com outra professora, Nora Ambrose. Conforme Nora Ambrose, Janet White vez por outra lhe falava de viver preocupada com um certo homem com quem rompera relações um ano antes, mas que lhe vivia mandando cartas ameaçadoras. Nada se conseguiu apurar sobre esse homem. Nora Ambrose não sabia seu nome nem onde morava tampouco.
- Ah - disse Poirot —, estou gostando mais disso.
E marcou com um V preto e bem forte o nome de Janet White.
- Por que razão? - perguntou Spence.
- É o assassinato mais provável de uma criança da idade de Joyce ter assistido. Ela poderia ter reconhecido a vítima, uma professora primária que conhecesse e talvez tivesse sido sua professora. É possível que não conhecesse o criminoso. Pode ter visto uma luta, ter ouvido uma
discussão entre a jovem que ela conhecia e o homem desconhecido. Mas não teria mais pensado naquilo na época. Quando foi que Janet White foi assassinada?
- Faz dois anos e meio.
- Isso também vem ao encontro de minhas suposições - disse Poirot. - Não só por não compreender que o homem que ela poderia ter visto com as mãos no pescoço de Janet White não estava simplesmente acariciando-a, mas também poderia a estar matando. Depois, quando ficou maior, compreendeu exatamente o que se passara.
Olhou para Elspeth.
- A senhora concorda com meu raciocínio?
- Compreendo o que o senhor quer dizer - respondeu Elspeth. - Mas não estaria no caminho errado? Procurando uma vítima de um crime passado em vez de procurar o assassino de uma criança aqui em Woodleigh Common há não mais de três dias?
- Passaremos do passado ao futuro - disse Poirot. - Chegaremos, diríamos, de dois anos e meio a esses três dias atrás. E, por conseguinte, teremos de considerar – o que, sem dúvida, a senhora já considerou - quem estava em Woodleigh Common entre as pessoas presentes à festa e que poderia ter relação com o crime mais antigo.
- Poderíamos reduzir muito mais ainda a questão - disse Spence. - Isto é, a aceitar a sua hipótese de que Joyce foi assassinada pelo fato de ter afirmado durante o dia ter assistido a um assassinato. Ela disse essas palavras durante os preparativos para a festa. Pense bem, podemos estar errados ao acreditar que esse tenha sido o motivo de seu
assassinato, mas não creio que estejamos errados. Digamos, portanto, que ela afirmasse ter visto o crime e que alguém presente durante os preparativos para a festa da noite a tenha ouvido e agido o mais cedo possível.
- Quem estava presente? - perguntou Poirot. - Presumo que você deva saber.
- Sim, fiz uma lista para você.
- Conferiu-a cuidadosamente?
- Sim, conferi e tornei a conferir, mas deu um bocado de trabalho. Eis aqui 18 nomes.
Lista das pessoas presentes durante os preparativos para a festa de Halloween.
Sra. Drake (dona da casa)
Sra. Butler
Sra. Oliver
Srta. Whittaker (professora)
Rev. Charles Cotterell (pároco)
Simon Lampton (vigário)
Srta. Lee (assistente do dr. Ferguson)
Ann Reynolds
Joyce Reynolds
Leopold Reynolds
Nicholas Ranson
Desmond Holland
Beatrice Ardley
Cathie Grant
Diana Brent
Sra. Garlton (auxiliar de serviço)
Sra. Minden (faxineira)
Sra. Goodbody (ajudante)
- Está certo de que só são estas?
- Não - disse Spence. - Não estou certo, nem poderia estar. Ninguém pode estar certo. Pessoas estranhas levaram encomendas, você sabe, não é? Alguém trouxe algumas lâmpadas coloridas; outra pessoa chegou com espelhos encomendados. Havia algumas chapas extras.
Alguém emprestou um balde de plástico. São pessoas que entravam trazendo objetos, trocavam uma ou duas palavras e se iam. Não ficavam para ajudar. Por conseguinte é possível que alguém pudesse passar despercebido e ninguém se lembrasse da sua presença. Mas esse alguém, mesmo se apenas tivesse posto um balde na varanda, poderia ter ouvido o que Joyce estaria dizendo na sala de estar. Ela falava em voz alta, sabe. Não nos podemos limitar a esta lista, mas é o que de melhor podemos fazer.
Aqui está. Dê uma olhadela. Fiz uma pequena nota descritiva junto a cada nome.
- Obrigado. Apenas uma pergunta. Você deve ter interrogado algumas dessas pessoas; aquelas, por exemplo, que estiveram também na festa. Teria qualquer uma delas mencionado o que Joyce dissera a propósito do crime a que teria presenciado?
- Acho que não. Não há nenhum registro oficial sobre o assunto. A única vez que ouvi falar do assunto foi por seu intermédio.
- Interessante - disse Poirot -, poder-se-ia mesmo dizer, curioso.
- Evidentemente, ninguém a levou a sério – disse Spence.
Poirot assentiu com a cabeça, pensativo.
- Tenho um encontro marcado com o dr. Ferguson, depois de uma operação - disse Poirot, preparando-se para sair.
Dobrou a lista de Spence e a pôs no bolso.
CAPÍTULO 9
O dr. Ferguson era um homem de sessenta anos, de origem escocesa e de gestos bruscos. Olhou Poirot de alto a baixo, com olhos perspicazes, sob umas sobrancelhas eriçadas, e disse:
- Bem, de que se trata? Sente-se. Cuidado com a perna dessa cadeira. A rodinha está solta.
- Devo explicar... - começou Poirot.
- O senhor não precisa explicar - atalhou o dr. Ferguson. - Num lugar pequeno como este sabe-se de tudo. Que a escritora o trouxe para aqui como o maior detetive da terra para embaralhar as coisas para a polícia. Estou mais ou menos certo?
- Em parte - respondeu Poirot. - Vim visitar um velho amigo, o ex-inspetor Spence, que mora aqui com sua irmã.
- Spence? Hum. Bom sujeito, o Spence. Cara de buldogue. Um policial honesto do velho tipo. Nada de suborno. Nada de violência. Nem de estupidez tampouco. A integridade em pessoa.
- Seu juízo sobre ele é correto.
- Bem - disse Ferguson -, o que foi que você lhe disse e o que foi que ele lhe disse?
- Tanto ele como o inspetor Raglan dispensaram-me atenção fora do comum. Espero ser tratado da mesma maneira pelo senhor.
- Não sei de que maneira lhe poderei ser útil - disse Ferguson. - Não sei o que aconteceu. Durante uma festa meteram a cabeça de uma criança dentro de um balde e a mataram afogada. Sujeira. Pense bem, coisas como esta não são motivos para alarme nos dias de hoje. Nesses últimos sete a dez anos tenho sido chamado constantemente para ver muitas crianças assassinadas. Muitas mesmo. Uma enorme quantidade de pessoas que deveriam estar sob controle não estão. Não há lugar nas
clínicas. Vão por aí, falando mansamente, bem arrumadas, parecendo pessoas normais e procurando alguém a quem possam arruinar. E se divertem, embora de modo geral não o façam numa festa. Há muita probabilidade de serem apanhadas, suponho, mas a novidade excita até
mesmo um assassino de mente perturbada.
- O senhor faz alguma idéia de quem poderia tê-la matado?
- O senhor acha realmente que eu possa responder a uma pergunta dessa? Eu teria de ter alguma prova, não teria? Teria de estar seguro.
- O senhor poderia supor - disse Poirot.
- Qualquer um pode supor. Se vou ver um paciente, tenho que supor se ele está com sarampo ou se é um caso de alergia a crustáceos ou a travesseiros de penas. Tenho de fazer perguntas para descobrir o que andou comendo, bebendo, como tem dormido, com que crianças tem andado. Se andou num ônibus lotado com os filhos da sra. Smith ou da sra. Robinson, que estão todos com sarampo, e outras coisas mais. Aí, então, arrisco uma opinião quanto à mais provável de todas as possibilidades e isso, permita-me que lhe diga, é o que se chama de diagnóstico. Um diagnóstico não é feito às pressas e é preciso se certificar.
- O senhor conhecia a criança?
- É claro. Era uma de minhas pacientes. Somos dois médicos aqui. Eu e Worrall. Acontece que sou o médico dos Reynolds. Joyce era uma criança muito sadia. Teve pequenas doenças infantis. Nada de peculiar ou fora do comum. Comia demais e conversava demais. Falar demais não lhe causava nenhum mal, mas o excesso de
alimentação lhe causava, de vez em quando, o que antigamente se chamava de ataque de bílis. Teve caxumba e catapora. Nada mais.
- Mas talvez tenha falado demais numa ocasião. Como o senhor mesmo sugere, era o seu fraco.
- Ah, é aí que o senhor quer chegar? Ouvi alguma coisa a respeito. Na base do "ouvi dizer"; só tragédia em vez de comédia. É isso?
- Poderia ser uma motivação, uma razão.
- Oh, sim. Concordo com o senhor nesse ponto. Mas há outras razões. Coisa de um desequilibrado mental é a resposta que se dá comumente em nossos dias, pelo menos é o que se ouve constantemente nas salas dos tribunais. Ninguém ganhou com sua morte, ninguém a odiava. Mas tenho a impressão de que com as crianças de hoje em dia não há necessidade de se procurar a razão. A razão está em outro lugar. A razão está na mente do assassino. Sua
mente desequilibrada, sua mente perversa ou sua mente excêntrica. Qualquer espécie de mente que prefira denominar. Não sou psiquiatra. Há momentos em que me aborreço de ouvir aquelas palavras: "Submetido a um exame psiquiátrico", quando um garoto invade algum lugar, quebra vitrinas, furta garrafas de uísque, rouba dinheiro e fere uma velha na cabeça. Não tem muita importância o que acontece agora. Submeta-os a um teste psiquiátrico.
- E, na sua opinião, quem deveria ser submetido, nesse caso, a um exame psiquiátrico?
- O senhor se refere às pessoas da festança daquela noite?
- Sim.
- O assassino devia estar entre elas, não devia? Caso contrário, não teria havido crime. Estava entre os convidados, estava entre os que ajudavam ou entrou pela janela premeditando o crime. É provável que conhecesse os ferrolhos da casa. Poderia ter estado ali antes, observando. Que fosse um homem ou um menino. Precisava matar alguém. Nada fora do comum. Agora mesmo em Medchester tivemos um
caso desses. Veio à luz depois de seis ou sete anos. Um garoto de 13 anos. Queria matar alguém, de modo que matou uma menina de nove anos, roubou um carro, conduziu-o a um bosque a dez ou 12 quilômetros de distância, enterrou-a ali e foi embora, e, tanto quanto sabemos, levou uma vida irrepreensível até a idade de 21 ou 22 anos. Pense bem, que quanto a isso só temos a palavra dele. Quem sabe se não
continuou agindo da mesma forma? É bem provável. Acho que tinha prazer em matar gente. Não creio que tenha matado muitas e muitas pessoas, pois, se assim fosse, a polícia já teria posto a mão nele há mais tempo. Mas de vez em quando devia sentir o impulso. Exame psiquiátrico. Cometia o crime enquanto mentalmente desequilibrado. Estou procurando explicar para mim mesmo o que pode ter acontecido aqui. Mais ou menos isso. Eu mesmo não sou psiquiatra, graças a Deus. Tenho alguns amigos psiquiatras. Alguns deles são pessoas sensatas. Outros, bem, irei longe demais dizendo que precisam ser eles próprios submetidos a um exame psiquiátrico. Esse camarada que matou Joyce provavelmente tinha pais distintos, maneiras comuns, boa aparência. Ninguém jamais sonharia com algo de anormal nele. Não acontece às vezes a gente dar umas mordidas numa bela maçã vermelha e suculenta e, já no fim, ver algo nojento se levantar e sacudir sua cabeça para nós? Grande parte dos seres humanos é assim. Hoje em dia mais do que antigamente.
- E o senhor não tem pessoalmente qualquer suspeita?
- Não posso me meter a diagnosticar um criminoso sem alguma prova.
- Não obstante, o senhor admite que deve ter sido alguém que estava na festa. Não se pode ter um crime sem um criminoso.
- É muito possível em algumas histórias policiais que são escritas. Mas nesse caso eu concordo. O assassino deve ter estado ali. Um convidado, uma doméstica, alguém que tenha entrado pela janela. Tanto mais fácil se estudou antes o trinco da janela. Algum cérebro doentio
pode ter sido excitado pela novidade da idéia bastante engraçada de haver um assassinato numa festa de Halloween. É daí que o senhor tem de partir, não é? Precisamente de alguém que tenha estado na festa.
Debaixo de sobrancelhas espessas dois olhos piscaram para Poirot.
- Eu mesmo estive lá - disse o dr. Ferguson. - Cheguei tarde, só para ver o que se estava passando.
Assentiu vigorosamente com a cabeça.
- Sim, aí está o problema, não é? Como uma nota social nos jornais:
Entre os presentes havia... Um assassino.
CAPÍTULO 10
Poirot levantou as vistas para o Elms. Era ali mesmo.
Foi recebido e imediatamente conduzido ao gabinete da diretora por uma pessoa que julgou ser uma secretária. A srta. Emlyn levantou-se de sua mesa para cumprimentá-lo.
- Folgo em conhecê-lo, sr. Poirot. Ouvi falar muito no senhor.
- É bondade sua, senhorita - disse Poirot.
- Foi uma velha amiga minha, a srta. Bulstrode, ex-diretora de Meadowbank. O senhor talvez se lembre dela, não?
- A srta. Bulstrode é dessas criaturas de quem jamais se pode esquecer. Uma grande personalidade.
- Realmente - concordou a srta. Emlyn. - Fez da escola de Meadowbank o que fez.
Suspirou e continuou:
- Está um pouco mudada atualmente. Objetivos diferentes, embora conserve ainda seu caráter de escola de elite, de progresso e também de tradição. Bem, não devemos viver demais do passado. O senhor sem dúvida veio para conversarmos sobre a morte de Joyce Reynolds. Não sei se o senhor tem algum interesse particular nesse caso. Não é da espécie de casos de que geralmente se ocupa. O senhor a conheceu pessoalmente, ou a sua família, talvez?
- Não - respondeu Poirot. - Vim a pedido de uma velha amiga, a sra. Ariadne Oliver, que estava passando uns dias aqui e se achava na festa.
- Ela escreve livros deliciosos - disse a srta. Emlyn. - Já estive com ela umas duas vezes. Bem, isso torna tudo mais fácil; uma vez que não há sentimentos pessoais envolvidos, podemos ir direto aos fatos. Foi horrível o que aconteceu. Se posso dizer assim, foi o tipo da coisa que não podia acontecer. As crianças envolvidas não parecem bastante velhas nem bastante novas para serem enquadradas em alguma classe especial. Tudo indica tratar-se de um crime psicológico. O senhor concorda?
- Não - respondeu Poirot. - Acho que foi um crime, como a maioria dos crimes, cometido por algum motivo e, possivelmente, por um motivo sórdido.
- O senhor acha? Por quê?
- Por causa de uma observação feita por Joyce; não propriamente durante a festa, mas durante o dia, quando os preparativos estavam sendo feitos por garotos mais velhos e por outros auxiliares. Ela disse que um dia tinha assistido a um assassinato.
- Acreditaram nela?
- De modo geral acho que não lhe deram nenhum crédito.
- Foi a reação mais provável. Joyce, para lhe ser franca, sr. Poirot, pois não queremos que sentimentos desnecessários obscureçam nossas faculdades mentais, era uma criança medíocre, nem tola nem particularmente intelectual. Era exatamente uma mentirosa contumaz. Não quero, porém, dizer com isso que fosse uma embusteira consagrada. Não tentava evitar punições ou ser apanhada em alguma falta. Ela se vangloriava. Vangloriava-se de coisas que não tinham
acontecido, mas que impressionariam as amigas que a ou vissem. Conseqüentemente, é claro, em geral se recusavam a acreditar nas história absurdas que ela contava.
- A senhora acha então que Joyce se vangloriava de ter visto um assassinato, só para se fazer importante e despertar a curiosidade de alguém...?
- Perfeitamente. E, a meu ver, Ariadne Oliver era exatamente a pessoa a quem ela queria impressionar...
- A senhora acha então que Joyce não presenciou crime algum?
- Duvido muito.
- A senhora é de opinião de que Joyce inventou tudo aquilo?
- Não chegaria a tanto. É possível que tenha visto, por exemplo, um acidente de carro ou alguém que tivesse sido atingido por uma bola num campo de golfe e ficado ferido - alguma coisa que pudesse transformar num acontecimento impressionante, que passasse como uma tentativa de assassinato.
- Quer dizer que a única hipótese que podemos formular é a de que havia um assassino presente na festa de Halloween.
- Certamente - disse a srta. Emlyn, sem se dar por achada. - Certamente por força da lógica, não?
- A senhora não teria nenhuma idéia de quem poderia ser o assassino?
- É uma pergunta, sem dúvida, muito delicada - respondeu a srta. Emlyn. - Afinal de contas, as crianças que estavam na festa estão na sua maioria entre nove e 15 anos de idade, e acho que quase todas foram ou são meus alunos. Devo saber alguma coisa a respeito deles, alguma coisa também sobre suas famílias e seus antecedentes.
- Creio que uma de suas professoras foi estrangulada por um assassino não identificado, há um ano ou dois.
- O senhor está se referindo a Janet White? Ela tinha mais ou menos 24 anos de idade. Uma jovem sentimental. Tanto quanto posso saber, andava sozinha. Tal vez tivesse marcado um encontro com algum jovem, quem sabe? Era uma mulher muito atraente para certo tipo de homens modestos. Seu assassino não foi descoberto. A polícia interrogou vários jovens e lhes pediu para colaborar com ela nas investigações, como manda a técnica, mas não pôde descobrir prova suficiente para
incriminar qualquer um deles. Um negócio insatisfatório do ponto de vista da polícia. E acho que posso dizer que do meu também.
- A senhora e eu temos um princípio em comum. Desaprovamos o crime.
A srta. Emlyn olhou para Poirot por alguns segundos. Sua expressão não se alterou, mas Poirot teve a impressão de que estava sendo avaliado com muito cuidado.
- Gosto da maneira como o senhor expõe o problema - disse ela. - Diante do que se lê e se ouve hoje em dia, parece que grande parte da sociedade está se acostumando, lenta mas seguramente, com o crime.
Calou-se por alguns instantes. Poirot também se absteve de falar. "Ela está concebendo um plano de ação", pensava ele.
A srta. Emlyn levantou-se e tocou uma campainha.
- Acho que o senhor deveria conversar com a srta. Whittaker - disse ela.
Tinham-se passado mais ou menos cinco minutos depois que a srta. Emlyn deixara a sala, quando a porta se abriu e por ela entrou uma senhora que aparentava ter uns quarenta anos. Tinha cabelo curto e de cor castanho-avermelhada e seus passos eram miúdos, mas rápidos.
- Monsieur Poirot - disse ela —, em que lhe posso ser útil? A sra. Emlyn parece pensar que lhe posso servir de algum modo.
- Se a srta. Emlyn pensa assim, então é quase certo que a senhora pode. Creio na palavra dela.
- O senhor a conhece?
- Encontrei-a hoje, esta tarde, pela primeira vez.
- Mas o senhor apreendeu muito rapidamente suas qualidades.
- Espero que a senhora me conte tudo quanto preciso saber.
Elizabeth Whittaker deu um suspiro curto e rápido.
- Sim, o senhor tem razão. Suponho que se trate da morte de Joyce Reynolds. Não sei exatamente como foi que o senhor se meteu nisso. Por meio da polícia? - abanou a cabeça suavemente, expressando um certo des contentamento.
- Não, nada com a polícia. Particularmente, por meio de uma amiga.
A srta. Whittaker sentou-se, puxando a cadeira um pouco para trás, de modo a poder encarar Poirot.
- Está bem. O que é que o senhor pretende saber?
- Não acho que tenha necessidade de contar à senhora. Não há necessidade de perder tempo fazendo perguntas que podem não ter nenhuma importância. Aconteceu algo naquela noite da festa que talvez fosse conveniente levar ao meu conhecimento. É isto?
- Sim.
- A senhora estava na festa?
- Sim, estava.
Elizabeth Whittaker refletiu durante um ou dois minutos.
- Foi uma festa excelente. Tudo correu bem. Tudo muito bem organizado. Havia trinta e tantos convidados, isto é, inclusive as auxiliares de idades diferentes. Crianças, adolescentes, adultos e algumas empregadas domésticas.
- A senhora teria tomado parte nos preparativos que foram feitos, creio, na tarde ou na manhã daquele dia?
- Na realidade, não havia nada a fazer. A sra. Drake é uma mulher habilidosíssima para fazer todos os preparativos com um pequeno número de pessoas a ajudá-la. Os preparativos necessários eram mais de caráter doméstico.
- Compreendo. Mas a senhora compareceu à festa com um dos convidados?
- Exato.
- E o que aconteceu?
- O programa da festa já é, sem dúvida, de seu conhecimento. O senhor quer saber se há alguma coisa que eu tenha observado ou que pense ser de certa importância, para contar ao senhor, não é? Não quero fazê-lo perder tempo à toa, o senhor compreende.
- Estou certo de que não me fará perder tempo. Vamos, srta. Whittaker, conte-me tudo simplesmente.
- Tudo corria de acordo com o programa estabelecido. O último número, na realidade, era mais próprio de uma festa de Natal do que de uma festa de Halloween. A boca-do-dragão, um prato flamejante de passas de uva banhadas em conhaque e a turma ao redor agarrando as passas, com gritos de animação e de alegria. A sala, porém, ficou quente demais devido às chamas do prato. Saí e vim para o corredor. Foi então, enquanto estava ali, que vi a sra. Drake saindo do banheiro no patamar do primeiro andar, trazendo um grande vaso cheio de flores e folhas outonais. Ela ficou em pé no ângulo da escada, fazendo uma pequena pausa antes de descer. Estava olhando para baixo pelo vão da escada. Não era na minha direção. Olhava na direção da outra extremidade do corredor, onde havia uma porta que dava para a biblioteca. Fica exatamente do outro lado, correspondente à porta que dá para a sala de jantar. Como eu dizia, ela estava olhando assim, e fez uma pausa antes de descer as escadas. Dava a impressão de estar mudando um pouco a posição do vaso, como se fosse um objeto difícil de se carregar, e pesado, como se estivesse cheio de água, creio. Mudava cuidadosamente de posição, de modo que pudesse sustentá-lo com um braço e com o outro segurar o corrimão, quando virou o ângulo levemente acentuado da escada. Ficou ali por alguns instantes, olhando, ainda não para o que trazia na mão, mas para baixo, no corredor. E, de repente, fez um movimento súbito... um sobressalto, eis como eu o descreveria... sim, realmente alguma coisa a assustou. E assustou-se tanto que soltou o vaso, que caiu, entornando a água, que se derramou nela, e espatifou-se lá embaixo, no corredor, em pequeninos fragmentos.
- Compreendo - disse Poirot.
Fez uma pausa de um ou dois minutos observando a srta. Whittaker. Seu olhar era perspicaz e inteligente, buscando agora a opinião dele sobre o que lhe estava contando.
- A seu ver, o que a teria sobressaltado?
- Refletindo, depois - respondeu a srta. Whittaker -, achei que ela deve ter visto alguma coisa.
- A senhora acha que ela deve ter visto alguma coisa - repetiu Poirot pensativo. - Que coisa seria?
- A direção de seu olhar, como lhe disse, era para a porta da biblioteca. Parece-me possível que tivesse visto aquela porta abrir-se ou o trinco girar, ou, realmente, poderia ter visto algo mais do que isso. Poderia ter visto alguém abrindo a porta e preparando-se para sair. Pode
ria ter visto alguém que não esperaria ver naquele momento.
- A senhora também estava olhando para a porta?
- Não. Estava olhando no sentido contrário, para cima, para a sra. Drake.
- E está certa de que ela viu algo que a sobressaltou?
- Absolutamente. Não mais do que isso, talvez. Uma porta abrindo-se. Uma pessoa, possivelmente uma pessoa, que não esperava ver ali, aparecendo. O suficiente para fazê-la soltar o pesado jarro cheio de água e deixá-lo cair.
- A senhora viu alguém sair daquela porta?
- Não. Não estava olhando naquela direção. Não creio que alguém realmente tenha saído dali para o corre dor. Presumivelmente, quem quer que fosse voltou para a sala,
- E, em seguida, que fez a sra. Drake?
- Soltou um grito de aflição, desceu a escada e me disse: "Veja o que eu fiz agora! Que sujeira!" Chutou alguns dos pedaços de vidro espalhados pelo chão. Ajudei-a a varrê-los e a reuni-los num canto. Não era possível limpar o chão todo naquele momento. As crianças estavam começando a sair da sala da boca-do-dragão. Apanhei um pano de limpar copos e a enxuguei um pouco, e logo depois disso a festa terminou.
- A sra. Drake disse alguma coisa sobre seu susto ou fez alguma referência quanto ao que poderia tê-la as sustado?
- Não. Absolutamente não disse nada.
- Mas a senhora acha que ela ficou sobressaltada.
- É bem possível, sr. Poirot, que o senhor ache que estou fazendo um estardalhaço em torno de algo que não tem a menor importância.
- Não, absolutamente. Não penso nada disso - afirmou Poirot. - Só estive uma vez com a sra. Drake - acrescentou pensativo -, quando fui à sua casa com minha amiga, a sra. Oliver, para visitar... como se poderia dizer, se se quisesse ser melodramático... o cenário do crime. Não me ocorreu, durante o pouco tempo que tive para observar, que a sra. Drake fosse uma mulher fácil de se assustar. A senhora concorda com meu ponto de vista?
- Certamente. Foi por isso que eu, eu mesma, desde então fiquei intrigada.
- A senhora não fez nenhuma pergunta na ocasião?
- Não tinha razão para isso. Quando uma anfitriã tem a infelicidade de derrubar um de seus mais belos vasos de vidro e parti-lo em pedaços, é difícil para um convidado lhe dizer: "Mas por que você fez isso?" acusando-a assim de falta de atenção, que, estou certa, não é uma das características da sra. Drake.
- E depois disso, como a senhora disse, a festa chegou ao fim. As crianças e suas mães ou amigos foram embora, e Joyce, ninguém sabia onde estava. Sabemos agora que Joyce estava dentro da biblioteca e morta. Assim, quem poderia estar para sair pela porta da biblioteca, um pouco antes de terminar a festa, diremos, mas que, ouvindo vozes no corredor, fechou a porta de novo e saiu mais tarde, enquanto os convidados se acotovelaram no corredor, fazendo suas despedidas, pondo seus sobretudos etc.? Quer dizer, então, srta. Whittaker, que só depois que o corpo foi encontrado foi que a senhora teve tempo para refletir sobre o que vira?
- Exatamente.
A srta. Whittaker pôs-se de pé.
- Lamento não ter mais nada para lhe contar, sr. Poirot. E até o que acabo de lhe narrar pode ser uma tolice.
- Mas observável. E tudo que é observável merece ser lembrado. A propósito, há uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Aliás, na realidade, duas.
Elizabeth Whittaker sentou-se de novo. -Vamos, faça a pergunta que quiser.
- A senhora é capaz de se lembrar exatamente da ordem em que ocorreram os diversos fatos na festa?
- Acho que sou - Elizabeth refletiu por alguns segundos. - Começou com a competição dos cabos de vassoura. Cabos de vassoura decorados. Havia três ou quatro pequenos prêmios para isso. Em seguida houve uma espécie de torneio com balões, tendo estes sido perfurados e arremessados com tapas. Uma espécie de brincadeira bruta para animar a garotada. Houve também a brincadeira do espelho. As mocinhas entravam numa saleta e seguravam um espelho em que se refletia o rosto de um
menino ou de um rapaz.
- Como isso era feito?
- Oh, muito simples. A bandeira da porta tinha sido removida. Assim, vários rostos pareciam estar olhando por ali e se refletiam no espelho que a menina estava segurando.
- As meninas conheciam as fisionomias que se refletiam no espelho?
- Acho que algumas, sim, outras, não. Foi feita alguma caracterização. O senhor sabe, uma máscara ou peruca, suíças, barba, alguns efeitos de maquilagem. Os rapazes na sua maioria já eram conhecidos das garotas, embora um ou dois estranhos pudessem ter sido incluídos. Enfim, havia muitas brincadeiras divertidas - disse a srta. Whittaker, mostrando, por alguns instantes, uma espécie de desprezo acadêmico por essa espécie de diversão. - Em seguida, houve uma corrida de obstáculos, e depois foi a vez do bolo de farinha socado num vaso e
emborcado em cima da mesa, sobre o qual se colocava uma moeda. Todos cortavam uma fatia. Quando a farinha se desmoronava, a pessoa era eliminada da competição e ficavam as outras, até a última que teria direito à moeda. Depois disso foi o baile, e, logo a seguir, a ceia. E por fim, para concluir, a boca-do-dragão.
- Quando foi que viu Joyce pela última vez?
- Não tenho idéia - respondeu Elizabeth Whittaker. - Eu não a conhecia muito. Não era de minha sala. Não era uma menina muito interessante, de modo que não lhe dispensaria muita atenção. Lembro-me de tê-la visto cortando o bolo, pois era tão desajeitada que o derrubou
quase todo de uma vez. Por conseguinte, estava viva, mas isso foi muito cedo.
- Não a viu entrar na biblioteca com alguém?
- Absolutamente. Eu o teria mencionado antes. Isso pelo menos teria sido significativo e importante.
- E agora - disse Poirot -, mais uma pergunta ou mais algumas. Há quanto tempo a senhora está nesta escola?
- Faz seis anos no próximo outono.
- E ensina...?
- Latim e Matemática.
- Lembra-se de uma jovem que foi professora aqui há cerca de dois anos, chamada Janet White?
Elizabeth Whittaker empertigou-se. Chegou mesmo quase a se levantar da cadeira, mas sentou-se de novo.
- Mas isso... isso não tem nada a ver com o caso, tem?
- Poderia ter - respondeu Poirot.
- Mas como? De que modo?
"Os círculos escolásticos eram menos bem informados do que os mexericos da comunidade", pensou Poirot.
- Joyce protestou diante de testemunhas que viu um assassinato praticado há alguns anos. Quem sabe, talvez fosse o assassinato de Janet White, não acha? Como foi que Janet White morreu?
- Morreu estrangulada, uma noite, quando voltava da escola para casa.
- Sozinha?
- Provavelmente, não.
- Mas não com Nora Ambrose?
- O que é que o senhor sabe sobre Nora Ambrose?
- Nada ainda - respondeu Poirot -, mas gostaria de saber. Como eram elas, Janet White e Nora Ambrose?
- Sexualmente superdotadas - respondeu Elizabeth Whittaker -, mas de modos diferentes. Como poderia Joyce ter visto algo dessa espécie ou sabido algo a respeito? O crime ocorreu numa passagem perto do Bosque da Pedreira. Ela não teria mais do que dez ou 11 anos.
- Qual delas tinha um namorado? – perguntou Poirot. - Nora ou Janet?
- São coisas já passadas.
- Pecados velhos têm sombras compridas – citou Poirot. - Quanto mais vivemos, mais nos damos conta dessa verdade. Onde está agora Nora Ambrose?
- Foi transferida desta escola para outra no norte da Inglaterra. É claro que ela ficou muito chocada. Eram grandes amigas.
- A polícia nunca solucionou o caso?
A srta. Whittaker abanou a cabeça, levantou-se e olhou o relógio.
- Preciso ir.
- Muito agradecido pelo que me contou.
CAPÍTULO 11
Hercule Poirot contemplava a fachada da Mansão da Pedreira. Um exemplo sólido, bem construído, da arquitetura vitoriana. Ainda pelo lado de fora teve uma idéia do que seria seu interior- um pesado armário de mogno, uma mesa grande, retangular, também de mogno, uma sala de bilhar, talvez, uma grande cozinha com uma copa adjacente, com piso de lajes trabalhadas, um maciço fogão a carvão, agora, sem dúvida, substituído por um fogão a gás ou elétrico.
Observou que as janelas superiores estavam na sua maioria ainda encortinadas. Tocou a campainha da porta principal. Foi atendido por uma senhora magra, de cabelos grisalhos, que lhe informou que o coronel e a sra. Weston tinham ido a Londres e só voltariam na semana seguinte.
Perguntou sobre o Bosque da Pedreira e lhe foi dito que estava aberto gratuitamente ao público. A entrada era mais ou menos a cinco minutos a pé, ao longo da estrada. Ele veria uma placa de aviso num portão de ferro.
Poirot encontrou o caminho com muita facilidade e, passando pelo portão, começou a descer o caminho por entre árvores e arbustos.
De repente, ele parou e ficou ali absorto a pensar. Sua mente não estava só no que via, no que o cercava. Em vez disso, estava refletindo em uma ou duas sentenças e em um ou dois fatos que, na ocasião, o levavam, furiosamente, como expressou para si mesmo, a divagar. Um testamento forjado, um testamento forjado e uma moça. Uma moça que tinha desaparecido, a moça em favor de quem o testamento fora forjado. Um jovem artista que viera transformar uma pedreira abandonada num jardim rebaixado. Ali, mais uma vez, Poirot olhou em torno e assentiu com a cabeça que Jardim da Pedreira era um nome feio. Sugeria o estrépito das explosões, caminhões pesados, carregando pedras para a construção de estradas, por trás da qual havia a demanda industrial. Mas um jardim rebaixado era coisa diferente. Suscitava em sua mente vagas lembranças. A sra. Llewellyn-Smythe tinha feito uma excursão pelos jardins da Irlanda. Também ele, lembrava-se, estivera na Irlanda há cinco ou seis anos. Fora investigar ali o roubo da prataria de uma família antiga. Tinha havido alguns pontos interessantes sobre o caso, os quais provocavam sua curiosidade, e, tendo resolvido (como de costume) - Poirot acrescentou mentalmente este parêntese - sua missão com sucesso, passou alguns dias visitando a Irlanda e apreciando as paisagens.
Não podia lembrar-se agora do jardim que fora ver. "Em algum lugar", pensava ele, "não muito longe de Cork Killarney? Killarney, não. Em algum lugar perto da baía de Bantry". E se lembrava dele porque era um jardim muito diferente dos jardins que até então considerava como as maravilhas desta era, os jardins do Châteaux na França, a beleza formal de Versalhes. Na Irlanda, recordava-se, partira com um pequeno grupo de pessoas num barco. Era um barco esquisito, Se não fossem dois barqueiros fortes e hábeis que praticamente o apanharam e o puseram dentro dele, dificilmente poderia ter entrado. Remaram na direção de uma pequena ilha, "uma ilhazinha não muito interessante", pensava Poirot, e começara a se arrepender de ter ido. Seus pés estavam úmidos e frios e o vento entrava através das aberturas de sua capa impermeável. "Que espécie de beleza", pensava então, "que aparência, que disposição simétrica de grande beleza poderia haver ali naquela ilha rochosa com suas árvores esparsas?" Um equívoco, sem sombra de dúvida, um equívoco.
Desembarcaram num pequeno caís. Os pescadores o retiraram do barco com a mesma habilidade com que o puseram a bordo. Os demais membros da comitiva tinham ido à frente, conversando e rindo. Poirot, ajeitando seu capote e amarrando de novo seus sapatos, seguira-os até um caminho esquisito com arbustos e moitas fechadas e algumas árvores esparsas de um lado e de outro. "O tipo do parque desinteressante", pensava ele.
Mas, então, inesperadamente, saíram do meio dos arbustos para um terraço com uma escadaria que conduzia para o que, lá embaixo, o arrebatou como algo inteiramente mágico. Algo como se seres elementais, tais como imaginava serem comuns na poesia irlandesa, tivessem saído de suas colinas ocas e criado ali aquele jardim, não com labuta e trabalho pesado, mas com o simples gesto de uma varinha de condão. Sua beleza, as flores e os arbustos, a água artificial da fonte, o caminho que a contornava, encantado, lindo e inteiramente inesperado. Ele se perguntava como seria tudo aquilo originalmente. Parecia simétrico demais para ter sido uma pedreira. Havia um vale na terra cultivada da ilha, mas, para além dele, podiam ser vistas as águas da baía e as montanhas que se levantavam do outro lado, com seus cumes nevoentos, enfim, um cenário encantador. Pensou que talvez poderia ter sido um jardim como aquele que fez nascer na sra. Llewellyn-Smythe o desejo de ter um jardim igual, de ter o prazer de adquirir o cenário de uma pedreira rude naquela região afetada, meticulosa, elementar e essencialmente convencional da Inglaterra.
E, assim, procurou a espécie adequada do escravo bem pago para executar suas ordens. E encontrou o jovem profissionalmente qualificado que se chamava Michael Garfield e o trouxe para ali e, sem dúvida, pagou-lhe caro e lhe teria construído uma casa no devido tempo. "Michael Garfield" pensava Poirot, olhando ao redor dele, "não a decepcionara".
Deu mais alguns passos e se sentou num banco, um banco que tinha sido colocado estrategicamente ali. Ele imaginava com que se pareceria a pedreira rebaixada na primavera. Havia faias e bétulas com suas cascas brancas lascadas; espinheiros, roseiras e pequeninos juníperos. Mas agora era outono, e o outono também tinha seus encantos. O dourado e o vermelho de bordos, uma ou duas parrótias, um caminho sinuoso que conduzia a deleites novos. Havia bosques floridos de tojos e giesteiras espanholas. Não era da especialidade de Poirot saber o nome de flores e de arbustos - seus conhecimentos no gênero não iam além das rosas e das tulipas. Mas tudo ali aparentava ter crescido espontaneamente. Não parecia ter sido arranjado e forçado. "Não obstante" pensava Poirot, "assim era. Tudo tinha sido arrumado, tudo tinha sido planejado, até aquela pequenina planta que brotava ali e até aquele arbusto grande e altaneiro que se levantava orgulhosamente com suas folhas douradas e avermelhadas. Oh, sim. Tudo tinha sido planejado e estudado. Além disso, poderia dizer que tudo se submetera a uma vontade decidida".
Hercule Poirot se perguntava a quem tudo aquilo se teria submetido. À vontade da sra. Llewellyn-Smythe ou à do sr. Michael Garfield? "Pouco importava" dizia Poirot para si mesmo, "sim, não faz muita diferença. A sra. Llewellyn-Smythe era culta, sabia o que queria. Dedicara-se a jardins durante muitos anos. Era, sem dúvida, membro da Sociedade Real de Jardineiros, visitava exposições, consultava catálogos, visitava jardins. Fez viagens ao exterior interessada em botânica. Saberia o que queria, saberia dizer o que queria". Isso era o bastante? Poirot achou que isso não era bastante. Poderia ter dado ordens a jardineiros e estar certa de que suas ordens seriam cumpridas. Mas poderia ela realmente imaginar com que suas ordens se pareceriam depois de executadas? Não no primeiro ano de cultivo, nem mesmo no segundo, mas o cenário que teria dois anos mais tarde, três anos mais tarde e talvez, quem sabe, seis ou sete anos depois. Michael Garfield sabia o que a sra. Llewellyn-Smythe queria, pois ela lhe dissera, e ele sabia fazer aquelas rochas e pedras brutas florescerem como um deserto pode dar flores. Michael planejou e executou; é claro que deve ter tido o prazer intenso que experimentam os artistas quando a serviço de um cliente rico. Ali estava sua concepção de uma terra encantada engastada numa encosta convencional e triste, e ali se desenvolveriam caros arbustos para cuja aquisição grandes cheques foram assinados, plantas raras que talvez só tenham sido obtidas graças à boa vontade de um amigo, e eis ali também coisas pequeninas e humildes que eram necessárias e não custavam quase nada. Na primavera, na encosta ali mesmo à sua esquerda, nasceriam prímulas, anunciadas pelas modestas folhas verdes aglomeradas no alto da vertente.
- Os ingleses - disse Poirot - adoram mostrar seus parques, levar-nos para ver suas roseiras e falar longamente de seus jardins de íris, e, para demonstrar que apreciam uma das grandes belezas da Inglaterra, nos levarão, num dia de sol, quando as faias estão cobertas de folhas e debaixo delas há um tapete de campânulas. Sim, é lindo de se ver, mas tenho a impressão de que, de tanto ser convidado a apreciá-las, estou começando a me cansar. Eu prefiro...
O pensamento lhe fugiu quando imaginou de novo o que tinha preferido. Um passeio por entre as veredas de Devon. Uma estrada sinuosa com grandes encostas de cada lado, sobre essas encostas um grande tapete de prímulas tão pálidas, de um amarelo tão claro e descorado e exalando aquele perfume suave, vago e indefinível que têm as prímulas em grandes quantidades, cuja fragrância mais do que qualquer outra anuncia a primavera. E assim não haveria ali só plantas raras. Haveria primavera e outono, haveria um pouco de ciclame silvestre e crocos de outono também, Era realmente um lugar lindo.
Hercule Poirot se perguntava sobre as pessoas que moravam agora na Mansão da Pedreira. Sabia seus nomes, um coronel aposentado e sua esposa, mas, pensava ele, "bem que Spence lhe poderia ter contado mais alguma coisa a respeito deles". Tinha a impressão de que quem quer que fosse o atual proprietário, não teria ao lugar o amor que lhe tivera a falecida sra. Llewellyn-Smythe. Levantou-se e caminhou ao longo de uma vereda. "Era um caminho cômodo, cuidadosamente nivelado, projetado", pensava ele, "para passeio de pessoa idosa, onde estaria à vontade, sem degraus". Em cada ângulo conveniente, em intervalos convenientes, havia um assento que parecia rústico, mas era muito menos rústico do que parecia. Na realidade, o ângulo do encosto e o supedâneo eram admiravelmente confortáveis. "Gostaria de conhecer esse sr. Michael Garfield", dizia Poirot para si mesmo. "Ele se saiu muito bem em tudo isso. Domina sua arte, é um bom planejador e arranjou gente experimentada para executar seus planos; de tal modo conseguiu compor os planos de sua patroa, que ela teria pensado que todo o planejamento tinha sido dela. Mas não creio que tenha sido só dela. Na sua maior parte deve ter sido dele. Sim, eu gostaria de vê-lo. Se ele estiver ainda no bangalô - ou no chalé - construído para ele, suponho..." E interrompeu seu pensamento.
Olhava. Olhava por uma depressão que se estendia a seus pés e era contornada pelo caminho. Olhava para um determinado arbusto que estendia seus ramos vermelhos brilhantes emoldurando o que Poirot, por alguns instantes, não sabia se estava ali ou se era um simples efeito da sombra, da luz do sol e da folhagem.
"O que estou vendo?", pensava Poirot. "Será o resultado de algum encantamento? Talvez. Naquele lugar, tudo era possível. É um ser humano que estou vendo, ou será... o que poderia ser?" Sua mente o levou de volta a algumas de suas aventuras há muitos, muitos anos, que ele denominara de "Os trabalhos de Hércules". "Isso, de certo modo, não é um jardim inglês. Havia uma atmosfera diferente ali. Tinha o quê de mágica, de encantamento, sem dúvida de uma beleza tímida mas selvagem. Ali, se estivéssemos representando uma cena teatral, teríamos nossas ninfas, nossos faunos; teríamos nossa beleza grega, mas sentiríamos também", pensava Poirot, excitando-se, "um pouco de medo". "Sim", pensava ele, "há neste jardim algo que inspira terror. O que foi que disse a irmã de Spence? Não foi o caso de um assassinato ocorrido na pedreira original há anos? O sangue deixara sua marca nas pedras, mas depois a morte fora esquecida, tudo fora coberto, Michel Garfield chegara, planejara e criara um jardim de rara beleza, e uma senhora idosa que não tinha mais muitos anos para viver tinha custeado as despesas".
Agora via que era um jovem que estava do outro lado da depressão, emoldurado com folhas vermelhas brilhantes, um jovem de rara beleza, reconhecia Poirot agora. Não se concebem jovens desse tipo hoje em dia. Dizia-se de um jovem que ele era excitante ou atraente, e essas demonstrações de louvor são feitas muitas vezes com justiça. Um homem com uma fisionomia pétrea, um homem com cabeleira rebelde e suja e cujos aspectos estavam longe de ser regulares. Não se dizia que um jovem era belo. Se disséssemos, teríamos de explicar como se estivéssemos elogiando alguma qualidade que havia muito tempo desaparecera. As moças sensuais não queriam um Orfeu com seu alaúde, queriam um cantor popular com uma voz rouca, olhar expressivo e cabeleira desgrenhada.
Poirot levantou-se e contornou o caminho. Quando chegou ao outro lado do declive, o jovem saiu das árvores ao seu encontro. Sua juventude era, ao que parecia, o seu traço mais característico, embora, conforme constatou Poirot, não fosse realmente tão jovem. Era um homem de mais de trinta anos, talvez estivesse perto dos quarenta. O sorriso que estampava era muito, muito pálido. Não era um sorriso de boas-vindas, mas apenas de tranqüilo reconhecimento. Era alto, delgado, com traços de grande perfeição, dignos do cinzel de um escultor clássico. Tinha olhos escuros e uma cabeleira preta que lhe assentava como um capacete de malha trançada. Por alguns instantes, Poirot se perguntou se ele e aquele jovem não poderiam estar se encontrando no curso de ensaio de uma representação teatral. "Se assim for", pensava Poirot, olhando para suas galochas, "ai de mim, terei de ir ao vestiário para me preparar melhor".
- Acho que estou talvez cometendo uma violação. Se assim for, peço-lhe desculpas. Não sou daqui. Cheguei ontem.
- Não acho que se possa chamar a isso de violação.
A voz era muito tranqüila, polida, mas, não obstante, estranhamente vaga, como se os pensamentos do homem estivessem muito longe dali.
- Não está realmente franqueado ao público, mas as pessoas gostam de passear por aqui. O velho coronel Weston e sua esposa não se incomodam. Ele se importaria se fizessem algum dano, mas isso não é muito provável.
- Nenhum vandalismo - disse Poirot, olhando ao redor. - Não se observa o menor estrago. Nem mesmo um desordenado acúmulo de lixo. Isso não é muito comum, é? E parece deserto, estranho. Tem-se a impressão continuou Poirot - de que os namorados passeiam por aqui.
- Não, os namorados não vêm a esta parte - observou o jovem. - Acreditam, por alguma razão, que o lugar não é próprio.
- Seria o senhor, por acaso, o arquiteto, ou talvez esteja errado?
- Meu nome é Michael Garfield - disse o jovem.
- Imaginei que pudesse ser - disse Poirot. E gesticulando com uma mão apontando ao redor, perguntou: - Foi o senhor que fez isto?
- Sim, fui eu - respondeu Michael Garfield.
- É maravilhoso - disse Poirot. - Parece realmente extraordinário poder fazer-se de uma parte, falemos francamente, tão feia da paisagem inglesa coisa assim tão bela. Congratulo-me com o senhor, que deve estar muito satisfeito com o que fez aqui.
- Eu perguntaria se existe alguém satisfeito.
- O senhor o criou, acho, para a sra. Llewellyn-Smythe. Creio que já faleceu. Moram aqui o coronel e a sra. Weston, estou certo? São eles os donos atuais.
- Sim, eles o compraram barato. Ê uma casa grande, desgraciosa, difícil de se governar. Não é do tipo de que gosta a maioria das pessoas. Ela a deixou para mim no testamento.
- E o senhor a vendeu?
- Sim, vendi a casa.
- E o Jardim da Pedreira, não?
- Oh, sim, o jardim também entrou no negócio, praticamente como brinde, como se diz.
- Mas, por quê? - perguntou Poirot. - Isso é interessante. O senhor não se aborrece talvez com a minha curiosidade?
- Suas perguntas não são muito comuns – disse Michael Garfield.
- Não me interessam tanto os fatos como as razões. Por que A fez assim e assim? Por que B fez mais isso? Por que o comportamento de C é diferente do comportamento de A e B?
- O senhor deveria ir conversar com um cientista - disse Michael. - É uma questão - ou pelo menos assim se diz hoje em dia - de genes e cromossomos. A disposição, o sistema, e assim por diante.
- O senhor acabou de dizer, há poucos instantes, que não estava inteiramente satisfeito porque ninguém o estava. Sua empregadora, sua patroa, seja como for que o senhor gostasse de chamá-la, estava satisfeita? Com toda esta beleza?
- Até certo ponto - respondeu Michael. - Procurei fazer com que estivesse. Ela era fácil de se satisfazer.
- Isso parece muito, muito improvável – disse Hercule Poirot. - A sra. Llewellyn-Smythe tinha, segundo me disseram, mais de sessenta anos. Sessenta e cinco no mínimo. As pessoas nessa idade são muitas vezes satisfeitas?
- Eu lhe assegurava que tudo que estava executando estava fielmente conforme suas instruções, sua imaginação e suas idéias,
- E estava?
- O senhor está perguntando isso seriamente?
- Não - respondeu Poirot. - Francamente, não.
- Quem quiser vencer na vida - disse Michael Garfield - deve seguir a carreira que deseja, precisa satisfazer certas inclinações artísticas adquiridas, mas é preciso também ser um homem de negócios. A gente precisa vender a mercadoria. Caso contrário, nós nos cansaremos de executar as idéias de outras pessoas que nem sempre estarão de acordo com as nossas. Eu executei principalmente minhas idéias e as vendi, ou melhor, as negociei com a freguesa que me empregou, como uma execução fiel de seus planos e esquemas. Não é uma arte muito difícil de se
aprender. Não é muito diferente de vender a uma criança ovos marrons em vez de ovos brancos. O freguês terá de ser convencido de que são os melhores, os bons. A essência do campo. Diríamos, a própria preferência da galinha? Ovo marrom, ovo de granja, ovo caipira. Quem os anunciasse apenas dizendo: "São ovos. Só existe uma diferença entre ovos: ou são frescos ou não são", não os venderia.
- O senhor é um jovem fora do comum, sr. Michael - disse Poirot. "Arrogante", pensava de si para si.
- Talvez.
- O senhor fez aqui algo maravilhoso. Acrescentou visão e perspectiva à matéria rude de pedras escavadas para a indústria, sem nenhuma preocupação de beleza. O senhor somou imaginação, coisa que salta à vista, de tal modo que conseguiu levantar o dinheiro para realizá-la. Congratulo-me com o senhor. Pago meu tributo. O tributo de um velho que se aproxima do tempo em que o fim de sua própria obra está à vista.
- Mas no momento o senhor continua exercendo suas atividades.
- Então o senhor sabe quem eu sou?
Poirot ficou, indubitavelmente, satisfeito. Ele gostava de ser reconhecido pelo povo. Hoje em dia, tinha a impressão de que ninguém ligava mais para ninguém.
- O senhor segue o rastro de sangue... Já é conhecido aqui. É uma pequena comunidade, a notícia se espalha logo. Outro sucesso público o trouxe aqui.
- Ah, o senhor se refere à sra. Oliver?
- Ariadne Oliver. Um best-seller. O povo gosta de conversar com ela, de saber o que pensa sobre temas como inquietação estudantil, socialismo, roupas femininas, liberdade sexual e sobre muitas outras coisas que não são de seu interesse.
- Sim, sim - disse Poirot -, é deplorável. Não aprendem muito com a sra. Oliver, já observei. Sabem apenas que é louca por maçãs. Acho que há no mínimo vinte anos que se sabe disso, mas ela continua a repeti-lo com um sorriso complacente. Embora, atualmente, ao que parece, não goste mais de maçãs.
- Foram maçãs que o trouxeram aqui, não foi?
- Sim, maçãs numa festa de Halloween – disse Poirot. - O senhor estava naquela festa?
- Não.
- O senhor é feliz.
- Feliz? - Michael Garfield repetiu a palavra, que soou timidamente como uma surpresa em sua voz.
- Ter sido um dos convidados numa festa em que se cometeu um crime não deve ser uma experiência agradável. É possível que o senhor não tenha sentido isso, mas, acredite, o senhor é feliz porque... - Poirot tornou-se um pouco mais estrangeiro - il y a des ennuis, vous comprenez? A gente é assediado por toda sorte de perguntas impertinentes, sobre datas, horas etc. - e continuou: - O senhor conheceu a criança?
- Oh, sim. Os Reynolds são muito conhecidos aqui. Conheço a maioria das pessoas que residem por aqui.
Nós todos nos conhecemos em Woodleigh Common, embora em graus diversos. Com uns se tem intimidade, com outros, amizade, alguns são menos conhecidos, e assim por diante.
- Que tal Joyce, como era ela?
- Era uma menina... como diria?... sem importância. Tinha uma voz muito feia. Estridente. Realmente, é tudo de que me lembro a seu respeito. Não gosto muito de crianças. Na sua maioria me aborrecem. Joyce me aborrecia. Quando conversava, só falava de si própria.
- Era atraente?
Michael Garfield olhou um tanto surpreso.
- Não achava - respondeu. - Por quê? Tinha de ser?
- No meu ponto de vista as pessoas destituídas de atrativo não têm possibilidade de serem assassinadas. Mata-se por cobiça, por medo ou por amor. São as alternativas, mas precisamos de um ponto de partida...
Interrompeu-se e olhou o relógio.
- Vou andando. Tenho um compromisso a atender. Mais uma vez, minhas felicitações.
Hercule Poirot continuou, seguindo o caminho e escolhendo cuidadosamente onde pisar. Estava contente porque desta vez não estava usando seus sapatos de couro apertado.
Michael Garfield não foi a única pessoa que ele encontrou naquele dia no jardim encantado. Quando chegou na parte mais baixa, observou que três sendas conduziam a três direções diversas. À entrada do caminho do meio, sentada sobre o tronco de uma árvore caída, uma menina o esperava. Ela esclareceu isso imediatamente.
- Creio que o senhor seja Hercule Poirot, não é? - disse ela.
Sua voz era clara, límpida como o som de um sino. Era uma criaturinha frágil. Havia algo nela que se compunha com o jardim encantado. Uma dríade ou alguma entidade parecida com um duende.
- Sim, sou Hercule Poirot.
- Vim encontrá-lo - disse a menina. - O senhor vai tomar chá conosco, não vai?
- Com a sra. Butler e com a sra. Oliver? Sim.
- É isso mesmo. É mamãe e tia Ariadne.
E acrescentou, com um tom de censura:
- O senhor está atrasado.
- Sinto muito. Parei para conversar com uma pessoa.
- Sim, eu vi. O senhor estava conversando com Michael Garfield, não estava?
- Você o conhece?
- É claro. Moramos aqui há muito tempo. Conheço todo o mundo.
Poirot se perguntava quantos anos ela teria. Perguntou-lhe e ela respondeu.
- Tenho 12 anos. Vou para o internato no ano que vem.
- Irá gostar disso, ou não?
- Não sei, só saberei depois que estiver lá. Não creio que goste tanto daqui, pelo menos tanto quanto gostava. - E acrescentou: - Acho que é bom o senhor me acompanhar agora. Faça o favor.
- Mas, certamente, certamente. Peço-lhe desculpas por estar atrasado.
- Oh, não tem importância.
- Como você se chama?
- Miranda.
- Este nome lhe assenta bem - disse Poirot.
- O senhor está pensando em Shakespeare?
- Sim. Você o estuda na escola?
- Sim. A srta. Emlyn nos leu trechos de suas obras. Pedi a mamãe para me ler mais. Gostei dele. Soa maravilhosamente. Um admirável mundo novo. Não há nada disso realmente, há?
- Você não acredita nele?
- O senhor acredita?
- Há sempre um admirável mundo novo – disse Poirot -, mas, sabe, só para algumas categorias especiais de pessoas. As felizes. Aquelas que trazem dentro de si mesmas a criação desse mundo.
- Oh, compreendo - disse Miranda, com um ar de quem compreendeu com a máxima facilidade, embora Poirot se perguntasse o que ela teria compreendido.
Miranda virou-se, começou a andar e disse:
- Vamos por este caminho. Não é muito longe. Podemos passar pela cerca de nosso jardim.
Depois olhou por cima de seu ombro e apontou dizendo:
- Ali no meio havia uma fonte.
- Uma fonte?
- Sim, anos atrás. Acho que está ainda ali, debaixo de arbustos, azáleas e outras coisas. Como o senhor vê, está tudo em ruína. Todo o mundo leva pedaços dela e ninguém constrói uma nova.
- É pena.
- Não sei. Não estou certa. O senhor gosta muito de fontes?
- Ça dépend - disse Poirot.
- Eu sei um pouco de francês - disse Miranda. - Isso quer dizer: "Depende", não é?
- Está correto. Você é uma menina muito instruída.
- Todo o mundo diz que a srta. Emlyn é uma excelente professora. É a nossa diretora. É um bocado rígida e severa, mas às vezes muito interessante nas coisas que nos conta.
- Então é certamente uma boa professora – disse Hercule Poirot. - Você conhece este lugar muito bem. Parece conhecer todos os atalhos. Vem aqui freqüentemente?
- Oh, sim, é um de meus passeios favoritos. Ninguém sabe onde estou, quando venho para aqui. Sento-me em árvores, em cima de galhos e observo as coisas. Eu gosto disso. Ver as coisas acontecerem.
- Que espécie de coisas?
- Principalmente pássaros e esquilos. Os pássaros são muito briguentos, não são? Não são como naquele trecho de poesia que diz "os pássaros em seus ninhozinhos se combinam". Não é verdade, é? E observo os esquilos.
- E as pessoas também?
- Às vezes. Mas muito pouca gente vem aqui.
- Mas, por quê?
- Acho que têm medo.
- E por que teriam medo?
- Porque alguém foi assassinado aqui há muito tempo. Quero dizer, antes de ser um jardim. Isso aqui outrora era uma pedreira, e havia então um montão de cascalho ou de areia, e foi lá que a encontraram. O senhor acredita no velho ditado: "Nasceste para ser enforcado ou nasceste para ser afogado?"
- Ninguém nasce para ser enforcado hoje em dia. Não se enforca ninguém neste país.
- Mas enforcam em outros. Enforcam nas ruas. Li isso nos jornais.
- Ah. E você acha que isso é bom ou ruim?
A reação de Miranda não foi estritamente em resposta à questão, mas Poirot achou que poderia ser.
- Joyce foi afogada - disse ela. - Mamãe não quis me dizer, mas isso é uma tolice, não é? Afinal de contas já tenho 12 anos.
- Você era amiga de Joyce?
- Sim, de certo modo éramos muito amigas. Ela me contava às vezes coisas muito interessantes. Muitas histórias sobre elefantes e rajás. Estivera uma vez na Índia. Eu gostaria muito de ir à Índia. Joyce e eu gostávamos de contar nossos segredos uma para a outra. Eu não tenho tanto para contar como mamãe. Mamãe esteve na Grécia, como o senhor sabe. Foi ali que ela conheceu tia Ariadne, mas não me levou.
- Quem foi que lhe falou sobre Joyce?
- Foi a sra. Perring, nossa cozinheira. Ela estava conversando com a sra. Minden, que viera fazer a faxina. Alguém segurou sua cabeça dentro de um balde de água.
- Você não tem nenhuma idéia de quem poderia ter sido esse alguém?
- Acho que não. Elas não pareciam saber, mas ambas na realidade são um tanto estúpidas.
- Você sabe, Miranda?
- Eu não fui à festa. Estava com dor de garganta e um pouco febril, de modo que mamãe não me levou. Mas acho que poderia saber. Porque ela foi afogada. Foi por isso que lhe perguntei se o senhor achava que alguém nascia para ser afogado. Vamos agora pela cerca. Cuidado com sua roupa.
Poirot acompanhava seu guia. A passagem do Jardim da Pedreira para a cerca se ajustava melhor à delicada compleição de elfo de sua pequena condutora - era praticamente uma auto-estrada para ela. Miranda, entretanto, tinha todo cuidado com Poirot, chamando-lhe a atenção para arbustos espinhosos e afastando os ramos da cerca que poderiam arranhá-los. Saíram num lugar do jardim perto de um montão de esterco e passaram por um estufim de pepineiro abandonado em frente ao qual estavam duas latas de lixo. Dali para diante um jardim pequeno, mas limpo e quase todo plantado de roseiras, dava fácil acesso ao modesto bangalô.
Miranda, tomando a dianteira, passou por uma porta envidraçada e anunciou com o modesto orgulho de um colecionador que acabasse de apanhar uma amostra de uma espécie rara de besouro:
- Ei-lo aí.
- Miranda, você não o devia ter trazido pela cerca. Devia ter vindo pelo caminho do portão lateral.
- Este caminho é o melhor - disse Miranda. – Mais rápido e mais curto.
- E muito mais penoso, creio.
- Ah, tinha esquecido - disse a sra. Oliver. - Eu o apresentei à minha amiga, a sra. Butler?
- Naturalmente. No correio.
A mencionada apresentação tinha sido questão de alguns segundos, numa fila diante do guichê, Poirot tinha agora uma melhor oportunidade para estudar bem de perto a amiga da sra. Oliver. Antes tinha visto uma mulher esbelta, com um turbante e uma capa impermeável que escondiam seu corpo e sua compleição. Judith Butler era uma mulher de cerca de 35 anos de idade, enquanto sua filha se parecia com uma dríade ou uma ninfa dos bosques, Judith tinha mais os atributos de uma náiade. Poderia ter sido uma virgem no Reno. Seus cabelos eram louros e compridos e caíam-lhe macios sobre os ombros. Tinha feições delicadas, rosto comprido e face ligeiramente côncava, sobre as quais pairavam dois olhos grandes, verdes, cor do mar, guarnecidos de longos cílios.
- Estou muito contente, sr. Poirot, por ter aceito nosso convite - disse a sra. Butler. - Foi bondade de sua parte vir aqui a pedido de Ariadne.
- Os pedidos de minha amiga, a sra. Oliver, para mim são ordens - disse Poirot.
- Que disparate - disse a sra. Oliver.
- Ela está certa, certa mesmo, de que o senhor será capaz de deslindar tudo a respeito daquele brutal acontecimento. Miranda, querida, quer ir à cozinha? Os bolinhos de trigo estão na bandeja em cima do forno.
Miranda saiu, dirigindo à mãe um sorriso inteligente que traduzia tanto quanto pode traduzir um sorriso: "Ela quer que eu me retire por alguns instantes."
- Preferiria que ela não ficasse sabendo dessa coisa horrível que aconteceu - disse a mãe de Miranda. – Mas desde o começo vi logo que não era possível.
- Realmente - concordou Poirot. - Não há nada que se espalhe num bairro residencial com tanta rapidez como a notícia de um acidente, e sobretudo de um acidente fatal. E, de qualquer maneira - continuou -, não se pode viver sem se saber o que acontece em torno de nós. E as crianças, particularmente, parecem mais predispostas a essas coisas.
- Não me lembro se foi Burns ou Sir Walter Scott que disse: "Há uma criança no meio de vós que observa" – disse a sra. Oliver -, mas certamente sabia do que estava falando.
- Joyce Reynolds parece certamente ter observado alguma coisa como um assassinato - observou a sra. Butler. - Mas é difícil acreditar nisso.
- Acreditar que Joyce o viu?
- Quero dizer, acreditar que tendo ela visto tal coisa não tivesse falado disso há mais tempo. Não era muito provável da parte de Joyce.
- A primeira coisa que todo o mundo parece querer dizer-me - observou Poirot numa voz suave - é que a garota Joyce era uma grande mentirosa.
- Acho possível - disse Judith Butler - que uma criança possa inventar uma coisa e depois essa coisa possa tornar-se verdadeira.
- Esse é certamente o ponto de onde começamos - disse Poirot. - Joyce Reynolds foi assassinada. Disso não há a menor sombra de dúvida.
- E você efetivamente começou. Provavelmente já deve saber tudo a respeito - disse a sra. Oliver.
- Madame, não me peça coisas impossíveis. A senhora está sempre apressada.
- Por que não? - perguntou a sra. Oliver. - Ninguém hoje em dia consegue nada se não tiver pressa.
Miranda entrou naquele momento com um prato cheio de bolinhos de trigo.
- Posso pô-los aqui? - perguntou. - Espero que tenham terminado de conversar, não? Ou gostariam ainda de que eu fosse para a cozinha?
Havia uma leve malícia em sua voz. A sra. Butler colocou o bule de chá, de prata georgiana, no guarda-fogo, ligou uma chaleira elétrica que foi desligada imediatamente antes de entrar em ebulição, encheu o bule de chá e o serviu. Miranda oferecia bolinhos quentes e sanduíches de pepino com elegância e seriedade.
- Ariadne e eu nos conhecemos na Grécia – disse Judy.
- Eu caí no mar - disse a sra. Oliver - quando voltávamos de uma das ilhas. O mar estava encapelado, e os marinheiros sempre dizem "salte" e, é claro, dizem salte exatamente quando a coisa está no seu ponto mais favorável, mas a gente não pensa no que pode acontecer, fica-se indecisa, perde-se o controle e se salta quando parece perto e, é claro, é exatamente o momento em que se afasta mais - fez uma pausa para respirar. - Judith ajudou a me pescar, e isso estabeleceu uma espécie de vínculo entre
nós, não foi?
- Sem dúvida - respondeu a sra. Butler. – Além disso, gostei muito de seu nome de batismo - acrescentou. - Pareceu muito apropriado.
- Sim, acho que é um nome grego - disse a sra. Oliver. - Mas é meu nome mesmo. Não se trata de pseudônimo para efeitos literários. Mas nada do que aconteceu a Ariadne já me aconteceu alguma vez. Nunca fui abandonada numa ilha grega por meu próprio e verdadeiro amor ou coisa semelhante.
Poirot escondeu com a mão no bigode o ligeiro sorriso que não pôde conter ao imaginar a sra. Oliver no papel de uma donzela grega desterrada.
- Não podemos todos viver de acordo com nossos nomes - ponderou a sra. Butler.
- É claro que não. Não posso concebê-la cortando a cabeça de seu amado. Não foi assim que aconteceu? Quer dizer, refiro-me a Judith e Holofernes.
- Ela cumpriu seu dever patriótico - disse a sra. Butler -, pelo qual, se não me engano, foi altamente louvada e recompensada.
- Não estou bem a par da história de Judith e Holofernes. O livro é apócrifo, não é? Apesar disso, por falar em nomes, as pessoas dão aos outros, quero dizer, a seus filhos, alguns nomes esquisitos, não dão? Quem foi que pregou alguns pregos na cabeça de alguém? Jael ou Sisera. Nunca me lembro quem era o homem e quem era a mulher nessa história. Jael, acho. Não me recordo de já ter visto alguma criança batizada com o nome de Jael.
- Ela lhe serviu manteiga num prato majestoso - disse Miranda inesperadamente, fazendo uma pausa quando já ia retirar a bandeja do chá.
- Não me fique olhando - disse Judith Butler à sua amiga - não fui eu que iniciei Miranda nos apócrifos. Isso faz parte de seu programa escolar.
- Coisa fora do comum para as escolas de hoje, não é? - observou a sra. Oliver. - Em vez disso, lhes incutem idéias éticas.
- Menos a srta. Emlyn - disse Miranda. - Ela afirma que se formos à igreja hoje em dia só ouviremos a versão moderna da Bíblia nas lições e tudo o mais, que não tem qualquer mérito literário. Que precisamos no
mínimo ler, de vez em quando, a prosa excelente e os versos brancos da Versão Autorizada. Eu gostei muito da história de Jael e de Sisera - acrescentou. - Não é o tipo de coisa - disse pensativa - que eu pensaria em fazer. Enfiar pregos na cabeça de alguém adormecido.
- Espero que não - disse sua mãe.
- E como você se desfaria de seus inimigos, Miranda? - perguntou Poirot.
- Eu seria muito bondosa - respondeu Miranda num tom pouco contemplativo. - Seria mais difícil, mas preferiria fazer assim porque não gosto de coisas que cortam. Usaria uma espécie de droga que causa a eutanásia. Eles iriam dormir, teriam belos sonhos, mas só que não acordariam mais.
Retirou algumas xícaras vazias, o pão e a manteigueira.
- Vou lavá-las, mamãe, a senhora não quer levar o sr. Poirot para ir ver o jardim? Há ainda algumas rosas Rainha Elizabeth lá no fundo.
Miranda saiu da sala, conduzindo cuidadosamente a bandeja de chá.
- É uma garota extraordinária essa Miranda – disse a sra. Oliver.
- A senhora tem uma linda menina, Madame - observou Poirot.
- Sim, agora eu a acho bonita. Não se sabe com que se vão parecer quando estão crescendo. Ficam gorduchas e às vezes até se parecem com porquinhos cevados. Mas, agora, ela se parece com uma ninfa dos bosques.
- Não é de admirar de que goste tanto do Jardim da
Pedreira, aqui ao lado de sua casa.
- Preferiria às vezes que não gostasse tanto. A gente fica preocupada com pessoas que vivem vagando por lugares isolados, mesmo que estejam perto de pessoas ou de moradores. Oh, hoje em dia se tem medo de tudo. Esta é a razão, a razão por que o senhor veio investigar a desgraça que aconteceu a Joyce. Pois até que saibamos quem foi, não teremos um só minuto de sossego, quer dizer, por causa
de nossos filhos. Quer levar o sr. Poirot ao jardim, Ariadne? Dentro de um ou dois minutos estarei por lá também.
A sra. Butler apanhou duas xícaras e um prato que estavam ainda sobre a mesa e os levou para a cozinha. Poirot e a sra. Oliver saíram pela porta envidraçada. O pequeno jardim se parecia muito com a maioria dos jardins de outono. Havia ainda algumas velas de varetas douradas e margaridas de São Miguel numa extremidade, e algumas roseiras Rainha Elizabeth mantinham ainda levantadas suas cabeças cor-de-rosa já sem vida. A sra. Oliver caminhou rapidamente para onde havia um banco de pedra, sentou-se e convidou Poirot para sentar-se a seu lado.
- Você disse que Miranda se parecia com uma ninfa dos bosques. E o que acha de Judith?
- Acho que o nome de Judith devia ser Ondina - disse Poirot.
- Sim, uma ninfa das águas. É como se tivesse acabado de sair das águas do Reno ou do mar ou de um lago da floresta, ou coisa que o valha. Tem-se a impressão de que seus cabelos estão molhados. Não há nada que pareça descuidado ou desordenado, não é?
- É também uma senhora muito amável – disse Poirot.
- O que é que você acha dela?
- Ainda não tive tempo para pensar. Apenas acho que é bonita e atraente e que algo a preocupa muito.
- É claro, como não se preocupar?
- Eu gostaria, Madame, que a senhora me contasse tudo que sabe ou pensa a seu respeito.
- Bem, fiquei conhecendo-a muito durante a excursão. Como você sabe, temos muito poucos amigos íntimos. Uma ou duas pessoas, e basta. Quanto ao resto gostamos uns dos outros e tudo o mais, mas, na realidade, não sentimos necessidade de estar com elas. Mas com uma ou duas pessoas, sim, experimentamos essa necessidade. Bem, Judith é uma dessas pessoas com quem gosto sempre de me encontrar.
- A senhora a conhecia antes da viagem?
-Não.
- E sabe alguma coisa a respeito dela?
- Sei apenas coisas comuns. É viúva - disse a sra. Oliver. - Seu marido morreu há muitos anos. Era piloto de avião. Morreu num acidente de carro. Acho que foi uma daquelas coisas amontoadas que se desprendem daquela máquina, que, numa noite dessas, estava rodan
do perto daqui na estrada de cascalho, como é que se chama? Ah, macadame, ou coisa dessa espécie. Acho que ele não a deixou em boa situação. Deve ter ficado muito abalada com o acontecimento. Ela não gosta de tocar no assunto.
- Miranda é sua filha única?
- Sim. Judith trabalha como secretária de meio expediente aqui pela vizinhança, mas nunca teve um em prego fixo.
- Ela conhecia as pessoas que moravam na Mansão da Pedreira?
- O senhor se refere ao velho coronel e à sra. Weston?
- Não, refiro-me à antiga proprietária, a sra. Llewellyn-Smythe.
- Acho que sim. Tenho a impressão de já ter ouvido esse nome. Mas ela morreu há dois ou três anos, de modo que não se ouve mais falar dela com muita freqüência. Não lhe bastam as pessoas que estão vivas? - perguntou a sra. Oliver com certa irritação.
- É claro que não - respondeu Poirot. – Preciso também investigar sobre as pessoas que morreram ou que desapareceram de cena.
- Quem desapareceu?
- Uma au pair girl, uma acompanhante.
- Ah, bom - disse a sra. Oliver. - Elas estão sempre desaparecendo, não é? Isto é, aparecem por aqui, ganham seu dinheiro, depois vão para um hospital porque engravidaram, têm um neném, chamam-no Augusto, ou Hans ou Boris, ou outro nome assim. Ou vêm para se casar com alguém, ou para seguir algum jovem por quem se apaixonaram. O senhor não acreditaria nas coisas que minhas amigas me contam! Parece que essa história de au pair girls é sempre assim: ou elas são um presente do céu para mães sobrecarregadas que, por isso, não querem separar-se delas; ou roubam nossas meias; ou são assassinadas...
A sra. Oliver interrompeu-se.
- Oh! - disse ela.
- Acalme-se, Madame - disse Poirot. - Não parece haver motivos para crer que uma acompanhante foi assassinada. Muito pelo contrário...
- O que quer dizer com muito pelo contrário? Isso não tem sentido.
- Talvez não tenha. Todavia...
Poirot tirou sua caderneta e fez uma anotação.
- O que é que você está escrevendo aí?
- Certas coisas que me ocorreram no passado.
- O senhor parece muito perturbado com o passado.
- O passado é o pai do presente - afirmou Poirot sentenciosamente.
E ofereceu à sra. Oliver sua caderneta de anotações.
- A senhora quer ler o que escrevi?
- Quero, é claro. Ouso afirmar que não significará nada para mim. As coisas que o senhor acha importante escrever, eu nunca acho.
Poirot lhe estendeu sua caderneta preta.
"Mortes: e.g. sra. Llewellyn-Smythe (rica). Janet White (professora). Empregado de escritório de advocacia - apunhalado, anteriormente processado por crime de falsificação."
E, mais embaixo, estava escrito: "Desaparece ópera girl”.
- Que é ópera girl?
- É a palavra que minha amiga, irmã de Spence, usa para chamar o que a senhora e eu conhecemos por au pair girl.
- Por que teria desaparecido?
- Porque possivelmente iria ter de enfrentar algumas dificuldades com a lei.
O dedo de Poirot apontou para a anotação seguinte. Uma simples palavra: "Falsificação" com dois sinais de interrogação.
- Falsificação? - perguntou a sra. Oliver. - Por que falsificação?
- É o que me pergunto. Por que falsificação?
- Que espécie de falsificação?
- De um testamento, ou melhor, de um codicilo a um testamento. Um codicilo a favor da au pair girl.
- Influência indébita - sugeriu a sra. Oliver.
- Uma falsificação é algo muito mais grave do que uma influência indébita - observou Poirot.
- Não vejo o que é que isso poderia ter a ver com o assassinato da pobre Joyce.
- Nem eu - disse Poirot. - Mas, por esse motivo, é interessante.
- E a palavra seguinte? Não consigo lê-la.
- Elefantes.
- Não vejo que relação possa ter isso com alguma coisa.
- Poderia ter - disse Poirot -, creia-me, poderia ter.
Levantou-se.
- Preciso ir andando - disse ele. - Queira desculpar-me junto à minha anfitriã por não lhe apresentar minhas desculpas. Gostei muito de tê-la conhecido e à sua encantadora e extraordinária filha. Diga-lhe que tenha cuidado com ela.
- Minha mãe dizia que eu nunca devia brincar com as crianças no bosque - citou a sra. Oliver. - Bem, até logo. Se gosta de ser misterioso, acho que continuará sendo misterioso. O senhor nunca diz o que vai fazer em seguida.
- Tenho um encontro marcado amanhã de manhã com os srs. Fullerton, Harrison e Leadbetter em Medchester.
- Por quê?
- Para falar sobre falsificação e outros assuntos.
- E depois?
- Preciso falar também com uma certa pessoa que também estava presente.
- À festa?
- Não, aos preparativos para a festa.
CAPÍTULO 12
O escritório de Fullerton, Harrison e Leadbetter era típico de uma firma antiquada da mais alta respeitabilidade. A ação do tempo já se fazia sentir. Não havia mais Harrisons, nem Leadbetters. Lá estavam apenas um Mr. Atkinson, um jovem Mr. Cole e o Mr. Jeremy Fullerton, o sócio mais antigo.
Mr. Fullerton, um senhor idoso, magro, tinha um ar impassível, voz seca, metálica, e um olhar perspicaz. Sob sua mão estava uma folha de papel de carta, em que acabara de ler algumas palavras. Leu-as mais uma vez para se certificar de seu sentido exato. Em seguida, olhou para o homem que a nota lhe apresentava.
- Monsieur Hercule Poirot?
Ele próprio fez a apreciação do visitante. "Um homem idoso, estrangeiro, muito esmerado no vestir, com sapatos incômodos, muito apertados para seus pés", assim conjeturava com argúcia Mr. Fullerton. "Rugas de cansaço já se estavam esboçando nos cantos de seus olhos. Um janota, um almofadinha, um estrangeiro e que lhe fora recomendado pelo inspetor Henry Raglan, pelo Departamento de Investigação Criminal e confirmado pelo inspetor Spence (aposentado), da Scotland Yard."
- Inspetor Spence, hein? - disse Mr. Fullerton.
Fullerton conhecia Spence. Um homem que fizera um bom trabalho no seu tempo e era muito conceituado junto a seus superiores. Algumas lembranças vagas lhe afloraram à memória. Principalmente de um caso célebre, mais célebre realmente do que parecia vir a ser, um caso que parecia morto e esquecido. Naturalmente! Chegou ao seu conhecimento que seu sobrinho Robert tinha se metido naquilo como advogado secundário. Um assassino psicopata, segundo parecia, um homem que com muita dificuldade resolveu defender-se, um homem que, ao que tudo indicava, queria ser enforcado (pois naquele tempo isso significava forca). Nada de 15 anos ou um número indefinido de anos de prisão. Não. Pegava-se a pena capital. "É pena que tenham acabado com isso", pensava assim Mr. Fullerton em sua mente fria. Os jovens assassinos de hoje acham que não se arriscam muito ao estender o assalto até o ponto de o tornar mortal. Uma vez morto o homem, não há testemunha para identificá-lo.
Spence tinha sido encarregado do caso. Era um tipo obstinado, calmo, que insistia o tempo todo em dizer que eles tinham escolhido o homem menos indicado. E de fato tinham escolhido o homem errado, e quem o demonstrou foi uma espécie de estrangeiro amador. Um detetive aposentado da polícia belga. Era um homem maduro naquele tempo. "Hoje, provavelmente", pensava Mr. Fullerton, "já estava envelhecido mas, não obstante, comportar-se-ia com a mesma prudência". Informação, eis o que lhe vinha pedir. Dar uma informação, afinal de contas, não podia ser um erro, uma vez que não tinha nenhuma informação que pudesse ser útil naquele assunto. Um caso de assassinato de uma criança.
Mr. Fullerton imaginava ter mais ou menos uma idéia engenhosa de quem teria cometido o crime, mas não estava tão seguro como gostaria de estar, pois havia no mínimo três pretendentes no caso. Qualquer um dos três maus elementos poderia tê-lo cometido. Os adjetivos flutuavam na sua mente. Mentalmente retardado. Relatório psiquiátrico. Eis como tudo iria acabar, sem sombra de dúvida. Todavia, afogar uma criança durante uma festa era coisa muito diferente dos inúmeros casos de estudantes que não chegam em casa por terem aceito caronas, apesar de serem constantemente admoestados para não o fazerem, e que mais tarde são encontrados nas vizinhanças de um bosque ou numa saibreira. Uma saibreira. Quando foi isso? Há muitos, muitos anos.
Tudo isso levou cerca de quatro minutos. Mr. Fullerton limpou a garganta de modo um pouco asmático e falou.
- Monsieur Hercule Poirot - disse de novo. – Em que lhe posso ser útil? Suponho que seja o caso da garota Joyce Reynolds. Negócio sujo, muito sujo mesmo. Não vejo em que lhe poderei ser útil. Sei muito pouco a respeito disso.
- Mas o senhor, segundo soube, é o procurador da família Drake.
- Oh, sim, sim. Hugo Drake, pobre rapaz. Excelente sujeito. Conheço-os há muitos anos, desde quando compraram a Casa das Macieiras e foram morar ali. Coisa triste a poliomielite. Ele a contraiu em viagem de um ano pelo exterior. Mentalmente, porém, sua saúde era
perfeita. É triste quando isso acontece a um homem que fora um atleta durante toda sua vida, um desportista, bom jogador e bom em muitas outras coisas. Sim. É triste saber que se vai ficar aleijado por toda a vida.
- Acredito que o senhor está encarregado também das questões jurídicas da sra. Llewellyn-Smythe.
- A tia deles. Sim. Uma mulher realmente notável. Veio residir aqui quando sua saúde ficou abalada, de modo a estar mais perto de seu sobrinho e de sua sobrinha. Comprou aquele elefante branco do lugar, a Mansão da Pedreira. Pagou por ele mais do que valia, mas não se preocupava com dinheiro. Era riquíssima. Poderia ter arranjado uma casa mais atraente, mas foi precisamente a pedreira que a fascinou. Trouxe um paisagista, um sujeito, a meu ver, realmente perito na sua profissão. Um desses sujeitos cabeludos, simpático e habilidoso. Saiu-se muito bem na construção desse jardim escavado. Conquistou muita fama, saiu na revista Casas e Jardins e tudo o mais. É, a sra. Llewellyn-Smythe sabia escolher pessoas. Não era só uma questão de um jovem simpático, como de um protégé. As mulheres idosas têm às vezes essas tolices, mas o sujeito tinha massa cinzenta e estava na posição preeminente de sua profissão. Mas estou divagando um pouco. A sra. Llewellyn-Smythe morreu há quase dois anos.
- E subitamente.
Fullerton olhou rapidamente para Poirot.
- Bem, eu não diria isso. Ela estava sofrendo do coração, e os médicos faziam tudo para que se abstivesse de certos trabalhos, mas não era o tipo de mulher fácil de se conduzir. Não era hipocondríaca - tossiu e continuou: - Mas acho que estamos nos desviando do assunto de que
o senhor veio tratar.
- Não, propriamente - disse Poirot -, embora gostasse, se me for permitido, de lhe fazer algumas perguntas sobre um assunto completamente diferente. Alguma informação sobre um de seus empregados, Lesley Ferrier.
Mr. Fullerton mostrou-se um tanto surpreso.
- Lesley Ferrier? - disse ele. - Lesley Ferrier. Deixa ver. Realmente, o senhor sabe, quase esqueci seu nome. Sim, sim, naturalmente. É um que foi apunhalado, não é?
- Ê esse mesmo a que me refiro.
- Bem, na realidade não sei se lhe posso contar muita coisa a respeito dele. Isso aconteceu faz algum tempo. Apunhalado perto da Green Swan, uma noite. Nenhuma prisão foi feita. Ouso dizer que a polícia teve alguma idéia de quem teria sido o responsável mas, acho,
era uma questão principalmente de obter provas.
- A motivação do crime teria sido emocional? - perguntou Poirot.
- Oh, sim, certamente. Chamadas, sabe. Era amante de uma mulher casada. O marido dela tinha uma hospedaria. A Green Swan, em Woodleigh Common. Um lugar modesto. Depois, parece que o jovem Lesley andou cortejando outra jovem, ou mais de uma, como se diz. Era muito mulherengo. Uma vez ou duas houve uma grande confusão.
- O senhor estava satisfeito com ele como empregado?
- Eu diria que estava satisfeito. Tinha seu lado positivo. Tratava bem os clientes e cuidava de seus contratos. Se se tivesse preocupado mais com a sua posição e mantivesse um bom padrão de comportamento, teria sido melhor, em vez de se envolver com mulheres alheias, as quais, no meu modo antiquado de considerar as coisas, estavam muito abaixo de sua posição social. Houve uma briga uma noite na Green Swan, e Lesley Ferrier foi apunhalado quando voltava para casa.
- Seria responsável uma das moças ou teria sido a sra. Green Swan?
- Realmente, não é um caso de se saber alguma coisa ao certo. Acho que a polícia acredita ter sido uma questão de ciúme mas...
Interrompeu-se e deu de ombros.
- Mas o senhor não está certo.
- Oh, isso acontece - disse Mr. Fullerton. - "Nada mais terrível do que a fúria de uma mulher desprezada" Essa frase é sempre citada nos tribunais. E algumas vezes é verdadeira.
- Mas tenho a impressão de que o senhor mesmo não está de modo algum convencido de que esse tenha sido o motivo verdadeiro no caso de Lesley.
- Bem, eu gostaria de ter mais provas. A polícia também preferiria ter mais provas. Acho que o procurador da justiça as rejeitou.
- Poderia ter sido algo completamente diferente?
- Oh, sim. Podem-se propor várias versões. O jovem Ferrier não era um sujeito de caráter muito estável. Bem-educado. Sua mãe, uma senhora muito distinta, era viúva. O pai não era lá grande coisa. Escapou várias vezes por um triz de grandes riscos. Uma infelicidade para sua esposa. Nosso jovem até certo ponto se parecia muito com o pai. De vez em quando dava de andar com pessoas de reputação
um tanto duvidosa. Concedi-lhe o benefício da dúvida. Ele era ainda jovem. Mas lhe chamei a atenção por andar se misturando com maus elementos, envolvendo-se em transações ilegais. Francamente, só por causa de sua mãe, eu o mantive. Era moço e competente; fiz-lhe uma ou duas advertências que esperei pudessem surtir efeito. Mas há muita corrupção nos dias de hoje. E parece que vem aumentando assustadoramente nesses últimos dez anos.
- O senhor acha que alguém poderia ter tido raiva dele?
- É muito possível. É um tanto arriscado manter relações com esses grupos - a palavra gang é muito melodramática. Qualquer idéia pode ser motivo de dissensão entre eles e não é raro resolverem as discordâncias com facadas.
- Alguém teria assistido ao crime?
- Não. Ninguém viu. E nem deixariam. Quem quer que tenha executado o serviço deve ter tomado todas as precauções. Álibis no tempo e no local adequado, e assim por diante.
- Não obstante, alguém poderia ter visto. Uma testemunha inesperada. Uma criança, por exemplo.
- Tarde da noite? Nas proximidades da Green Swan? É uma idéia muito difícil de se aceitar, sr. Poirot.
- Uma criança - persistiu Poirot - que fosse capaz de se lembrar. Uma criança que viesse da casa de um amigo. A uma certa distância, talvez, de sua casa. Poderia ter assistido quando voltava de um passeio, ou ter visto algo por detrás de uma cerca.
- Realmente, sr. Poirot, que imaginação o senhor tem. O que o senhor está dizendo parece-me destituído de qualquer possibilidade.
- A mim não parece improvável - observou Poirot. - As crianças vêem muitas coisas. Muitas vezes estão onde menos a gente pensa que estejam.
- Mas, certamente, quando chegam em casa, costumam contar o que viram.
- Nem sempre - disse Poirot. - Podem não estar bem seguras do que viram. Sobretudo se não se assustaram muito com o que viram. As crianças nem sempre contam em casa um acidente de rua a que tenham assistido, ou alguma violência inesperada. Guardam seus segredos muito bem. Guardam-nos e pensam neles. Às vezes gostam de se sentir donos de um segredo, de um segredo que guardam ciosas para si mesmas.
- Contariam à mamãe, na certa - disse Mr. Fullerton.
- Não tenho tanta certeza disso. Na minha experiência há muitas coisas que as crianças não contam às suas mães.
- Permita-me perguntar por que o senhor está tão interessado nesse caso de Lesley? A triste morte de um jovem por uma violência já tão comum em nossos dias?
- Eu nada sei a respeito dele. Mas gostaria de saber, porque se trata de uma morte violenta ocorrida há não muitos anos. Isso pode ser importante para mim.
- O senhor sabe, sr. Poirot - disse Mr. Fullerton com uma certa aspereza -, na verdade não posso atinar com a razão por que o senhor me procurou, e com o que realmente lhe interessa. Não é possível se conceber qualquer relação entre a morte de Joyce Reynolds e a morte de um jovem de atividades promissoras mas um tanto ilegais, assassinado há alguns anos.
- A gente pode conceber qualquer coisa – disse Poirot. - Precisamos estar sempre formulando hipóteses.
- Desculpe-me, sr. Poirot, mas em todas as questões relacionadas com crime, a prova é peça fundamental.
- O senhor deve ter ouvido dizer que a falecida Joyce afirmou diante de várias testemunhas que tinha assistido a um crime.
- Num lugar como este - disse Mr. Fullerton -, qualquer boato em geral se espalha logo. E muitas vezes é difundido também numa forma de tal modo exagerada, que não merece crédito.
- Bom, isso é verdade também - concordou Poirot. - Conforme pude apurar, Joyce tinha apenas 13 anos de idade. Uma criança de nove anos pode lembrar-se de algo que tenha visto... digamos, um acidente de trânsito, uma luta de faca numa noite escura, uma professora sendo estrangulada. Tudo isso poderia deixar uma impressão muito forte na mente de uma criança, sobre a qual não quereria falar por estar incerta da natureza dos fatos a que presenciou, ruminando-os em sua mente. Talvez chegue mesmo a se esquecer do que viu, até que aconteça alguma coisa que a faça lembrar. O senhor concorda que isso possa acontecer?
- Sim, é possível, mas acho muito difícil. Sua hipótese é extremamente artificial.
- O senhor já teve aqui também, creio, o desaparecimento de uma jovem estrangeira. Chamava-se, me parece, Olga ou Sônia. Não sei seu sobrenome.
- Ah, sim, Olga Seminoff.
- Tenho a impressão de que não era uma pessoa de confiança.
- Não.
- Era acompanhante ou enfermeira da sra. Llewellyn-Smythe, não era? Da sra. Llewellyn-Smythe de quem o senhor falou há pouco, tia da sra. Drake...
- Exato. Ela tivera outras acompanhantes... duas estrangeiras, creio. Com uma delas ela brigou logo. A outra, muito boazinha, mas tola de fazer dó. A sra. Llewellyn-Smythe não era dessas pessoas que suportam gente tola. Olga, sua última aventura, parece ter-lhe convindo bem. Não era, ao que me lembro, uma jovem muito atraente - disse Mr. Fullerton -; era baixa, um tanto atarracada e um bocado teimosa. Os vizinhos não gostavam muito dela.
- Mas a sra. Llewellyn-Smythe gostava dela - sugeriu Poirot.
- É, afeiçoou-se muito à jovem, desavisadamente, ao que parece.
- Ah, é mesmo?
- Não tenho dúvida - continuou Mr. Fullerton - de que não lhe estou contando nada que o senhor já não tenha ouvido. Essas coisas, como já lhe disse, se propagam com a velocidade de um incêndio.
- Segundo fui informado a sra. Llewellyn-Smythe deixou bastante dinheiro para a moça.
- A coisa mais surpreendente que poderia acontecer - disse Mr. Fullerton. - A sra. Llewellyn-Smythe durante muitos anos não alterara suas disposições testamentárias fundamentais, a não ser acrescentando novos donativos de caridade ou alterando legados que perdiam sua razão de ser com a morte dos beneficiários. É possível que lhe esteja contando o que o senhor já sabe, se está interessado no assunto. Sua fortuna esteve sempre destinada a seu sobrinho Hugo Drake, juntamente com sua
esposa e prima em primeiro grau, que, por conseguinte, era sobrinha também da sra. Llewellyn-Smythe. Morrendo qualquer um dos dois antes dela, a fortuna ficaria para o sobrevivente. Muitos legados ficavam para associações de caridade e para velhos criados. Mas o que se pretendeu
ser a disposição final de seus bens teria sido feito cerca de três semanas antes de sua morte, e não foi, como até então, redigido por nossa firma. Foi um codicilo escrito de seu próprio punho. Incluía um ou dois donativos de caridade - não tanto como antes -, nada para os velhos criados e todo o resto de sua considerável fortuna ficava para Olga Seminoff, em reconhecimento à sua dedicação e afeição demonstrada por ela. Uma disposição surpreendente, totalmente diferente de tudo que a sra.
Llewellyn-Smythe sempre fizera antes.
- E depois? - perguntou Poirot.
- O senhor já deve ter ouvido falar mais ou menos do resultado. Conforme o parecer de peritos em caligrafia, ficou provado que o codicilo era urna autêntica falsificação. Tinha apenas uma ligeira semelhança com a letra da sra. Llewellyn-Smythe, era tudo. A sra. Smythe não gostava de máquina de escrever e pedia sempre a Olga para lhe escrever cartas de caráter pessoal, imitando tanto quanto possível o talho de letra de sua empregadora. Às vezes chegava mesmo a imitar sua própria assinatura. Olga adquirira muita prática de fazer isso. Parece que, quando a sra. Llewellyn-Smythe morreu, a moça deu mais um passo à frente e achou que seria bastante capaz de falsificar a letra de sua patroa. Mas essa espécie de coisas não escapa aos peritos. E, de fato, não escapou.
- Iam-se abrir inquéritos para contestar o documento?
- Perfeitamente. Haveria, é claro, a conhecida de longa jurídica até que o processo chegasse ao tribunal. Nesse ínterim, a jovem perdeu o sangue-frio e, como o senhor acabou de dizer há pouco, desapareceu.
CAPÍTULO 13
Quando Hercule Poirot se despediu e saiu, Jeremy Fullerton ficou sentado diante de sua mesa, a tamborilar levemente com a ponta de seus dedos. Seu olhar, entretanto, estava longe dali - Mr. Fullerton estava absorto em seus pensamentos.
Apanhou um documento que estava à sua frente e abaixou a vista, mas não o leu. A campainha discreta do telefone interno soou, e ele pegou o fone do aparelho que havia em sua mesa.
- Sim, srta. Miles?
- O sr. Holden está aqui.
- Sim. Sua hora marcada, creio, já foi há cerca de 45 minutos. Ele explicou por que chegou tão tarde?... Sim, sim. Compreendo. Quase a mesma desculpa que deu da outra vez. Diga-lhe que recebi outro cliente e agora estou muito sem tempo. Marque um novo horário para ele na próxima semana, está bem? Não podemos deixar isso continuar.
- Está bem, Mr. Fullerton.
Ele recolocou o fone no lugar e pôs-se a olhar pensativo para o documento que tinha diante de si. Ainda não o estava lendo. Sua imaginação divagava pelo passado. Há dois anos - há quase dois anos - e aquele homenzinho esquisito, com aqueles sapatos envernizados e bigodes compridos, vinha trazer de novo o assunto à baila naquela manhã, fazendo-lhe aquelas perguntas.
Agora estava repassando em sua mente uma conversa que tivera há dois anos.
Via de novo, sentada numa cadeira diante dele, uma jovem, de estatura baixa, atarracada - cor morena, lábios vermelho-escuros, ossos malares consistentes - e o ardor de dois olhos azuis que o fitavam sob sobrancelhas hirsutas e pesadas. Uma fisionomia irascível, um rosto cheio de vitalidade, uma face que conhecera o sofrimento - talvez conhecera sempre o sofrimento - mas nunca aprendera a suportá-lo. A espécie de mulher que lutaria e protestaria até o fim. "Onde estaria ela agora?" perguntava-se. "De uma maneira ou de outra ela tinha conseguido o seu intento - o que teria conseguido exatamente? Quem a teria ajudado? Alguém a teria ajudado? Sim, alguém deve tê-la ajudado."
"Ela voltou", pensava ele, "para alguma região tumultuada da Europa Central, de onde viera, à qual pertencia, para onde tivera de voltar, uma vez que não lhe restava outro caminho a tomar, a menos que quisesse perder a liberdade".
Jeremy Fullerton era um defensor da lei. Acreditava na lei, sentia desprezo por muitos dos juizes de hoje, com suas sentenças fracas, com sua aceitação de necessidades acadêmicas. Os estudantes que roubam livros, as jovens esposas que despojam os supermercados, as moças que surrupiam dinheiro de seus empregadores, os rapazes que danificam cabines telefônicas, nenhum deles age por real necessidade, nenhum deles estava desesperado, a maioria deles não conhecera outra coisa que não fosse a superindulgência na educação e uma crença profunda de que tudo que não lhes fosse dado comprar era deles, podiam apanhar. Não obstante, apesar de sua fé intrínseca na administração da lei justa, Mr. Fullerton era um homem compassivo. Era capaz de ter pena das pessoas. Podia ter pena e de fato teve pena de Olga Seminoff, embora se mostrasse insensível aos seus exaltados argumentos a favor de si própria.
- Eu vim pedir sua ajuda. Pensei que o senhor me pudesse ajudar. O senhor foi muito bom no ano passado. Arranjou tudo para que eu pudesse permanecer mais um ano na Inglaterra. Então eles me disseram: "A senhora não é obrigada a responder a nenhuma pergunta, se não quiser. Pode-se fazer representar por um advogado." Por isso, vim procurá-lo.
- As circunstâncias que a senhora acaba de citar – e Mr. Fullerton se lembrava de como dissera isso seca e friamente, tanto mais seca e friamente por causa da compaixão que estava por detrás daquela declaração - não se aplicam. No caso atual não tenho liberdade para agir em seu nome legalmente. Já estou representando a família Drake. Como a senhora sabe, eu já era o procurador da sra. Llewellyn-Smythe.
- Mas ela morreu. Ela não precisa de procurador depois de morta.
- A sra. Smythe gostava muito de você - disse Mr. Fullerton.
- Sim, ela gostava de mim. É o que lhe estou dizendo. Foi por isso que me quis legar sua fortuna.
- Toda a fortuna?
- E por que não? Ela não gostava de seus parentes.
- A senhora está enganada. Sua patroa gostava muito da sobrinha e do sobrinho.
- Bem, ela poderia gostar do sr. Drake, mas não da sra. Drake. Achava-a muito antipática. A sra. Drake se metia muito na sua vida. Não queria deixar a sra. Llewellyn-Smythe fazer o que quisesse. Não a deixava comer o que lhe apetecesse.
- É uma senhora muito conscienciosa e tentava fazer com que sua tia obedecesse às recomendações do médico com referência à dieta e não se exercitasse muito, e muitas outras coisas.
- As pessoas nem sempre gostam de obedecer a prescrições médicas. Não querem ser molestadas pelos parentes. Querem viver sua vida como lhes parece melhor e fazer o que querem e ter o que desejam. Ela tinha muito dinheiro. Podia ter o que quisesse! Podia ter tanto quanto quisesse de tudo. Era rica, rica, rica e podia fazer o que quisesse com o seu dinheiro. O sr. Drake e sua mulher já têm bastante dinheiro. Têm uma linda casa, roupas e dois carros. Estão muito bem. Por que querem mais dinheiro?
- Eram os seus únicos parentes vivos.
- Ela queria que eu ficasse com seu dinheiro. Tinha pena de mim. Sabia tudo por que eu tinha passado. Ela sabia a história de meu pai, preso pela polícia. Levaram-no. Nunca mais o tornamos a ver, minha mãe e eu. E depois sobre minha mãe, como ela morreu. Toda minha família desapareceu. É terrível o que tenho suportado. O senhor não sabe o que é viver num estado policial, como eu vivi. Não, não. O senhor é do lado da polícia. O senhor não está do meu lado.
- Não - disse Mr. Fullerton -, eu não estou de seu lado. Lamento muito o que lhe tem acontecido, mas essa dificuldade você mesma criou.
- Não é verdade. Não é verdade que eu tenha feito o que não devia fazer. O que é que eu fiz? Eu era boa para ela, eu era gentil para ela. Eu lhe trazia um bocado de coisas que ela, pelas recomendações médicas, não poderia comer. Chocolate e manteiga. Nada, senão gorduras vegetais. Ela não gostava de gorduras vegetais. Queria manteiga, muita manteiga.
- Não é exatamente uma questão de manteiga - disse Mr. Fullerton.
- Eu cuidava dela, era boa para ela! E por isso me era grata. E, então, quando morreu e fiquei sabendo que por sua bondade e afeição deixara um documento assinado, legando-me toda sua fortuna, os Drake vêm e dizem que eu não a receberei. Dizem toda sorte de coisas. Que eu exercia má influência. E dizem ainda coisas piores. Muito piores. Dizem que eu mesma escrevi o testamento. Isso é um contra-senso. Ela o escreveu. E depois mandou que eu saísse do quarto. Chamou a faxineira e Jim, o jardineiro. Disse que eles deviam assinar e não eu, porque era eu que ia ficar com o dinheiro. Por que não devo ter dinheiro? Por que não posso ter alguma sorte na vida, um pouco de felicidade? Parecia maravilhoso. Tudo que planejei, quando fiquei sabendo.
- Certamente, não tenho a menor dúvida.
- Por que não posso ter planos? Por que não posso me regozijar? Vou ser feliz e rica e ter tudo o que quiser. Que fiz de mal? Nada. Nada, afirmo-lhe. Nada.
- Tenho tentado explicar à senhora - disse Mr. Fullerton.
- Que tudo é mentira. O senhor diz que estou mentindo. Diz que eu mesma redigi o documento. Que eu mesma o escrevi. Ela o escreveu. Ninguém pode afirmar o contrário.
- Certas pessoas dizem muitas coisas interessantes - disse Mr. Fullerton. - Agora me ouça. Pare de protestar e me ouça. Não é verdade que a sra. Llewellyn-Smythe lhe pedia muitas vezes para imitar tanto quanto possível sua letra nas cartas que a senhora redigia para ela? Porque tinha uma idéia ultrapassada de que era falta de delicadeza
escrever cartas datilografadas a amigos ou a pessoas conhecidas. É uma reminiscência dos tempos vitorianos. Hoje em dia, ninguém se incomoda por receber cartas datilografadas ou escritas à mão. Mas para a sra. Llewellyn-Smythe isso era uma descortesia. A senhora compreende o que estou dizendo?
- Sim, compreendo. E era por isso que me pedia. Ela dizia: "Olga, escreva estas quatro cartas como lhe disse e que você já rascunhou. Escreva-as, porém, à mão, imitando o melhor possível minha própria letra." E me recomendou que praticasse, procurando imitá-la, observando como escrevia os aa, os bb, seus ll e as demais letras. "Basta que se pareça razoavelmente com minha letra" - dizia ela - "e então você pode assinar meu nome. Mas não quero que ninguém pense que não sou mais capaz
de escrever minhas cartas. Embora, como você sabe, o reumatismo de meu pulso esteja ficando cada vez pior. Mas não quero minhas cartas pessoais datilografadas".
- A senhora poderia escrevê-las com a sua própria caligrafia - disse Mr. Fullerton - e, no fim, colocar uma nota, "pela secretária", ou suas iniciais, se preferisse.
- Ela não queria que eu fizesse isso. Queria que se pensasse que ela mesma escrevia suas cartas.
"E isso", pensou Mr. Fullerton, "podia ser verdade. Era próprio de Louise Llewellyn-Smythe. Vivia aborrecida com o fato de não poder mais fazer as coisas que gostava de fazer, de não poder mais ir longe em seus passeios ou subir colinas rapidamente ou executar certos trabalhos manuais, sobretudo com a sua mão direita. Ela queria poder dizer: 'Estou perfeitamente bem, não há nada que eu não possa fazer, se me empenhar a fazê-lo.' Sim, o que Olga lhe estava dizendo naquele momento era verdade, e, por ser verdade, era uma das razões por que o codicilo anexo ao último testamento devidamente redigido e assinado por Louise Llewellyn-Smythe fora aceito inicialmente sem suspeita. Foi no seu escritório", refletia Mr. Fullerton, "que as suspeitas tinham sido levantadas, porque tanto ele como seu sócio mais novo conheciam muito bem a letra da sra. Llewellyn-Smythe. Fora o jovem Cole quem primeiro observou: 'O senhor sabe, não posso acreditar que Louise Llewellyn-Smythe tenha escrito aquele codicilo. Eu sei que ela, ultimamente, estava sofrendo de artrite, mas olhe estes exemplos de sua caligrafia que retirei dentre seus documentos para lhe mostrar. Há algo de errado neste codicilo'".
Mr. Fullerton concordara em que havia algo de anormal. Dissera que iria pedir a opinião de peritos sobre o assunto. A resposta tinha sido muito clara. As opiniões isoladas não variaram. A letra do codicilo não era, em definitivo, a letra de Louise Llewellyn-Smythe. "Se Olga tivesse sido menos ambiciosa", pensava Mr. Fullerton, "se se tivesse contentado em escrever um codicilo começando como começou - Por causa de seu grande zelo e atenção e pela afeição e bondade que teve para comigo, deixo... - Era assim que começava, era assim que poderia ter começado, e, se tivesse especificado urna boa soma de dinheiro ligado à devotada au pair girl, os parentes poderiam ter considerado o fato como um exagero, mas o teriam aceitado sem discutir. Mas eliminar todos os parentes, o sobrinho que tinha sido o legatário residual de sua tia nos últimos quatro testamentos que ela fizera no período de quase vinte anos, deixar tudo para a estrangeira Olga Seminoff, não, isso não era do caráter de Louise Llewellyn-Smythe". Na realidade, uma alegação de influência indébita poderia tornar sem efeito um documento. Não. Ela tinha sido ambiciosa, essa menina impetuosa e vivaz. Era possível que a sra. Llewellyn-Smythe lhe tivesse dito que iria deixar alguma herança para ela, por causa de seus bons serviços prestados, por causa de sua dedicação, por causa da amizade que a velha senhora estava começando a sentir por essa jovem que satisfazia todos os seus caprichos, que fazia tudo que lhe pedisse. E isso teria aberto uma perspectiva para Olga. Ela queria tudo. A velha senhora deixaria tudo para ela e ela ficaria com todo o dinheiro. Todo o dinheiro, a casa, as roupas e as jóias. Tudo. Uma jovem ambiciosa. E agora estava recebendo a punição.
E Mr. Fullerton, contra sua vontade, apesar de seus instintos jurídicos e de muita coisa mais, sentia pena dela. Muita pena mesmo. Olga conhecera o sofrimento desde criança, conhecera os rigores de um estado totalitário, perdera seus pais, perdera um irmão e uma irmã, e conhecera a injustiça e o medo, e isso desenvolvera nela um caráter com o qual tinha nascido, mas que até então não pudera exercitar. Isso desenvolvera nela uma ambição infantil mais violenta.
- Todos são contra mim - disse Olga. - Todo o mundo. O senhor está contra mim. O senhor não é justo por que eu sou uma estrangeira, porque não sou deste país, porque não sei o que dizer, não sei o que fazer. O que é que posso fazer? Por que o senhor não me diz o que eu posso fazer?
- Porque não acho que haja realmente alguma coisa que a senhora possa fazer - respondeu Mr. Fullerton. - Sua melhor saída é confessar tudo.
- Se eu disser o que o senhor quer que eu diga, será mentira. Ela fez aquele testamento. Ela o escreveu. Mandou-me sair do quarto enquanto os outros o assinavam.
- Há provas contra a senhora, a senhora sabe. Há gente que dirá que a sra. Llewellyn-Smythe muitas vezes não sabia o que estava assinando. Tinha vários documentos de várias espécies e nem sempre tornava a ler o que se lhe colocava na frente.
- Bem, então ela não sabia o que estava dizendo.
- Minha filha - disse Mr. Fullerton -, sua melhor chance está no fato de ser primária diante da lei, de ser estrangeira, de entender o inglês só de forma rudimentar. Nesse caso, poderá pegar uma sentença mais branda, ou pode, é verdade, obter sursis.
- Oh, palavras, só palavras. Serei presa e nunca mais me soltarão.
- Agora a senhora está dizendo tolices - disse Mr. Fullerton.
- O melhor que eu faria era desaparecer, esconder-me de modo que ninguém me pudesse encontrar.
- Se for emitido um mandado de prisão, a senhora poderá ser encontrada.
- A não ser que eu o faça imediatamente. Se eu me for embora logo. Se alguém me ajudar. Poderia ir-me embora da Inglaterra. De navio ou de avião. Poderia descobrir alguém que saiba forjar passaportes, vistos e tudo o mais de que precisar. Alguém que faça alguma coisa por mim. Tenho amigos. Há pessoas que gostam de mim. Alguém poderia ajudar-me a desaparecer. É disso que preciso. Poderia botar uma peruca. Poderia caminhar de muletas.
- Escute - dissera Mr. Fullerton, e dessa vez com autoridade, - Tenho pena da senhora. Recomendá-la-ei a um advogado que fará o que puder pela senhora. Perca a esperança de desaparecer. A senhora está falando como uma criança.
- Ganhei bastante dinheiro. E tenho algumas economias - continuara Olga. - O senhor tentou ser bondoso. Bem, eu creio nisso. Mas o senhor não fará nada porque tudo é a lei, a lei. Mas alguém me ajudará. Sim, alguém me ajudará. E irei para um lugar onde ninguém me poderá encontrar.
"Ninguém" pensava Mr. Fullerton, "a tinha encontrado". E se perguntava: "Sim, para onde teria ido ou onde poderia estar agora?"
CAPÍTULO 14
Ao ser recebido na Casa das Macieiras, Hercule Poirot foi introduzido na sala de estar e informado de que a sra. Drake não demoraria.
Passando pelo corredor, ouvira um sussurro de vozes femininas por detrás do que lhe pareceu ser a porta da sala de jantar.
Poirot aproximou-se da janela da sala de estar e se pôs a apreciar o jardim bem cuidado e aprazível. Bem planejado e meticulosamente controlado. Exuberantes margaridas de outono ainda sobreviviam, agarradas a galhos secos; os crisântemos não tinham ainda perdido sua vitalidade. Havia uma ou duas rosas obstinadas, indiferentes ao inverno que se aproximava.
Poirot não podia, até então, discernir qualquer sinal das atividades preliminares de um jardineiro paisagista. Tudo era cuidado e convenção. Ele se perguntava se a sra. Drake não teria sido lograda por Michael Garfield. Ele empregara todos os seus atrativos em vão. O jardim dava mostra de permanecer um jardim suburbano, esplendidamente bem tratado.
A porta se abriu.
- Lamento tê-lo feito esperar, sr. Poirot - disse a sra. Drake.
Lá fora no corredor diminuía o vozerio de pessoas que se despediam e iam-se embora.
- É nossa festa de Natal da igreja - explicou a sra. Drake. - Uma reunião da Comissão para os preparativos e tudo o mais. Essas reuniões são sempre mais prolongadas do que o necessário. Há sempre alguém que discorda de alguma coisa ou tem uma boa idéia - uma boa idéia que em geral acaba sendo impossível.
Havia um pouco de aspereza no seu tom. Poirot bem podia imaginar que Rowena Drake encerraria logo o assunto como absurdo, de modo firme e definitivo. Ele compreendia bem, partindo das observações que ouvira da irmã de Spence, das entrelinhas em conversas com outras pessoas e de várias outras fontes, que Rowena Drake era aquele tipo de personalidade dominante que todos reconhecem e que, por agir assim, não atrai simpatias. Podia imaginar também que suas atitudes não deviam ter sido objeto de apreciação por parte de uma parenta idosa e que era também da mesma índole. A sra. Llewellyn-Smythe, conforme ficara sabendo, viera morar em Woodleigh Common com o objetivo de viver mais perto de seu sobrinho e de sua esposa. Esta, por sua vez, assumiu imediatamente a supervisão e os cuidados da tia de seu marido, tanto quanto estivesse a seu alcance, uma vez que não residia com ela. A sra. Llewellyn-Smythe, provavelmente, era bastante agradecida a Rowena, mas, ao mesmo tempo, não devia suportar aquilo que considerava como seus modos de mandona.
- Bem, agora já se foram todas - disse Rowena Drake, ao ouvir a última batida da porta do corredor que se fechava. - Em que lhe posso ser útil? Algo mais a respeito da triste festa? Antes eu nunca a tivesse feito aqui. Mas nenhuma outra casa parecia própria. A sra. Oliver ainda está com Judith Butler?
- Sim, está. Acho que regressará a Londres dentro de um ou dois dias. Não a conhecia muito?
- Não. Gosto de seus livros,
- Ela é considerada uma boa escritora – disse Poirot.
- Oh, sim, é uma boa escritora, não há dúvida. E também uma pessoa muito divertida. Teria ela alguma idéia... quero dizer, sobre quem poderia ter feito aquela coisa horrível?
- Acho que não. E a senhora, Madame?
- Já lhe disse. Não tenho nenhuma, absolutamente nenhuma idéia.
- Talvez a senhora pense assim mas, não obstante, poderia, não é, ter talvez o que, no fim, eqüivale a uma boa idéia, apenas uma boa idéia. Uma idéia meio forma da. Uma idéia possível.
- Por que o senhor diz isso? - perguntou a sra. Drake, encarando-o com curiosidade.
- A senhora poderia ter visto alguma coisa, alguma coisa insignificante e sem importância, mas que, após reflexões, poder-lhe-ia parecer mais significativa, talvez, do que inicialmente.
- O senhor deve ter algo em mente, sr. Poirot, algum incidente.
- Bem, admito-o, tendo em vista o que ouvi de alguém.
- É mesmo? Quem é esse alguém?
- A srta. Whittaker. Uma professora.
- Oh, sim, naturalmente. Elizabeth Whittaker, a professora de matemática no Elms, não é? Estava na festa, lembro-me. Ela viu alguma coisa?
- A questão não é tanto de ela ter visto alguma coisa, mas de ter tido a impressão de que a senhora poderia ter visto alguma coisa.
A sra. Drake mostrou-se surpresa e sacudiu a cabeça.
- Não posso imaginar nada que pudesse ter visto - disse. - Mas a gente nunca sabe.
- Tem algo a ver com um vaso — disse Poirot. – Um vaso de flores.
- Um vaso de flores? - Rowena Drake parecia intrigada. Em seguida sua fisionomia desanuviou-se. - Oh, já sei, já sei. Havia um grande vaso de crisântemos e folhas de outono em cima da mesa no canto da escada. Um vaso muito bonito. Um de meus presentes de casa
mento. As folhas pareciam estar murchando, bem como uma ou duas flores. Lembro-me de ter notado isso ao passar pelo corredor... mais ou menos pelo fim da festa, acho, mas não estou certa... e me perguntei por que estariam assim. Subi, meti meus dedos dentro do vaso e verifiquei que algum idiota, ao arrumá-lo, se esquecera de botar água. Fiquei aborrecida. Apanhei-o e o levei para o banheiro para botar água. Mas o que é que eu poderia ter visto no banheiro? Não havia ninguém ali. Disso estou
absolutamente certa. Tive, sim, a impressão de que um desses casaizinhos andara fazendo por lá, durante a festa, o que os americanos chamam de "chamego". Mas não havia ninguém quando ali entrei com o vaso de flores.
- Não, não me refiro a nada disso - insistiu Poirot. - Mas segundo me foi dito, houve um pequeno acidente. Obrigado(a), vaso teria escorregado de suas mãos e caído lá embaixo no corredor, espatifando-se.
- Oh, sim - disse Rowena. - Partiu-se em pedaços. Fiquei um tanto chocada com isso porque, como já disse, fora um de meus presentes de casamento. Era, realmente, um lindo jarro de flores, bastante pesado para agüentar grandes buquês de outono. Foi falta de cuidado de minha parte. Coisas que acontecem. Meus dedos escorregaram. O vaso caiu de minhas mãos e se espatifou lá embaixo. Elizabeth Whittaker estava lá. Ela me ajudou a juntar os cacos e varrer fragmentos de vidro quebrado para evitar que pisassem neles. Apenas os juntamos num canto perto do relógio do vovô, para limpar mais tarde.
Olhou inquiridoramente para Poirot.
- É o acidente a que o senhor se refere?
- Sim - respondeu Poirot. - Acho que a professora Whittaker não podia explicar por que a senhora deixara cair o vaso. Ela teve a impressão de que algo a teria assustado.
- Assustado? A mim?
Rowena Drake olhou para ele e, em seguida, franziu as sobrancelhas como se tentando refletir de novo.
- Não, não me lembro de modo algum de ter ficado assustada. Foi apenas o choque que a gente experimenta quando um objeto cai de nossas mãos. Quando, por exemplo, o estamos levando. Realmente, acho que foi conseqüência do cansaço. Eu estava exausta naquele dia,
com os preparativos da festa, com a direção da festa e tudo o mais. Tudo corria muito bem. Acho que sim. Só um pequeno acidente que não se pode evitar quando estamos cansados.
- A senhora está certa de que não houve nada, nada que a assustasse? Algo de inesperado que tivesse visto?
- Visto? Onde? Lá embaixo no corredor? Não vi nada ali. Naquele momento estava vazio, pois todo o mundo se encontrava na boca-do-dragão, com exceção, é claro, da srta. Whittaker. Não acho mesmo que a tivesse notado antes que me viesse ajudar, quando desci.
- A senhora não teria visto alguém, digamos, saindo pela porta da biblioteca?
- Pela porta da biblioteca... Compreendo o que o senhor quer dizer. Sim, eu poderia ter visto isso - fez uma longa pausa, em seguida encarou Poirot com um olhar firme. - Não vi ninguém sair da biblioteca - disse ela. - Ninguém...
Poirot refletia. A maneira como a sra. Drake afirmara dava-lhe a impressão de que não estava falando a verdade; ela teria visto alguém ou alguma coisa, talvez a porta abrindo-se lentamente; poderia ter vislumbrado a silhueta de alguém lá dentro. Mas ela foi muito categórica ao afirmá-lo. "Mas, por que fora tão categórica?" perguntava-se Poirot. "Por que a pessoa que ela teria visto seria uma pessoa que, por um instante, não quis acreditar tivesse qualquer coisa a ver com o crime cometido do outro lado da porta? Alguém por quem se interessasse ou, o mais provável, alguém que ela quisesse proteger. Alguém que talvez não tivesse muito longe da idade infantil, alguém que, segundo ela, não estaria plenamente consciente da gravidade do crime cometido."
Poirot tinha a sra. Drake na conta de uma mulher dura, mas íntegra. Ele a imaginava, como muitas mulheres do mesmo tipo, mulheres que muitas vezes eram juízas ou que dirigiam conselhos ou associações de caridade ou que se envolviam no que se costumava chamar de "boas obras". Mulheres que se apegam desordenadamente a circunstâncias atenuantes, que estão dispostas, por mais estranho que pareça, a desculpar, especialmente, o criminoso adolescente. Um rapaz ou uma menina mentalmente retardada. Alguém que talvez já tenha estado, dir-se-ia, "sob cuidados". "Se esse era o tipo de pessoa que a sra. Drake vira saindo da biblioteca, então" pensava ele, "é possível que seu instinto de proteção tenha entrado logo em ação" Não era coisa rara nos dias atuais ver meninos cometerem crimes, crianças mesmo. Crianças de sete, de nove anos e assim por diante. Era difícil saber como tratar esses pequenos delinqüentes nos tribunais de menores. Toda sorte de desculpas se encontra para eles. Lares desfeitos. Pais negligentes ou desajustados. Mas as pessoas que falam por eles com maior veemência e que procuram de toda maneira inocentá-los são do tipo de Rowena Drake: uma mulher austera e reprovadora, exceto nesses casos.
Já Poirot não concordava com isso. Era um homem que punha a justiça em primeiro lugar. Desconfiava, sempre tinha desconfiado da compaixão; isto é, da compaixão em excesso. Tinha aprendido com sua experiência, tanto na Bélgica quanto nesse país, que compaixão demais resulta, muitas vezes, em novos crimes; fatais para vítimas inocentes, que não teriam sido vítimas se a justiça tivesse vindo em primeiro lugar e a compaixão, em segundo.
- Compreendo, compreendo - disse Poirot.
- O senhor não acha possível que a srta. Whittaker pudesse ter visto algum estranho entrando na biblioteca? - sugeriu a sra. Drake,
Poirot mostrou-se interessado.
- A senhora acha que isso poderia ter acontecido?
- Estou apenas levantando uma hipótese. Ela pode ria ter visto alguém entrando na biblioteca, digamos, talvez mais ou menos cinco minutos antes e, então, quando deixei cair o vaso, é possível que lhe tivesse ocorrido a idéia de que eu teria vislumbrado a mesma pessoa. Que
eu poderia ter visto quem era. Talvez não queira dizer coisa alguma, quem sabe, injustamente, que pudesse sugerir alguma pessoa cuja silhueta apenas divisara, sem ter a certeza de sua identidade. Teria visto alguma criança ou algum rapaz, mas de costas.
- A senhora acha, Madame, que foi, digamos, uma criança, não foi? Um menino ou uma menina, uma simples criança, ou um adolescente. Acha que não seria nenhum tipo definido desses, mas, diremos, a senhora pensa que teria sido o tipo mais provável de cometer o crime que estamos discutindo?
Ela ficou pensativa, ponderando a resposta.
- Sim - disse, finalmente -, acho que sim. Não cheguei a uma conclusão. Tenho a impressão de que, hoje em dia, os crimes estão muitas vezes relacionados com os jovens. Na realidade não sabem exatamente o que estão fazendo. Procuram vinganças absurdas. Têm um instinto de destruição. Até aqueles que quebram cabines telefônicas, que esvaziam pneus de carro, que fazem toda sorte de coisas só para prejudicar os outros, só porque têm raiva não de alguém em particular, mas de todo o
mundo. É uma espécie de sintonia de uma época. Por isso é que acho, diante de um caso como este, de uma criança afogada durante uma festa, que se trata de alguém que não é ainda plenamente responsável por seus atos. O senhor não concorda comigo nesse ponto, isto é,
que no caso é o que há de mais provável?
- A polícia, a meu ver, compartilha seu ponto de vista, ou compartilhava.
- Bem, eles devem saber. Temos muito bons policiais nesta cidade. Eles têm se saído bem na apuração de muitos crimes. São muito esforçados e nunca desistem. Acho que acabarão apurando esse crime, embora não acredite que seja logo. Essas coisas costumam levar tempo. Muito tempo de paciente coleta de provas.
- As provas neste caso, Madame, não serão muito fáceis de ser encontradas.
- Realmente, acho que não. Quando meu marido foi morto... Ele era aleijado, o senhor sabe. Estava atravessando a rua e foi apanhado por um carro. Nunca se descobriu o responsável. Como o senhor sabe, ou talvez não saiba, meu marido foi vítima da pólio. Ficou, em conseqüência disso, parcialmente paralítico, há seis anos. Seu estado geral tinha melhorado, mas estava ainda aleijado e lhe seria difícil sair do caminho se um carro viesse em grande velocidade. Chego a pensar que sou digna de censura, embora ele sempre insistisse em sair sozinho, sem qualquer acompanhante, pois se sentiria como que humilhado se tivesse de viver sob os cuidados de uma enfermeira, ou de uma esposa que fizesse as vezes dela e tinha muito cuidado ao atravessar as ruas. Mas, ainda assim, a gente sempre se censura depois que ocorrem os acidentes.
- Isso aconteceu depois da morte de sua tia?
- Não. Ela morreu pouco tempo depois. Tudo parece vir de uma vez, não é?
- É verdade - e continuou: - A polícia não conseguiu identificar o carro que atropelou seu marido?
- Era um Grasshoper Mark 7, creio. Em cada três carros que rodam por aí um é ou era Grasshoper Mark 7. Dizem que é o carro mais popular. Acham que eles o roubaram na praça do Mercado de Medchester. Há um
estacionamento ali. Pertencia a um sr. Watherhouse, que era um motorista calmo e cuidadoso. Certamente não foi ele o causador do acidente. Foi com certeza um desses casos em que jovens irresponsáveis dirigem carros. Há
momentos em que a gente pensa que esses jovens descuidados e, diria mesmo, desumanos deveriam ser tratados com mais severidade.
- Uma longa pena de prisão, talvez. Simplesmente ser multado e ter a multa paga por parentes indulgentes não faz muito efeito.
- É preciso lembrar - disse Rowena Drake – que esses jovens estão numa idade em que é vital a continuidade de seus estudos, se é que querem ser alguma coisa na vida.
- A vaca sagrada da educação - disse Hercule Poirot. - Eis a frase que ouço sempre, proferida por pessoas... bem, diria, por pessoas que devem saber. Pessoas que detêm postos acadêmicos de certa importância.
- Eles talvez não sejam bastante tolerantes com a juventude, com uma má-educação. Lares desfeitos.
- Então a senhora acha que precisam de alguma coisa mais, além de sentenças de prisão?
- Um tratamento corretivo apropriado – disse Rowena Drake, categórica.
- E isso fará - (outro provérbio antigo) - "de uma orelha de porca uma bolsa de seda"? A senhora não acredita na máxima: "o destino de cada homem vem pendurado no seu pescoço"?
A sra. Drake ficou em dúvida e ligeiramente irritada.
- Um ditado islamita - disse Poirot.
A sra. Drake não pareceu impressionada.
- Espero - disse ela - que não tenhamos de buscar nossas idéias, diria mesmo, nossos ideais no Oriente Médio.
- É preciso aceitar os fatos - ponderou Poirot -, e um fato, apontado por biólogos modernos, biólogos ocidentais - apressou-se a acrescentar -, parece sugerir que a raiz das ações de uma pessoa está na sua estrutura genética. Que um assassino de 24 anos era um assassino potencial aos dois, três ou quatro anos de idade. Ou, naturalmente, um gênio da matemática ou da música.
- Não estamos discutindo crimes - disse a sra. Drake. - Meu marido morreu em conseqüência de um acidente. Um acidente provocado por alguma personalidade descuidada ou mal ajustada. Seja rapaz ou homem, há sempre a esperança de um reajustamento final, com uma
crença e aceitação de que é um dever ter consideração para com os outros, aprender a sentir repugnância portirar inadvertidamente a vida de alguém, simplesmente por causa daquilo que se pode chamar de descuido criminoso, embora não seja criminoso na intenção.
- A senhora está certa de que não houve intento criminoso?
- Duvidaria muito.
A sra. Drake parecia um pouco surpresa.
- Não creio que a polícia tenha considerado seria mente essa possibilidade. Eu, pelo menos, não. Foi um acidente. Um acidente muito trágico que alterou o sistema de vida de muita gente, inclusive da minha.
- A senhora disse que não estamos discutindo crimes - disse Poirot. - Mas no caso de Joyce é exatamente disso que estamos falando. No caso dela não houve acidente. Mãos deliberadas empurraram sua cabeça para dentro da água, segurando-a até que morresse. Crime intencional.
- Eu sei. Eu sei. É terrível. Não gosto de pensar nisso, de me lembrar disso.
A sra. Drake levantou-se, e caminhou irrequieta. Poirot continuou implacável.
- Ainda temos uma alternativa. Precisamos descobrir o motivo do crime.
- Parece-me que esse é o tipo do crime sem motivo.
- A senhora quer dizer que teria sido um assassinato cometido por alguém mentalmente perturbado a ponto de gostar de matar por matar? Presumivelmente, de matar jovens e pessoas imaturas?
- Ouvem-se casos dessa espécie. A causa original é difícil descobrir. Até os psiquiatras não estão de acordo.
- A senhora se recusa a aceitar uma explicação mais simples?
Ela o olhou intrigada.
- Mais simples?
- Alguém não mentalmente perturbado, um caso que não se prestasse a discussões de psiquiatras. Alguém, talvez, que quisesse apenas se salvar.
- Salvar-se? Oh, o senhor quer dizer...
- Joyce se vangloriou naquele dia, algumas horas antes, de ter visto alguém cometendo um crime.
- Joyce - disse a sra. Drake, com serenidade e segurança - era realmente urna menina muito tola. Infelizmente, nunca falava a verdade.
- Todo o mundo diz isso - afirmou Hercule Poirot. - A senhora sabe, estou começando a acreditar no que todos vêm me dizendo - acrescentou com um suspiro. - É sempre assim.
Hercule Poirot pôs-se de pé, adotando uma maneira diferente.
- Queira desculpar-me, Madame. Tenho-lhe falado de coisas dolorosas, coisas que não me interessam propriamente. Mas a julgar pelo que a srta. Whittaker me disse...
- Por que o senhor não procura mais informações com ela?
- A senhora quer dizer...?
- Ela é professora. Sabe, muito melhor do que eu, que potencialidades (como o senhor as chamou) existem entre seus alunos.
Fez uma pausa e acrescentou:
- A srta. Emlyn também.
- A diretora? - perguntou Poirot um tanto surpreso.
- Sim. Ela sabe muita coisa. Quero dizer, é uma psicóloga nata. O senhor diz que eu poderia ter idéias, idéias meio formadas, quanto a quem teria matado Joyce. E não tenho, mas acho que a srta. Emlyn poderia ter.
- Isso é interessante...
- Não quero dizer com isso que ela tenha provas, mas que apenas sabe. Ela lhe poderia contar, mas não creio que o queira.
- Começo a compreender - disse Poirot - que tenho ainda um longo caminho a percorrer. As pessoas sabem das coisas mas não me querem contar.
Olhou pensativo para Rowena Drake.
- A senhora sua tia, a sra. Llewellyn-Smythe, tinha uma acompanhante estrangeira que cuidava dela.
- Parece que o senhor está a par de todos os fatos daqui - disse a sra. Drake secamente. - Sim, é verdade. Ela sumiu daqui de repente logo depois da morte de minha tia.
- Por bons motivos, ao que parece.
- Não sei se é difamação ou calúnia dizê-lo, mas tudo indica que teria forjado um codicilo no testamento de minha tia, ou alguém a teria ajudado a fazê-lo.
- Alguém?
- Ela se dava muito com um moço que trabalhava num escritório de advocacia em Medchester e que estivera envolvido anteriormente num caso de falsificação. O caso nunca foi levado a juízo porque a moça desapareceu. Ela chegara à conclusão de que o testamento nunca seria legitimado e se tornaria uma questão judiciária. Saiu da cidade e desde então nunca mais se ouviu falar dela.
- Segundo consta, também ela viera de um lar desfeito - disse Poirot.
Rowena Drake olhou para ele num gesto brusco. Poirot sorria amavelmente.
- Obrigado, Madame, por tudo que me contou.
Saindo da casa de Rowena Drake, Poirot fez uma pequena caminhada ao longo de um contorno da importante avenida que trazia o nome de Cemetery Helpsly. O cemitério em questão não estava muito longe dali. No máximo dez minutos de caminhada. Evidentemente, era um cemitério construído nos últimos dez anos, presumivelmente para acompanhar a crescente importância de Woodleigh como cidade. A igreja, de dimensões razoáveis, que datava de dois ou três séculos, tivera um pequeno cemitério ao redor dela, mas já estava lotado. Assim, o novo cemitério surgira com uma trilha que o ligava a dois campos. "Era", pensava Poirot, "um cemitério moderno, comercial, com pensamentos apropriados gravados em mármore ou em lajes de granito." Havia jarras e pequenos canteiros de arbustos ou de flores. Nada de epitáfios ou inscrições singulares. Nada de antigüidades, Limpo, asseado, ordenado e com pensamentos adequados.
Hercule Poirot parou para ler uma lousa levantada sobre um túmulo recente, com muitos ao redor, que datavam de um ou dois anos. Trazia uma inscrição simples. "Dedicado à memória de Hugo Edmund Drake, amado esposo de Rowena Arabella Drake, que partiu desta vida no dia 20 de março de 19..."
Descanse em paz.
Ocorreu a Poirot, ainda sob o impacto da dinâmica Rowena Drake, que talvez o sr. Drake tivesse recebido aquele "descanso" como um alívio.
Uma urna de alabastro tinha sido fixada ali e continha ainda um resto de flores. Um jardineiro idoso, certamente empregado para zelar as sepulturas de bons cidadãos que partiram desta vida, aproximou-se de Poirot na agradável esperança de alguns minutos de prosa, enquanto descansava sua enxada e sua vassoura.
- O senhor é de fora, não é, Sir? - perguntou.
- Sim - respondeu Poirot. - Sou de fora, como de fora eram meus pais antes de mim.
- Ah, sim, o senhor leu esse texto em alguma parte ou algo muito semelhante a isso, lá no outro lado – e continuou: - O sr. Drake era muito gentil. Aleijado, sabe. Sofria de paralisia infantil, como chamam essa doença, embora nem sempre só as crianças a tenham. Os adultos, também. Homens e mulheres. Minha esposa teve uma tia que apanhou essa doença na Espanha. Foram fazer um passeio por lá e andaram banhando-se em algum rio. E depois disseram que tinha sido infecção da água, mas não acho que tivesse sido isso. Os médicos não sabem. Apesar disso, há muita diferença, hoje em dia, com as vacinas que aplicam nas crianças. Não há mais tantos casos como havia antigamente. Sim, ele era um sujeito decente e não se queixava, embora devesse achar horrível ser aleijado. Tinha sido um grande desportista no seu tempo. Acostumado a jogar conosco no time da cidade. Sim, era um homem muito distinto.
- Morreu num acidente, não foi?
- Exato. Atravessando uma rua, já escurecendo. Um desses carros, dirigido por um desses jovens delinqüentes, com o cabelo até as orelhas. É o que dizem. Nem pararam. Continuaram na disparada, sem olhar para trás. Abandonaram o carro num estacionamento a trinta quilômetros de distância, Ah, é terrível. Quase todos os dias
dão-se acidentes dessa natureza. E a polícia muitas vezes não pode fazer nada. Sua esposa lhe era muito dedicada. Coitada, como sentiu sua morte. Ela vem aqui quase todas as semanas, traz flores e as deposita aí. Era um casal muito unido. A meu ver, não vai ficar por aqui muito tempo.
- O senhor acha? Mas ela tem uma casa muito bonita aqui.
- Oh, sim. E faz muito pelo lugar, sabe. Toda espécie de coisas: associações femininas, chás e várias sociedades. Dirige um bocado de coisas. É mandona, sabe, mandona e intrometida, como dizem alguns. O pároco confia nela. Tem iniciativa. As atividades femininas e tudo o mais. Organiza excursões e passeios. Ah, sim. Às vezes penso comigo mesmo, embora não queria dizer isso à minha esposa, que todas essas boas obras que essas donas de sociedade fazem não nos tornam mais amigos delas. Elas sempre sabem tudo. Estão sempre nos dizendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nenhuma liberdade. Não há muita liberdade em nossos dias.
- Então o senhor acha que a sra. Drake vai embora daqui?
- Eu me admiraria se não fosse embora, se não fosse morar no estrangeiro. Eles gostavam muito de viajar pelo exterior, costumavam passar as férias viajando por lá.
- Por que o senhor acha que ela quer ir embora? Um sorriso maroto se estampou de repente no rosto do velho.
- Bem, eu diria, sabe, que ela faz o que quer aqui. No que diz respeito às Escrituras, ela precisa de outra vinha para trabalhar. Precisa de mais boas obras. Não há mais coisa para fazer aqui. Ela já fez tudo e muito mais do que era necessário, como pensam alguns.
- Ela precisa de um novo campo de trabalho? - sugeriu Poirot.
- O senhor acertou em cheio. É melhor estabelecer-se em algum outro lugar onde possa consertar muita coisa e intimidar outras pessoas. Ela faz o que quer de nós, e não há muito mais para fazer aqui.
- Pode ser - disse Poirot.
- Não tem mais um marido para cuidar. Cuidou dele durante muito tempo. Isso lhe dava uma espécie de objetivo na vida, como o senhor diria. Com isso e com muitas outras atividades fora, podia ocupar-se o tempo
todo. É o tipo de pessoa que não gosta de ficar parada. Não teve filhos, é pena. Portanto, na minha opinião, irá começar tudo de novo em algum lugar por aí.
- O senhor tem uma certa razão. Para onde iria?
- Quanto a isso, não sei. Para um desses lugares da Riviera, quem sabe? Ou para a Espanha ou Portugal. Ou para a Grécia. Eu a ouvi falar da Grécia. Ilhas. A sra. Butler esteve na Grécia, numa dessas excursões. "Excursões helênicas", como elas chamam, o que para mim soa mais como fogo e enxofre.
Poirot sorriu.
- As ilhas da Grécia - murmurou. - O senhor gosta dela?
- De quem? Da sra. Drake? Eu não diria exatamente que gosto dela. É uma boa senhora. Cumpre com o seu dever para com o próximo e é tudo. Mas ela precisará sempre dominar as comunidades para cumprir com o seu dever. E, na realidade, se o senhor quer minha opinião, ninguém gosta das pessoas que estão sempre cumprindo com o seu dever. Vem me dizer como devo podar minhas roseiras, coisa que estou cansado de saber. Está sempre em cima de mim para plantar uma nova espécie de verdura. Repolho me faz muito bem e sou louco por repolho.
Poirot sorriu.
- Preciso ir andando - disse. - O senhor pode me informar onde moram Nicholas Ranson e Desmond Holland?
- Depois da igreja, a terceira casa à esquerda. São hóspedes da sra. Brand e passam o dia todo na Escola Técnica de Medchester. A esta hora devem estar em casa.
E lançou um olhar significativo para Poirot.
- Quer dizer que sua mente está trabalhando, não é? Há gente que pensa a mesma coisa.
- Não, eu não estou pensando nada ainda. Eles apenas estavam entre os presentes, é tudo.
Já a caminho, Poirot refletia: "Entre os presentes... já estou quase chegando ao fim de minha lista."
CAPÍTULO 15
Dois pares de olhos fitavam Poirot nervosamente.
- Não posso imaginar o que mais lhe poderíamos contar, sr. Poirot, pois, inclusive, já fomos entrevistados pela polícia.
O olhar de Poirot passava alternadamente de um jovem para outro. Eles não agiam como crianças. Suas maneiras eram decididamente adultas. Tanto assim que, se fechássemos os olhos, a conversação poderia ser considerada como se se passasse entre adultos. Nicholas tinha 18 anos, e Desmond, 16.
- Para satisfazer a uma amiga, estou interrogando todas as pessoas que estiveram presentes numa certa ocasião. Não propriamente na festa de Halloween, mas durante seus preparativos. Vocês, todos os dois, colaboraram muito nessa ocasião.
- Sim, colaboramos.
- Até agora - continuou Poirot -, entrevistei as faxineiras, tive o privilégio de ouvir a opinião da polícia, de tomar conhecimento do que disse o médico, que examinou o cadáver pela primeira vez, conversei com a professora que estava presente, com a diretora da escola, com parentes tresloucados, ouvi muitos boatos que correm pela cidade... A propósito, ao que me consta, há uma feiticeira aqui?
Os dois rapazes, que o encaravam, sorriram.
- O senhor se refere à mamãe Goodbody. Sim, ela foi à festa e desempenhou o papel de feiticeira,
- Estou agora diante da geração mais nova – disse Poirot -, diante de pessoas de visão e ouvidos agudos e que estão atualizadas com as conquistas científicas e com a pura filosofia. Estou ansioso, muito ansioso, por ouvir a opinião de vocês sobre o assunto.
"Dezoito e dezesseis", pensava Poirot para si mesmo, fitando os dois jovens à sua frente. Jovens para a polícia, meninos para ele, adolescentes para os jornais. Tenham lá o nome que tiverem. Produtos da época. "Nenhum deles", pensava, "era totalmente estúpido, mesmo que não tivesse uma cultura tão elevada quanto a que acabara de lhes sugerir, a título de lisonja, só para dar início à conversação". Tinham estado na festa. Tinham estado, também, durante o dia, prestando serviços à sra. Drake.
Tinham subido escadas, pendurado morangas em lugares estratégicos, realizado pequenos serviços de eletricidade com lâmpadas decorativas, um ou outro tinha conseguido produzir efeitos talentosos num bocado de fotografias falsificadas de possíveis maridos sonhados por garotas esperançosas. Tinham também, casualmente, a idade exata para estar na frente da lista de suspeitos do inspetor Raglan e, ao que parece, na opinião de um velho jardineiro. A porcentagem de crimes cometidos por esse grupo etário tinha aumentado assustadoramente nos últimos anos. Poirot não estava pessoalmente inclinado a uma determinada suspeita, mas tudo era possível. Era ainda possível que o assassinato ocorrido havia dois ou três anos pudesse ter sido cometido por um menino, um jovem ou um adolescente de 14 ou 12 anos de idade. Casos como esses tinham sido registrados em recentes reportagens de jornais.
Com todas essas possibilidades em mente, Poirot as abafou, por assim dizer, para se concentrar por alguns instantes na apreciação dos dois jovens, de seus olhares, de suas roupas, de suas maneiras, de suas vozes, e assim por diante, à maneira de Hercule Poirot, protegido por um escudo estrangeiro de palavras lisonjeiras e maneirismos estrangeiros, de modo que eles sentissem o prazer de desprezá-lo, embora o fizessem com polidez e boas maneiras. Pois ambos eram muito educados. Nicholas, o de 18 anos de idade, e de boa aparência, usava suíças. Seu cabelo lhe descia até o pescoço, e sua roupa preta lhe conferia um certo ar fúnebre. Não era de pesar pela recente tragédia, mas se tratava evidentemente de seu gosto pessoal pelas roupas modernas. O mais moço usava um paletó de veludo cor-de-rosa, calças lilás e uma espécie de camisa de tecido bordado. Ambos, evidentemente, gastavam muito dinheiro com roupas que certamente não eram adquiridas no comércio local e provavelmente por eles mesmos e não por seus pais ou procuradores.
O cabelo de Desmond, coberto de penugem, era amarelo-avermelhado.
- Vocês estiveram ali pela manhã ou pela tarde do dia da festa, ajudando em seus preparativos, não foi?
- À tarde, no início da tarde.
- Em que espécie de preparativos vocês ajudaram? Ouvi várias pessoas falarem em preparativos, mas as informações não me satisfizeram. Não estão todas de acordo.
- Inicialmente, instalamos lâmpadas.
- Subimos em escadas para pendurar coisas.
- Ouvi dizer que houve também efeitos fotográficos muito bons.
Desmond imediatamente enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira, exibindo, orgulhoso, certos cartões.
- Improvisamos esses de antemão - disse ele. - Maridos para as moças - explicou. - As moças são todas a mesma coisa. Estão sempre querendo algo atualizado. Nada má, a coleção, não é?
Passou alguns exemplares a Poirot, que apreciou com interesse uma reprodução de cor vaga de um jovem de barba amarelada, de outro jovem com uma coroa de cabelo, e de um terceiro, cuja cabeleira lhe chegava quase até os joelhos, e havia alguns bigodes variados e outros enfeites faciais.
- Eu os fiz todos diferentes. Não está mal, não é?
- Você dispôs de modelos, suponho.
- Não, todos esses somos nós dois. Basta caracterizar, sabe. Nick e eu os fizemos. Alguns Nick tirou de mim, outros eu tirei de Nick. Variavam apenas o que se poderia chamar de motivo do cabelo.
- Muito talentosos - disse Poirot.
- Nós nos mantínhamos um pouco desfocalizados, sabe, para que nos assemelhássemos mais com imagens de espírito, como se poderia dizer.
- A sra. Drake gostou muito deles - disse o outro rapaz. - Congratulou-se conosco. Achou graça de alguns. A maior parte do serviço que fizemos na casa foi de natureza elétrica. Sabe, instalando uma lâmpada ou duas, de modo que, quando as meninas se sentassem com o espelho, um ou outro de nós pudesse ocupar uma posição, e,
inclinando rapidamente uma tela, a menina veria no espelho um rosto, sabe, com o tipo exato de cabelo. Cabelo ou bigodes ou qualquer outra coisa.
- E elas sabiam que era você ou seu amigo?
- Oh, não creio. Pelo menos na festa não sabiam. Sabiam que estivemos ajudando, mas não creio que nos tivessem reconhecido nos espelhos. Não eram muito inteligentes, sabe. Além disso, havia um dispositivo instantâneo para mudar a imagem. Primeiro eu, depois, Nicholas. As meninas gritavam e davam risinhos agudos.
Engraçado à beça.
- E as pessoas que estavam ali, à tarde, durante os preparativos? Não estou pedindo para se lembrarem de quem estava na festa.
- Havia na festa umas trinta e tantas pessoas. À tarde, estavam, é claro, a sra. Drake e a sra. Butler. Uma das professoras, chamada Whittaker, me parece. A sra. Flatterbut ou coisa semelhante. É esposa ou irmã do organista. A srta. Lee, assistente do dr. Ferguson; era sua tarde de folga e fora colaborar também. Havia alguns garotos para ajudar, se fosse necessário. Não que eu achasse que fossem úteis. As meninas só viviam aos grupinhos a dar risadinhas.
- Ah, sim. Vocês se lembram das meninas que lá estavam.
- Bem, estavam as Reynolds. A pobre da Joyce, naturalmente. A vítima e sua irmã mais velha, Ann. Uma menina terrível. Metida como ela só. Ela se julga sabidíssima. Tem certeza de que vai passar com A em tudo. E o garoto, o Leopold, é horrível. É covarde. Gosta de espiar. Contador de histórias. Também estava lá Beatrice Ardley e Cathie Grant
e mais umas duas mulheres de serviço, quer dizer, as faxineiras. E a escritora, aquela que o trouxe aqui.
- E nenhum homem?
- O pároco deu uma olhadela por lá. Um sujeito legal, mas um tanto acanhado. E o novo vice-pároco. Ele gagueja quando está nervoso. Demorou-se pouco. É tudo de que me lembro agora.
- E segundo ouvi dizer vocês escutaram a garota, Joyce Reynolds, dizer alguma coisa sobre ter assistido a um certo crime.
- Eu não ouvi nada - disse Desmond. - Ela disse?
- Oh, estão dizendo que sim - respondeu Nicholas. - Eu não ouvi. Acho que não estava na sala no momento. Onde estava ela, quero dizer, quando disse isso?
- Na sala de estar.
- Sim, a maioria das pessoas ficava ali, a menos que estivesse fazendo alguma coisa de especial. Naturalmente, eu e Nick - disse Desmond - ficamos a maior parte do tempo no quarto onde as moças iriam ver seus futuros maridos nos espelhos, estendendo fios e várias outras coisas semelhantes. Ou então estávamos lá fora instalando lâmpadas nas escadas. Estivemos apenas uma ou duas vezes na sala de estar colocando morangas e pendurando uma ou duas com
lâmpadas instaladas no seu bojo oco. Mas não ouvi nada dessa espécie quando estávamos lá. E você, Nick?
- Nem eu - respondeu Nick. E acrescentou com certo interesse: - E Joyce disse mesmo que vira um assassinato? Muito interessante se de fato viu, não acha?
- Por que é tão interessante? - perguntou Desmond.
- Bem, é uma P.E.S., uma percepção extra-sensorial, não é? Veja você. Viu um assassinato e uma hora ou duas depois ela própria era assassinada. Eu suponho que teve uma espécie de visão. Isso faz a gente pensar um bocado. Experimentos recentes levam a crer que podemos fazer algo para ajudar a alcançá-la, fixando um eletrodo ou coisa semelhante na nossa veia jugular. Li alguma coisa a respeito.
- Eles nunca foram muito longe com esse negócio de percepção extra-sensorial - disse Nicholas, desdenhosamente. - O pessoal se instala em salas diferentes olhando cartões num maço ou palavras com quadrados ou desenhos geométricos. Mas nunca vêem as coisas perfeita mente, ou raramente vêem.
- Bem, a gente precisa ser bastante jovem para fazer isso. Os adolescentes se saem melhor do que as pessoas mais velhas.
Hercule Poirot, que não estava disposto a ouvir essa discussão científica de alto nível, interrompeu a conversa.
- Tanto quanto vocês podem se lembrar, enquanto por lá estiveram, não aconteceu nada que lhes parecesse de uma maneira ou de outra estranho ou significativo? Algo que ninguém mais tivesse notado, mas que tivesse chamado a atenção de vocês?
Nicholas e Desmond ficaram pensativos, evidentemente revolvendo seus cérebros em busca de algum incidente de importância.
- Não, só muita tagarelice e arrumações.
- Você tem alguma idéia?
- De quê? De quem teria matado Joyce?
- Sim, quero dizer, de algo que uma vez observado poderia levá-lo a suspeitas, mesmo se em bases puramente psicológicas.
- Compreendo o que o senhor quer dizer. Pode haver alguma razão para isso.
- Eu sou pela srta. Whittaker - disse Desmond, interrompendo a concentração de Nicholas.
- A professora? - perguntou Poirot.
- Sim. Uma autêntica solteirona, sabe. Faminta de sexo. E esse negócio de dar aulas, recalcada no meio de tantas mulheres. O senhor se lembra, uma das professoras foi estrangulada há um ou dois anos. Ela era um boca do esquisita, dizem.
- Lésbica? - perguntou Nicholas, num tom de voz mundano.
- Não me admiraria. Você não se lembra de Nora Ambrose, a moça com quem ela morava? Não era nada feia. Dizem que tinha um ou dois namorados, e a moça com quem ela morava ficava danada da vida por causa disso. Dizem que era mãe solteira, que se afastou duas vezes do cargo, por motivo de doença, e depois voltou. Em meio a tantos boatos, corre todo tipo de versões.
- Bem, de qualquer maneira, Whittaker passou a maior parte da manhã na sala de estar. Ela provavelmente ouviu o que Joyce disse. Isso poderia ter ficado na sua mente, não poderia?
- Olha aqui - disse Nicholas. - Suponhamos que a professora Whittaker... que idade você lhe dá? Quarenta e tantos? Perto dos cinqüenta?... As mulheres ficam um bocado esquisitas nessa idade.
Olharam ambos para Poirot, com o ar de cães contentes que foram buscar alguma coisa útil para seu dono.
- Aposto como a srta. Emlyn sabe de tudo, se for verdade. É difícil ela não saber do que se passa na sua escola.
- E por que não diria?
- Talvez por uma questão de lealdade ou por desejo de protegê-la.
- Não penso que seria capaz de agir assim. Se ela achasse que Elizabeth Whittaker estava ficando louca, bem, então, muitas crianças da escola acabariam sendo suas vítimas.
- Que tal o pároco auxiliar? - disse Desmond, esperançoso. - Poderia ser um fanático. O pecado original, sabe, e tudo o mais, a água, as maçãs... Olha aqui, ocorre-me uma idéia. Suponhamos que ele seja um bocado biruta. Não mora aqui há muito tempo. Pouco se sabe a seu
respeito. Suponhamos o que a boca-do-dragão tenha despertado na sua imaginação. O fogo do inferno! Todas aquelas chamas se levantando! Em seguida, teria tomado Joyce pela mão e lhe teria dito: "Vem comigo, quero te mostrar uma coisa." E a teria levado para a sala das maçãs e lhe teria dito: "Ajoelha-te." E acrescentaria: "Isto é o batismo." E empurraria sua cabeça para dentro do balde. Está vendo? Tudo se compõe. Adão e Eva e a maçã, o fogo do inferno e a boca-do-dragão e a renovação do batismo para curar o pecado.
- Quem sabe se ele não se exibiu primeiro diante dela - disse Nicholas, excitado. - Acho que deve haver algo de sexual por detrás de tudo isso.
Ambos olharam Poirot com a expressão de inteira satisfação.
- Bem - disse Poirot -, vocês certamente me deram alguma coisa em que pensar.
CAPÍTULO 16
Hercule Poirot contemplava com interesse o rosto da sra. Goodbody. Realmente, era o modelo perfeito de uma feiticeira. Sua extrema amabilidade, porém, não desfazia a ilusão. Ela falava com gosto e prazer.
- Sim, eu me saí muito bem lá. Eu sempre desempenho o papel de feiticeira por aqui. O pároco me felicitou no ano passado e disse que representei tão bem nos mistérios, que me daria um chapéu de cone novo. O chapéu de feiticeira se estraga como qualquer outra coisa. Ah, sim, eu me saí muito bem naquele dia. Eu faço versos» o senhor sabe? Versos para as meninas, usando seus respectivos nomes de batismo. Um para Beatrice, outro para Ann. Eu os passo para quem quer que esteja representando a voz do espírito que os recita para a menina no espelho, e os rapazes, Nicholas e Desmond, põem a flutuar fotografias com disfarces. Só me falta morrer de rir de algumas delas. Ver aqueles rapazes grudando cabelo em seus rostos e se fotografando. E como se vestem! Vi o Desmond um dia desses, e, se lhe dissesse o que ele estava usando, o senhor não acreditaria. Um paletó cor-de-rosa, calças marrons. Eles põem as moças loucas. Tudo que elas pensam é levantar cada vez mais suas saias, e isso não é muito bom para elas, porque precisam usar mais roupas de baixo. Eu me refiro àquelas coisas que elas chamam de calças de malha, que, no meu tempo, eram usadas por mulheres de cabaré. Gastam todo seu dinheiro nessas coisas. Mas os rapazes, por favor, parecem uns martins-pescadores, uns aviões ou aves do paraíso. Bom, gosto muito de coisas coloridas e penso sempre que, nos tempos antigos, tudo devia ser muito interessante, conforme vemos no cinema. Sabe, todo o mundo com laços e cachos e os cavalheiros de chapéu, e tudo o mais. Chamavam a atenção das moças. Gibões e calças estreitas. Antigamente, todas as moças usavam saias-balão e muitos franzidos em torno do pescoço! Minha avó costumava contar-me que suas jovens senhoras - ela foi criada de uma boa família vitoriana, sabe e essas jovens senhoras (acho que era gente de antes da época de Vitória) - era no tempo do rei que tinha uma cabeça parecida com uma pêra - Guilherme IV, não era? bem, então, essas jovens senhoras, refiro-me às jovens senhoras de que minha avó falava, usavam vestidos de musselina tão compridos que chegavam até os tornozelos, muito bem-comportados, mas costumavam umedecer a musselina com água para que o vestido ficasse colado no corpo. Sabe, ficando bem aderente mostrava tudo que tinha de mostrar. Aparentemente sempre modestas, mas excitavam os homens, e como...
"Emprestei minha bola de feiticeira à sra. Drake, para a festa. Comprei aquela bola num bazar não sei onde. Lá está, pendurada perto da chaminé, o senhor está vendo? Um lindo e brilhante azul-escuro. Eu a conservo em cima de minha porta."
- A senhora lê sortes?
- Não devo dizer que leio, devo? - respondeu rindo à socapa. - A polícia não gosta disso. Não que eles se incomodem com a espécie de sorte que leio. Nada disso, como se poderia dizer. Num lugar como este, todo o mundo sabe o que se passa com o vizinho, de modo que
o negócio é fácil.
- A senhora poderia consultar agora sua bola para saber quem matou a pequena Joyce?
- O senhor está misturando as coisas - disse a sra. Goodbody. - Essas coisas se vêem numa bola de cristal e não numa bola de feiticeira. Se eu lhe disser quem eu acho que fez isso, o senhor não vai gostar. Dirá que é contra a natureza. Mas muitas coisas que são contra a natureza acontecem.
- Há um fundo de verdade nisso.
- Este lugar é muito bom para se morar, de modo geral. Quero dizer, o povo é correto, na sua maioria, mas, como em toda parte, o demônio tem sempre alguns de seu lado. Nascidos e criados para o mal.
- A senhora se refere à magia negra?
- Não, não me refiro a isso - respondeu a sra. Goodbody, desdenhosa. - Isso não tem sentido. Isso é para pessoas que gostam de se disfarçar e fazer um bocado de tolices, sexo e tudo o mais. Não, refiro-me àqueles que o demônio já tocou com a sua mão. Nasceram assim. São os filhos de Lúcifer. Para eles, matar não significa nada, contanto que tirem vantagem disso. Quando querem uma coisa, querem-na de qualquer jeito. E são impiedosos em consegui-la. Às vezes são lindos como anjos. Ouvi falar do caso de uma garotinha. Sete anos de idade. Matou seu irmãozinho e sua irmãzinha. Eram gêmeos. Tinham cinco ou seis meses de idade, no máximo. Sufocou-os em seus carrinhos-berço.
- Isso foi aqui em Woodleigh Common?
- Não, não foi em Woodleigh Common. Foi em Yorkshire. Lembro-me como se fosse hoje. Coisa horripilante. Era também uma linda criaturinha. Parecia um anjo. Bastaria lhe amarrar um par de asas, levá-la para o tablado, fazê-la cantar hinos de Natal, e ela se sairia às mil maravilhas. Mas não era um anjo. Estava podre por dentro. O senhor compreende o que quero dizer. O senhor não é mais criança. Conhece a perversidade que anda pelo mundo.
- Infelizmente - disse Poirot. - A senhora tem razão. Eu também sei disso muito bem. Se Joyce realmente viu um assassinato...
- Quem disse que ela viu? - perguntou a sra. Goodbody.
- Ela própria.
- Não há razão para se acreditar. Ela estava sempre dizendo mentiras - olhou de relance para Poirot. – Acho que o senhor não acredita nisso, acredita?
- Sim, acredito - respondeu Poirot. - Muita gente já me disse isso, para que eu continue não acreditando.
- Acontecem coisas estranhas em certas famílias - disse a sra. Goodbody. - Tomemos a família Reynolds, por exemplo. O sr. Reynolds. Trabalha no ramo imobiliário. Nunca fez grande coisa nisso, e nunca fará. Nunca progrediu, como se diria. E a sra. Reynolds, sempre preocupada e sobressaltada. Nenhum de seus três filhos puxou aos pais. Ann, por exemplo, tem miolos. Ela está indo muito bem em seus estudos. Irá para a universidade, não tenho a menor dúvida, e será uma professora. Mas veja, é cheia de si mesma. É tão auto-suficiente que não admite
que ninguém possa enganá-la. Nenhum rapaz olha para ela duas vezes. E depois era Joyce. Não era tão inteligente como Ann, nem como seu irmãozinho Leopold, mas queria ser. Queria sempre saber mais do que todo o mundo e ter feito melhor do que qualquer pessoa, e dizia seja
lá o que fosse para chamar a atenção dos outros. Mas não pense que tudo que ela dissesse era verdade. Pois em cada dez coisas que dizia, nove eram mentira.
- E o garoto?
- Leopold? Bem, é um menino de apenas nove ou dez anos de idade, mas é bastante sabido. Muito habilidoso, é ótimo em trabalhos manuais. Diz que vai estudar física. É muito bom também na matemática. Os professores na escola se surpreendem com ele. Sim, é muito inteligente. Será um desses cientistas, espero. Se quiser saber as coisas que fará quando for cientista e em que coisas pensará... bem, serão coisas sujas como bombas atômicas! Ele é daquela espécie de gente que estuda e imagina coisas que possam destruir a metade do globo com todos nós, pobres criaturas, nele. Cuidado com Leopold! Ele prega peças nas pessoas, sabe, e vive escutando às escondidas. Descobre todos os segredos dos outros. Gostaria de saber de onde tira o dinheirão que traz no bolso. Certamente não é nem de seu pai nem de sua mãe. Eles não têm condições de lhe dar tanto. Está sempre com muito dinheiro. Guarda-o numa gaveta enrolado num pé de meia. Compra coisas. Um bocado de brinquedos caros. Onde ele arranja esse dinheiro? É o que eu gostaria de saber. Fica sabendo de fraquezas dos outros, eu diria, e depois os obriga a lhe pagar para guardar segredo.
Fez uma pausa para respirar.
- Bem, sinto muito, mas não posso ajudar o senhor.
- A senhora me prestou um grande serviço – disse Poirot. - O que aconteceu à moça estrangeira que, segundo consta, teria fugido?
- Não foi longe, na minha opinião. *"Ding dong dell, pussy's in the well"* Foi sempre o que pensei.
(*) Ding dong dell, o gatinho está no poço.
CAPÍTULO 17
- Desculpe-me, Madame. Será que lhe poderia falar por alguns instantes?
A sra. Oliver que estava em pé na varanda da casa de sua amiga olhando para ver se via algum sinal da aproximação de Hercule Poirot - que lhe tinha avisado por telefone que estaria ali dentro de alguns instantes - olhou ao redor.
Uma senhora bem-vestida, de idade madura, estava ali em pé, torcendo nervosamente as mãos metidas em luvas de algodão muito limpas.
- Pois não? - respondeu a sra. Oliver, acrescentando um ponto de interrogação à sua entonação.
- Lamento incomodá-la, Madame, mas pensei... bem, pensei...
A sra. Oliver ouvia, mas não tentou ajudá-la com alguma sugestão. Ela se perguntava o que estaria preocupando tanto aquela senhora.
- Se não me engano a senhora é a escritora, não é? Que escreve sobre crimes e assassinatos e coisas dessa espécie, não?
- Sim - respondeu a sra. Oliver -, sou eu mesma. Agora ela já estava curiosa. Seria uma introdução para um pedido de autógrafo ou mesmo de uma fotografia assinada? Nunca se sabia. As coisas mais inverossímeis aconteciam.
- Eu achei que a senhora era a pessoa que eu devia procurar - disse a mulher.
- Não acha melhor sentar-se? - sugeriu a sra. Oliver. Ariadne Oliver viu logo que sua visitante, seja lá quem fosse - trazia uma aliança, por conseguinte, tratava-se de uma senhora - era daquele tipo que custa a chegar ao ponto central do assunto. Sentou-se e continuou torcendo suas mãos nas luvas já amarrotadas.
- Alguma coisa a preocupa? - perguntou a sra. Oliver, fazendo o possível para dar início à conversa.
- Bem, eu gostaria de dar uma informação, e é verdade. É sobre algo que aconteceu há algum tempo e, na realidade, na ocasião não me incomodei. Mas agora é diferente. A gente fica pensando e procurando alguém com quem possa conversar e trocar idéias.
- Compreendo - disse a sra. Oliver, na esperança de inspirar confiança com essa afirmação inteiramente insincera.
- Vendo as coisas que aconteceram ultimamente, a gente nunca sabe, não é?
- Não compreendo...
- Estou me referindo ao que aconteceu na festa de Halloween ou coisa semelhante. Quero dizer que nos mostrou que as pessoas daqui não são de confiança, não é? E mostrou que as coisas não eram como a gente pensava que fossem. Quero dizer, poderiam não ter sido o que a gente pensava que fossem, a senhora me compreende?
- Sim? - disse a sra. Oliver, acrescentando uma entonação ainda maior de interrogação ao monossílabo.
- Como se chama a senhora?
- Leaman. Sra. Leaman. Faço serviços de faxina nas casas. Desde que meu marido morreu, e isso faz cinco anos. Eu costumava trabalhar para a sra. Llewellyn-Smythe, a senhora que morava na Mansão da Pedreira antes do coronel e da sra. Weston. Não sei se a senhora a conheceu.
- Não - respondeu a sra. Oliver. - Não a conheci. Esta é a primeira vez que passo uma temporada em Woodleigh Common.
- Compreendo. Bem, a senhora talvez não tenha sabido do que aconteceu naquele tempo e do que se comentou na época.
- Tenho ouvido muita coisa desde que cheguei aqui - disse a sra. Oliver.
- Sabe, eu não entendo nada de direito e fico sempre preocupada quando se trata de questões legais. Os advogados, a senhora compreende. Eles poderiam complicar tudo e eu não gostaria de ir à polícia. Não teria nada que ver com a polícia, por se tratar de um assunto jurídico, não é?
- Talvez, não - respondeu a sra. Oliver, cautelosamente.
- A senhora sabe talvez o que se disse na época a respeito do codi... Bem, não sei como é a palavra, soa como codi...
- Codicilo de um testamento? - sugeriu a sra. Oliver.
- Sim, exatamente. Era isso que eu queria dizer. A sra. Llewellyn-Smythe, sabe, fez um desses codi... codicilos e deixou toda sua fortuna para a moça estrangeira que tomava conta dela. E isso foi uma surpresa, pois tinha parentes aqui e tinha vindo de longe para morar perto deles. Gostava muito deles, principalmente do sr. Drake. E o codicilo surpreendeu realmente muita gente. E então os advogados, a senhora compreende, começaram a dizer coisas. Disseram que a sra. Llewellyn-Smythe não tinha escrito aquele codicilo. Que sua acompanhante o teria feito, para ficar com todo o dinheiro da velha para ela. E disseram que iam mover ação contra ela. Que a sra. Drake iria contestar o testamento, se esse é o termo correto.
- Sim, os advogados iriam contestar o testamento. Acho que ouvi algo a respeito - disse a sra. Oliver, encorajando-a. - A senhora saberia alguma coisa sobre isso?
- Não tive má intenção - disse a sra. Leaman. Havia um ligeiro tom de lamúria em sua voz, tom que a sra. Oliver já tinha ouvido muitas vezes no passado.
"A sra. Leaman", pensava ela, "devia ser uma mulher sob muitos aspectos indigna de confiança, uma bisbilhoteira, quem sabe, que gostava de ouvir atrás das portas".
- Eu não disse nada na ocasião - continuou a sra. Leaman - porque, a senhora compreende, eu não sabia exatamente o que era na época. Mas, sabe, achei aquilo estranho e confesso a uma pessoa como a senhora, que sabe como são essas coisas, que fiquei com vontade de
saber a verdade de tudo aquilo. Trabalhei para a sra. Llewellyn - Smythe durante algum tempo. Eu tinha de saber, e a gente quer saber como as coisas aconteceram.
- Certamente - disse a sra. Oliver.
- Se eu pensasse que teria feito o que não deveria ter feito, bem, é claro, eu teria de confessá-lo. Mas não achei que tivesse feito alguma coisa realmente errada, sabe. Não na ocasião, a senhora me compreende? - acrescentou.
- Oh, sim - disse a sra. Oliver. - Estou certa de que a compreenderei. Continue. Era sobre o codicilo.
- Sim, a senhora sabe, um dia, a sra. Llewellyn-Smythe, que não se sentia muito bem, mandou-nos chamar. Quer dizer, eu e o jovem que cuidava do jardim, trazia lenha para casa, carvão e coisas assim. Entramos no quarto da sra. Llewellyn-Smythe, onde ela se encontrava sentada à sua mesa, sobre a qual estavam alguns papéis. Ela se virou para a moça estrangeira - a srta. Olga, como a chamávamos - e lhe disse: "Agora saia do quarto, querida, porque você não se deve misturar com esta parte do negócio", ou coisa semelhante. A srta. Olga saiu do quarto, e a sra. Llewellyn-Smythe mandou que nos aproximássemos e nos disse: "Está aqui meu testamento." Ela botou um pedaço de mata-borrão em cima da parte superior do documento, mas embaixo estava completamente limpo.
E disse: "Estou escrevendo uma coisa neste documento e quero que vocês sejam testemunhas do que escrevi e de minha assinatura aqui embaixo." E, assim, começou a escrever ao longo da página. Ela usava sempre uma pena que rangia, pois não gostava de usar esferográficas. E escreveu duas ou três linhas e em seguida assinou seu nome e, depois, me disse: "Agora, sra. Leaman, assine seu nome aqui. Nome e endereço." E depois disse a Jim: "E agora você assine aqui embaixo, e ponha seu endereço também.
Aqui. Está bem. Agora vocês me viram escrever isso e viram minha assinatura e escreveram seus nomes para atestar isso." E depois disse: "É tudo. Muito obrigada." E saímos do quarto. Bem, eu não pensei mais naquilo naquela ocasião, mas fiquei bastante intrigada. E aconteceu que
exatamente no momento em que saía do quarto voltei a cabeça. A senhora sabe, a porta não se fechava com facilidade. Era preciso batê-la ou puxá-la com força. E, quando eu ia fazer isso - realmente, não estava olhando, se a
senhora compreende o que quero dizer...
- Eu sei o que a senhora quer dizer - disse a sra. Oliver, num tom de compromisso.
- E então vi a sra. Llewellyn-Smythe levantar-se da cadeira - ela sofria de artrite e às vezes tinha dificuldade de se locomover - e ir à estante de livros, de onde retirou um livro e botou aquele papel que acabara de assinar - que já estava dentro de um envelope - dentro do tal livro.
Era um livro grande da prateleira de baixo. E tornou a colocá-lo na estante. Bem, nunca mais pensei nisso. Não, realmente, nunca pensei. Mas, quando surgiu a confusão, bem, então, percebi, pelo menos, eu...
E se interrompeu.
A sra. Oliver teve uma de suas úteis intuições.
- Mas, certamente - disse ela -, a senhora não esperou até que...
- Bem, vou lhe contar toda a verdade. Admitirei que fui curiosa. Afinal de contas, a gente precisa saber, quando se assina alguma coisa, o que assinamos, não é? A senhora compreende, é coisa da natureza humana.
- Sim, naturalmente, é coisa muito humana - concordou a sra. Oliver.
"A curiosidade", pensava ela, "era parte essencial da natureza humana da sra. Leaman".
- Admitirei que, no dia seguinte, quando a sra. Llewellyn-Smythe saiu de carro para Medchester e como de costume eu arrumava seu quarto, que era também sua sala de estar, porque ela precisava de muito repouso, pensei: "A gente precisa realmente saber, quando assina alguma coisa, o que é que assinou." É assim que se diz com relação a esses contratos de trabalho, que devemos ler tudo até as notinhas em letras pequenas.
- Nesse caso, o manuscrito - sugeriu a sra. Oliver.
- Então pensei, "não há nenhum mal nisso - não é como se eu estivesse apanhando alguma coisa". Quero dizer, eu tivera de assinar meu nome ali e pensei que realmente eu deveria saber o que assinara. Assim, comecei a dar uma olhadela pela estante. Os livros estavam
empoeirados, precisando de ser espanados. E encontrei o livro que procurava. Estava na prateleira de baixo. Era um livro velho, uma espécie de livro da Rainha Vitória. E encontrei o envelope com um papel dobrado dentro dele, e o título do livro dizia Perguntas e respostas sobre todas as coisas. E me pareceu então que o título estava de acordo. Acho que a senhora me compreende.
- Perfeitamente. O sentido era óbvio - disse a sra. Oliver. - Então a senhora apanhou o documento e o olhou.
- Assim mesmo, Madame. E se fiz bem ou mal, não sei. Mas de qualquer maneira, lá estava ele. Era um documento. Na última página estava o que a sra. Llewellyn-Smythe havia escrito na manhã anterior. Escrita nova com a pena rangedora que ela usou. Estava muito clara, embora ela tivesse uma caligrafia um tanto espinhosa.
- E o que continha o documento? - perguntou a sra. Oliver, cuja curiosidade se juntara agora à curiosidade anteriormente experimentada pela sra. Leaman.
- Bem, dizia alguma coisa mais ou menos assim, se não me engano - não me lembro exatamente das palavras - alguma coisa sobre um codicilo e que, apesar de todos os legados mencionados em seu testamento, ela deixava toda a sua fortuna para Olga - não estou certa do sobrenome, começava com S. Seminoff, ou coisa parecida - em reconhecimento de sua grande bondade e atenção durante toda sua enfermidade. E lá estava escrito e assinado por ela, por mim e por Jim. Depois recoloquei o livro onde estava porque não gostaria de que a sra. Llewellyn-Smythe soubesse que andara mexendo em suas
coisas. "Muito bem", disse para mim mesma, "isso é uma surpresa". E pensei, "engraçado, aquela estrangeira entrando em todo o dinheiro", pois todos sabíamos que a sra. Llewellyn-Smythe era muito rica. Seu marido tinha sido construtor de navios e lhe havia deixado uma grande
fortuna, e pensei, "bem, há gente de sorte". E veja, eu não gostava muito da srta. Olga. Às vezes tinha atitudes muito rudes e tinha um temperamento muito ruim. Mas confesso que era sempre muito atenciosa e polida com a velha senhora. Pensando em si, é claro, e se saiu muito bem. E pensei, "bem, tirando toda a fortuna de sua própria família". E então pensei, "bem, talvez ela tenha tido algum arrufo com eles e provavelmente isso passará, de modo que rasgará esse e fará um outro testamento ou outro codicilo". Mas de qualquer maneira eu vi o que lá estava, botei de novo o livro no lugar e, me parece, nunca mais pensei nisso. Mas quando surgiu toda aquela confusão a respeito do testamento, e quando se falava de como tinha sido forjado e que a sra. Llewellyn-Smythe jamais teria escrito pessoalmente aquele codicilo, pois era isso que estavam dizendo, que não fora a velha senhora que o havia escrito, mas que alguém...
- Compreendo - disse a sra. Oliver. - E o que foi que a senhora fez?
- Eu não fiz nada. E é isso que me preocupa... Não compreendi logo o que se passava. E quando comecei a compreender eu não sabia o que devia fazer e imaginei, "bem, isso é só conversa porque os advogados eram contra a estrangeira, como sempre acontece". Eu mesma, confesso, não gosto muito de estrangeiros. De qualquer maneira, a própria moça vivia pavoneando-se, bancando a tal, toda convencida. Então pensei, "bem, pode ser tudo uma simples questão legal, e eles dirão que ela não tem
direito ao dinheiro porque não tinha parentesco com a velha senhora". Assim, no fim tudo daria certo. E assim foi, de certo modo, porque eles acabaram com a idéia de prosseguir com a questão legal. O negócio não chegou aos tribunais e, tanto quanto se pode saber, a srta. Olga acabou fugindo. Voltou para o continente, para algum lugar de onde viera. Ao que parece deve ter havido alguma fraude de sua parte. Talvez, quem sabe, teria ameaçado a velha senhora e a tivesse obrigado a fazer aquilo. A gente nunca sabe, não é? Um de meus sobrinhos que vai ser médico diz que a gente pode fazer coisas maravilhosas com o hipnotismo. Achei que ela talvez tivesse hipnotizado a velha senhora.
- Isso faz muito tempo?
- Deixe-me ver... a sra. Llewellyn-Smythe morreu há... quase dois anos.
- E isso não a preocupou?
- Não, não me preocupou, pelo menos na época. Porque, a senhora sabe, eu não compreendia bem se havia algo de estranho. Tudo estava direito, ninguém falava da possível fuga da srta. Olga com o dinheiro, portanto eu não via nenhum motivo para me meter...
- Mas agora a senhora pensa de modo diferente?
- Foi essa morte estúpida... daquela criança que morreu com a cabeça metida num balde de maçãs. Dizendo coisas sobre um assassinato, dizendo que tinha visto algo ou sabido de algo sobre um crime. E pensei que talvez a srta. Olga tivesse assassinado a velha senhora por que sabia que todo o dinheiro viria para ela e depois se
teria enrolado quando surgiu a confusão, com os advogados e a polícia, quem sabe, e ela deu o fora. Assim, pensei, "talvez eu deva... bem, deva contar isso a alguém", e imaginei que a senhora deve ter amigos em departamentos jurídicos. Amigos na polícia, talvez, e lhes poderia explicar que eu estava apenas espanando a estante e que encontrei o documento dentro de um livro e tornei a botá-lo lá. Eu não fiquei com ele nem tirei nada dali.
- Mas o que aconteceu propriamente na ocasião? A senhora viu a sra. Llewellyn-Smythe escrever um codicilo ao seu testamento. A senhora a viu assinar seu nome, e a senhora mesma e um tal Jim estavam presentes e ambos assinaram o documento. É exatamente isso?
- Exatamente.
- Bem, se ambos assistiram à sra. Llewellyn-Smythe assinar o codicilo, então aquela assinatura não poderia ter sido forjada, poderia? Não, se a senhora a viu realmente escrevendo seu nome.
- Eu a vi e é a pura verdade o que lhe estou dizendo. E Jim o confirmaria se não tivesse ido para a Austrália. Foi-se embora há cerca de um ano e não tenho seu endereço. E não voltou mais daquele país.
- E o que é que a senhora quer que eu faça?
- Bem, eu queria que a senhora me dissesse se há alguma coisa que eu deva dizer, ou fazer... agora. Ninguém me perguntou nada, veja bem. Ninguém jamais me perguntou se eu sabia de alguma coisa sobre um testamento.
- A senhora se chama Leaman. Como é seu nome de batismo?
- Harriet.
- Harriet Leaman. E Jim, qual é seu último nome?
- Ah, como era? Jenkins. É isso mesmo. James Jenkins. Eu lhe ficaria muito grata se a senhora me pudesse ajudar, porque isso me preocupa, sabe. Tudo isso acontecendo, e se a srta. Olga realmente matou a sra. Llewellyn-Smythe, isto é, se a pequena Joyce a viu fazer
isso... Olga estava sempre tão exultante com tudo isso, quando ouviu dos advogados que ela ia ficar com um bocado de dinheiro. Mas a coisa mudou quando a polícia começou a fazer perguntas, e ela sumiu de repente. Ninguém me perguntou nada a respeito. Mas agora vivo a
pensar se não deveria ter dito alguma coisa na época.
- Eu acho - disse a sra. Oliver -, que a senhora provavelmente terá de dizer tudo isso a quem quer que represente a sra. Llewellyn-Smythe como advogado. Estou certa de que um bom advogado compreenderá perfeita mente seus sentimentos e suas razões.
- Bem, estou certa de que a senhora diria uma palavrinha por mim, sendo uma senhora que compreende as coisas, que sabe o que aconteceu e porque eu nunca falei nisso... bem, para não fazer nada desonesto. Quero dizer, tudo que fiz...
- Tudo que a senhora fez foi não dizer nada - completou a sra. Oliver. - Parece uma explicação muito razoável.
- Mas se a explicação fosse dada pela senhora... dizendo uma palavrinha por mim, primeiro, sabe, para explicar, eu lhe seria muito agradecida.
- Farei o que puder - disse a sra. Oliver.
Seu olhar se desviou para a entrada do jardim, onde viu uma figura que se aproximava.
- Então, muito obrigada. Disseram-me que a senhora é muito distinta e estou certa de que lhe ficarei muito grata por isso.
Levantou-se, pôs de novo as luvas de algodão que tinha amarrotado inteiramente na sua angústia, fez uma espécie de saudação com a cabeça e saiu apressadamente. A sra. Oliver esperou até que Poirot se aproximasse.
- Venha - disse ela - e sente-se. O que há com o senhor? Parece sobressaltado.
- Estou com os pés que não agüento - disse Hercule Poirot.
- São estes horríveis sapatos de couro envernizado que o senhor usa - disse a sra. Oliver. - Sente-se. Conte-me o que me veio contar, e depois eu lhe contarei algo que ficará surpreso ao ouvir.
CAPÍTULO 18
Poirot sentou-se, estendeu as pernas e disse:
- Ah, assim é melhor.
- Tire seus sapatos - disse a sra. Oliver - e descanse os pés.
- Não, não poderia fazer isso - Poirot parecia assustado com a mera possibilidade.
- Afinal de contas somos velhos amigos - disse a sra. Oliver -, e Judith não se incomodaria se o visse. Perdoe-me, mas não devia usar esses sapatos de couro envernizado. Por que não compra um par de sapatos de camurça? Ou do tipo que usam os rapazes que se parecem com hippies. Sabe, aquela espécie de sapatos que escorregam e nunca precisam ser limpos... é claro que limpam com algum processo qualquer. Um desses negócios que poupam trabalho.
- Não me preocupo com essas coisas – respondeu Poirot gravemente. - De fato, não me preocupo.
- O negócio é que o senhor - disse a sra. Oliver, abrindo um embrulho sobre a mesa, de uma compra que tinha feito recentemente -, o negócio é que está sempre insistindo em ser elegante. Está sempre muito mais preocupado com suas roupas, com seus bigodes e com sua aparência do que com o que lhe traz conforto. Ora, o conforto é realmente uma grande coisa. Depois que a gente passa da casa dos cinqüenta, o conforto é a única coisa que interessa.
- Madame, chère Madame, não sei se concordo com a senhora.
- Seria melhor - disse a sra. Oliver. - Caso contrário, sofrerá muito e de ano a ano vai se tornando pior.
A sra. Oliver retirou uma caixa de cores alegres de dentro de seu saco de papel. Tirou a tampa e apanhou uma pequena quantidade de seu conteúdo e botou na boca. Depois lambeu os dedos, enxugou-os num lenço e murmurou, quase imperceptivelmente:
- Pegajoso.
- A senhora não come mais maçãs? Eu sempre a vi com um saco de maçãs na mão, ou comendo-as, ou de vez em quando o saco se rompe e elas rolam pela rua.
- Já lhe disse - disse a sra. Oliver. - Já lhe falei que não quero mais ver uma maçã. Não. Detesto maçãs. Acho que um dia desses não agüentarei mais e voltarei a comê-las de novo, mas... bem, não gosto das associações de maçãs.
- E o que é que a senhora come agora? – Poirot apanhou a tampa de cores vivas, decorada com o desenho de uma palmeira. - Tâmaras de Túnis - leu. - Ah, agora são tâmaras.
- Isso mesmo - disse a sra. Oliver. - Tâmaras, desde aquela data.
Apanhou outra tâmara e a pôs na boca, jogou o caroço num arbusto e continuou a mastigar ruidosamente.
- Data - disse Poirot. - É extraordinário.
- O que há de extraordinário nisso?
- É extraordinário que a senhora me tenha dito data.
- Por quê? - perguntou a sra. Oliver.
- Porque - respondeu Poirot - mais uma vez me indica o caminho, com a maneira de dizer, o chemin que eu devo seguir ou que já deveria ter seguido. A senhora me mostra o caminho que devo tomar. Até o momento eu não tinha pensado como as datas eram importantes.
- Não posso atinar com o que têm datas a ver com tudo que aconteceu aqui. Quero dizer, não há tempo real envolvido. Tudo aconteceu, o quê?, há apenas cinco dias.
- O fato aconteceu há quatro dias. Sim, é verdade. Mas para tudo que acontece tem de haver um passado. Um passado que agora está incorporado ao presente, mas que existia ontem ou no mês passado ou no ano passado. O presente quase sempre tem suas raízes no passado. Há um ano, dois anos, talvez três anos, um assassinato foi cometido. Uma criança assistiu àquele crime. Pelo fato de a criança ter visto aquele crime numa certa data agora distante, aquela criança morreu há quatro dias. Não é assim?
- Sim, está bem. Pelo menos suponho que sim. Mas não é absolutamente necessário. Poderia muito bem ser um indivíduo mentalmente perturbado que gosta de matar gente e cuja idéia de brincar com água é empurrar a cabeça de alguém dentro dela e segurá-la nessa posição. Poderia ter sido descrito como um bom divertimento de um delinqüente mental numa festa.
- Não foi esse pensamento que a levou a me procurar, Madame.
- Não - disse a sra. Oliver -, não foi. Não gostei muito da coisa e continuo a não gostar.
- E eu concordo com a senhora. Acho que tem plena razão. Quando a gente acha que alguma coisa não está bem, é preciso saber por quê. Estou fazendo todo o possível, embora a senhora possa não pensar assim, para saber o porquê.
- Caminhando por aí e conversando com as pessoas, procurando saber se são boas ou não e depois lhes fazendo perguntas?
- Exatamente.
- E o que é que já apurou?
- Fatos - respondeu Poirot. - Fatos, fatos que no seu devido tempo terão de ser fixados em seus lugares, segundo suas datas, diríamos.
- É tudo? Que mais o senhor apurou?
- Que ninguém acredita em Joyce Reynolds.
- Quando ela disse que viu alguém morto? Mas eu a ouvi dizer.
- Sim, ela o disse. Mas ninguém acha que seja verdade. A probabilidade, por conseguinte, é de que seja verdade; que ela não tenha visto coisa alguma.
- Está parecendo - disse a sra. Oliver - que seus fatos o estão fazendo regredir em vez de permanecer no lugar ou prosseguir.
- As coisas devem combinar-se. Tomemos, por exemplo, uma falsificação. O fato da falsificação. Todo o mundo diz que uma moça estrangeira, uma au pair girl, conquistou de tal modo a amizade de uma viúva idosa e rica, que esta lhe deixou toda a sua fortuna num testa
mento ou num codicilo ao testamento. A moça falsificou esse testamento ou alguém mais o teria forjado?
- Quem mais o poderia ter forjado?
- Havia outro falsificador na cidade. Alguém, isto é, que uma vez fora processado por falsificação, mas que foi solto por se tratar de criminoso primário, e em face de circunstâncias atenuantes.
- É um novo personagem? Eu o conheço?
- Não, a senhora não o conheceu. Já morreu.
- Oh, quando morreu?
- Há cerca de dois anos. Não sei ainda em que data exatamente. Mas preciso saber. Era um profissional na falsificação e residia neste lugar. E, por causa de uma bobagem que se poderia chamar de ciúmes de mulher e de várias emoções, foi apunhalado numa noite e morreu. Tenho a impressão de que muitos incidentes isolados poderiam estar mais intimamente relacionados do que se pensaria. Nem todos, é claro, mas vários deles.
- Parece interessante - disse a sra. Oliver -, mas não posso compreender...
- Nem eu ainda - atalhou Poirot. - Mas acho que as datas podem ajudar. As datas de certos acontecimentos, onde as pessoas estavam, o que lhes aconteceu, o que estavam fazendo. Todo o mundo acha que a estrangeira falsificou o testamento e provavelmente - disse Poirot - todo o mundo está com a razão. Ela era a única a se beneficiar com isso, não era? Espere... espere..
- Espere o quê? - perguntou a sra. Oliver.
- Uma idéia me passou pela cabeça - disse Poirot.
A sra. Oliver suspirou e apanhou outra tâmara.
- A senhora vai voltar para Londres, Madame, ou pretende permanecer muito tempo aqui?
- Depois de amanhã - respondeu a sra. Oliver. - Não posso ficar por mais tempo. Deixei muitas coisas por resolver.
- Diga-me, agora. Seu apartamento ou sua casa, não posso lembrar-me agora se é casa ou apartamento, pois a senhora tem se mudado tanto ultimamente, tem condições de receber hóspedes?
- Não posso dizer que tenha - respondeu a sra. Oliver. - Se admitirmos que temos sempre um quarto de hóspede livre em Londres, ele será sempre solicitado. Todos os nossos amigos, nossos conhecidos ou mesmo os primos de terceiro grau de nossos conhecidos nos escrevem cartas e perguntam se não nos incomodaríamos de alojá-los só por uma noite. Bem, eu me incomodo. Que dizer de lençóis e roupa lavada, fronhas, preparar café da manhã e muitas vezes servir almoço? Portanto eu nunca espalho que tenho um quarto disponível. Minhas amigas vêm e ficam comigo. As pessoas que realmente me agradam, mas as outras, não, não lhes sirvo. Não gosto de ser apenas utilizada.
- Quem gosta? - disse Hercule Poirot. - A senhora é muito sábia.
- E, afinal de contas, a propósito de que me fez a pergunta?
- Se surgisse uma necessidade, a senhora poderia receber um ou dois hóspedes?
- Poderia - disse a sra. Oliver. - Quem o senhor quer mandar-me como hóspede? Certamente não é o senhor mesmo. O senhor tem um esplêndido apartamento. Ultra-moderno, abstrato, todo cheio de quadrados e de cubos.
- Seria só no caso de se ter de tomar uma precaução.
- Com quem? Alguém vai ser assassinado?
- Espero que não e rezo para não ser, mas estaria dentro dos limites da possibilidade.
- Mas quem? Quem? Não posso compreender.
- Até que ponto a senhora conhece sua amiga?
- Conhecê-la? Não a conheço muito. Quero dizer, tornamo-nos amigas numa viagem e passamos a nos freqüentar. Há algo, como direi?, de excitante em torno dela. Diferente.
- Já pensou em botá-la algum dia em algum livro seu?
- Detesto esta frase. As pessoas vivem dizendo-me essas coisas, mas não é verdade. Realmente, não é verdade. Não ponho ninguém em meus livros, isto é, as pessoas que conheço, as pessoas que encontro.
- Talvez não seja errado dizer, Madame, que a senhora de vez em quando põe pessoas em seus livros. Pessoas que a senhora encontrou, mas não, concordo, pessoas que a senhora conhece. Não haveria graça nisso.
- Tem razão - disse a sra. Oliver. - O senhor até que acerta de vez em quando em suas suposições. Acontece assim. Quero dizer, vejo, por exemplo, uma mulher gorda sentada num ônibus comendo um bolo de groselha e seus lábios se movendo enquanto mastiga, e posso ver ou que está dizendo alguma coisa a alguém ou pensando numa
chamada de telefone que ela vai fazer, ou talvez numa carta que vai escrever. E a gente olha para ela, estuda seus calçados e a saia que usa e seu chapéu, calculamos sua idade e olhamos se traz uma aliança e mais algumas coisas. E de pois a gente sai do ônibus. Não precisamos vê-la de novo, mas já concebemos a história de uma sra. Carnaby que
volta para casa de ônibus, depois de ter tido uma estranha entrevista em algum lugar onde viu alguém na pessoa de um cozinheiro de pastelaria e se lembrou de uma pessoa com quem já se encontrara uma vez e que, segundo lhe disseram, tinha morrido e evidentemente não tinha. Meu caro - disse a sra. Oliver, fazendo uma pausa para respirar. - Sabe, é verdade. Eu me sentei na frente de uma pessoa num ônibus pouco antes de minha saída de Londres, e tudo isso surgiu maravilhosamente na minha imaginação. Imediatamente concebi toda a história. Toda a seqüência, o que é que ela vai voltar a dizer, se isso a fará correr perigo, ela, ou outra pessoa qualquer. Chego até a pensar que sei o seu nome. Seu nome é Constance. Constance
Carnaby. Só há uma coisa que poderá prejudicar tudo.
- O que é?
- Bem, quer dizer, se voltar a encontrá-la em outro ônibus ou falar com ela ou ela conversar comigo ou se começar a saber alguma coisa a seu respeito. Isso estragaria tudo, naturalmente.
- É claro, a história deve ser sua, a personagem é sua. É sua criatura. A senhora a cria, começa a entendê-la, sabe o que ela sente, sabe onde mora e sabe o que faz. Mas tudo começou com um ser humano vivo, real, e, se a senhora descobrir aquilo com que se parece um ser humano vivo e real, então, não haveria criação, haveria?
- De modo algum - respondeu a sra. Oliver. - Quanto ao que o senhor vai dizer sobre Judith, acho que deve ser verdade. Quero dizer, estivemos juntas muito tempo, durante a excursão; juntas visitamos os lugares, mas na realidade nunca consegui conhecê-la profundamente. É viúva.
Seu marido morreu deixando-a em situação difícil com uma filha, Miranda, que o senhor já conhece. E é verdade que sinto uma estranha simpatia por elas. Uma simpatia como se se tivessem envolvido em algum drama interessante. Não quero saber que espécie de drama seria. Nem
quero que me contem. Prefiro conceber a espécie de drama em que gostaria que se tivessem envolvido.
- Está bem, está bem. Já posso prever que já são candidatas a ser incluídas em outro best-seller de Ariadne Oliver.
- O senhor chega a ser banal algumas vezes – disse a sra. Oliver. - Vulgariza tudo - fez uma pausa, pensativa. - É, talvez seja.
- Não, não é vulgar. É apenas humano.
- E quer que eu convide Judith e Miranda para meu apartamento ou para minha casa em Londres?
- Ainda não - disse Poirot. - Ainda não, até que esteja seguro da objetividade de uma de minhas ideiazinhas.
- O senhor e suas ideiazinhas! Pois bem, tenho novas para lhe contar.
- Madame, a senhora me deleita.
- Não esteja certo disso. O que vou contar talvez revolucione suas idéias. Suponhamos que eu lhe diga que a falsificação de que o senhor esteve falando tão preocupado não tenha sido de modo algum uma falsificação.
- O que a senhora está dizendo?
- A sra. Ap Jones Smythe, ou não sei como é seu nome, fez um codicilo ao seu testamento, deixando toda a sua fortuna para sua acompanhante e o assinou, e duas testemunhas viram-na fazendo isso e assinaram também na presença uma da outra. Ponha isso na sua cachola e pense.
CAPÍTULO 19
- Sra. Leaman... - disse Poirot, escrevendo o nome.
- Exatamente. Harriet Leaman. A outra testemunha parece ter sido um James Jenkins. A última notícia que se teve dele é que foi para a Austrália. E da srta. Olga Seminoff a última notícia que se teve foi de sua volta à Checoslováquia, ou para sua pátria de origem. Todo o mundo parece ter ido para alguma parte.
- Na sua opinião, essa sra. Leaman é digna de confiança?
- Eu não acho que ela tenha inventado, se é isso que está pensando. Sou de opinião de que assinou alguma coisa, que depois ficou curiosa e se aproveitou da primeira oportunidade para verificar o que tinha assinado.
- Ela sabe ler e escrever?
- Acho que sim. Mas concordo que não é qualquer pessoa que pode ler a caligrafia de senhoras idosas, muitas vezes garranchenta e difícil de se ler. E se mais tarde surgissem boatos em torno disso, sobre esse testamento ou codicilo, ela poderia ter pensado que era o que tinha lido naquela escrita um tanto indecifrável.
- Um documento autêntico - disse Poirot. – Mas havia também um codicilo falsificado.
- Quem disse isso? Talvez não tenha sido de modo algum falsificado.
- Os advogados são muito minuciosos nesses assuntos. Eles estavam dispostos a se apresentar ao tribunal com o testemunho de peritos.
- Oh, bem - disse a sra. Oliver -, então é fácil imaginar o que deve ter acontecido, não é?
- Fácil o quê? O que aconteceu?
- Bem, naturalmente, no dia seguinte ou poucos dias depois, ou mesmo uma semana depois, a sra. Llewellyn-Smythe deve ter tido algum arrufo com sua acompanhante ou teria tido uma deliciosa reconciliação com seu sobrinho, Hugo, ou com sua sobrinha Rowena, e teria rasgado o testamento ou rasgado o codicilo ou queimado tudo.
- E depois?
- Bem, depois, suponho, a sra. Llewellyn-Smythe morre, e a moça aproveita a oportunidade e escreve um novo codicilo quase nos mesmos termos, imitando tanto quanto possível a letra de sua patroa, assim como as assinaturas das duas testemunhas. Ela, provavelmente, conhecia muito bem a caligrafia da sra. Llewellyn-Smythe. Devia haver muitas em apólices de saúde ou coisa semelhante. E, assim, ela a reproduziu, pensando que alguém concordaria em ser testemunha do testamento e que tudo correria bem. Mas sua falsificação não foi tão perfeita, e assim começaram as dificuldades.
- Chère Madame, a senhora me permitiria usar seu telefone?
- Eu lhe permitirei usar o telefone de Judith Butler.
- Onde está sua amiga?
- Foi fazer o cabelo. E Miranda foi passear. Entre, está ali na sala.
Poirot entrou e voltou cerca de dez minutos depois.
- Então, o que esteve fazendo?
- Telefonei para Mr. Fullerton, o procurador. Vou dizer-lhe uma coisa agora. O codicilo, o codicilo falsificado que foi apresentado para legitimação, não foi testemunhado por Harriet Leaman. Foi testemunhado por uma Mary Koherty, já falecida, que servira à sra. Llewellyn-Smythe, mas que morreu recentemente. A outra testemunha foi o James Jenkins, que, como lhe disse sua amiga, a sra. Leaman, foi embora para a Austrália.
- Portanto, houve um codicilo forjado - disse a sra. Oliver. - E parece que houve também um codicilo real. Olhe, Poirot, a coisa não se está complicando um pouco?
- Está se tornando incrivelmente complicada - concordou Hercule Poirot. - Por exemplo, há falsificação demais.
- É possível que o codicilo verdadeiro esteja ainda na biblioteca da Mansão da Pedreira, dentro das páginas do livro Perguntas e respostas.
- Compreendo por que todos os bens da casa foram vendidos após a morte da sra. Llewellyn-Smythe, com exceção de algumas peças de mobília e de alguns quadros da família.
- O que precisamos - disse a sra. Oliver - é de um livro desse agora. É um título interessante, não é? Perguntas e respostas. Minha avó tinha um, me lembro. A gente podia perguntar o que quisesse. Explicações jurídicas, receitas culinárias, e chegava a ensinar como tirar manchas de roupa. Como fazer pó-de-arroz que não prejudicava a pele. Oh, e muitas outras coisas. Sim, o senhor não gostaria de ter um livro desse agora?
- Sem dúvida - respondeu Hercule Poirot -, devia trazer uma receita para pés cansados.
- Muitas, creio. Mas por que não experimenta usar os calçados do país?
- Madame, eu gosto de parecer soigné.
- Bem, então vai ter de continuar usando coisas dolorosas, e agüentando bravamente - disse a sra. Oliver. - Contudo, não compreendo nada agora. Será que aquela mulher, Leaman, veio contar-me um monte de mentiras?
- É sempre possível.
- Será que alguém a teria mandado vir contar-me um monte de mentiras?
- Isso também é possível.
- Alguém lhe teria pago para vir contar-me um monte de mentiras?
- Continue - disse Poirot -, continue. A senhora está indo muito bem,
- Suponho - disse a sra. Oliver pensativa - que a sra. Llewellyn-Smythe, como muitas outras mulheres ricas, gostava de fazer testamentos. Deve ter feito muitos durante sua vida. Beneficiar hoje uma pessoa, sabe, amanhã, outra. Mudar, Os Drake, de qualquer maneira, estavam bem. Suponho que ela sempre lhes deixava no mínimo um legado simpático, mas me pergunto se alguma vez teria deixado para mais alguém tanto quanto parece, de acordo com a sra. Leaman e de acordo com o testamento forjado, e também, para aquela moça, Olga. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa moça. Parece ter se volatizado por completo.
- Espero dentro em breve saber mais um pouco a seu respeito - disse Hercule Poirot.
- Como?
- De uma informação que brevemente receberei.
- Eu sei que esteve colhendo informações por aqui.
- Não só aqui. Tenho um agente em Londres que colhe informações para mim, aqui e no estrangeiro. Possivelmente receberei, dentro em pouco, algumas notícias de Herzegóvina.
- O senhor está querendo descobrir se ela voltou para ali algum dia?
- Seria uma das coisas que eu deveria saber, mas me parece mais provável que venha obter informação de espécie diferente - cartas talvez escritas durante sua permanência na Inglaterra, mencionando amigos que teria feito aqui e de quem se teria tornado íntima.
- Que tal a professora? - perguntou a sra. Oliver.
- A qual delas se refere?
- Refiro-me àquela que foi estrangulada, àquela de quem lhe falou Elizabeth Whittaker - e continuou: - Não gosto muito de Elizabeth Whittaker. O tipo da mulher enfadonha, embora reconheça sua inteligência - e acrescentou como em devaneio: - Eu não a julgaria incapaz de maquinar um crime.
- Estrangular outra professora?
- É preciso exaurir todas as possibilidades.
- Como em tantas outras ocasiões, Madame, confiarei em suas intuições.
A sra. Oliver comeu outra tâmara, pensativa.
CAPÍTULO 20
Ao sair da casa da sra. Butler, Poirot seguiu o mesmo caminho que Miranda lhe havia ensinado. A abertura na cerca lhe pareceu um pouco mais larga do que da última vez. Alguém talvez de proporções maiores do que as de Miranda a teria usado também. Subiu a estrada que conduzia à pedreira, apreciando mais uma vez a beleza do cenário. Um lugar encantador. Não obstante, Poirot tinha a impressão, como da vez anterior, de que poderia ser um lugar freqüentado por seres sobrenaturais. Havia um quê de rudeza pagã em tudo aquilo. Talvez, ao longo daqueles caminhos sinuosos, os duendes perseguissem suas vítimas até a morte, ou uma deusa impassível decretasse que aquele sacrifício devia ser oferecido.
Compreendia por que aquele parque não se tornara um lugar para piquenique. Ninguém, por alguma razão, queria levar seus ovos cozidos e suas laranjas e sentar-se ali, jogar e se divertir. Era muito diferente, muito diferente. "Teria sido melhor, quem sabe", pensou subitamente Poirot, "que a sra. Llewellyn-Smythe não tivesse realizado essa transformação fantástica. Um jardim rebaixado poderia ter sido feito de uma pedreira, sim, mas sem essa atmosfera. Mas a sra. Llewellyn-Smythe era uma mulher ambiciosa, ambiciosa e muito rica". Ele pensou por alguns instantes em testamentos, na espécie de testamentos feitos por mulheres ricas, nos lugares em que os testamentos de viúvas ricas são às vezes escondidos, e procurou voltar a pensar na falsária. O codicilo entregue para legitimação tinha sido uma falsificação, disso não tinha a menor dúvida. Mr. Fullerton era um advogado cuidadoso e competente. Disso não tinha dúvida. Era o tipo do advogado que nunca aconselhava um cliente a mover um processo, a menos que houvesse fundamento e justificativa para tal.
Ele virou num canto do caminho, sentindo por um momento que seus pés eram mais importantes do que suas especulações. Estaria ou não cortando caminho para a casa do inspetor Spence? Em linha reta, talvez, mas a estrada principal era bem melhor para seus pés. Esse caminho não tinha relvas nem musgos, era duro como pedra. Fez uma parada.
Diante dele estavam duas figuras. Michael Garfield estava sentado sobre o afloramento de uma pedra. Tinha um caderno de rascunho em cima dos joelhos e desenhava, absorto no que estava fazendo. A pouca distância dele, em pé, ao lado de um córrego pequenino mas musical, estava Miranda Butler. Hercule Poirot esqueceu de seus pés, das dores e achaques do corpo humano e se concentrou mais uma vez na beleza que os seres humanos podiam alcançar. Não havia dúvida de que Michael Garfield era um jovem belíssimo. Ele achava difícil saber se gostava ou não de Michael Garfield. É difícil a gente saber se gosta de qualquer pessoa bonita. Gostamos de apreciar o belo, mas, ao mesmo tempo, quase em princípio, não gostamos da beleza. As mulheres podiam ser belas, mas Hercule Poirot não estava de todo certo se apreciava a beleza de homem. Ele mesmo não gostaria de ser um belo jovem, não que tivesse tido algum dia a chance de sê-lo. Só havia uma coisa em sua própria aparência que deleitava Hercule Poirot, e essa era a profusão de seus bigodes e a maneira como reagiam ao pente, ao tratamento e às aparas. Eram magnificentes. Não conhecia ninguém que tivesse pelo menos a metade de seus bigodes. Nunca fora bonito ou de boa aparência. Certamente jamais fora belo.
"E Miranda?" Ele pensou de novo, como já havia pensado de outra vez, que era sua gravidade que mais atraía. Perguntava-se o que se passaria por sua mente infantil. Era a espécie de coisa que a gente nunca sabe. Ela não era de dizer com facilidade o que estaria pensando. Nem tampouco nos diria, se perguntada, o que estava pensando. "Miranda tinha uma mente original", pensava ele, "refletiva". Mas achava também que era vulnerável. Muito vulnerável. Havia outras coisas a seu respeito que conhecia ou pensava conhecer. Era só pensamento até aqui mas, não obstante, estava quase certo disso.
Michael Garfield levantou a vista e disse:
- Olá, senõr Moustachios. Muito boa tarde, Sir.
- Posso ver o que o senhor está fazendo, ou isso o perturbaria? Não quero ser indiscreto.
- Pode olhar - disse Michael Garfield -, é-me indiferente - e acrescentou gentilmente: - Estou me distraindo muito.
Poirot veio e se colocou por detrás de seu ombro. Assentiu com a cabeça. Realmente, era um desenho a lápis, delicadíssimo. As linhas eram quase invisíveis. "O homem sabia desenhar" pensava Poirot. "Não só projetar jardins". E quase murmurando, disse:
- Encantador!
- Eu também acho - concordou Michael Garfield.
Poirot não sabia se ele se referia ao desenho que estava fazendo ou se ao modelo.
- Por quê? - perguntou Poirot.
- Por que estou fazendo isso? O senhor acha que tenho um motivo para isso?
- Poderia ter.
- O senhor tem razão. Se eu me for embora daqui, há uma ou duas coisas de que não me quero esquecer. Miranda é uma delas.
- O senhor se esqueceria facilmente?
- Muito facilmente. Eu sou assim. Mas ter de esquecer alguma coisa ou alguém, ser incapaz de guardar uma fisionomia, um virar de ombros, um gesto, uma árvore, uma flor, o contorno de uma paisagem, saber o que foi agradável de ver mas não poder conservá-lo diante dos olhos, isso causa às vezes... o que direi?... uma verdadeira agonia. Sabe, a gente registra... e tudo passa.
- Menos o Jardim ou o Parque da Pedreira, não é? Este não passou.
- O senhor acha que não? Passará logo. Passará logo quando ninguém mais estiver aqui. Isso precisa de amor e atenção, de cuidado e habilidade. Se a Prefeitura tomar conta - e é o que acontece muitas vezes hoje em dia – então será o que eles chamam de "conservação". As mais adiantadas espécies de arbustos podem ser introduzidas, caminhos extras serão feitos, assentos serão distribuídos a certas distâncias. Até latas de lixo poderão ser instaladas. Oh, eles são tão cuidadosos, tão bons na preservação. Não se pode preservar isso. É selvagem. Manter alguma coisa selvagem é muito mais difícil do que preservá-la.
- Monsieur Poirot!
A voz de Miranda veio do outro lado do riacho. Poirot adiantou-se, de modo que pudesse ser visto por ela.
- Então você está aqui. Veio posar para um retrato, não é?
Ela meneou a cabeça.
- Não vim para isso. Apenas aconteceu.
- Sim - disse Michael Garfield -, sim, apenas aconteceu. A sorte às vezes atravessa em nosso caminho.
- Estava apenas fazendo o seu passeiozinho por seu jardim favorito?
- Estava procurando um poço - disse Miranda.
- Um poço?
- Antigamente havia neste bosque um poço do desejo.
- Na antiga pedreira? Não sabia que havia poços em pedreiras.
- Havia sempre um bosque em torno da pedreira. Bem, havia sempre árvores por aqui. Michael sabe onde está o poço mas não me quer dizer.
- Será muito mais divertido - disse Michael Garfield - procurá-lo você mesma. Sobretudo quando não sabe se realmente existe.
- A velha Goodbody sabe tudo sobre esse poço.
E acrescentou:
- Ela é feiticeira.
- Realmente - disse Michael. - É a feiticeira local, Monsieur Poirot. Em todo lugar há uma feiticeira, sabe, na maioria dos lugares. Elas nem sempre se chamam feiticeiras, mas todo o mundo sabe. Lêem a sorte ou lançam feitiços em nossas begônias ou fazem murchar nossas peônias ou secam o leite da vaca do fazendeiro e provavelmente preparam também o elixir de amor.
- Havia um poço de desejo - continuou Miranda a dizer. - O povo gostava de vir aqui e fazer seus votos. Tinham de andar de costas três vezes em torno dele e ficava do lado da colina, de modo que nem sempre era fácil fazer isso.
Seu olhar passou de Poirot a Michael Garfield.
- Eu o encontrarei um dia desses - disse ela -, mesmo que você não me queira dizer. "Ele está em alguma parte, mas foi lacrado", disse a sra. Goodbody. Oh, há anos. Foi lacrado porque diziam que era perigoso. Uma criança caiu dentro dele anos atrás... uma Kitty de tal. Alguém mais poderia ter caído ali.
- Bem, continue pensando assim - disse Michael Garfield. - É uma boa história local, mas há um poço do desejo lá do outro lado, em Little Belling.
- É claro - disse Miranda. - Eu sei tudo sobre ele. É um poço muito comum - acrescentou. - Todo o mundo sabe dele, e é muito sujo. A gente joga moedas lá dentro e há tão pouca água que não dá nem mesmo para salpicar.
- Então, sinto muito.
- Eu lhe direi quando o encontrar - disse Miranda.
- Não se deve acreditar em tudo que as bruxas dizem. Não creio que jamais alguma criança tenha caído ali. Talvez um gato, sim, tenha morrido afogado lá dentro.
- Ding dong dell, pussy's in the well- disse Miranda, levantando-se. - Preciso ir-me embora, mamãe deve estar esperando por mim.
Ela se afastou cuidadosamente da ponta da rocha, sorriu para os dois e desceu por um caminho ainda mais fechado, pelo outro lado do riacho.
- Ding dong dell - disse Poirot pensativo. - A gente acredita no que se quer acreditar, sr. Michael Garfield. Ela estava ou não com a razão?
Michael Garfield olhou para ele, pensativo, e depois sorriu.
- Ela tem razão. Há um poço e, como disse, está lacrado. Suponho que devia ser perigoso. Não creio que tenha sido um poço de desejo. Isso deve fazer parte das conversas fantasiosas da sra. Goodbody. Há ou havia uma faia do desejo. Uma faia na meia encosta em torno da qual as pessoas andavam de costas, creio, e formulavam seus desejos.
- O que aconteceu com ela? Não fazem mais isso?
- Não. Acho que foi abatida por um raio há seis anos. Partiu-se em duas. E assim se acabou essa linda história.
- O senhor já falou a Miranda a respeito disso?
- Não. Pensei que devia deixá-la com seu poço. Uma faia queimada não teria muita graça para ela, não acha?
- Bem, preciso ir andando - disse Poirot.
-Vai ver de novo seu amigo policial?
- Sim.
- O senhor parece cansado.
- Estou cansado - disse Hercule Poirot. – Estou extremamente cansado.
- O senhor se sentiria mais à vontade com sapatos de lona ou sandálias.
-Ah, ça, non.
- Compreendo. Seu amor pela elegância não o permite.
Olhou para Poirot.
- O tout ensemble está muito bem, especialmente, se me permitir citar, seus soberbos bigodes.
- Sinto-me muito sensibilizado por tê-los notado - disse Poirot.
- E como seria possível não notá-los?
Poirot fez um gesto de importância e em seguida disse:
- O senhor falou do desenho que estava fazendo porque queria lembrar-se da jovem Miranda. Quer dizer com isso que se vai embora daqui?
- Tenho pensado nisso.
- Não obstante, o senhor me parece bien placé ici.
- Sim, não resta dúvida. Tenho uma casa para morar, uma casa pequena mas construída por mim mesmo, tenho trabalho, mas é menos satisfatório do que costumava ser. De modo que começo a ficar inquieto.
- Por que seu trabalho está menos satisfatório?
- Porque querem que eu faça as coisas mais absurdas. Pessoas que querem melhorar seus jardins, que compraram algum terreno e estão construindo uma casa e querem um jardim projetado.
- Não está fazendo o jardim da sra. Drake?
- Sim, ela quer que eu o faça. Fiz algumas sugestões, e ela parecia concordar comigo. Não acho, porém - acrescentou pensativo -, que possa confiar nela.
- Quer dizer que ela não o deixará fazer o que quiser?
- Acho que certamente terá o que ela quiser e que, embora se mostre simpática às idéias que apresento, de repente exigirá algo inteiramente diferente. Algo de utilitário, de caro e de vistoso, talvez. Ela me tratará mal. Insistirá em que suas idéias sejam executadas. Eu não concordarei, e aí começaremos a brigar. Assim, é melhor que eu me vá antes que comece a briga. E não só com a sra. Drake mas com muitos outros vizinhos. Sou muito conhecido. Não preciso permanecer só num lugar. Posso ir-me embora e achar algum outro lugar na Inglaterra,
ou poderia instalar-me na Normandia ou na Bretanha.
- Em algum lugar que o senhor pudesse melhorar ou ajudar a natureza? Em algum lugar onde pudesse experimentar ou criar coisas estranhas que ali nunca cresceram e que nem o sol castiga nem o frio destrói? Algum bom pedaço de terra estéril em que poderá distrair-se no papel de um novo Adão? O senhor foi sempre irrequieto.
- Nunca fiquei muito tempo num lugar.
- Já esteve na Grécia?
- Sim, e gostaria de voltar à Grécia. Lá se vê alguma coisa. Um jardim numa encosta grega. Haverá ciprestes ali, não muita coisa além disso. Uma rocha estéril. Mas se quisesse, o que não poderia haver ali?
- Um jardim para os deuses passearem...
- Sim. O senhor tem uma mentalidade de escritor, não tem, sr. Poirot?
- Antes eu tivesse. Há muitas coisas que eu gostaria de saber e que não sei.
- O senhor está falando agora de algo muito prosaico, não está?
- Infelizmente, sim.
- Incêndio culposo, assassinato e morte súbita?
- Mais ou menos. Não sei se pensei em incêndio culposo. Diga-me, sr. Garfield, o senhor, que está aqui há muito tempo, conheceu um jovem chamado Lesley Ferrier?
- Sim, lembro-me dele. Não era um que trabalhava num escritório de advocacia em Medchester? Fullerton, Harrison e Leadbetter. Um jovem escriturário ou coisa que o valha. Um sujeito simpático.
- Teria tido fim trágico, não foi?
- Foi. Encontraram-no apunhalado uma noite. Negócio de mulheres, segundo soube. Todo o mundo acha que a polícia sabe muito bem quem foi, mas não consegue a prova de que precisaria. Ele estava mais ou menos ligado com uma mulher chamada Sandra... Não me lembro agora de seu sobrenome... Sandra de tal. Seu marido
era dono da pensão local. Ela e o jovem Lesley eram amantes mas, então, Lesley arranjou outra mulher. A coisa foi mais ou menos assim.
- E Sandra não gostou disso?
- Não, não gostou de modo algum. Ele era gamado por mulheres. Tinha umas duas ou três na sua vida.
- Eram todas inglesas?
- Por que o senhor me faz esta pergunta? Não, não acho que se limitasse a moças inglesas, contanto que falassem inglês suficientemente para entender mais ou menos o que ele lhes dissesse e ele as pudesse compreender.
- De vez em quando aparecem moças estrangeiras por aqui?
- É claro que aparecem. Há algum lugar onde não apareçam? Au pair girls - fazem parte da vida diária. Umas feias, outras bonitas, umas honestas, outras desonestas, umas que servem bem a mães atarefadas, outras que não têm nenhuma utilidade e outras que se vão embora.
- Como fez a jovem Olga.
- Como o senhor disse, como fez a Olga.
- Lesley era amigo de Olga?
- Oh, era aí que o senhor queria chegar. Sim, era. Não creio que a sra. Llewellyn-Smythe soubesse muito a respeito disso. Olga me parecia muito cuidadosa. Falava seriamente de alguém com quem esperava se casar algum dia na sua pátria. Não sei se isso era verdade ou se era invenção dela. O jovem Lesley era um sujeito simpático, como já disse. Não sei o que foi que ele viu em Olga... ela não era bonita. "Não obstante"- pensou durante um ou dois minutos - "tinha um quê de grandeza nela. Acho que um jovem inglês poderia achar atrativo nisso". De qualquer maneira, Lesley estava certo, mas suas amigas não ficaram satisfeitas.
- Isso é muito interessante - disse Poirot - Pensei que o senhor pudesse me dar a informação de que precisava.
Michael Garfield olhou para ele com curiosidade.
- Por quê? O que é que há? Que tem Lesley a ver com isso? Por que esse revolvimento do passado?
- Bem, há coisas de que precisamos saber. Precisa mos saber como as coisas aconteceram, onde tiveram origem. Estou mesmo procurando ir mais longe ainda. Antes mesmo de quando os dois, Olga Seminoff e Lesley Ferrier, se encontravam em segredo, sem que a sra. Llewellyn-Smythe soubesse.
- Bem, não estou certo disso. Faço apenas conjeturas. Eu os encontrava freqüentemente, mas Olga não confiava em mim. Quanto a Lesley Ferrier, quase não o conhecia.
- Preciso ir mais além disso. Segundo soube, seu passado não era lá muito limpo.
- Acho que sim. Pelo menos é o que se dizia por aqui. Mr. Fullerton tomou-o a seu serviço, na esperança de torná-lo um homem honesto. É um bom sujeito aquele Mr. Fullerton.
- Seu crime, se não me engano, foi de falsificação, não foi?
- Sim, foi.
- Foi considerado primário, e além disso teria havido circunstâncias atenuantes. Tinha a mãe doente ou o pai beberrão, ou coisa semelhante. De qualquer maneira pegou uma pena leve.
- Nunca soube dos detalhes. Se não me engano, teria subtraído alguma coisa, mas depois vieram os contadores e o pegaram. Sei muito por alto. Apenas na base do ouvi dizer. Falsificação. Essa foi a acusação. Falsificação.
- E quando a sra. Llewellyn-Smythe morreu e seu testamento foi submetido à legitimação, descobriu-se que o testamento tinha sido falsificado.
- Sim, compreendo onde o senhor quer chegar. O senhor está fazendo uma relação entre essas duas coisas. Um homem que lograra sucesso na falsificação. Um homem que se tornara amigo de uma jovem que, se o testamento tivesse sido aceito quando submetido à legitimação, teria herdado a maior parte de uma imensa fortuna.
- Sim, sim, é aí que quero chegar.
- E essa moça e o homem que fez a falsificação eram grandes amigos. Pusera um fim ao seu caso amoroso com sua própria amante por causa da jovem estrangeira.
- O senhor então sugere que o testamento forjado foi falsificado por Lesley Ferrier?
- Parece muito provável, não acha?
- Dizem que Olga sabia imitar a letra da sra. Llewellyn-Smythe, mas isso sempre me pareceu uma coisa duvidosa. Ela fazia cartas à mão para a sra. Llewellyn-Smythe mas não creio que reproduzisse exatamente a caligrafia de sua patroa. Não suficientemente para resistir a um exame superficial. Mas, se ela e Lesley trabalharam juntos, a coisa é diferente. Ousaria dizer que ele seria capaz de impingir um serviço muito bom e estava provavelmente certo de se sair bem. Mas também ele devia estar seguro disso quando cometeu seu primeiro crime e errou, e suponho que tenha errado também dessa vez. Quero crer que, quando a coisa estourou, quando os advogados começaram a criar dificuldades e os peritos foram chamados para examinar as coisas e começaram a fazer indagações, é possível que ela tenha perdido o controle e tenha se desentendido com Lesley. Depois fugiu, deixando-o com a brasa na mão.
Michael Garfield fez um brusco movimento com a cabeça.
- Por que o senhor veio conversar comigo sobre essas coisas aqui no meu belo jardim?
- Porque eu precisava saber.
- É melhor não saber. É melhor nunca saber. É melhor deixar as coisas como estão. Não forçar, não se intrometer e não bisbilhotar.
- O senhor busca o belo - disse Hercule Poirot -, o belo a qualquer preço. Quanto a mim, procuro a verdade, sempre a verdade.
Michael Garfield sorriu.
- Vá ver seu amigo policial e deixe-me em paz no meu paraíso. Afasta-te de mim, Satanás.
CAPÍTULO 21
Poirot subia a colina. Subitamente parou de sentir a dor que tinha nos pés. Alguma coisa lhe sobreviera, a combinação das coisas que pensava e sentia. Embora soubesse que estavam relacionadas, não podia saber como. Ele agora tinha consciência do perigo - perigo que poderia advir para alguém a qualquer minuto, a menos que fossem tomadas as providências para evitá-lo. Grave perigo.
Elspeth McKay veio recebê-lo à porta.
- O senhor parece estafado, sr. Poirot - disse ela. - Entre e sente-se.
- Seu irmão está?
- Não. Foi ao posto. Acho que aconteceu alguma coisa.
- Aconteceu alguma coisa? - perguntou Poirot assustado. - Tão depressa? Não é possível.
- O quê? O que o senhor está dizendo?
- Nada. Nada. Aconteceu alguma coisa a alguém, não foi o que a senhora disse?
- Sim, mas não sei exatamente de que se trata. O certo é que Tim Raglan lhe telefonou e lhe pediu para ir até lá. O senhor aceita uma xícara de chá?
- Não, muito agradecido - respondeu Poirot. – Acho que vou para casa.
Ele não podia encarar a perspectiva do chá preto e amargo. Imaginava uma boa desculpa que disfarçasse qualquer aparência de descortesia.
- Meus pés - explicou. - Meus pés. Não tenho calçados próprios para andar pelo campo. Gostaria de trocar os sapatos.
Elspeth McKay olhou para seus pés.
- É verdade - disse ela. - Realmente não são cômodos. Calçados de couro envernizado apertam os pés. Há uma carta para o senhor, com selo estrangeiro. Vem do exterior aos cuidados do inspetor Spence, Colina dos Pinheiros. Vou buscá-la.
Ela voltou um minuto ou dois depois e lhe entregou a carta.
- Se não fizer questão dos selos, gostaria de ficar com eles para um de meus sobrinhos.
- Naturalmente. - Poirot abriu o envelope e o entregou à sra. McKay, que agradeceu e entrou.
Poirot abriu a carta e leu.
O serviço do sr. Goby no exterior era executado com a mesma eficiência que na Inglaterra. Não poupou despesas e obteve rapidamente os resultados.
Na realidade, os resultados não eram muitos, nem Poirot esperava que fossem.
Olga Seminoff não voltara para sua cidade natal. Não tinha mais parentes ali, apenas uma amiga, uma senhora idosa, com quem se correspondia de vez em quando, dando notícias de sua vida na Inglaterra. Estivera dando-se bem com sua empregadora, que ocasionalmente era exigente, mas que tinha sido também generosa.
As últimas cartas recebidas de Olga eram datadas de cerca de ano e meio. Nelas se fazia menção a um jovem. Havia indícios de que pretendiam casar-se, mas o jovem, cujo nome não era citado, teria ainda, dizia ela, de arrumar sua vida, de modo que não havia ainda nada de certo. Na sua última carta, se dizia feliz com as perspectivas que se descortinavam. Depois, como não escrevesse mais, sua velha amiga supôs que Olga se tivesse casado com o seu inglês e mudado de endereço. Coisas como essas aconteciam freqüentemente com as moças que iam para a Inglaterra. Se se casassem e fossem felizes, muitas vezes nunca mais escreviam.
Ela não se preocupara.
"Isto se encaixa", pensava Poirot. "Lesley lhe havia falado de casamento mas podia não ter a Intenção disso. A sra. Llewellyn-Smythe tinha sido citada como 'generosa'. Lesley recebera dinheiro de alguém, de Olga, talvez (dinheiro que originalmente teria recebido de sua patroa), para induzi-lo a fazer a falsificação para ela".
Elspeth McKay voltou à varanda. Poirot a consultou sobre suas suposições acerca de uma sociedade entre Olga e Lesley.
Ela pensou por alguns instantes. Depois falou o oráculo.
- Se havia essa sociedade, a coisa foi mantida com absoluta reserva. Nunca ouvi qualquer referência com relação aos dois. E num lugar como este é difícil essas coisas passarem despercebidas.
- O jovem Ferrier estava ligado a uma mulher casa da. Ele poderia ter aconselhado a jovem a não dizer nada a seu respeito à sra. Llewellyn-Smythe.
- É bastante provável. A sra. Llewellyn-Smythe, é bem possível, devia saber que Lesley Ferrier era um mau ele mento e aconselharia Olga a não manter relações com ele.
Poirot dobrou a carta e a pôs no bolso.
- Gostaria muito de lhe oferecer uma xícara de chá.
- Não, não, obrigado. Preciso voltar ao hotel e trocar meus sapatos. A senhora não sabe quando seu irmão estará de volta?
- Não tenho nenhuma idéia. Eles não disseram o que queriam dele.
Poirot caminhava ao longo da estrada na direção do hotel. Eram apenas uns cento e poucos metros. Ao chegar à porta da frente, ela se abriu, e a hoteleira, uma mulher de trinta e tantos anos, bastante jovial, veio ao seu encontro.
- Há uma senhora que deseja vê-lo - disse ela. - Está esperando há algum tempo. Eu lhe disse que não sabia exatamente onde o senhor tinha ido ou quando estaria de volta, mas ela disse que esperaria. É a sra. Drake - acrescentou. - Como está agitada; ela normalmente é tão calma! Realmente, acho que está preocupada com alguma coisa. Espera-o na sala de estar. Posso servir-lhe um pouco de chá ou alguma outra coisa?
- Não, acho melhor que não. Prefiro ouvi-la primeiro.
Poirot abriu a porta e entrou na sala. Rowena Drake estava em pé, junto à janela. Não era a janela que dava para a entrada, de modo que não notara sua aproximação. Virou-se abruptamente quando ouviu o som da porta.
- Monsieur Poirot. Finalmente. Pareceu uma eternidade.
- Sinto muito, Madame. Estive no Bosque da Pedreira e depois fui conversar com minha amiga, a sra. Ariadne. Em seguida, procurei os dois rapazes, Nicholas e Desmond.
- Nicholas e Desmond? Ah, sim. Eu me pergunto... oh! a gente imagina todo tipo de coisas.
- A senhora está agitada - disse Poirot gentilmente. Isso era algo que ele jamais imaginara ver: Rowena
Drake agitada. Não era mais senhora dos acontecimentos, não estava mais determinando e impondo suas decisões aos outros.
- O senhor já sabe, não é? - perguntou. - Oh, talvez não tenha ainda sabido.
- Saber o quê?
- Algo terrível. Ele... está morto. Alguém o matou.
- Quem está morto, Madame?
- Então realmente o senhor não sabe? Era apenas uma criança também, e eu pensei... oh, que tola eu fui. Eu devia ter falado. Eu devia ter contado quando me perguntou. Isso me faz sentir terrível... terrivelmente culpa da por ter pensado que sabia mais e pensado... mas tive a melhor das intenções. Monsieur Poirot, realmente tive a melhor das intenções.
- Sente-se, Madame, sente-se. Acalme-se e me conte. Há uma criança morta... outra criança?
- O irmão dela - disse a sra. Drake. - Leopold.
- Leopold Reynolds?
- Sim. Encontraram seu corpo num caminho do campo. Devia estar voltando da escola e deve ter saído da estrada para brincar no riacho que há por perto. Alguém o derrubou dentro do riacho e segurou sua cabeça dentro da água.
- A mesma espécie de coisa que fizeram com Joyce?
- Sim, sim. Posso compreender que deve ser... deve ser coisa de algum louco. E não se sabe quem é, isso é que é terrível. Não se tem a mínima idéia. E eu pensei que soubesse. Realmente eu pensava... eu suponho, sim era uma coisa horrível.
- A senhora deve me contar, Madame.
- Sim, preciso lhe contar. Foi para isso que vim aqui. Porque, o senhor compreende, o senhor me procurou depois de uma conversa com Elizabeth Whittaker. Depois que ela lhe disse que eu tinha me assustado com alguma coisa. Que eu tinha visto algo. Alguma coisa no corredor da casa, de minha casa. Eu lhe disse que não tinha visto nada e que nada me havia assustado, o senhor compreende, pensava...
E parou.
- O que foi que a senhora viu?
- Eu já devia ter lhe contado. Eu vi a porta da biblioteca abrir-se, abrir-se lentamente, e, em seguida, ele saiu. Pelo menos, não saiu de todo. Ele ficou apenas no vão da porta e depois a fechou rapidamente e voltou para dentro.
- Mas quem era?
- Leopold. Leopold, a criança que acaba de ser encontrada morta. E o senhor compreende, eu pensei que... oh, que engano, que engano terrível. Se eu lhe tivesse dito, quem sabe, talvez o senhor tivesse descoberto o que
estava por detrás disso.
- A senhora pensou? - perguntou Poirot. – Pensou que Leopold tivesse matado a irmã? Foi isso que a senhora pensou?
- Sim, foi o que pensei. Não no momento, é claro, porque eu não sabia que ela estava morta. Mas ele tinha um ar estranho. Aliás, Leopold era uma criança esquisita. De certo modo todos tinham um pouco de receio dele, porque a gente percebia que não era muito certo. Muito
inteligente e alto Q.I., mas, em compensação, não era mentalmente equilibrado.
- E pensei: "Por que Leopold está saindo dali em vez de estar na sala da boca-do-dragão?" E fiquei ainda a pensar: "O que estaria fazendo... tem um olhar tão estranho!" E depois, bem, depois não pensei mais nisso, mas
suponho, a maneira como me olhou me trouxe um sobressalto. Foi por isso que deixei cair o vaso. Elizabeth me ajudou a juntar os cacos de vidro e voltei para a sala da boca-do-dragão e não pensei mais nisso. Até que encontramos Joyce. E foi aí que pensei...
- Que fora Leopold que a matara.
- Exatamente. Pensei assim, Achei que isso explicava a maneira como me olhou. Pensei que eu soubesse. Eu sempre penso... tenho pensado demais na minha vida que eu sei tudo, que estou sempre com a razão. E posso estar muito errada. Pois, o senhor compreende, a morte dele deve significar coisa muito diferente. Ele deve ter entrado ali onde a encontrou... morta... e isso lhe causou um terrível choque e teria ficado aterrorizado. E por isso quis sair da sala sem que ninguém o visse e suponho que tenha espiado e me visto, por isso voltou para dentro da sala, fechou a porta e esperou que o corredor estivesse vazio para sair. Mas não porque a tivesse matado. Não. Apenas o choque de tê-la encontrado morta.
- E, não obstante, a senhora não disse nada? A senhora não mencionou quem era que a senhora vira, mesmo depois de descoberto o crime?
- Não. Oh, eu não podia. Ele é... o senhor compreende, é tão jovem... era tão criança. Dez. Dez... no máximo 11 anos e, por que não dizer... achei que não podia saber o que estava fazendo, que podia não ter sido culpa sua. Talvez não fosse moralmente responsável. Ele sempre fora um tanto esquisito e pensei, quem sabe, talvez se pudesse conseguir um tratamento para ele. Não deixemos tudo com a polícia, Nada de mandá-lo para casas de correção. Pensei que se pudesse conseguir um
tratamento psicológico especial para ele, se necessário. Minha intenção... minha intenção era boa. Creia-me, Monsieur Poirot, minha intenção era a melhor possível.
"Palavras tristes aquelas", pensava Poirot, "umas das palavras mais tristes do mundo". A sra. Drake parecia saber o que ele estava pensando.
- Sim - repetia ela -, fiz o que pude. Com a melhor das intenções. A gente sempre pensa que sabe o que é melhor para os outros, mas não sabe. Porque, o senhor compreende, a razão de sua perplexidade deve ter sido o fato de ter visto quem era o assassino, ou de ter visto algo
que daria uma pista para a identificação do suposto assassino. Algo que fez com que o criminoso duvidasse de sua própria segurança. E assim... e assim ele esperou apanhar o menino sozinho e depois o afogou no riacho, para que não falasse, para que não pudesse contar. Se eu lhe tivesse falado, se lhe tivesse falado ou à polícia, ou a alguém, mas pensei que estava certa.
- Só hoje - disse Poirot, depois de sentar em silêncio, por alguns instantes, observando a sra. Drake, que controlava seus soluços - soube que Leopold vivia ultimamente cheio de dinheiro. Alguém devia estar pagando para mantê-lo calado.
- Mas quem... quem?
- Descobriremos - respondeu Poirot. - Não estamos longe disso.
CAPÍTULO 22
Não era muito próprio de Hercule Poirot pedir a opinião dos outros. Em geral se satisfazia com as suas próprias opiniões. Não obstante, de vez em quando abria exceções. Desta vez era uma delas. Ele e Spence conversaram brevemente e, em seguida, Poirot entrou em contato com um serviço de aluguel de carro e, depois de mais uma breve conversa com seu amigo e com o inspetor Raglan, partiu. Acertara com o carro para conduzi-lo de volta a Londres, mas fez uma parada no caminho. Dirigiu-se ao Elms. Disse ao motorista do carro que não se demoraria - uns 15 minutos, no máximo - e, em seguida, pediu para falar com a srta. Emlyn.
- Sinto muito incomodá-la a esta hora. Não há dúvida de que deve ser a hora de seu jantar.
- Bem, estou certa, Monsieur Poirot, de que o senhor não me incomodaria nem na hora do jantar nem em qualquer hora se não tivesse uma razão válida para o fazer.
- É muita bondade de sua parte, Para ser franco, preciso de seu conselho.
- Conselho?
A srta. Emlyn mostrou-se um tanto surpresa. Mais do que surpresa, um tanto cética mesmo.
- Isso não é muito próprio do senhor, Monsieur Poirot. Não está em geral sempre satisfeito com suas próprias opiniões?
- Sim, estou satisfeito com minhas opiniões, mas seria para mim conforto e apoio se a opinião de alguém que eu respeitasse concordasse com as minhas.
A srta. Emlyn não disse nada. Olhou-o apenas com uma expressão inquiridora.
- Eu sei quem matou Joyce Reynolds - disse ele. - E estou certo de que a senhora também sabe.
- Eu não disse isso - observou a srta. Emlyn.
- Sim, a senhorita não disse. E isso me leva a crer que se trata apenas de uma opinião.
- Uma intuição? - perguntou a srta. Emlyn, num tom mais frio do que nunca.
- Eu preferiria não usar essa palavra. Preferiria dizer que a senhorita teria uma opinião formada.
- Está bem. Admito que tenho uma opinião formada, o que não significa que deva expressá-la.
- O que gostaria de fazer, Mademoiselle, é escrever quatro palavras num pedaço de papel. Depois a senhorita me diria se concorda com elas.
A srta. Emlyn levantou-se, atravessou a sala na direção de sua mesa, apanhou um pedaço de papel e se dirigiu a Poirot.
- O senhor me excita a curiosidade - disse ela. - Quatro palavras.
Poirot tirou a caneta do bolso. Escreveu no papel, dobrou-o e o passou à srta. Emlyn. Ela o recebeu, abriu-o e o segurou na mão, lendo-o.
- De acordo? - perguntou Poirot.
- Quanto a duas das palavras, concordo, sim. Quanto às outras, acho mais difícil. Não tenho prova e, na realidade, a idéia não me entra na cabeça.
- Mas, no caso das duas primeiras palavras, a senhorita teria uma prova definida?
- Acho que sim.
- A água - disse Poirot, pensativo. - Logo que a senhorita soube disso, ficou sabendo. Logo que eu soube disso, fiquei sabendo. A senhorita está certa, e eu também. E agora - continuou Poirot -, um menino foi afogado num riacho. Já soube disso?
- Sim. Uma pessoa me telefonou dizendo. O irmão de Joyce. Como se envolveu nisso?
- Ele queria dinheiro - disse Poirot. - Ele sabia. De modo que, na primeira oportunidade, foi afogado num riacho.
Sua voz não se alterou. Seu tom, porém, era bastante áspero.
- A pessoa que me contou - disse ele - estava cheia de compaixão. Emocionalmente agitada. Mas eu não sou assim. Ele era uma criança, o segundo filho perdido, mas sua morte não foi um acidente. Foi, como muitas coisas da vida, o resultado de suas ações. Queria dinheiro e correu os riscos. Era bastante inteligente, bastante sagaz para compreender que estava correndo risco, mas queria dinheiro. Tinha dez anos de idade, mas causa e efeito são a mesma coisa nessa idade como seriam aos trinta, cinqüenta ou noventa anos. A senhorita sabe bem o que penso primeiramente em casos como esses?
- Acho que sei - respondeu a srta. Emlyn. - O senhor se preocupa mais com a justiça do que com a compaixão.
- A compaixão da minha parte em nada ajudaria Leopold. Ele já não pode ser mais ajudado. A justiça, se conseguirmos a justiça, a senhorita e eu, pois acho que pensa da mesma maneira que eu, a justiça, pode-se dizer, não ajudará a Leopold tampouco. Mas poderia ajudar algum outro Leopold, poderia ajudar a salvar alguma outra
criança, se a conseguirmos o mais cedo possível. O negócio não é simples. Um assassino que matou mais de uma vez, para quem o crime se tornou um meio de segurança. Estou indo a Londres onde me encontrarei com certas pessoas para discutirmos a maneira de investir. Espero convertê-las ao meu ponto de vista neste caso.
- O senhor vai ter dificuldades - disse Emlyn.
- Não. Acho que não. Os caminhos e meios para lá chegar podem ser difíceis, mas acho que posso convertê-las à minha versão sobre o que aconteceu. Elas têm inteligência para compreender a mente criminosa. Só há ainda uma coisa que gostaria de lhe perguntar. Preciso de sua
opinião. Só sua opinião dessa vez, não provas. Sua opinião sobre o caráter de Nicholas Ranson e Desmond Holland. Acha que posso confiar neles?
- Eu diria que ambos são inteiramente dignos de confiança. É minha opinião. São, sob vários aspectos, uns loucos, mas isso apenas com relação às frivolidades da vida. Fundamentalmente, são sadios. Sadios como uma maçã sem larvas.
- Voltamos sempre às maçãs - disse Hercule Poirot com uma expressão de tristeza. - Preciso ir. O carro está esperando. Tenho ainda uma visita a fazer.
CAPÍTULO 23
- Sabe o que está se passando no Parque da Pedreira? - perguntou a sra. Cartwright, pondo um pacote de flocos dentro de sua sacola de compras.
- No Parque da Pedreira? - perguntou Elspeth McKay, a quem ela se dirigia. - Não, não ouvi nada de extraordinário.
Escolheu um pacote de cereal. As duas senhoras estavam fazendo suas compras matinais no supermercado recentemente aberto.
- Estão dizendo que as árvores ali são perigosas. Esta manhã chegaram dois silvicultores. É do lado da colina onde há uma encosta íngreme e uma árvore inclinada para um lado. É possível que alguma árvore possa tombar ali. Uma delas foi atingida por um raio no último inverno, mas acho que foi muito mais acima. De qualquer maneira, estão cavando um bocado ao redor das raízes das árvores e para baixo também. É pena. Vão fazer uma mixórdia ali.
- Ah, bem - disse Elspeth McKay-, espero que saibam o que estão fazendo. Alguém deve tê-los chamado, naturalmente.
- Puseram também dois policiais ali para não deixar ninguém se aproximar. Falam em descobrir primeiramente quais as árvores doentes.
- Compreendo - disse Elspeth McKay.
Ê possível que compreendesse. Não que ninguém lhe tivesse dito, mas Elspeth nunca precisava que se lhe dissessem as coisas.
Ariadne alisava um telegrama que acabara de lhe ser entregue à porta. Estava tão habituada a receber telegramas pelo telefone, procurando freneticamente um lápis para anotá-los, insistindo firmemente para que lhe mandassem uma cópia de confirmação, que ficou muito espantada ao receber o que ela chamava para si mesma um "telegrama de verdade".
Queira levar senhora Butler e Miranda para seu apartamento imediatamente. Não há tempo perder importante ver médico para operação.
A sra. Oliver entrou na cozinha onde Judith Butler fazia doce de marmelo.
- Judy - disse ela -, vá arrumar algumas coisas. Estou voltando para Londres e você irá comigo, e Miranda também.
- É muita bondade sua, Ariadne, mas tenho muita coisa para fazer aqui. De qualquer maneira, você não precisa ir hoje mesmo, não é?
- Sim, preciso. Já avisei a...
- A quem você avisou?... à sua empregada?
- Não - respondeu a sra. Oliver. - A alguém. A uma das poucas pessoas a quem obedeço. Vamos. Vamos, de pressa.
- Mas eu não quero sair de casa agora. Não posso.
- Você tem de ir - disse a sra. Oliver. - O carro está pronto. Já o coloquei perto da porta de entrada. Podemos partir imediatamente.
- Não acho que deva levar Miranda. Poderia deixá-la aqui com alguém, com os Reynolds ou com Rowena Drake.
- Miranda também vai - interrompeu a sra. Oliver, em tom decisivo. - Não crie dificuldades, Judy. O negócio é sério. Não compreendo como você pode ainda pensar em deixá-la com os Reynolds. Dois dos Reynolds foram mortos, não foram?
- Bem, isso é verdade. Você acha que há algo de errado naquela casa? Quero dizer, há alguém ali que... oh, o que estou dizendo?
- Estamos falando demais - disse a sra. Oliver. – De qualquer maneira - acrescentou -, se alguém vai ser morto, parece-me que a pessoa mais provável seria Ann Reynolds.
- O que é que há com essa família? Por que devem ser mortos todos, um depois do outro? Oh, Ariadne, isso é horripilante.
- Sim - concordou a sra. Oliver —, mas há momentos em que é compreensível que se tenha medo. Acabei de receber um telegrama e estou agindo de acordo com ele.
- Oh, eu não ouvi o telefone tocar.
- Não veio pelo telefone. Foi entregue pessoalmente.
Ela hesitou por alguns instantes e em seguida passou o telegrama à sua amiga.
- O que é que significa? Operação?
- Amígdalas, provavelmente - respondeu a sra. Oliver. - Miranda teve dor de garganta na semana passada, não teve? Então, que coisa mais conveniente do que levá-la a Londres para consultar um otorrinolaringologista?
- Você está louca, Ariadne?
- Louca furiosa, provavelmente - disse a sra. Oliver. -Vamos. Miranda gostará de Londres. Não se preocupe. Ela não vai ser operada. Isso é o que se chama de "cobertura" nas histórias de espionagem. Nós a levaremos a um teatro, ou a uma ópera, ou a um ballet, a qualquer coisa que ela prefira. A meu ver, o melhor seria levá-la ao ballet.
- Estou amedrontada - disse Judith.
Ariadne Oliver olhou para sua amiga. Ela tremia um pouco. "Nunca", pensou ela, "se parecera tanto com Ondina. Parecia divorciada da realidade"
- Vamos - disse a sra. Oliver. - Prometi a Hercule Poirot que as levaria quando ele mandasse. Bem, ele mandou.
- O que está acontecendo aqui? - perguntou Judith. - Não posso pensar por que vim parar aqui.
- Eu também às vezes me pergunto por que você veio parar aqui - disse a sra. Oliver -, mas não há explicação por que a gente mora aqui ou acolá. Um amigo se mudou, outro dia, para Moreton-in-the-Marsh. Perguntei-lhe por que foi morar ali. Ele me disse que sempre desejou morar naquele lugar. Para onde quer que fosse, pensava sempre em ir para lá. Disse-lhe que nunca tinha estado naquela localidade, mas minha impressão é de que deveria ser muito úmida. Perguntei-lhe como era realmente. Respondeu-me dizendo que não sabia ainda exatamente como era porque ele próprio não conhecia o lugar. Mas sempre quis ir morar lá. E trata-se de uma pessoa sensata.
- E foi?
- Foi.
- E gostou quando chegou lá?
- Bem, não estive com ele depois - respondeu a sra. Oliver. - Mas, sabe, as pessoas são muito estranhas, não são? As coisas que querem fazer, as coisas que simples mente têm de fazer... - foi ao jardim e chamou Miranda: - Miranda, vamos a Londres.
Miranda veio caminhando lentamente na direção delas.
- Londres?
- Ariadne vai nos levar lá - respondeu sua mãe. - Vamos ao teatro. A sra. Oliver acha que pode conseguir uns bilhetes para o ballet. Você gostaria de ir ao ballet?
- Adoraria - respondeu Miranda. Seus olhos brilharam. - Preciso primeiro despedir-me de uma de minhas amigas.
- Mas já estamos quase saindo.
- Não me demorarei, mas preciso explicar. Eu tinha prometido fazer umas coisas.
Ela saiu correndo pelo jardim e desapareceu no portão.
- Quais são as amigas de Miranda? - perguntou a sra. Oliver, com certa curiosidade.
- Na verdade, nunca sei - respondeu Judith. – Ela não me diz as coisas, sabe. Às vezes penso que as únicas coisas que ela considera como suas amigas são os pássaros do parque. Ou os esquilos, ou coisas semelhantes. Acho que todo o mundo gosta dela, mas não sei se cultiva
amizades particulares. Isto é, ela não traz meninas para tomar chá e coisas semelhantes. Não faz como as outras meninas. Penso que sua melhor amiga era realmente Joyce Reynolds - e acrescentou vagamente: - Joyce lhe contava histórias interessantes sobre elefantes e tigres - pôs-se de pé. - Bem, preciso subir para arrumar algumas coisas, já que você insiste. Mas não quero sair daqui. Vou deixar muitas coisas pela metade, como o doce de marmelo que estava fazendo e...
- Você tem de vir - disse a sra. Oliver, num tom enfático e categórico.
Judith descia com duas maletas quando Miranda entrava pela porta lateral, resfolegando.
- Não vamos almoçar primeiro? - perguntou. Apesar de sua aparência silvestre, era uma criança sadia que gostava de comer.
- Pararemos no caminho para almoçar - disse a sra. Oliver. - Faremos uma parada no The Black Boy, em Haversham. Fica a cerca de 45 minutos daqui. E é um bom restaurante. Vamos, Miranda, estamos saindo agora mesmo.
- Não terei tempo de dizer a Cathie que não posso ir com ela ao cinema amanhã. Oh, talvez eu possa me comunicar com ela pelo telefone.
- Bem, então ande depressa.
Miranda correu para a sala de estar, onde estava o telefone. Judith e a sra. Oliver arrumavam as maletas no carro. Miranda saiu da sala de estar.
- Deixei um recado - disse quase sem fôlego. – Está tudo bem.
- Eu acho que você é louca, Ariadne - disse Judith ao entrarem no carro. - Louca de verdade. O que é que está acontecendo?
- Saberemos no devido tempo, suponho - respondeu a sra. Oliver. - Não sei se a louca sou eu ou se é ele.
- Ele? Quem?
- Hercule Poirot.
Em Londres, Hercule Poirot estava sentado numa sala com quatro senhores. Um era o inspetor Timothy Raglan, respeitoso e impassível como de costume, quando na presença de seus superiores; o segundo, o inspetor Spence. O terceiro era Alfred Richmond, chefe de polícia do condado; e o quarto, um homem de cara fechada, da Procuradoria da Justiça. Todos olhavam Hercule Poirot com expressões diversas, ou com o que se poderia chamar de fisionomias impassíveis.
- O senhor parece muito seguro, Monsieur Poirot.
- Estou muito confiante - disse Hercule Poirot. - Quando as coisas se encaixam desse jeito, a gente percebe que deve ser assim mesmo. Só procuramos razões para explicar por que as coisas não devem ser de certa forma. Se não encontramos razões que expliquem por que as coisas não devem ser assim, nossa opinião se consolida.
- Os motivos parecem um tanto complexos, por assim dizer.
- Não - disse Poirot. - Não são tão complexos. São tão simples que chega a ser difícil ver claramente.
O advogado mostrava-se cético.
- Teremos dentro de poucos momentos uma prova definitiva - disse o inspetor Raglan. - Naturalmente, se houver um equívoco nesse ponto...
- Ding dong dell, o gatinho não está no poço? – disse Hercule Poirot. - É isso que você está pensando?
- O senhor há de convir que se trata apenas de uma suposição sua.
- As circunstâncias, porém, a confirmam. Quando uma moça desaparece, não há muitas razões para isso. Ou se foi com algum homem ou morreu. Qualquer outra razão é muito rebuscada e praticamente nunca acontece.
- Há ainda algum ponto especial que lhe tenha chamado a atenção, Monsieur Poirot?
- Sim. Estive em contato com uma conhecida firma imobiliária. Amigos meus que se especializaram em negócios imobiliários nas Índias Ocidentais, no Mar Egeu, no Adriático, no Mediterrâneo e em outros lugares. Especializaram-se em luz solar e seus clientes geralmente são ricos. Eis uma recente compra que lhes poderia interessar.
E lhe passou um papel dobrado.
- O senhor acha que isso tem alguma relação?
- Com certeza.
- Eu pensei que a venda de ilhas estivesse proibida por aquele governo.
- O dinheiro em geral resolve tudo.
- Não há nada mais em que o senhor se pudesse deter?
- É possível que dentro de 24 horas eu lhes possa apresentar algo que esclarecerá mais ou menos o assunto.
- O que é?
- Uma testemunha ocular.
- O senhor quer dizer...
- Uma testemunha ocular do crime.
O jurista olhava para Poirot com crescente ceticismo.
- Onde se encontra essa testemunha agora?
- A caminho de Londres, espero e confio.
- O senhor parece... preocupado.
- É verdade. Fiz o que pude para controlar os acontecimentos, mas devo confessar que estou temeroso. Sim, temeroso, apesar das medidas protetoras que tomei. Pois, os senhores sabem, estamos... como direi? Estamos diante da crueldade, de reações rápidas, de uma ambição levada além dos prováveis limites humanos e talvez... não estou certo disso, mas acho-o possível... de uma dose de loucura. Não uma loucura original, mas cultivada. Uma semente que criou raízes e
cresce rapidamente. E agora talvez tenha escapado ao controle, inspirando uma atitude desumana em vez de uma atitude humana.
- Teremos de obter algumas opiniões extras sobre o assunto - disse o jurista. - Não nos devemos precipitar. É claro que grande parte depende do trabalho dos silvicultores. Se forem positivos, poderemos prosseguir; se negativo, teremos de reconsiderar.
Hercule Poirot levantou-se.
- Eu me despeço. Já lhes disse tudo que sabia e tudo que temo e que encaro como possível. Permanecerei em contato com os senhores.
Apertou a mão de cada um com precisão estrangeira e se retirou.
- Esse sujeito é um bocado charlatão - disse o jurista. - Vocês não acham que é um pouco amalucado? Que tem alguns parafusos de menos ou de mais? Em todo caso, já está bastante idoso. Não sei até que ponto se pode confiar nas faculdades de um homem nessa idade.
- Sou de opinião de que o senhor deve confiar nele - disse o chefe de polícia. Pelo menos, esta é a minha impressão. Spence, eu o conheço há muitos anos. Você é seu amigo. Acha que ele esteja um pouco senil?
- Não, não creio - respondeu o inspetor Spence. - Qual é sua opinião, Raglan?
- Conheci-o recentemente, Sir. A princípio, bem, achei suas idéias um tanto extravagantes. Mas, de modo geral, estou com ele. Tenho a impressão de que haverá de provar que está com a razão.
CAPÍTULO 24
A sra. Oliver refestelou-se a uma mesa junto à janela do The Black Boy. Era ainda muito cedo, de modo que a sala não estava cheia. Naquele momento, Judith Butler, que acabava de voltar do banheiro, onde fora empoar-se, sentava-se do outro lado da mesa e examinava o cardápio.
- De que é que Miranda gosta? - perguntou a sra. Oliver. Poderíamos escolher para ela. Não deve demorar-se.
- Ela gosta de galinha assada.
- Bem, então está fácil. E você?
- A mesma coisa.
- Três galinhas assadas - encomendou a sra. Oliver. E inclinou-se para trás, estudando sua amiga.
- Por que me olha assim?
- Estava pensando - disse a sra. Oliver.
- Pensando o quê?
- Pensando realmente como sabia tão pouco a seu respeito.
- Bem, isso acontece com todo o mundo, não é?
- Você quer dizer que nunca se sabe tudo sobre alguém?
- Eu não diria isso.
- Talvez você tenha razão - disse a sra. Oliver. Ambas ficaram caladas por alguns instantes.
- Como eles demoram a servir.
- Acho que já estão trazendo - disse a sra. Oliver. Um garçom chegou com uma bandeja cheia de pratos.
- Miranda está demorando demais. Será que ela não sabe onde é a sala de jantar?
- Naturalmente que sabe. Vê-se da estrada. Judith levantou-se impaciente.
- Vou atrás dela.
- Quem sabe se não está enjoada?
- Quando mais jovem costumava enjoar.
Judith Butler voltou quatro ou cinco minutos depois.
- Ela não está no lavatório de senhoras - disse ela. - Há uma porta que dá para o jardim. Talvez tenha saído para ir ver algum passarinho ou qualquer coisa. Ela gosta disso.
- Não há tempo hoje para olhar passarinhos - disse a sra. Oliver. - Vá atrás dela. Não podemos perder tempo.
Elspeth McKay furou algumas salsichas com um garfo, arrumou-as numa assadeira, abriu a geladeira, colocou-as lá dentro e começou a descascar batatas.
O telefone tocou.
- Sra. McKay? É o sargento Goodwin quem está falando. Seu irmão está?
- Não. Está em Londres hoje.
- Telefonei para ele lá, mas já saiu. Quando voltar, diga-lhe que obtivemos resultado positivo.
- Quer dizer que encontraram um corpo no poço?
- Não adianta manter a reserva. A notícia já se espalhou.
- Quem é? A au pair girl?
- Parece que sim.
- Pobre moça - disse Elspeth. - Ela se teria atirado ou o quê?
- Não foi suicídio. Foi apunhalada. Assassinato de verdade.
Miranda esperou um ou dois minutos, depois que sua mãe saiu do lavatório de senhoras. Em seguida abriu a porta, esgueirou-se cuidadosamente, abriu a porta lateral que dava para o jardim e saiu correndo para o fundo na direção do que outrora fora uma pousada de carruagens e hoje era uma garagem. Passou por uma pequena porta que dava acesso a uma passagem de pedestre para uma pista exterior. Um pouco mais adiante, na pista, um carro estava estacionado. Um homem com sobrancelhas hirsutas e grisalhas e barba cinza estava sentado no banco dianteiro, lendo um jornal. Miranda abriu a porta e sentou-se ao lado do motorista. Ela sorria.
- Você está alegre.
- Sim, muito alegre. Não há nada que o detenha.
O carro partiu, desceu a estrada, virou à direita, virou à esquerda, virou à direita novamente e entrou numa estrada secundária.
- Estamos com bastante tempo - disse o homem de barba grisalha. - No momento exato você verá o machado duplo como deve ser visto. E Kilterbury Down, também. Uma vista maravilhosa.
Um carro enlameado passou tão perto deles que foram quase imprensados contra a cerca.
- Idiotas - disse o homem de barba cinza.
Um dos jovens tinha os cabelos tão compridos que lhe cobriam os ombros e trazia óculos grandes e arredondados. O outro tinha a aparência mais espanhola, com costeletas.
- Você não acha que mamãe vai ficar preocupada comigo?
- Ela não terá tempo para pensar em você. Enquanto se preocupa, você chegará aonde quer ir.
Em Londres, Hercule Poirot atendeu o telefone. A voz era da sra. Oliver.
- Perdemos Miranda.
- O que está dizendo? Perderam-na?
- Estávamos almoçando no The Black Boy. Ela foi ao lavatório e não voltou. Alguém disse que a viu saindo num carro com um senhor idoso. Mas não poderia ter sido ela. Deve ter sido outra pessoa. E...
- Alguém devia ter ficado com ela. Nenhuma de vocês deveria tê-la perdido de vista. A sra. Butler está muito preocupada?
- Naturalmente. O que é que o senhor acha? Ela está desvairada. Insiste em avisar a polícia.
- Está certa. É o que se deve fazer. Eu também vou telefonar.
- Mas por que Miranda estaria em perigo?
- A senhora não sabe? A esta altura já devia saber - e acrescentou: - O corpo foi encontrado. Acabo de ser informado.
- Que corpo?
- Um corpo no poço.
CAPÍTULO 25
- Que lindo - disse Miranda olhando em torno dela.
Kilterbury Ring era um ponto de beleza local, embora suas ruínas não fossem particularmente famosas. Tinham sido destruídas havia centenas de anos. Não obstante, havia ainda aqui e ali uma pedra megalítica, ereta, como um testemunho de um culto ritual num passado distante, Miranda fazia perguntas.
- Por que eles botaram todas essas pedras aqui?
- Para o ritual. O culto ritual. Sacrifício ritual. Você sabe o que é sacrifício, Miranda?
- Acho que sim.
- Tem que haver, compreende. É importante.
- Você quer dizer que não é uma espécie de punição? É algo mais?
- Sim, é algo mais. Morre-se para que outros possam viver. Morre-se para que o belo sobreviva. Para que venha a ser. Isso é uma coisa importante.
- Eu pensei...
- O que é que você pensou, Miranda?
- Eu pensei que você talvez devesse morrer pois o que você fez causou a morte de mais alguém.
- Que é que lhe deu na cabeça?
- Estava pensando em Joyce. Se eu não lhe tivesse contado uma certa coisa, ela não teria morrido, teria?
- Talvez não.
- Tenho estado preocupada desde a morte de Joyce. Não tinha necessidade de lhe contar aquilo, não é? Eu lhe contei porque eu queria ter alguma coisa de valor para lhe contar. Ela estivera na Índia e contava sempre todo tipo de histórias com tigres e elefantes, com suas colgaduras douradas, suas decorações e seus arreios. E penso também... de repente queria que alguém mais soubesse, porque, sabe, realmente eu não tinha pensado nisso antes - e acrescentou. - Aquilo... aquilo também foi um
sacrifício?
- De certo modo.
Miranda permaneceu pensativa durante um certo tempo. Em seguida, perguntou:
- Não é hora ainda?
- O sol não está ainda no ponto. Mais uns cinco minutos, talvez, e seus raios incidirão diretamente sobre a pedra.
Mais uma vez ficaram calados, ao lado do carro.
- Agora, acho - disse o companheiro de Miranda, olhando o céu onde o sol desaparecia no horizonte. - Agora é um momento maravilhoso. Ninguém aqui. Ninguém vem a esta hora do dia passear até o pico de
Kilterbury Down para ver Kilterbury Ring. Faz frio de mais em novembro e não há mais cerejas. Eu lhe mostra rei primeiro o machado duplo sobre a pedra, esculpido ali quando eles vieram de Micenas ou de Creta, há centenas de anos. Não é maravilhoso, Miranda, não é?
- Sim, é maravilhoso - disse Miranda. - Mostre-me o machado.
Caminharam até a pedra mais alta. Além dela, havia uma pedra caída e um pouco mais adiante, na rampa, uma um pouco mais inclinada, como que vergada com o peso dos anos.
- Você se sente feliz, Miranda?
- Sim, muito feliz.
- Há um sinal aqui.
- É este realmente o machado duplo?
- Sim, está gasto com o tempo, mas é ele. Eis ali o símbolo. Ponha sua mão em cima dele. E agora... agora brindaremos ao passado, ao futuro e ao belo.
- Oh, que beleza - disse Miranda.
Um cálice de ouro foi posto em suas mãos, e seu companheiro despejou dentro dele um líquido dourado de um frasco.
- Tem o gosto de fruta, de pêssego. Beba-o, Miranda, e você será ainda mais feliz.
Miranda pegou o cálice dourado e o cheirou.
- Sim, tem cheiro de pêssego. Oh, olha, olha o sol. Realmente dourado avermelhado... como se jazesse na orla do mundo.
Ele a voltou na direção do sol.
- Segure o copo e beba.
Miranda virou-se obedientemente. Tinha ainda uma mão sobre a pedra megalítica e seu sinal semi-apagado. Seu companheiro agora estava em pé atrás dela. De lá de baixo, na pedra inclinada, duas figuras esgueiravam-se, meio encurvadas. Miranda e seu companheiro lá em cima, de costas, não as perceberam. Rápida mas furtivamente subiram a encosta.
- Um brinde à beleza, Miranda.
- Não beba! - gritou uma voz atrás deles.
Um paletó de veludo cor-de-rosa caiu sobre uma cabeça, uma faca foi arrancada com uma pancada na mão que se levantava lentamente. Nicholas Ranson segurou Miranda, apertando-a e arrastando-a para longe dos outros dois que se batiam.
- Garota idiota - disse Nicholas Ranson. - Vir aqui com um assassino maluco. Você devia saber o que estava fazendo.
- E de certo modo o sabia - disse Miranda. - Eu ia ser sacrificada porque, sabe, a culpa foi toda minha. Foi por minha causa que Joyce morreu. Portanto, era justo que eu fosse sacrificada, não era? Seria uma espécie de morte ritual.
- Pare de falar tolices de morte ritual. Aquela moça foi encontrada. Aquela au pair girl, sabe, que há muito tempo estava desaparecida. Há cerca de dois anos mais ou menos. Todos pensavam que ela tinha fugido por ter forjado um testamento. Não fugira coisa nenhuma. Seu corpo foi encontrado no poço.
- Oh! - Miranda deu um grito súbito de angústia. - Não foi no poço do desejo, foi? Não foi no poço do desejo que eu tanto queria encontrar, não? Não, não quero que ela esteja no poço do desejo. Quem... quem a pôs ali?
- A mesma pessoa que a trouxe aqui.
CAPÍTULO 26
Mais uma vez quatro homens se sentaram olhando Poirot. Timothy Raglan, o inspetor Spence e o chefe de polícia tinham o olhar de um gato, que aguarda esperançoso um pires de leite. O quarto homem tinha ainda a expressão de quem não formara uma opinião definitiva.
- Bem, sr. Poirot - disse o chefe de polícia, dando início ao processo e deixando ao procurador da Justiça o encargo de sintetizar os acontecimentos. - Estamos todos aqui...
Poirot fez um gesto com a cabeça. O inspetor Raglan saiu da sala e voltou conduzindo uma senhora de trinta e poucos anos, uma menina e dois adolescentes.
Ele os apresentou ao chefe de polícia.
- Sra. Butler, srta. Miranda Butler, sr. Nicholas Ranson e sr. Desmond Holland.
Poirot levantou-se e tomou Miranda pela mão.
- Sente-se aqui ao lado de sua mãe, Miranda. O sr. Richmond, que é o que se chama de chefe de polícia, deseja fazer-lhe algumas perguntas. Ele quer que você responda a todas. Diz respeito a algo que você viu... há cerca de um ou quase dois anos. Você contou isso a uma pessoa e, segundo me consta, só a uma pessoa. Está certo?
- Eu contei a Joyce.
- O que foi que você lhe contou exatamente?
- Que eu tinha assistido a um assassinato.
- Você contou isso a alguém mais?
- Não. Mas eu acho que Leopold fazia conjeturas. O senhor sabe, ele escutava, escutava atrás das portas. Coisas assim. Gostava de saber dos segredos dos outros.
- Você ouviu dizer que Joyce Reynolds, na tarde antes da festa de Halloween, dizia ter visto ela mesma um crime ser cometido. Era verdade?
- Não. Ela estava apenas repetindo o que eu lhe contara... mas como se tivesse acontecido com ela mesma.
- Você poderia contar-nos exatamente o que você viu?
- De início eu não sabia que era um assassinato. Pensei que tivesse sido um acidente. Pensei que ela tivesse caído de algum lugar alto.
- Onde foi isso?
- No Jardim da Pedreira... Lá na depressão onde havia uma fonte. Eu estava em cima dos galhos de uma árvore. Observava um esquilo e, nesse caso, a gente tem de ficar quieta, ou eles correm. Os esquilos são muito velozes.
- Diga-nos o que você viu.
- Um homem e uma mulher a levantaram e a carregaram para a estrada. Eu pensei que a estivessem levando para um hospital ou para a Mansão da Pedreira. Então a mulher parou repentinamente e disse: "Alguém está nos observando", e olhou para a árvore onde eu estava.
Por qualquer razão tive medo. Por isso fiquei bem quieta onde estava. O homem disse: "Bobagem." E continuaram. Eu vi que havia sangue num pedaço de pano e uma faca suja de sangue sobre ele. Então pensei que talvez alguém tivesse tentado se matar... E continuei bem quieta.
- Por que estava com medo?
- Não sei por quê.
- Você contou isso à sua mãe?
- Não. Eu pensei talvez que não devia estar ali espiando. E depois, no dia seguinte, ninguém falou nada sobre o acidente, de modo que acabei esquecendo-o. Nunca mais pensei nisso até...
Parou subitamente. O chefe de polícia abriu a boca... Depois a fechou. Ele olhou para Poirot e fez um gesto quase imperceptível.
- Sim. Miranda - disse Poirot —, até o quê?
- Foi como se tudo estivesse acontecendo de novo. Dessa vez foi um pica-pau verde. Eu estava quietinha, espiando por detrás de alguns arbustos. E os dois estavam sentados ali conversando... sobre uma ilha.... uma ilha grega. Ela dizia mais ou menos assim: "Já está assinada. É nossa, podemos ir quando quisermos. Mas é melhor esperarmos ainda um pouco. Não precipitemos as coisas." Então o pica-pau voou e eu me movi. E ela disse: "Silêncio. Alguém está nos observando." Do mesmo modo como tinha dito a primeira vez, e tinha quase o mesmo olhar. Eu fiquei com medo de novo e me lembrei. E dessa vez eu sabia. Eu sabia que tinha sido um crime o que eu vira
e que era um cadáver que estavam carregando para esconder em algum lugar. Eu não era mais criança, sabe. Eu sabia... eu sabia as coisas e o que deviam significar... o sangue e a faca e o cadáver... tudo claro...
- Quando foi isso? - perguntou o chefe de polícia. - Quanto tempo faz?
Miranda pensou por alguns instantes.
- No mês de março último... logo após a Páscoa.
- Você seria capaz de definir quem eram essas duas pessoas, Miranda?
- É claro que posso.
Miranda parecia confusa.
- Você viu seus rostos?
- Naturalmente.
- Quem eram eles?
- A sra. Drake e Michael...
Não foi uma denúncia dramática. Sua voz era tranqüila, tocada ligeiramente de emoção, mas inspirava confiança.
- Você não contou a ninguém. Por quê? - perguntou o chefe de polícia.
- Eu pensava... pensava que aquilo poderia ter sido um sacrifício.
- Quem lhe disse isso?
- Michael me disse... Ele dizia que os sacrifícios eram necessários.
- Você amava Michael? - perguntou Poirot gentilmente.
- Oh, sim - respondeu Miranda. - Eu o amava muito.
CAPÍTULO 27
- Finalmente o revejo - disse a sra. Oliver. – Preciso saber de tudo.
Ela olhou para Poirot com firmeza e perguntou seriamente:
- Por que não veio mais cedo?
- Desculpe-me, Madame, estive muito ocupado ajudando a polícia em seus inquéritos.
- Isso é coisa para advogados criminais. Mas afinal de contas o que foi que o levou a pensar em Rowena Drake como envolvida num assassinato? Ninguém jamais sonharia com isso.
- Foi muito simples desde que obtive a pista vital.
- O que é que você chama de pista vital?
- A água. Eu precisava de alguém que estivesse na festa e se encontrasse molhado, e que não deveria estar. Quem quer que tivesse matado Joyce, necessariamente se teria molhado. Se enfiarmos a cabeça de uma criança vigorosa dentro de um balde de água, ela reagirá, haverá luta, a água espirrará e provavelmente nos molharemos. Portanto, alguma coisa teria de acontecer para prover uma explicação inocente da roupa molhada. Quando todos se reuniram na saía de jantar para a brincadeira da boca-do-dragão, a sra. Drake conduziu Joyce à biblioteca. Se sua anfitriã lhe pedisse para a acompanhar, a senhora, naturalmente, a acompanharia. E Joyce, com certeza, não teria motivo algum para suspeitar da sra. Drake. Tudo que Miranda lhe contara era que uma vez vira um assassinato. E assim Joyce foi morta, e sua assassina ficou encharcada de água. Era preciso arranjar uma explicação para isso, e assim ela a criou. Precisava de uma testemunha de como se tinha molhado. Ela esperou no patamar com um enorme vaso de flores cheio de água. No devido tempo a srta. Whittaker saiu da sala de jantar. Estava muito quente ali. A sra. Drake deu a impressão de que se assustara, deixou o vaso cair, tendo o cuidado de fazê-lo entornar-se sobre ela antes de ir espatifar-se no corredor lá embaixo. Ela desceu as escadas correndo e, juntamente com a srta. Whittaker, reuniu os cacos e as flores, enquanto tentava dar à srta. Whittaker a impressão de ter visto alguma coisa ou alguém saindo do quarto onde o crime tinha sido cometido. A srta. Whittaker recebeu tudo aquilo naturalmente, mas, quando se referiu ao fato em conversas com a srta. Emlyn, esta teve a intuição de que havia algo de curioso nisso. E assim pediu à srta. Whittaker que me contasse.
- E assim - disse Poirot, torcendo os bigodes -, fiquei sabendo quem era o assassino de Joyce.
- E o fato é que Joyce nunca assistira a crime algum.
- A sra. Drake não sabia disso. Mas conservara a impressão de que havia alguém no Bosque da Pedreira quando ela e Michael Garfield mataram Olga Seminoff, e que esse alguém teria visto o que acontecera.
- Quando o senhor soube que tinha sido Miranda e não Joyce?
- O senso comum me obrigou a aceitar logo o veredicto universal de que Joyce era uma mentirosa. Miranda então pareceu ser a pessoa mais provável. Estava freqüentemente no Bosque da Pedreira, observando os pássaros e os esquilos. Joyce, conforme Miranda mesma
me dissera, era a sua melhor amiga. "Nós contamos tudo uma para a outra", disse-me ela. Miranda não estava na festa, de modo que a mentirosa compulsiva, Joyce, pôde usar a história de sua amiga como tendo sido ela, e não Miranda, a testemunha de um crime cometido... provavelmente para impressioná-la, Madame, como conhecida autora de contos policiais.
- Está bem, a culpa é sempre minha. -Não, não, absolutamente.
- Rowena Drake - disse a sra. Oliver, pensativa. - Quase não posso acreditar.
- Tinha todas as qualidades necessárias. Eu sempre me perguntava - acrescentou - que espécie de mulher seria Lady Macbeth. Com quem se pareceria na vida real? Bem, acho que a encontrei.
- E Michael Garfield? Fazem um par tão desigual.
- Curioso... Lady Macbeth e Narciso, uma combinação fora do comum.
- Lady Macbeth - murmurou a sra. Oliver pensativa.
- Era uma mulher simpática, eficiente e competente, uma administradora nata, uma atriz excepcional. Precisava vê-la lamentando a morte do menino Leopold, a soluçar num lenço seco.
- Nojento.
- A senhora se lembra de lhe ter perguntado, quem, na sua opinião, era ou não boa pessoa.
- Michael Garfield estava de amores com ela?
- Não creio que Michael Garfield já tenha amado alguém além de si próprio. Ele queria dinheiro... muito dinheiro. Talvez acreditasse, inicialmente, que pudesse fazer a sra. Llewellyn-Smythe se encantar por ele a ponto de fazer um testamento a seu favor. Mas a sra. Llewellyn-Smythe não era mulher dessas coisas.
- O que me diz da falsificação? Eu não entendi ainda. Qual seria a finalidade de tudo isso?
- No início fiquei um tanto confuso. Havia falsificação demais. Mas, quando se pensa no assunto, a finalidade se evidencia. Era preciso apenas considerar o que aconteceu. A fortuna da sra. Llewellyn-Smythe foi toda
para Rowena Drake. A falsificação do codicilo era tão patente que qualquer advogado a identificaria. Seria contestado, e a confirmação dos peritos resultaria na sua anulação, e assim permaneceria o testamento original. Como o marido de Rowena Drake tinha falecido havia pouco, ela herdaria tudo.
- E o codicilo de que foi testemunha a faxineira?
- Minha suposição é de que a sra. Llewellyn-Smythe descobriu o romance entre Michael Garfield e Rowena Drake, provavelmente antes da morte do marido. Na sua raiva, a sra. Llewellyn-Smythe teria feito um codicilo ao seu testamento, deixando tudo para a sua acompanhante.
É possível que a moça tenha contado a Michael Garfield... na esperança de se casar com ele.
- Não era com o Ferrier?
- Foi uma história plausível que Michael me contou. Não há prova disso.
- Então, se ele sabia da existência de um codicilo de verdade, por que não se casou com ela e não se apoderou de sua fortuna?
- Porque duvidava de que ela realmente viria a ficar com o dinheiro. Existe o que se chama de influência indébita. A sra. Llewellyn-Smythe era uma senhora idosa e doente. Todos os seus testamentos anteriores tinham sido a favor de seus parentes - esses testamentos sensatos que os tribunais aprovam. A moça estrangeira só a conhecia há um ano... e não tinha nenhum tipo de direito. O codicilo, mesmo se autêntico, poderia ser invalidado. Além disso, eu duvido que Olga Seminoff tivesse possibilidade de comprar uma ilha grega e não creio mesmo que o quisesse fazer. Não possuía amigos influentes nem tinha contatos nos círculos comerciais. Sentia-se atraída por Michael mas o considerava como uma boa perspectiva matrimonial, o que lhe possibilitaria viver na Inglaterra, que era o que queria fazer.
- E Rowena Drake?
- Estava iludida. Seu marido estivera inválido durante muitos anos. Ela é uma mulher madura, mas de temperamento exaltado. E atravessou no seu caminho um homem de beleza fora do comum. As mulheres se apaixonam por ele, mas o que ele quer não é a beleza das
mulheres, e sim o exercício de sua própria necessidade criadora para fazer o belo. Por isso quer dinheiro, muito dinheiro. Quanto ao amor, ama a si próprio. Há uma velha canção francesa que se cantava há muitos anos...
E cantarolou baixinho.
* Regarde, Narcisse
Regarde dans l'eau
Regarde, Narcisse, que tu es beau
Il n'y a au monde
Que la Beauté
Et la Jeunesse,
Hélas! Et la Jeunesse...
Regarde, Narcisse...
Regarde dans l'eau...*
(*) "Olhe, Narciso/ Olhe para a água/ Olhe, Narciso, como você é bonito/ No mundo/ há apenas a Beleza/ E a juventude,/ Infelizmente! E a Juventude.../ Olhe, Narciso.../ Olhe para a água...". Em francês no original. (N.E.)
- Não posso acreditar, simplesmente não posso acreditar que alguém quisesse cometer um crime só para construir um jardim numa ilha grega - disse a sra. Oliver, incrédula.
- Não pode? Não pode imaginar o que se passa na sua mente? Rocha nua, talvez, mas tão modelada que encerra potencialidades. Terra, carregamento de terra fértil para cobrir os ossos nus das rochas... e, em seguida, plantas, se mentes, arbustos, árvores. Talvez tenha lido nos jornais a história de um armador milionário que criou uma ilha-jardim para a mulher que amava. E assim aconteceu com ele: faria um jardim, não para uma mulher, mas para si próprio.
- Isso me parece, contudo, uma loucura.
- Sem dúvida. Não creio mesmo que ele considere seu motivo como sórdido. Só o concebeu como necessário à criação de mais beleza. Tornou-se um possesso da criação. A beleza do Bosque da Pedreira, a beleza de outros jardins que projetaria e construiria... e agora imaginava mais ainda: toda uma ilha de beleza. E lá estava Rowena Drake, louca por ele. O que é que ela significava para ele, senão a fonte do dinheiro com que podia criar a beleza? Sim, ele ficou talvez louco. A quem os deuses querem destruir, primeiro enlouquecem.
- Mas ele queria realmente tanto essa ilha? Mesmo com Rowena Drake pendurada no seu pescoço? Mandando nele o tempo todo?
- Acidentes podem acontecer. Acho que, no devido tempo, a sra. Drake seria vítima de um.
- Mais um assassinato?
- Sim. Começou muito simplesmente. Olga tinha de ser afastada porque tinha conhecimento do codicilo. Além disso deveria ser o bode expiatório, tachada de falsificadora. A sra. Llewellyn-Smythe escondera o documento original, de modo que tenho a impressão de que deram dinheiro ao jovem Ferrier para forjar um documento semelhante. E tão mal falsificado que levantasse suspeitas imediatamente. Isso selou sua sentença de morte. Lesley Ferrier, constatei logo, não fizera nenhum acordo com Olga nem mantinha romance com ela. Essa história de amor me foi sugerida por Michael Garfield, mas acho que foi Michael quem deu dinheiro a Lesley Ferrier. Foi Michael Garfield que fazia corte à acompanhante, aconselhando-a a manter reserva sobre o assunto e não dizer nada à sua patroa, falando de possível casamento no futuro, mas, ao mesmo tempo, escolhendo-a a sangue-frio como a vítima que ele e Rowena Drake teriam de fazer se quisessem pegar no dinheiro da velha senhora. Não havia necessidade de acusar Olga Seminoff de falsificadora, nem de processá-la. Bastaria criar a suspeição em torno dela. A falsificação pareceria ser em seu benefício. Poderia facilmente ter sido feita por ela; havia prova no sentido de que ela copiava a caligrafia de sua patroa, e, se ela desaparecesse subitamente, a presunção seria não só de que era autora da falsificação, mas também de que teria tomado parte na morte súbita de sua patroa. Então Olga, no momento conveniente, foi morta. Lesley Ferrier foi assassinado supostamente por algum elemento de uma gang ou apunhalado por uma mulher ciumenta. Mas a faca que foi encontrada no poço se assemelha muito ao tipo de faca que o feriu. Eu sabia que o corpo de Olga devia estar escondido em algum lugar por aqui, mas não tinha nenhuma idéia até ouvir Miranda perguntar por um poço do desejo, insistindo com Michael Garfield para levá-la lá. E ele se recusava. Pouco depois, conversando com a sra. Goodbody, ao lhe dizer que me perguntava para onde a moça teria ido, ela disse: "Ding dong dell, pussy's in the well." Aí me convenci de que o corpo da moça estava no poço do desejo. Descobri que estava no bosque, no Parque da Pedreira, numa encosta não muito longe da casa de Michael, e pensei que Miranda poderia ter visto ou o assassinato propriamente dito ou a remoção do corpo mais tarde. A sra. Drake e Michael temiam que alguém tivesse testemunhado, mas não tinham nenhuma idéia de quem poderia ser. Como nada tivesse acontecido, acalmaram-se em segurança. Fizeram seus planos. Não se precipitaram, mas iam arranjando tudo. Ela falava em comprar um terreno no estrangeiro, dando a todos a idéia de que pretendia ir-se embora de Woodleigh Common. Ali experimentava sempre tristes recordações, referindo-se à sua dor com a morte de seu marido. Tudo ia maravilhosamente bem, mas então veio a festa de Halloween, e a súbita afirmação de Joyce a respeito de ter assistido a um crime. Assim, Rowena agora sabia, ou achou que sabia, quem estava no bosque naquele dia. De modo que agiu rapidamente. Outras coisas, porém, viriam depois. O jovem Leopold veio pedir dinheiro: precisava comprar umas coisas, dizia. Que conjeturas faria ou o que sabia, não tinha certeza, mas era irmão de Joyce e assim, provavelmente, pensaram que ele soubesse muito mais do que realmente sabia. Portanto, também ele tinha de morrer.
- O senhor suspeitou dela por causa da água - disse a sra. Oliver. - E como veio a suspeitar de Michael Garfield?
- Encaixava-se bem - respondeu Poirot simples mente. - E depois, na última vez que falei com Michael Garfield, me convenci disso. Ele me disse, rindo: "Afasta-te de mim, Satanás. Vai para junto de teus amigos policiais." Então tive certeza. Era exatamente o contrário. Disse para mim mesmo: "Vou deixá-lo para trás, Satã", um Satã jovem e belo como Lúcifer pode parecer aos mortais...
Havia outra mulher na sala, até então calada, mas que agora se mexia na cadeira.
- Lúcifer - disse ela -, sim, compreendo agora. O que ele sempre foi.
- Era muito bonito - disse Poirot -, e amava a beleza. A beleza que fazia com seu cérebro, com sua imaginação e com suas mãos. Ao belo sacrificaria tudo. A seu modo, creio, amava Miranda, mas estava disposto a sacrificá-la para se salvar. Planejou sua morte minuciosamente... fez disso um ritual e, como se poderia dizer, doutrinou-a com a idéia. Ela teria de avisá-lo quando fosse sair de Woodleigh Common. Michael a instruiu para se encontrar com ele na estalagem onde a senhora e Madame Oliver almoçaram. Devia ser encontrada em Kilterbury Ring, junto ao sinal do machado duplo, com uma taça de ouro a seu lado... um sacrifício ritual.
- Louco - disse Judith Butler. - Devia estar louco.
- Madame, sua filha está salva... mas há algo que eu gostaria muito de saber.
- Acho que o senhor merece saber tudo que eu puder informar, Monsieur Poirot.
- Ela é sua filha... É também filha de Michael Garfield?
Judith ficou em silêncio por alguns instantes e depois disse:
- Sim.
- Mas ela sabe disso?
- Não. Não tem a menor idéia. Encontrá-lo aqui foi uma mera coincidência. Conheci-o quando era ainda moça. Apaixonei-me por ele e depois tive medo.
- Medo?
- Sim. Não sei por quê. Não de qualquer coisa que fizesse ou seja lá o que fosse. Tinha medo de sua natureza. Muito delicado, mas por detrás dessa delicadeza, frieza e crueldade. Estava mesmo temerosa de sua paixão pelo belo e pela criação em seu trabalho. Eu não lhe disse
que ia ter um filho. Abandonei-o. Parti e a criança nasceu. Inventei a história de um marido piloto que sofrerá um acidente. Andei batendo com a cabeça por aí. Vim para Woodleigh Common mais ou menos por acaso. Tinha conhecidos em Medchester, onde pude empregar-me como secretária.
"E, então, um belo dia, Michael Garfield apareceu por aqui para trabalhar no Jardim da Pedreira. Não acho que me importei. Nem ele. Tudo já se passara há tanto tempo. Mais tarde, porém, embora eu não soubesse da freqüência tão habitual de Miranda no Bosque, eu me preocupava...''
- Sim - disse Poirot -, havia um vínculo entre eles. Uma afinidade natural. Eu vi a semelhança entre eles. Só que Michael Garfield, o discípulo de Lúcifer, o belo, era mau, e sua filha tem inocência e sabedoria, e não há maldade nela.
Poirot foi à sua mesa e apanhou ali um envelope, de onde tirou um delicado desenho a lápis.
- Sua filha - disse.
Judith o olhou. Estava assinado: "Michael Garfield."
- Ele a estava desenhando junto ao riacho – disse Poirot -, no Bosque da Pedreira. Fazia-o, segundo me disse, para não a esquecer. Tinha medo de esquecer. Isso, porém, não o teria impedido de matá-la.
Em seguida, apontou para uma palavra escrita à mão no canto esquerdo do papel.
- A senhora pode ler?
Judith Butler soletrou o nome lentamente.
- Efigênia.
- Sim, Efigênia — disse Poirot. - Agamenon sacrificou sua filha, para que pudesse obter ventos favoráveis para levar sua frota a Tróia. Michael teria sacrificado sua filha, a fim de possuir um novo Jardim do Éden.
- Ele sabia o que estava fazendo - disse Judith. - Eu me pergunto: será que nunca se teria arrependido?
Poirot não respondeu. Na sua mente se esboçava a imagem de um homem de beleza singular jazendo junto à pedra megalítica marcada com um machado duplo e segurando ainda com seus dedos mortos a taça dourada que apanhara e sorvera até a última gota, quando o castigo chegara de repente para salvar sua vítima e o entregar à Justiça.
"Foi assim que Michael Garfield morreu - uma morte adequada" pensava Poirot. "Mas, que tristeza! Não havia nenhum jardim florescendo numa ilha nos mares da Grécia."
Em vez disso lá estava Miranda, viva, jovem e bela.
Poirot levantou a mão de Judith e a beijou.
- Adeus, Madame, e dê lembranças à sua filha.
- Ela deverá sempre lembrar-se do senhor e de quanto lhe é devedora.
- Ê melhor não lembrar... Há certas recordações que valem a pena ser enterradas.
E se dirigiu à sra. Oliver.
- Boa-noite, Madame. Lady Macbeth e Narciso. Foi muito, muito interessante. Devo-lhe agradecer por ter trazido esse caso ao meu conhecimento.
- Está bem - disse a sra. Oliver, irritada. - Como sempre, sou a responsável por tudo!
Agatha Christie
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa