
Paderborn, Alemanha
Você vai ficar aqui - disse Gray, em pé no centro da cabine principal do Challenger, as mãos nos quadris, sem arredar o pé.
Uma ova! - retrucou Fiona a um passo de distância, opondo-se a ele.
Ao lado, Monk encostou-se na porta aberta do jato, os braços cruzados, divertindo-se.
- Eu ainda não te disse o endereço - argumentou Fiona. - Você pode passar o próximo mês procurando de porta em porta pela cidade inteira, ou eu posso ir com você e te levar ao lugar. A escolha é sua, colega.
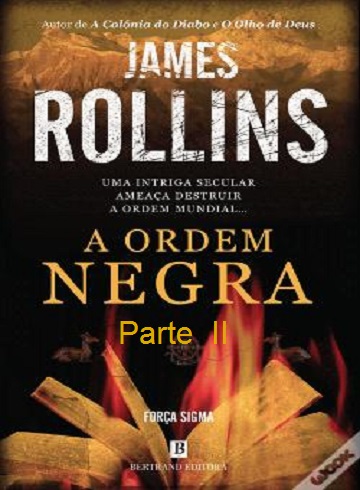
O rosto de Gray esquentou. Por que ele não havia tomado o endereço da garota quando ela ainda estava fraca e vulnerável? Ele sacudiu a cabeça. Fraca e vulnerável eram palavras que não descreviam Fiona.
E então, como é que vai ser?
Parece que temos alguém na nossa cola - disse Monk.
Gray recusava-se a ceder. Talvez se a assustasse, se a lembrasse de que haviam escapado da morte por um triz no Tivoli.
- E seu ferimento à bala?
O nariz de Fiona dilatou-se.
- O ferimento? Praticamente curado. Aquele curativo líquido me remendou direitinho.
Ela pode até nadar com ele - disse Monk. - É à prova d'água. Gray olhou com um ar feroz para seu parceiro.
O problema não é esse.
Então qual é? - pressionou Fiona.
Gray voltou a olhar para ela. Ele não queria mais ser responsável pela garota. E decerto não tinha tempo para tomar conta dela.
Ele receia que você seja ferida de novo - disse Monk, indiferente.
Gray suspirou.
Fiona, simplesmente nos diga o endereço.
- Assim que estivermos no carro - disse ela. - Então eu direi a vocês. Não vou ficar enjaulada aqui dentro.
- O dia está passando - disse Monk. - E parece que vamos nos molhar.
O céu estava azul e a manhã era luminosa, mas nuvens escuras se acumulavam ao norte. Estava armando-se uma tempestade.
- Está bem.
Gray acenou para que seu parceiro saísse do avião. Ele poderia ao menos ficar de olho em Fiona.
Os três desceram os degraus do jato. Os problemas relacionados com a alfândega já haviam sido resolvidos, e um BMW alugado estava à espera deles. Monk carregava uma mochila preta num ombro, e Gray, outra igual. Ele olhou de relance para Fiona. Ela também tinha uma. Onde...?
- Havia uma extra - explicou Monk. - Não se preocupe. Não tem nenhuma arma de fogo ou granadas luminosas na dela. Pelo menos é o que eu acho.
Gray sacudiu a cabeça e continuou pela pista de decolagem em direção ao edifício-garagem. Além das mochilas iguais, todos usavam roupas parecidas: jeans pretos, tênis, suéteres. Turistas usando roupas caras. Pelo menos Fiona havia personalizado as suas com alguns broches. Um atraiu o olhar dele. Nele se lia: OS ESTRANHOS TÊM OS MELHORES DOCES.
Quando entrou no edifício-garagem, Gray checou secretamente suas armas uma última vez. Apalpou a Glock 9mm no coldre sob seu suéter e tocou com os dedos o cabo de um punhal de plástico carbonizado na bainha presa ao seu pulso esquerdo. Em sua mochila havia outras armas: granadas luminosas, pacotes de explosivo C4, pentes de balas extras.
Dessa vez, ele não iria despreparado a lugar nenhum.
Eles afinal chegaram ao carro, um BMW 525i azul-escuro.
Fiona encaminhou-se à porta do motorista.
Gray a interceptou.
- Muito engraçado - disse ele.
Monk deu a volta até o outro lado do carro e gritou:
- Espingarda de caça!
Fiona abaixou-se, esquadrinhando ao redor.
Gray a acalmou e a conduziu à porta traseira.
Ele estava apenas reivindicando o assento da frente.
Fiona fechou a cara para Monk, do outro lado do carro.
Punheteiro.
Sinto muito. Não seja nervosa, criança.
Todos entraram no sedã. Gray deu partida no motor e voltou o olhar para Fiona.
- E agora? Aonde vamos?
Monk já havia desdobrado um mapa.
Fiona inclinou-se para a frente e estendeu o braço por cima do ombro de Monk. Um de seus dedos percorreu o mapa.
- Para fora da cidade. Vinte quilômetros a sudoeste. Temos de ir à aldeia de Büren, no vale do Alme.
E qual é o endereço lá? Fiona recostou-se.
Muito engraçado - disse ela, repetindo as palavras dele de momentos antes. Os olhos dele encontraram os dela no espelho retrovisor. Ela exibia um olhar de ódio àquela última tentativa ineficaz de coagi-la a prestar a informação. Ela não podia culpar um cara por tentar. Acenou para que ele partisse. Sem escolha, ele obedeceu.
No outro lado do edifício-garagem, duas figuras estavam sentadas em um Mercedes branco conversível de dois lugares. O homem baixou os binóculos e pôs um par de óculos escuros italianos. Ele acenou com a cabeça para sua irmã gêmea ao seu lado. Ela falava ao telefone via satélite, sussurrando em holandês.
A outra mão dela segurava a dele. Ele massageava a tatuagem dela com o polegar.
Ela apertou os dedos dele.
Olhando para baixo, ele notou que ela havia roído uma das unhas até o sabugo. A imperfeição era tão óbvia quanto um nariz fraturado.
Ela percebeu a atenção dele e tentou esconder a unha, envergonhada.
Não havia razão para vergonha. Ele entendia a consternação e o pesar que a levaram a roer a unha. Eles haviam perdido Hans, um de seus irmãos mais velhos, na noite anterior.
Morto pelo motorista do carro que acabara de sair.
A fúria estreitou sua visão enquanto ele observava o BMW deslocar-se suavemente para fora do edifício-garagem. O GPS ligado ao transponder que eles haviam plantado rastrearia o veículo.
- Compreendido - disse sua irmã ao telefone. - Conforme havíamos esperado, eles seguiram a pista do livro até aqui. Sem dúvida, irão à propriedade dos Hirszfeld em Büren. Mandaremos vigiar o jato. Tudo está preparado.
Enquanto ouvia, ela flagrou o olhar de seu irmão gêmeo.
- Sim - disse ela, não só ao telefone, mas também para o irmão -, não vamos fracassar. A Bíblia de Darwin será nossa.
Ele concordou com um aceno de cabeça. Removeu sua mão da dela, girou a chave e ligou a ignição.
- Até logo, vovô - disse a irmã.
Baixando o fone, ela estendeu a mão e mexeu num único cacho dos cabelos louros dele, que havia saído do lugar. Ela o empurrou com os dedos de volta ao lugar e em seguida o ajeitou.
Perfeito.
Sempre perfeito.
Ele beijou as pontas dos dedos dela quando ela recuou a mão.
Amor e uma promessa.
Eles se vingariam.
O luto ficaria para depois.
Ele saiu bem devagar com seu Mercedes branco da vaga no estacionamento e começou a perseguição.
Himalaia
A ponta da pistola de solda tremeluziu com um vermelho cor de fogo. Painter equilibrou a ferramenta. Sua mão tremia, mas não era por medo. A dor de cabeça continuava a martelar atrás de seu olho direito. Ele havia tomado um punhado de comprimidos de Tylenol, junto com dois de fenobarbital, um anticonvulsivo. Nenhum dos medicamentos evitaria a debilidade e a loucura finais, porém, de acordo com Anna, lhe dariam mais horas funcionais. Quanto tempo ele tinha?
Menos de três dias, talvez até menos, antes de ficar incapacitado.
Ele lutou para bloquear essa preocupação. Desespero e preocupação poderiam debilitá-lo tão depressa quanto a doença. Como dizia seu avô naquele jeito sábio de índio pequot, "torcer as mãos só impede você de arregaçar as mangas".
Refletindo seriamente sobre isso, Painter concentrou-se em soldar a conexão do cabo a um fio-terra exposto. Os fios estendiam-se por todo o subterrâneo do castelo e para fora, até suas várias antenas, entre elas a parabólica para uplink oculta em algum lugar no topo da montanha.
Assim que terminou, Painter recostou-se e aguardou que a solda esfriasse. Ele estava sentado em um banco com uma série de ferramentas e peças cuidadosamente enfileiradas, como um cirurgião. Seu espaço de trabalho era circundado por dois laptops abertos.
Ambos fornecidos por Gunther, o homem que havia chacinado os monges e assassinado Ang Celu. Painter ainda sentia uma onda de fúria sempre que estava perto dele.
Como agora.
O guarda enorme estava de pé junto a seu ombro, observando cada movimento seu. Eles estavam sozinhos numa sala de manutenção. Painter chegou a pensar em trespassar o olho do homem com a pistola de solda. Mas e depois? Eles estavam a quilômetros de distância da civilização, e uma sentença de morte cairia sobre sua cabeça. A cooperação era o único meio de eles sobreviverem. Para esse fim, Lisa permanecera com Anna em sua sala de leitura, dando continuidade à sua linha de investigação da cura.
O objetivo de Painter e de Gunther era outro.
Perseguir e capturar o sabotador.
De acordo com Gunther, uma bomba de fabricação artesanal havia destruído o Sino. E, como ninguém havia deixado a área do castelo desde a explosão, era provável que o sabotador ainda estivesse lá.
Se eles conseguissem pegar o sujeito, talvez pudessem saber mais.
Por isso uma pequena isca havia sido espalhada boca a boca.
Tudo o que restava era preparar a armadilha para levar o plano adiante.
Um laptop estava ligado aos sistemas de comunicação em rede do castelo. Painter já havia entrado no sistema, usando senhas fornecidas por Gunther. Ele havia emitido uma série de pacotes de códigos comprimidos cujo objetivo era monitorar o sistema para toda comunicação de saída. Se o sabotador tentasse se comunicar com o mundo exterior, sua localização seria determinada, e ele seria descoberto.
Mas Painter não esperava que o sabotador fosse tão descuidado. Ele ou ela havia sobrevivido e operado em segredo por muito tempo. Isso implicava astúcia - e um meio de comunicação independente da principal rede de comunicação do castelo.
Por isso Painter havia construído algo novo.
O sabotador devia ter obtido um telefone portátil particular via satélite, utilizado em segredo para se comunicar com seus superiores. Mas esse tipo de telefone precisava de uma linha de transmissão desobstruída entre a antena da unidade e o satélite geossíncrono em órbita. Infelizmente, havia uma grande quantidade de nichos, janelas e portinholas de serviço onde o sabotador poderia fazer isso, protegido demais para levantar suspeitas.
Portanto, foi necessária uma alternativa.
Painter verificou o amplificador de sinal que ele havia ligado ao fio-terra. Era um aparelho que ele mesmo havia projetado na Sigma. Antes de assumir a diretoria, sua especialidade como agente da Sigma tinha sido em vigilância e microengenharia. Essa era sua área de atividade.
O amplificador conectava o fio-terra ao segundo laptop.
- Deve estar pronto - disse Painter, a dor de cabeça finalmente diminuindo um pouco.
- Ligue-o.
Painter ligou a fonte de energia da bateria, determinou a amplitude do sinal e ajustou a freqüência de pulso. O laptop faria o resto. Ele monitoraria quaisquer sinais. Era na melhor das hipóteses grosseiro, não serviria como escuta telefônica. Só podia obter uma localização geral do sinal de uma transmissão ilícita, com acurácia, dentro de um raio de cerca de trinta metros. Devia ser suficiente.
Painter ajustou seu equipamento com precisão.
- Já montei tudo. Agora só o que temos a fazer é esperar que o filho-da-puta dê um telefonema.
Gunther fez um aceno de cabeça.
- Isto é, se o sabotador morder a isca - acrescentou Painter.
Meia hora antes, eles haviam espalhado o boato de que uma reserva de Xerum 525 havia resistido à explosão, trancada em uma câmara secreta revestida de chumbo. Isso deu esperança a todos os moradores do castelo. Se havia um pouco do combustível insubstituível, um novo Sino poderia ser fabricado. Anna até mandara os pesquisadores montarem um outro com peças sobressalentes. Se não oferecia cura para a doença progressiva, o Sino proporcionava a oportunidade de ganhar mais tempo. Para todos eles.
Mas a esperança não era o objetivo do ardil.
A notícia tinha de chegar ao sabotador. Ele precisava ser convencido de que seu plano fracassara, de que, apesar de tudo, o Sino podia ser reconstruído. A fim de buscar orientação de seus superiores, ele teria de dar um telefonema.
E, quando isso acontecesse, Painter estaria pronto.
Nesse ínterim, ele virou-se para Gunther.
- Qual é a sensação de ser um super-homem? - perguntou ele. - Um Cavaleiro do Sol Negro?
Gunther deu de ombros. A sua comunicação parecia não ir além de grunhidos, carrancas e algumas respostas monossilábicas.
- Quer dizer, você se sente superior? Mais forte, mais rápido, capaz de pular edifícios num único salto?
Gunther simplesmente o fitou.
Painter suspirou, tentando uma nova tática para fazer o cara falar, iniciar algum tipo de comunicação.
- O que significa Leprakönig. Eu ouvi pessoas usando essa palavra quando você estava por perto.
Painter sabia muito bem o que o termo significava, mas ele provocou a reação de que precisava. Gunther desviou o olhar, mas Painter notou o fogo em seus olhos. O silêncio prolongou-se. Ele não tinha certeza se o homem falaria.
- Rei Leproso - Gunther finalmente resmungou.
Então foi a vez de Painter ficar em silêncio, deixando-o pesar na pequena sala. Gunther afinal prosseguiu.
- Quando se procura a perfeição, ninguém deseja ver o fracasso. Se a loucura não nos acomete, é horrível testemunhar a doença. É melhor ser trancafiado, ficar fora de vista.
- Exilado. Como leprosos.
Painter tentou imaginar qual deveria ser a sensação de ser criado como o último dos Sonnenkönige, sabendo ainda bem jovem de seu destino adverso. Antes uma linhagem reverenciada de príncipes, agora uma linhagem de leprosos que andavam se arrastando e eram evitados.
No entanto, você ainda ajuda aqui - disse Painter -, ainda é útil.
Foi para isso que nasci. Eu conheço o meu dever.
Painter se perguntou se aquilo lhe fora incutido ou de algum modo transmitido geneticamente. Ele observou atentamente o homem. De alguma forma, ele sabia que a questão ia além daquilo. Mas o quê?
Por que você ainda se preocupa com o que está acontecendo a todos nós? - indagou Painter.
Eu acredito no trabalho desenvolvido aqui. Meu sofrimento um dia vai ajudar a poupar outras pessoas do mesmo destino.
E a busca da cura agora? Ela não tem nada a ver com o prolongamento da sua própria vida.
Os olhos de Gunther cintilaram.
Ich bin nicht krank.
O que você quer dizer ao afirmar que não está doente?
- Os Sonnenkönige nasceram sob a influência do Sino - disse Gunther de maneira contundente.
Painter subitamente compreendeu. Ele se lembrou da descrição que Anna fizera dos super-homens do castelo, de como eles eram resistentes a qualquer manipulação posterior do Sino. Fosse qual fosse.
- Você é imune - disse ele.
Gunther deu-lhe as costas.
Painter absorveu a insinuação. Então não foi a autopreservação que impeliu Gunther a ajudar. O quê, então...?
Painter de repente se lembrou do jeito como Anna olhara mais cedo para Gunther no outro lado da mesa. Com grande ternura. O homem não a havia desencorajado.
Sem dúvida, ele tinha outro motivo para continuar a cooperar, apesar da falta de respeito dos outros.
Você ama Anna - disse Painter em voz alta.
É claro que eu a amo - Gunther respondeu bruscamente. - Ela é minha irmã.
Refugiada na sala de leitura de Anna, Lisa estava em pé junto à parede em que estava pendurada uma caixa de luz. Normalmente, essas caixas iluminavam as radiografias de um paciente, mas no momento Lisa havia ajustado no lugar duas folhas de acetato com uma fileira de linhas pretas. Tratava-se de mapas de cromossomos arquivados da pesquisa sobre os efeitos mutacionais do Sino sobre o DNA fetal, colhido por amniocentese, antes e depois da exposição. As injeções feitas depois tinham círculos onde o Sino havia transformado certos cromossomos. Havia anotações em alemão ao lado deles.
Anna as traduzira e saíra para buscar mais livros.
Junto à caixa de luz, Lisa correu um dedo ao longo das alterações mutacionais, à procura de algum padrão. Ela havia revisto vários dos estudos de caso. Parecia não haver explicação ou motivo para as mutações.
Sem respostas, Lisa voltou para a mesa de jantar, agora com uma pilha imensa de livros e uma grande quantidade de dados científicos encadernados, um rastro de experimentos com seres humanos que remontavam a décadas.
A lareira crepitava atrás dela. Ela teve de conter um impulso de jogar a pesquisa nas chamas. Todavia, ainda que Anna não estivesse presente, Lisa provavelmente não o teria feito. Ela tinha vindo ao Nepal para estudar os efeitos fisiológicos em grandes altitudes. Embora fosse médica, no fundo ela era uma pesquisadora.
Como Anna.
Não... não exatamente como Anna.
Lisa empurrou para o lado a monografia de uma pesquisa que estava sobre a mesa. Teratogênese no blastoderme embrionário. O documento fazia um relato de monstruosidades que haviam resultado da exposição à irradiação do Sino e que foram abortadas. O que as listras pretas no acetato haviam delineado com isenção clínica as fotografias no livro revelavam com detalhes horripilantes: embriões sem membros, fetos com um olho só, crianças natimortas hidrocefálicas.
Não, decididamente ela não era como Anna.
A raiva tornou a formar-se no peito de Lisa.
Anna desceu a escada de ferro que conduzia ao segundo piso de sua biblioteca de pesquisa com outra carga de livros embaixo de um braço. Os alemães certamente não estavam mantendo nada em segredo. E por que haveriam de manter? Descobrir a cura da doença quântica era interesse de todos eles. Anna acreditava que o esforço era inútil, certa de que todas as possibilidades haviam sido exploradas nas últimas décadas, porém não fora necessário muita persuasão para fazê-la cooperar.
Lisa observara como as mãos da mulher tremiam com uma paralisia quase imperceptível. Anna ficava esfregando as mãos, tentando escondê-la. O resto dos moradores do castelo sofria mais às claras. A tensão no ar fora evidente a manhã inteira. Lisa havia testemunhado algumas lutas clamorosas e uma briga de socos. Ela também soubera de dois suicídios no castelo nas últimas horas. Com o Sino destruído e pouca esperança de cura, os moradores do castelo estavam perdendo o controle emocional. E se a loucura se manifestasse nela e em Painter antes que eles pudessem pensar em uma solução?
Ela afastou aquele pensamento. Não desistiria. Qualquer que fosse o motivo da cooperação em curso, pretendia usá-la da maneira mais vantajosa possível.
Lisa fez um aceno de cabeça para Anna quando ela se aproximou.
- O.k., eu acho que tenho a compreensão de um leigo do quadro mais amplo aqui. Mas antes a senhora tocou num assunto que está me importunando.
Baixando os livros na mesa, Anna sentou-se.
- E qual é o assunto?
- A senhora mencionou que acreditava que o Sino controlava a evolução. - Lisa apontou para a quantidade de livros e manuscritos sobre a mesa. - Mas o que eu vejo aqui é apenas certa radiação mutagênica que a senhora associou a um programa de eugenia. A criação de um ser humano melhor pela manipulação genética. A senhora estava apenas sendo pomposa quando usou a palavra evolução?
Anna sacudiu a cabeça, sem se sentir ofendida.
Como a senhora define a evolução, dra. Cummings?
Suponho que da maneira darwiniana de praxe.
- E o que é isso?
Lisa franziu a testa.
- Um processo gradual de mudança biológica... no qual um organismo unicelular se difundiu e se diversificou na variedade de organismos vivos dos nossos dias.
- E Deus não está envolvido nisto, afinal?
Lisa foi surpreendida pela pergunta dela.
- Como no criacionismo?
Anna deu de ombros, os olhos fixos nela.
Ou design inteligente.
A senhora não pode estar falando sério. Daqui a pouco vai me dizer que a evolução é apenas uma teoria.
Não seja tola. Não sou uma leiga que associa teoria a um "palpite" ou "suposição". Nada na ciência atinge o nível de teoria sem um vasto acúmulo de fatos e hipóteses testados por trás disso.
Quer dizer que a senhora aceita a teoria da evolução de Darwin?
Claro que sim. Sem a menor dúvida. Ela é corroborada por todas as disciplinas da ciência.
Então por que a senhora estava falando sobre...
Uma coisa não exclui necessariamente a outra.
Lisa ergueu uma sobrancelha.
Design inteligente e evolução? Anna acenou com a cabeça.
- Mas recuemos a fim de que eu não seja mal compreendida. Vamos primeiro descartar os disparates dos criacionistas da Sociedade da Terra Achatada, que duvidam que o mundo seja sequer um globo, ou até mesmo os rigorosos literalistas bíblicos, que crêem que o planeta existe, quando muito, há dez mil anos. Agora vamos dar um passo à frente, para os principais argumentos dos que defendem o design inteligente.
Lisa sacudiu a cabeça. Uma ex-nazista discursando a favor de pseudociência. O que estava acontecendo?
Anna pigarreou.
- Segundo a opinião geral, eu vou afirmar que a maioria dos argumentos em favor do design inteligente é fraudulenta. Interpretação errônea da Segunda Lei da Termodinâmica, criação de modelos estatísticos que não resistem a uma revisão, descrição deturpada da datação radiométrica de rochas. A lista continua. Nada disso é válido, mas lança muita fumaça enganadora.
Lisa fez um aceno de cabeça. Era um dos principais motivos por que ela se preocupava com a atual campanha em prol do ensino de pseudociência junto com a evolução nas aulas de multidisciplinar que o Ph.D. típico teria dificuldade de separar, quanto mais um aluno do ensino médio.
No entanto, Anna não havia encerrado seu ponto de vista sobre a discussão.
- No final das contas, o campo do design inteligente tem uma proposta digna de consideração.
- E qual é?
- O caráter aleatório das mutações. O puro acaso não poderia produzir tantas mutações genéticas com o tempo. Quantos defeitos congênitos a senhora conhece que tenham produzido alterações benéficas?
Lisa ouvira aquele argumento antes. A vida evoluiu depressa demais para ser puro acaso. Ela não se deixava enganar por ele.
- A evolução não é puro acaso - contrapôs Lisa. - A seleção natural, ou a pressão do meio ambiente, elimina as alterações prejudiciais e só permite que organismos mais bem adaptados transmitam seus genes.
- A sobrevivência do mais apto?
Ou apto o suficiente. As alterações não precisam ser perfeitas. Apenas boas o bastante para terem uma vantagem. E, durante o vasto espaço de centenas de milhões de anos, essas pequenas vantagens ou alterações acumularam-se na variedade que vemos hoje.
Durante centenas de milhões de anos? Admito que esse é de fato um vasto período, mas será que ele ainda deixa bastante espaço para toda a abrangência da mudança evolucionária? E o que a senhora me diz dos rigorosos esforços ocasionais da evolução, quando imensas mudanças ocorreram rapidamente?
Devo presumir que a senhora está se referindo à explosão cambriana. - disse Lisa.
Era um dos pilares do design inteligente. O período Cambriano abrangeu um espaço de tempo relativamente curto: 15 milhões de anos. Mas, durante esse período, houve uma vasta explosão de novas formas de vida: esponjas, caracóis, águas-vivas e trilobitos. Aparentemente do nada. Um ritmo rápido demais para os antievolucionistas.
- Nein. O registro fóssil tem muitas evidências de que essa "aparição repentina" de invertebrados não foi assim tão repentina. Havia uma quantidade enorme de esponjas e metazoários vermiformes pré-cambrianos. Até mesmo a diversidade de formas durante esse período poderia ser justificada pela aparição de genes Hox no código genético.
Genes Hox?
Um conjunto de quatro a seis genes de controle apareceram no código genético um pouco antes do período Cambriano. Constatou-se que eles eram chaves de controle do desenvolvimento embrionário, definindo os movimentos de um lado para outro, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, a forma corporal básica. As moscas de frutas, os sapos, os seres humanos, todos têm exatamente os mesmos genes Hox. A senhora pode remover um gene Hox de uma mosca e substituí-lo no DNA de um sapo que ele funcionará muito bem. E, como esses genes são as chaves mestras fundamentais do desenvolvimento embrionário, são necessárias apenas alterações minúsculas em qualquer um deles para se criarem novas formas corporais em larga escala.
Embora insegura sobre aonde tudo aquilo estava conduzindo, a profundidade do conhecimento da mulher sobre o assunto surpreendeu Lisa. Rivalizava com o próprio conhecimento seu. Se Anna fosse uma colega em uma conferência, Lisa pensou que poderia de fato apreciar o debate. Na verdade, ela precisava continuar lembrando a si mesma com quem estava falando.
Portanto, o surgimento dos genes Hox pouco antes do período Cambriano poderia explicar a impressionante explosão de formas. Mas - contrapôs Anna - os genes Hox não explicam outros momentos de evolução rápida, quase intencional.
Como o quê?
A discussão estava ficando mais interessante agora.
- Como as mariposas Biston betularia. A senhora conhece a história?
Lisa fez um aceno afirmativo de cabeça. Agora Anna estava trazendo à baila um dos pilares no outro lado do campo. As mariposas das bétulas viviam nessas árvores e eram salpicadas de branco, a fim de se fundir com a casca e evitar serem comidas por pássaros. Porém, quando uma carvoaria foi inaugurada na região de Manchester e enegreceu as árvores com fuligem, as mariposas brancas viram-se expostas e transformadas em alvos fáceis dos pássaros. Mas, em apenas algumas gerações, a cor predominante da população mudou para um preto fechado, que servia de camuflagem nas árvores cobertas de fuligem.
- Se as mutações eram ao acaso - argumentou Anna -, parece um golpe de sorte surpreendente que o preto tenha surgido quando surgiu. Se elas nada mais eram que um acontecimento aleatório, então onde estavam as mariposas vermelhas, as verdes, as roxas? Ou mesmo as de duas cabeças?
Lisa teve de se controlar para não revirar os olhos.
- Eu poderia dizer que as mariposas de outras cores também foram comidas e que as de duas cabeças foram extintas. Mas a senhora está entendendo mal o exemplo. A alteração na cor dessas mariposas não foi causada por mutação. A espécie já tinha um gene preto. Algumas mariposas negras nasciam a cada geração, mas a maioria delas era comida, predominando branca a população geral. Mas, assim que as árvores enegreceram, as poucas mariposas pretas tiveram uma vantagem e aumentaram a população à medida que as mariposas brancas eram consumidas. Essa foi a questão. O meio ambiente pode influenciar uma população. Mas não se tratava de um acontecimento mutacional. O gene preto já existia.
Anna sorriu para ela.
Lisa se deu conta de que a mulher estivera testando seus conhecimentos. Ela aprumou-se na cadeira, zangada e, por outro lado, mais intrigada.
- Muito bem - disse Ana. - Então me deixe expor um evento mais recente, ocorrido no ambiente controlado de um laboratório. Um pesquisador produziu uma cepa da bactéria Escherichia coli que não conseguia digerir a lactose. Depois ele espalhou uma população em expansão sobre uma lâmina de crescimento na qual a única fonte alimentar era a lactose. O que a ciência diria que aconteceu?
Lisa deu de ombros.
Incapazes de digerir a lactose, as bactérias passaram fome e morreram.
E foi exatamente isso que aconteceu com 98 por cento das bactérias. Mas dois por cento continuaram a se desenvolver muito bem. Um gene delas havia sofrido uma mutação espontânea a fim de digerir a lactose. Numa geração. Eu acho isso surpreendente, ja? Isso vai contra toda a probabilidade de aleatoriedade. De todos os genes no DNA de uma Escherichia coli, e considerando a raridade da mutação, por que dois por cento da população sofreram mutação do único gene necessário à sobrevivência? Isso desafia a aleatoriedade.
Lisa teve de argumentar que era estranho.
- Talvez tenha havido contaminação no laboratório.
- O experimento foi repetido, com resultados semelhantes.
Lisa ainda não estava convencida.
Eu vejo a dúvida em seus olhos. Então busquemos outro exemplo da impossibilidade de aleatoriedade na mutação genética.
Onde ele está?
No começo da vida. Na sopa primordial, na qual o motor da evolução foi ligado pela primeira vez.
Lisa lembrou-se de Anna ter mencionado antes que a história do Sino remontava à origem da vida. Era a isso que Anna estava conduzindo agora? Lisa ficou um pouco mais alerta, pronta para ouvir aonde aquela conversa levaria.
Voltemos no tempo - disse Anna. - A uma época anterior à primeira célula. Lembre-se do princípio de Darwin: o que existe teve de se originar de uma forma mais simples, menos complexa. Portanto, o que existia antes da primeira célula? Até que ponto podemos reduzir a vida e ainda chamá-la de vida? O DNA é vivo? Um cromossomo é vivo? E uma proteína ou uma enzima? Onde está a linha divisória entre a química e a vida?
Está bem, essa é uma pergunta intrigante - admitiu Lisa.
Então eu farei outra. Como a vida deu o salto de uma sopa química primordial para a primeira célula?
Lisa sabia aquela resposta.
A atmosfera primitiva da Terra estava repleta de hidrogênio, metano e água. Com o acréscimo de alguns choques de energia, digamos, da descarga de um raio, esses gases puderam formar compostos orgânicos simples. Estes então se transformaram na proverbial sopa primordial e acabaram formando uma molécula que podia se replicar.
O que foi provado em laboratório - concordou Anna com um aceno de cabeça. - Uma garrafa cheia de gases primordiais produziu uma pasta fluida de aminoácido, o elemento constitutivo da proteína.
E a vida teve início.
Ah, a senhora está ansiosa para saltar à frente - provocou Anna. - Nós apenas formamos aminoácidos, o elemento constitutivo. Como passamos de alguns aminoácidos para essa primeira proteína inteiramente replicante?
Misture junto bastantes aminoácidos, e eles acabarão se encadeando na combinação certa.
De forma aleatória?
Lisa acenou a cabeça em resposta.
- É aí que chegamos ao xis do problema, dra. Cummings. Posso concordar com a senhora que a evolução de Darwin tenha desempenhado papel importante depois que a primeira proteína auto-replicante se formou. Mas a senhora sabe quantos aminoácidos devem se encadear para formar a primeira proteína replicante?
-Não.
- No mínimo 32. Essa é a menor proteína com capacidade de replicação. A probabilidade de ela formar-se ao acaso é astronomicamente pequena. Dez elevado à 41a potência .
Lisa deu de ombros ao ouvir esse número. Apesar de seu sentimento em relação à mulher, um respeito relutante começou a se desenvolver.
- Coloquemos essa probabilidade em perspectiva - disse Anna. - Se a senhora pegasse toda proteína encontrada em todas as florestas tropicais do mundo e a dissolvesse em uma sopa de aminoácidos, ainda seria muito improvável que uma cadeia de 32 aminoácidos se formasse. Na verdade, seria necessário cinco mil vezes essa quantidade para formar uma dessas cadeias. Cinco mil vezes todas as florestas tropicais. Repetindo a pergunta, como passamos de uma pasta líquida de aminoácidos para esse primeiro replicador, o primeiro fragmento de vida?
Lisa sacudiu a cabeça.
Anna cruzou os braços, satisfeita.
Essa é uma lacuna evolucionária que até Darwin teve dificuldade de pular.
No entanto - contrapôs Lisa, recusando-se a entregar os pontos -, preencher essa lacuna com a intervenção divina não é ciência. O fato de nós ainda não termos uma resposta sobre o assunto não significa que a sua causa seja sobrenatural.
Não estou dizendo que ela seja sobrenatural. E quem disse que eu não tenho uma resposta para preencher essa lacuna?
Que resposta? - Lisa olhou-a pasmada.
Algo que descobrimos há décadas por intermédio do nosso estudo do Sino. Algo que os pesquisadores de hoje estão apenas começando a explorar a sério.
E o que é?
Lisa percebeu que estava sentada mais ereta, abstendo-se de qualquer tentativa de ocultar seu interesse por qualquer informação relacionada com o Sino.
- Nós chamamos de evolução quântica.
Lisa recordou-se da história do Sino e da pesquisa nazista sobre o estranho e indistinto mundo das partículas subatômicas e da física quântica.
- O que isso tem a ver com a evolução?
- Esse novo campo da evolução quântica não só fornece o mais forte respaldo ao design inteligente - disse Anna -, mas também responde à pergunta fundamental de quem é o designer.
A senhora está brincando. Quem? Deus?
Nein. - Anna olhou-a fixamente nos olhos. - Nós.
Antes que Anna pudesse dar mais explicações, um velho rádio ligado à parede chiou com estática, e uma voz familiar produziu um som estridente. Era Gunther.
- Temos uma pista do sabotador e estamos prontos para agir.
Büren, Alemanha
Gray ultrapassou com o BMW um velho caminhão agrícola com um monte alto de feno na carrocería. Engatou rapidamente a quinta marcha e disparou pela última curva fechada. Chegando ao alto da colina, teve uma vista panorâmica do vale adiante.
- Vale do Alme - disse Monk ao lado dele, segurando com força uma alça acima da porta.
Gray voltou a passar a marcha, reduzindo a velocidade.
Monk o fulminou com os olhos.
Estou vendo que Rachel andou te ensinando como dirigir à italiana.
Uma vez em Roma...
Nós não estamos em Roma.
Era óbvio que não estavam. Quando chegaram ao alto da colina, o amplo vale de um rio estendeu-se à frente, uma faixa verde de campinas, florestas e campos cultivados. No outro lado do vale, uma aldeia alemã digna de cartão-postal comprimia-se na planície, uma cidadezinha de tetos pontiagudos compostos de telhas vermelhas e casas de pedra encravadas em meio a ruas estreitas e sinuosas.
Mas todos os olhos fixaram-se no impressionante castelo no alto da colina distante, aninhado na floresta, dando vista para a aldeia. Torres projetavam-se bem alto, encimadas por bandeiras que se agitavam. Embora maciço e enorme, como muitas das construções fortificadas ao longo do Reno, um rio maior, o castelo também tinha um quô de conto de fadas, um lugar de princesas encantadas e cavaleiros montados em garanhões brancos.
- Se Drácula fosse gay - disse Monk -, seu castelo seria assim.
Gray sabia o que ele queria dizer. O lugar tinha algo de vagamente sinistro, mas poderia ser apenas o céu ameaçador ao norte. Eles teriam sorte de alcançar a aldeia lá embaixo antes que a tempestade caísse.
- Aonde vamos agora? - perguntou Gray.
O ruído de papel amassado ergueu-se do banco traseiro quando Fiona checou o mapa. Ela o confiscara de Monk e assumira o papel de navegadora, pois ainda não tinha revelado o destino a eles.
Ela inclinou-se para a frente e apontou para o rio.
Você tem de cruzar aquela ponte.
Tem certeza?
Sim, eu tenho certeza. Eu sei interpretar um mapa.
Gray desceu para o vale, evitando uma longa fila de ciclistas num visual heterogêneo de malhas de corrida. Ele acelerou o BMW ao longo da estrada sinuosa até o fundo do vale e chegou aos arredores da aldeia.
Ela parecia ser de outro século. Uma Brigadoon alemã. Em toda parte havia jardineiras cheias de tulipas penduradas nas janelas, e cada telhado pontiagudo sustentava coruchéus altos. Nos lados, ruas pavimentadas com pedras arredondadas estendiam-se a partir da via principal. Eles passaram por uma praça repleta de cafés e cervejarias ao ar livre e com um palanque central, no qual Gray tinha certeza de que uma banda tocava polca toda noite.
Em seguida, cruzaram a ponte e logo estavam de novo nos prados e nas pequenas granjas.
- Entre na próxima estrada à esquerda! - gritou Fiona.
Gray teve de frear bruscamente e dar uma guinada no BMW numa curva acentuada.
- Veja se avisa antes da próxima vez.
A estrada foi ficando mais estreita, margeada em ambos os lados por altas cercas vivas. O asfalto transformou-se em pedras arredondadas. O BMW chacoalhava sobre a superfície irregular. Pouco depois, ervas silvestres brotavam entre as pedras. Portões de ferro apareceram à frente, indo de um lado a outro da estrada estreita, aguardando abertos.
Gray reduziu a velocidade.
- Onde nós estamos?
- Este é o lugar de onde veio a Bíblia de Darwin - disse Fiona. - A propriedade dos Hirszfeld.
Gray avançou aos poucos com o BMW pelos portões. A chuva começou a cair do céu nublado. Primeiro de mansinho... depois com mais força.
- Bem a tempo - disse Monk.
Além dos portões, abria-se um amplo pátio, emoldurado nos dois lados pelas alas de uma pequena casa de campo. A casa principal, bem em frente, tinha apenas dois andares, mas seu teto de telhas de ardósia erguia-se em inclinações íngremes, dando-lhe um pouco de imponência.
A explosão de um raio crepitou acima, atraindo os olhares.
O castelo que eles haviam notado antes erguia-se no topo da colina arborizada atrás da propriedade. Ele parecia agigantar-se sobre a casa de campo.
- Ei! - alguém gritou com hostilidade.
Gray voltou a concentrar sua atenção na direção.
Um ciclista que tirava apressadamente sua bicicleta da chuva quase fora atropelado. O rapaz, trajando uma camisa de futebol amarela e short de ciclismo, deu um tapa no capô do BMW.
- Preste atenção aonde você está indo, meu chapa! - disse ele, mostrando o dedo médio para Gray.
Fiona já havia baixado o vidro da janela traseira e posto a cabeça para fora.
- Cai fora, seu bundão! Por que você não olha para onde está correndo nesse seu shortinho de boiola?!
Monk sacudiu a cabeça.
- Parece que Fiona arrumou um encontro para mais tarde.
Gray avançou com o carro até uma vaga demarcada no chão perto da casa principal. Havia apenas outro carro, mas ele notou uma fileira de mountain bikes presas por correntes a suportes. Um grupo de rapazes e moças encharcados estava embaixo de um toldo, com as mochilas apoiadas no chão. Ele os ouviu falar enquanto desligava o motor. Espanhol. O lugar devia ser um albergue para jovens. Ou pelo menos era agora. Ele praticamente pôde sentir o cheiro de patchuli e de maconha. Aquele era o lugar certo?
Mesmo que fosse, Gray duvidava que pudesse encontrar algo importante ali. Mas eles tinham ido até lá.
- Esperem aqui - disse ele. - Monk, fique com...
A porta traseira foi aberta e Fiona desceu.
Da próxima vez - disse Monk, estendendo a mão para sua porta -, escolha o modelo com travas na traseira que não possam ser abertas por crianças.
Vamos.
Gray seguiu atrás dela.
Com a mochila no ombro, Fiona andou a passos largos em direção à porta da frente da casa principal.
Ele a alcançou nos degraus da varanda e segurou o cotovelo dela.
- Nós vamos ficar juntos. Nada de cair fora.
Ela o encarou, igualmente zangada.
- Exatamente. Vamos ficar juntos. Nada de cair fora. Isso significa não me deixar em aviões ou carros. - Ela se livrou dele e abriu a porta.
Um som melodioso anunciou a chegada deles.
O recepcionista ergueu o olhar de trás de um balcão de recepção em mogno logo depois da porta. No início da manhã, o fogo ardia na lareira, espantando a friagem. O saguão de entrada tinha vigas retangulares e piso de ardósia. Murais de cores suaves, que pareciam ter séculos de idade, decoravam as paredes. Mas o lugar exibia sinais de abandono: pedaços de gesso desmoronando, poeira nos caibros, tapetes desgastados e desbotados no chão. Parecia que o lugar tinha visto dias melhores.
O recepcionista fez um aceno de cabeça para eles, um rapaz forte de camisa de rúgbi e calça verde. No fim da adolescência ou no início da casa dos 20, ele parecia algum calouro universitário de uma propaganda de alguma marca luxuosa.
- Guten morgen - o recepcionista cumprimentou Gray enquanto ele se dirigia ao balcão.
Monk esquadrinhou o saguão enquanto trovões ribombavam no vale.
- Não há nada de guten nesta manhã - murmurou ele.
- Ah, americanos - disse o recepcionista, ouvindo a queixa de Monk. Havia uma ligeira frieza no seu tom de voz.
Gray pigarreou.
- Nós gostaríamos de saber se esta é a antiga propriedade dos Hirszfeld.
Os olhos do recepcionista arregalaram-se ligeiramente.
- Ja, aber... há duas décadas é o Albergue Burgschlofi, desde que meu pai, Johann Hirszfeld, herdou a propriedade.
Então eles estavam no lugar exato. Ele olhou de relance para Fiona, que ergueu as sobrancelhas para ele como se estivesse perguntando O quê? Ela estava ocupada, vasculhando sua mochila. Ele rezou para que Monk estivesse certo e não houvesse nenhuma granada luminosa ali dentro.
Gray voltou sua atenção para o recepcionista.
Eu gostaria de saber se poderia falar com o seu pai.
Sobre...?
A frieza estava de volta, junto com alguma cautela.
Fiona empurrou-o para o lado.
- Sobre isto.
Ela jogou um livro familiar sobre o balcão da recepção. Era a Bíblia de Darwin.
Oh, meu Deus... ele deixara o livro sob guarda no jato. Aparentemente não o bastante.
Fiona - disse Gray num tom de advertência.
Ela é minha - disse ela pelo canto da boca.
O recepcionista pegou o livro e o folheou rapidamente. Não houve qualquer sinal de reconhecimento.
- Uma Bíblia? Nós não permitimos proselitismo aqui no albergue. - Ele fechou o livro e o empurrou de volta para Fiona. - Além do mais, meu pai é judeu.
Com o segredo revelado, Gray foi direto ao ponto.
- A Bíblia pertenceu a Charles Darwin. Acreditamos que ela um dia tenha sido parte da biblioteca de sua família. Nós gostaríamos de saber se poderíamos perguntar mais ao seu pai a respeito dela.
O recepcionista olhou para a Bíblia com menos desdém.
- A biblioteca foi vendida antes de meu pai assumir o controle deste lugar - disse ele lentamente. - Jamais consegui vê-la. Eu soube por vizinhos que ela havia pertencido à minha família por séculos a fio.
O rapaz contornou o balcão da recepção e seguiu na frente, passando pela lareira, até uma abertura em arco que dava para uma pequena sala contígua. Em uma parede estavam alinhadas janelas altas e estreitas, dando à sala o aspecto de uma clausura. Na parede oposta, havia uma lareira apagada, grande o suficiente para que se pudesse entrar nela em pé. O aposento era repleto de fileiras de mesas e bancos, mas estava vazio, exceto pela presença de uma mulher mais velha de jaleco que varria o assoalho.
- Esta era a antiga biblioteca e sala de leitura da família. Agora é o refeitório do albergue. Meu pai recusou-se a vender a propriedade, mas havia impostos atrasados. Suponho que esse tenha sido o motivo da venda da biblioteca há meio século. Meu pai teve de leiloar a maior parte da mobília original. A cada geração, um pouco de história desaparece.
- Uma lástima - disse Gray.
O recepcionista fez um aceno de cabeça e afastou-se.
- Me deixem chamar meu pai. Ver se ele está disposto a conversar com vocês. Alguns instantes depois, o rapaz acenou para eles e os guiou a uma porta dupla larga, que ele destrancou e segurou. Ela conduzia à parte privada da propriedade.
O recepcionista apresentou-se como Ryan Hirszfeld enquanto os conduzia aos fundos e ao exterior da casa, a uma estufa de vidro e bronze. As paredes estavam revestidas de samambaias em vasos e bromélias coloridas. Num lado provido de janelas, erguiam-se prateleiras escalonadas repletas de inúmeras espécies de plantas, algumas parecidas com ervas silvestres. No fundo, elevava-se uma única palmeira, sua copa roçando o teto de vidro, algumas folhas amarelando devido à negligência. O lugar, desleixado e abandonado, tinha um quê de velho e sufocante. A sensação aumentava com as gotas d'água que vazavam através de uma vidraça rachada e caíam em um balde.
O solário estava longe de ser ensolarado.
No centro da estufa, um homem frágil estava sentado em uma cadeira de rodas, com um cobertor no colo, olhando para fora, em direção aos fundos da propriedade. A água da chuva escorria por todas as superfícies, fazendo o mundo além parecer insubstancial, irreal.
Ryan foi até ele, quase com timidez.
- Vater, hiersind die Leute mit der Bibel.
- Auf Englisch, Ryan... auf Englisch.
O homem puxou uma roda e a cadeira girou, ficando de frente para eles. A pele dele parecia fina como papel. A voz chiava. Gray supôs que ele sofria de enfisema.
Ryan, o filho, exibia uma expressão angustiada. Gray se perguntou se ele ao menos estava ciente disso.
- Sou Johann Hirszfeld - disse o velho. - Então vocês vieram perguntar sobre a antiga biblioteca. Sem dúvida, tem havido muito interesse ultimamente. Silêncio durante décadas; agora, duas pessoas interessadas em um ano.
Gray lembrou-se da história que Fiona contara sobre o misterioso cavalheiro idoso que visitara a livraria de Grette e vasculhara os arquivos. Ele devia ter visto o instrumento de venda e seguido o mesmo caminho até ali.
Ryan disse que vocês têm um dos livros.
A Bíblia de Darwin - disse Gray.
O velho estendeu as mãos. Fiona deu um passo à frente, colocou-a nas palmas dele, e ele a acomodou no colo.
- Eu não a vejo desde que era menino - disse ele, chiando, e ergueu o olhar para o filho. - Danke, Ryan. Você deveria cuidar da recepção.
Ryan acenou com a cabeça, afastando-se com relutância, depois virou-se e saiu.
Johann esperou o filho fechar a porta da estufa e em seguida suspirou, os olhos voltados para a Bíblia. Ele abriu a capa e checou a árvore genealógica de Darwin na parte interna.
- Esta era uma das posses mais estimadas da minha família. A Bíblia foi um presente da Sociedade Real Britânica ao meu bisavô em 1901. Ele havia sido um eminente botânico na virada do século.
Gray sentiu a melancolia na voz do homem.
- Nossa família tem uma longa tradição de estudos e realizações científicos. Nada parecido com a obra de Herr Darwin, mas ganhamos algumas notas de rodapé.
Seus olhos deslocaram-se de novo para a chuva e para a propriedade encharcada.
Isso acabou há muito tempo. Agora creio que nós teremos de ser conhecidos como hoteleiros.
- A respeito da Bíblia - disse Gray. - O senhor pode me dar mais alguma informação sobre ela? A biblioteca sempre foi mantida aqui?
Natürlich. Alguns livros eram levados para o campo quando um ou outro dos meus parentes ia fazer pesquisas no exterior. Mas este livro deixou a nossa casa uma única vez. Eu só sei disso porque estava aqui quando ela foi devolvida. Remetida de volta pelo correio pelo meu avô. Causou um rebuliço aqui.
Por quê?
- Eu pensei que vocês fossem perguntar, por isso mandei Ryan sair. É melhor que ele não saiba.
Perguntar sobre o quê?
Meu avô Hugo trabalhou para os nazistas. E sua filha, minha tia Tola, também. Os dois eram inseparáveis. Soube mais tarde, sussurrado de maneira escandalosa entre os parentes, que eles estavam envolvidos em algum projeto de pesquisa secreto. Ambos eram biólogos conhecidos e eminentes.
Que tipo de pesquisa? - perguntou Monk.
Ninguém jamais soube. Tanto meu avô quanto tia Tola morreram no fim da guerra. Mas um mês antes disso chegou um caixote enviado pelo meu avô. Esse caixote continha a parte da biblioteca que ele havia levado consigo. Talvez ele soubesse que estava condenado e quisesse preservar os livros. Cinco livros, na verdade. - O homem bateu de leve na Bíblia. - Este era um deles. Contudo, ninguém pôde me dizer o que ele poderia querer da Bíblia como instrumento de pesquisa.
Talvez um pedacinho do lar - disse Fiona suavemente.
Johann pareceu ver por fim a garota. Ele acenou lentamente com a cabeça.
- Pode ser. Talvez alguma associação com o próprio pai. Alguma aprovação simbólica do que ele estava fazendo. - O velho sacudiu a cabeça. - Trabalhando para os nazistas, uma atitude horrível.
Gray lembrou-se de algo que Ryan dissera.
Espere. Mas o senhor é judeu, não é?
Sim. O senhor deve, no entanto, entender: minha bisavó, a mãe de Hugo, era alemã, com profundas raízes familiares locais. E isso incluía relações com o partido nazista. Mesmo quando a perseguição de Hitler começou, nossa família foi poupada. Nós fomos considerados Mischlinge, pessoas de sangue misto. Éramos alemães o suficiente para evitar uma sentença de morte. Mas, para provar essa lealdade, meu avô e minha tia foram recrutados pelos nazistas. Eles estavam reunindo cientistas como esquilos atrás de nozes.
Então eles foram forçados - disse Gray.
Johann olhou para a tempestade lá fora.
Eram tempos complicados. Meu avô nutria algumas crenças estranhas.
Que tipo de crenças?
Pareceu que Johann não ouviu a pergunta. Ele abriu a Bíblia e folheou as páginas. Gray notou as marcas de tinta feitas à mão. Ele deu um passo à frente e apontou para algumas dessas marcas confusas.
- Nós nos perguntamos o que poderiam ser esses símbolos - disse Gray.
- O senhor já ouviu falar na Sociedade Thule? - indagou o velho, parecendo não ouvir sua pergunta.
Gray sacudiu a cabeça.
- Eles eram um grupo extremista de nacionalistas alemães. Meu avô era um dos membros, iniciado aos 22 anos. A família da mãe dele tinha vínculos com os membros fundadores. Eles tinham uma profunda crença na filosofia do Übermensch.
- Übermensch. Super-homem.
- Correto. A sociedade recebeu seu nome da terra mítica de Thule, algum vestígio do reino perdido de Atlântida, uma terra de alguma super-raça.
Monk fez um ruído desdenhoso.
- Como eu dizia - disse Johann, chiando -, meu avô nutria algumas crenças estranhas. Mas na época ele não fazia parte de uma minoria. Especialmente neste lugar. Foi nestas florestas que as antigas tribos teutónicas mantiveram a distância as legiões romanas, definindo a fronteira entre a Alemanha e o Império Romano. A Sociedade Thule acreditava que os teutões eram descendentes dessa super-raça perdida.
Gray compreendeu o apelo do mito. Se esses antigos guerreiros alemães eram super-homens, então seus descendentes - os alemães modernos - ainda carregavam a herança genética.
- Foi o começo da filosofia ariana.
- As crenças deles também estavam mescladas com muito misticismo e coisas ocultas. Eu nunca entendi isso tudo, mas, de acordo com a minha família, meu avô tinha uma curiosidade incomum. Sempre descobrindo coisas estranhas, investigando mistérios históricos. Durante o tempo livre, ele estava sempre interessado em aguçar sua mente. Truques de memorização, quebra-cabeças. Sempre com os quebra-cabeças. Depois ele descobriu algumas das histórias ocultas e procurou a verdade por trás delas. Isso virou uma obsessão.
Enquanto falava, a atenção do velho voltara a se concentrar na Bíblia. Ele folheou as páginas. E, quando chegou ao fim, examinou a parte interna da contracapa.
- Das ist merkwürdig.
Merkwürdig. Estranho.
Gray chegou mais perto e olhou sobre o ombro do homem.
- O quê?
O velho correu um dedo ossudo pela parte interna da contracapa. Passou depressa para a capa e, em seguida, de novo para a contracapa.
- A árvore genealógica da família de Darwin. Ela não estava escrita apenas na parte interna da capa..., mas também na parte interna da contracapa. Eu era apenas um menino na época, mas me lembro claramente disso.
Johann ergueu o livro, exibindo a contracapa.
- A árvore genealógica na parte interna da contracapa desapareceu.
- Deixe-me ver.
Gray pegou o livro e examinou bem de perto a parte interna da contracapa. Fiona e Monk ficaram ao lado dele.
Ele correu um dedo ao longo da encadernação e, em seguida, observou a contracapa com cuidado.
- Olhem aqui - disse ele. - Parece que alguém cortou a guarda no fim da Bíblia e a colou sobre a parte interna da contracapa. Sobre o papelão original. - Gray olhou de relance para Fiona. - Grette teria feito isso?
- Não existe a menor probabilidade. Ela preferiria rasgar a Mona Lisa.
Se não fora Grette...
Gray olhou para Johann.
- Tenho certeza de que ninguém na minha família fez isso. A biblioteca foi vendida apenas alguns anos após a guerra. Depois que a Bíblia foi enviada de volta para cá, pelo correio, duvido que alguém a tenha tocado.
Com isso, restava apenas Hugo Hirszfeld.
- Um canivete - disse Gray, dirigindo-se a uma mesa de jardim.
Monk estendeu a mão para sua mochila e pegou um canivete do Exército suíço. Ele o abriu e o passou para Gray. Usando a ponta do canivete, Gray raspou as extremidades da folha de trás, depois puxou uma ponta para cima. A grossa guarda ergueu-se facilmente. Apenas a beira havia sido colada.
Johann empurrou sua cadeira a fim de se juntar a eles. Ele teve de se escorar pelos braços para ver por cima da mesa. Gray não escondeu o que estava fazendo. Ele poderia precisar da cooperação do homem para o que quer que viesse a ser exposto.
Gray removeu a guarda e revelou o papelão original da capa. Nele, cuidadosamente escrita, estava a outra metade da árvore genealógica de Darwin. Johann tinha razão. Porém, isso não era tudo o que havia ali agora.
- Horrível - disse Johann. - Por que meu avô faria isso? Desfigurar a Bíblia desse jeito?
Superposto à árvore genealógica, desenhado com tinta preta na página inteira, profundamente entranhado no papelão da contracapa da Bíblia, estava um estranho símbolo.
Com a mesma tinta, uma única frase em alemão havia sido escrita abaixo dele.
Gott, verzeihen mir.
Gray traduziu.
Deus, perdoa-me.
Monk apontou para o símbolo.
- O que é isso?
- Uma runa - disse Johann, fechando a cara e deixando-se cair em sua cadeira de rodas. - Mais da loucura do meu avô.
Gray virou-se para ele.
- A Sociedade Thule acreditava na magia das runas, no poder e nos ritos antigos associados com os símbolos nórdicos. Quando os nazistas passaram a levar a sério a filosofia dos super-homens da Sociedade Thule, eles também absorveram o misticismo relacionado com as runas - Johann explicou.
Gray estava familiarizado com a simbologia nazista e seu vínculo com as runas, mas qual era o significado daquela runa ali?
- O senhor conhece o significado deste símbolo específico? - perguntou Gray.
- Não. Não é um assunto que interesse a um judeu alemão. Não depois da guerra. - Johann virou sua cadeira de rodas e olhou fixamente para a tempestade. Trovões ribombaram, soando distantes e próximos ao mesmo tempo. - Mas eu conheço alguém que poderia ajudar vocês. Um curador do museu lá em cima.
Gray fechou a Bíblia e juntou-se a Johann.
- Que museu?
Um relâmpago iluminou a estufa. Johann apontou para cima. Gray esticou o pescoço. Na luz efêmera, encoberto pela chuva, erguia-se o enorme castelo.
- Historisches Museum des Hochstifts Paderborn - disse Johann. - Ele está aberto hoje e fica no interior do castelo. - O velho olhou com ar carrancudo para seus vizinhos. - Eles certamente sabem o que o símbolo significa.
- Por quê?
Johann o fitou como se ele fosse um tolo.
- Quem melhor do que eles? Aquele é o Castelo Wewelsburg. - Como Gray não disse nada, o velho prosseguiu com um suspiro. O Camelot Negro de Himmler. A fortaleza da SS nazista.
- Então era o castelo de Drácula - murmurou Monk.
No século XVII, bruxas foram julgadas, milhares de mulheres foram torturadas e executadas lá. Himmler apenas aumentou sua dívida de sangue. Mil e duzentos judeus do campo de concentração de Niederhagen morreram durante a reconstrução do castelo por Himmler. Um lugar amaldiçoado. Deveria ser demolido - Johann continuou.
Mas, e esse museu? - perguntou Gray, desviando Johann de sua raiva crescente. O chiado do homem havia piorado. - Será que eles conhecem a runa?
Ele acenou positivamente com a cabeça.
- Heinrich Himmler era membro da Sociedade Thule, impregnada do saber das runas. Na verdade, foi assim que meu avô chamou a atenção dele. Ambos eram obcecados pelas runas.
Gray percebeu uma convergência de vínculos e acontecimentos, todos centrados nessa Sociedade Secreta Thule. Mas o quê? Ele precisava de mais informações. Uma ida ao museu do castelo era duplamente justificada.
Johann empurrou sua cadeira de rodas para longe de Gray, dispensando-o.
- Foi por causa desses interesses comuns com meu avô que Himmler concedeu o indulto à nossa família, uma famíla de Mischlinge. Nós fomos poupados dos campos.
Por causa de Himmler.
Gray compreendeu a origem da raiva do homem... e por que ele havia pedido ao filho que saísse da estufa. Era um fardo de família que seria melhor manter oculto. Johann olhou fixamente para a tempestade.
Gray pegou a Bíblia e acenou para que todos saíssem.
- Danke - disse ele para o velho.
Johann o ignorou, perdido no passado.
Gray e os outros logo estavam na varanda da frente de novo. A chuva continuava a cair torrencialmente do céu baixo. O pátio estava deserto. Ninguém pedalaria suas bicicletas ou faria excursão a pé hoje.
- Vamos embora - disse Gray, e saiu na chuva.
- Um dia perfeito para assaltar um castelo - disse Monk com sarcasmo.
Enquanto eles andavam às pressas pelo pátio, Gray notou um novo carro estacionado ao lado do deles. Vazio. O motor fumegava na chuva fria. Devia ter acabado de chegar.
Um Mercedes branco.
Himalaia
- De onde está vindo o sinal? - perguntou Anna.
A mulher havia corrido para a sala de manutenção, reagindo de imediato ao chamado de Gunther. Ela chegara sozinha, afirmando que Lisa preferira ficar na biblioteca para investigar algumas pesquisas mais a fundo. Painter pensou que fosse mais provável que Anna ainda quisesse mantê-los separados.
Ainda bem que Lisa estava fora de perigo.
Sobretudo se eles de fato estivessem na pista do sabotador.
Inclinando-se para mais perto da tela do laptop, Painter massageou as pontas dos dedos. Ele sentia um formigamento persistente atrás das unhas. Parou de fazer a massagem por tempo suficiente para apontar para o diagrama tridimensional do castelo.
- A melhor estimativa é esta área - disse Painter, tocando na tela.
Ele havia ficado surpreso de ver como o castelo se estendia vastamente montanha adentro. Ele fora escavado exatamente de um extremo a outro do pico. O sinal vinha do outro lado.
- Mas não temos o local preciso. O sabotador precisaria de uma linha de transmissão desobstruída para usar seu telefone via satélite.
Anna aprumou-se.
- O heliporto fica lá.
Gunther grunhiu, acenando com a cabeça.
Na tela, a superposição de linhas pulsantes de repente desapareceu.
- Ele está encerrando a chamada - disse Painter. - Temos de nos apressar. Anna virou-se para Gunther.
- Entre em contato com Klaus. Mande os homens dele para perto do heliporto. Agora.
Gunther dirigiu-se a um fone na parede e ordenou a proibição de saída. O plano era revistar cada pessoa nas proximidades do sinal e descobrir quem possuía um telefone via satélite ilícito.
Anna virou-se para Painter.
Obrigada pela ajuda. Nós investigaremos daqui em diante.
Talvez eu possa ajudar mais. - Painter estava ocupado digitando no laptop. Ele memorizou o número que apareceu na tela, depois desconectou seu amplificador de sinal do fio-terra do castelo e aprumou-se. - Mas vou precisar de um dos seus telefones portáteis via satélite.
Eu não posso deixar o senhor aqui com um telefone - disse Anna, tocando a têmpora com os nós dos dedos e estremecendo. Dor de cabeça.
- A senhora não precisa sair do meu lado. Eu irei com a senhora até o heliporto.
Gunther deu um passo à frente e sua carranca usual intensificou-se.
Anna acenou para que ele se afastasse.
- Nós não temos tempo para discutir.
Mas alguma comunicação silenciosa foi trocada entre o homenzarrão e sua irmã. Um aviso para que ele ficasse de olho em Painter.
Anna saiu da sala na frente.
Painter foi atrás, ainda esfregando os dedos. Suas unhas tinham começado a queimar. Ele as examinou pela primeira vez, esperando que os leitos delas estivessem inflamados. Em vez disso, porém, elas estavam estranhamente pálidas, sem cor.
Ulceração causada pelo frio?
Gunther lhe passou um dos telefones do castelo, observou a preocupação de Painter e sacudiu a cabeça. Ele estendeu uma das mãos. Painter, que não havia entendido, depois notou que faltavam as unhas dos três últimos dedos do homem.
Gunther baixou o braço e marchou atrás de Anna.
Painter fechou e abriu as mãos. Então o formigamento não era ulceração causada pelo frio. A doença quântica estava avançando. Ele se lembrou da relação de debilidades enumerada por Anna nas cobaias humanas submetidas aos experimentos com o Sino: perda dos dedos das mãos e dos pés, perda das orelhas. Não era diferente da lepra.
Quanto tempo?
Enquanto eles se encaminhavam para o outro lado da montanha, Painter examinou Gunther. O homem tinha passado a vida inteira com uma espada pendendo sobre sua cabeça. Debilidade crônica e progressiva, acompanhada por loucura. Painter estava indo rumo à versão da Readers Digest da mesma condição. Ele não podia negar que ela o aterrorizava - não tanto a debilidade quanto a perda da razão.
Quanto tempo ele tinha?
Gunther parecia ter percebido o devaneio dele.
- Não vou deixar isto acontecer a Anna - rosnou ele a meia-voz para Painter. -Vou fazer algo para deter isto.
Painter foi mais uma vez lembrado de que os dois eram irmãos. Só depois de saber disso é que ele observou as sutis semelhanças nas feições: curva do lábio, formato do queixo, rugas idênticas na testa. Família. Mas as semelhanças terminavam aí. Os cabelos escuros e os magníficos olhos verde-esmeralda de Anna faziam um forte contraste com o ar abatido do irmão. Apenas Gunther nascera sob o efeito do Sino, uma criança sacrificada, uma contribuição paga com sangue e o último dos Sonnenkönige.
A medida que eles cruzavam corredores e desciam escadas, Painter removeu a tampa traseira do telefone portátil. Ele a guardou no bolso, soltou a bateria e conectou temporariamente seu amplificador ao fio da antena atrás da bateria. A transmissão seria apenas um único aumento repentino na amplitude do sinal, duraria alguns segundos, mas deveria resolver o problema.
O que é isso? - perguntou Gunther.
Um rastreador GPS. O amplificador gravou as especificações do chip do telefone do sabotador durante a chamada. Eu posso usá-lo para persegui-lo até alcançá-lo, se ele estiver por perto.
Gunther grunhiu, engolindo a mentira.
Até agora, tudo bem.
A escada terminava em um corredor amplo, largo o suficiente para um tanque passar. Velhos trilhos de aço corriam ao longo do chão e avançavam diretamente para o coração da montanha. O heliporto estava localizado na outra extremidade, distante do castelo principal. Eles embarcaram num vagão-plataforma. Gunther soltou o freio de mão e ligou o motor elétrico pressionando um pedal no assoalho. Não havia assentos, apenas grades. Painter segurou-se enquanto eles se deslocavam velozmente pelo túnel, iluminado a intervalos regulares por lâmpadas suspensas.
- Quer dizer então que vocês têm um metrô próprio - disse Painter.
- Para o transporte de mercadorias - respondeu Anna, estremecendo, sua testa franzindo de dor. Ela já havia tomado dois comprimidos. Será que eram analgésicos?
Eles passaram por uma série de depósitos com pilhas altas de barris, caixas e caixotes, aparentemente transportados de helicóptero e estocados. Um minuto depois, alcançaram o fim do túnel. O ar havia ficado mais quente, cheio de vapor, com um vago odor de enxofre. Um som profundo vibrou através da pedra e pelas pernas de Painter acima quando ele desceu do vagão. Ele havia espiado os diagramas do castelo e por isso sabia que a usina geotérmica estava localizada nas regiões inferiores daquela área.
Eles estavam, porém, seguindo para cima, não para baixo.
Uma rampa continuava a partir dali, larga o suficiente para acomodar um Humvee. Eles entraram numa caverna. A luz penetrava através de um conjunto de portas de aço abertas no teto. Parecia o armazém de um aeroporto comercial: guindastes, empilhadeiras de forquilha, equipamento pesado. E no centro estavam dois helicópteros A-Star Ecuriel, um preto e o outro branco, ambos com a forma de vespões zangados, próprios para vôos em grande altitude.
Klaus, o corpulento guarda da estirpe dos Sonnenkönige, notou a entrada deles e encaminhou-se até eles, poupando seu lado fraco. Ele ignorou todos, exceto Anna.
- Está tudo bem guardado - disse ele em alemão claro.
Ele acenou com a cabeça para uma fila de homens e mulheres num canto. Pelo menos uma dúzia estava sob os olhos vigilantes de um contingente de guardas armados.
Ninguém passou furtivamente por você? - perguntou Anna.
Nein. Nós estávamos de prontidão.
Anna havia posicionado quatro Sonnenkönige em cada quadrante principal do castelo, prontos para bloquear qualquer região que Painter localizasse com precisão com seu aparelho. Mas, e se ele tivesse cometido um erro? A agitação ali certamente alertaria o sabotador. Ele ou ela se esconderia ainda mais. Aquela era a única chance deles.
Anna também sabia disso. Ela cruzou a sala, rígida.
- Você encontrou...?
Ela deu um passo em falso, oscilando um pouco. Gunther segurou o braço dela, firmando-a, a preocupação estampada no rosto dele.
- Estou bem - ela sussurrou para ele e continuou sem ajuda.
- Nós revistamos todo mundo - disse Klaus, fazendo todo o possível para ignorar o passo em falso dela. - Não encontramos nenhum telefone ou aparelho. Íamos começar a revistar o heliporto.
O olhar de censura de Anna intensificou-se. Era o que eles haviam temido. Em vez de carregar o telefone, o sabotador poderia facilmente tê-lo escondido em algum lugar depois da chamada.
Ou, por outro lado, Painter poderia ter cometido um erro de cálculo.
Nesse caso, ele teria de se redimir.
Painter aproximou-se de Anna e ergueu seu aparelho improvisado.
- Eu posso acelerar a busca do telefone.
Ela o olhou desconfiada, mas eles tinham poucas opções. Ela concordou.
Gunther ficou ao lado dele.
Painter ergueu o telefone via satélite, ligou-o e digitou o número que havia memorizado. Nove dígitos. Nada aconteceu. Olhos estavam fixos nele.
Ele fez um esforço enorme para se concentrar e digitou os números de novo. Nada ainda.
Será que ele havia obtido o número errado?
- Was ist los? - perguntou Anna.
Painter olhou fixamente para a seqüência de dígitos na pequena tela do telefone. Ele voltou a lê-los até o fim e percebeu seu erro.
- Eu embaralhei os dois últimos números, troquei a posição deles.
Ele sacudiu a cabeça e os digitou outra vez, concentrando-se muito, devagar. Finalmente era a seqüência certa. Anna o olhou nos olhos quando ele ergueu a cabeça. O erro dele ia além do estresse. Ela também sabia disso. A digitação num teclado de multifreqüência era muitas vezes usada como um teste de acuidade mental.
E aquele fora um simples número de telefone.
Mas um número importante.
O sinal de rede de Painter havia captado o número do telefone via satélite do sabotador. Ele pressionou a tecla ENVIAR e ergueu o olhar.
Após um milissegundo, um telefone tocou na câmara, soando alto.
Todos os olhos voltaram-se.
Para Klaus.
O Sonnenkönig deu um passo para trás.
- Seu sabotador... - disse Painter.
Klaus abriu a boca, pronto para negar; porém, em vez disso, sacou sua pistola, com o rosto endurecido.
Gunther reagiu um segundo mais rápido, e já estava com sua pistola MK23 na mão.
Ouviu-se o som de um disparo.
A arma de Klaus voou das pontas de seus dedos, o ricochete produzindo uma centelha.
Gunther precipitou-se para a frente, pressionando o cano fumegante de sua pistola contra a face de Klaus. A carne fria chiou, queimada pela boca ainda quente da arma. Klaus nem sequer estremeceu. Eles precisavam do sabotador vivo, para responder a perguntas. Gunther fez a primeira de todas.
- Warum? - grunhiu ele. Porquê?
Klaus lançou um olhar feroz de seu olho bom. A pálpebra do outro descaía junto com seu rosto semiparalisado, transformando seu sorriso escarninho em algo mais aterrador. Ele cuspiu no chão.
- Para pôr um fim ao reinado humilhante dos Leprakönige.
Um ódio por muito tempo reprimido refletia-se de seu rosto contorcido. Painter pôde apenas imaginar os anos de ódio ardendo a fogo lento nos ossos do homem, anos durante os quais foi ridicularizado enquanto seu corpo se deteriorava. Antigamente um príncipe, agora um leproso. No entanto, Painter sentiu que era mais do que mera vingança. Alguém havia transformado o homem em um espião.
Mas quem?
- Irmão - disse Klaus a Gunther -, não precisa ser desse jeito, uma vida de mortos-vivos. Existe cura. - Um pungente tom de esperança e súplica penetrou na voz do homem. - Nós podemos ser reis entre os homens de novo.
Então isso seria como as 30 moedas de prata.
A promessa de cura. Gunther não vacilou.
- Eu não sou seu irmão - respondeu do fundo do peito. - E nunca fui um rei.
Painter sentiu a verdadeira diferença entre esses dois Sonnenkönige. Klaus era dez anos mais velho. Como tal, ele havia crescido como um príncipe ali, apenas para que tudo lhe fosse tirado. Gunther, por outro lado, havia nascido no fim do período de testes, quando a debilidade e a loucura já haviam se tornado uma realidade conhecida. Ele sempre fora um leproso, não conhecera outra vida. E havia outra diferença crucial entre eles.
- Você condenou Anna à morte com sua traição - disse Gunther. - Eu vou fazer você e todos os que te apoiaram sofrerem por isso.
Klaus não recuou, mas ficou mais sério.
- Ela também pode ser curada. É possível dar um jeito nisso.
Os olhos de Gunther estreitaram-se.
Klaus sentiu a hesitação, a esperança em seu adversário. Não por ele mesmo, mas pela irmã.
- Ela não precisa morrer.
Painter lembrou-se das palavras de Gunther mais cedo. Não vou deixar isto acontecer a Anna. Vou fazer algo para deter isto. Será que isso implicava trair todos os demais? Até mesmo desafiar os desejos da irmã?
- Quem te prometeu essa cura? - perguntou Anna com a voz dura.
Klaus deu uma gargalhada gutural.
- Homens muito mais importantes do que as pessoas hipócritas em que vocês se transformaram aqui. Nada mais justo do que vocês serem banidos. Vocês serviram ao seu propósito. Mas acabou.
Algo produziu um estalo alto nas mãos de Painter. O telefone via satélite que ele havia usado para expor o sabotador estilhaçou-se quando a bateria explodiu em virtude do curto-circuito causado pelo amplificador. Com os dedos doendo, ele largou os restos fumegantes do telefone e olhou para o céu, na direção das portas de aço no teto do heliporto. Ele rezou para que o amplificador tivesse durado tempo suficiente.
Ele não foi o único que se distraiu. Todos os olhos haviam se voltado para ele quando o telefone explodiu. Inclusive os de Gunther.
Aproveitando a desatenção momentânea, Klaus pegou uma faca de caça e partiu para cima do outro Sonnenkönig. Gunther abriu fogo, e a munição enorme acertou seu agressor no estômago. Ainda assim, enquanto Klaus caía, sua lâmina cortou de raspão a carne do ombro de Gunther.
Ofegante, Gunther girou e jogou Klaus no chão.
O homem caiu pesadamente, estatelando-se. Porém, conseguiu girar de lado, o braço saudável comprimindo a barriga. O sangue jorrava em grande quantidade do ferimento no estômago. Klaus vomitou. Mais sangue. Vermelho vivo. Arterial. O tiro sem pontaria de Gunther acertara algo vital.
Anna correu para o lado de Gunther com a intenção de olhar o ferimento dele. Ele afagou as costas dela, mantendo a pistola apontada para Klaus. O sangue encharcou a manga de Gunther e começou a gotejar na pedra.
Klaus simplesmente deu uma gargalhada, desagradável como o ranger de pedras.
- Todos vocês vão morrer! Estrangulados quando o nó apertar!
Ele tornou a tossir, já em convulsão. O sangue espalhou-se numa poça. Com um último estremecimento de escárnio, ele desabou de bruços no chão. Gunther baixou a arma. Klaus não precisava mais ser vigiado. Um último suspiro e o homenzarrão ficou imóvel.
Morto.
Gunther deixou Anna usar um trapo oleoso tirado de uma pilha próxima para atar seu ferimento até que fosse possível cuidar melhor dele.
Painter contornou o corpo de Klaus, incomodado com alguma coisa. Outras pessoas na sala haviam se reunido ao redor, conversando entre si com a voz ao mesmo tempo cheia de medo e de esperança. Todos tinham ouvido a menção à cura.
Anna juntou-se a ele.
Vou mandar um dos nossos técnicos examinar o telefone via satélite dele. Talvez isto possa nos levar a quem orquestrou a sabotagem.
Não dispomos de tempo suficiente - sussurrou Painter, desligando-se de tudo mais. Ele concentrou-se no que o incomodava. Era como tentar agarrar fios fora de alcance.
Enquanto andava de um lado para outro, reviu as pistas que Klaus tinha dado.
... nós podemos ser reis entre os homens de novo.
... vocês serviram ao seu propósito. Mas acabou.
Uma dor de cabeça o atacou enquanto ele tentava juntar as peças.
Klaus devia ter sido recrutado como agente duplo... num jogo de espionagem industrial. Para alguma pesquisa paralela em curso. E agora o trabalho no castelo havia se tornado supérfluo. Medidas haviam sido tomadas para eliminar a competição.
- Será que ele disse a verdade? - indagou Gunther.
Painter lembrou-se da hesitação do homenzarrão um momento antes, seduzido por uma oferta de cura para si mesmo e sua irmã. Tudo isso morrera com Klaus.
Mas eles não desistiriam.
Anna abaixou-se, apoiando-se num joelho, e tirou um pequeno telefone do bolso de Klaus.
- Vamos ter de trabalhar depressa.
- Você pode ajudar? - perguntou Gunther, apontando para o telefone com um aceno de cabeça.
A única esperança deles consistia em descobrir quem havia atendido à ligação.
- Se você pudesse rastrear o telefonema... - disse Anna, levantando-se.
Painter sacudiu a cabeça, mas não em negativa. Ele pressionou suas mãos contra os olhos. Sua cabeça latejava, a dor aumentando para uma enxaqueca plena. Mas não fora sequer aquilo que o fizera sacudir a cabeça.
Próximo... o que quer que o estivesse importunando estava próximo...
Anna aproximou-se dele e tocou em seu cotovelo.
É pelo bem de todos nós...
Eu sei - ele falou bruscamente. - Agora cale-se! Deixe-me pensar.
A mão de Anna soltou o braço dele.
A explosão dele deixou a sala em silêncio. Ele lutou para relembrar o que sua mente mantinha oculto. Era como trocar a posição dos números no telefone via satélite. Sua acuidade mental estava enfraquecida.
- O telefone via satélite... alguma coisa relacionada com o telefone via satélite... - sussurrou ele, fazendo a enxaqueca recuar por pura força de vontade. - Mas o quê?
- O que você quer dizer? - Anna falou suavemente.
Então ele se deu conta. Como pôde ter sido tão cego?
Painter baixou os braços e abriu os olhos.
- Klaus sabia que o castelo estava sob vigilância eletrônica. Então, por que ele fez a ligação, afinal? Por que se expôs? Por que correu o risco?
Um terror frio percorreu seu corpo. Ele virou-se para Anna.
- O boato. O boato de que restara uma reserva oculta de Xerum 525. Nós éramos os únicos que sabíamos que o boato era falso? Que na verdade não existe mais nada do metal líquido?
As outras pessoas na sala ficaram ofegantes ao ouvirem a revelação. Algumas vozes zangadas ergueram-se. O boato havia semeado muita esperança, inflamando o otimismo de que um segundo Sino pudesse ser construído. Agora estava tudo acabado.
Porém, decerto mais alguém havia acreditado no boato.
- Apenas Gunther sabia a verdade - disse Anna, confirmando o pior temor dele.
Painter olhou para fora, através do heliporto. Ele reviu mentalmente o diagrama do castelo. E agora sabia por que Klaus havia dado o telefonema... e por que ele fizera a chamada dali. O filho-da-puta pensou que poderia se esconder à vista de todos depois, tão confiante que nem sequer se desfizera do telefone. Ele escolhera especificamente aquele lugar.
- Anna, quando você espalhou o boato, onde você disse que havia mandado trancar o Xerum 525? Como ele havia sido salvo da explosão?
Disse que ele estava trancado em uma câmara secreta.
Em que câmara?
Longe do local da explosão. A câmara secreta na minha sala de leitura. Por quê?
No outro lado do castelo.
- Nós fomos enganados - disse Painter. - Klaus telefonou daqui sabendo que o castelo estava sendo monitorado. Ele queria nos atrair para cá, tirar nossa atenção da sua sala de leitura, da câmara secreta, da suposta última reserva escondida de Xerum 525.
Anna sacudiu a cabeça, sem entender.
- O telefonema de Klaus foi um engodo. A verdadeira meta o tempo todo era a fictícia última porção de Xerum 525.
Os olhos de Anna arregalaram-se.
Gunther também entendia agora.
Deve existir um segundo sabotador.
Enquanto nós estamos distraídos aqui, ele está indo atrás do Xerum 525.
- Minha sala de leitura - disse Anna, virando-se para Painter. Finalmente entendeu o que o vinha atormentando ao máximo, deixando-o melancólico e nauseado. Irrompeu com uma violenta pontada de uma dor que cegava. Alguém estava bem no caminho do sabotador.
Lisa examinou o piso superior da biblioteca. Ela subira a escada de ferro fundido até a frágil sacada de ferro e agora dava uma volta pelo aposento, mantendo uma das mãos sobre a grade da sacada.
Ela passara a última hora reunindo livros e artigos sobre mecânica quântica. Chegou a encontrar o tratado original de Max Planck, o pai da teoria quântica, um conjunto de leis que definia um atordoante mundo de partículas elementares, um mundo no qual a energia podia ser fragmentada em quantidades mínimas, chamadas quanta, e no qual a matéria elementar se comportava como partículas e como ondas.
Tudo aquilo fazia a cabeça dela doer.
O que aquilo tinha a ver com a evolução?
Ela sentia que a cura estava na descoberta dessa resposta.
Ao estender a mão, inclinou um livro da prateleira e examinou a encadernação. Ela apertou os olhos para ler as letras desbotadas.
Será que aquele era o livro certo?
Uma agitação à porta atraiu sua atenção. Ela sabia que a saída estava sob guarda. E agora? Será que Anna já estava voltando? Será que eles haviam encontrado o sabotador? Lisa virou-se em direção à escada. Ela esperava que Painter estivesse com Anna. Ela não gostava de ficar longe dele. E talvez ele pudesse compreender aquelas estranhas teorias sobre matéria e energia.
Ela chegou até a escada e virou-se para pisar no primeiro degrau.
Um grito agudo, rapidamente silenciado, congelou-a no lugar.
Viera do lado de fora da porta.
Reagindo por instinto, Lisa voltou às pressas para cima e deitou-se, reta, na sacada de ferro fundido. A grade aberta do piso oferecia pouca proteção. Ela arrastou-se para perto das estantes, em direção às sombras, longe dos candelabros de parede naquele pavimento.
Enquanto ela permanecia deitada, imóvel, a porta no outro lado da sala foi aberta e fechada. Uma figura entrou de mansinho na sala. Uma mulher. Numa parca branca como a neve. Mas não era Anna. A mulher jogou o capuz para trás e puxou o cachecol para baixo. Seus cabelos eram longos e brancos e ela era pálida como um fantasma.
Amiga ou inimiga?
Lisa continuou escondida até ter certeza.
A mulher parecia confiante demais, e isso transpareceu na maneira como os olhos dela esquadrinharam a sala. Ela deu meia-volta. Um borrifo de sangue maculava o lado de sua jaqueta. Na outra mão, ela segurava uma catana curva, um sabre japonês curto. O sangue gotejava da lâmina.
A mulher bailou na sala, dando a volta num círculo lento.
Caçando.
Lisa não ousou respirar. Rezou para que as sombras a mantivessem oculta ali em cima. As poucas lâmpadas da biblioteca, assim como a lareira, que crepitava e brilhava com algumas chamas, iluminavam o pavimento inferior. Mas a sacada superior permanecia imersa na escuridão.
Isso seria suficiente para ocultá-la?
Lisa observou a intrusa descrever outro círculo, parando no meio da sala, a catana ensangüentada pronta para ser usada.
Aparentemente satisfeita, a mulher de cabelos branco-alourados dirigiu-se a passos largos para a escrivaninha de Anna. Ela ignorou o amontoado de livros na superfície e foi para trás da mesa larga. Estendeu a mão para uma tapeçaria na parede, puxou-a para trás e expôs um grande cofre de parede preto de ferro fundido.
Prendendo a tapeçaria do lado, ela ajoelhou-se e inspecionou a fechadura de segredo, a maçaneta, os cantos da porta.
Com a concentração da mulher tão focada, Lisa permitiu-se respirar. Qualquer que fosse o roubo em curso, que assim fosse. Que a mulher fugisse com o que quer que ela tivesse vindo procurar e fosse embora. Se a ladra havia matado os guardas, talvez Lisa pudesse transformar isso em vantagem. Se ela pudesse alcançar um telefone... a intrusão poderia ser, na verdade, algo bom.
Um barulho alto a assustou.
A alguns metros de distância, um pesado livro despencara da prateleira e caíra aberto na sacada de ferro fundido. As páginas ainda se agitavam por causa do impacto. Lisa reconheceu o livro que ela havia puxado um pouco do lugar um instante atrás. Esquecido até agora, a gravidade fizera o resto, libertando o livro lentamente.
Embaixo, a mulher recuou para o centro da sala.
Uma pistola aparecera em sua outra mão, como que do nada, apontada para cima.
Lisa já não tinha onde se esconder.
Büren, Alemanha
Gray abriu a porta do BMW. Ele estava entrando no veículo quando ouviu um grito vindo de trás. Ele virou-se para a entrada do albergue. Ryan Hirszfeld corria na direção deles, encurvado embaixo de um guarda-chuva. Trovões ecoavam, e a chuva castigava o estacionamento da propriedade rural.
- Entrem - Gray ordenou a Monk e Fiona, acenando para o sedã. Ele encarou Ryan quando o rapaz chegou a seu lado.
- Vocês estão indo ao castelo... a Wewelsburg? - perguntou ele, erguendo o guarda-chuva para proteger ambos.
Sim, estamos. Por quê?
Eu poderia pegar uma carona com vocês?
Não acho...
Ryan o interrompeu.
- Vocês estavam fazendo perguntas sobre meu bisavô... Hugo. Talvez eu tenha mais informações para vocês. Isso só vai lhes custar uma carona até o alto da colina.
Gray hesitou. O rapaz devia ter escutado às escondidas a conversa deles com Johann, seu pai. O que Ryan poderia saber a mais que seu pai? Mas o rapaz o fitava com olhos sinceros.
Virando-se, Gray abriu a porta de trás e a manteve aberta.
- Danke - disse Ryan, fechando o guarda-chuva ao entrar na parte traseira com Fiona.
Gray sentou-se ao volante. Poucos momentos depois, eles estavam movendo-se aos solavancos para fora da propriedade pelo acesso para carros.
Você não deveria estar em casa, cuidando do albergue? - perguntou Monk do banco do carona, virando-se um pouco para trás a fim de se dirigir a Ryan.
Alicia vai ficar na recepção para mim - disse Ryan. - A tempestade vai manter todo mundo perto da lareira.
Gray observou atentamente o rapaz pelo espelho retrovisor. Ele de repente pareceu desconfortável sob o olhar minucioso de Monk e Fiona.
- O que você queria nos contar? - indagou Gray.
Os olhos de Ryan encontraram os dele no espelho. Ele engoliu em seco e fez um aceno de cabeça.
- Meu pai pensa que não sei nada sobre meu bisavô Hugo. Ele acha melhor deixar essa história enterrada no passado, ja? Mas as pessoas ainda sussurram por aí. E fazem o mesmo a respeito de tia Tola.
Gray compreendeu. Os segredos de família sempre vinham à tona, não importava quão profundamente tivessem tentado enterrá-los. Era óbvio que haviam inculcado em Ryan curiosidade pelos seus ancestrais e pelo papel deles durante a guerra. Os olhos do rapaz praticamente refletiam isso.
- Você vem fazendo sua própria investigação do passado? - perguntou Gray.
Ryan acenou positivamente com a cabeça.
Já faz três anos. Mas as pistas recuam ainda mais: à queda do Muro de Berlim e à desintegração da União Soviética.
Não entendi - disse Gray.
Você se lembra de quando a Rússia tornou públicos os antigos arquivos soviéticos?
Creio que sim. Mas o que eles têm de importante?
Bem, voltemos à época em que Wewelsburg foi reconstruído...
Espere aí. - Fiona agitou-se. Ela estava sentada com os braços cruzados, como que descontente pela intrusão do estranho. Mas Gray havia percebido os olhares de esguelha que ela havia lançado para o rapaz, avaliando-o. Ele se perguntou se o rapaz ainda estaria com sua carteira. - Reconstruído? Eles reconstruíram esse lugar horrível? - indagou ela.
Ryan fez que sim com um aceno de cabeça enquanto o castelo surgia no alto da colina. Gray sinalizou com a seta e dobrou na Burgstrafb, a estrada que conduzia ao castelo.
- Himmler mandou explodi-lo quase no fim da guerra. Apenas a Torre Norte ficou intacta. Depois da guerra, ele foi reconstruído. Parte dele se transformou num museu, parte num albergue para jovens. Ele ainda incomoda meu pai.
Gray podia entender por quê.
A reconstrução foi concluída em 1979 - prosseguiu Ryan. - No decorrer dos anos, os diretores do museu solicitaram aos ex-governos aliados documentos e outras coisas relacionadas com o castelo.
Incluindo a Rússia - disse Monk.
Natürlich. Assim que os arquivos deixaram de ser usados, o diretor atual enviou arquivistas à Rússia. Há três anos, eles regressaram com caminhões carregados de documentos tornados públicos relacionados com a campanha russa na área. Os arquivistas também saíram daqui com uma longa lista de nomes para pesquisar nos arquivos russos. Entre eles o do meu bisavô, Hugo Hirszfeld.
- Por que ele?
- Ele estava intimamente envolvido nos rituais da Sociedade Thule no castelo. Ele era bastante conhecido neste lugar pelo seu conhecimento das runas, que decoram o castelo. Ele até se correspondia com Karl Wiligut, o astrólogo pessoal de Himmler.
Gray lembrou-se da marca tridentada na Bíblia, mas ficou calado.
- Os arquivistas voltaram com várias caixas especificamente sobre meu bisavô. Meu pai foi informado, mas não quis participar de maneira alguma.
- Mas você investigou lá? - perguntou Monk.
- Eu queria saber mais sobre ele - disse Ryan. - Imaginar por que... o que aconteceu... - Ele sacudiu a cabeça.
O passado tinha um modo de segurar e não mais largar.
- E o que você descobriu? - perguntou Gray.
- Pouca coisa. Uma caixa continha documentos do laboratório de pesquisa nazista no qual meu bisavô trabalhou. Ele recebeu o cargo de Oberarbeitsleiter. Supervisor do projeto. - A última frase foi dita tanto com vergonha quanto com provocação. - Mas, fosse qual fosse o projeto no qual eles estavam trabalhando, não deve ter sido tornado público. A maioria dos documentos era correspondência pessoal. Com amigos, com a família.
- E você leu todos esses documentos?
Ele acenou lentamente com a cabeça.
- O suficiente para ter a sensação de que meu bisavô havia começado a ter dúvidas acerca do próprio trabalho. Mas ele não podia abandoná-lo.
- Senão seria fuzilado - disse Fiona.
Ryan sacudiu a cabeça, uma expressão desolada desenvolvendo-se por um instante.
- Eu acho que era mais o projeto em si... ele não conseguia renunciar a ele. Não completamente. Era como se ele sentisse repulsa e atração ao mesmo tempo.
Gray sentiu que a busca pessoal de Ryan do passado parecia ter o mesmo impulso contraditório.
Monk inclinou a cabeça, e seu pescoço deu um estalo alto.
O que isso tem a ver com a Bíblia de Darwin? - perguntou ele, retomando o assunto inicial.
Eu encontrei um bilhete - respondeu Ryan. - Endereçado à minha tia-avó Tola. Ele menciona o caixote de livros que meu bisavô mandou de volta para casa. Eu me lembro do bilhete por causa das estranhas observações sobre ele.
O que seu bisavô dizia?
O bilhete está lá no museu. Eu pensei que vocês talvez quisessem ter uma cópia dele... para ajudar com a Bíblia.
- Você não se lembra do que o bilhete dizia?
Ryan franziu a testa.
- Só de algumas linhas. "A perfeição pode ser encontrada oculta em meus livros, querida Tola. A verdade é linda demais para deixar morrer e monstruosa demais para ser revelada."
Fez-se silêncio no carro.
- Ele morreu dois meses depois.
Gray refletiu sobre as palavras. Oculta em meus livros. Nos cinco livros que Hugo tinha despachado pelo correio de volta para casa antes de morrer. Será que ele tinha feito isso para manter algum segredo em segurança? Para preservar o que era lindo demais para deixar morrer e monstruoso demais para ser revelado?
Gray olhou fixamente para Ryan pelo espelho retrovisor.
- Você contou a mais alguém o que descobriu?
- Não, mas o senhor idoso com a sobrinha e o sobrinho... os que vieram no início deste ano falar com meu pai sobre os livros... já tinham ficado aqui, pesquisando os documentos do meu bisavô nos arquivos. Eu acho que eles devem ter lido o mesmo bilhete e vindo fazer mais perguntas a meu pai.
- Essa gente... a sobrinha e o sobrinho. Como eles são?
- Eles têm cabelos brancos, são altos e atléticos. De boa estirpe, como diria o meu avô.
Gray e Monk entreolharam-se.
Fiona pigarreou e apontou para o dorso da mão.
- Eles tinham uma marca... uma tatuagem aqui?
Ryan fez um lento aceno de cabeça.
- Eu creio que sim. Pouco depois da chegada deles, meu pai me mandou sair. Como hoje, para ficar a sós com vocês. Essas coisas não devem ser ditas na frente das crianças. - Ryan tentou sorrir, mas obviamente percebeu a tensão no carro. Seus olhos moveram-se rapidamente ao redor. - Vocês os conhecem?
- Competidores - disse Gray. - Colecionadores como nós.
A expressão de Ryan ficou atenta, descrente, mas ele não fez mais perguntas.
Gray voltou a pensar na runa desenhada à mão, oculta na Bíblia. Será que os outros quatro livros continham símbolos crípticos semelhantes? Será que essa runa estava relacionada com a pesquisa que Hugo desenvolvia para os nazistas? Era esse o cerne da questão? Parecia improvável que aqueles assassinos simplesmente aparecessem ali e começassem a investigar os arquivos... a não ser que estivessem procurando algo específico.
Mas o quê?
Monk ainda estava com o rosto voltado para trás. Mas virou-se e acomodou-se no seu assento. Falou baixo, sussurrando.
- Você sabe que nós estamos sendo seguidos, não sabe?
Gray fez apenas um aceno de cabeça.
Uns 400 metros atrás, avançando devagar pelas curvas atrás deles, um carro seguia na chuva. O mesmo que ele tinha visto antes, estacionado no albergue. Um Mercedes branco conversível de dois lugares. Talvez fossem apenas turistas fazendo uma visita ao castelo.
Certo.
- Talvez você não devesse segui-los tão de perto, Isaak.
- Eles já nos descobriram, Ischke. - Ele acenou com a cabeça, através do pára-brisa varrido pela chuva, para o BMW cerca de 400 metros à frente. - Observe como as curvas que ele faz são mais controladas, menos entusiasticamente abruptas e fechadas. Ele sabe.
E é isso que nós queremos? Alertá-los?
Isaak inclinou a cabeça na direção da irmã.
A caça é sempre melhor quando a presa está assustada.
Não acho que Hans concordaria.
O semblante dela turvou-se de pesar.
Ele estendeu um dedo e tocou o dorso da mão dela, partilhando sua tristeza e desculpando-se. Ele sabia como ela podia ser sensível.
- Não há nenhuma outra estrada no alto da colina que leve até lá embaixo - ele a tranqüilizou. - A não ser esta em que estamos agora. Está tudo pronto no castelo. Tudo o que nós temos a fazer é atraí-los para a armadilha. Se eles estiverem olhando para trás, para nós, é menos provável que vejam o que está diante deles.
Ela inspirou profundamente, concordando e compreendendo.
- Está na hora de nós resolvermos esse trabalho incompleto. Então poderemos voltar para casa.
- Para casa - repetiu ela com um suspiro de satisfação.
- Estamos quase no fim. Sempre devemos nos lembrar da meta, Ischke. O sacrifício de Hans não será em vão, seu sangue derramado anunciará um novo alvorecer, um mundo melhor.
Isso é o que vovô diz.
E você sabe que é verdade.
Ele inclinou a cabeça na direção dela. Os lábios dela mostraram um sorriso cansado.
- Cuidado com o sangue, doce Ischke.
A irmã dele olhou para baixo, para a longa lâmina de aço do punhal. Ela vinha limpando-a distraidamente com um pedaço de camurça branca. Uma gota vermelha quase caíra no joelho de sua calça branca. Um pequeno detalhe a ser resolvido. Ainda restavam alguns.
- Obrigada, Isaak.
Himalaia
Lisa olhou fixamente para a pistola erguida.
- Wer ist dort? Zeigen Sie sich! - gritou a mulher loura.
Embora não falasse alemão, Lisa entendeu a essência. Ergueu-se devagar, surgindo à vista.
- Eu não falo alemão - respondeu com as mãos para o alto.
A mulher olhou para ela, tão concentrada que Lisa jurou que podia sentir o olhar dela como um laser através de seu corpo.
- Você é um dos americanos - disse a mulher em inglês claro. - Desça. Devagar.
A pistola não oscilou.
Sem abrigo na grade aberta da sacada, Lisa não tinha escolha. Foi até a escada, virou-se de costas e desceu. A cada degrau, esperava ouvir uma detonação da pistola. Seus ombros ficaram tensos, mas ela chegou ao chão em segurança.
Lisa virou-se, os braços ainda um pouco erguidos.
A mulher veio na direção dela. Lisa recuou. Ela sentia que a prudência da mulher em não atirar imediatamente contra ela se devia principalmente ao barulho que o disparo poderia fazer. Com exceção de um único grito breve, ela havia matado os guardas lá fora quase sem fazer ruído com a espada.
A assassina ainda segurava a catana ensangüentada na outra mão.
Talvez Lisa estivesse mais segura se tivesse permanecido na sacada, fazendo com que a mulher abrisse fogo contra ela como se ela fosse um pato numa barraca de tiro ao alvo. Provavelmente os disparos atrairiam outras pessoas a tempo. Ela fora tola de ter-se colocado ao alcance da espada da intrusa. Mas o pânico havia eliminado sua capacidade de julgamento. Era difícil dizer "não" a alguém com uma arma de fogo apontada para a sua cara.
- O Xerum 525 está no cofre? - perguntou a mulher.
Lisa refletiu sobre sua resposta por um instante. Verdade ou mentira? Parecia haver poucas opções.
Anna o levou - respondeu, acenando vagamente em direção à porta.
Para onde?
Ela se lembrou da primeira lição de Painter após eles terem sido capturados. Torne-se necessária. Torne-se útil.
- Eu não conheço o castelo bem o suficiente para descrevê-lo. Mas sei como chegar lá. Eu... posso levá-la. - A voz de Lisa vacilou. Ela precisava ser mais convincente. E havia melhor maneira do que barganhar, como se a mentira dela fosse valiosa? - Eu só a levarei se você prometer me ajudar a sair daqui.
O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Será que a mulher se deixaria enganar por aquilo? Ela era impressionantemente bela: esbelta, pele sem marcas, lábios grossos, mas seus olhos de um azul glacial cintilavam com fria cautela e inteligência.
Ela apavorava Lisa.
A mulher tinha algo de sinistro.
- Então você vai me mostrar - disse a mulher, pondo a pistola no coldre e mantendo a catana na mão.
Lisa preferia que tivesse sido o contrário.
A espada apontou para a porta.
Lisa devia ir na frente. Ela moveu-se em direção à porta, mantendo certa distância. Talvez conseguisse fugir lá fora, nos corredores. Seria sua única esperança. Teria de esperar por um momento, alguma distração, uma hesitação, e depois simplesmente correr sem parar.
Uma breve corrente de ar e o tremeluzir da chama na lareira foram seu único aviso.
Lisa virou-se, e a mulher já estava ali, a um passo de distância, tendo se movido com rapidez e em silêncio por trás. Inacreditavelmente rápida. Os olhos das duas encontraram-se. No momento antes de a espada cair, Lisa soube que a mulher não acreditara nela um instante sequer.
Tudo fora uma armadilha para baixar a guarda de Lisa.
Seria o último erro dela.
O mundo congelou... capturado num brilho súbito de prata japonesa fina quando a espada mergulhou rumo ao coração de Lisa.
Castelo Wewelsburg, Alemanha
Gray entrou devagar com o BMW em uma vaga no estacionamento ao lado de um ônibus de excursão Wolters azul. O enorme veículo alemão ocultava o seda da vista direta da rua. A entrada em arco do pátio do castelo ficava bem em frente.
- Fiquem no carro - ordenou ele aos outros e girou ao redor. - Isso serve especialmente para você, mocinha.
Fiona fez um gesto obsceno, mas manteve o cinto afivelado.
Monk, sente-se ao volante e deixe o motor ligado.
Já saquei.
Ryan o fitou com os olhos arregalados.
Was ist los?
Não tem nada los - respondeu Monk. - Mas mantenha a cabeça abaixada, por via das dúvidas.
Gray abriu a porta. Uma rajada de chuva o atingiu, soando como o matraquear de uma metralhadora quando bateu na lateral do ônibus ao lado. Trovões ribombaram a distância.
- Ryan, você pode me emprestar seu guarda-chuva?
O rapaz fez um aceno de cabeça e passou-lhe o guarda-chuva.
Gray saiu do carro, sacudiu o guarda-chuva, abrindo-o, e correu para o outro lado do ônibus. Posicionou-se próximo à porta traseira, abrigando-se da chuva. Esperava dar a impressão de ser apenas outro funcionário da empresa de turismo. Manteve-se oculto pelo guarda-chuva enquanto observava a estrada.
Faróis surgiram da escuridão, subindo a última curva.
O Mercedes branco conversível de dois lugares apareceu um instante depois. Moveu-se devagar até o estacionamento e, sem reduzir a velocidade, passou por ele. Gray observou os faróis traseiros afastarem-se na chuva, seguindo na direção da pequena aldeia de Wewelsburg, aninhada na lateral do castelo. O carro desapareceu numa esquina.
Gray aguardou cinco minutos, deu a volta atrás do ônibus e sinalizou para Monk que estava tudo em ordem. Ele podia desligar o motor. Satisfeito porque o Mercedes não voltara, Gray acenou para que os outros saíssem.
Até que ponto ele é paranóico? - perguntou Fiona ao passar e encaminhar-se para a entrada em arco.
Não é paranóia se eles realmente estiverem a fim de te pegar - gritou Monk atrás dela. - Eles estão mesmo a fim de nos pegar?
Gray olhou fixamente para a tempestade. Ele não gostava de coincidências, mas não podia simplesmente deixar de seguir em frente só porque estava assustado.
- Fique grudado em Fiona e em Ryan. Vamos conversar com esse diretor, obter uma cópia do velho bilhete de Hugo para a filha e cair fora deste lugar.
Monk olhou para a massa volumosa composta pela torre e pela torrinha. A chuva caía torrencialmente sobre a pedra cinzenta e escorria por calhas verdes. Apenas algumas das janelas nos andares inferiores brilhavam com sinais de vida. Aquela massa enorme era escura e opressiva.
- Só para deixar claro - resmungou ele -, se eu vir um maldito morcego negro, me mando daqui.
Himalaia
Lisa observou a espada mergulhar em direção ao seu tórax. Tudo aconteceu numa fração de segundo. O tempo ficou denso e lento. Era assim que ela ia morrer.
Então, um tilintar de vidro estilhaçou o silêncio... seguido pelo estalido suave do disparo de uma arma de fogo, soando inacreditavelmente muito longe. Ali próximo, a garganta da assassina abriu-se como um chafariz de sangue e osso, a cabeça lançada para trás.
Mesmo assim o golpe mortal da assassina completou seu arco.
A espada acertou o tórax de Lisa, perfurou a pele e chocou-se contra o esterno. O golpe, porém, não foi forte. Dedos frouxos soltaram o punho da catana. O tênar de uma agonizante mão a deixou cair antes que ela pudesse causar mais dano.
Lisa tropeçou para trás, liberta do encantamento.
A lâmina de aço japonesa fez uma pirueta e atingiu o chão com o som de um sino regulado com perfeição. O corpo da assassina veio em seguida, caindo pesadamente com um som surdo ao lado da catana.
Lisa recuou, descrente, entorpecida, insensível.
Mais tilintar de vidro.
As palavras chegaram até ela como se viessem debaixo d’água.
- Você está bem, Lisa...?
Ela olhou para cima. Através da biblioteca. Da única janela da biblioteca. Coberta de geada e embaçada antes, a vidraça estilhaçou-se sob o impacto da culatra de um rifle. Um rosto apareceu no buraco, emoldurado por cacos de vidro.
Painter.
Além do ombro dele, soprava um vendaval, fazendo turbilhonar a neve e o gelo derretido. Alguma coisa grande, pesada e escura desceu do céu. Um helicóptero. Uma corda com arnês balançava embaixo dele.
Lisa tremeu e caiu de joelhos.
- Nós logo estaremos aí - prometeu ele.
Cinco minutos depois, Painter passou sobre o corpo da assassina. O segundo sabotador. Anna estava apoiada num joelho, examinando a mulher. Um pouco mais afastada, Lisa estava sentada em uma cadeira junto à lareira, sem o suéter, com a camisa aberta, expondo o sutiã e um corte ensangüentado embaixo dele. Com a ajuda de Gunther, ela já havia limpado o ferimento e agora aplicava uma série de curativos adesivos para fechar a incisão de 2,5 centímetros. Ela tivera sorte. A armação de arame de seu sutiã ajudara a evitar que a lâmina penetrasse mais fundo, salvando sua vida, uma proteção extra.
- Nenhum documento, nenhuma identificação - disse Anna, virando-se para ele. O olhar dela caiu pesadamente sobre Painter. - Nós precisávamos da sabotadora viva.
Ele não tinha desculpa.
- Eu mirei no ombro dela.
Frustrado, ele sacudiu a cabeça. Um ataque debilitante de vertigem o havia paralisado após a descida pela corda. Mas eles não tinham tempo de sobra, mal tinham conseguido chegar ali a tempo, vindo do outro lado da montanha. Eles jamais teriam conseguido se tivessem vindo a pé pelo castelo. O helicóptero fora a única chance deles, voando sobre o ombro da montanha e baixando alguém numa corda com arnês.
Anna não atirava bem e Gunther pilotava o helicóptero. Restava apenas Painter.
Assim, apesar da vertigem e da visão dupla, Painter arrastara-se até o castelo e mirara da melhor maneira possível através da janela. Ele teve de agir rápido quando viu a mulher investir contra Lisa, a espada suspensa.
Por isso havia disparado.
E, embora isso pudesse ter-lhes custado tudo - até mesmo o conhecimento do verdadeiro vilão que manipulava aqueles sabotadores -, Painter não se arrependeu de sua escolha. Ele tinha visto o horror no rosto de Lisa. A vertigem que se danasse, ele havia atirado. Sua cabeça ainda latejava. Um novo medo aflorou.
E se ele tivesse acertado Lisa...? Quanto tempo ele ainda tinha antes de se transformar mais num risco do que num trunfo? Ele repeliu esse pensamento.
Pare de torcer as mãos e arregace as mangas.
- Você encontrou algum sinal distintivo? - perguntou Painter, voltando ao jogo.
- Apenas este. - Anna virou o pulso da mulher e expôs o dorso da mão dela. -Você o reconhece?
Uma tatuagem preta marcava a pele branca e perfeita dela. Quatro laços entrançados.
Parece algum símbolo celta, mas não me diz nada.
Nem a mim - disse Anna, recostando-se e largando a mão do cadáver.
Painter notou mais algum detalhe e ajoelhou-se perto. Ele tornou a virar a mão dela, ainda quente. Faltava a unha do dedo mindinho da mulher, o leito marcado com uma cicatriz. Um pequeno defeito, mas de suma importância.
Anna tomou dele a mão da mulher e esfregou o leito da unha.
- Seco...
Um sulco profundo formou-se entre as sobrancelhas de Anna. Seus olhos encontraram os dele.
- Isso significa o que eu acho que significa? - perguntou ele.
O olhar dela deslocou-se para o rosto da mulher.
- Mas eu teria de fazer um exame da retina para ter certeza. Procurar petéquias em volta do nervo óptico.
Painter não precisava de mais nenhuma prova. Ele vira como a assassina se movera rápido pela sala, extraordinariamente ágil.
- Ela era um dos Sonnenkönige.
Lisa e Gunther juntaram-se a eles.
- Não um dos nossos - disse Anna. - Jovem demais. Perfeita demais. Quem quer que a tenha criado utilizou nossas técnicas mais recentes, as que nós aprimoramos nas últimas décadas a partir de estudos in vitro. Eles as levaram adiante em cobaias humanas.
Alguém poderia tê-los criado aqui, às escondidas... durante a madrugada.
Anna sacudiu a cabeça.
A ativação do Sino requer uma quantidade enorme de energia. Nós saberíamos.
Então há apenas um significado.
- Ela foi criada em algum outro lugar. - Anna ficou em pé. - Outra pessoa tem um Sino em atividade.
Painter permaneceu onde estava, examinando a unha e a tatuagem.
- E essa outra pessoa, agora, quer interromper o trabalho de vocês - murmurou ele.
Fez-se silêncio na sala.
No silêncio, Painter ouviu um som baixinho, quase inaudível. Vinha da mulher. Ele se deu conta de que o tinha ouvido algumas vezes, mas com tanta agitação, tanta especulação, ele não o havia registrado completamente.
Ele puxou a manga da parca da mulher para cima.
Um relógio digital com uma grossa pulseira de couro de cinco centímetros de largura estava preso ao pulso dela. Painter examinou sua superfície vermelha. Um ponteiro holográfico dava voltas completas, marcando os segundos. Um dispositivo digital de leitura brilhava intensamente.
01:32
Os segundos diminuíam a cada volta.
Pouco mais de um minuto.
Painter tirou o relógio do pulso da mulher e verificou a parte interna da pulseira. Dois pontos de contato de prata estavam presos por um fio. Monitor dos batimentos cardíacos. E alguma coisa dentro do relógio devia ser um microtransmissor.
O que você está fazendo? - perguntou Anna.
Você verificou se ela tinha algum explosivo?
Ela está limpa - disse Anna. - Por quê?
Painter levantou-se e falou rapidamente.
- Ela está conectada a um monitor. Quando seus batimentos cardíacos pararam, deve ter sido iniciada uma transmissão. - Ele olhou de relance para o relógio em sua mão. - Isto é simplesmente um timer.
Estendeu-o na direção deles.
01:05
- Klaus e esta mulher tiveram acesso total às instalações de vocês por sabe-se lá quanto tempo. Tiveram tempo de sobra para improvisar um sistema à prova de falhas. - Painter ergueu o relógio. - Algo me diz que nós não vamos querer estar aqui quando isto chegar ao zero.
O ponteiro dos segundos continuava a mover-se ao redor e um apito tênue soou quando a contagem baixou para menos de um minuto. 00:59
- Temos de sair daqui. Agora!
Castelo Wewelsburg, Alemanha
- A SS começou como a guarda pessoal de Hitler - disse em francês o guia que acompanhava um grupo de turistas encharcados pelo coração do museu do Castelo Wewelsburg. - Na verdade, o termo SS é derivado da palavra alemã Schutzstaffel, que significa "esquadrão de defesa". Só mais tarde é que ela se transformou na Ordem Negra de Himmler.
Gray afastou-se para o lado quando o grupo de turistas passou. Enquanto aguardava o diretor do museu, ele tinha ouvido discretamente o bastante da visita guiada para assimilar a essência da história do castelo. Como Himmler o arrendara por apenas um Reichsmar e depois gastara 250 milhões reconstruindo-o para torná-lo seu Camelot pessoal, um pequeno preço comparado ao custo do sangue e sofrimento humanos.
Ele estava em pé ao lado de uma vitrine com um uniforme listrado do campo de concentração de Niederhagen.
Trovões ribombavam além das paredes, fazendo tremer as velhas janelas.
Quando o grupo de turistas se afastou, a voz do guia desapareceu aos poucos em meio ao murmúrio dos outros poucos visitantes, todos à procura de abrigo contra a tempestade.
Monk estava com Fiona. Ryan tinha ido buscar o diretor. Monk inclinou-se para examinar um dos abjetos anéis Totenkopf expostos, um aro de prata que os oficiais da SS recebiam. Ele estava gravado com runas, junto com uma caveira e ossos cruzados. Uma obra de arte horrenda, repleta de simbolismo e poder.
Outras peças do acervo estavam distribuídas pela pequena sala: modelos em miniatura, fotografias da vida cotidiana, pertences da SS, até mesmo um estranho bulezinho de chá que pertencera a Himmler. Uma runa em forma de sol decorava o bule.
- Lá vem o diretor - disse Monk, dando um passo à frente. Ele fez um aceno de cabeça para um cavalheiro corpulento que saiu pela porta de uma sala privada. Ryan o acompanhava.
O diretor do museu parecia ter cerca de 60 anos, seus cabelos eram grisalhos e seu terno preto estava amarrotado. Enquanto se aproximava, tirou os óculos e estendeu a outra mão para Gray
- Dr. Dieter Ulmstrom - disse o homem. - Diretor do Historisches Museum des Hochstifts Paderborn. Willkommen.
O ar ansioso do homem contradizia suas boas-vindas.
- O jovem Ryan aqui me explicou como vocês passaram a investigar algumas runas encontradas em um livro antigo. Que fascinante - ele prosseguiu.
Mais uma vez, o homem pareceu mais incomodado do que fascinado.
Nós não queremos tomar muito o seu tempo - disse Gray. - Gostaríamos de saber se o senhor poderia nos ajudar a identificar uma runa específica e seu significado.
Claro. Se há alguma coisa que um diretor do museu do Wewelsburg deve conhecer bem é o conjunto de fatos e tradições a respeito das runas.
Gray acenou para que Fiona lhe entregasse a Bíblia de Darwin. Ela já a havia tirado da bolsa.
Expondo a contracapa, Gray estendeu o livro.
Franzindo os lábios, o dr. Ulmstrom colocou os óculos e olhou mais de perto. Ele examinou a runa desenhada a tinta por Hugo Hirszfeld no verso da contracapa.
- Eu posso examinar o livro, bitte?
Após um momento de hesitação, Gray cedeu.
O diretor folheou as páginas, parando em algumas das marcas parecidas com pés de galinha na parte interna.
Uma Bíblia... que estranho...
O símbolo na contracapa - pressionou Gray.
Sim, claro. É a runa Mensch.
Mensch - disse Gray. - A palavra alemã para "homem".
Ja. Observe a forma. É como uma figura de graveto degolada. - O diretor voltou para as páginas anteriores. - O bisavô de Ryan parecia muito fixado em símbolos associados ao Pai de Todos.
O que o senhor quer dizer? - perguntou Gray.
Ulmstrom apontou para um dos desenhos nas páginas internas da Bíblia.
- Esta runa equivale ao k - afirmou o diretor -, também chamada de cen em anglo-saxão. É uma runa mais antiga para "homem", apenas dois braços erguidos, uma representação mais grosseira. E nesta outra página está a imagem espelhada da runa. - Ele folheou algumas páginas e apontou para outra runa.
- Os dois símbolos são mais ou menos como os dois lados da mesma moeda. Yin e yang. Macho e fêmea. Luz e trevas.
Gray fez um aceno de cabeça. Isso o lembrou das discussões com Ang Gelu, quando ele estudou com o monge budista, sobre como todas as sociedades pareciam ser transpassadas por essa dualidade. Essa digressão trouxe de volta sua preocupação com Painter Crowe. Ele ainda não recebera nenhuma notícia do Nepal.
Monk redirecionou a conversa.
O que estas runas têm a ver com esse tal de Pai de Todos?
Todas as três estão simbolicamente relacionadas. Com freqüência, considera-se que a runa grande, a Mensch, representa o deus nórdico Thor, um deus que doa a vida, um estado mais elevado do ser. Aquilo que nós nos esforçamos para nos tornarmos.
Gray ficou confuso com a resposta, imaginando-a em sua mente.
E estas duas runas mais antigas, as runas k, formam as duas metades da runa Mensch.
Como?! - grunhiu Monk.
Assim - disse Fiona, compreendendo. Usando um dedo, ela desenhou na poeira acumulada sobre a vitrine. - Você junta as duas runas de dois braços para formar a runa Mensch. É como um quebra-cabeça.
- Sehr gut - disse o diretor, batendo de leve nas duas primeiras runas. - Estas representam o homem comum, em toda sua dualidade, juntando-se para formar o Pai de Todos, um ser supremo. - Ulmstrom devolveu a Bíblia a Gray e sacudiu a cabeça. - Estas runas certamente pareciam ser uma obsessão do bisavô de Ryan.
Gray olhou fixamente para o símbolo na contracapa.
- Ryan, Hugo era biólogo, correto?
Ryan agitou-se. Ele parecia consternado por tudo aquilo.
- Ja. Como minha tia-avó Tola.
Gray balançou lentamente a cabeça. Os nazistas sempre se interessaram pelo mito do super-homem, do Pai de Todos, do qual a raça ariana supostamente descendia. Será que todos aqueles rabiscos eram apenas a declaração de Hugo de sua crença nesse dogma nazista? Gray julgava que não. Ele se lembrou da descrição que Ryan fizera dos bilhetes de seu bisavô, da crescente desilusão do cientista - e depois de seu bilhete enigmático para a filha, uma pista para um segredo lindo demais para deixar morrer e monstruoso demais para ser revelado.
De um biólogo para uma bióloga.
Ele sentia que tudo aquilo estava interligado: as runas, o Pai de Todos, alguma pesquisa havia muito abandonada. Qualquer que fosse o segredo, parecia valer a pena matar por ele.
- A runa Mensch também era de particular interesse para os nazistas. Eles até a rebatizaram de Lebensrune. - Ulmstrom continuou.
A runa da vida? - perguntou Gray, voltando a prestar atenção.
Ja. Eles a usavam para representar o programa Lebensborn.
O que é isso? - indagou Monk.
- Um programa de reprodução nazista. Criadouros para produzir mais crianças louras e de olhos azuis - Gray respondeu.
O diretor acenou com a cabeça.
- Mas, como no caso da dualidade da runa k, a Lebensrune também possui sua imagem invertida. - Ele fez um gesto para que Gray virasse a Bíblia de cabeça para baixo, aprumando o símbolo. - Invertida, a Lebensrune se transforma no seu oposto, a Todesrune.
Monk franziu a testa para Gray, que traduziu:
- A runa da morte.
Himalaia
A morte era marcada pelo leve ruído do timer.
00:55
Painter estava em pé com o timer de pulso da assassina na mão.
Não temos tempo para sair a pé. Jamais escaparíamos da zona da explosão.
Então o quê...? - perguntou Anna.
O helicóptero - disse Painter, apontando para a janela.
O helicóptero A-Star que eles haviam usado para chegar até ali ainda estava lá fora, o motor quente.
- Os outros - disse Anna, dirigindo-se ao telefone, pronta para dar o alarme.
- Keine Zeit - gritou Gunther, detendo-a.
O homem desenganchou seu fuzil automático, um Bullpup A-91 russo. Com a outra mão, puxou uma granada do cós de sua calça e a enfiou no lançador de 40 milímetros do rifle.
- Hier! - Ele caminhou a passos largos até a enorme escrivaninha de Anna. - Schnell!
A um braço de distância, ele apontou o fuzil para a janela gradeada da sala.
Painter segurou a mão de Lisa e correu à procura de abrigo, Anna logo atrás deles. Gunther esperou até que eles estivessem próximos o suficiente e disparou. Um jato de gás explodiu da arma, firme como uma rocha.
Todos correram para trás da escrivaninha.
Gunther segurou a irmã pela cintura e a rolou para debaixo de seu corpo. A granada explodiu com um som ensurdecedor. Painter sentiu seus ouvidos estalarem. Lisa pressionou as mãos contra os dela. A concussão fez a escrivaninha deslocar-se uns trinta centímetros. Fragmentos de rocha e vidro arremessaram-se sobre a frente da escrivaninha. Pó de pedra e fumaça desceram sobre eles, asfixiando-os.
Gunther colocou Anna em pé. Eles não perderam tempo em conversas. No outro lado da biblioteca, a explosão havia formado um buraco irregular até o lado de fora. Livros - rasgados e em chamas - estavam espalhados pelo chão ou tinham sido lançados no pátio.
Eles correram para a saída.
O helicóptero estava além da projeção da montanha, a uns trinta e cinco metros de distância. Pulando ao longo da confusa zona da explosão, eles correram a toda velocidade para o helicóptero.
Painter, que ainda segurava o timer de pulso, só deu uma olhada nele quando estavam no helicóptero. Gunther o havia alcançado primeiro e aberto a porta traseira. Painter ajudou Anna e Lisa a entrar, e em seguida mergulhou atrás delas.
Gunther já estava no assento do piloto. Os cintos de segurança foram afivelados. Painter olhou para o timer. Não que isso fizesse diferença. Ou eles sairiam dali ou não.
Ele olhou fixamente para o número. Sua cabeça latejava, causando uma dor em pontadas em seus olhos. Ele mal conseguia distinguir o dispositivo digital de leitura.
00:09
Não havia mais tempo.
Gunther ligou o motor e Painter olhou para cima. Os rotores tinham começado a girar... devagar, muito devagar. Ele olhou por uma janela lateral. O helicóptero estava pousado no alto de uma encosta íngreme, com acúmulo de neve recente devido à tempestade da noite anterior. Nuvens rasgavam o céu além e nevoeiros glaciais encobriam penhascos e vales.
Do assento dianteiro, Gunther praguejou baixinho. A aeronave recusava a elevar-se no ar rarefeito sem a velocidade máxima dos rotores.
00:03
Eles jamais conseguiriam.
Painter estendeu a mão para a de Lisa.
Ele a apertou com força, e de repente o mundo ergueu-se e desabou com um estrondo. Uma explosão surda soou a distância. Todos prenderam a respiração, prontos para serem lançados da montanha. Mas não aconteceu mais nada. Talvez não tivesse sido tão ruim, afinal de contas.
Em seguida, o amontoado de neve no qual o helicóptero estava pousado separou-se da montanha. A frente do A-Star inclinou-se para baixo. Os rotores giravam inutilmente acima. Toda a encosta coberta de neve separou-se numa vasta camada e começou a deslizar, como que se desvencilhando da montanha com uma sacudidela, levando consigo o helicóptero.
Eles desceram rumo à beira do penhasco. A neve precipitava-se sobre a aeronave numa torrente violenta.
O chão voltou a sacudir... outra explosão.
O helicóptero corcoveou, mas se recusou a decolar.
Gunther lutou com os controles, afogando o acelerador.
O penhasco avançava velozmente na direção deles. A neve podia ser ouvida além do ruído do motor do helicóptero, rugindo como corredeiras de classe V.
Lisa pressionou o corpo contra o de Painter, a mão dela cheia de tensão em torno dos dedos dele. Anna estava ereta e tesa, do outro lado de Lisa, o rosto pálido e os olhos fixos adiante.
Na frente, Gunther ficou em silêncio absoluto quando eles foram arrastados pelo penhasco.
Empurrados para a beira, inclinaram-se para o lado, a neve desprendendo-se debaixo deles, de trás deles. Descendo rapidamente, a aeronave estremeceu, sacudindo para a frente e para trás. Penhascos erguiam-se em todas as direções.
Ninguém fazia um ruído sequer. Os rotores gritavam por todos eles.
Então, de repente, a aeronave ergueu-se no ar. Com apenas um solavanco, como o de um elevador parando, o A-Star estabilizou-se. Gunther grunhiu enquanto manobrava os controles... devagar, bem devagar, fazendo a aeronave subir numa espiral.
Adiante, o resto da avalanche despencou sobre a face do rochedo.
O helicóptero subiu o bastante para que eles pudessem avaliar os danos ao castelo. Fumaça saía de todas as janelas da fachada. As portas da frente haviam sido destruídas pela explosão. Sobre o ombro da montanha, uma espessa coluna negra subia rumo ao céu, vinda do heliporto no outro lado.
Anna fraquejou, as palmas das mãos apoiadas na janela lateral.
Quase 150 homens e mulheres.
Talvez algumas pessoas tenham escapado - disse Lisa apáticamente, sem piscar. Eles não viram nenhum movimento.
Apenas fumaça.
Anna apontou para o castelo.
- Wir solltert suchen...
Porém, não haveria nem busca nem resgate.
Nunca.
Um clarão branco ofuscante, como a descarga de um raio, resplandeceu de todas as janelas. Além do ombro da montanha, um nascer do sol de vapor de sódio. Nenhum ruído. Como relâmpago sem trovão. Queimava dentro da retina, obstruindo a visão.
Cego, Painter sentiu o helicóptero dar um solavanco quando Gunther puxou a alavanca do comando coletivo. Ouviu-se um barulho, um longo e desagradável estrondo de rocha. Inacreditavelmente alto. Não se tratava apenas de uma avalanche. Ele soou tectônico, como o atrito de placas continentais.
O helicóptero estremeceu no ar, uma mosca num misturador de tintas.
A visão voltou de maneira dolorosa.
Painter pressionou o corpo contra a janela e olhou para baixo.
- Meu Deus... - disse ele, horrorizado.
Pó de pedra obscurecia a maior parte da vista, mas não podia ocultar a extensão da destruição. O lado inteiro da montanha havia curvado em si mesmo. O ombro de granito que se projetava sobre o castelo havia desabado, como se tudo embaixo dele - o castelo e uma boa extensão da montanha - tivesse simplesmente se desvanecido.
Unmöglich - murmurou Anna, atordoada.
O quê?
- Uma aniquilação como esta... tinha de ser uma bomba de EPZ - respondeu ela, cujos olhos tinham ficado vítreos. Painter esperou que ela explicasse.
E ela explicou depois de outra inspiração que a fez estremecer.
- EPZ. Energia do ponto zero. As fórmulas de Einstein levaram à primeira bomba nuclear, utilizando a energia de alguns átomos de urânio. Mas isso não é nada se comparado à força potencial oculta nas teorias quânticas de Planck. Essas bombas utilizariam a própria energia gerada durante o big bang.
A cabine ficou em silêncio.
Anna sacudiu a cabeça.
Experimentos com a fonte de combustível para o Sino - o Xerum 525 -indicavam o possível uso da energia do ponto zero como uma arma. Mas nós jamais seguimos esse caminho com algum propósito real.
Mas outra pessoa sim - disse Painter, pensando na assassina de cabelos branco-alourados morta.
Anna virou-se para Painter. O rosto dela estava marcado por horror e extremo ultraje.
- Nós temos de detê-los.
- Mas deter quem? Quem são eles?
Lisa agitou-se.
- Eu acho que podemos descobrir - disse ela, apontando para estibordo.
Sobre o topo de uma montanha próxima, surgiram três helicópteros, camuflados de branco contra os picos cobertos de gelo. Eles dispersaram-se e precipitaram-se na direção do solitário A-Star.
Painter conhecia o bastante sobre combate aéreo para reconhecer o padrão. Formação de ataque.
Castelo Wewelsburg, Alemanha
- A Torre Norte é por aqui - disse o dr. Ulmstrom.
O diretor do museu conduziu Gray, Monk e Fiona pela saída dos fundos do saguão principal. Ryan saíra um pouco antes em companhia de uma mulher com roupas de tweed, uma arquivista do museu. Eles haviam ido tirar cópias do bilhete de Hugo Hirszfeld e de tudo mais relacionado com sua pesquisa. Gray sentia que estava perto de encontrar algumas respostas, mas precisava de mais informações.
Para esse fim, ele concordara em percorrer o castelo de Himmler tendo por guia o próprio diretor. Foi ali que Hugo havia começado seu relacionamento com os nazistas. Gray tinha a sensação de que, para avançar, precisaria de todas as informações possíveis - e quem melhor do que o curador do museu para fornecê-las?
Para uma verdadeira compreensão dos nazistas - disse Ulmstrom, seguindo na frente -, vocês têm de parar de pensar neles como um partido político. Eles se autodenominavam Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães -, mas na realidade eles eram um culto.
Um culto? - perguntou Gray.
Eles ostentavam toda a pompa, ja? Um líder espiritual que não podia ser questionado, discípulos que usavam roupas idênticas, rituais e juramentos de sangue realizados em segredo e, mais importante de tudo, a criação de um poderoso totem para cultuar: a Hakenkreuz, ou cruz gamada, também chamada de suástica. Um símbolo para suplantar o crucifixo e a estrela-de-davi.
Hare krishnas à custa de esteróides - murmurou Monk.
Não brinque. Os nazistas compreendiam o poder inerente das idéias. Um poder maior do que o de qualquer arma de fogo ou foguete. Eles o usaram para subjugar e submeter a uma lavagem cerebral uma nação inteira.
Um raio crepitou, iluminando o corredor atrás deles. Um trovão veio logo em seguida, com um estrondo, sentido nas entranhas. As luzes tremeluziram. Todos pararam no corredor.
- Um guincho de morcego - sussurrou Monk -, mesmo que seja um pequenininho...
As luzes brilharam com mais intensidade, depois se estabilizaram. Eles seguiram em frente. O corredor curto terminava numa porta de vidro com grades. Além, havia uma sala maior.
- A Obergruppenführersaal. - Ulmstrom sacou um pesado molho de chaves e destrancou a porta. - O santuário do castelo. Os visitantes comuns não têm acesso a ele, mas acho que vocês poderiam apreciá-lo.
Ele segurou a porta para que entrassem.
Entraram na sala. A chuva batia com violência contra o círculo de janelas em volta da câmara redonda.
Himmler construiu este aposento espelhando-se em Camelot, do rei Artur. Ele tinha inclusive uma enorme mesa de carvalho redonda situada no centro do aposento e trazia os doze principais oficiais de sua Ordem Negra para reuniões e rituais aqui.
O que é essa Ordem Negra? - indagou Monk.
Era outro nome da SS de Himmler. Mas, em termos mais precisos, a Schwarzer Orden foi um nome dado ao círculo íntimo de Himmler, uma cabala secreta cujas origens remontavam à Sociedade Secreta Thule.
Gray prestou mais atenção. Outra vez a Sociedade Thule. Himmler era membro do grupo, bem como o bisavô de Ryan. Ele refletiu sobre a associação. Uma cabala interna de ocultistas e cientistas que acreditavam que uma raça dominante um dia dominara o mundo e voltaria a dominá-lo.
O diretor prosseguiu com a visita guiada.
Himmler acreditava que esta sala e sua torre eram o centro espiritual e geográfico do novo mundo ariano.
Por que aqui? - perguntou Gray.
Ulmstrom deu de ombros e caminhou para o meio do aposento.
- Esta é a região onde os teutões derrotaram os romanos, uma batalha fundamental na história alemã.
Gray tinha ouvido uma história semelhante do pai de Ryan.
Mas os motivos podem ser vários. Este é um lugar propício a lendas. Nas proximidades, existe um conjunto de monólitos pré-históricos parecidos com Stonehenge, chamado Externsteine. Alguns afirmam que as raízes da Árvore do Mundo nórdico, Yggdrasil, estão embaixo dele. Além disso, é claro, houve as bruxas.
As que foram mortas aqui - disse Gray.
Himmler acreditava, e talvez com razão, que as mulheres foram mortas por serem pagãs e praticarem ritos e rituais nórdicos. A seu ver, o fato de o sangue delas ter sido derramado neste castelo só contribuiu para consagrar o lugar.
- Então é como os corretores de imóveis dizem - murmurou Monk. - Tudo é uma questão da localização, da localização e da localização.
Ulmstrom franziu a testa, mas prosseguiu.
- Qualquer que tenha sido o motivo, aqui está o objetivo último de Wewelsburg - afirmou ele, apontando para o chão.
Na escuridão, um desenho tinha sido feito em ladrilhos verde-escuros contra um fundo branco. Parecia um sol, do qual doze raios se irradiavam.
O Schwarze Sonne. O Sol Negro. - Ulmstrom contornou sua circunferência. - Este símbolo também tem origem em muitos mitos. Mas para os nazistas ele representava a terra natal do Pai de Todos. Uma terra que possuía vários nomes: Thule, Hiperbórea, Agartha. Basicamente, o símbolo representa o sol sob o qual a raça ariana renasceria.
Voltando ao Pai de Todos - disse Gray, imaginando a runa Mensch.
Esta era a meta última dos nazistas... ou pelo menos de Himmler e sua Ordem Negra: fazer o povo alemão progredir à sua anterior condição divina. Foi por isso que ele escolheu este símbolo para representar a sua Ordem Negra.
Gray começou a perceber em que tipo de pesquisa Hugo poderia ter-se envolvido. Um biólogo com raízes em Wewelsburg. Será que ele estivera envolvido com uma forma deturpada do projeto Lebensborn, com algum tipo de programa eugênico? Mas por que as pessoas matariam por causa desse projeto hoje em dia? O que Hugo havia descoberto que, na opinião dele, deveria ser mantido em segredo, ocultando-o em código em seus livros de família?
Gray lembrou-se da recitação feita por Ryan do bilhete que seu bisavô escreveu à filha pouco antes de morrer. Ele referia-se a um segredo lindo demais para deixar morrer e monstruoso demais para ser revelado. O que ele descobrira? O que desejara manter em segredo de seus superiores nazistas?
Outro raio crepitou, brilhando através de todas as janelas. O símbolo do Sol Negro resplandeceu intensamente. As lâmpadas elétricas tremeluziram quando o trovão reverberou pelo castelo no alto da colina. Não era o melhor lugar para se estar durante uma tempestade elétrica.
Confirmando isso, as luzes tremeluziram outra vez e, em seguida, apagaram-se.
Blecaute.
Todavia, pelas janelas entrava uma iluminação fraca mas suficiente para que se pudesse enxergar.
Vozes gritaram a distância.
Um som metálico alto soou bem próximo.
Todos os olhos voltaram-se na sua direção.
A porta da câmara havia fechado com um estrondo. Gray estendeu a mão para a coronha de sua arma, guardada no coldre embaixo de seu suéter.
- Bloqueio de segurança - tranqüilizou-os Ulmstrom. - Não há nada a temer. Geradores sobressalentes devem...
As luzes tremeluziram e em seguida voltaram a acender.
Ulmstrom fez um aceno de cabeça.
- Ah, lá vamos nós. Es tut mir leid - desculpou-se ele. - Por aqui.
Ele os guiou até a porta de segurança. No entanto, em vez de seguir para o saguão principal, encaminhou-se para uma escada ao lado. Parecia que a visita não havia terminado.
- Creio que vão achar a próxima câmara de particular interesse, porque lá verão representada a runa Mensch, da Bíblia.
Passos rápidos aproximavam-se pelo corredor.
Gray voltou-se, percebendo que sua mão ainda estava pousada na arma. Mas não houve necessidade de tirá-la do coldre. Ryan apressava-se na direção deles, tendo na mão um envelope de papel-manilha cheio de material.
Ligeiramente sem fôlego, juntou-se a eles. Seus olhos correram um pouco ao redor, claramente assustado pelo breve blecaute.
- Ich glaube... - pigarreou ele - que tenho toda a papelada, incluindo o bilhete à minha tia-avó Tola.
Monk pegou o envelope.
- Agora nós podemos cair fora daqui.
Talvez eles devessem. Gray olhou de relance para o dr. Ulmstrom. Ele estava em pé próximo ao topo da escada que conduzia para baixo.
O curador caminhou na direção deles.
Se vocês estiverem com pressa...
Não, bitte. O que o senhor estava mesmo dizendo sobre a runa Mensch? Seria tolice ir embora sem investigar completamente aquilo. Ulmstrom ergueu um braço e apontou para a escada.
- Lá embaixo está a única câmara no castelo inteiro onde a runa Mensch pode ser encontrada. É claro que a presença da runa só faz sentido se levarmos em consideração...
Se levarmos o que em consideração?
Ulmstrom suspirou e consultou o relógio.
Venham, terei de ser rápido de qualquer modo.
Ele virou-se, encaminhou-se para a escada e desceu.
Gray acenou para que Fiona e Ryan fossem atrás. Monk revirou os olhos para Gray ao passar por ele.
- Este castelo é assustador... é hora de irmos embora...
Gray entendeu a ânsia de Monk de partir. Ele também a sentia. Primeiro o alarme falso com o Mercedes, depois o blecaute. Mas nada adverso acontecera. E Gray detestaria perder uma oportunidade de aprender mais sobre a runa da Bíblia e sua história ali no castelo.
A voz de Ulmstrom subiu até Gray. Os outros já haviam chegado ao patamar lá embaixo.
- Esta câmara situa-se bem embaixo da Obergruppenführersaal.
Gray juntou-se a eles enquanto o curador destrancava uma porta idêntica à de cima, também gradeada e lacrada com vidro grosso. Ele a manteve aberta para eles e entrou em seguida.
Além, havia outra câmara circular, porém sem janelas, iluminada escassamente por alguns candelabros de parede. Doze colunas de granito circundavam o espaço e sustentavam uma abóbada. No centro do teto havia sido pintada uma suástica.
- Esta é a cripta do castelo - disse Ulmstrom. - Observem o fosso no centro do aposento. É onde o brasão dos oficiais da SS mortos era queimado cerimonialmente.
Gray já tinha avistado o fosso de pedra, exatamente na direção da suástica no teto.
- Se ficarem em pé perto do fosso e olharem para as paredes, vocês verão as runas Mensch representadas.
Gray aproximou-se do fosso e seguiu as instruções dele. Nos pontos cardeais, as runas haviam sido gravadas nas paredes de pedra. Agora Gray compreendia a observação de Ulmstrom. A presença da runa só faz sentido se levarmos em consideração...
Todas as runas Mensch estavam de cabeça para baixo.
Todesrunen.
Runas da morte.
Um som metálico alto, idêntico ao que eles tinham ouvido pouco antes, ressoou pela câmara. Só que desta vez não houvera blecaute. Gray girou ao redor, percebendo seu erro. A curiosidade havia baixado sua guarda. Em nenhum momento o dr. Ulmstrom havia se afastado da porta.
Agora, o curador estava do lado de fora, trancando a fechadura.
Ele gritou através do vidro grosso, sem dúvida à prova de balas.
- Agora vocês vão entender o verdadeiro significado da Todesrune.
Um estalo alto soou em seguida e todas as luzes escureceram. Como não havia janelas, a câmara foi tragada por uma completa escuridão.
No silêncio que se seguiu ao choque, ouviu-se um novo som: um forte sibilo.
Ele não vinha, porém, de nenhuma cobra ou serpente.
Gray sentiu o gosto na parte de trás da língua.
Gás.
Himalaia
Os três helicópteros espalharam-se para uma aproximação de ataque.
Painter observou a aproximação dos helicópteros por intermédio de binóculos. Ele havia desafivelado o cinto e ocupado o assento do co-piloto. Reconheceu os helicópteros do inimigo: Eurocopter Tigers, de peso médio, providos de plataformas de armas e mísseis ar-ar.
O helicóptero é equipado com armas? - Painter perguntou a Gunther.
Nein. - Ele sacudiu a cabeça.
Gunther pisou nos pedais do leme a fim de mudar de rumo, afastando-se dos adversários. Inclinou o helicóptero para a frente e acelerou. Aquela era a única verdadeira medida defensiva deles: a velocidade.
O A-Star, mais leve e desprovido de armas, era mais rápido e mais fácil de ser manobrado. Porém, mesmo aquela vantagem tinha suas limitações.
Painter sabia em que direção Gunther estava indo agora, forçado pelos outros. Painter havia examinado minuciosamente os mapas daquela região. A fronteira chinesa ficava apenas a cinqüenta quilômetros de distância.
Se os helicópteros de ataque não os eliminassem, a invasão do espaço aéreo chinês se ocuparia disso. E, com as atuais tensões entre o governo nepalês e os rebeldes maoístas, a fronteira era rigorosamente vigiada. Eles literalmente não tinham escolha.
Anna gritou do assento traseiro, a cabeça esticada para observar a retaguarda deles.
- Disparo de míssil!
Antes mesmo que ela completasse a advertência, uma faixa de fumaça e fogo passou zunindo como um raio pelo bombordo deles, sem acertar o alvo por poucos metros. O míssil chocou-se contra a crista da montanha coberta por uma crosta de gelo adiante. Fogo e rocha arremessaram-se para o alto. Uma parte enorme do penhasco desprendeu-se e começou a se deslocar, como um deslizamento de gelo de uma geleira.
Gunther inclinou o helicóptero para o lado e aumentou a velocidade para se livrar da chuva de fragmentos.
Ele fez o helicóptero descer bruscamente e acelerou por entre duas cristas de pedra. Eles estavam temporariamente fora da linha direta de fogo.
- E se nós aterrissássemos rápido e fugíssemos a pé? - perguntou Anna.
Painter sacudiu a cabeça, gritando a fim de ser ouvido acima do barulho do motor.
- Conheço esses Tigers, eles têm raios infravermelhos. O calor produzido pelo nosso corpo simplesmente nos denunciaria. Então não haveria como escapar às armas ou aos foguetes deles.
- Então o que vamos fazer?
A cabeça de Painter ainda sofria espasmos repentinos e violentos. Sua visão se contraíra a um foco de laser.
Lisa respondeu, inclinando-se para a frente, os olhos fixos na bússola.
- Everest - disse ela.
- O quê?
Ela acenou com a cabeça para a bússola.
- Nós estamos seguindo direto para o Everest. E se aterrissássemos lá e nos perdêssemos em meio à massa de alpinistas?
Painter refletiu sobre o plano dela. Esconder-se da vista de todos.
- A tempestade deixou a montanha apinhada - ela continuou em voz alta. – Cerca de duzentas pessoas estavam esperando para escalar quando eu parti. Incluindo alguns soldados nepaleses. Pode ser até que haja mais depois da destruição do mosteiro pelo incêndio.
Lisa olhou de relance para Anna. Painter interpretou a expressão dela. Eles estavam lutando pela própria vida junto com o mesmo inimigo que havia queimado completamente o mosteiro. Mas um adversário maior ameaçava-os todos. Embora Anna tivesse feito escolhas brutais, imperdoáveis, essa outra facção havia tornado necessárias as ações dela, pondo em movimento a cadeia de acontecimentos que os atraíra até ali.
E Painter sabia que aquilo não pararia ali. Era apenas o começo, um estratagema destinado a desviar a atenção deles. Algo monstruoso estava em curso. As palavras de Anna ecoaram em sua cabeça latejante.
Nós temos de detê-los.
- Com tantos telefones via satélite e transmissão de vídeos do acampamento-base, eles não ousariam atacar - Lisa concluiu.
- Ou é o que esperamos - disse Painter. - Se eles não recuarem, colocaremos muitas pessoas em risco.
Lisa recostou-se, digerindo as palavras dele. Painter sabia que o irmão dela estava entre as pessoas no acampamento-base. Os olhos dela encontraram os dele.
- É muito importante - disse ela, chegando à mesma conclusão à qual ele chegara pouco antes. - Nós temos de correr esse risco. A notícia deve ser divulgada!
Painter correu os olhos pela cabine.
- O vôo será mais curto se sobrevoarmos o ombro do Everest para chegarmos ao outro lado do que se seguirmos a rota mais longa em torno da montanha - Anna disse e apontou para o paredão da montanha diante deles.
- Então vamos seguir para o acampamento-base - disse Painter.
Todos eles estavam de acordo.
Os outros não.
Um helicóptero rugiu sobre a crista da montanha, seus esquis passando diretamente acima dos rotores do helicóptero deles. O intruso pareceu pasmado por deparar com eles. O Tiger girou e subiu numa pirueta de surpresa.
Mas eles haviam sido descobertos.
Painter rezou para que os outros estivessem espalhados num amplo padrão de busca; por outro lado, porém, um Tiger só bastava.
O desarmado A-Star deles saiu da depressão e entrou num desfiladeiro mais amplo, uma garganta em forma de tigela repleta de neve e gelo. Não havia abrigo. O piloto do Tiger reagiu rapidamente, mergulhando na direção deles.
Gunther aumentou a velocidade do motor e o passo das pás das hélices, tentando uma corrida a toda velocidade. Eles podiam deixar o Tiger, mais pesado, para trás, mas não seus mísseis.
Para evidenciar isso, ao mergulhar, o Tiger abriu fogo com suas plataformas de armas, cuspindo chamas e deixando um rastro de destruição pela neve.
- Pare de se preocupar em deixar o filho-da-puta para trás! - gritou Painter e apontou o polegar para cima. - Mude a corrida para esta direção.
Gunther olhou de relance para ele, as espessas sobrancelhas franzidas.
- Ele é mais pesado - explicou Painter movendo as mãos. - Podemos subir a uma altitude mais elevada. Para onde ele não pode nos seguir.
Gunther fez um aceno de cabeça e puxou para trás a alavanca do comando coletivo, transformando o movimento para a frente em movimento vertical. Como um elevador expresso, o helicóptero disparou para cima.
O Tiger foi pego de surpresa pela súbita mudança de direção e levou um momento extra para segui-los, subindo numa espiral atrás deles.
Painter deu uma olhada no altímetro. O recorde mundial de altitude alcançado por um helicóptero fora estabelecido por um A-Star sem acessórios especiais. Ele havia aterrissado no cume do Everest. Eles não precisavam subir tanto. O Tiger equipado com armas pesadas já estava sumindo aos poucos desde que eles ultrapassaram a marca de 22 mil pés, os rotores dele girando inutilmente no ar rarefeito, tornando difícil manter a guinada e o balanço rotacional, impedindo um ângulo de ataque necessário para empregar seus mísseis.
Por enquanto, o helicóptero deles continuava a subir rumo à segurança.
Mas eles não podiam permanecer ali em cima para sempre. O que subia tinha de descer.
E, como um tubarão nadando em círculos, o helicóptero de ataque aguardava abaixo. Tudo o que ele precisava fazer era segui-los. Painter avistou os dois outros Tigers voarem na direção deles, chamados para a caça, uma alcatéia aproximando-se por todos os lados de sua presa ferida.
- Fique acima do helicóptero - disse Painter, fazendo um sinal com a palma de uma das mãos sobre a outra.
A expressão carrancuda de Gunther não abrandou, mas ele obedeceu. Painter virou-se para Anna e Lisa.
- Vocês duas olhem pelas suas janelas laterais. Me digam quando o Tiger estiver bem embaixo de nós.
Elas responderam com acenos de cabeça.
Painter voltou sua atenção para a alavanca diante dele.
- Estamos quase lá! - gritou Lisa do seu lado.
- Agora! - reagiu Anna um segundo depois.
Painter puxou a alavanca. Ela controlava a unidade de içamento no trem de pouso do helicóptero. A corda com arnês havia baixado Painter mais cedo, quando ele estava perseguindo a assassina. Mas agora ele não estava baixando o arnês. A alavanca de emergência que ele segurou era usada para soltar o equipamento, caso emperrasse. Ele a puxou completamente para trás e sentiu o estalo do desengate.
Pressionou o rosto contra a janela.
Gunther fez uma curva, inclinando o helicóptero para que eles pudessem ver melhor.
A unidade de içamento caiu longitudinalmente, fazendo a corda desenrolar-se de maneira caótica.
Ele acertou o Tiger abaixo, chocando-se contra os rotores. O efeito foi tão destrutivo quanto o de qualquer bomba explosiva. As hélices partiram-se, voando em todas as direções. O helicóptero girou em torno do próprio eixo a uma velocidade vertiginosa, sacudindo-se para os lados e desaparecendo.
Sem tempo de sobra, Painter apontou para o único vizinho deles naquela altitude. O cume branco do Everest erguia-se adiante, envolto por nuvens.
Eles tinham de alcançar o acampamento-base nas suas encostas inferiores - mas abaixo o céu não era seguro.
Dois outros helicópteros, zangados como vespões, voavam a toda velocidade na direção deles.
E Painter não tinha mais unidades de içamento.
Lisa observou os outros helicópteros precipitarem-se na direção deles, passando de mosquitos a falcões. Agora era uma competição.
Inclinando o helicóptero abruptamente, Gunther saiu da atmosfera rarefeita. Dirigiu-se ao desfiladeiro entre o Everest e seu monte vizinho, o Lhotse. Uma crista em forma de ombro - o famoso desfiladeiro sul - ligava o Lhotse ao Everest. Eles precisavam transpor sua beira para que a montanha ficasse entre eles e os outros. No outro lado, o acampamento-base ficava ao pé do desfiladeiro.
Se eles pudessem alcançá-lo...
Ela imaginou o irmão, seu sorriso abobalhado, o cabelo levantado na parte de trás da cabeça, que ele estava sempre tentando alisar. Em que eles estavam pensando, ao trazerem aquela guerra ao acampamento-base, até o irmão dela?
Na frente dela, Painter estava curvado junto com Gunther. O rugido do motor devorava as palavras deles. Ela precisava confiar em Painter. Ele não colocaria a vida de ninguém em risco sem necessidade.
O desfiladeiro ergueu-se na direção deles. O mundo expandiu-se do lado de fora quando eles mergulharam rumo ao desfiladeiro na montanha. O Everest enchia o estibordo, uma coluna de neve soprando de seu cume. O Lhotse, a quarta montanha mais alta do mundo, era uma muralha à esquerda.
Gunther aumentou o declive do ângulo deles. Lisa segurou nas correias de seu assento. Ela teve a impressão de que poderia sair pelo pára-brisa dianteiro. Adiante, o mundo transformou-se num lençol de gelo e neve.
Um grito sibilante abafou o ruído do motor.
- Míssil! - gritou Anna.
Gunther puxou o manche. O nariz do helicóptero projetou-se para cima e deu uma guinada para a direita. O míssil passou voando sob os esquis do helicóptero e colidiu com a crista leste do desfiladeiro. Fogo subiu rumo ao céu. Gunther inclinou o helicóptero para livrá-los da erupção, baixando subitamente o nariz outra vez.
Pressionando a face contra a janela lateral, Lisa olhou para trás. Os dois helicópteros haviam se aproximado mais, voando obliquamente na direção deles. Em seguida, uma parede de gelo interrompeu a visão.
- Nós estamos sobre a crista! - gritou Painter. – Segurem-se firmes!
Lisa virou-se. O helicóptero mergulhou na vertiginosa encosta do desfiladeiro sul. Neve e gelo passavam voando embaixo deles. À frente, uma mancha mais escura apareceu: acampamento-base.
Eles seguiram para lá, como se quisessem espatifar-se de ponta-cabeça na cidade de barracas.
O acampamento crescia abaixo deles, mais a cada segundo, bandeiras de orações tremulando, cada barraca agora visível.
- Nossa aterrissagem vai ser difícil! - gritou Painter.
Gunther não reduziu a velocidade.
Uma oração, ou talvez um mantra, aflorou aos lábios de Lisa.
- Ai, meu Deus... ai, meu Deus... ai, meu Deus...
No último instante, Gunther fez o helicóptero parar, lutando com os controles. Rajadas de vento avançavam contra ele. A aeronave continuou a cair, os rotores agora guinchando.
O mundo além parecia um carrossel.
Jogada de um lado para outro, Lisa segurou nos braços do assento.
Em seguida, os esquis bateram com força no chão, e o nariz do helicóptero inclinou-se ligeiramente para baixo, lançando Lisa para a frente. O cinto de segurança a segurou. O distúrbio no ar causado pelos rotores revolveu a neve em rajadas, mas o helicóptero equilibrou-se nos seus patins, nivelado.
- Saiam todos! - gritou Painter enquanto Gunther desligava o motor.
As portinholas estalaram e eles desceram.
Painter apareceu ao lado de Lisa, dando-lhe o braço. Depois vieram Anna e Gunther. Uma massa de pessoas foi na direção deles. Lisa ergueu os olhos para a crista da montanha. Fumaça resultante do ataque do míssil erguia-se atrás do desfiladeiro. Todos no acampamento deviam ter ouvido, as barracas ficaram vazias.
Vozes numa mistura indistinta de línguas os surpreenderam.
Lisa, meio ensurdecida pelo helicóptero, sentia-se distante de tudo aquilo.
Então uma voz chegou até ela.
- Lisa!
Ela virou-se. Uma forma familiar de calça de neve preta e camisa térmica cinza abria caminho através da multidão, com cotoveladas e empurrões.
- Josh!
Painter permitiu que ela se afastasse do grupo para ir ao encontro dele. Pouco depois, Lisa estava nos braços do irmão, dando-lhe um abraço apertado. Ele cheirava vagamente a iaques. Ela jamais sentira um cheiro melhor.
Gunther grunhiu atrás deles.
- Paß auf!
Um aviso.
Gritos ergueram-se em volta deles. A atenção desviou-se numa onda que se espalhava. Braços apontaram.
Lisa soltou-se dos braços do irmão.
Dois helicópteros de ataque flutuavam no alto do desfiladeiro, agitando a fumaça produzida pelo impacto do míssil. Eles pairavam no lugar, predatórios, letais.
Vão embora, Lisa orou, desejando isso com toda sua força. Simplesmente vão embora.
- Quem são eles? - perguntou uma nova voz, num tom agudo e irritante.
Lisa não precisou se virar para reconhecer Bob de Boston, um erro de seu passado. O sotaque e a eterna tendência a lamuriar-se identificavam-no com bastante clareza. Sempre intrometido, ele devia ter seguido Josh. Ela o ignorou.
Josh, porém, parecia ter percebido a tensão dela quando os helicópteros apareceram.
- Lisa...?
Ela sacudiu a cabeça, os olhos fixos no céu. Ela precisava de toda sua concentração para sugestioná-los a ir embora.
Mas foi em vão.
Em perfeita harmonia, ambos os helicópteros pararam de flutuar no ar e mergulharam encosta abaixo, na direção deles. Rápidas sucessões de fogo iluminavam o nariz deles. Neve e gelo eram revolvidos em linhas paralelas de morte, destruindo a encosta, seguindo diretamente para o acampamento-base.
Não... - gemeu Lisa.
- Que diabo você fez? - Bob gritou, recuando.
A multidão, aturdida e congelada por um momento, de repente começou a gritar, separando-se e fugindo em todas as direções.
Painter segurou o outro braço de Lisa. Ele a levou dali, arrastando Josh também. Eles recuaram, mas não havia onde se esconder.
- Um rádio! - Painter gritou para Josh. - Onde há um rádio?
O irmão dela olhava em silêncio para o céu.
Lisa sacudiu o braço do irmão, atraindo seus olhos para baixo.
- Josh, precisamos encontrar um rádio.
Ela entendeu o raciocínio de Painter. Acima de tudo, a notícia do que havia acontecido tinha de chegar ao mundo exterior.
O irmão dela tossiu, recuperou o controle e apontou.
- Por aqui... uma rede de comunicação de emergência foi montada depois do ataque dos rebeldes ao mosteiro.
Ele correu para uma grande barraca vermelha.
Lisa observou que Bob de Boston os acompanhou, olhando por cima do ombro, sentindo a autoridade que emanava de Painter e Gunther. Ou talvez fosse o fuzil automático que Gunther carregava. O alemão havia enfiado outra granada no lançador da arma. Ele estava pronto para resistir uma última vez, protegê-los enquanto tentavam comunicar-se pelo rádio.
Porém, antes de chegarem à barraca, Painter gritou:
- Abaixem-se!
Ele puxou Lisa para o chão. Todos seguiram o seu exemplo, embora Josh tivesse de puxar Bob pelas pernas.
Um som estridente, novo e estranho, ecoou subitamente das montanhas.
O olhar de Painter esquadrinhou o céu.
- O que...? - perguntou Lisa.
- Espere - disse Painter, com uma expressão confusa.
Em seguida, sobre o ombro do monte Lhotse, foram avistados dois jatos militares, formando duas esteiras de fumaça gêmeas. Fogo cintilou sob suas asas.
Mísseis.
Oh, não!
Mas o alvo não era a base. Os jatos abriram fogo acima, afastando-se como um raio e produzindo um estrondo ao passarem, e voaram diretamente para a atmosfera rarefeita.
Os dois helicópteros de ataque, que já haviam descido três quartos da encosta, explodiram quando os mísseis termo guiados lançados pelos jatos se chocaram contra eles. Ruínas flamejantes bateram com força na encosta, projetando neve e chamas no ar. Choveram detritos, mas o acampamento não foi atingido.
Painter ficou em pé e em seguida ajudou Lisa a levantar-se.
Os outros seguiram seu exemplo.
Bob avançou, dirigindo-se a Lisa de modo intimidador.
- Que diabo foi tudo isso? Que merda você fez descer sobre a nossa cabeça?
Lisa deu-lhe as costas. O que havia se apoderado dela em Seattle a ponto de ela dormir com ele? Era como se tivesse sido outra mulher.
- Não vire as costas para mim, sua cadela!
Lisa girou, os dedos fechados, mas não foi preciso. Painter já estava ali. O braço dele avançou com força e acertou em cheio a cara do homem. Lisa já tinha ouvido a expressão "nocauteado com um golpe", mas jamais a havia testemunhado. Bob recuou, rígido com uma tábua, e desabou no chão. Ele não se levantou, estatelado, o nariz quebrado, desacordado.
Painter sacudiu a mão, estremecendo.
Josh ficou embasbacado, depois riu.
- Puxa, cara, tem uma semana que eu estava querendo fazer isso.
Antes que se pudesse dizer mais alguma coisa, um homem de cabelos ruivos saiu da barraca de comunicação vermelha. Ele usava um uniforme das Forças Armadas. Um uniforme das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele encaminhou-se para o grupo deles e seus olhos pousaram em Painter.
- Diretor Crowe? - perguntou o homem, com a fala arrastada típica da Geórgia e o braço estendido.
Painter apertou a mão dele, fazendo uma careta ao sentir a pressão sobre os nós feridos de seus dedos.
- Logan Gregory lhe manda lembranças, senhor.
O homem acenou com a cabeça para o monte de ruínas fumegando na encosta.
Antes tarde do que nunca - disse Painter.
- Ele está ao telefone e deseja falar com o senhor. Por favor, venha comigo.
Painter acompanhou o oficial da Força Aérea, major Brooks, até a barraca de comunicação. Lisa tentou ir atrás com Anna e Gunther, mas o major Brooks ergueu um braço, impedindo a passagem deles.
- Já, já eu estarei de volta - tranqüilizou-os Painter. - Esperem por mim.
Ele abaixou-se e entrou na barraca. Dentro dela havia uma série de equipamentos. Um oficial de comunicações afastou-se de uma estação de telecomunicação por satélite. Painter assumiu o lugar dele, pegando o fone.
- Logan?
A voz saiu clara.
- Diretor Crowe, é maravilhoso saber que o senhor está bem.
- Eu acho que tenho de lhe agradecer por isso.
- Nós recebemos seu pedido de socorro.
Painter fez um aceno de cabeça. Então sua mensagem havia saído, enviada pelo aumento da amplitude do sinal do amplificador improvisado no castelo. Felizmente, o sinal GPS havia sido transmitido antes da explosão do sobrecarregado amplificador. Obviamente, fora suficiente para ser rastreado.
- Foram necessárias algumas decisões rápidas para organizar a vigilância e trabalhar em conjunto com as Forças Armadas Nepalesas - explicou Logan. - No entanto, foi por um triz, por um triz.
Logan devia ter monitorado toda a situação por satélite, talvez desde o momento em que eles fugiram do castelo. Mas os detalhes podiam esperar. Painter tinha preocupações mais importantes.
- Logan, antes de fazer um relatório completo, preciso que você comece uma investigação. Vou lhe mandar por fax um símbolo, uma tatuagem. - Painter gesticulou para o major Brooks como se estivesse escrevendo num bloco, e trouxeram-lhe material de escritório. Ele desenhou rapidamente o símbolo que tinha visto na mão da assassina. Era tudo o que eles tinham para prosseguir.
- Comece imediatamente - prosseguiu Painter. - Veja se consegue descobrir se alguma organização terrorista, partido político, cartel de drogas ou mesmo um grupo de escoteiros pode estar associado a este símbolo.
- Cuidarei disto agora mesmo.
Ao terminar um desenho grosseiro da tatuagem em forma de trevo-de-quatro-folhas, Painter o passou para o oficial de comunicações, que foi até um aparelho de fax e introduziu a página nele.
Durante a transmissão, Painter resumiu o que acontecera. Ele estava grato por Logan não tê-lo interrompido com perguntas demais.
- Você já recebeu o fax? - perguntou Painter depois de alguns minutos.
- Sim, ele acabou de chegar às minhas mãos.
- Ótimo. A investigação... dê prioridade máxima a ela.
Seguiu-se uma longa pausa. Problemas no aparelho transmissor. Painter pensou que talvez eles tivessem perdido o sinal, mas em seguida Logan falou, hesitante, confuso.
- Senhor...
- O que é?
- Eu conheço este símbolo. Grayson Pierce o enviou para mim há oito horas.
- O quê?
Logan explicou os acontecimentos em Copenhague. Painter lutou para se concentrar. Com a adrenalina da perseguição se dissipando, o latejamento em sua cabeça confundia sua atenção e raciocínio. Ele lutou contra isso, juntando as peças. Os mesmos assassinos estavam atrás de Gray, Sonnenkönige nascidos sob a influência de um Sino estrangeiro. Mas o que eles estavam fazendo na Europa? Qual era a importância de um monte de livros? No momento, Gray estava na Alemanha, investigando ainda mais a pista, vendo o que conseguia descobrir.
Painter fechou os olhos, e sua dor de cabeça piorou. Os ataques na Europa apenas confirmavam ainda mais seu medo de que alguma coisa global estivesse em curso. Alguma coisa muito importante estava em movimento, prestes a ser realizada.
Mas o quê?
Havia apenas um lugar por onde começar, uma única pista.
- O símbolo deve ser importante. Temos de descobrir a quem ele pertence.
Logan falou claramente.
- Eu acho que tenho essa resposta.
- O quê? Já?
- Eu tive oito horas, senhor.
Certo. É claro. Painter sacudiu a cabeça. Ele baixou os olhos para a caneta em sua mão e, em seguida, notou algo estranho. Virou a mão. A unha de seu dedo anular se fora, tinha sido arrancada, talvez pouco antes, quando ele deu o soco naquele filho-da-puta. Não havia sangue, apenas palidez, carne ressecada, dormência e frio.
Painter entendeu o significado.
O tempo estava se esgotando.
Logan explicou o que sabia. Painter o interrompeu.
- Você passou essa informação secreta para Gray?
- Ainda não, senhor. Estamos com dificuldade de entrar em contato com ele no momento.
Painter franziu as sobrancelhas, descartando suas preocupações com a própria saúde.
- Transmita a notícia para ele - disse Painter com firmeza. - Do jeito que você puder. Gray não tem idéia do que está enfrentando.
Castelo Wewelsburg, Alemanha
Luz tremeluziu na cripta quando Monk acendeu uma lanterna.
Gray encontrou a própria lanterna e a tirou da mochila. Ele a ligou, apontando-a para cima. Pequenos respiradouros contornavam as extremidades da abóbada. Um gás esverdeado começou a invadir a câmara, mais pesado do que o ar, descendo em cascatas de fumaça de todos os orifícios.
Eles eram altos demais e muito numerosos para serem tampados.
Fiona aproximou-se dele. Ryan estava no outro lado do fosso, os braços entrelaçados em torno de si mesmo, sem acreditar em seus olhos.
Um movimento atraiu a atenção de Gray de volta para Monk.
Ele havia sacado sua Glock 9mm e apontado para a porta de vidro.
- Não! - gritou Gray.
Tarde demais. Monk disparou.
A detonação da pistola ecoou, acompanhada por um zunido agudo quando a bala ricocheteou no vidro e acertou um respiradouro de aço, produzindo uma centelha. Pelo menos, parecia que o gás não era inflamável. A centelha poderia tê-los matado.
Monk pareceu perceber a mesma coisa.
- A prova de balas - disse num tom mal-humorado.
O curador confirmou isso.
- Tivemos de instalar segurança extra. Muitos neonazistas tentavam invadir a câmara.
O reflexo de suas lanternas no vidro ocultava a posição dele.
- Filho-da-puta - murmurou Monk.
O gás começou a preencher a área inferior. O cheiro dele era rançoso e adocicado, mas o gosto era picante. Pelo menos não era cianeto, que possuía odor amargo de amêndoas.
- Continuem em pé, com a cabeça erguida - disse Gray. - Vão para o centro do aposento, para longe dos respiradouros.
Eles reuniram-se ao redor do fosso cerimonial. A mão de Fiona encontrou a dele. Ela a segurou com força e ergueu a outra mão.
- Eu bati a carteira dele, se é que isso faz alguma diferença.
Monk viu o que ela segurava.
Excelente. Você não conseguiu roubar as chaves dele?
- Meu... meu pai sabe que nós estamos aqui em cima! Ele vai chamar a Polizei! -Ryan gritou em alemão.
Gray teve de reconhecer o mérito do rapaz. Ele estava esforçando-se ao máximo.
Uma nova voz respondeu, sem rosto atrás do vidro refletor.
- Eu acho que seu pai não vai chamar ninguém... nunca mais.
As palavras não foram pronunciadas como uma ameaça, apenas como uma afirmação.
Ryan deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido fisicamente. Seus olhos moveram-se rapidamente para Gray e depois de novo para a porta.
Gray reconheceu a voz. E Fiona também. Os dedos dela apertaram com força os dele. Era o comprador tatuado da casa de leilões.
- Desta vez vocês não vão usar nenhum dos seus truques - disse o homem. - Vocês não vão escapar.
Gray começou a ficar tonto. Seu corpo foi ficando mais leve, cada vez mais sem peso. Ele sacudiu a cabeça a fim de se sentir melhor. O homem tinha razão. Eles não conseguiriam escapar. Mas aquilo não significava que estavam indefesos.
Conhecimento era poder.
Gray virou-se para Monk.
- Tire o isqueiro da sua mochila - ordenou ele.
Enquanto Monk obedecia, Gray pôs a própria mochila no chão, tirou seu bloco de anotações e o atirou no fosso.
- Monk, jogue aí dentro as cópias que Ryan tirou. - Gray estendeu a mão. - Fiona, a Bíblia, por favor.
Ambos obedeceram.
- Acenda o fosso - disse Gray.
Monk acendeu seu isqueiro e ateou fogo a uma das cópias que Ryan fizera pouco antes. Ele a jogou no fosso. Dentro de segundos, algumas chamas e fumaça ergueram-se, consumindo tudo. A fumaça que subia pareceu até repelir o veneno momentaneamente... ou era o que Gray esperava. A cabeça dele girou como se estivesse bêbado.
Além da porta, vozes murmuravam, baixas demais para que pudessem ser entendidas.
Gray ergueu a Bíblia de Darwin.
- Só nós sabemos que segredo está oculto nesta Bíblia! - gritou ele.
O assassino de cabelos branco-alourados, ainda sem rosto por trás do vidro, respondeu, vagamente divertido:
- O dr. Ulmstrom decifrou tudo que precisávamos saber: a runa Mensch. A Bíblia não tem mais valor para nós.
- É mesmo? - Gray ergueu o livro, iluminando-o com a sua lanterna. - Nós mostramos a Ulmstrom apenas o que Hugo Hirszfeld escreveu no papelão de trás da Bíblia, mas não o que estava desenhado no da frente!
Depois de um momento de silêncio, as vozes reduziram-se outra vez a murmúrios furtivos. Gray julgou ter ouvido a voz de uma mulher, talvez a gêmea pálida do homem louro.
Um claro Nein defensivo elevou-se na voz de Ulmstrom.
Fiona tropeçou ao lado dele, os joelhos dela fraquejando. Monk a segurou, mantendo a cabeça da garota acima do crescente acúmulo de gás venenoso. Mas mesmo as pernas dele cambalearam.
Gray não podia esperar mais.
Ele acendeu sua lanterna a fim de obter um efeito dramático e atirou a Bíblia no fosso em chamas. Ele ainda era católico romano o suficiente para sentir uma pontada de apreensão ao queimar uma Bíblia. As velhas páginas incendiaram-se imediatamente, tremeluzindo até a altura dos joelhos deles. Uma nova espiral de fumaça projetou-se para cima.
Gray respirou fundo, fazendo sua voz soar o mais convincente possível, precisando persuadi-los.
- Se nós morrermos, o segredo da Bíblia de Darwin morrerá também!
Ele aguardou, rezando para que seu ardil desse certo.
Um segundo... dois...
O gás subia embaixo deles. Cada inspiração agora causava náusea.
Ryan caiu subitamente, como se alguém tivesse cortado os cordões que o sustentavam em pé. Monk estendeu a mão para o braço dele, mas caiu apoiado num joelho, sobrecarregado por Fiona. Ele não voltou a se levantar: tombou, levando Fiona consigo.
Gray olhava fixamente para a porta preta. A lanterna de Monk rolou de seus dedos frouxos e saiu girando. Será que ainda havia alguém lá fora? Será que alguém acreditara nele?
Ele jamais saberia.
Quando o mundo desapareceu de vista, Gray mergulhou na escuridão.
Reserva Hluhluwe-umfolozi
À milhares de quilômetros de distância, outro homem despertou.
O mundo retornou num miasma de dor e cores. Seus olhos moveram-se rapidamente para algo que esvoaçava sobre seu rosto, as asas de um pássaro. Um canto monótono enchia seus ouvidos.
Ele está despertando - disse outra pessoa em zulu.
- Khamisi... - dessa vez foi a voz de uma mulher.
Levou um instante para que o homem que despertava associasse o nome a si mesmo. Ele se ajustava com dificuldade. Um gemido chegou a seus ouvidos. Em sua própria voz.
- Ajude-o a se sentar - disse a mulher.
Ela também falava zulu, mas tinha um sotaque britânico, familiar.
Khamisi sentiu quando foi arrastado para cima e colocado numa posição desengonçada, apoiado por travesseiros. Sua visão estabilizou-se. O aposento, uma cabana de tijolos de argila, estava escuro, mas dolorosos raios de luz penetravam em volta das janelas abrigadas e pelas extremidades de um tapete que fazia às vezes de porta da cabana. O telhado era decorado com cabaças coloridas, tranças de couro cru e fileiras de penas. O odor do local estava saturado de fragrâncias estranhas. Alguma coisa estava presa embaixo de seu nariz. Recendia a amônia e empurrava sua cabeça para trás.
Ele debateu-se um pouco e viu que seu braço direito arrastava consigo uma linha intravenosa conectada a uma bolsa suspensa com um líquido amarelado. Seus braços estavam presos.
De um lado, o xamã de peito nu, usando um cocar, mantinha seu ombro firme. Fora ele quem estivera cantando e agitando uma asa de abutre dessecada sobre seu rosto, para afastar os carniceiros da morte.
Do outro lado, a dra. Paula Kane segurou seu braço, baixando-o de novo sobre a manta que ocultava sua nudez. O tecido estava encharcado de suor.
- Onde... o que...? - resmungou ele.
- Água - ordenou Paula.
A terceira pessoa no aposento, um ancião zulu corcunda, obedeceu e passou um cantil entalhado.
- Você consegue segurá-lo? - perguntou Paula.
Khamisi fez um aceno positivo de cabeça, as forças voltando debilmente. Ele pegou o cantil e bebeu a água tépida, libertando sua língua pastosa e suas lembranças. O ancião que trouxe o cantil... estivera na casa de Khamisi.
Seu coração de repente acelerou. Sua outra mão, arrastando a linha intravenosa, ergueu-se até seu pescoço, no qual havia um curativo. Ele lembrou-se de tudo: do dardo com presas, da mamba negra, da encenação do ataque pela serpente.
- O que aconteceu?
O velho preencheu as lacunas. Khamisi reconheceu o ancião que relatara ter visto um ukufa pela primeira vez no parque cinco meses antes. Na ocasião, suas afirmações tinham sido desdenhadas até por Khamisi.
- Eu soube o que aconteceu com a sá dotora. - Ele fez um aceno de cabeça para Paula em solidariedade e pesar. - E ouvi o que tu diz que viu. As pessoas fala. Eu passo pela tua casa pra conversar com tu. Mas tu não tá em casa. Então espero. Outros vêm, eu me escondo. Eles corta uma serpente, uma mamba, faz magia negra. Eu fico escondido.
Khamisi fechou os olhos, lembrando-se. Então ele chegara em casa, fora atingido pelo dardo e abandonado para morrer. Porém, seus agressores não sabiam que o velho estava escondido nos fundos da casa.
- Eu saio - continuou o ancião - e chamo outros. Em segredo, nós leva tu embora.
Paula Kane terminou a história.
- Nós trouxemos você para cá - disse ela. - O veneno quase o matou, mas a medicina - tanto a moderna quanto a antiga - o salvou. Foi por um triz.
Khamisi olhou do frasco de infusão intravenosa para o xamã.
- Obrigado.
- Você se sente forte o bastante para andar? - indagou Paula. - Você deveria mover seus membros. O veneno atinge o sistema circulatório como uma carga de tijolos.
Com a ajuda do xamã, Khamisi levantou-se, mantendo recatadamente a manta encharcada em torno da cintura. O xamã o ajudou a chegar à porta. Enquanto dava os primeiros passos, ele sentiu-se fraco como um bebê, mas uma pequena força logo se espalhou pelos seus membros.
O tapete que cobria a entrada foi puxado para o lado.
A luz e o calor do dia penetraram na cabana, ofuscantes, fortíssimos.
Ele supôs que fosse o meio da tarde. O sol baixava no oeste.
Protegendo os olhos, ele saiu da cabana.
Reconheceu a pequenina aldeia zulu. Ela ficava na extremidade da Reserva Hluhluwe-umfolozi. Não muito longe de onde eles haviam encontrado o rinoceronte, de onde a dra. Fairfield fora atacada.
Khamisi olhou para Paula Kane. Ela estava em pé, os braços cruzados, o rosto exausto.
- Foi o guarda-caça-chefe - disse Khamisi. Ele não tinha dúvida. - Ele queria me silenciar.
- Sobre a maneira como Marcia morreu. Sobre o que você viu.
Ele acenou com a cabeça.
- O que você...?
As palavras dela foram interrompidas por um helicóptero bimotor que passou a toda velocidade, voando baixo e ruidosamente. O distúrbio no ar causado pelos rotores agitou os arbustos e os galhos das árvores. Tapetes tremularam na entrada das cabanas, como que tentando expulsar o intruso.
A pesada aeronave afastou-se velozmente, passando baixo sobre a savana.
Khamisi a observou. Não era uma excursão turística.
Ao lado dele, Paula havia erguido um par de binóculos Bushnell e acompanhava a aeronave. Ela flutuou mais um pouco e depois se preparou para a aterrissagem. Khamisi afastou-se um pouco mais para observar.
Paula passou-lhe os binóculos.
- Os vôos estão chegando e saindo o dia inteiro.
Khamisi ergueu os binóculos. O mundo ampliou-se e aproximou-se. Ele viu o helicóptero descer atrás de uma cerca preta de três metros de altura. Ela marcava o limite da propriedade particular dos Waalenberg. O helicóptero desapareceu atrás dela.
- Alguma coisa os deixou todos agitados - disse Paula.
Os pêlos na nuca de Khamisi ficaram arrepiados.
Ele girou o foco, fixando-o mais atentamente na cerca. Os velhos portões principais, raramente usados, estavam fechados. Ele reconheceu o antigo timbre da família, feito com filigrana de prata de um lado a outro dos portões. A cruz e a coroa dos Waalenberg.
Sobrevoando o Oceano Índico
- A capita Bryant e eu faremos o possível para investigar os Waalenberg aqui em Washington - disse Logan Gregory pelo telefone.
Painter usava um fone de ouvido com microfone. Ele precisava das mãos livres enquanto mexia na montanha de papéis que Logan havia enviado por fax para o centro de investigação deles em Catmandu. Eles continham tudo sobre os Waalenberg: história da família, relatórios financeiros, vínculos internacionais, até mesmo fofocas e insinuações.
No alto da pilha estava uma fotografia: um homem e uma mulher descendo de uma limusine. Gray Pierce havia tirado a foto de uma suíte de hotel no outro lado da rua de uma casa de leilões, antes do início do evento. A vigilância digital havia confirmado a avaliação de Logan. A tatuagem estava ligada ao clã Waalenberg. Os dois na foto eram os gêmeos Isaak e Ischke Waalenberg, os herdeiros mais jovens da fortuna da família, uma fortuna que rivalizava com o produto nacional bruto da maioria dos países.
Mas, ainda mais importante, Painter reconheceu a pele pálida e os cabelos brancos. Os dois eram mais que herdeiros: eram Sonnenkönige. Como Gunther, como a assassina no castelo na montanha.
Painter olhou para a frente da cabine do Gulfstream.
Gunther dormia, esparramado num sofá, as pernas pendendo sobre a extremidade. Sua irmã, Anna, estava sentada em uma poltrona próxima, encarando uma pilha de pesquisas tão desanimadora quanto a de Painter. Os dois estavam sob a guarda do major Brooks e de dois Rangers americanos armados. Os papéis agora estavam invertidos: os captores haviam se tornado prisioneiros. Porém, apesar da mudança de poder, nada na verdade havia mudado entre eles. Anna precisava dos contatos e do apoio logístico de Painter, que por sua vez precisava do conhecimento de Anna sobre o Sino e da ciência por trás dele. Conforme ela afirmara antes, "assim que isto acabar, resolveremos os problemas de legalidade e responsabilidade".
Logan interrompeu o devaneio dele:
- Kat e eu temos um compromisso de manhã na Embaixada da África do Sul. Vamos ver se eles podem ajudar a lançar um pouco de luz sobre essa família obscura.
E obscura era um eufemismo. Os Waalenberg eram os Kennedy da África do Sul: ricos, insensíveis, com sua propriedade do tamanho de Rhode Island nas imediações de Johannesburg. Embora a família possuísse vastas extensões de terra em outras partes, os Waalenberg raramente se afastavam da propriedade principal.
Painter pegou a foto digital granulada.
Uma família de Sonnenkönige.
Como o tempo estava se esgotando, só poderia haver um lugar onde um segundo Sino estaria possivelmente escondido: em alguma parte daquela propriedade.
- Um agente britânico vai encontrá-los quando vocês aterrissarem em Johannesburg. Há anos que o MI5 está de olho nos Waalenberg, no rastro de transações incomuns, mas não conseguiu transpor a barreira de privacidade e segredo deles.
Não era de surpreender, já que os Waalenberg eram praticamente os donos do país, pensou Painter.
- Eles vão lhes oferecer cobertura no solo e perícia local - concluiu Logan. - Terei mais detalhes quando vocês aterrissarem daqui a três horas.
- Ótimo. - Painter olhou fixamente para a foto. - E quanto a Gray e Monk?
- Eles sumiram do mapa. Encontramos o carro deles estacionado no aeroporto de Frankfurt.
- Frankfurt? Aquilo não fazia sentido. A cidade era um importante centro de empresas aéreas internacionais, mas Gray tivera acesso a um jato do governo, mais rápido do que qualquer linha aérea comercial.
- E absolutamente nenhuma notícia?
- Não, senhor. Nós estamos prestando atenção a todos os canais.
A notícia era sem dúvida desconcertante.
Esfregando a cabeça por causa de uma cefaléia que nem mesmo a codeína conseguira atenuar, Painter concentrou-se no zumbido do avião enquanto ele voava através do céu escuro. O que acontecera com Gray? Eram poucas as opções: ou se escondera, ou fora capturado ou morto. Onde ele estava?
- Tente todos os meios, Logan.
- Já estamos cuidando disto. Também espero ter mais notícias a esse respeito quando vocês chegarem a Johannesburg.
- Você alguma vez dorme, Logan?
- Há uma cafeteria na esquina, senhor. Elas estão em todas as esquinas. - Um divertimento cansado suavizou suas palavras. - E o senhor?
Ele havia tirado uma soneca curta e revigorante em Catmandu enquanto todos os preparativos eram feitos, e os incêndios, apagados - tanto literal quanto politicamente - no Nepal. Eles haviam se atrasado demais em Catmandu.
- Estou suportando bem a situação, Logan. Não se preocupe.
Certo.
Quando desligou, Painter esfregou distraidamente o polegar na carne áspera e pálida que era o leito da unha do seu dedo anular. Todos os outros dedos das duas mãos formigavam - e agora os dos pés. Logan tentara convencê-lo a tomar um avião de volta para Washington, a fim de se submeter a exames no Johns Hopkins, mas Painter acreditava que o grupo de Anna estava muito na dianteira no que dizia respeito a essa doença específica. Causou-lhe dano no nível quântico. Nenhum tratamento convencional ajudaria. Para retardar o progresso da doença, eles precisavam de outro Sino em funcionamento. De acordo com Anna, o tratamento periódico com a radiação do Sino sob condições controladas poderia oferecer-lhes anos em vez de dias. E, no futuro, até mesmo a cura total, ela concluiu com esperança.
Mas primeiro eles precisavam de outro Sino.
E de mais informações.
Uma voz atrás de seu ombro o assustou.
- Acho que deveríamos conversar com Anna - disse Lisa, como que lendo a mente dele.
Painter virou-se. Ele pensara que Lisa estivesse dormindo na traseira da aeronave. Ela havia tomado uma ducha, arrumado-se, e agora estava inclinada no encosto do assento dele, vestindo calça caqui e blusa creme.
Os olhos dela examinaram o rosto dele, objetivos, críticos.
- Você está parecendo um trapo - disse ela.
- Que comportamento delicado - respondeu ele, levantando-se e espreguiçando-se.
O avião inclinou-se e escureceu. Lisa segurou o cotovelo dele para firmá-lo. O mundo iluminou-se e estabilizou-se. Não fora o avião, apenas a cabeça dele.
- Prometa-me que você vai dormir um pouco mais antes de aterrissarmos - disse ela, dando um beliscão forte e exigente no cotovelo dele.
- Se eu tiver tempo... aiii!
O aperto dela era como ferro.
- Está bem, eu prometo - ele cedeu.
Ela relaxou o apertão e acenou com a cabeça para Anna. A mulher estava debruçada sobre uma pilha de faturas, examinando tíquetes de embarque para a propriedade dos Waalenberg. Ela procurava quaisquer sinais reveladores de que eles estivessem levando para sua propriedade suprimentos compatíveis com a operação de um Sino em funcionamento.
- Quero saber mais sobre como esse Sino funciona - disse Lisa -, sobre as teorias fundamentais por trás dele. Se a doença causa dano quântico, nós temos de entender como e por quê. Ela e Gunther são os únicos sobreviventes do Granitschlofí. Tenho minhas dúvidas se Gunther foi instruído sobre os pontos mais delicados das teorias do Sino.
Painter fez um aceno de cabeça.
- Ele é mais um cão de guarda do que um cientista. Como que confirmando isso, o homem deu um ronco alto.
- Todo o conhecimento que resta do Sino está na cabeça de Anna. Se ela enlouquecer...
Eles perderiam tudo.
- Nós precisamos obter as informações antes que isso aconteça - concordou Painter.
Os olhos de Lisa encontraram os dele. Ela não ocultou seus pensamentos. Eles estavam estampados em seu rosto. Ele se lembrou de quando ela embarcou no avião em Catmandu. Exausta, extremamente esgotada, no limite, ela não hesitara em acompanhá-los. Ela entendeu. Como agora.
Não eram apenas a razão e a memória de Anna que estavam em risco.
Painter também corria perigo.
Apenas uma pessoa estivera seguindo aquele rastro desde o começo, uma pessoa com intelecto médico e científico para entender tudo aquilo, uma mente livre da loucura iminente. No castelo, Lisa e Anna haviam tido longas conversas a sós. Também por conta própria, Lisa explorara a fundo a biblioteca de pesquisa de Anna. Quem sabia qual fato insignificante poderia revelar-se crucial, a diferença entre o sucesso e o fracasso?
Lisa compreendera.
Não houvera discussão em Catmandu.
Ela simplesmente embarcara.
A mão de Lisa soltou-se devagar do cotovelo e deslizou para a mão dele. Ela apertou os dedos de Painter e fez um sinal na direção de Anna.
- Vamos lá aprender o que ela sabe.
- Para entender como o Sino funciona - explicou Anna -, vocês primeiro têm de entender a teoria quântica.
Lisa observou a alemã. As pupilas dela estavam dilatadas por causa da codeína. Ela estava tomando doses demais. Os dedos de Anna agitavam-se com tremores quase imperceptíveis. Ela segurava os óculos de leitura com ambas as mãos, como se elas fossem uma âncora. Eles haviam ido para a parte de trás do jato. Gunther ainda dormia sob guarda na frente.
Não acho que tenhamos tempo para o programa completo de doutorado - disse Painter.
- Natürlich. Apenas três princípios precisam ser compreendidos. - Anna soltou dos óculos por tempo suficiente para erguer um dedo. - Primeiro, nós temos de entender que, assim que a matéria é decomposta no nível subatômico - o mundo dos elétrons, prótons e nêutrons -, as leis clássicas do universo começam a se desintegrar. Max Planck descobriu que os elétrons, os prótons e os nêutrons atuam como partículas e ondas, o que parece estranho e contraditório. As partículas têm órbitas e vias bem definidas, ao passo que as ondas são mais difusas, menos delimitadas, sem quaisquer coordenadas específicas.
- E essas partículas subatômicas agem como ambas? - indagou Lisa.
- Elas têm o potencial de ser ou uma onda ou uma partícula, o que nos conduz ao tópico seguinte: o Princípio da Incerteza de Heisenberg.
Lisa já estava familiarizada com esse princípio e havia lido mais a respeito dele na biblioteca de Anna.
- Heisenberg basicamente afirma que nada é certo até que seja observado - disse ela. - Mas eu não entendo o que isso tem a ver com elétrons, prótons e nêutrons.
- O melhor exemplo do princípio de Heisenberg é o (lalo de Schrõdinger -respondeu Anna. - Ponha um gato numa caixa lacrada presa a um dispositivo que pode ou não envenenar o gato a qualquer momento. Algo puramente ao acaso. Morto ou vivo. Heisenberg nos diz que nesta situação, com a caixa fechada, o gato está potencialmente morto e vivo. Só quando alguém abre a caixa e olha para dentro dela, a realidade escolhe um estado ou o outro: morto ou vivo.
- Parece mais filosófico que científico - disse Lisa.
- Talvez quando o assunto é um gato. Mas ele se revelou verdadeiro no nível subatômico.
- Ele se revelou verdadeiro? Como? - indagou Painter. Ele estivera sentado em silêncio até então, deixando Lisa conduzir as perguntas. Ela percebeu que ele já sabia muito sobre isso, mas que desejava que ela obtivesse todas as informações de que precisava.
- No clássico experimento da dupla fenda - respondeu Anna -, o que nos leva ao terceiro tópico.
Ela pegou duas folhas de papel, desenhou duas fendas em uma delas e as manteve eretas, uma atrás da outra.
- O que eu estou prestes a lhes dizer vai soar estranho e contra o senso comum... Suponham que esta folha de papel fosse uma parede de concreto e as fendas fossem duas janelas. Se vocês pegassem uma arma de fogo e disparassem contra ambas as fendas, obteriam certo padrão na parede do outro lado. Deste jeito.
Ela pegou a segunda folha de papel e a encheu de pontos.
- Chamemos isto de "Padrão de difração A", ou seja, a forma como balas ou partículas passariam através destas fendas.
- Está bem. - Lisa acenou com a cabeça.
- Em seguida, em vez de usarmos balas, vamos iluminar a parede com um holofote grande, com luz passando através de ambas as fendas. Como a luz se propaga em ondas, obteríamos um padrão diferente na parede de trás.
Ela matizou um padrão de faixas claras e escuras numa nova folha de papel.
- Este padrão é causado pelas ondas de luz que se propagam através das janelas direita e esquerda interferindo uma na outra. Vamos chamá-lo "Padrão de interferência B" que é originado pelas ondas.
- Entendi - disse Lisa, sem saber aonde aquilo estava levando. Anna manteve eretos os dois padrões.
Agora pegue uma pistola de elétrons e dispare uma única linha de elétrons nas duas fendas. Que padrão você obteria?
Já que você está disparando elétrons como se fossem balas, eu diria que o "Padrão de difração A" - respondeu Lisa, apontando para a primeira figura.
Na verdade, em testes em laboratório, você obtém o segundo: o "Padrão de interferência B".
Lisa refletiu sobre isso.
- O padrão de ondas. Então os elétrons devem estar sendo disparados pela arma não como balas, mas como a luz de uma lanterna, propagando-se em ondas e criando o padrão B.
- Correto.
- Então os elétrons se movem como ondas.
- Sim, mas só quando ninguém de fato assiste à passagem dos elétrons pelas lendas.
- Eu não estou entendendo.
- Em outro experimento, cientistas colocaram um pequeno detector em uma das fendas. Ele apitava sempre que sentia um elétron passar pela fenda, medindo ou observando a passagem de um elétron por um detector. Qual era o padrão no outro lado quando o dispositivo foi ligado?
- Ele não deveria mudar, deveria?
- No mundo mais amplo, você está certa. Mas não no mundo subatômico. Assim que o dispositivo foi ligado, ele imediatamente mudou para o "Padrão de difração A".
- Quer dizer então que o simples ato de medir mudou o padrão?
- Exatamente como Heisenberg predisse. Apesar de isso parecer impossível, é verdade. Foi verificado repetidas vezes. Os elétrons existem em um estado constante tanto como ondas quanto como partículas até que sejam medidos. O simples ato de medir o elétron o obriga a colapsar numa realidade ou na outra.
Lisa tentou imaginar um mundo subatômico no qual tudo era mantido em constante estado de potencial. Não fazia o menor sentido.
- Se as partículas subatômicas formam os átomos - perguntou Lisa -, e os átomos formam o mundo que nós conhecemos, tocamos e sentimos, onde está a linha que separa o mundo-fantasma da mecânica quântica do nosso mundo de objetos reais?
- Mais uma vez, a única maneira de fazer o potencial colapsar é ter algo que o meça. Essas ferramentas de medição estão com freqüência presentes no meio ambiente. Pode ser uma partícula chocando-se contra outra, um fóton de luz atingindo algo. O meio ambiente está constantemente medindo o mundo subatômico, fazendo o potencial colapsar na dura realidade. Olhe para as suas mãos, por exemplo. No nível quântico, as partículas subatômicas que formam os seus átomos operam de acordo com regras quânticas vagas, mas se expandem para fora, para o mundo de bilhões de átomos que formam a unha do seu dedo. Esses átomos estão se chocando, empurrando-se e interagindo - medindo uns aos outros -, forçando o potencial a uma realidade fixa.
- Tudo bem...
Anna devia ter percebido o ceticismo na voz dela.
- Eu sei que é bizarro, mas eu mal engatinho no mundo vago da teoria quântica. Estou passando por cima de conceitos como não-localidade, tempo de tunelamento e universos múltiplos.
Painter acenou com a cabeça.
- Aí é que a coisa fica bastante esquisita.
- Mas tudo o que vocês precisam entender são estes três pontos - disse Anna, enumerando-os nos dedos. - As partículas subatômicas existem num estado quântico de potencial. É necessária uma ferramenta de medição para colapsar esse potencial. E é o meio ambiente que constantemente faz essas medições para determinar nossa realidade.
Lisa ergueu a mão, concordando no momento.
- Mas o que isso tem a ver com o Sino? Na biblioteca, você mencionou algo chamado evolução quântica.
- Exatamente - disse Anna. - O que é o DNA? Nada além de uma máquina de proteínas, ja? Que produz todas as unidades estruturais básicas das células, dos corpos.
- Da maneira mais simples.
- Em seguida, fica ainda mais simples. O DNA não é meramente códigos genéticos entrelaçados em ligações químicas? E o que quebra essas ligações, ativando e desativando os genes?
Lisa voltou para a química básica.
- O movimento de elétrons e prótons.
- E a quais regras essas partículas subatômicas obedecem: às clássicas ou às quânticas?
- Às quânticas.
- Portanto, se um próton pudesse estar em dois lugares - A ou B -, ativando ou desativando um gene, em que lugar ele seria encontrado?
Os olhos de Lisa estreitaram-se.
- Se ele tem o potencial de estar em ambos os lugares, então ele está em ambos os lugares. O gene está ativo e inativo. Até que alguma coisa o meça.
- E o que o mede?
- O meio ambiente.
- E o meio ambiente de um gene é...?
Os olhos de Lisa arregalaram-se lentamente.
- A própria molécula de DNA.
Anna fez um aceno de cabeça e sorriu.
- No seu nível mais elementar, a célula viva atua como o próprio dispositivo de medição quântica. E essa medição celular constante é o verdadeiro motor da evolução. Ela explica por que as mutações não são aleatórias. Por que a evolução ocorre em ritmo mais rápido do que o que pode ser atribuído à aleatoriedade.
- Espere - disse Lisa. - Você vai ter de recuar um pouco.
- Consideremos um exemplo, então. Lembre-se daquelas bactérias que não conseguiam digerir a lactose, de como, ao passarem fome por terem apenas a lactose como alimento, elas sofreram mutação numa velocidade milagrosa, a fim de desenvolverem uma enzima que pudesse digeri-la. Contra probabilidades astronômicas. - Anna ergueu uma sobrancelha. - Você pode explicar isso agora? Usando os três princípios quânticos? Em particular, se eu lhe disser que a mutação benéfica exigiu apenas um único próton para se mover de um lugar para outro.
Lisa estava disposta a tentar.
- Vamos lá, se o próton podia estar em ambos os lugares, a teoria quântica diz que ele estava em ambos os lugares. Portanto, o gene havia sofrido e não havia sofrido a mutação. Foi mantido no estado de potencial entre ambas as situações.
Anna acenou com a cabeça.
- Prossiga.
- Então a célula, agindo como uma ferramenta de medição quântica, obrigou o DNA a colapsar num lado da cerca ou no outro. Sofrer ou não sofrer mutação. E, como a célula está viva e é influenciada pelo seu meio ambiente, ela fez a balança pender, desafiando a aleatoriedade a fim de produzir a mutação benéfica.
- Que os cientistas agora chamam de mutação adaptativa. O meio ambiente influenciou a célula, a célula influenciou o DNA e ocorreu a mutação que beneficiou a célula. Tudo impulsionado pela mecânica do mundo quântico.
Lisa começou a ter uma vaga idéia de aonde isso estava conduzindo. Anna havia usado a expressão "design inteligente" em uma discussão anterior. A mulher havia até respondido à pergunta sobre quem ela achava que estava por trás daquela inteligência.
Nós.
Lisa agora entendia. Eram as nossas próprias células que estavam direcionando a evolução, reagindo ao meio ambiente e colapsando potencial em DNA a fim de se ajustarem melhor a esse meio ambiente. A seleção natural de Darwin, então, contribuía para preservar essas modificações.
- Mas, ainda mais importante - disse Anna, sua voz começando a prender e a irritar um pouco -, a mecânica quântica explica como teve início a primeira centelha de vida. Você se lembra da improbabilidade de aquela primeira proteína replicante se formar a partir da sopa primordial? No mundo quântico, a aleatoriedade é tirada da equação. A primeira proteína replicante se formou porque era a ordem além do alcance do caos. Sua capacidade de medir e colapsar o potencial quântico suplantava a aleatoriedade de meramente colidir e empurrar como havia acontecido na sopa primordial. A vida começou porque era uma melhor ferramenta de medição quântica.
- E Deus não teve nada a ver com isso? - disse Lisa, repetindo uma pergunta que Anna lhe fizera primeiro... o que parecia ter sido décadas atrás.
Anna ergueu a palma de uma das mãos até a testa, os dedos tremendo. Os olhos dela repuxaram. Ela olhou fixamente pela janela com uma expressão de dor. Sua voz era quase suave demais para ser ouvida.
- Eu também não disse isso... você está vendo a situação da maneira errada, na direção errada.
Lisa deixou aquilo de lado. Ela reconheceu que Anna estava ficando exausta demais para continuar. Todos eles precisavam dormir mais. Porém, havia uma pergunta que tinha de ser feita.
- O Sino... o que ele faz? - perguntou Lisa.
Anna baixou a mão e fitou primeiro Painter, depois Lisa.
- O Sino é o dispositivo fundamental de medição quântica.
Lisa prendeu o fôlego, refletindo sobre o que Anna estava dizendo. Alguma coisa ardente transpareceu da exaustão de Anna. Era difícil de interpretar: orgulho, justificativa, fé... mas também uma boa dose de medo.
- O campo do Sino, se puder ser dominado, possui a capacidade não só de fazer o DNA evoluir para sua forma mais perfeita, como também de levar a humanidade consigo.
- E quanto a nós? - disse Painter, agitando-se. Pela sua expressão, era claro que ele estava indiferente ao ardor dela. - Você e eu? Como pode ser perfeição o que está acontecendo conosco?
O fogo extinguiu-se nos olhos de Anna, em conseqüência da exaustão e da derrota.
- Porque assim como o Sino possui o potencial de evoluir, o inverso também está oculto no interior de suas ondas quânticas.
- O inverso?
- A doença que acometeu nossas células - Anna desviou o olhar - não é apenas degeneração... é involução.
Painter a encarou, aturdido.
As palavras dela reduziram-se a um sussurro rouco.
- Nosso corpo está voltando para o lodo primordial do qual viemos.
África do Sul
Os macacos acordaram-no.
Macacos?
A estranheza o chocou, fazendo-o passar bruscamente de uma sonolência grogue para um imediato estado de alerta. Gray apoiou-se nos cotovelos. A memória voltou em seguida, à medida que ele tentava compreender o ambiente.
Ele estava vivo.
Numa cela.
Ele se lembrou do fluxo de gás, do museu do Wewelsburg, da mentira. Havia queimado a Bíblia de Darwin, após afirmar que ela continha um segredo que só seu grupo conhecia. Havia esperado que a cautela superasse a vingança. E era evidente que a havia superado. Ele estava vivo. Mas onde estavam os outros: Monk, Fiona e Ryan?
Gray esquadrinhou sua cela. Ela era prática: um catre, um vaso sanitário e um boxe aberto com chuveiro. Não havia janelas. A porta tinha barras de ferro de 2,5 centímetros de espessura. Abria-se para um corredor iluminado por luzes fluorescentes no teto. Gray levou um instante para inspecionar a si mesmo. Alguém o havia deixado nu, mas roupas limpas tinham sido empilhadas sobre uma cadeira aparafusada ao pé da cama.
Ele jogou o cobertor para o lado e levantou-se. O mundo inclinou-se, mas algumas inspirações e expirações estabilizaram-no. Ele continuava a sentir um pouco de náusea. Seus pulmões pareciam ásperos e pesados: os efeitos secundários do envenenamento.
Gray também notou uma dor profunda na coxa. Ele tocou com os dedos uma contusão do tamanho de um punho na região lateral. Sentiu algumas picadas de agulha com crostas. Também havia um band-aid grudado no dorso de sua mão esquerda. Por causa de alguma infusão intravenosa? Era óbvio que alguém cuidara dele, salvara sua vida.
Ele ouviu a distância outra série de guinchos e gritos estridentes.
Macacos selvagens.
Não era um som vindo de uma jaula.
Parecia mais o mundo selvagem despertando.
Mas que mundo? O ar tinha um cheiro mais seco, quente, com uma fragrância almiscarada. Ele estava em um clima muito mais temperado. Talvez em algum lugar na África. Por quanto tempo estivera inconsciente? Não haviam lhe deixado nenhum relógio de pulso para verificar a hora do dia, muito menos que dia era aquele. Mas ele sentia que não se passara mais de um dia. A barba por fazer engrossando-se em seu queixo contradizia qualquer sono longo.
Ele foi até a porta e estendeu a mão até as roupas empilhadas.
Seu movimento chamou a atenção de alguém.
Bem em frente, no outro lado do corredor, Monk caminhou até a porta com grades na outra cela. Gray sentiu uma onda de alívio ao ver seu parceiro vivo.
- Graças a Deus... - murmurou ele.
- Você está bem?
- Grogue... mas está passando aos poucos.
Monk já estava vestido, usando um macacão igual ao que haviam deixado para Gray. Ele o vestiu.
Monk ergueu o braço esquerdo, exibindo o coto de seu pulso e os implantes de titânio por biocontato que normalmente ligavam a prótese a seu braço.
- Os filhos-da-puta levaram até minha maldita mão.
A falta da prótese de Monk era a menor das preocupações deles. Na verdade, poderia ser-lhes vantajosa. Mas em primeiro lugar as coisas mais importantes...
- Fiona e Ryan?
- Nenhuma pista. Talvez eles estejam em outra cela aqui... ou em algum outro lugar.
Ou mortos, acrescentou Gray em silêncio.
- E agora, chefe? - perguntou Monk.
- Não temos muita escolha. Vamos esperar que nossos captores dêem o primeiro passo. Eles querem a informação que nós temos. Veremos o que é possível ganharmos com esse conhecimento.
Monk acenou com a cabeça. Ele sabia que Gray havia blefado no castelo, mas o plano tinha de ser mantido. Era provável que o conjunto de celas estivesse sendo vigiado.
Para provar isso, uma porta abriu-se com um som metálico alto no fim do corredor. Muitos passos aproximaram-se. Um grupo.
Eles surgiram à vista: uma tropa de guardas com uniformes em verde e preto de camuflagem, liderada pelo homem louro, alto e pálido, o comprador que participara do leilão. Como de hábito, ele estava impecavelmente vestido: calça de sarja preta e camisa de linho estampada, mocassins de couro branco e cardigã branco de caxemira. Parecia estar vestido para uma recepção ao ar livre.
Dez guardas o acompanhavam. Eles se dividiram em dois grupos, cada um em direção a uma das celas. Gray e Monk foram conduzidos para fora, descalços, com os braços presos atrás das costas com tiras de plástico.
O líder parou em frente a eles.
Seus olhos azuis caíram como gelo sobre Gray.
- Bom-dia - disse ele formalmente e com um pouco de afetação, como se fosse sensível às câmeras nos corredores, consciente de que estava sendo observado. - Meu avô deseja ter uma audiência com vocês.
Apesar da civilidade, uma raiva ameaçadora marcava cada palavra, uma promessa de dor não expressada. Haviam proibido o homem de matar Gray antes, e ele agora simplesmente aguardava o momento propício. No entanto, qual era a verdadeira causa de sua fúria? A morte de seu irmão... ou o fato de Gray ter sido mais esperto do que ele no castelo? De qualquer modo, por trás de toda a aparência e dos modos refinados ocultava-se algo brutal.
- Por aqui - ele disse e virou-se.
Ele voltou a conduzir o grupo pelo corredor, levando Gray e Monk a reboque. À medida que avançavam, Gray examinou as celas em cada lado. Vazias. Nenhum sinal de Fiona ou de Ryan. Será que eles ainda estavam vivos?
O corredor terminava em três degraus que levavam a uma porta de aço maciço.
Ela estava aberta, sob guarda.
Gray saiu da masmorra estéril e entrou num país das maravilhas escuro e verdejante. O dossel de uma selva erguia-se alto por todos os lados, e dele pendiam trepadeiras espinhentas e orquídeas em flor. A densa folhagem ocultava o céu. Gray, no entanto, sabia que devia ser bem cedo, antes do nascer do sol. Adiante, lampiões pretos de ferro da era vitoriana marcavam os caminhos, que levariam a uma selva fantástica. Pássaros gorjeavam e gritavam. Insetos zumbiam. Mais distante no dossel, um único macaco escondido os anunciou com um grito em staccato, semelhante a um tossido. Sua gritaria despertou um pássaro com penas laranja-avermelhadas, fazendo-o voar por entre os galhos mais baixos.
- África - disse Monk num sussurro. - Subsaariana pelo menos, talvez equatorial.
Gray concordou. Ele calculou que devia ser a manhã do dia seguinte. Ele havia perdido de dezoito a vinte horas, e isso poderia situá-los em qualquer lugar na África. Mas onde?
Os guardas os escoltaram ao longo de um caminho coberto de pedras e cascalhos. Gray ouviu o passo suave e cadenciado de algo grande que avançava pela vegetação rasteira a alguns metros da trilha. Porém, mesmo tão próximo, sua forma não pôde ser distinguida. A floresta ofereceria muita proteção se tentassem fugir.
Eles, porém, não tiveram essa chance. O caminho terminou após cerca de quarenta e cinco metros apenas. Mais alguns passos e a selva desapareceu em torno deles.
A floresta abriu-se num extenso gramado cuidadosamente aparado e iluminado por lampiões, um jardim de águas dançantes e chafarizes que jorravam. Água escorria de pequenos lagos e riachos. Cascatas borbulhavam. Um antílope de chifres compridos ergueu a cabeça quando eles apareceram, ficou parado por um instante e então fugiu, saltitando rumo à proteção da floresta.
O céu, claro acima, cintilava de estrelas, mas no leste um brilho róseo pálido anunciava a chegada da manhã, talvez dentro de uma hora.
Ali perto, outra visão atraiu os olhos de Gray e prendeu completamente sua atenção.
No outro lado dos jardins, erguia-se uma mansão de seis andares de pedra bruta empilhada e madeiras exóticas expostas. Ela o lembrava do hotel Ahwahnee, no Parque Nacional de Yosemite, porém essa mansão era muito maior, de proporções wagnerianas. Um Versalhes na selva. Devia abranger dez acres, erguendo-se em frontões e fileiras, sacadas e balaustradas. À esquerda, projetava-se uma estufa envidraçada, iluminada no interior, brilhando como o sol nascente na escuridão que antecedia a aurora.
A riqueza ali era desconcertante.
Eles seguiram para a mansão por um caminho de pedra que dividia o jardim rodeado d’água e formava um arco sobre alguns dos lagos e riachos. Uma serpente de dois metros de comprimento deslizava por uma das pontes de pedra. Ela só pôde ser identificada quando se ergueu e inflou o capuz.
Naja.
A serpente guardou a ponte até o homem de cabelos branco-alourados arrancar um longo caniço do leito de um riacho e enxotá-la como se fosse um gato teimoso. A serpente sibilou, com as presas à mostra, mas recuou, saiu se requebrando das lajes de pedra e deslizou para as águas escuras.
Eles continuaram, imperturbados. O pescoço de Gray esticou-se devagar quando eles se aproximaram da mansão.
Ele descobriu outra excentricidade na construção. Estendendo-se a partir dos pavimentos superiores, havia caminhos da altura da floresta - pontes suspensas de ripas de madeira - que permitiam aos hóspedes da família sair desses pavimentos e entrar diretamente no dossel da selva. Nesses caminhos também havia fileiras de lâmpadas que formavam uma constelação ao longo da selva escura. Gray descreveu um círculo enquanto andava. Elas brilhavam por toda a parte.
- É bom ficarmos atentos - murmurou Monk, acenando com a cabeça para a esquerda.
Na trilha do dossel, um guarda surgiu lentamente, delineado contra um dos lampiões, o rifle no ombro. Gray olhou de esguelha para Monk. Onde havia um devia haver mais. Um exército inteiro poderia estar escondido no dossel. A fuga parecia cada vez menos provável.
Chegaram afinal a uma escada que conduzia a uma varanda larga de pau-zebra envernizado. Uma mulher aguardava, gêmea do homem que os escoltava e vestida com igual elegância. O homem avançou e beijou ambas as faces dela.
Ele falou com a mulher em holandês. Embora não fosse fluente no idioma, Gray o conhecia o suficiente para captar a essência.
- Os outros estão preparados, Ischke? - perguntou ele.
- Só estamos esperando a ordem do grootvader. - Ela acenou para a estufa iluminada no outro lado da varanda. - Então a caça poderá começar.
Gray esforçou-se para ter uma pista da intenção daquelas pessoas, mas estava às cegas.
Com um profundo suspiro, o homem louro voltou-se para eles, empurrando com os dedos um cacho de cabelo solto de volta para o lugar.
- Meu avô vai vê-los no solário - disse o guia, mordendo cada palavra e seguindo pela varanda em direção à estufa. - Vocês vão falar com ele de maneira civilizada e com respeito, ou eu mesmo os farei sofrer por cada palavra desrespeitosa.
- Isaak... - gritou-lhe a moça.
Ele parou e virou-se.
- Ja, Ischke?
Ela falou em holandês de novo.
- Dejongen en het meisje? Deveríamos trazê-los para fora agora?
A resposta foi um aceno de cabeça, acompanhado de uma última ordem em holandês.
Enquanto traduzia este último trecho, Gray teve de fazer um esforço violento para sair do lugar. Ele olhou de relance sobre um dos ombros para a mulher.
De jongen en het meisje.
O rapaz e a moça.
Eles tinham de ser Ryan e Fiona.
Os dois ainda estavam vivos. Gray teve um pouco de consolo com a revelação... mas as últimas palavras de Isaak o fizeram gelar de medo.
Faça-os sangrar primeiro.
Sobrevoando a África
Painter estava sentado com uma caneta na mão. O único barulho no avião era o ronco ocasional de Gunther. O homem parecia esquecido do perigo ao encontro do qual estavam voando. Mas, por outro lado, Gunther não tinha as mesmas restrições de tempo que Anna e Painter. Embora todos os três estivessem seguindo para o mesmo lugar - a involução -, Anna e Painter estavam na via expressa.
Incapaz de dormir, Painter usara o tempo para rever a história do clã Waalenberg e obter o máximo possível de informações secretas sobre a família.
Conhecer o inimigo.
Os Waalenberg haviam chegado à África em 1617, passando por Argel. Eles orgulhosamente remontavam a história da família aos infames piratas da Barbaria, situada ao longo do litoral do norte da África. O primeiro Waalenberg foi contramestre do célebre pirata Sleyman Reis De Veenboer, que comandava toda uma frota holandesa de corsários e galés fora dos limites de Argel.
Por fim, ricos com o lucro do tráfico de escravos, os Waalenberg foram para o sul e estabeleceram-se na grande colônia holandesa no cabo da Boa Esperança. Mas suas ações de pirataria não terminaram aí - elas simplesmente continuaram em terra firme. Eles conseguiram exercer forte influência sobre a população de imigrantes holandeses, de modo que, quando se descobriu ouro nas terras que estes colonizaram, foram os Waalenberg que mais lucraram. E o ouro encontrado não era pouco. O Witwatersrand Reef, cadeia de montanhas baixas perto de Johannesburg, era a fonte de 40 por cento de todo o ouro do mundo. Embora não fosse tão ostensivo quanto as famosas minas de diamantes dos De Beer, o ouro do "Reef" ainda era uma das mais valiosas fontes de riqueza da terra.
Foi com essa riqueza que a família criou uma dinastia que superou a Primeira e a Segunda Guerra dos Bôeres e todas as maquinações políticas em que se transformou a África do Sul atual. Eles eram uma das famílias mais ricas do planeta - embora nas últimas gerações os Waalenberg tivessem se tornado cada vez mais reclusos, especialmente sob os auspícios do atual patriarca, sir Baldric Waalenberg. E, à medida que deixavam de aparecer em público, cresciam os boatos sobre a família: atrocidades, perversões, vício em drogas, endogamia. Os Waalenberg, no entanto, ficavam cada vez mais ricos, com participações em diamantes, petróleo,
produtos petroquímicos e farmacêuticos. Foram eles que puseram o multi em multinacional.
Será que essa família estava mesmo por trás dos acontecimentos no Granitschlob?
Eles eram sem dúvida bastante poderosos e tinham amplos recursos. E a tatuagem que Painter havia encontrado na assassina loura tinha clara semelhança com a "cruz" do timbre dos Waalenberg. E, além disso, havia os gêmeos, Isaak e Ischke Waalenberg. Qual era o objetivo deles na Europa?
Tantas perguntas sem resposta.
Painter virou uma página e bateu de leve a caneta no timbre dos Waalenberg. Alguma relação com o símbolo...
Além da história dos Waalenberg, Logan tinha enviado informações sobre o símbolo. Ele remontava aos celtas, outra tribo nórdica. Por representar o Sol, com freqüência o símbolo era encontrado brasonado nos escudos celtas, recebendo o nome de nó protetor.
A mão de Painter parou.
Nó protetor.
Palavras encheram sua cabeça, pronunciadas por Klaus enquanto morria, uma praga que lhes rogara.
Todos vocês vão morrer! Estrangulados quando o nó apertar!
Painter havia pensado que Klaus estivesse se referindo a um laço que aperta. Mas, e se, em vez disso, estivesse se referindo ao símbolo?
Quando o nó apertar...
Painter virou uma folha enviada por fax. Desenhou enquanto olhava fixamente para o timbre dos Waalenberg. Refez o símbolo como se alguém tivesse apertado o nó com mais força, puxando juntas as alças, como ao amarrar um cadarço.
- O que você está fazendo? - Lisa materializou-se junto ao ombro dele. Novamente assustado, ele correu a caneta pelo papel, quase rasgando-o.
- Santo Deus, mulher, por favor, você poderia parar de se aproximar sorrateiramente de mim desse jeito?!
Bocejando, ela se acomodou no braço da poltrona dele, recostou-se ali e bateu de leve em seu ombro.
- Nossa, como você está bem-humorado! - Sua mão permaneceu no ombro dele quando ela se inclinava para mais perto. - Falando sério. O que você estava desenhando?
Painter de repente ficou atento demais ao seio direito dela próximo a seu rosto.
Ele pigarreou e voltou a desenhar.
- Estava apenas brincando com o símbolo que nós encontramos na assassina. Outro dos meus agentes o viu num casal de Sonnenkönige na Europa. Netos gêmeos de sir Baldric Waalenberg. Ele deve ser importante. Talvez uma pista que não percebemos.
- Ou talvez o velho filho-da-puta simplesmente goste de marcar seus descendentes como se fossem gado. Eles certamente os estão criando como tais.
Painter acenou com a cabeça.
- Além disso, tem uma coisa que Klaus disse. Algo a respeito de apertar um nó. Como um segredo não revelado.
Ele terminou o desenho com alguns traços mais cuidadosos, comprimindo-o.
Pôs um ao lado do outro.
O original e o que fora comprimido.
Painter examinou ambos os desenhos e percebeu a implicação.
Lisa deve ter notado a ligeira inspiração dele.
- O quê? - perguntou ela, inclinando-se ainda mais.
Ele apontou a caneta para o segundo desenho.
- Não é de admirar que Klaus tivesse passado para o lado deles. E, talvez, por que os Waalenberg tenham se tornado tão reclusos nas últimas gerações.
- Eu não consigo entender.
- Neste caso, nós não estamos lidando com um novo inimigo, e sim com o mesmo inimigo.
Painter sombreou o centro do nó protetor comprimido, revelando o que ele ocultava em seu âmago.
- Uma suástica. - Lisa ficou boquiaberta.
Painter olhou de relance para o gigante adormecido e para sua irmã. Ele suspirou.
- Mais nazistas.
África do Sul
A estufa de vidro devia ser tão antiga quanto a casa original. Suas janelas envidraçadas tinham caixilhos de chumbo e eram torcidas, como que fundidas sob o sol da África, e encaixadas numa moldura de ferro preto que fazia Gray lembrar-se de uma teia de aranha. A condensação na parte interna do vidro turvava a visão da selva escura lá fora.
Assim que entrou, Gray ficou impressionado com a umidade, que na câmara devia ser de quase 100 por cento. Seu macacão de algodão fino cedeu contra seu corpo.
O solário, porém, não se destinava a seu conforto. Ele abrigava uma profusão de plantas verdes silvestres, em vasos e prateleiras, subindo em camadas, pendendo de cestos presos a correntes pretas. O ar era perfumado por centenas de flores. Uma pequena fonte de bambu e pedra ressoava calmamente no centro da estufa. Era um belo jardim, mas Gray se perguntou quem precisava de uma estufa quando já vivia na África.
A resposta veio em seguida.
Um senhor de cabelos brancos estava em pé na segunda prateleira com uma tesourinha de poda em uma das mãos e uma pinça na outra. Com a habilidade de um cirurgião, inclinou-se sobre um bonsai - uma ameixeira em flor -, cortou um pequeno ramo e endireitou-se com um suspiro de satisfação.
A árvore parecia antiga, retorcida, e era presa a um lio de cobre. Estava repleta de flores, todas perfeitamente simétricas, equilibradas de maneira harmoniosa.
- Ela tem 222 anos - disse o velho, admirando sua obra. Sua voz era gutural, o avô de Heidi de colete. - Já era velha quando o imperador Hirohito em pessoa me presenteou com ela, em 1941.
Ele pôs suas ferramentas de lado e virou-se. Usava um avental branco por cima de um terno azul-marinho e uma gravata vermelha. Estendeu uma das mãos para o neto.
- Isaak, te’vreden...
O rapaz correu para a frente e ajudou o ancião a descer da segunda prateleira. Em troca, recebeu um tapinha paternal no ombro. O velho tirou o avental, pegou uma bengala preta e apoiou-se pesadamente sobre ela. Gray notou o timbre proeminente sobre a coroa de prata da bengala. Um W maiúsculo filigranado encimava o familiar símbolo em forma de trevo-de-quatro-folhas, o mesmo ícone tatuado nos gêmeos, Ischke e Isaak.
- Eu sou sir Baldric Waalenberg - disse o patriarca suavemente, olhando para Gray e Monk. - Tenham a bondade de me acompanhar até o salão, nós temos muito o que conversar.
Virando-se, ele seguiu em direção aos fundos do solário, batendo de leve no chão com a bengala.
O velho devia ter cerca de 90 anos, mas, além da necessidade de uma bengala, demonstrava pouca debilidade. Tinha ainda uma densa cabeleira grisalha, dividida ao meio, e usava um corte um pouco jovial na altura dos ombros. Um par de óculos estava pendurado num cordão de prata em volta de seu pescoço, e uma de suas lentes estava equipada com o que parecia uma lupa de joalheiro.
Enquanto cruzavam o piso de ardósia, Gray observou que a flora da estufa consistia em seções organizadas: bonsais, um jardim de samambaias e, por fim, uma seção repleta de orquídeas.
O patriarca notou sua atenção.
- Eu tenho cultivado Phalaenopsis nas últimas seis décadas.
Ele parou junto a um pedúnculo alto com flores roxo-escuras, a cor de uma contusão madura.
- Bonitas - disse Monk, mas seu sarcasmo era óbvio.
Isaak olhou para Monk.
O velho parecia distraído.
- Mas a orquídea negra ainda me escapa. O Santo Graal do cultivo de orquídeas. Eu cheguei tão perto. Sob aumento, porém, percebe-se a presença de estrias ou de mais púrpura do que deveria haver num ébano maciço.
Distraidamente, ele tocou com os dedos a lupa de joalheiro.
Gray agora entendia a diferença entre a selva lá fora e a estufa. A natureza ali não era apreciada. Era para ser dominada. Sob a cúpula da estufa, a natureza estava podada, estrangulada e cultivada, seu crescimento era impedido com um bonsai atado a um fio de cobre, sua polinização era feita à mão.
Nos fundos do solário, eles passaram por uma porta com um vitral e chegaram a uma área com cadeiras de palhinha e mogno, um pequeno salão que se abria ao lado da casa principal. Na outra extremidade, uma porta dupla de vaivém, revestida com lâminas de isolamento, conduzia ao interior da mansão.
Baldric Waalenberg instalou-se em uma poltrona que parecia um trono.
Isaak foi até uma escrivaninha, equipada com um computador e um monitor LCD num suporte de parede. Ao lado havia um quadro-negro.
Em sua superfície uma linha de símbolos estava escrita a giz com destaque. Gray viu que todos eram runas, observando que a última era a runa Mensch da Bíblia de Darwin.
Gray os contou e memorizou discretamente. Cinco símbolos. Cinco livros. Ali estava o conjunto completo das runas de Hugo Hirszfeld. Mas o que elas significavam? Que segredo era lindo demais para deixar morrer e monstruoso demais para ser revelado?
O velho cruzou as mãos no colo e fez um aceno de cabeça para Isaak.
Ele pressionou uma tecla, e uma imagem de alta definição preencheu o monitor.
Uma jaula alta estava suspensa sobre o chão da selva. Era dividida em duas partes, e em cada lado havia uma pequena figura encolhida.
Gray deu um passo à frente, mas um guarda o impediu com a ponta de um rifle. Na tela, uma das figuras ergueu o olhar, o rosto brilhante, iluminado por um refletor suspenso.
Fiona.
E na outra metade da jaula estava Ryan.
A mão esquerda de Fiona estava enfaixada, enrolada na bainha de sua blusa. O tecido exibia uma mancha escura. Ryan mantinha a mão direita enfiada na axila, exercendo pressão. Faça-os sangrar primeiro. A cadela devia ter cortado a mão deles. Gray rezou para que aquilo fosse tudo. Uma terrível fúria deixou uma sensação de vazio em seu peito. Sua visão aguçou-se à medida que seu coração martelava.
- Agora nós vamos conversar, ja? - disse o velho com um sorriso caloroso. - Como cavalheiros.
Gray olhou para ele, mas o velho mantinha um olho na tela. Nada mais precisava ser dito sobre civilidade.
- O que o senhor deseja saber? - perguntou friamente.
- A Bíblia. O que mais você encontrou em suas páginas.
- E o senhor os libertará?
- E eu quero a minha maldita mão de volta! - Monk falou sem pensar.
Gray olhou para Monk e em seguida para o velho.
Baldric acenou com a cabeça para Isaak, que por sua vez gesticulou com a mão para um dos guardas e gritou uma ordem em holandês. O guarda deu meia-volta e passou pela porta de vaivém, entrando na mansão.
- Não há necessidade alguma de mais grosserias. Se vocês cooperarem, têm a minha palavra de que todos ficarão bem.
Gray não viu nenhuma vantagem em resistir, sobretudo porque ele não tinha nada de valor a não ser mentiras. Moveu-se para o lado e exibiu seus pulsos atados.
- Eu terei de mostrar ao senhor o que nós descobrimos. Eu não posso descrevê-lo com precisão. Trata-se de outro símbolo, como esses aí.
Outro aceno de cabeça, e num instante Gray estava livre. Ele esfregou os pulsos e aproximou-se do quadro-negro. Vários rifles estavam mortalmente apontados para ele.
Ele tinha de desenhar algo convincente, mas não estava muito familiarizado com as runas. Gray lembrou-se do bule de chá de Himmler, o que ele tinha visto no museu. Um símbolo rúnico decorava a cerâmica. Ele deveria ser bastante enigmático, bastante convincente. E, ao atrapalhar o plano daquelas pessoas, ele também poderia fazer com que elas demorassem a solucionar o enigma.
Ele pegou um bastão de giz e desenhou o símbolo que vira no bule.
Baldric inclinou-se para a frente, os olhos estreitados.
- Uma roda solar, interessante.
Gray estava em pé ao lado do quadro-negro, com o giz na mão, como um aluno esperando o veredicto do professor sobre um problema de matemática.
- E isso é tudo o que você encontrou na Bíblia de Darwin? - perguntou Baldric.
Do canto do olho, Gray observou um sorriso leve e presunçoso no rosto de Isaak.
Algo estava errado.
Baldric aguardou a resposta de Gray.
- Solte-os primeiro - exigiu Gray, acenando com a cabeça para o monitor.
O velho e Gray olharam fixamente um para o outro. Apesar da atitude dissimulada dele, Gray reconheceu uma inteligência extrema e o indício de uma crueldade implacável. O velho apreciava imensamente tudo aquilo.
Mas, afinal, Baldric acabou com o impasse, olhando de relance para o neto e fazendo outro aceno de cabeça.
- Wie eerst? - perguntou Isaak. Quem primeiro?
Gray ficou tenso. Sem dúvida havia algo errado.
Baldric respondeu em inglês, os olhos fixos em Gray, querendo apreciar por completo o entretenimento.
- O rapaz, creio. Vamos deixar a garota para mais tarde.
Isaak pressionou um comando no teclado.
Na tela, o fundo do alçapão abriu-se embaixo de Ryan. Ele gritou em silêncio, debatendo-se enquanto caía. Caiu pesadamente no capim alto embaixo e levantou-se rápido, olhando ao redor, aterrorizado. O rapaz claramente tinha noção de um perigo que Gray não enxergava, talvez atraído pelo sangue gotejante deles.
As palavras ditas antes por Ischke voltaram a soar na cabeça de Gray.
- Só estamos esperando a ordem do grootvader... Então a caça poderá começar.
Que caça?
Baldric fez um sinal para Isaak, como se estivesse girando um botão. Isaak pressionou uma tecla, e o som ergueu-se dos alto-falantes. Gritos estridentes ecoaram.
A voz de Fiona soou clara.
- Corra, Ryan! Suba numa árvore!
O rapaz moveu-se mais uma vez num círculo, depois correu, mancando, desaparecendo da tela. Pior ainda, Gray ouviu gargalhadas. De guardas fora do alcance da câmera.
Em seguida, um novo grito projetou-se dos alto-falantes.
Feroz e com uma enorme sede de sangue.
O grito deixou os pêlos do corpo inteiro de Gray arrepiados.
Baldric fez o movimento como o de um corte de um lado ao outro do pescoço, e o áudio foi desligado.
- Não são apenas orquídeas que nós reproduzimos aqui, comandante Pierce - disse Baldric, deixando de lado toda a falsa aparência de civilidade.
- O senhor nos deu sua palavra - disse Gray.
- Se vocês cooperassem! - Baldric levantou-se calmamente. Ele moveu um braço com desdém para o quadro-negro. - Você acha que nós somos tolos? O tempo todo sabíamos que não havia mais nada na Bíblia de Darwin. Nós já temos o que precisamos. Tudo isso foi um teste, uma demonstração. Trouxemos vocês para cá por outros motivos. Por causa de outras perguntas que precisam de respostas.
O que Gray estava ouvindo causou-lhe um choque, a percepção começando a se manifestar.
- O gás...
- Destinava-se apenas a incapacitar, não a matar. No entanto, sua simulação foi divertida, devo admitir. Agora é hora de seguirmos em frente.
Baldric aproximou-se da tela no suporte de parede.
- Você protege esta pequena, não é mesmo? Esta menina ardilosa e irascível. Zeer goed. Eu vou lhe mostrar o que espera por ela na floresta.
Um aceno de cabeça, a pressão de uma tecla, e outra imagem preencheu uma janela lateral no monitor.
Os olhos de Gray arregalaram-se de horror.
- Nós desejamos saber mais a respeito de certo cúmplice seu. Mas eu queria ter certeza de que agora os ardis terminaram, ja? Ou você precisa de outra demonstração? - Baldric falou.
Gray continuou a olhar fixamente para a imagem na tela, derrotado.
- Sobre quem? Sobre quem o senhor quer saber?
Baldric aproximou-se ainda mais.
- Sobre seu chefe, Painter Crowe.
Richards Bay, África do Sul
Lisa observou as pernas de Painter tremerem enquanto eles subiam a escada do escritório local da British Telecom International. Eles tinham ido até ali a fim de encontrar um agente britânico que lhes daria apoio logístico em terra para qualquer investida à propriedade Waalenberg. A empresa ficava a uma curta distância de táxi do aeroporto de Richards Bay, um importante porto no litoral sul da África do Sul. A propriedade Waalenberg ficava a apenas uma hora de carro dali.
Painter segurou no corrimão, deixando nele a marca úmida de sua mão. Ela segurou o cotovelo dele e o ajudou a subir o último degrau.
- Eu não preciso de ajuda - disse ele um tanto áspero.
Ela não reagiu à raiva dele, por saber que era conseqüência de uma ansiedade internalizada. Ele também sentia muita dor. Vinha tomando codeína como se estivesse comendo M&M’s. Ele mancou em direção à porta da empresa de telecomunicações.
Lisa tivera a esperança de que o repouso no avião o ajudasse a recobrar um pouco as forças, mas o que se podia dizer era que a metade do dia passada no ar havia apenas contribuído para o avanço de sua debilidade... para sua involução, caso se acreditasse em Anna.
A alemã e Gunther permaneceram no aeroporto, sob guarda. Não que fosse necessária qualquer sentinela. Anna passara a última hora da viagem vomitando no banheiro do jato. Quando saíram, Gunther segurava Anna no sofá, e uma toalhinha úmida estava sobre a testa dela. O olho esquerdo dela havia ficado injetado e parecia dolorosamente contundido. Lisa tinha dado a ela um antiemético para as náuseas e uma injeção de morfina.
Embora Lisa não tivesse expressado isso em voz alta, achava que, na melhor das hipóteses, Anna e Painter deviam ter tido outro dia de descanso antes de irem longe demais em busca de qualquer esperança de tratamento.
O major Brooks, sua única escolta, abriu a porta em frente para eles. Seus olhos, sempre vigilantes, esquadrinharam as ruas lá embaixo, mas havia poucas pessoas nas ruas tão cedo.
Painter passou pela porta com as pernas rígidas, lutando para ocultar sua dificuldade em andar.
Lisa o seguiu. Em poucos minutos, eles foram conduzidos pela área da recepção, ao longo de um grande labirinto cinzento de cubículos e escritórios, e entraram em uma sala de reuniões.
A sala estava vazia. Sua parede envidraçada nos fundos dava para a lagoa de Richards Bay. Ao norte, estendia-se um porto industrial com guindastes e navios-cargueiros. Ao sul, dividida por um quebra-mar, espalhava-se parte da lagoa original, agora uma área de preservação ambiental e parque que abrigava crocodilos, tubarões, hipopótamos, pelicanos, biguás e os sempre presentes flamingos.
O sol nascente transformava as águas abaixo num espelho cor de fogo.
Enquanto esperavam, foram trazidos para a sala e espalhados sobre a mesa chá e bolinhos. Painter já havia se sentado em uma cadeira. Lisa juntou-se a ele. O major Brooks permaneceu em pé, próximo à porta.
Apesar de ela não ter perguntado, Painter interpretou algum pensamento na expressão dela.
- Eu estou bem.
- Não está, não - ela contrapôs suavemente.
Por algum motivo, a sala vazia a intimidava.
Ele sorriu para ela com os olhos faiscantes. A despeito de sua degeneração externa, o homem continuava perspicaz. Ela havia notado algumas palavras mal articuladas, mas poderia ser apenas conseqüência das drogas. A razão seria a última habilidade que ele perderia?
Por debaixo da mesa, ela estendeu a mão para a dele, um gesto ponderado.
Ele a segurou.
Ela não queria que ele se fosse. A intensidade da emoção dela a dominava, surpreendia. Ela mal começara a conhecê-lo. Queria conhecê-lo mais. A comida predileta dele, o que o fazia dar sonoras risadas, como ele dançava, o que sussurrava quando dizia boa-noite. Ela não queria que tudo isso desaparecesse.
Os dedos dela apertaram a mão dele, como se a vontade dela por si só pudesse mantê-lo aqui.
Naquele momento, a porta da sala tornou a ser aberta. O agente britânico finalmente chegara.
Lisa virou-se, surpresa de ver quem estava entrando. Ela estivera imaginando algum clone de James Bond, um espião alinhado num terno Armani. Em vez disso, uma mulher de meia-idade, usando um conjunto de safari caqui amarrotado, entrou na sala. Ela carregava um chapéu amassado em uma das mãos. Seu rosto estava suavemente coberto de poeira vermelha, exceto ao redor dos olhos, provavelmente protegidos por óculos escuros. Isso lhe dava uma aparência assustada, apesar da postura cansada dos ombros e de certa tristeza nos olhos.
- Eu sou a dra. Paula Kane - disse ela, fazendo um aceno de cabeça para o major Brooks ao entrar, e em seguida vindo ao encontro deles. - Não temos muito tempo para nos estruturarmos.
Painter levantou-se, debruçando-se sobre a mesa. Uma sucessão de fotografias tiradas por satélite estava espalhada na mesa.
- Há quanto tempo estas fotos foram tiradas? - indagou ele.
- No crepúsculo da noite passada - respondeu Paula Kane.
A mulher já havia explicado seu papel ali. Depois de se formar Ph.D. em biologia, ela fora recrutada pelo serviço de inteligência britânico e designada para um posto na África do Sul. Ela e uma colega desenvolviam uma série de projetos de pesquisa enquanto secretamente monitoravam e observavam a propriedade Waalenberg. Elas vinham espionando a família por quase dez anos, até a tragédia ocorrida menos de dois dias atrás. Sua colega fora morta sob estranhas circunstâncias. Ataque de leões era a explicação oficial. A mulher, no entanto, pareceu pouco convencida quando deu essa explicação.
- Fizemos uma varredura com raios infravermelhos após meia-noite - prosseguiu Paula -, mas houve uma falha e perdemos a imagem.
Painter olhava fixamente para o esquema da imensa propriedade, com mais de 100 mil acres. Era possível distinguir uma pequena pista de aterrissagem, aberta numa clareira na selva. Anexos espalhavam-se por uma paisagem de regiões montanhosas cheias de florestas, vastas savanas cobertas de relva e selva densa. No centro da parte mais cerrada da floresta, erguia-se um castelo de pedra e madeira: a residência principal dos Waalenberg.
- E nós podemos obter uma visão melhor da topografia ao redor da mansão?
Paula Kane sacudiu a cabeça.
- A selva nessa área é floresta Afromontane, floresta antiga. Restam apenas algumas na África do Sul. Os Waalenberg escolheram esse local para sua propriedade tanto por ele ser remoto quanto para adquirirem o controle dessa floresta gigantesca. Ela é formada por árvores de 40 metros de altura que se estendem em camadas e dosséis distintos. A biodiversidade no interior dela é mais rica do que em qualquer floresta tropical ou selva do Congo.
- E ela oferece um isolamento perfeito - disse Painter.
- Só os Waalenberg sabem o que acontece sob aquele dossel. Mas nós sabemos que o projeto da mansão é apenas a ponta de um iceberg. Embaixo da propriedade existe um vasto complexo subterrâneo.
- Qual a profundidade? - perguntou Painter, olhando para Lisa.
Se eles estivessem fazendo experimentos com o Sino ali, iam querer escondê-lo.
- Não sabemos. Não com certeza. Mas os Waalenberg fizeram sua fortuna com a extração de ouro.
- No Witwatersrand Reef.
Paula ergueu os olhos para ele.
- Correto. Vejo que o senhor andou fazendo seu dever de casa. - Ela voltou a atenção novamente para as fotos tiradas por satélite. - A mesma técnica de engenharia de mineração foi usada para construir um complexo subterrâneo embaixo da mansão deles. Nós sabemos que o engenheiro de minas Bertrand Culbert foi consultado para a construção dos alicerces da mansão, mas ele morreu pouco depois.
- Me deixe adivinhar. Sob circunstâncias misteriosas.
- Esmagado por um búfalo. Mas a morte dele não foi a primeira nem a última associada aos Waalenberg. - Os olhos dela cintilaram de dor, obviamente devido à lembrança de sua parceira. - São abundantes os boatos de pessoas que desaparecem na área.
- E, no entanto, ninguém cumpriu um mandado de busca na propriedade.
O senhor tem de entender a volatilidade da política sul-africana. Os governos podem mudar, mas o ouro sempre mandou aqui. Os Waalenberg são intocáveis. O ouro os protege melhor do que qualquer barricada formada por um exército pessoal.
E quanto à senhora? - perguntou Painter. - Qual é o interesse do MI5 aqui?
Na verdade, nosso interesse começou há muito tempo. O serviço de inteligência britânico está de olho nos Waalenberg desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Cansado, Painter voltou a sentar-se em sua cadeira. Um de seus olhos estava com dificuldade de focar. Ele o esfregou. Cônscio demais de que Lisa o observava, voltou a atenção para Paula. Ele não havia mencionado sua descoberta do símbolo nazista oculto no centro do timbre dos Waalenberg, mas o MI5 já devia saber da relação.
- Nós sabíamos que os Waalenberg eram os principais financiadores da Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft, a Sociedade de Pesquisa e Ensino da Herança Ancestral dos nazistas. O senhor conhece esse grupo?
Ele sacudiu a cabeça, provocando um espasmo. Suas dores de cabeça recentemente haviam se disseminado para o pescoço, provocando dor ao longo da coluna vertebral. Ele resistiu ao sofrimento, os dentes cerrados.
- A Sociedade da Herança Ancestral era um grupo de pesquisa dirigido por Heinrich Himmler. Eles conduziam projetos com o objetivo de descobrir as origens da raça ariana. Também foram responsáveis por algumas das atrocidades mais hediondas cometidas nos campos de concentração e em outras instalações secretas. Basicamente, eram cientistas loucos com armas.
Painter recuou com um estremecimento - desta vez, porém, era mais psíquico do que físico. Ele tinha ouvido a Sigma ser descrita em termos semelhantes: cientistas com armas. Era esse o verdadeiro inimigo deles ali? Uma versão nazista da Sigma?
Lisa agitou-se.
Qual era o interesse dos Waalenberg nessa linha de pesquisa?
Não temos certeza absoluta. Mas havia muitos simpatizantes do nazismo na África do Sul durante a guerra. Sabemos que o atual patriarca, sir Baldric Waalenberg, também tinha interesse pela eugenia e que havia participado de conferências científicas na Alemanha e na Áustria antes do início do conflito. Mas, depois da guerra, ele passou a viver em reclusão, levando a família inteira consigo.
Recuperando-se do fracasso? - perguntou Painter.
- Nós acreditamos que não. Depois da guerra, as forças aliadas esquadrinharam a zona rural da Alemanha, à procura de tecnologia nazista secreta. - Paula deu de ombros. - Incluindo as forças britânicas.
Painter acenou com a cabeça. Ele já fora informado por Anna daquela pilhagem.
- Mas os nazistas souberam escamotear muito bem grande parte da sua tecnologia, empregando a política da terra arrasada.
Executaram cientistas, bombardearam instalações de pesquisa. Nossas forças chegaram a um desses locais na Baviera com alguns minutos de atraso. Nós descobrimos um cientista ainda vivo, numa vala, baleado na cabeça. Antes de morrer, ele revelou algumas pistas do que estivera sendo desenvolvido. Pesquisa de uma nova fonte de energia, descoberta por meio da experimentação quântica. Eles tinham feito algumas descobertas. Uma delas era uma fonte de combustível com poder extraordinário.
Painter e Lisa entreolharam-se, lembrando-se da discussão de Anna sobre a energia do ponto zero.
- Seja lá o que foi descoberto, o segredo saiu clandestinamente do país, escapou por intermédio de canais secretos organizados pelos nazistas. Pouco se sabe além do nome da substância e de onde o rastro terminava.
- Na propriedade Waalenberg? - supôs Lisa.
Paula fez um aceno de cabeça.
- E o nome da substância? - perguntou Painter, embora já soubesse a resposta, juntando as peças em sua cabeça. - Era Xerum 525?
Paula olhou bruscamente para ele e endireitou-se, franzindo a testa.
Como você sabia?
A fonte de combustível do Sino - Lisa murmurou para ele.
Para Painter, porém, aquilo tudo fazia sentido. Era hora de abrir o jogo com a dra. Paula Kane. Ele se levantou.
- Há alguém que a senhora precisa conhecer.
A reação de Anna não foi menos intensa.
- Então o segredo da produção de Xerum 525 não foi destruído? Unglaublich!
Todos eles estavam reunidos no aeroporto de Richards Bay, escondidos num hangar enquanto dois caminhões Isuzu Trooper estavam sendo carregados com armas e equipamentos.
Lisa verificava o conteúdo de um kit médico enquanto prestava atenção à conversa entre Painter, Anna e Paula. Gunther estava em pé ao lado de Lisa. A testa dele exibia profundas rugas de preocupação enquanto observava a irmã. Anna parecia mais firme depois do medicamento que Lisa lhe dera.
Mas por quanto tempo?
Enquanto o Sino era levado para o norte pelo seu avô - Painter explicou a Anna -, os segredos do Xerum 525 devem ter sido enviados de navio para o sul, dividindo duas partes de um experimento. Em algum momento, os Waalenberg devem ter sido informados da conservação do Sino. Baldric Waalenberg, como o financiador da Sociedade da Herança Ancestral, deve ter tomado conhecimento da existência do Granitschloß.
Foi essa sociedade que financiou as expedições de Himmler ao Himalaia - Paula concordou.
E, uma vez descoberta a existência do Granitschloß, foi fácil para Baldric infiltrar espiões nele.
O rosto de Anna tinha ficado mais pálido, e não por causa da doença.
- O filho-da-puta nos usou! O tempo todo!
Painter acenou com a cabeça. Ele já havia explicado a essência daquilo a Lisa e Paula na viagem de volta ao hangar. Baldric Waalenberg vinha orquestrando tudo, mexendo os pauzinhos de longe. Como não era homem de desperdiçar talento nem de reinventar a roda, ele havia permitido aos cientistas do Granitschloß, especialistas no Sino, continuar sua pesquisa, enquanto o tempo todo seus espiões transferiam aos poucos as informações para a África.
- Depois, Baldric deve ter construído o próprio Sino - disse Painter -, fazendo experiências em segredo, produzindo os próprios Sonnenkönige, aprimorando-os com as técnicas avançadas descobertas pelos cientistas da equipe de Anna. O plano era perfeito. Sem outra fonte de Xerum 525, o Granitschloß era vulnerável e estava involuntariamente sob a influência de Baldric Waalenberg. A qualquer momento, ele poderia puxar o tapete deles.
- E foi o que ele fez - disse Anna com veemência.
- Mas por quê - indagou Paula -, se essa maquinação secreta estava funcionando tão bem?
Painter deu de ombros.
- Talvez porque o grupo de Anna estivesse se afastando cada vez mais do ideal nazista de supremacia ariana.
Anna pressionou a testa com a palma de uma das mãos, como se isso fosse protegê-la do que ela sabia.
E houve boatos... entre alguns dos cientistas... de seguirmos a corrente dominante, de nos juntarmos à comunidade científica e partilharmos nossa pesquisa.
Mas eu não acho que seja apenas isso - disse Painter. - Tem mais alguma coisa em ação. Alguma coisa mais importante. Alguma coisa que de repente tornou o Granitschlob obsoleto.
Eu creio que o senhor esteja certo - disse Paula. - Nos últimos quatro meses, houve um repentino aumento de atividade na propriedade. Algo os deixou agitados.
Eles devem ter feito algum progresso por si mesmos - disse Anna com uma expressão preocupada.
Gunther finalmente falou, áspero, com um rangido.
- Genug! - Ele já estava farto e lutava contra o inglês em sua frustração. - O filho-da-puta tem Sino... tem Xerum... nós encontramos ele. Nós usamos ele. - Ele acenou com um braço para a irmã. - Chega de conversa!
Lisa concordou com entusiasmo, em apoio ao gigante.
Nós temos de encontrar um jeito de entrar na propriedade. - E logo, acrescentou para si mesma: - Seria necessário um exército para invadir o lugar.
Podemos contar com alguma ajuda do governo sul-africano? - Painter virou-se para Paula.
Ela balançou a cabeça.
Não há a menor chance. Os Waalenberg subornaram muita gente. Vamos ter de encontrar uma infiltração mais dissimulada.
As fotos tiradas por satélite não ajudaram muito - disse Painter.
Então vamos usar baixa tecnologia - disse Paula, e os conduziu em direção ao Isuzu Troopers que aguardava. - Já tenho um homem no local.
Khamisi estava deitado de bruços. Embora já tivesse amanhecido, os primeiros raios do sol apenas projetavam sombras profundas no chão da selva. Ele usava uniforme de camuflagem e trazia sua enorme espingarda de cano duplo, uma Nitro Holland & Holland Royai calibre 465, presa às costas pela alça. Na mão, carregava uma lança curta zulu tradicional, uma azagaia.
Atrás dele estavam deitados dois outros batedores zulus: Tau, o neto do ancião que resgatara Khamisi após o ataque, e seu melhor amigo, Njongo. Eles também portavam armas de fogo, junto com lanças curtas e longas. Estavam vestidos com roupas mais típicas, com peles de animais, o corpo lambuzado de tinta e faixas de pele de lontra na cabeça.
Os três haviam passado a noite mapeando a floresta nas proximidades da mansão, tentando encontrar uma aproximação que evitasse as passarelas e os guardas que as vigiavam. Eles haviam usado trilhas de caça que rasgavam a vegetação rasteira e seguido ao longo delas com um pequeno bando de impalas, mantendo-se ocultos nas sombras. Khamisi havia parado em vários pontos para camuflar cordas como trepadeiras, ligando as passarelas ao chão, junto com algumas outras surpresas.
Dever cumprido, ele e os batedores seguiam para um regato que corria sob a cerca da flora selvagem que rodeava a propriedade.
Mas, pouco antes, tinham ouvido o grito feroz.
UU-iii-ÔÔÔÔ.
Que terminou com um uivo estridente.
Khamisi congelou. Os próprios ossos lembravam-se do grito.
Ukufa.
Paula Kane estava certa. Ela acreditava que as criaturas tinham vindo da propriedade Waalenberg. Se haviam escapado ou sido colocadas ali de propósito para emboscar Khamisi e Marcia, ela não sabia. De qualquer modo, estavam à solta agora, caçando.
Mas quem?
O grito viera de certa distância à esquerda.
Os ukufas não estavam perseguindo-os. As criaturas eram caçadoras muito hábeis. Elas não denunciariam sua presença assim tão rápido. Alguma outra coisa as havia atraído, incitado sua sede de sangue.
Em seguida, ele ouviu uma voz gritar em alemão, um pedido de ajuda soluçado.
Mais perto dali.
Com os ossos ainda vibrando por causa do grito, Khamisi queria correr, fugir depressa para longe. Era uma reação primal.
Tau sussurrou em zulu atrás dele, insistindo na mesma idéia.
Em vez disso, Khamisi virou-se na direção do grito de súplica. Ele havia perdido Marcia para as criaturas. Lembrou-se do próprio terror, a água na altura de seu pescoço na cacimba, a espera do amanhecer. Não podia ignorar essa outra pessoa.
Rolando no chão até Tau, Khamisi passou-lhe os mapas que havia desenhado.
Volte para o acampamento e entregue isto à dra. Kane.
Khamisi... irmão... não, venha conosco.
Os olhos de Tau estavam enormes devido ao próprio medo. Seu avô devia ter-lhe contado histórias do ukufa, os mitos ganhavam vida. Khamisi tinha de reconhecer o mérito do homem e de seu amigo. Ninguém mais havia se oferecido como voluntário para entrar na propriedade. As superstições eram muito fortes.
Mas agora, confrontado com a realidade, Tau não tinha a intenção de ficar.
E Khamisi não podia culpá-lo. Ele se lembrou da experiência que passara com Marcia. Em vez de manter-se firme, ele havia fugido, corrido, permitindo que a doutora fosse morta.
- Vão - ordenou Khamisi e acenou para a distante cerca. Os mapas tinham de sair dali.
Tau e Njongo hesitaram por um instante. Em seguida, Tau acenou com a cabeça, e ambos ergueram-se do chão, ficaram bem agachados e desapareceram na selva. Khamisi não conseguia sequer ouvir o som dos passos deles.
A selva ficara num silêncio terrível, pesado e tão denso quanto a própria floresta. Khamisi partiu na direção dos gritos - tanto os do homem quanto os da criatura.
Depois de um minuto, outro uivo irrompeu na selva como o vôo de pássaros assustados. Terminou numa série de ganidos semelhantes a gargalhadas. Khamisi parou, impressionado por algo familiar naqueles ganidos sinistros.
Antes que pudesse refletir mais, um soluço suave chamou sua atenção.
Viera de algum ponto bem em frente.
Khamisi usou a boca de sua espingarda de cano duplo para afastar algumas folhas. Uma pequena clareira abriu-se adiante na selva, onde uma árvore caíra recentemente, iluminando uma parte do local. O buraco no dossel permitiu que um raio de luz do sol matinal penetrasse até o chão. Ele deixou a selva ao redor ainda mais escura com sombras.
No outro lado da clareira, um movimento chamou sua atenção. Um rapaz - não mais que um menino -, na parte inferior de uma árvore, lutava para alcançar outro galho, para subir mais alto. Ele não conseguia alcançá-lo, pois não podia segurar com a mão direita. Mesmo de onde estava, Khamisi viu o rastro de sangue que descia pela manga encharcada da camisa do rapaz enquanto ele lutava em vão.
Então, de repente, o rapaz caiu de joelhos, abraçando o tronco, tentando esconder-se.
E o motivo para o repentino terror do rapaz surgiu à vista.
Khamisi congelou quando a criatura entrou na clareira, embaixo da árvore. Ela era enorme, disfarçando em meio à floresta seus passos silenciosos. Era maior que um leão adulto, mas não era um leão. Seu pêlo denso era albino, seus olhos eram de um vermelho hiper-refletivo. Seu dorso curvava-se a partir dos ombros altos e atarracados até a parte traseira, mais baixa. Seu pescoço musculoso sustentava uma cabeça grande, com um focinho proeminente e duas orelhas largas em forma de sino, parecidas com as de um morcego. Eles giravam, concentrados na árvore.
Erguendo a cabeça, a criatura fungou para cima, atraída pelo sangue.
Os lábios repuxaram-se, expondo uma mandíbula com dentes que dilaceravam.
Ela uivou outra vez, terminando novamente numa série de gritos de arrepiar os pêlos, parecidos com gargalhadas.
Então começou a subir.
Khamisi sabia o que estava enfrentando.
Ukufa.
Morte.
Mas, por mais monstruosa que fosse sua aparência, Khamisi sabia seu verdadeiro nome.
- Espécie Crocuta crocuta - disse Baldric Waalenberg, aproximando-se do monitor. Ele havia notado o olhar de Gray concentrado na tela, na criatura que encobria a imagem de Fiona na jaula.
Gray examinou a criatura imensa e semelhante a um urso, congelada, encarando a câmera, uivando, a boca escancarada, exibindo gengivas brancas e presas amarelas. Ela guardava os restos macerados de algum antílope.
- Hiena-malhada - prosseguiu o velho. - A espécie é o segundo maior carnívoro da África, capaz de derrubar um gnu sozinha.
Gray franziu a testa. A criatura no monitor não era uma hiena comum. Tinha de três a quatro vezes o tamanho normal. E o pêlo pálido. Alguma combinação de gigantismo com albinismo. Uma monstruosidade que sofrera mutação.
O que o senhor fez com ela? - perguntou, incapaz de ocultar a aversão em sua voz. Ele também queria que o homem continuasse a falar, a fim de ganhar tempo. Trocou um olhar com Monk e depois voltou a atenção para o velho.
Nós fizemos a criatura melhor, mais forte. - Baldric olhou de relance para o neto. Isaak continuava a assistir com desinteresse à brincadeira. - Não fizemos, Isaak?
Ja, grootvader.
Desenhos pré-históricos em cavernas na Europa mostram o grande ancestral da hiena de hoje. A hiena gigante. Encontramos um modo de fazer a Crocuta voltar à sua antiga glória. - Baldric falou com a mesma indiferença científica que demonstrou ao discorrer sobre o cultivo de orquídeas negras. - Até aumentamos a inteligência da espécie ao incorporarmos células-tronco humanas no córtex cerebral dela. Obtivemos resultados fascinantes.
Gray havia lido sobre experimentos parecidos com camundongos. Na Universidade de Stanford, cientistas haviam produzido camundongos cujos cérebros eram um por cento humanos. Que diabo estava acontecendo ali?
Baldric foi até o quadro-negro, no qual estavam desenhados os cinco símbolos rúnicos, e bateu nele de leve com a bengala.
- Temos uma série de supercomputadores Cray XT3 trabalhando no código de Hugo. Uma vez decifrado, ele nos permitirá fazer o mesmo com a humanidade: realizar a próxima evolução do homem. De novo fora da África, o ser humano renascerá de outra forma, pondo um fim às raças impuras e à miscigenação racial; uma pureza suplantará tudo. Isso espera apenas ser revelado do nosso código genético corrompido para ser purificado.
Gray ouviu ecos da filosofia nazista do Übermensch, o mito do super-homem. O velho era louco. Tinha de ser. Porém, Gray notou a lucidez de seu olhar. E na tela estava a prova de algum êxito monstruoso em direção àquele fim.
A atenção de Gray voltou-se para Isaak quando este apertou uma tecla e a hiena que sofrera mutação desapareceu. Ele então compreendeu. O albinismo na hiena. Isaak e sua Irmã gêmea. Os outros assassinos de cabelos branco-alourados. Todos filhos. Baldric não vinha fazendo experiências apenas com orquídeas e hienas.
- Agora vamos voltar ao assunto Painter Crowe - disse o velho. Ele acenou com uma das mãos para a tela. - Agora que você entende o que aguarda a jovem meisje na jaula, caso não responda honestamente às nossas perguntas. Chega de brincadeiras.
Gray observou cuidadosamente a tela, a garota na jaula. Ele não podia deixar nada acontecer com Fiona. Se não pudesse fazer mais nada, ele precisava ganhar tempo para ela. A garota havia sido arrastada para tudo aquilo pela falta de cuidado dele durante as investigações em Copenhague. Ele era responsável por ela. E, mais que isso, gostava da garota, respeitava-a, mesmo nos momentos em que era irritante. Ele sabia o que tinha de fazer.
Olhou para Baldric.
O que o senhor quer saber?
Ao contrário de você, Painter Crowe tem se revelado um adversário superior ao que havíamos esperado. Ele desapareceu depois de escapar da nossa emboscada. Você vai nos ajudar a descobrir para onde ele foi.
Como?
Entrando em contato com o comando da Sigma. Nós temos uma linha com um dispositivo embaralhador, uma linha impossível de ser rastreada. Você vai romper o silêncio na comunicação e descobrir o que a Sigma sabe sobre o projeto Sol Negro e sobre o lugar onde Painter Crowe está escondido. E a qualquer sinal de traição...
Baldric acenou com a cabeça em direção ao monitor.
Gray agora entendia a lição cortante ali. Eles queriam que ele entendesse completamente, sufocando qualquer esperança de trapaça. Salvar Fiona ou trair a Sigma?
A decisão foi momentaneamente adiada quando um dos guardas voltou com outra das exigências de Gray.
- Minha mão! - gritou Monk, vendo que o guarda carregava a prótese. Ele lutou, os cotovelos ainda amarrados atrás das costas.
Baldric acenou para que o guarda avançasse.
- Entregue a prótese ao Isaak.
O laboratório removeu todas as armas ocultas nela? - Isaak falou em holandês.
O homem fez um aceno de cabeça.
Ja, senhor. Foram todas removidas.
Todavia, Isaak inspecionou a mão protética. Era uma maravilha da engenharia da DARPA, incorporando o controle direto dos nervos periféricos através de pontos de contato de titânio no punho. Também fora fabricada com o uso de mecânica avançada e acionadores que permitiam movimentos precisos e alimentação sensorial.
Monk olhou fixamente para Gray.
Gray notou que os dedos esquerdos de Monk tinham acabado de registrar um código nos pontos de contato no coto do punho direito dele. Gray fez um aceno de cabeça, aproximando-se de Monk. Havia outra característica na prótese eletrônica da DARPA.
Ela não tinha fios.
Um sinal transmitido por rádio passou de Monk para sua prótese.
Em resposta, a mão artificial separada do corpo fechou-se na mão de Isaak.
Os dedos formaram um punho.
Exceto o dedo médio, erguido.
- Foda-se - murmurou Monk.
Gray segurou o cotovelo de Monk e o empurrou na direção da porta de vaivém que conduzia ao interior da casa principal.
A explosão não foi grande: não mais que a explosão alta e brilhante de uma granada luminosa. A carga havia sido misturada diretamente na junta de plástico da parte externa da mão, impossível de ser detectada. E, apesar de não ter sido muita, revelou-se uma distração suficiente. Os guardas gritaram de surpresa e dor. Gray e Monk saíram a toda velocidade pela porta de vaivém, fugiram pelo corredor e dobraram no primeiro canto. Fora da visão direta, correram desabaladamente por assoalhos de madeira de lei encerados.
Os alarmes soaram imediatamente, estrepitosos e urgentes.
Eles precisavam de uma rota de fuga o mais rápido possível.
Gray observou uma escada larga que conduzia para cima e guiou Monk até ela.
- Para onde estamos indo? - perguntou Monk.
- Para cima, para cima, para cima... - respondeu Gray enquanto fugiam, subindo dois degraus de cada vez.
A segurança esperava que eles saíssem pela porta ou janela mais próxima, mas Gray conhecia outra saída. Um esquema da mansão revolveu-se em sua cabeça. Ele havia observado a propriedade com bastante atenção enquanto foram escoltados até ali. Gray concentrou-se, confiando em seu senso de direção e posição no espaço.
- Por aqui.
Ele arrastou Monk de um patamar e seguiu com ele por outro corredor. Eles estavam no sexto andar. Os alarmes continuavam a soar.
Para onde...? - Monk começou de novo.
Para um lugar alto - respondeu Gray, e apontou para o fim do corredor, onde havia uma porta. - Para a passarela que dá no dossel da floresta.
Porém, não seria assim tão fácil.
Como se alguém tivesse ouvido por acaso o plano deles, um portão interno de metal começou a baixar sobre a porta de saída. Um bloqueio automatizado.
- Corra! - gritou Gray.
O portão rolava rapidamente, três quartos da porta já estavam fechados.
Gray correu ainda mais depressa, deixando Monk para trás. Ao passar por uma cadeira no corredor, pegou-a e arremessou para a frente. Ela caiu no assoalho de madeira de lei e deslizou pela superfície encerada. Gray precipitou-se atrás dela. A cadeira atingiu a porta externa fechada quando o portão interno de metal bateu com força nela. As engrenagens rangeram. Uma luz vermelha acendeu-se acima da porta. Mau funcionamento. Gray tinha certeza de que alguma lâmpada de aviso já estava piscando na central de segurança principal da mansão.
Quando chegou à porta, as pernas de madeira da cadeira estilhaçaram-se e quebraram-se, esmagadas sob o portão que rangia.
Monk correu, sem fôlego, os braços ainda presos atrás das costas.
Gray mergulhou sob a cadeira e estendeu a mão para a maçaneta na porta de saída. Ele teve de fazer um grande esforço, com o portão bloqueando o caminho.
Seus dedos seguraram a maçaneta e giraram-na.
Trancada.
- Maldição! - praguejou ele.
A cadeira estalou um pouco mais. Atrás deles, o tropel de botas ecoou, subindo depressa a escada. Vozes gritavam ordens. Gray girou o corpo.
- Me dê apoio! - disse ele a Monk.
Ele teria de abrir a outra porta com um chute.
De costas, com as pernas esticadas para cima e prontas, Gray apoiou-se no ombro de Monk para ganhar impulso.
Então a porta de saída simplesmente se abriu diante dele, revelando duas pernas num uniforme de camuflagem. Um dos guardas que vigiavam as passarelas devia ter notado o mau funcionamento e vindo investigar.
Gray mirou nas canelas do homem e deu um pontapé.
Pego de surpresa, as pernas do homem desapareceram por debaixo dele. O homem bateu a cabeça contra o portão, produzindo um som metálico alto, e caiu pesadamente sobre as ripas de madeira. Gray mergulhou para fora, agrediu-o de novo com o calcanhar, e o corpo dele ficou mole.
Monk veio em seguida, rolando até Gray. Antes, porém, ele soltou com um chute a cadeira presa embaixo do portão de segurança de metal, que continuou a descer e fechou com um estrondo.
Gray tirou as armas do guarda. Ele usou uma faca para cortar as faixas que atavam os braços de Monk e passou-lhe a arma portátil do homem, uma pistola HK Mark 23 semi-automática. Gray também confiscou o rifle.
Com as armas na mão, os dois fugiram pela ponte suspensa que levava ao dossel até o primeiro cruzamento. Ele se dividia no ponto em que a ponte alcançava a selva. Eles olharam em ambas as direções. Até ali o caminho estava livre.
- Vamos ter de nos separar - disse Gray - para aumentarmos nossas chances. Você tem de conseguir ajuda, encontrar um telefone, entrar em contato com Logan.
-E você?
Gray não respondeu. Ele não precisava responder.
Gray... talvez ela já esteja morta.
Nós não temos certeza.
Monk examinou o rosto dele. Ele tinha visto o monstro na tela do computador e sabia que Gray não tinha escolha.
Monk acenou com a cabeça.
Sem dizer mais nada, eles fugiram em direções opostas.
Subindo por uma árvore no outro lado da clareira, Khamisi chegou à passarela no dossel. Ele movia-se rápida e silenciosamente.
Abaixo, o ukufa ainda andava em círculos em torno da árvore, encurralando sua presa. O som alto do disparo um instante atrás havia assustado o animal. Ele desceu da árvore com cautela e começou a andar ao redor dela outra vez, as orelhas empinadas. Alarmes e buzinas ecoavam da mansão.
A agitação também deixou Khamisi preocupado.
Será que Tau e Njongo haviam sido descobertos?
Ou será que haviam encontrado o acampamento-base deles, camuflado fora dos limites da propriedade? O ponto de encontro deles estava disfarçado como um acampamento de caça zulu, um dos muitos acampamentos nômades. Será que alguém havia percebido que era mais do que isso?
Qualquer que fosse a causa do alarme, o barulho pelo menos tinha deixado o monstro gigante em forma de hiena - o ukufa - mais cauteloso. Khamisi aproveitou a distração dele para chegar a uma das pontes suspensas. Rolou sobre as tábuas, soltando sua espingarda. A ansiedade mantinha seus sentidos aguçados. Contudo, já não sentia terror. Ele notara os passos lentos da criatura, o uivo suave e irritante, algumas gargalhadas agudas e nervosas que se transformavam lentamente em gritos.
O comportamento normal de uma hiena.
Embora seu tamanho fosse monstruoso, não possuía nada de mítico ou sobrenatural.
Khamisi recobrou as forças.
Correu pelas tábuas até onde a ponte cruzava próximo à árvore na qual o rapaz estava e desenganchou um rolo de corda de sua mochila.
Curvando-se sobre o cabo de aço da passarela, ele avistou o rapaz e deu um assobio agudo, um pio de ave. A atenção do jovem permanecera concentrada abaixo. O barulho súbito acima de sua cabeça o fez estremecer. Mas ele olhou para cima e avistou Khamisi.
- Vou tirar você daí - disse ele em voz baixa, em inglês, esperando que o rapaz entendesse.
Abaixo, outra coisa também ouviu Khamisi.
O ukufa ergueu o olhar para a ponte. Olhos vermelhos fitaram os de Khamisi. As pálpebras baixaram enquanto ele observava o homem na ponte. Os dentes estavam à mostra. Khamisi percebeu uma atenção astuta no olhar do monstro.
Era essa a criatura que havia emboscado Marcia?
O que Khamisi mais gostaria de fazer era descarregar ambos os canos naquela cara sorridente, mas o barulho da espingarda de grosso calibre chamaria muita atenção. A propriedade já estava em alerta total. Assim, em vez disso, ele pôs a arma junto a seus pés, pois precisaria de ambos os braços e ombros.
- Ei, garoto! - disse. - Vou jogar uma corda para você. Ajuste-a bem ao redor da cintura. - Ele mostrou-lhe com gestos o que fazer. - Vou puxar você para cima.
O rapaz fez um aceno de cabeça, os olhos escancarados, o rosto inchado por causa do choro e do medo.
Inclinando-se sobre a beira, Khamisi girou o rolo de corda e o jogou para o rapaz. A corda desenrolou-se, caindo ruidosamente entre as folhas. Mas não chegou até o rapaz, presa nos galhos acima.
- Você vai ter de subir até ela!
O rapaz não precisava de qualquer estímulo. Com uma oportunidade de escapar, seu esforço de subir pela árvore ficou mais determinado. Ele subiu com dificuldade, usando os pés para tomar impulso, e conseguiu chegar ao galho seguinte. Amarrou a corda em torno da cintura, agitando-a até soltá-la dos galhos. Mostrou certa habilidade com a corda. Ótimo.
Khamisi esticou a corda, prendendo-a em torno de um dos postes de aço que sustentavam a ponte.
Vou começar a te puxar para cima! Você vai balançar.
Depressa! - gritou o rapaz, de maneira brusca e alta demais.
Khamisi girou o quadril e viu que o ukufa notara o movimento renovado do rapaz. Isto atraíra o monstro como um gato atrás de um camundongo. Ele havia trepado na árvore e estava escalando-a, cravando nela suas garras.
Sem tempo a perder, Khamisi começou a puxar a corda, um braço após o outro. Ele sentiu o peso do rapaz sobrecarregar a corda quando foi erguido do apoio em que se equilibrava de maneira precária. Curvou-se para dar uma olhada e viu o rapaz oscilar de um lado para outro, como um pêndulo.
O ukufa fez o mesmo, os olhos acompanhando o arco. Ele continuou a subir. Khamisi entendeu a intenção dele: ele estava planejando pular e puxar o rapaz como a isca de um anzol.
Khamisi puxou mais rápido. O rapaz continuava a oscilar.
- Wie zijn m? - gritou de repente uma voz atrás dele.
Assustado, ele quase soltou a corda. Olhou sobre um ombro.
Uma mulher alta e ágil, vestida de preto, os olhos ferozes, estava em pé na passarela. Os cabelos dela eram louros, cortados rentes ao couro cabeludo. Uma das filhas mais velhas dos Waalenberg. Ela devia simplesmente ter ido até aquela parte da floresta e o descoberto. Já estava com uma faca numa das mãos. Khamisi não ousava deixar a corda cair.
Uma situação nada boa.
Abaixo, o rapaz gritou.
Khamisi e a mulher olharam para baixo.
O ukufa havia chegado ao galho em que o rapaz estivera empoleirado e se preparava para pular. Atrás de Khamisi, a mulher deu uma gargalhada, igual à da criatura abaixo. As tábuas rangeram quando ela caminhou em direção às costas dele, a faca na mão.
Ambos estavam encurralados.
Gray ajoelhou-se no cruzamento. A passarela dividia-se em três caminhos. O esquerdo conduzia de volta à mansão. O do meio contornava a margem da floresta e levava aos jardins centrais. O da direita simplesmente seguia direto para o coração da selva.
Qual deles seguir?
Agachado, Gray estudou a inclinação das sombras, comparando-a com o padrão que ele havia examinado atentamente no monitor. A extensão e a direção das sombras tinham proporcionado uma pista geral da posição do sol nascente em relação ao local onde Fiona estava aprisionada. Mas aquilo ainda deixava uma grande extensão da propriedade por cobrir.
Pés soaram na passarela, sacudindo-a ligeiramente.
Mais guardas.
Ele já havia encontrado dois grupos.
Gray pendurou seu rifle no ombro, rolou para a beira da passarela e pendurou-se ali. Ficou suspenso pelos braços no cabo de aço e avançou mão após mão até o abrigo repleto de folhas do galho de uma árvore. Pouco depois, três guardas moveram-se com estardalhaço acima, sacudindo a passarela. Gray segurou-se com força, o corpo balançando.
Assim que passaram, ele usou o galho da árvore para voltar à passarela. Ao enganchar-se e passar a perna por cima dele, notou uma vibração rítmica no cabo em sua mão. Mais guardas?
Deitado de bruços nas tábuas, encostou um ouvido no cabo, escutando como um rastreador indígena numa trilha. O ritmo da vibração era nítido, audível, como uma corda dedilhada de uma guitarra de aço. Três sons rápidos, três lentos, três rápidos novamente. E eles se repetiam.
Código Morse.
S.O.S.
Alguém estava transmitindo às pressas um sinal pelo cabo.
Gray agachou-se e aproximou-se silenciosamente da ramificação da passarela. Tocou os outros cabos de sustentação. Apenas um vibrava. Ele se estendia ao longo do caminho da direita, o que conduzia às profundezas da selva.
- Será que...?
Sem uma pista melhor, Gray seguiu o caminho da direita. Caminhou próximo à beira da passarela, tentando manter seu passo silencioso e evitar que a passarela balançasse. O caminho continuou a se bifurcar. Gray parou em cada cruzamento a fim de encontrar o cabo que vibrava com o código e seguir sua trilha.
Ele estava tão concentrado no caminho que, quando se abaixou sob uma pesada folha de palmeira, de repente estava olhando fixamente para um guarda a cerca de quatro metros de distância. Cabelos castanhos, vinte e poucos anos, parecido com um típico membro da Juventude Hitlerista. O guarda inclinou-se sobre o corrimão, fitando Gray. Ele já estava erguendo a arma, em alerta pelo movimento da folha de palmeira.
Gray não teve tempo de erguer o rifle. Em vez disso, ainda em movimento, jogou seu peso para o lado - não era uma tentativa de se desviar da bala prestes a ser disparada. O guarda não poderia errar o alvo daquela distância.
Gray atingiu o cabo que servia como corrimão, fazendo-o chacoalhar.
O guarda, apoiado nele, foi sacudido. A boca de seu ritle subiu alto demais. Gray eliminou a distância em dois passos, ficando à mercê do guarda, o punhal furtado já em uma das mãos.
Gray usou o desequilíbrio do homem para silenciar seu grito, enfiando o punhal na traquéia dele, cortando a laringe. Um giro, e o sangue jorrou da carótida. Em segundos ele estava morto. Gray pegou o corpo dele e o arremessou sobre o corrimão. Não sentiu o menor remorso, lembrando-se das gargalhadas dos guardas quando Ryan foi jogado no covil do monstro. Quantos outros haviam morrido daquele modo? O corpo caiu num sussurro silencioso de folhas, depois se chocou com um estrondo contra a vegetação rasteira.
Agachado, Gray prestou atenção. Será que alguém ouvira a queda do guarda?
À esquerda, surpreendentemente perto, uma mulher gritou em inglês com sotaque:
Pare de chutar as grades, ou vamos deixar você cair agora! Gray reconheceu a voz. Ischke, a irmã gêmea de Isaak. Uma voz mais familiar respondeu à mulher:
Cai fora, sua lambisgóia idiota!
Fiona.
Ela estava viva.
Apesar do perigo, Gray riu, tanto de alívio quanto em consideração. Permanecendo abaixado, avançou pouco a pouco até o fim da passarela. Ela terminava num caminho circular que margeava uma clareira. A do vídeo. A jaula estava pendurada na passarela.
Fiona chutava as barras da jaula. Três chutes rápidos, três lentos, três rápidos. O rosto dela era uma máscara de determinação. Gray agora sentia a vibração sob seus pés, transmitida ao longo dos cabos que sustentavam a jaula.
Boa menina.
Ela devia ter ouvido os alarmes na mansão. Talvez tivesse suposto que fosse Gray e estivesse tentando enviar-lhe um sinal. Ou isso... ou então ela estava muito nervosa, e o padrão era apenas uma coincidência irritante.
Gray avistou três guardas nas posições das duas, três e nove horas. Ischke, ainda deslumbrante em sua roupa branca e preta, estava no outro lado - na posição das 12 horas - com ambas as mãos no corrimão interno, olhando para Fiona um pouco abaixo.
- Se eu meter uma bala no seu joelho, talvez você se acalme - ela gritou para a garota, colocando a palma de uma das mãos na pistola no coldre.
Fiona parou a meio caminho de um chute, murmurou alguma palavra entre os dentes e em seguida baixou o pé.
Gray calculou as probabilidades. Ele tinha um rifle contra três guardas, todos armados, e Ischke com sua pistola. Nada boas.
Uma onda de estática soou, vinda do outro lado da clareira. Palavras distorcidas seguiram-se.
Ischke tirou o rádio da presilha e o ergueu até os lábios.
- Ja?
Ela ouviu por meio minuto, fez outra pergunta que Gray não conseguiu compreender, depois desligou. Baixando o rádio, falou para os guardas:
- Novas ordens! - gritou em holandês. - Vamos matar a garota agora.
O ukufa emitiu uma série de ganidos agudos, pronto para saltar sobre o rapaz pendurado na corda. Khamisi sentiu a aproximação da mulher às suas costas. Com ambas as mãos segurando a corda, ele não podia pegar nenhuma de suas armas.
- Quem é você? - a mulher tornou a perguntar, ameaçando com a faca.
Khamisi tomou a única atitude possível.
Flexionando os joelhos, atirou-se por cima do corrimão de cabo de aço e segurou a corda com força enquanto despencava. Acima, a corda assobiou em torno do poste de sustentação de aço. Enquanto caía rumo ao solo, Khamisi teve um vislumbre do rapaz sendo arrastado para cima, debatendo-se e dando um longo grito de surpresa.
O ukufa saltou sobre sua presa que fugia, mas o peso de Khamisi durante a queda alçou o rapaz diretamente até a passarela, fazendo-o chocar-se com força contra ela.
A parada repentina arrancou a corda das mãos de Khamisi.
Ele caiu de costas no capim. Acima, o rapaz agarrou-se à parte inferior da passarela. A mulher olhou fixamente para Khamisi, os olhos arregalados.
Alguma coisa grande caiu com um estrondo no chão a alguns metros dele.
Khamisi sentou-se.
O ukufa ficou em pé, lançando fios de saliva, furioso, rosnando.
Seu olhar vermelho caiu pesadamente sobre a única presa à vista. Khamisi.
As mãos dele estavam vazias. A espingarda ainda estava nas tábuas acima.
A criatura uivou com sede de sangue e com ira. Pulou sobre ele, com a intenção de estraçalhar sua garganta.
Khamisi caiu de costas e ergueu sua única arma: a azagaia zulu. A lança curta ainda estava presa à sua coxa por uma tira. Quando o ukufa desceu sobre ele, Khamisi empurrou a lâmina para cima. Seu pai uma vez o ensinara a usar a arma. Como todos os meninos zulus. Antes de eles partirem para a Austrália. Com um instinto que remontava ao passado de seus ancestrais, Khamisi introduziu a lâmina entre as costelas da criatura - uma criatura de carne e osso, não um mito - e a empurrou profundamente quando o peso da hiena caiu sobre ele.
O ukufa soltou um grito agudo. A dor e o ímpeto do corpo do animal fizeram o resto por Khamisi e arrancaram o cabo da lança dos dedos dele. Khamisi rolou para o lado, desarmado agora. O ukufa desabou no capim, contorcendo-se em torno da lâmina fincada nele. Gritou uma última vez, com um forte espasmo, e em seguida ficou mole.
Morto.
Um grito de raiva acima atraiu seu olhar.
A mulher na ponte havia encontrado a espingarda de Khamisi e a apontava para ele. A detonação soou como uma granada. Um arbusto explodiu próximo a seus calcanhares, levantando um punhado de terra. Khamisi recuou. Acima, a mulher mudou a espingarda de posição, fazendo melhor pontaria através da alça de mira.
A segunda detonação soou estranhamente mais aguda.
Khamisi girou o corpo, mas viu que estava ileso.
Olhou para cima a tempo de ver a mulher tombar sobre o cabo, com o tórax ensangüentado transformado em destroços.
Uma nova figura surgiu na passarela.
Um homem musculoso com a cabeça raspada. Tinha uma pistola estendida, presa no coto de um dos punhos. Inclinou-se sobre o cabo e avistou o rapaz, ainda pendurado pelas mãos.
- Ryan...
O rapaz deu um soluço de alívio.
Me tire daqui.
Esse é o plano... - Seu olhar encontrou o de Khamisi. - Isto é, se aquele cara lá embaixo souber como é que se sai daqui. Estou completamente perdido.
Os dois disparos ecoaram pela floresta.
Um pequeno bando de papagaios verdes levantou vôo de seus poleiros no dossel, grasnando em protesto, batendo as asas pela clareira.
Gray agachou-se.
Será que Monk fora descoberto?
Ischke devia ter pensado o mesmo, pois sua cabeça esticou-se na direção dos disparos. Ela acenou para os guardas. - Chequem isso!
Ela voltou a erguer o rádio.
Os guardas, com rifles na mão, andavam pesadamente na passarela circular, todos na direção de Gray. Pego desprevenido, ele abaixou-se e rolou, o rifle abraçado contra o peito, e precipitou-se para fora das tábuas. O guarda mais próximo estaria à vista em meros segundos. Como antes, ele agarrou o cabo de sustentação das tábuas, porém, na pressa, sem equilíbrio, mal conseguiu um ponto de apoio com uma das mãos. Seu corpo balançava. O rifle escorregou de seu ombro e começou a cair.
Girando e estendendo a mão, ele segurou a alça de couro com um dedo. E suspirou de alívio em silêncio.
Os guardas de repente passaram com estrépito acima, as botas martelando, sacudindo seu precário ponto de equilíbrio.
A alça de couro do rifle soltou-se dos dedos de Gray. A gravidade o desarmou. A arma caiu, desaparecendo na vegetação rasteira. Gray encontrou outro ponto de apoio para a mão e ficou pendurado ali. Pelo menos, o rifle não disparara ao atingir o chão.
Os passos dos guardas ecoaram a distância.
Ele ouviu Ischke falando ao rádio.
E agora?
Ele tinha uma faca contra a pistola dela. Ele não punha em dúvida a compulsão em usá-la ou a pontaria certeira dela.
A única vantagem real que ele tinha era a surpresa.
E esta vantagem estava sendo bastante superestimada.
Mão após mão, Gray percorreu a parte inferior da passarela e chegou ao grande espaço circular. Continuou ao longo da parte inferior, mantendo-se na margem externa, longe da visão direta da caçula Waalenberg. Tinha de se mover devagar, ou seu peso oscilante a alertaria. Ele sincronizou seus movimentos com a brisa ocasional que agitava o dossel.
Mas sua aparição não passou despercebida.
Fiona agachou-se em sua jaula, deixando o maior número possível de grades entre ela e Ischke. Era óbvio que ela havia entendido as palavras anteriores da mulher em holandês. Vamos matar a garota agora. Embora os disparos tivessem distraído momentaneamente a gêmea loura, sua atenção acabaria voltando-se para Fiona.
De sua vantajosa posição agachada, Fiona avistou Gray, um gorila de macacão branco avançando pela parte inferior da passarela, semi-oculto pela folhagem. Ela estremeceu de surpresa, quase se levantando, mas depois se forçou a permanecer agachada. Os olhos dela acompanharam-no, seus olhares encontraram-se.
Apesar de toda a corajosa turbulência que fizera, Gray viu o terror estampado no rosto dela. A garota parecia muito menor na jaula. Ela envolveu o tórax com os braços, tentando controlar-se. Endurecida como ela fora pelas ruas, ele sentia que a única defesa dela contra um completo ataque de pânico eram seus rompantes de irritação. Porém, eles mal a sustentavam.
Usando o corpo como obstáculo, ela fez um sinal para ele: apontou para baixo e sacudiu ligeiramente a cabeça, os olhos arregalados de medo, alertando-o.
Não era seguro lá embaixo.
Ele esquadrinhou o mato cerrado e os arbustos da clareira. As sombras eram densas. Não viu nada, mas confiou no alerta de Fiona.
Não caia.
Gray calculou até que ponto tinha ido. Estava perto da posição das oito horas ao longo da passarela circular. Ischke estava na posição das 12 horas. Ele ainda tinha uma distância a percorrer, e seus braços estavam ficando cansados, seus dedos doíam. Teria de se mover mais rápido. A estratégia de parar e recomeçar estava matando-o. Mas ele receava chamar a atenção de Ischke se avançasse mais depressa.
Fiona parecia ter percebido o mesmo. Ela se levantou e começou a chutar as grades de novo, chacoalhando sua jaula, balançando-a com seu peso. O movimento permitiu que Gray aumentasse o ritmo.
Infelizmente, o esforço dela também atraiu a ira de Ischke.
A mulher baixou o rádio e gritou para Fiona:
- Basta de tolices, criança!
Fiona ainda segurava nas grades e chutava.
Gray passou às pressas pela posição das nove horas.
Ischke passou para o lado do corrimão interno, meio à vista. Felizmente, toda sua atenção estava concentrada em Fiona. A mulher tirou um aparelho do bolso do suéter, puxou a antena com os dentes e o apontou para a garota.
- É hora de você conhecer Skuld, cujo nome é uma homenagem à deusa nórdica do destino.
Um botão foi pressionado.
Embaixo dos pés de Gray, quase na mesma direção, alguma coisa gritou de raiva e dor. Ela saiu se debatendo das margens encobertas pelas sombras da selva e entrou na clareira coberta de grama. Uma das hienas que haviam sofrido mutação. Seu volume imenso devia ter uns 150 quilos, era todo músculos e dentes. Uivou baixo, com o dorso curvado todo eriçado. Os lábios repuxavam-se quando ela uivava e tentava abocanhar o ar vazio, fungando em direção à jaula.
Gray se deu conta de que o monstro devia estar seguindo-o o tempo todo lá de baixo. Ele suspeitava o que estava por vir.
Ele apressou-se e passou pela posição das dez horas.
Ischke gritou para Fiona, apreciando o terror, prolongando a crueldade.
- Um chip no cérebro de Skuld nos permite estimular a sede de sangue, o apetite dela.
Ela pressionou o botão outra vez. A hiena uivou, pulou a fim de alcançar a jaula, soltando fios de baba, incitada a uma voraz avidez por sangue.
Então era assim que os Waalenberg controlavam seus monstros.
Radioimplantes.
Subvertendo a natureza de novo ao bel-prazer deles.
- É hora de saciarmos a fome da pobre Skuld - disse Ischke.
Gray jamais chegaria a tempo. Não obstante, ele correu. Posição das 11 horas.
Tão perto.
Mas muito tarde.
Ischke apertou outro botão. Gray ouviu um tilintar nítido quando o trinco do alçapão da jaula de Fiona soltou-se.
Oh, não.
Ele parou enquanto dava a volta e viu o alçapão abrir-se sob Fiona. Ela caiu em direção à imensa fera embaixo.
Ele preparou-se para pular atrás dela, para protegê-la.
Mas Fiona havia aprendido com a morte de Ryan. Ela estava preparada. Enquanto caía, segurou nas grades inferiores da jaula e ficou pendurada. A criatura, Skuld, saltou tentando alcançar as pernas dela. Ela se encolheu e subiu com a ajuda dos braços.
A fera errou o pulo e caiu com um baque surdo na vegetação, soltando um uivo de frustração.
Subindo, Fiona agora se agarrava ao exterior da jaula como um macaco-aranha.
Ischke gargalhou com um deleite sombrio.
- Zeer goed, meisje. Quanta habilidade! O grootvader bem que poderia ter pensado nos seus genes para a coleção dele. Mas em vez disso, que pena.você terá de satisfazer Skuld.
Debaixo da passarela, Gray observou Ischke erguer a pistola novamente. Ele girou embaixo dela, olhando para cima por entre as tábuas.
- Agora vamos acabar com isto - murmurou Ischke em holandês.
Vamos mesmo.
Gray impulsionou o corpo para cima com os braços, moveu as pernas para trás e depois se balançou para a frente e para cima, como um ginasta numa barra fixa. Seus calcanhares acertaram Ischke na barriga quando ela se curvou sobre o corrimão, apontando a arma para Fiona.
Quando seus calcanhares a atingiram, a pistola dela disparou.
Gray ouviu o som de uma bala chocando-se contra o ferro.
Ela errara o alvo.
Ischke foi arremessada para trás, enquanto Gray veio em seguida e caiu com estrépito sobre as tábuas. Ele rolou, a faca na mão. Ischke apoiou-se num joelho. A pistola dela estava caída entre os dois.
Ambos mergulharam a fim de pegá-la.
Mesmo sem fôlego, Ischke revelou-se incrivelmente rápida, como uma serpente dando o bote. Os dedos dela alcançaram a pistola primeiro, agarrando-a.
Gray tinha uma faca.
Ele trespassou o pulso dela com a lâmina, que penetrou na tábua. Ela gritou de surpresa e soltou a pistola. Gray tentou pegá-la, mas a coronha quicou nas tábuas quando Ischke se debateu. A arma voou além da beira da passarela.
A distração momentânea foi longa o suficiente para Ischke libertar o pulso das tábuas, equilibrar-se no outro pulso e tentar acertar um chute na cabeça de Gray.
Ele recuou, mas a canela da mulher atingiu o ombro dele com a força do pára-choque de um carro em alta velocidade. Gray rolou nas tábuas, contundido até o osso. Puta merda, ela era forte.
Antes que ele pudesse levantar-se, ela investiu contra ele, virando o braço junto ao rosto dele, tentando usar a ponta da lâmina para cegá-lo. Mal segurou no cotovelo dela, ele o torceu e a empurrou para a beira da passarela.
Ele não parou.
Engalfinhados, os corpos dos dois caíram da passarela.
Mas Gray enganchou o joelho esquerdo num dos postes de sustentação da passarela. Seu corpo parou com uma sacudidela, fazendo sua perna girar, torcendo seu joelho. Ischke desprendeu-se dele e despencou.
De cabeça para baixo, ele observou a mulher mergulhar rapidamente através de alguns galhos e cair com força no meio do capim.
Gray subiu com dificuldade de volta para a passarela, esparramando-se nas tábuas.
Sem acreditar, viu Ischke ficar de pé lá embaixo. Ela deu um passo mancando, a fim de se equilibrar, o calcanhar dolorosamente torcido.
Um barulho ao lado de Gray o sobressaltou.
Fiona caiu nas tábuas ao descer por um dos cabos pelos quais a jaula estava suspensa.
Durante a luta, a garota devia ter subido até o alto da jaula e em seguida usado os cabos para chegar à passarela. Ela correu na direção dele, agitando a mão esquerda e estremecendo. Sangue fresco jorrava do local em que Ischke a cortara.
Gray tornou a olhar para baixo.
A mulher o encarou com olhar assassino.
Mas ela não estava sozinha na clareira.
Aproximando-se por trás, Skuld correu na direção da mulher, o focinho quase tocando o solo, um tubarão na relva, sentindo o cheiro de sangue.
Muito apropriado, pensou Gray.
A mulher, no entanto, simplesmente ergueu o braço ferido para a fera. A enorme hiena parou de repente, ergueu o focinho, soltando baba, e esfregou-se contra a palma da mão dela como um pitbull selvagem saudando o dono que o maltratava. Ela choramingou e abaixou-se até ficar apoiada sobre a barriga.
Ischke não tirou os olhos de Gray o tempo todo.
Ela avançou mancando.
Gray olhou para baixo.
A alguns passos de distância, a pistola da mulher estava caída bem à vista. Gray ficou em pé, segurou o ombro de Fiona e a empurrou para frente.
- Corra!
Ela não precisava de mais estímulo. Ambos correram em torno do arco da passarela. A garota voava, movida por medo e adrenalina. Eles alcançaram a saída.
Fiona chegou ao canto, segurando-se num dos postes de sustentação para manter o equilíbrio. Gray seguiu o exemplo dela. Quando ele se virou, um som ecoou do poste, acompanhado pela detonação de uma pistola.
Ischke encontrara sua arma.
Numa reação instintiva, correram mais depressa ao longo da estreita passarela, aumentando a distância entre eles e a atiradora que mancava. Um minuto depois, quando se aproximaram de um cruzamento das passarelas, Gray julgou que estivessem seguros. A cautela superou o pânico.
Ele fez Fiona reduzir o passo no mesmo cruzamento em que ele havia parado antes. Os caminhos conduziam em todas as direções. Qual deles seguir? Àquela altura, era bem provável que Ischke tivesse dado o alarme - a não ser que o rádio dela tivesse se quebrado na queda, mas ele não podia contar com isso. Teve de pressupor que já havia guardas reunidos em algum lugar entre a propriedade e o mundo exterior.
E quanto a Monk? Em que haviam resultado os disparos que acabaram com a pompa dos guardas de Ischke? Será que ele estava vivo, morto, ou fora recapturado? Havia muitas variáveis desconhecidas. Gray precisava de um lugar para se esconder, para ocultar seu rastro.
Mas onde?
Ele olhou para a passarela que levava de volta à mansão.
Ninguém pensaria em procurá-los lá. Além disso, havia telefones na casa. Se ele pudesse obter uma linha para fora... talvez até mesmo descobrir mais sobre o que estava de fato acontecendo ali...
Porém, era uma esperança ilusória. O lugar era muito bem seguro, uma fortaleza.
Fiona notou a atenção dele.
Ela puxou o braço dele e tirou do bolso algo parecido com algumas cartas de baralho presas numa corrente. Ela as ergueu. Não eram cartas de baralho.
Eram cartões-chave.
- Eu os roubei daquela cadela insensível - disse Fiona, cuspindo um pouco -, pra dar uma lição nela por me cortar.
Gray pegou os cartões e os examinou. Ele se lembrou de Monk ter censurado Fiona por ela não ter roubado as chaves do diretor do museu quando eles foram encurralados na cripta de Himmler. Parecia que a garota havia levado a sério a lição dele.
Com os olhos estreitados, Gray estudou a mansão novamente.
Graças àquela pequena batedora de carteiras, ele agora tinha as chaves do castelo.
Mas o que fazer?
Reserva Hluhluwe-umfolozi Zululândia, África do Sul
Painter estava sentado na cabana de xisto limoso e capim trançado, as pernas cruzadas em torno de uma série de mapas e diagramas. O ar cheirava a esterco e poeira. Mas o pequeno acampamento zulu era o ponto de encenação perfeito, a apenas dez minutos da propriedade Waalenberg.
Helicópteros de segurança em sobrevôos rasteiros causavam alvoroços periódicos no acampamento, em decolagens da propriedade, cautelosos e atentos a seus limites, mas Paula Kane havia organizado bem o lugar. Do ar, ninguém poderia dizer que a aldeiazinha areenta não passava de um ponto de parada de tribos zulus nômades que ganhavam a vida com dificuldade na área. Ninguém suspeitaria de uma reunião sendo realizada em uma das cabanas caindo aos pedaços.
O grupo havia se reunido para desenvolver estratégias e partilhar recursos.
Anna e Gunther estavam sentados juntos, em frente a Painter. Lisa estava ao lado dele - como havia ficado desde que chegaram à África, o rosto estóico, mas os olhos preocupados. Próximo aos fundos, o major Brooks estava em pé nas sombras, sempre vigilante, a palma da mão pousada na pistola no coldre.
Todos prestavam atenção ao relato final de Khamisi, um ex-guarda-caça da reserva. Ao lado dele, inclinado para a frente, as cabeças próximas, estava o participante mais surpreendente da reunião.
Monk Kokkalis.
Para choque de Painter, Monk havia chegado ao acampamento com um rapaz exausto e traumatizado, ambos guiados por Khamisi. O garoto estava se recuperando em outra cabana, mantido fora de perigo, mas Monk passara a última hora relatando sua história, respondendo a perguntas e preenchendo lacunas.
Anna olhava fixamente para o conjunto de runas que Monk acabara de desenhar. Seus olhos estavam injetados. Ela estendeu uma das mãos trêmulas para o papel.
- Estas são todas as runas encontradas nos livros de Hugo Hirszfeld?
Monk acenou com a cabeça.
- E aquele velho escroto estava convencido de que elas eram muito importantes, cruciais para alguma próxima etapa de seu plano.
Anna ergueu o olhar para Painter.
O dr. Hugo Hirszfeld era o supervisor do projeto Sol Negro original. Você se lembra de quando comentei que ele estava convencido de ter solucionado o enigma do Sino? Ele havia feito um último experimento em segredo, sem a presença de mais ninguém. Um experimento secreto que supostamente gerou uma criança perfeita, sem degeneração ou involução. Um Rei-Sol, um Sonnenkönig perfeito. Mas seu método... como ele gerou essa criança... ninguém conhece.
E, pelo bilhete que ele escreveu à filha - disse Painter -, a descoberta o assustou. Uma verdade [...] linda demais para deixar morrer e monstruosa demais para ser revelada. E, para esse fim, ele ocultou o segredo em código rúnico.
Anna deu um suspiro cansado.
E Baldric Waalenberg estava tão confiante em decifrar o código por conta própria, obter para si o conhecimento perdido, que destruiu o Granitschloß.
Acho que a situação vai além do fato de vocês não serem mais necessários -disse Painter. - Talvez você estivesse certa antes. Seu grupo era uma crescente ameaça, com aquela conversa de saírem da clandestinidade, de seguirem a corrente dominante. E, com a perfeição tão próxima, a culminação do sonho ariano, ele não poderia correr o risco da presença contínua de vocês.
Anna virou para si o papel com as runas que Monk desenhara.
- Se Hugo estava certo, decifrar seu código poderia se revelar crucial no tratamento da nossa doença. O Sino já possui a capacidade de retardá-la. No entanto, se conseguíssemos solucionar este enigma, ele poderia oferecer a cura de verdade.
Lisa trouxe um pouco de realidade à discussão.
- Mas, antes que isso possa acontecer, precisamos ter acesso ao Sino dos Waalenberg. Depois poderemos nos preocupar com a cura.
- E quanto a Gray e à garota? - perguntou Monk.
Painter manteve a cara fechada.
- Não há como sabermos onde ele está: escondido, capturado, morto. No momento, o comandante Pierce está entregue à própria sorte.
O rosto de Monk ficou carrancudo.
Posso entrar lá de novo, sorrateiramente, usando o mapa do terreno feito por Khamisi.
Não, agora não é hora de dividirmos forças. - Painter esfregou a parte de trás da orelha direita por causa de uma dor de cabeça em fisgadas. Ele fez alguns ruídos e sentiu náuseas.
Monk o fitou.
Painter desconsiderou a preocupação do homem. Mas alguma coisa no olhar de Monk indicava que não era apenas a debilidade física de seu chefe que o preocupava. Será que estava fazendo as escolhas certas? Como estava seu estado mental? A dúvida mexeu com sua sensibilidade. Até que ponto ele estava pensando com clareza?
A mão de Lisa deslizou até o joelho de Painter, como se sentisse a consternação dele.
- Estou bem - murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela.
A continuação do interrogatório foi interrompida quando o tapete pendurado na porta do aposento foi empurrado para o lado, deixando entrar a luz do sol e o calor. Abaixando-se, Paula Kane penetrou no ambiente escuro. Um ancião zulu a seguiu, num traje cerimonial completo: plumas, penas, pele de leopardo ornamentada com contas coloridas. Embora ele tivesse sessenta e poucos anos, seu rosto não tinha rugas, parecia ter sido esculpido em pedra, e sua cabeça estava raspada. Carregava um bastão de madeira com penas na extremidade, mas também portava uma arma de fogo antiga, que aparentava ser mais cerimonial do que funcional.
Painter reconheceu a arma quando se levantou: uma velha arma inglesa com cano liso "Brown Bess", uma espingarda de pederneira da época das Guerras Napoleônicas.
Mosi D'Gana, chefe zulu - Paula Kane apresentou o visitante.
Está tudo pronto - O ancião falou em inglês claro.
Obrigado pela ajuda - disse Painter formalmente.
Mosi fez um ligeiro aceno de cabeça, reconhecendo as palavras.
- Mas não é por vocês que vamos emprestar nossas lanças. Os Voortrekker têm uma dívida conosco por causa do Rio de Sangue.
Painter franziu a testa, mas Paula Kane forneceu os detalhes.
- Quando os ingleses expulsaram os bôeres holandeses da Cidade do Cabo, eles começaram uma grande marcha para o interior. O atrito se intensificou entre os imigrantes que chegavam e as tribos nativas: os xosas, os pondos, os suázis e os zulus. Em 1838, ao longo de um afluente do rio Búfalo, os zulus foram traídos, milhares deles, mortos, a terra natal, perdida. Foi uma carnificina. O rio ficou conhecido como Rio de Sangue. O Voortrekker que tramou aquele ataque assassino foi Piet Waalenberg.
Mosi ergueu sua velha arma e a estendeu para Painter.
- Nós não esquecemos.
Painter não teve dúvida de que aquela arma estivera envolvida naquela batalha abominável. Ele a aceitou, consciente de que um pacto havia sido feito com a transferência da espingarda de pederneira.
Mosi acomodou-se no chão, baixando suavemente até sentar-se com as pernas cruzadas.
- Temos muito o que planejar.
Paula acenou com a cabeça para Khamisi e puxou a aba do tapete, mantendo-o aberto.
- Khamisi, seu caminhão está pronto. Tau e Njongo já estão esperando. - Ela consultou o relógio. - Vocês têm de se apressar.
O ex-guarda-caça levantou-se. Cada um deles tinha uma tarefa a cumprir antes do anoitecer.
O olhar de Painter encontrou o de Monk. E mais uma vez viu a preocupação nos olhos dele. Mas não com Painter - com Gray. Ainda faltavam oito horas para o pôr-do-sol. Até lá, porém, não havia nada que pudessem fazer.
Gray estava por conta própria.
- Mantenha a cabeça baixa - Gray sussurrou para Fiona.
Eles caminharam na direção do guarda no fim do corredor. Gray usava um dos uniformes de camuflagem, das botas de montaria ao boné preto, a pala puxada para baixo, sobre os olhos. O guarda que emprestara o uniforme a Gray estava inconsciente, amordaçado e firmemente amarrado a um armário em um dos quartos superiores. Ele também havia tomado emprestado o rádio do guarda, preso ao seu cinto e do qual pendia um fone de ouvido. A conversa rápida na linha era toda em holandês, tornando difícil a compreensão, mas os mantinha a par dos acontecimentos.
Caminhando junto a Gray, Fiona usava um uniforme de criada, tirado do mesmo armário. Ele era um pouco grande, mas isso serviria para ocultar sua forma e idade. A maioria do pessoal da casa era de nativos com várias tonalidades de pele escura, o que era típico de uma família africâner. A pele moreno-escura de Fiona, sua herança paquistanesa, vinha muito a calhar. Ela também ocultava os cabelos lisos sob uma touca. Poderia passar por nativa se ninguém prestasse muita atenção. Para completar o disfarce, a garota andava a passos curtos e submissos, os ombros caídos, cabisbaixa.
Até então, os disfarces deles não haviam sido sequer postos à prova.
Haviam espalhado a notícia de que Gray e Fiona tinham sido vistos na selva. Com a mansão fechada, apenas uma patrulha reduzida estava a postos em seu interior. A maioria das forças de segurança estava esquadrinhando as florestas, os anexos e os limites da propriedade.
Infelizmente, a segurança ali não era tão frágil a ponto de deixar aberta uma linha telefônica externa. Pouco depois de usar um dos cartões-chave de Ischke para entrar novamente na mansão, Gray testou alguns telefones. Para ter acesso a uma linha era necessário passar por uma rede de segurança em código. Qualquer tentativa de obter uma linha externa só os deixaria expostos.
Por isso eram poucas as opções deles.
Eles poderiam esconder-se. Mas com que objetivo? Quem sabia se Monk conseguiria, e quando, chegar à civilização? Por isso não deviam esperar, e sim agir. O plano era primeiro obter um diagrama da mansão, o que significava penetrar na central de segurança no piso principal. As únicas armas deles eram uma pistola que Gray carregava e uma Taser portátil no bolso de Fiona.
Adiante, no fim do corredor, uma sentinela guarnecia a sacada superior, vigiando a entrada principal com um fuzil automático. Gray seguiu na direção do homem. Ele era alto, atarracado, e tinha olhos com pálpebras pesadas que tornavam sua aparência grosseira e desprezível. Gray fez um aceno de cabeça e continuou rumo à escada. Fiona seguia logo atrás.
Tudo ia bem.
Então o homem disse algo em holandês. Gray não entendeu as palavras, mas elas tinham um tom sinistro, terminando numa risada baixa e gutural.
Ao virar-se um pouco, ele viu o guarda estender a mão para o traseiro de Fiona e beliscá-lo com firmeza. A outra mão estendeu-se para o cotovelo dela.
Ele cometera um erro.
Fiona virou-se para o homem:
- Cai fora, seu punheteiro!
A saia dela roçou o joelho do homem. Uma centelha azul saiu através do bolso de Fiona e atingiu a coxa dele, queimando-o. O corpo do guarda arqueou para trás, e ele produziu um ruído sufocado semelhante a um gargarejo.
Gray o segurou enquanto caía para trás, ainda em convulsão em seus braços. Ele o arrastou do patamar para um quarto lateral. Baixou-o até o chão, deu-lhe uma coronhada com a pistola para que ficasse inconsciente e começou a amordaçá-lo e amarrá-lo.
- Por que você fez isso? - perguntou Gray.
Fiona foi para trás de Gray e beliscou a bunda dele, com força e de modo brusco.
- Ei!
Ele ficou em pé e virou-se.
- O que você acha disto? - disse Fiona enfurecida.
Ele entendeu o ponto de vista dela. No entanto, advertiu:
- Não posso continuar amarrando estes filhos-da-puta.
Fiona ficou em pé com os braços cruzados. Embora seus olhos exibissem raiva, também estavam assustados. Ele não podia culpá-la pela reação precipitada. Gray removeu um pouco de suor frio da testa. Talvez eles devessem simplesmente se esconder e esperar pelo melhor.
O rádio de Gray chiou. Ele ouviu com atenção. Será que tinham sido vistos atacando o guarda junto à escada? Ele traduziu em meio aos ruídos distorcidos da transmissão.
- ... ge’vangene... entrando pela porta principal...
Seguiram-se mais informações. Gray, porém, ouviu muito pouco além da palavra ge’vangene.
Prisioneiro.
Aquilo só podia ter um significado.
Pegaram o Monk... - sussurrou, gelando.
Fiona descruzou os braços, o rosto preocupado.
Vamos - ele disse e caminhou em direção à porta.
Ele havia pegado a Taser e pendurado no ombro o rifle do guarda caído no chão.
Gray seguiu na frente, de volta à escada. Ele sussurrou seu plano para Fiona enquanto desciam às pressas a escada do saguão principal. O piso inferior estava vazio, assim como o vestíbulo adiante.
Eles cruzaram o chão encerado, ornamentado com tapetes com motivos africanos. Os passos deles ecoavam. Em cada lado, troféus de caça empalhados preenchiam as paredes: a cabeça de um rinoceronte negro sob risco de extinção, um leão enorme com uma juba roída por traças, uma fileira de antílopes com várias formas de chifres.
Gray dirigiu-se ao vestíbulo. Fiona puxou um espanador de um bolso do avental, uma parte de seu disfarce. Ela foi para um lado da porta; Gray posicionou-se no outro, com o rifle na mão.
Eles não precisaram esperar muito, mal assumindo suas posições a tempo.
Quantos guardas estariam acompanhando Monk?
Pelo menos ele estava vivo.
O portão de metal da entrada principal começou a subir, movendo-se com estrépito. Gray inclinou-se para contar as pernas. Ele ergueu dois dedos para Fiona. Dois guardas acompanhavam um prisioneiro de macacão branco.
Gray surgiu à vista quando o portão rolou completamente para cima.
Os guardas nada viram a não ser um deles, um guarda de sentinela com um rifle à porta. Eles entraram com o prisioneiro sob domínio. Nenhum deles notou Gray segurando uma Taser ou Fiona vindo do outro lado.
Em poucos instantes o ataque terminou.
Os dois guardas contorceram-se no tapete, os calcanhares martelando o chão. Gray chutou o lado da cabeça de cada um, provavelmente com mais força do que deveria. Mas a raiva ardia nele.
O prisioneiro não era Monk.
- Quem é a senhora? - perguntou à assustada prisioneira enquanto arrastava com pressa o primeiro guarda para um depósito de suprimentos próximo.
A mulher de cabelos grisalhos usou o braço livre para ajudar Fiona a arrastar o segundo homem. Ela era mais forte do que aparentava. O braço esquerdo estava enfaixado e preso atravessado no peito numa tipóia justa. No lado esquerdo de seu rosto havia alguns arranhões, suturados e em carne viva. Alguma coisa a havia atacado e machucado. Apesar dos ferimentos recentes, seus olhos encontraram os de Gray, faiscantes e determinados.
- Eu sou a dra. Marcia Fairfield.
O jipe descia a pista vazia.
Atrás do volante, o guarda-caça Gerald Kellogg enxugou a testa suada. Uma garrafa de Bimkenhead Premium Lager estava presa entre suas pernas.
Apesar da manhã agitada, Kellogg recusava-se a quebrar a rotina. De qualquer modo, não havia mais nada que ele pudesse fazer. A segurança da propriedade Waalenberg havia relatado os detalhes superficiais: uma fuga. Kellogg já havia alertado os guardas do parque e colocado homens junto a todos os portões. Ele passou adiante fotos, enviadas por fax da propriedade Waalenberg. O disfarce era de caçadores clandestinos, armados e perigosos.
Até que a notícia de que os haviam descoberto chegasse ao escritório de Kellogg, não havia nada que o impedisse de tirar as costumeiras duas horas de almoço em casa. Terça-feira era dia de galinha assada e batatas-doces. File conduziu seu jipe através do mata-burro e entrou no caminho principal, margeado em ambos os lados por cercas vivas baixas. A frente, uma casa colonial de dois andares com painéis de madeira erguia-se numa propriedade de um acre com a grama cuidadosamente aparada, um dos privilégios de seu cargo. Dez empregados cuidavam do terreno e da casa que só ele ocupava. Ele não tinha pressa de se casar.
Para que se amarrar?
Além disso, seu gosto tendia para flores jovens.
Ele tinha uma nova garota na casa, a pequena Aina, de 11 anos, da Nigéria, preta como breu, exatamente como ele gostava que elas fossem, por ser melhor para ocultar as equimoses. Não que houvesse alguém que o questionasse. Ele tinha um empregado, Mxali, um suázi bruto, recrutado da prisão, que administrava sua casa com disciplina e terror. Quaisquer problemas eram solucionados rapidamente, não só em casa, como também, quando necessário, em outros lugares. E os Waalenberg simplesmente ficavam contentíssimos em ajudar a dar fim a qualquer encrenqueiro. O que acontecia aos que eram jogados de helicóptero na propriedade Waalenberg, Gerald preferia não saber. Mas ele tinha ouvido boatos.
Apesar do calor do meio-dia, ele estremeceu.
Era melhor não fazer perguntas demais.
Estacionou o carro à sombra de uma acácia frondosa, desceu do veículo e seguiu pelo caminho revestido de seixos que conduzia até a porta lateral da cozinha. Dois jardineiros capinavam o canteiro de flores. Eles mantiveram os olhos baixos quando Gerald passou, conforme lhes fora ensinado.
O cheiro de galinha assada e de alho despertou seu apetite. Seu nariz e estômago fizeram-no subir depressa os três degraus de madeira até a porta de tela aberta. Ele entrou na cozinha com a barriga roncando.
À esquerda, a porta do forno estava aberta. O cozinheiro estava ajoelhado nas tábuas com a cabeça dentro do forno. Kellogg franziu a testa diante do estranho quadro. E levou um momento para perceber que não era o cozinheiro.
- Mxali...?
Kellogg finalmente notou o cheiro de carne queimada encoberto pelo do alho. Algum objeto projetava-se do braço do homem. Um dardo emplumado. A arma preferida de Mxali, em geral envenenada.
Algo estava terrivelmente errado.
Kellogg recuou e virou-se para a porta.
Os dois jardineiros haviam largado suas enxadas e tinham rifles apontados para a grande barriga dele. Não era incomum que pequenos bandos de saqueadores, imundície vinda de municípios negros, atacassem de surpresa fazendas e casas em lugares remotos. Kellogg ergueu os braços, a pele esfriando de terror.
O rangido de uma tábua o fez virar-se, meio abaixado.
Uma figura negra saiu das sombras do aposento ao lado.
Kellogg ficou boquiaberto quando reconheceu o invasor - e o ódio nos olhos dele. Não eram saqueadores. Era muito pior. Um fantasma.
- Khamisi...
- Então, o que exatamente está errado com ele? - perguntou Monk, apontando com o polegar para o local em que Painter havia desaparecido no interior de uma das cabanas próximas com o telefone via satélite da dra. Paula Kane. O diretor estava coordenando com Logan Gregory.
Ele estava sentado em um tronco de madeira com a dra. Lisa Cummings, sob a sombra projetada do beiral de outra cabana. A médica era uma mulher muito atraente, mesmo coberta de poeira e com olheiras que a deixavam com um ar atormentado.
Ela voltou a atenção para Monk.
- As células dele estão desnaturando, dissolvendo-se de dentro para fora. Isto de acordo com Anna Sporrenberg. Ela estudou em profundidade os efeitos nocivos da radiação do Sino no passado. Essa radiação causa falência múltipla de órgãos. O irmão dela, Gunther, também sofre de uma versão crônica da doença. Mas a velocidade do definhamento dele é retardada pelas elevadas capacidade de recuperação e imunidade do grandalhão. Anna e Painter, expostos já adultos a uma dose excessiva da radiação, não têm essa proteção inata.
Ela entrou em mais detalhes, pois sabia que Monk também tinha formação médica: contagem baixa de plaquetas, nível crescente de bilirrubina, edema, sensibilidade muscular com surtos de rigidez em torno do pescoço e dos ombros, infarto ósseo, hepatosplenomegalia, sopros audíveis nos batimentos cardíacos e uma estranha calcificação das extremidades distais e do humor vítreo dos olhos.
Mas tudo acabou se reduzindo a uma pergunta:
- Quanto tempo eles têm? - indagou Monk.
Lisa suspirou e voltou o olhar para a cabana na qual Painter havia desaparecido.
- Não mais que um dia. Mesmo que se pudesse encontrar a cura hoje, receio que ainda possa haver dano permanente.
- Você notou a pronúncia inarticulada dele... como ele engole as palavras? Isso é causado pelas drogas... ou... ou...?
Lisa voltou a olhar para ele com profunda angústia.
- É mais do que as drogas.
Monk sentiu que essa foi a primeira vez que ela admitiu isso para si mesma. Foi dito com medo e desesperança. Também viu quanto ela sofria por causa disso. A reação dela excedia a de uma médica interessada ou de uma amiga preocupada apenas. Ela se importava com Painter e era óbvio que lutava para reprimir suas emoções, para proteger seu coração.
Painter apareceu à entrada e acenou para que Monk fosse até lá.
- Kat está ao telefone.
Monk levantou-se rapidamente, verificou se havia helicópteros no céu e foi até Painter. Pegou o telefone, cobriu o bocal e acenou com a cabeça na direção da dra. Cummings.
- Chefe, acho que ela gostaria de companhia.
Painter revirou os olhos, que estavam injetados, manchados por hemorragias na esclera. Ele usou a mão para proteger os olhos sensíveis e foi até Lisa.
Monk observou da entrada e ergueu o telefone.
Oi, gata.
Não me chame de gata. Que diabo você está fazendo na África?
Monk sorriu. A repreensão de Kat era bem-vinda como água no deserto. Além do mais, a pergunta dela era retórica, pois sem dúvida havia sido informada.
Pensei que essa missão seria moleza - continuou ela.
Monk simplesmente esperou, deixando-a desabafar.
Quando você chegar em casa, vou te trancar...
Ela continuou por mais um longo minuto, durante o qual as palavras ficaram confusas.
Finalmente, Monk teve chance de falar.
Eu também estou com saudade de você.
A gritaria reduziu-se a um suspiro.
Soube que o Gray ainda está desaparecido.
Ele deve estar bem - ele a tranqüilizou, embora esperasse a mesma coisa.
Encontre-o, Monk. Faça o que for necessário.
Monk apreciou a compreensão dela. Era exatamente aquilo que pretendia fazer. Ela lhe pediu que não fizesse qualquer promessa de que agiria com cautela, já que o conhecia muito bem. No entanto, ele percebeu as lágrimas nas palavras seguintes dela.
- Eu te amo.
Aquilo era cautela suficiente para qualquer homem.
- Eu também te amo. - Ele baixou a voz e ficou ligeiramente de costas. - Eu amo vocês dois.
- Volte para casa.
- Tente me deter.
Kat tornou a suspirar.
- Logan está me enviando uma mensagem pelo pager. Tenho de desligar. Nós temos um encontro marcado às sete horas com um adido na Embaixada da África do Sul. Faremos o possível para exercer pressão daqui.
Infernize a vida deles, gata.
Nós faremos isso. Tchau, Monk.
Kat, eu...
Mas ela havia desligado. Droga.
Monk baixou o telefone e olhou para Lisa e Painter. Os dois estavam encostados um no outro, conversando, mas Monk sentiu que era mais a necessidade de estarem próximos do que de qualquer comunicação real. Ele olhou para o telefone. Pelo menos, Kat estava sã e salva.
- Eles estavam me levando para uma cela lá embaixo - disse a dra. Marcia Fairfield. - Para me interrogar mais. Alguma preocupação deve estar atingindo-os.
Os três estavam de volta ao vestíbulo no primeiro andar. O guarda que havia assediado Fiona ainda estava caído inconsciente no chão, o sangue escorrendo das narinas.
A dra. Fairfield tinha feito um rápido relato de sua história: como havia sido emboscada no campo, atacada pelos animais de estimação dos Waalenberg e por eles arrastada. Os Waalenberg tinham descoberto por certos canais que ela talvez trabalhasse para a inteligência britânica. Por isso haviam encenado seu seqüestro como um ataque fatal de leões. Seus ferimentos sem dúvida ainda estavam inchados e em carne viva.
Consegui convencê-los de que meu acompanhante, um guarda-caça, havia sido morto. Foi tudo o que pude fazer. Espero que ele tenha conseguido voltar para a civilização.
Mas o que os Waalenberg escondem? - perguntou Gray. - O que eles estão fazendo?
A mulher sacudiu a cabeça.
- Alguma versão macabra de um Projeto Manhattan genético. Isso é tudo o que eu sei. Mas acho que existe algum outro esquema em curso. Um projeto secundário. Talvez até mesmo um ataque. Ouvi por acaso os guardas conversando. Algo a respeito de um tipo de soro. Eu os ouvi dizer soro 525. Também mencionaram a cidade de Washington no mesmo contexto.
Gray franziu a testa.
- A senhora os ouviu falar sobre algum horário?
- Não exatamente. Mas, pelo riso deles, tive a impressão de que, seja lá o que esteja para acontecer, será em breve. Muito breve.
Gray deu alguns passos de um lado para outro, apoiando o queixo com os nós dos dedos. Esse soro... talvez seja um agente para uso numa guerra biológica... um patógeno, um vírus... Sacudiu a cabeça. Precisava de mais informações, e rápido.
- Temos de entrar naqueles laboratórios no porão - murmurou ele. - Precisamos descobrir o que está acontecendo.
- Eles estavam me levando para essa área de confinamento - disse a dra. Fairfield.
Ele acenou com a cabeça, compreendendo.
Se eu me fizer passar por um de seus guardas, isso poderia ser nosso bilhete de entrada lá embaixo.
Teríamos de nos apressar - disse Marcia. - A esta altura, eles devem estar se perguntando o que está me atrasando.
Gray virou-se para Fiona, pronto para uma discussão. Seria mais seguro se ela permanecesse escondida no quarto, longe dos olhos dos outros. Seria difícil explicar a presença dela junto a uma prisioneira e um guarda. Isso só levantaria suspeita e chamaria atenção.
- Eu sei! Não tem nenhum lugar para uma criada - disse Fiona, surpreendendo-o mais uma vez. Ela cutucou com o pé o guarda caído no chão. - Vou fazer companhia a este Casanova até vocês voltarem.
Apesar das palavras corajosas, seus olhos brilhavam de medo.
Não vamos demorar muito - prometeu ele.
É melhor que não demorem mesmo.
Com a questão resolvida, Gray pegou seu rifle, acenou para que a dra. Fairfield se encaminhasse à porta e disse:
- Vamos.
Gray fez Marcia entrar rapidamente no elevador principal sob a mira da arma. Ninguém os abordou. Um leitor de cartões restringia o ingresso aos níveis subterrâneos. Ele passou o segundo cartão-chave de Ischke pela leitora. Os botões iluminados de acesso aos níveis subterrâneos mudaram de vermelho para verde.
A senhora tem alguma idéia de por onde devemos começar? - perguntou Gray.
Marcia estendeu a mão.
Quanto maior o tesouro, mais fundo ele está enterrado.
Ela apertou o último botão. Seis níveis abaixo. O elevador começou a descer. Enquanto Gray observava a contagem regressiva dos andares, as palavras de Marcia martelavam em seu cérebro.
Um ataque. Possivelmente em Washington.
Mas que tipo de ataque?
A Embassy Row ficava a apenas três quilômetros do National Mall. O motorista dobrou na avenida Massachusetts e seguiu em direção à Embaixada da África do Sul. Kat estava sentada com Logan no banco traseiro, verificando as últimas anotações. O sol acabara de nascer, e a embaixada surgiu à frente.
Os quatro andares de calcário Indiana brilhavam intensamente à luz do sol matinal, realçando seus frontões e águas-furtadas típicos do estilo holandês do Cabo. O motorista estacionou na ala residencial da embaixada. O embaixador havia concordado em encontrá-los em seu gabinete particular de manhã muito cedo. Parecia ser melhor tratar de quaisquer assuntos relacionados com os Waalenberg longe da vista de todos.
O que para Kat era ótimo.
Ela tinha uma pistola no coldre preso ao tornozelo.
Kat desceu do carro e esperou por Logan. Quatro colunas acaneladas sustentavam um parapeito esculpido com o brasão da África do Sul. Embaixo dele, um porteiro notou a chegada deles e abriu a porta envidraçada da frente.
Como vice-diretor, Logan seguiu na frente. Kat ficou um ou dois passos atrás, vigiando a rua, cautelosa. Como os Waalenberg controlavam uma fortuna imensa, ela não confiava em quem pudesse estar a serviço deles... e isso incluía o embaixador, John Hourigan.
O saguão de entrada ampliou-se em volta deles. Um secretário num elegante traje de passeio azul-marinho os conduziu pelo cômodo.
- O embaixador Hourigan vai descer daqui a pouco. Devo levá-los a seu gabinete. Posso lhes trazer chá ou café?
Logan e Kat recusaram.
Logo estavam instalados em uma sala com paredes ricamente revestidas. A mobília - escrivaninhas, estantes, algumas mesas - era toda feita da mesma madeira: um tipo de canela-amarela nativa da África do Sul, tão rara que já não estava disponível para exportação comercial.
Logan sentou-se junto à escrivaninha. Kat permaneceu em pé. Eles não tiveram de esperar muito.
As portas voltaram a abrir-se, e um homem alto e magro, de cabelos ruivos, entrou. Usava um terno azul-marinho, mas carregava o paletó pendurado em um braço. Kat suspeitou que sua tentativa de aproximação informal fosse puro artifício, destinado a fazer sua conduta parecer mais amigável e cooperativa. Como o encontro ali, na residência dele.
Ela não se deixou enganar.
Enquanto Logan fazia as apresentações, Kat inspecionava a sala. Com experiência nos serviços de inteligência, ela imaginou que a conversa ali seria gravada secretamente. Estudou o espaço na tentativa de adivinhar onde o equipamento de vigilância estaria escondido.
O embaixador Hourigan sentou-se, afinal, em sua cadeira.
Vocês vieram para perguntar sobre a propriedade dos Waalenberg... ou foi o que me informaram. Como posso lhes ser útil?
Acreditamos que alguém a serviço deles pode ter envolvimento em um seqüestro na Alemanha.
Seus olhos arregalaram-se com muita perfeição.
Estou chocado por ouvir essas alegações. Mas não soube de nada a esse respeito pela BKA alemã, pela Interpol ou pela Europol.
Nossas fontes são concretas - insistiu Logan. - Tudo o que pedimos é a cooperação dos seus Escorpiões para investigar no local.
Kat observou o homem fingir uma expressão profundamente pensativa. Os Escorpiões eram o equivalente sul-africano do FBI. A cooperação parecia improvável. O máximo que Logan procurava ali era manter essas organizações fora do caminho da Sigma. Embora não pudessem negociar a ajuda contra uma fonte de influência política como os Waalenberg, poderiam exercer pressão suficiente para impedir que quaisquer autoridades policiais os ajudassem. Uma pequena concessão, porém significativa.
Kat continuou em pé, observando a lenta dança que aqueles dois homens executavam, cada qual tentando obter melhor vantagem.
Eu lhe asseguro que os Waalenberg têm o máximo respeito pela comunidade internacional e pelos organismos governamentais. A família tem apoiado esforços de ajuda, organizações de caridade multinacionais e fundações sem fins lucrativos em todo o mundo. Na verdade, em seu mais recente ato de generosidade, doaram a réplica de um sino de ouro centenário a todas as embaixadas e chancelarias sul-africanas ao redor do mundo, para comemorar o centésimo aniversário da primeira moeda de ouro cunhada na África do Sul.
Está tudo muito bem, mas não...
Kat interrompeu Logan, falando pela primeira vez:
- O senhor disse sino de ouro?
Os olhos de Hourigan encontraram os dela.
- Sim, presentes do próprio sir Baldric Waalenberg. Cem sinos centenários folheados a ouro, exibindo o brasão da África do Sul. O nosso está sendo instalado no saguão da residência, no quarto andar.
Logan a olhou nos olhos.
- Seria possível vê-lo? - perguntou ela.
A estranha mudança do rumo da conversa perturbou o embaixador, mas ele não conseguiu encontrar um bom motivo para negar o pedido, e Kat imaginou que ele esperava que isso pudesse ser um modo de obter uma vantagem na tranqüila guerra diplomática que estava sendo travada.
- Eu ficaria encantado em mostrá-lo a vocês. - Levantou-se e consultou o relógio. - Receio que tenhamos de ser rápidos. Tenho uma reunião no café-da-manhã para a qual não devo me atrasar.
Como Kat imaginara, Hourigan estava usando a visita ao saguão como um pretexto para encerrar a conversa cedo, para se esquivar a qualquer compromisso. Logan a fitou. Ela esperava estar certa.
Eles foram conduzidos a um elevador e levados ao último andar do edifício. Passaram por corredores decorados com obras de arte e artesanato sul-africanos. Depois, um grande saguão abriu-se. Parecia mais um museu do que um espaço habitável. Havia vitrines, mesas compridas e arcas enormes com acessórios de bronze trabalhados à mão. Uma parede com janelas dava para o pátio dos fundos e para os jardins. Num canto estava pendurado um gigantesco sino de ouro. Parecia ter sido desembalado recentemente, porque pequenos tufos da palha do enchimento ainda estavam espalhados pelo chão. O sino em si tinha um metro de altura, e sua boca, meio metro de diâmetro. O brasão havia sido gravado nele.
Kat aproximou-se. Um grosso fio elétrico descia do topo e enroscava-se no chão.
O embaixador notou a atenção dela.
- Ele é automatizado e está programado para soar a determinadas horas do dia. É uma maravilha e tanto da engenharia. Se a senhora olhar dentro do sino, vai ver um espetáculo de engrenagens, como um Rolex da mais alta qualidade.
Kat virou-se para Logan. Ele havia empalidecido. Como Kat, ele estudara os desenhos que Anna Sporrenberg havia feito do Sino original. Aquela era uma duplicata de ouro perfeita. Ambos também tinham lido sobre os efeitos nocivos provocados pela irradiação do aparelho. Loucura e morte. Kat olhou pela janela do quarto andar. Daquela altura, ela só pôde distinguir a cúpula branca do Capitólio.
As palavras anteriores do embaixador tornaram-se horríveis.
Doaram... a todas as embaixadas e chancelarias... ao redor do mundo... Cem sinos folheados a ouro.
- Foi necessário um técnico especializado para instalá-lo - prosseguiu o embaixador, apesar de a sua voz agora ter passado a apresentar um ritmo ligeiramente entediado, fazendo o encontro caminhar para o fim. - Eu acho que ele está em algum lugar por aqui.
A porta do aposento fechou-se atrás deles, batendo ligeiramente.
Todos os três se voltaram.
- Ah, ei-lo aí - disse Hourigan ao se virar. Sua voz extinguiu-se quando ele viu a submetralhadora que o recém-chegado carregava. Os cabelos dele eram branco-alourados. Mesmo do outro lado do aposento, Kat avistou uma tatuagem escura na mão que segurava a arma.
Kat mergulhou para o coldre no tornozelo.
Sem dizer uma palavra, o assassino abriu fogo, cuspindo rajadas de balas.
Vidro estilhaçou-se, madeira lascou-se.
Atrás dela, atingido por projéteis que ricocheteavam, o sino de ouro tocava repetidamente.
África do Sul
As portas do elevador abriram-se no sétimo andar subterrâneo. Gray saiu com o rifle na mão e esquadrinhou ambas as direções ao longo de um corredor cinza. Ao contrário das madeiras caras e do artesanato sofisticado da mansão, aquele nível subterrâneo era iluminado por lâmpadas fluorescentes e decorado com uma esterilidade rígida: assoalhos de linóleo fosco, paredes cinza, teto baixo. Portas de aço lisas com fechaduras eletrônicas resplandecentes revestiam um lado do corredor. As outras portas pareciam mais comuns.
Gray colocou a palma da mão contra uma delas.
A placa de aço vibrava. Ele ouviu um zumbido rítmico.
Uma casa de força. Devia ser imensa.
Marcia aproximou-se, ficando ao lado dele.
- Acho que descemos demais - sussurrou ela. - Isto se parece mais com uma área de armazenagem e de despensas.
Gray concordou. No entanto...
Ele foi até uma das portas de aço trancadas.
- A pergunta é: o que eles estão armazenando?
Na placa afixada à porta estava escrito: EMBRYONAAL.
- Laboratório embrionário - traduziu Marcia.
Ela juntou-se a ele, os olhos cautelosos e um ligeiro estremecer ao mover o braço enfaixado e preso na tipóia.
Gray ergueu o cartão de Ischke novamente e o passou pelo leitor. A luz indicadora ficou verde e uma tranca magnética soltou-se. Ele empurrou a porta. Havia pendurado o rifle no ombro e sacado a pistola.
As lâmpadas fluorescentes acima tremeluziram e em seguida estabilizaram-se.
A sala era um longo corredor, com uns 40 metros de comprimento. Gray notou como o ar ali dentro era gelado, mais revigorante, filtrado. Uma fileira de freezers de aço inoxidável embutidos, que iam do chão ao teto, cobria um lado. Compressores zumbiam. No outro lado, havia carrinhos de aço, tanques de nitrogênio líquido e um grande microscópio de mesa ligado por fios a uma mesa de microdissecção.
Parecia algum tipo de laboratório de criônica.
Na estação de trabalho central, um computador HP estava ocioso. O protetor de tela girava no monitor LCD. Um símbolo prateado rodava contra um fundo negro. Um símbolo familiar. Gray o tinha visto desenhado no chão do Castelo Wewelsburg.
- O Sol Negro - murmurou Gray. Marcia olhou para ele.
Gray apontou para o sol giratório.
- O símbolo representa a Ordem Negra de Himmler, uma cabala de ocultistas e cientistas da Sociedade Thule obcecados pela filosofia do super-homem. Baldric também deve ter sido membro.
Gray sentiu que haviam fechado o círculo: do bisavô de Ryan até aquele lugar. Ele acenou com a cabeça na direção do computador.
- Procure um diretório principal. Veja o que a senhora consegue descobrir.
Enquanto Marcia se dirigia à estação de trabalho, Gray foi até um dos freezers e o abriu. Ar gélido soprou para fora. Dentro havia gavetas, indexadas e numeradas. Atrás de si, Gray ouviu Mareia digitando ao computador. Ele abriu uma gaveta. Cuidadosamente presos por braçadeiras, havia um grande número de pequeninos tubos de ensaio cheios de um líquido amarelo.
- Embriões congelados - disse Marcia por trás dele.
Ele fechou a gaveta e olhou ao longo do corredor para a quantidade de freezers gigantes. Se Marcia estivesse certa, devia haver milhares de embriões armazenados ali. Ela falou, atraindo-o até a estação de trabalho.
- O computador é um banco de dados com uma lista de genomas e genealogias. - Olhou para ele. - Tanto de seres humanos quanto de animais. Espécies de mamíferos. Olhe para isto.
Anotações estranhas enchiam a tela.
- Parece uma lista de alterações mutacionais - disse Marcia -, definidas até o nível de polinucleotídios.
Gray bateu de leve no nome no alto da lista.
- Crocuta crocuta - leu. - A hiena-malhada. Eu vi o resultado dessa pesquisa. Baldric Waalenberg mencionou que estava aperfeiçoando a espécie, inclusive com a implantação de células-tronco humanas no cérebro dos animais.
Marcia ficou animada e voltou para um diretório principal.
- Isso explica o nome do banco de dados inteiro: Hersenschim, cuja tradução é "quimera", termo biológico para um organismo com material genético de mais de uma espécie, sejam enxertos em plantas ou a introdução de células estranhas em um embrião. - Ela bateu de leve uma das mãos no computador, concentrada. - Mas para que fim?
Endireitando-se, Gray olhou ao longo do laboratório embrionário. Será que tudo aquilo diferia em alguma coisa da manipulação de orquídeas e bonsais por Baldric? Seria apenas outra maneira de controlar a natureza e planejá-la de acordo com a definição dele de perfeição?
Humm... - murmurou Marcia. - Estranho.
Gray voltou para onde ela estava.
O quê?
- Como eu disse, há embriões humanos aqui. - Ela olhou por cima de um ombro para Gray. - De acordo com as referências cruzadas genealógicas, todos estes embriões estão geneticamente ligados aos Waalenberg.
Não era nenhuma surpresa. Gray havia notado as semelhanças nos descendentes de Waalenberg. O patriarca vinha refinando a linhagem da família por gerações.
Mas, aparentemente, aquilo não era o mais estranho.
Cada um dos embriões dos Waalenberg, por sua vez, está relacionado com séries de células-tronco que remontam à Crocuta crocuta - Marcia continuou.
Às hienas?
Marcia fez um aceno de cabeça.
A compreensão e o horror aumentaram.
- A senhora está dizendo que ele vem plantando as células-tronco dos próprios filhos naqueles monstros?
Gray não conseguiu disfarçar seu choque. Será que as atrocidades daquele homem, a presunção, nunca terminavam?
- Mas isso não é tudo - disse Mareia.
Gray sentiu um choque nauseante nas entranhas, sabendo o que ela ia dizer em seguida.
Marcia apontou para uma tabela complicada na tela.
De acordo com isto, há referências cruzadas entre as células-tronco das hienas e a geração seguinte de embriões humanos.
Deus do céu...
Gray pensou em Ischke estendendo a mão e detendo a hiena que investia contra ela. Era mais do que simplesmente dono e cão. Era família. Baldric implantara em seus filhos células das hienas que haviam sofrido mutação, fazendo uma espécie de polinização cruzada, como no caso de suas orquídeas.
- Mas isso ainda não é o pior... - começou Marcia, pálida e perturbada até a medula. - Os Waalenberg têm...
Gray a interrompeu, pois já tinha ouvido o bastante. Eles tinham mais a procurar.
- Deveríamos continuar.
Marcia olhou para o computador com relutância, mas acenou com a cabeça e se levantou. Eles saíram do laboratório de monstros e seguiram corredor adiante. Na porta seguinte, havia uma placa com a inscrição FOETUSSEN. Um laboratório fetal. Gray continuou a seguir pelo corredor, sem parar. Ele não tinha a menor vontade de ver que horrores estavam ali dentro.
- Como eles estão alcançando esses resultados? - perguntou Marcia. - As mutações, as quimeras bem-sucedidas...? Eles devem ter algum jeito de controlar a manipulação genética.
- É possível - murmurou ele. - Mas elas não estão aperfeiçoadas... não ainda.
Gray se lembrou do trabalho de Hugo Hirszfeld, do código que ocultara em suas runas. Ele agora entendia a obsessão de Baldric pelo código. Uma promessa de perfeição. Linda demais para deixar morrer e monstruosa demais para ser revelada.
E decerto as preocupações com o monstruoso não assustavam Baldric. Na verdade, ele criava o monstruoso na própria família. E agora que tinha o código de Hugo, qual seria seu próximo passo? Em particular com a Sigma em seus calcanhares. Não era de admirar que ele quisesse tão desesperadamente saber sobre Painter Crowe.
Chegaram a outra porta. A sala no outro lado devia ser imensa, pois ficava a uma boa distância do laboratório fetal. Gray notou o nome na porta.
XERUM 525.
Ele e Marcia entreolharam-se.
Não era soro - disse Gray.
Xerum - leu Marcia, sacudindo a cabeça sem compreender.
Gray usou o cartão roubado. A luz verde acendeu-se, a tranca soltou-se e ele entrou. As luzes da sala tremeluziram. O ar ali tinha um cheiro vagamente corrosivo, com um traço de ozônio. O assoalho e as paredes eram escuros.
- Chumbo - disse Marcia, tocando as paredes.
Gray não gostou daquilo, porém tinha de saber mais. O espaço imenso parecia uma instalação para armazenagem de resíduos perigosos. Prateleiras estendiam-se sala adentro. Empilhados nelas estavam barris amarelos de aproximadamente quarenta litros cada com o número 525 estampado.
Gray se lembrou da preocupação com um agente para uso em guerra biológica. Ou será que os barris continham algum tipo de material físsil, lixo nuclear? Será que aquele era o motivo para o revestimento de chumbo da sala?
Marcia parecia pouco preocupada. Foi até as prateleiras. Cada ponto da prateleira tinha um rótulo que marcava cada barril.
- Albânia - ela leu, depois foi para o seguinte. - Argentina. Outros países eram mencionados, em ordem alfabética.
Gray olhou para as prateleiras de um extremo a outro. Devia haver pelo menos cem barris.
Marcia olhou para ele, que entendeu a súbita preocupação nos olhos dela.
Oh, não...
Gray avançou às pressas pela sala, examinando as prateleiras, parando aqui e ali para ler um rótulo: BÉLGICA... FINLÂNDIA... GRÉCIA...
Ele continuou.
Finalmente, chegou ao ponto que estava procurando. ESTADOS UNIDOS.
Ele se lembrou do que Marcia tinha ouvido por acaso, algo a respeito da cidade de Washington. Um possível ataque. Gray olhou para as fileiras de barris. Dados todos os lugares mencionados ali, não era apenas Washington que estava sob ameaça. Pelo menos, ainda não. Gray pensou na preocupação de Baldric com Painter, com a Sigma. Eles eram a ameaça mais imediata.
Para compensar, Baldric devia ter feito uma mudança no seu horário.
Acima do rótulo com o nome ESTADOS UNIDOS, a prateleira estava vazia.
O barril de Xerum 525 correspondente havia sido levado.
Hospital da Universidade Georgetown
Washington, D.C.
- ETA para MedSTAR? - perguntou o operador do rádio. Ele estava sentado diante do programa no monitor sensível ao toque do hospital, usando fones de ouvido sem fio.
O helicóptero respondeu com um estalido:
A caminho. Mais dois minutos.
A emergência está pedindo uma atualização.
Todos tinham ouvido falar do tiroteio na Embassy Row. Os protocolos de Segurança Interna tinham sido acionados. Telefonemas e alarmes soavam por toda a cidade. A confusão reinava no momento.
- O pessoal do departamento médico referiu-se imediatamente a dois. Dois dos deles. Cidadãos sul-africanos, entre eles o embaixador. Mas dois americanos também foram feridos.
Qual o estado deles?
Um morto... um em estado grave.
África do Sul
Fiona ouvia junto à entrada, a Taser na mão. Vozes aproximavam-se do primeiro andar. O terror a dominou. A reserva de adrenalina que a estivera sustentando nas últimas vinte e quatro horas estava chegando ao fim. Suas mãos tremiam, sua respiração permanecia superficial e rápida.
O guarda amordaçado e amarrado, o que a havia beliscado, estava estatelado no chão. Ela fora obrigada a dar outro choque nele quando o sujeito começou a gemer.
As vozes aproximaram-se do esconderijo dela.
Fiona ficou tensa.
Onde estava Gray? Já fazia quase uma hora que tinha saído.
Duas pessoas aproximaram-se da porta. Ela reconheceu uma das vozes: era a da cadela loura que havia cortado a palma de sua mão. Ischke Waalenberg. Ela e seu companheiro falavam holandês, mas Fiona era fluente no idioma.
-... cartões-chave - disse Ischke com raiva. - Devo ter perdido os meus quando caí.
Bem, querida zuster, agora você está em casa e segura.
Zuster. Irmã. Então eles eram irmãos.
Nós trocaremos os códigos por precaução - acrescentou ele.
E ninguém encontrou os dois americanos ou a garota?
- Dobramos a guarda de todos os limites da propriedade. Estamos confiantes em que eles ainda estejam por aqui. Vamos encontrá-los. E o grootvader vai ter uma surpresa.
- Que tipo de surpresa?
- A garantia de que ninguém sairá vivo da propriedade. Lembre-se de que ele colheu amostras do DNA deles quando chegaram aqui.
Ischke deu uma gargalhada que fez o sangue de Fiona gelar. As palavras começaram a ficar distantes.
- Venha. - A voz do irmão sumiu pouco a pouco na escada enquanto eles desciam para o andar principal. - O grootvader quer todos nós lá embaixo.
As vozes deles diminuíram até parar quase no pé da escada. Com o ouvido pressionado contra a porta, Fiona não conseguia entender mais nenhuma palavra, mas parecia uma discussão sobre algum assunto. Porém, ela escutara o bastante.
Ninguém sairá vivo da propriedade.
O que eles estavam planejando? A gargalhada glacial de Ischke, sombria e satisfeita, ecoava na cabeça de Fiona. O que quer que estivesse sendo tramado, eles pareciam seguros do resultado. Mas o que o DNA deles tinha a ver com isso?
Fiona sabia que só havia um jeito de descobrir. Ela não tinha idéia de quando Gray voltaria e receava que o tempo estivesse se esgotando para todos eles. Precisavam saber qual era o perigo... se quisessem evitá-lo.
E isso tinha apenas um significado.
Ela enfiou sua Taser no bolso e tirou o espanador. Girou o trinco da fechadura e destrancou a porta. Para aquela caçada, precisava de todas as habilidades aprendidas nas ruas. Abriu a porta e saiu de mansinho do quarto. Fazendo uma pausa, com as costas voltadas para a porta, fechou-a com o traseiro. Jamais se sentira tão só, tão completamente assustada. Reconsiderando, apoiou a mão na maçaneta. Fechou os olhos e ajeitou-se, oferecendo uma prece, não a Deus, mas a alguém que lhe ensinara que a coragem podia vir em várias formas, entre elas o sacrifício.
- Mutti... - suplicou ela.
Ela sentia falta de sua mãe adotiva, Grette Neal. Velhos segredos do passado tinham sido responsáveis pela morte da mulher, e agora novos segredos ameaçavam Fiona e os outros. A fim de acalentar qualquer esperança de sobrevivência, ela precisava ser tão corajosa e altruísta quanto Mutti.
As vozes afastaram-se escada abaixo.
Fiona aproximou-se, hesitante, com o espanador erguido para se defender. Ela observou com atenção por cima da sacada do primeiro patamar, o suficiente apenas para avistar as cabeças branco-alouradas dos gêmeos. E tornou a ouvir as palavras deles.
- Não deixe o grootvader esperando - disse o irmão.
Eu vou descer já, já. Só quero ver como está Skuld, ter certeza de que voltou ao canil dela. Ela estava bastante excitada, e receio que possa machucar a si mesma pela frustração.
O mesmo se pode dizer de você, minha doce zuster.
Fiona deu mais um passo à frente. O irmão tocou a face da irmã num gesto asquerosamente íntimo.
Ischke inclinou-se ao toque dele, depois se afastou.
- Não vou demorar.
O irmão acenou com a cabeça e dirigiu-se ao elevador principal.
- Vou informar o grootvader.
Ele apertou um botão e as portas se abriram.
Ischke seguiu numa direção diferente, para os fundos da mansão.
Fiona apressou-se a fim de segui-la. Ela segurou a laser no bolso. Se conseguisse pegar a cadela sozinha, fazê-la falar...
Descendo os degraus numa carreira, Fiona reduziu o passo quase no pé da escada, continuando num ritmo mais lento. Ischke seguia por um corredor que parecia cruzar o coração da mansão.
Fiona seguia a certa distância, cabisbaixa, o espanador envolto em seus braços como uma freira com uma Bíblia. Ela dava passos miúdos, uma criada tímida e insignificante. Ischke desceu cinco degraus, passando por duas sentinelas, e seguiu por outro corredor à esquerda.
Fiona aproximou-se dos dois guardas. Aumentou o passo, dando a impressão de uma criada atrasada para algum dever obscuro. Todavia, continuou profundamente curvada, meio escondida no uniforme de tamanho desproporcional.
Ela chegou à curta escada.
Os guardas a ignoraram, sem dúvida comportando-se muito bem depois que a senhora da casa passara por eles. Fiona desceu aos pulos os cinco degraus. Ao chegar ao corredor inferior, percebeu que estava vazio.
Ela parou.
Ischke desaparecera.
Um misto de alívio e de terror a inundou em partes iguais. Será que devo voltar para o quarto e esperar pelo melhor? Ela se lembrou da gargalhada fria de Ischke. Então a voz da mulher explodiu num berro agudo, próximo, vindo das portas duplas decorativas de ferro e vidro à direita.
Algo havia irritado a cadela.
Fiona avançou às pressas e ficou ouvindo junto à porta.
- A carne deve estar ensangüentada! Fresca! - gritou Ischke. - Ou vou te colocar lá dentro com ela.
Alguém sussurrou um pedido de desculpas e afastou-se, correndo.
Fiona inclinou-se para mais perto, encostando o ouvido no vidro.
Um erro.
A porta foi empurrada, acertando a lateral de sua cabeça. Ischke moveu-se de maneira enraivecida e violenta, chocando-se diretamente com Fiona. A mulher praguejou e a empurrou com o cotovelo.
Fiona reagiu de modo instintivo, recorrendo a velhas habilidades. Ela desvencilhou-se e amontoou-se numa bola, apoiando-se num joelho, encolhida. Não foi preciso representar muito.
Preste atenção para onde você está indo! - enfureceu-se Ischke.
Ja, maitresse - disse servilmente, curvando-se ainda mais.
Saia da minha frente!
Fiona entrou em pânico. Aonde ela deveria ir? Como encontrara Fiona junto à porta, Ischke poderia se perguntar o que ela estava fazendo agachada ali. O corpo da mulher ainda mantinha a porta aberta. Fiona encontrou uma saída: passando curvada pela porta aberta, ela saiu da frente de Ischke.
A garota estendeu a mão para a Taser escondida, mas levou um instante para soltar o que havia acabado de roubar do bolso do suéter da gêmea Waalenberg. Não fora sua intenção roubar aquilo, agira apenas por reflexo. Fora estupidez. Agora o atraso lhe custava tudo. Antes que ela pudesse pegar a Taser, Ischke praguejou e afastou-se a passos largos. A pesada porta de ferro e vidro fechou-se com um estrondo.
Fiona agachou-se, amaldiçoando a si mesma. E agora? Ela teria de esperar um pouco para sair. Seria muito suspeito se fosse flagrada no rastro de Ischke de novo. Além do mais, sabia aonde a mulher tinha ido: de volta ao elevador. Infelizmente não conhecia a casa bem o bastante para seguir por outro caminho até o saguão principal e tentar uma emboscada.
Lágrimas ameaçaram brotar, numa mistura de medo e frustração.
Ela havia atrapalhado tudo.
Desesperada, notou, afinal, a câmara adiante. Estava intensamente iluminada, com a luz natural do sol penetrando através de um teto geodésico de vidro. Era algum tipo de pátio interno circular. Palmeiras imensas erguiam-se do piso central, e suas copas subiam em direção ao teto. Em toda volta, colunatas maciças sustentavam o teto alto e formavam profundas galerias ao redor da câmara. Três corredores majestosos, em arco e tão altos quanto o pátio central, ramificavam-se como capelas da nave de uma igreja, formando uma cruz.
Mas aquele saguão não era um local de culto.
Primeiro sentiu o cheiro: almiscarado, fétido, o odor desagradável de uma capela mortuária. Gritos e uivos ecoavam pelo espaço imenso. A curiosidade a impeliu a dar um passo à frente. Três degraus conduziam ao piso principal, sem empregados no momento. O homem que ela tinha ouvido fugir após a repreensão por Ischke não era visto em lugar nenhum.
De onde estava, ela esquadrinhou a câmara.
Em cada uma das profundas galerias ao redor da extremidade do gigantesco pátio havia jaulas enormes, lacradas na frente por grades de ferro e vidro, como a porta de entrada. Por trás das grades, ela avistou formas maciças, algumas enroscadas, dormindo calmamente, outras andando de um lado para o outro, uma de cócoras sobre uma cabeça de fêmur, roendo. Eram as hienas gigantes.
Mas isso não era tudo.
Em outras jaulas, avistou mais monstruosidades. Um gorila estava sentado taciturno próximo à frente de uma jaula, olhando diretamente para Fiona com uma inteligência enervante. Pior ainda, algum tipo de mutação havia deixado a fera sem pêlo. Pele enrugada como a de um elefante pendia de seu corpo.
Em outra jaula, um leão andava de um lado para o outro. Ele tinha pêlo, porém descolorido e de crescimento irregular, e, no momento, sujo de fezes e sangue coagulado. Ele arfou, os olhos avermelhados. Suas presas eram proeminentes, longas e afiadas, encurvadas como foices.
Por toda a parte havia formas distorcidas: um antílope listrado com chifres espiralados, dois chacais esqueléticos e altos, um javali-africano albino com uma couraça como a de um tatu. Horripilante e triste ao mesmo tempo. Os chacais que ocupavam a mesma jaula gemiam de dor e ganiam, moviam-se rigidamente, aleijados.
No entanto, a pena pouco contribuía para reprimir o terror de ver as hienas gigantes. Os olhos dela fixaram-se na que estava roendo o fêmur de algum animal de grande porte. Búfalo-do-rio ou gnu. Um pouco de carne e de pêlo escuro ainda esperava ser arrancado do osso a dentadas. Fiona não conseguiu deixar de imaginar que poderia ter sido ela. Se Gray não a tivesse salvado...
Ela estremeceu.
Retesando suas possantes mandíbulas, a hiena gigante rachou o fêmur, quebrando-o com o ruído de um tiro.
Fiona teve um sobressalto, tornando a despertar.
Ela voltou em direção à porta, pois já havia esperado por bastante tempo. Com o fracasso de sua missão, pretendia voltar sorrateira a seu esconderijo, com o rabo entre as pernas.
Ela segurou a porta e a puxou.
Trancada.
Gray olhou fixamente para a fileira de pesadas alavancas de aço, o coração pulsando na garganta. Ele havia demorado muito para encontrar os principais comutadores de controle do painel de circuitos elétricos. Podia sentir a energia fluir através do cabo gigantesco na sala, uma força eletromagnética sentida na base do pescoço.
Já havia perdido tempo demais.
Depois de descobrir que faltava um dos barris de Xerum 525, um destinado aos Estados Unidos, a urgência deixou Gray profundamente angustiado. Ele desistira de qualquer tentativa de explorar os demais andares subterrâneos. Naquele exato momento, era mais importante prevenir Washington.
Marcia lhe dissera que tinha visto um rádio de emergência de ondas curtas no setor de segurança enquanto era tirada de sua cela. Ela sabia para quem telefonar, para sua parceira, a dra. Paula Kane, que poderia transmitir o aviso adiante. No entanto, ambos sabiam que tentar alcançar o rádio era provavelmente uma missão suicida. Mas que opção eles tinham?
Pelo menos, Fiona estava escondida em um lugar seguro.
O que o senhor está esperando? - perguntou Marcia. Ela havia cortado a tipóia e vestido um guarda-pó de laboratório tirado de um dos armários de armazenagem. No escuro, poderia passar por uma das pesquisadoras do laboratório.
Marcia estava em pé atrás dele, segurando uma lanterna de emergência.
Gray ergueu uma das mãos para a primeira alavanca.
Eles já haviam localizado a escada de incêndio que levava aos andares subterrâneos. A escada devia conduzir de volta à mansão. Mas para saírem e chegarem ao setor de segurança, eles precisavam de um recurso adicional de distração, de segurança extra.
A resposta viera alguns momentos antes. Gray estava encostado em uma das portas do corredor e notou a vibração e o zumbido da casa de força daquele andar. Se conseguissem danificar o painel principal - criar mais caos, talvez cegar seus captores por algum tempo -, eles teriam uma melhor chance de chegar até o rádio.
- A senhora está pronta? - perguntou Gray.
Marcia ligou a lanterna. Ela o olhou nos olhos, respirou fundo e acenou com a cabeça.
Vamos lá.
Apaguem-se as luzes - disse Gray, e puxou a primeira alavanca.
Depois a outra, e a outra.
Fiona observou as lâmpadas ao redor do pátio tremeluzirem e apagarem-se.
Oh, meu Deus...
Ela estava no meio do pátio, perto de um pequeno chafariz. Poucos momentos antes, havia saído de mansinho de perto da porta principal, trancada, e cruzado bem devagar metade do pátio central. Estava procurando outra saída. Decerto devia existir uma.
Agora ela estava paralisada de medo.
Um silêncio momentâneo espalhou-se pelo pátio, como se os animais sentissem alguma mudança primária, uma perda do perpétuo zumbido subsônico do poder. Ou talvez fosse apenas uma sensação de poder passando para eles.
Uma porta abriu-se com um estalo atrás dela.
Fiona virou-se lentamente.
Uma das jaulas de ferro e vidro se abriu, empurrada pelo focinho de uma das hienas gigantes. O blecaute havia desmagnetizado as trancas. A fera saiu furtivamente da jaula. Sangue pingava de seu focinho. Era a que estivera roendo o fêmur. Ela emitiu um rosnado baixo.
Em algum lugar atrás dela, Fiona ouviu um ganido parecido com uma gargalhada, como se os predadores se comunicassem de maneira silenciosa através do pátio. As dobradiças de ferro rangeram em outras portas.
Fiona permaneceu imóvel junto ao chafariz. Até a bomba-d’água havia parado de funcionar, silenciando as águas, como que temerosa de chamar a atenção para si mesma.
Em alguma parte das capelas laterais em arco, um grito nítido ecoou. Um grito humano. Fiona imaginou que fosse o zelador dos animais, a quem Ischke havia repreendido. Parecia que as criaturas sob os cuidados dele afinal obteriam sua refeição ensangüentada. Passos seguiram na direção dela. Então um novo grito irrompeu, atormentado e distorcido em meio a uma algazarra de ganidos e gritos.
Fiona fechou os ouvidos ao último grito, seguido pelo som de algum animal comendo.
Toda a sua atenção estava concentrada na primeira fera que havia escapado.
A hiena com o focinho ensangüentado aproximou-se. Fiona reconheceu a criatura pela sombra das manchas em seu flanco, mal discerníveis, branco sobre branco. Era a mesma fera da selva.
O animal de estimação de Ischke.
Skuld.
Sua refeição enjaulada lhe fora negada antes.
Mas não mais.
- Nos ajude... bitte! - disse Gunther, ao entrar correndo na cabana, seguido pelo major Brooks.
Lisa levantou-se, baixando o estetoscópio do tórax de Painter. Ela estava monitorando um sopro sistólico. Somente na metade do último dia, um sopro com pico precoce havia evoluído para um sopro com pico tardio, indicando uma estenose de progressão rápida da válvula aórtica. Uma angina branda havia piorado para ataques de síncope, acompanhados por desmaios caso Painter se extenuasse. Ela jamais vira uma degeneração tão rápida, e suspeitava de calcificação em volta da válvula cardíaca. Esses estranhos depósitos mineralizados tinham começado a aparecer no corpo inteiro dele, mesmo nos fluidos de seus olhos.
Deitado de costas, Painter ergueu-se com um estremecimento até ficar apoiado nos cotovelos.
- Qual o problema? - indagou a Gunther.
O major Brooks respondeu com sotaque sulista arrastado cheio de preocupação.
- É a irmã dele, senhor. Está tendo algum tipo de ataque... uma convulsão. Lisa pegou o kit médico. Painter tentou levantar-se, mas teve de ser ajudado por Lisa na segunda tentativa.
Fique aqui - ela o advertiu.
Eu posso me virar - respondeu ele, mostrando sua irritação.
Lisa não tinha tempo para discutir. Ela soltou o braço dele, que oscilou, e correu até Gunther.
- Vamos.
Brooks esperou, sem saber se deveria seguir Lisa e Gunther ou ajudar Painter.
Painter acenou para que o major saísse e foi mancando atrás deles.
Lisa saiu correndo da cabana em direção à outra ao lado. O calor do dia a atingiu como se ela estivesse entrando em um forno. O ar estava parado, queimava, era impossível respirar. O sol cegava. Mas em um instante Lisa mergulhou na escuridão mais fresca da cabana ao lado.
Anna estava deitada em uma esteira de palha, meio de lado, o corpo arqueado, os músculos contraídos. Lisa correu até ela. Como já havia colocado um cateter intravenoso no antebraço dela - e no de Painter também -, era mais fácil administrar medicamentos e líquidos.
Lisa abaixou-se rapidamente, apoiando-se num joelho, pegou uma seringa já preparada com diazepam e aplicou a dose inteira num único bolo intravenoso. Em poucos segundos, Anna relaxou, voltando a baixar no chão. Os olhos dela tremularam e abriram-se, e a consciência voltou, grogue, porém atenta.
Painter chegou. Monk apareceu atrás dele.
Como ela está? - perguntou Painter.
Como você acha que ela está? - perguntou Lisa, irritada.
Gunther ajudou a irmã a sentar-se. O rosto dela estava cinzento e banhado de suor. Painter estava fadado a passar pela mesma experiência na próxima hora.
Apesar de ambos terem sido expostos, o corpo mais volumoso de Painter parecia mantê-lo um pouco mais bem-disposto. Mas a sobrevivência deles estava reduzida a horas.
Lisa olhou para o raio de sol que entrava no aposento por intermédio de uma greta na janela. O crepúsculo ainda estava longe.
Monk falou no silêncio angustiante.
- Conversei com Khamisi. Ele me disse que as luzes na maldita mansão acabaram de se apagar. - Ele exibiu um sorriso hesitante, inseguro se alguma boa notícia seria bem-vinda. - Acho que foi obra de Gray.
Painter franziu as sobrancelhas. Era sua única expressão ultimamente.
- Nós não sabemos se foi.
E não sabemos se não foi. - Monk passou uma das mãos pelo alto da cabeça raspada. - Senhor, acho que nós devemos pensar em mudar o horário. Khamisi disse...
Khamisi não está no comando desta missão - disse Painter, tossindo asperamente.
Monk olhou para Lisa. Os dois tinham conversado em particular vinte minutos antes. Foi um dos motivos por que Monk havia telefonado para Khamisi. Certas oportunidades tinham de ser aproveitadas. Monk acenou com a cabeça para ela.
Ela tirou uma segunda seringa do bolso e aproximou-se de Painter.
- Me deixe lavar seu cateter - disse Lisa. - Há sangue nele.
Painter levantou o braço trêmulo.
Lisa apoiou o pulso dele e injetou a dose. Monk veio para o lado de Painter e o segurou quando as pernas desabaram embaixo dele.
- O que...?
A cabeça de Painter inclinou-se para trás.
Monk o apoiou com os ombros.
- É para o seu bem, senhor.
Painter franziu a testa para Lisa. Seu outro braço moveu-se na direção dela - se para golpeá-la ou para expressar algum choque pela traição dela, Lisa duvidava que ele soubesse. O sedativo o deixou inconsciente.
O major Brooks assistia boquiaberto.
Monk deu de ombros para o oficial da Força Aérea.
- O senhor nunca viu um motim antes?
Brooks recuperou o controle.
- Tudo o que posso dizer, senhor... é que está mais do que na hora.
Monk fez um aceno de cabeça.
- Khamisi está a caminho daqui com o pacote. Unidade de transmissão de explosivos em três minutos. Ele e a dra. Kane vão assumir o apoio no solo aqui.
Lisa virou-se para Gunther.
- Você pode carregar sua irmã?
Como prova, ele a segurou e levantou-se.
O que todos vocês estão fazendo? - perguntou ela com a voz fraca.
Vocês dois não vão resistir até o anoitecer - disse Lisa. - Vamos tentar chegar até o Sino.
Como...?
Não esquente essa sua linda cabecinha - disse Monk, e saiu apoiando Painter com dificuldade, ajudado pelo major Brooks. - Nós vamos fazer isso em segredo.
Mais uma vez Monk e Lisa entreolharam-se, e ela interpretou a expressão dele.
Talvez já fosse tarde demais.
Gray subiu a escada na frente, com a pistola na mão. Ele e Mareia moviam-se o mais silenciosamente possível. Ela cobria a lâmpada da lanterna com a palma de uma das mãos, reduzindo a iluminação ao mínimo - apenas o suficiente para eles verem aonde estavam indo. Com os elevadores parados, ele receava deparar com um guarda perdido na escada.
Embora estivesse disfarçado como um guarda que conduzia uma pesquisadora para fora do porão escuro, ele ainda preferia evitar confrontos desnecessários.
Eles passaram pelo sexto andar subterrâneo, escuro como o outro abaixo.
Gray prosseguiu, aumentando o ritmo, contrapondo a cautela ao medo de que geradores de reserva começassem a funcionar a qualquer momento. Quando chegaram ao patamar seguinte, um brilho surgiu à frente.
Erguendo uma das mãos, ele deteve Marcia, que vinha logo atrás.
A luz não se moveu, permaneceu fixa.
Não era um guarda fazendo a ronda. Talvez fosse uma lâmpada de emergência.
No entanto...
- Fique aqui - sussurrou para Marcia.
Ela acenou com a cabeça.
Gray seguiu em frente, a pistola erguida e engatilhada. Subiu os degraus. No patamar seguinte, a luz vazava de uma porta semi-aberta. Quando se aproximou, Ele ouviu vozes. Na parte mais alta da escada, estava tudo escuro. Então, por que havia luz e energia ali? Aquele andar devia ter um circuito separado.
Vozes ecoaram pelo corredor.
Vozes familiares: Isaak e Baldric.
Eles estavam fora da visão direta, ocultos no fundo da sala. Gray olhou para baixo e viu o rosto de Mareia delineado à luz que inundava a escada. Ele acenou para que ela subisse até ali.
Ela também ouviu as vozes.
Isaak e Baldric pareciam despreocupados com a falta de eletricidade. Com energia ali, será que eles ao menos sabiam que o resto da mansão estava às escuras? Gray conteve a curiosidade. Ele tinha de avisar Washington.
Palavras chegaram até ele.
- O Sino vai matá-los, todos - disse Baldric.
Gray fez uma pausa. Será que eles estavam conversando sobre Washington? Em caso positivo, quais deveriam ser os planos deles? Se ele soubesse mais...
Ergueu dois dedos para Marcia. Dois minutos. Se não voltasse, ela deveria continuar sozinha. Deixou a segunda pistola com ela. Se pudesse ver esse Sino, isso poderia ser a diferença entre salvar vidas e perdê-las.
Voltou a erguer os dois dedos.
Marcia confirmou com um gesto. As coisas dependeriam dela se Gray fosse pego.
Ele comprimiu-se na abertura, sem mover a porta, receoso de que um rangido das dobradiças alertasse os dois ali dentro. O mesmo corredor cinza iluminado por lâmpadas fluorescentes estendia-se à frente. Mas ele terminava logo adiante, num conjunto de portas de aço duplas, em frente ao lugar onde o elevador escuro se abria naquele andar.
Uma das portas duplas estava aberta.
Gray moveu-se depressa, equilibrando-se nos calcanhares. Chegou às portas e manteve-se junto à parede. Abaixou-se, apoiando-se num joelho, e perscrutou além da extremidade da porta.
A câmara além tinha o pé-direito baixo, mas era imensa, abrangia todo aquele andar subterrâneo. Ali estava o coração do laboratório. Um conjunto de computadores preenchia uma parede. Os monitores brilhavam com números e códigos enfileirados. Os computadores provavelmente eram alimentados pelo circuito separado, um fornecimento de energia só para o laboratório.
Os ocupantes da sala, tão concentrados em sua tarefa, não haviam percebido a falta de energia nos demais ambientes. Porém, eles decerto seriam alertados a qualquer minuto.
Baldric e Isaak, avô e neto, estavam debruçados sobre uma estação de trabalho. Na parede, um monitor com tela plana de trinta polegadas fazia brilhar rapidamente uma série de runas, uma após a outra. Eram as cinco runas dos livros de Hugo.
O código ainda não foi decifrado - disse Isaak. - É prudente prosseguirmos com o programa do Sino em todo o mundo apesar de não termos solucionado este enigma?
Ele será solucionado! - Baldric esmurrou a mesa. - É apenas uma questão de tempo. Além disso, estamos bastante próximos da perfeição. Como no seu caso e da sua irmã. Vocês viverão por muito tempo, 50 anos. A deterioração só irá enfraquecê-los na última década de vida. É hora de seguirmos em frente.
Isaak pareceu pouco convencido.
Baldric endireitou-se. Ergueu um braço e o moveu na direção do teto.
- Veja o que os atrasos causaram. Nossa tentativa de distrair a atenção internacional para o Himalaia foi contraproducente.
- Porque nós subestimamos Anna Sporrenberg.
E a Sigma - acrescentou Baldric. - Mas não importa. Governos agora estão nos monitorando de perto. O ouro só nos dará proteção. Nós temos de agir agora. Primeiro Washington, depois o mundo. E nesse caos haverá muito tempo para decifrarmos o código. A perfeição será nossa.
E fora da África surgirá um novo mundo - disse Isaak mecanicamente, como se fosse uma oração incutida nele ainda muito jovem, cimentada em seu código genético.
Puro e livre de degradação - acrescentou Baldric, mas suas palavras eram igualmente destituídas de entusiasmo. Era como se tudo aquilo não passasse de outra etapa em seu programa de reprodução, um exercício científico.
Baldric cambaleou e, apoiando-se em sua bengala, ficou mais ereto. Gray notou como o homem na verdade parecia enfraquecido, sem mais ninguém por perto a não ser o neto. Gray se perguntou se a antecipação do horário não fora estimulada mais pelo iminente fim do próprio Baldric do que por qualquer necessidade real. Será que todos eles eram peões involuntários do desejo do velho de levar adiante seu plano? Será que ele havia orquestrado este panorama de propósito - consciente ou inconscientemente - para justificar o fato de agir agora, durante sua vida?
Isaak voltou a falar. Ele havia mudado para outra estação de trabalho.
- Nós temos luzes verdes no painel. O Sino está carregado de energia e pronto para ser ativado. Agora poderemos livrar a propriedade dos prisioneiros fugitivos.
Gray ficou rígido. O que significava aquilo?
Baldric virou as costas para o código rúnico que brilhava e voltou o olhar para o centro da sala.
- Prepare-se para a ativação.
Gray mudou de posição a fim de ver mais dentro da sala.
No centro havia um invólucro enorme, feito de algum tipo de cerâmica ou composto metálico. Tinha a forma de um sino aprumado e a altura de Gray. Ele duvidou se seria capaz de envolver com os braços metade de sua circunferência.
Motores soavam, movendo-se ruidosamente e ecoando, e uma luva interna de metal descia do teto, envolta por um mecanismo cheio de engrenagens. Ela desceu até o invólucro externo maior. Ao mesmo tempo, a gaxeta de um tanque amarelo se abriu ao lado e um fluxo de líquido metálico apurpurado escorreu para o coração do Sino.
Lubrificante? Fonte de energia?
Gray não tinha a menor idéia, mas notou os números estampados na lateral do tanque: 525. Era o misterioso Xerum.
- Erga o escudo protetor contra explosões - ordenou Baldric. Ele tinha de gritar para ser ouvido acima das engrenagens estridentes do motor. Apontou para o chão com a bengala.
Aquele andar era revestido pelo mesmo ladrilho cinza, com a exceção de uma área circular de um preto fosco em volta do Sino, a cerca de trinta metros. Ela era circundada por uma borda elevada, com trinta centímetros de altura, como o picadeiro de um circo. O teto era um espelho do chão, porém tinha uma borda endentada.
Tudo era de chumbo.
Gray se deu conta de que o aro externo no chão devia erguer-se sobre pistões e penetrar no teto, formando um cilindro inteiro, fechado em torno do Sino.
- O que há de errado? - gritou Baldric de novo, dirigindo-se a Isaak em sua estação de trabalho.
Isaak moveu um comutador alternado para a frente e para trás.
- Não temos energia para os motores do escudo protetor!
Gray olhou para o chão. Os motores deviam estar no andar de baixo, no andar às escuras. Um telefone tocou na sala, estridente, competindo com os motores. Gray pôde imaginar quem estava telefonando. A segurança, afinal, havia descoberto onde os donos da casa estavam escondidos.
Era hora de sair dali.
Gray ergueu-se e virou-se.
Um cano vibrou e atingiu seu pulso, arrancando a pistola de sua mão. O agressor tentou acertar sua cabeça, e ele mal teve tempo de se abaixar.
Ischke veio na direção dele. Atrás dela, as portas do elevador escuro estavam abertas, forçadas com uma alavanca. A mulher devia ter ficado presa no elevador pela falta de energia e depois descido até ali. O barulho dos motores do Sino impedira Gray de ouvir as portas sendo abertas atrás dele.
Ischke ergueu o cano, sem dúvida hábil na arte de luta com bastão.
Gray fixou os olhos nela e recuou para dentro da câmara do Sino. Ele recusava-se a olhar para a escada de incêndio. Rezou para que Marcia já houvesse partido, para que ela estivesse a caminho do rádio de ondas curtas a fim de soar o alarme em Washington.
Com as roupas manchadas de óleo e o rosto sujo, Ischke seguiu Gray para o interior da câmara do Sino.
- Wat is dit? - Baldric falou atrás de Gray. - Parece que a pequena Ischke pegou na ratoeira o camundongo que roeu os fios.
Gray virou-se.
Desarmado. Sem opções.
- Os geradores estão voltando a funcionar - disse Isaak, entediado, sem se impressionar com a intrusão.
O rangido de motores retumbava sob os pés de Gray. O escudo protetor começou a erguer-se do chão.
- Agora vamos exterminar os outros ratos - disse Baldric.
Monk gritou para que pudesse ser ouvido acima dos rotores do helicóptero. Areia e poeira turbilhonavam ao redor deles na agitação no ar causada pelo giro dos rotores.
- Você sabe fazer este pássaro voar?
Gunther acenou com a cabeça, segurando o manche do helicóptero.
Monk deu um tapinha no ombro do homenzarrão. Teria de confiar no nazista. Monk não poderia pilotar o helicóptero, não com apenas uma das mãos. Todavia, com a dedicação do gigante agora centrada na sobrevivência da irmã, ele achou que seria seguro.
Anna estava sentada na traseira com Lisa. Painter afundou-se entre elas, a cabeça pendendo. Ele só havia sido levemente sedado, e de vez em quando murmurava palavras sem sentido, avisando sobre alguma tempestade de areia iminente, perdido em medos passados.
Abaixando a cabeça sob as hélices, Monk contornou o helicóptero. No outro lado, Khamisi estava em pé junto a Mosi D'Gana, o chefe zulu. Eles seguraram o antebraço um do outro.
Mosi havia tirado seu traje cerimonial e agora usava uniforme caqui de camuflagem e boné, e trazia um rifle automático pendurado num ombro. Uma pistola no coldre pendia de um cinto preto. Mas ele não havia abandonado sua herança por completo. Uma lança curta com uma lâmina afiada estava presa por uma correia às suas costas.
- O comando é seu - disse Mosi formalmente a Khamisi quando Monk se aproximou.
- É uma honra para mim, senhor.
Mosi fez um aceno de cabeça e soltou o braço de Khamisi.
- Eu ouvi boas coisas a seu respeito, Garoto Gordo.
Monk juntou-se a eles. Garoto Gordo?
Os olhos de Khamisi ficaram arregalados, um misto de vergonha e honra brilhando neles. Ele retribuiu o aceno de cabeça e afastou-se. Mosi embarcou no helicóptero. Ele integraria o primeiro grupo de assalto. Monk não teve escolha, devia isso ao chefe zulu.
Khamisi foi até Paula Kane. Os dois coordenariam o ataque no solo.
Monk examinou além da coluna turbilhonante de areia e poeira. As forças haviam se reunido com rapidez, chegando a pé, a cavalo, em motocicletas enferrujadas e em caminhões em péssimo estado. Mosi havia espalhado a notícia. E, a exemplo de seu grande antepassado Shaka Zulu, reuniu um exército. Homens e mulheres usando peles tradicionais, uniformes camuflados gastos e Levi's. E mais ainda estavam chegando.
Caberia a eles manter ocupado o exército dos Waalenberg, bloquear a propriedade se possível. Como os zulus se sairiam contra as forças de segurança da propriedade, mais bem armadas e mais experientes? Seria um novo Rio de Sangue?
Só havia um modo de descobrir.
Monk entrou no compartimento traseiro lotado. Mosi acomodou-se em um assento ao lado do major Brooks. Eles estavam sentados no banco de frente para Anna, Lisa e Painter. Outro recém-chegado, um guerreiro zulu seminu chamado Tau, também estava sentado na traseira, com o cinto de segurança afivelado. Ele girou um pouco o corpo para manter uma lança curta pressionada contra a garganta do co-piloto do helicóptero.
Amarrado e amordaçado, com um dos olhos inchado e roxo, o guarda-caça-chefe Gerald Kellogg estava sentado ao lado de Gunther.
Monk deu um tapinha no ombro de Gunther e acenou com um dedo para que levantasse vôo. Com um aceno de cabeça de reconhecimento, Gunther puxou para cima a alavanca, e o helicóptero ergueu-se no ar com um rugido dos motores.
O solo foi se distanciando. A propriedade estendeu-se diante deles. Monk fora informado de que a propriedade estava equipada com mísseis superfície-ar. Sem armas, o lento helicóptero comercial seria um alvo aéreo.
Isso não seria nada bom.
Monk inclinou-se para a frente.
- É hora de você fazer algo para ganhar a vida, guarda-caça.
Monk deu um sorriso malicioso. Ele sabia que não era um ponto de vista agradável, mas vinha a calhar agora.
Kellogg empalideceu.
Satisfeito, Monk estendeu a mão para a frente e ergueu o bocal do rádio até os lábios do guarda-caça.
- Nos ponha em contato com a faixa da segurança.
Khamisi já havia obtido os códigos, daí o olho roxo de Kellogg.
- Atenha-se ao roteiro - advertiu Monk, ainda sorrindo.
Kellogg inclinou-se um pouco mais para frente.
Será que seu sorriso era mesmo tão apavorante?
Para reforçar a ameaça, Tau pressionou a ponta de sua lança contra a carne macia do pescoço do homem.
A estática do rádio cessou, e Kellogg transmitiu a mensagem conforme fora instruído.
- Nós recapturamos um dos prisioneiros de vocês - disse o guarda-caça à segurança na base. - Monk Kokkalis. Nós o estamos transportando até o heliporto no terraço.
Gunther monitorou a resposta da segurança através de seus fones de ouvido.
Recebido e entendido. Câmbio final - disse Kellogg.
Gunther gritou um pouco.
Recebemos sinal verde. Lá vamos nós.
Ele moveu o helicóptero para a frente e seguiu a toda velocidade rumo à propriedade. Adiante, a mansão surgiu à vista. Ela parecia ainda maior vista do ar.
Girando o corpo e acomodando-se em seu assento, Monk encarou Lisa. Ao lado dela, Anna estava encostada na janela, os olhos fechados com força por causa da dor. Painter estava preso em correias e gemia. O efeito do sedativo estava passando.
Lisa o ajudou a acomodar-se de novo no assento.
Monk notou que ela segurava a mão de Painter - e a havia segurado o tempo todo.
O rosto dela encontrou o de Monk.
O medo brilhava intensamente nos olhos dela.
Mas não por si mesma.
A antena de transmissão está erguida? - perguntou Baldric. Isaak acenou com a cabeça em seu console.
Prepare o Sino para a ativação. Baldric virou-se para Gray.
- Nós introduzimos os códigos genéticos de seus companheiros no Sino. Ele modificará sua saída para desnaturar e destruir seletivamente qualquer DNA que corresponda, mas permanecerá inofensivo a todos os outros. Nossa versão de um recurso final.
Gray imaginou Fiona escondida lá em cima, no quarto. E Monk estava vindo de helicóptero para a propriedade naquele exato momento.
Não há necessidade de matá-los - disse Gray. - O senhor recapturou meu parceiro. Deixe os outros em paz.
Se eu não aprendi nada nestes últimos dias, aprendi que é melhor não deixar questões não resolvidas.
Baldric fez um aceno de cabeça para Isaak.
Ative o Sino.
Espere! - gritou Gray, dando um passo à frente.
Ischke havia pegado a pistola dele, e o advertiu para que recuasse, apontando-a para ele.
Baldric olhou para trás, chateado e impaciente.
Gray tinha apenas mais uma cartada.
- Eu sei como decifrar o código de Hugo.
A surpresa suavizou o ar carrancudo de Baldric. Ele ergueu uma das mãos na direção de Isaak, para que ele esperasse.
- Sabe? Você pode ter êxito quando uma série de supercomputadores até agora fracassou?
A dúvida soava na voz do homem.
Gray sabia que tinha de oferecer a Baldric alguma coisa, qualquer coisa, para impedi-lo de ligar o Sino e irradiar seus amigos. Ele apontou para o monitor, que exibia as runas repetidamente, de maneira cíclica. O computador as embaralhava e procurava uma combinação que proporcionasse algum criptograma mnemônico.
O senhor vai fracassar por conta própria - prometeu Gray.
E eu posso saber por quê?
Amedrontado, Gray lambeu os lábios secos, mas tinha de permanecer concentrado. Tinha certeza de que o computador fracassaria porque ele já havia solucionado o enigma das runas. Não entendia a resposta, mas sabia que estava certo, sobretudo levando em consideração a herança judaica de Hugo Hirszfeld.
Porém, quanto poderia revelar? Ele tinha de barganhar usando o máximo de sua habilidade, equilibrando-se entre a verdade e a resposta.
- O senhor tem a runa errada da Bíblia de Darwin - disse Gray honestamente. - E são seis runas, não apenas cinco.
Baldric suspirou. A descrença aprofundou as rugas em volta de sua boca.
Como a roda solar que você desenhou antes, eu suponho.
Ele voltou-se para Isaak.
Não! - Gray gritou com firmeza. - Me deixe mostrar ao senhor!
Ele olhou ao redor e avistou uma caneta hidrográfica de ponta grossa sobre uma das estações de computadores. Apontou e acenou a fim de que a jogassem para ele.
- Me passe aquilo.
Com as sobrancelhas contraídas, Baldric acenou com a cabeça para Isaak.
A caneta foi jogada para ele.
Gray a pegou e ajoelhou-se no chão. Escreveu no piso de linóleo cinza com a caneta preta.
- A runa da Bíblia de Darwin. Desenhou um símbolo.
- A runa Mensch - disse Baldric. Gray bateu de leve nela.
- Ela representa a condição mais elevada do homem, o plano divino oculto em todos nós, nosso eu perfeito.
- E daí?
- Essa era a meta de Hugo, o resultado final procurado. Certo? Baldric acenou lentamente com a cabeça.
- Hugo não incorporaria o resultado no seu código, que conduz a isto. - Ele bateu com mais força na runa. - E isto não faz parte do seu código.
A compreensão surgiu aos poucos... assim como a crença do velho nele.
- As outras runas na Bíblia de Darwin...
Gray desenhou no assoalho, ilustrando seu ponto de vista.
- Estas duas runas formam a terceira. - Ele fez um círculo ao redor das duas runas bifurcadas. - Elas representam a humanidade no que ela tem de mais básico, aquilo que leva ao estado mais elevado. Assim, estas duas runas é que devem ser incorporadas ao código.
Gray escreveu a série de runas original.
- Esta é a seqüência errada.
Ele as riscou e inscreveu a série correta, dividindo a última runa.
Baldric aproximou-se.
E esta é a série correta? A que deve ser decifrada?
Gray respondeu honestamente.
Sim.
Baldric acenou com a cabeça, os olhos apertados enquanto refletia sobre aquela revelação.
Acho que o senhor está certo, comandante Pierce.
Gray levantou-se.
Dank u - disse Baldric e virou-se para Isaak. - Ative o Sino. Mate os amigos dele.
Lisa ajudou a erguer Painter a fim de tirá-lo do helicóptero quando os rotores pararam de girar. O guerreiro zulu Tau apoiou com o ombro o outro lado dele. O sedativo que ela tinha dado a Painter era de curta ação, e seu efeito passaria em mais alguns minutos.
Gunther apoiava Anna, cujos olhos estavam vítreos. A mulher havia aplicado em si mesma outra injeção entorpecedora de morfina. Mas começara a escarrar sangue.
À frente deles, Monk e Mosi D'Gana estavam em pé junto aos cadáveres de três guardas do heliporto. A segurança havia sido pega desprevenida, pois esperava receber um prisioneiro. Fora necessária apenas uma breve descarga de duas pistolas equipadas com silenciadores para eles tomarem o heliporto.
Monk trocou de lugar com Tau.
- Fique aqui e vigie o helicóptero. Fique de olho no prisioneiro.
O guarda-caça Kellogg havia sido tirado do helicóptero e jogado no teto. Estava amordaçado, com as mãos algemadas atrás das costas e os tornozelos amarrados. Não iria a lugar algum.
Monk acenou para que o major Brooks e Mosi D'Gana assumissem a liderança. Todos haviam revisto os diagramas da casa que Paula Kane lhes fornecera e calculado o melhor trajeto para os andares subterrâneos. Era um longo caminho a percorrer. O heliporto estava situado próximo aos fundos da mansão.
Brooks e Mosi os guiaram em direção à porta do terraço que dava para a mansão, os fuzis automáticos mantidos no ombro. Os dois moviam-se como se já tivessem trabalhado juntos antes, em sincronia, com eficiência. Gunther também carregava uma pistola na mão e um rifle automático de cano curto pendurado atravessado nas costas. Repletos de armas, chegaram à porta.
Brooks precipitou-se para a frente. Os cartões-chave tirados dos guardas mortos abriram o caminho que conduzia para baixo. Brooks e Mosi desapareceram lá dentro, inspecionando primeiro. Os outros hesitaram.
Monk consultou o relógio. A cronometragem era tudo.
Um assobio curto veio de baixo.
- Vamos descer - disse Monk.
Eles passaram às pressas pela porta e encontraram o poço de uma escada que levava ao sexto andar. Brooks estava em pé no patamar. Outro guarda estava estendido na escada, com o pescoço cortado, o sangue sendo bombeado para fora do corpo. Mosi agachou-se no patamar seguinte, com a faca ensangüentada na mão.
Eles continuaram a descer, dando voltas e mais voltas na escada. Não encontraram mais nenhum guarda. Como haviam esperado, a maioria das forças da propriedade havia sido enviada para fora. A massa de zulus devia estar atraindo a maior parte da atenção delas.
Monk tornou a consultar o relógio.
Ao chegarem ao segundo andar, saíram da escada e seguiram por um longo corredor de madeira encerada. Ele estava sombrio e escuro. Os candelabros de parede tremeluziam, como se o sistema elétrico ainda não estivesse funcionando adequadamente depois do blecaute... ou como se alguma coisa estivesse consumindo muita energia.
Lisa também notou um cheiro desagradável no ar.
O corredor terminava numa passagem em cruz. Brooks olhou para a direita, a direção que eles tinham de seguir. Voltou subitamente, encostado à parede.
- Voltem... voltem...
Um rosnado feroz e desafiador irrompeu na esquina. Seguiu-se uma série de sons parecidos com gargalhadas... e de ganidos excitados. Um único grito de terror abafou tudo aquilo.
Ukufa - disse Mosi, acenando para que todos recuassem.
Corram! - disse Brooks. - Vamos tentar assustá-los e depois pegá-los.
Monk arrastou Lisa e Painter.
O que...? - perguntou Lisa, as palavras sufocadas.
Alguém soltou os cachorros em cima de nós - disse Monk.
Gunther avançava aos tropeções com Anna. O gigante carregava a irmã, os pés dela arrastando-se inutilmente no chão.
Uma saraivada de balas irrompeu atrás deles.
Ganidos e uivos transformaram-se em gritos de dor e ira.
Eles correram mais depressa.
Mais disparos ecoaram, soando quase frenéticos.
- Maldição! - praguejou Brooks em voz alta.
Lisa olhou para trás.
Brooks e Mosi haviam abandonado seus postos e avançavam pesadamente pelo corredor, as armas apontadas para trás, atirando.
- Vão, vão, vão... - gritou Brooks. - Há um monte delas!
Três criaturas de pêlo branco imensas dobraram correndo a esquina atrás dos homens, a cabeça delas quase encostando no chão, as mandíbulas prontas para a carnificina, os pêlos eriçados. As garras penetravam no piso de madeira à medida que elas corriam num padrão sinuoso, quase antevendo as balas, evitando os tiros letais. Todas três tinham feridas que sangravam, porém pareciam mais instigadas pelos ferimentos do que enfraquecidas.
Lisa voltou-se para a frente a tempo de ver duas daquelas feras saírem das salas de cada lado no fim do corredor, interrompendo a fuga.
Uma emboscada.
A enorme pistola de Gunther explodiu feito um canhão, ensurdecedora. Seu tiro não acertou a criatura-guia, porque ela mudou de posição como a oscilação de uma sombra.
Monk ergueu a própria arma, parando de repente.
O impulso de Lisa a lançou para a frente. Ela caiu equilibrada num joelho, arrastando consigo a forma mole de Painter. Ele desabou com um estrondo, despertando com o impacto, no entanto ainda débil.
- Onde...? - perguntou ele com a voz grogue.
Lisa o puxou para baixo enquanto o corredor se enchia de tiros.
Um grito agudo ergueu-se atrás dela.
Ela moveu-se aos solavancos. Uma forma extremamente musculosa arremeteu por uma porta próxima e atirou o major Brooks contra a parede.
Lisa debateu-se, soltando um grito.
Mosi correu em auxílio do homem, a lança acima da cabeça, um berro em seus lábios.
Lisa abraçou Painter.
As criaturas estavam em toda parte.
Um movimento atraiu os olhou de Lisa. Outra fera surgiu de trás de uma porta à esquerda, fazendo as dobradiças rangerem. Seu focinho estava lambuzado de sangue fresco. Olhos vermelhos brilhavam na sala escura. Ela recordou-se da loucura do primeiro monge budista que tinha visto, voraz, selvagem, mas ainda agindo com astúcia e inteligência.
Estava acontecendo o mesmo ali.
Quando o monstro caminhou na direção dela, seus lábios deram um rosnado de triunfo.
África do Sul
Khamisi deitou-se em uma vala oculto por uma lona camuflada.
- Três minutos - disse a dra. Paula Kane a seu lado, também deitada de bruços. Os dois examinavam a linha negra da cerca com binóculos.
Khamisi mantinha suas tropas espalhadas ao longo do limite do parque. Alguns homens da tribo zulu perambulavam a plena vista, conduzindo algumas vacas por velhas trilhas. Um grupo de anciãos, usando tradicionais colares de contas, plumas e penas, trazia os ombros envoltos em mantas. Na aldeia, o som dos tambores e da cantoria recomeçara, alto e animado. A aglomeração naquele ponto de parada fora preparada como uma cerimônia de casamento.
Motocicletas, motos de quatro rodas do tipo todo-o-terreno e caminhões estavam estacionados casualmente pela área. Alguns dos guerreiros mais jovens, e até mesmo algumas mulheres, escondiam-se à volta dos veículos; uns poucos casais comprimiam-se em abraços amorosos; outros erguiam canecas esculpidas em madeira e gritavam como se estivessem embriagados. Um grupo de homens sem camisa, pintados para a celebração, saltava em uma dança tradicional com bastões.
E, à exceção dos bastões, não se avistava nenhuma arma.
Khamisi ajustou o foco de seu binóculo. Mudou e ampliou seu campo de visão acima da cerca alta, com espirais de arame farpado no topo. Podia distinguir qualquer movimento na copa da selva a distância. As tropas de Waalenberg estavam reunidas nas passarelas e espionavam sobre a cerca, guardando os limites da propriedade.
- Um minuto - disse Paula. Ela estava com um rifle de mira telescópica armado sobre um tripé, sob a tenda de lona protegida pela sombra de uma figueira-brava.
Khamisi se surpreendera ao saber que ela havia ganhado medalhas de ouro nas olimpíadas, perita em tiro ao alvo.
Ele abaixou os seus binóculos. A estratégia de ataque zulu tradicional era chamada de "o Búfalo". O corpo maior, chamado de "tórax", lideraria o ataque frontal maciço enquanto, de cada lado, "os chifres do touro" atacariam as laterais, impediu do qualquer retirada, cercando o inimigo. Khamisi, porém, fizera uma ligeira modificação, substituindo algumas armas tradicionais por modernas. Esta fora a razão de ele ter percorrido o terreno a noite inteira: plantar suas surpresas.
- Dez segundos - avisou Paula, começando a sussurrar a contagem regressiva e encostando o rosto na lateral do rifle.
Khamisi ergueu seu transmissor, girou a chave e posicionou o polegar sobre a seqüência de botões.
- Zero - completou Paula.
Khamisi pressionou o primeiro botão.
Além da cerca, as cargas que ele plantara durante a noite começaram a detonar com violência, estilhaçando-se para o alto e iniciando uma seqüência de caos total. Muitas tábuas e galhos flamejantes voavam alto, no mesmo instante em que uma floresta inteira de pássaros debandava - uma explosão de confetes formando um arco-íris apavorado.
Khamisi plantara explosivos plásticos CA, fornecidos por canais britânicos, em junções-chave e nos postes de sustentação das passarelas. As explosões se espalhavam, contornando a mansão, expondo as forças de elite dos Waalenberg, destruindo dosséis e incitando pânico e confusão.
Mais à frente, guerreiros zulus deixaram cair suas mantas, revelando seus rifles, ou desenterraram lonas que ocultavam armamentos, transformando-se no tórax do Búfalo. De ambos os lados, motores aceleravam em volta de Khamisi enquanto guerreiros subiam nos veículos, fazendo das motos e dos caminhões os "chifres do Búfalo".
- Agora! - gritou Paula.
Khamisi pressionou os botões seguintes, um após o outro.
Mais de meio quilômetro de cerca voou pelos ares em um violento retorcido de metal e arame farpado. Trechos inteiros foram ao chão, expondo o ventre do inimigo.
Khamisi saiu de seu esconderijo e colocou-se de pé. Uma motocicleta vinda de trás acelerou, espirrando areia e lama, e derrapou até parar ao seu lado. Njongo acenou para que montasse. No entanto, Khamisi ainda tinha uma última tarefa a cumprir. Ergueu uma corneta acima de sua cabeça e a acionou. O som do instrumento ecoou por todo o território zulu, fazendo ressoar novamente o sinal de ataque do Búfalo.
As explosões ecoaram de cima para baixo, fazendo tremular as luzes por toda a câmara do Sino. Todos ficaram paralisados. Baldric estava de pé com o neto Isaak junto ao painel de controle. Ischke impedia Gray de escapar, com a pistola tomada dele elevada à altura do peito. Os olhos desviados para o teto, perplexos.
Não os olhos de Gray.
Estes permaneciam fixos para o medidor de energia no console. Os indicadores lentamente se elevavam até a potência máxima. Após ignorar os apelos de Gray, Baldric ativara o Sino. Um zunido crescente penetrava o cilindro de chumbo que envolvia o aparelho. Em um monitor de vídeo, o revestimento externo do Sino irradiava um azul pálido.
Assim que o medidor de energia atingisse seu pico, um pulso irromperia com violência e seria transmitido num raio de oito quilômetros, matando Monk, Fiona e Ryan, onde quer que estivessem escondidos. Somente Gray estava seguro dentro da câmara, sob o escudo.
- Descubra o que está acontecendo - ordenou Baldric afinal ao neto depois que as explosões cessaram.
Isaak já estava para alcançar o telefone vermelho.
O tiro da pistola assustou a todos, sonoro e muito próximo com o silenciar das explosões.
Gray girou sobre o próprio corpo, enquanto o sangue salpicava o piso de cerâmica.
Uma flor vermelha brotou do ombro esquerdo de Ischke enquanto ela girou com o impacto, atingida pelas costas. Infelizmente sua pistola estava na mão direita. Sacudida violentamente pela pancada, Ischke apontou a arma para o atirador junto à porta.
A dra. Marcia Fairfield se ajoelhara na posição de um atirador; no entanto, com o braço direito incapacitado, disparou com o esquerdo, errando o tiro fatal.
Ischke não ficara em situação tão difícil assim. Mesmo pega de surpresa sua pontaria continuou firme como uma rocha.
Até Gray se lançar sobre ela.
Duas pistolas dispararam de modo ensurdecedor dentro da câmara - a de Ischke e a de Marcia.
Ambas erraram o alvo.
Gray deu uma gravata em Ischke por trás. A mulher, no entanto, era forte e lutou como uma gata selvagem. Ele conseguiu agarrar o pulso direito dela.
O irmão correu na direção dos dois com um longo punhal alemão em uma das mãos, abaixada.
Marcia disparou de sua posição, mas também não conseguiu uma mira precisa de Isaak, uma vez que os corpos engalfinhados de Gray e de Ischke bloqueavam sua linha de tiro.
Gray comprimiu com força seu queixo contra o ombro ensangüentado de Ischke. Ela ofegou, enfraquecendo lentamente. Gray agarrou o braço e apertou os dedos dela. A pistola que ela segurava disparou. Ele pôde sentir o coice da arma no próprio ombro. O disparo saiu muito baixo, atingindo o chão junto ao pé de Isaak. Ao ricochetear, porém, atingiu de raspão a panturrilha do homem, fazendo-o cambalear.
Ischke, ao ver seu irmão gêmeo ferido, lutou selvagemente e conseguiu livrar o braço e dar uma forte cotovelada nas costelas de Gray. O ar escapou dele de uma só vez e em seu lugar surgiu uma dor aguda, refletida em seus olhos. Ischke estava livre.
Atrás dela, Isaak conseguia recuperar o equilíbrio, o olhar assassino, o punhal cintilando.
Gray não esperou. Lançou-se à frente e bateu com o ombro nas costas de Ischke. A mulher, ainda um pouco sem equilíbrio pelo esforço feito para se livrar de Gray, voou em direção ao irmão.
Sobre o punhal.
A lâmina serrilhada penetrou em seu tórax.
Um grito de surpresa e de dor irrompeu de seus lábios. E ecoou nos lábios do gêmeo. A pistola caiu da mão de Ischke no instante em que ela se agarrava ao irmão, o olhar ainda incrédulo.
Gray mergulhou e apanhou a pistola antes mesmo que chegasse ao chão.
Deslizando sobre suas costas, mirou em Isaak.
O homem poderia ter-se movido - deveria ter-se movido -, entretanto apenas segurou a irmã em seus braços com uma expressão de agonia no rosto.
Gray disparou de lado, um tiro certeiro na cabeça, livrando Isaak de seu sofrimento.
Os gêmeos desabaram juntos no chão, os membros entrelaçados, o sangue formando uma única poça.
Gray levantou-se.
Marcia correu sala adentro com a pistola apontada para Baldric. O velho olhava fixamente para os netos sem vida. Mas não havia pesar em seus olhos enquanto se apoiava sobre a bengala; apenas um frio desinteresse, uma consternação pelos resultados laboratoriais frustrantes.
A luta toda levou menos de um minuto.
Gray percebeu que o medidor de energia do Sino estava na zona vermelha. Talvez ainda restassem dois minutos antes da irradiação. Gray encostou a boca ainda quente da pistola no rosto do velho.
Desligue.
Não - Baldric o encarou.
Com o cessar das explosões do lado de fora, o quadro de pavor no corredor superior da mansão Waalenberg começou a se desfazer. As hienas mutadas haviam se encolhido junto ao chão no irromper dos estrondos. Algumas fugiram; as remanescentes, no entanto, ficaram próximas às suas presas encurraladas. Por todo o lado, massas gigantescas de músculos se firmavam novamente sobre as patas.
- Não atirem! - sussurrou Monk com urgência. - Todos para aquela sala!
Ele indicou uma porta ao lado, onde poderiam se defender melhor e ficar menos expostos. Gunther puxou Anna. Mosi D'Gana afastou-se da fera que espetara com uma lança. Em seguida ajudou o major Brooks a se levantar. Escorria muito sangue da mordida profunda que o major levara na coxa.
Antes que pudessem seguir adiante, um rosnado feroz de alerta surgia pelo outro lado de Monk.
Alguém sussurrou seu nome:
- Monk...
Lisa agachou-se junto à forma debilitada de Painter, caído ao chão, perto de outro corredor. Uma enorme criatura, sem dúvida a maior, ergueu-se atrás do casal, protegida pela porta, escudada por Lisa e Painter.
Ela assomou, ocupando todo o espaço, vigiando suas presas. Todo o seu focinho se enrugou e expôs seus dentes como lâminas, rosnando, gotejando sangue e saliva. Seus olhos reluziam avermelhados, alertando-os do perigo iminente.
Monk pressentiu que se qualquer um deles movesse uma arma que fosse, a criatura rasgaria ambos em pedaços. Ele tinha de arriscar; antes, porém, de ensaiar o primeiro passo, um grito vociferou do salão de entrada, cheio de autoridade.
- Skuld! Não!
Monk se voltou.
Fiona surgiu no fim do corredor. Passou em silêncio por duas das criaturas, ignorando-as enquanto se abaixavam aos choramingos até se deitarem de lado. Uma Taser crepitou com faíscas azuis em uma de suas mãos. Ela trazia um aparelho na outra. A antena apontava para a fera que pairava acima de Lisa e de Painter.
- Cachorro mau! - exclamou Fiona.
Para o espanto de Monk, a criatura afastou-se, os rosnados diminuindo, os pêlos eriçados se acalmando. Como por encanto, o animal refestelou-se um pouco no corredor. As chamas em seus olhos se apagaram à medida que se deitava no piso de madeira. Soltou um suave gemido, parecendo meio em êxtase.
Fiona se pôs ao lado deles.
Monk observou de um extremo ao outro do corredor. Os outros monstros estavam sob o mesmo feitiço.
- Os Waalenberg implantaram chips nos cretinos - explicou Fiona, avaliando o dispositivo em uma das mãos. - Estavam conectados para lhes causar dor... e prazer.
Um gemido de contentamento surgiu do imenso monstro no corredor.
Monk franziu as sobrancelhas diante do transmissor.
- Como você conseguiu?
Fiona olhou nos olhos dele e acenou com o aparelho para que a seguissem.
- Você a roubou - disse Monk.
Ela deu de ombros e seguiu pelo corredor.
- Digamos que esbarrei em uma velha amiga e de algum modo isso veio parar em meu bolso. Ela não estava usando mesmo.
Ischke, pensou Monk enquanto reunia os outros para segui-la.
Monk ajudou Lisa com Painter. Gunther carregou Anna sob um de seus braços. Mosi e Brooks apoiaram-se um no outro. Eles formavam uma lamentável equipe de assalto.
Entretanto, agora tinham reforços.
Atrás deles, seguindo enfileirados, uma dúzia de vezes mais fortes, muito unidos, seduzidos pela aura de prazer que emanava da garota, a própria Flautista de Hamelim dos monstros.
Não consigo me livrar deles - disse Fiona, balbuciando um pouco. Monk reparou que as mãos dela tremiam. Estava aterrorizada.
Depois que descobri o botão certo - disse ela -, eles me seguiram de suas jaulas. Então me escondi de volta na sala onde Gray me mandou esperar... mas eles devem ter ficado pelos corredores e salas aqui em volta.
Ótimo, pensou Monk, e nós corremos direto para eles, o aperitivo perfeito logo após uma transa.
Depois eu ouvi seus gritos, e em seguida as explosões, e...
Ótimo - afinal Monk a interrompeu. - Mas e Gray? Onde está?
Ele pegou o elevador lá de baixo. Isso foi há mais de uma hora. - Ela apontou para a frente, onde o corredor terminava em uma sacada, que dava para um imenso salão. - Vou lhes mostrar.
Ela se apressou. Eles seguiram tropeçando pelo caminho para conseguir acompanhá-la, olhando de vez em quando para trás a fim de vigiar o bando. Fiona os conduziu a um lance de escadas abaixo até a entrada do corredor principal. As portas fechadas dos elevadores ficavam em frente às portas excessivamente entalhadas da entrada da mansão.
O major Brooks mancou até as trancas eletrônicas, passando os olhos por um conjunto de cartões-chave. Experimentou vários até encontrar um que mudou a luz vermelha para verde. Ouviu-se o barulho de um motor e de roldanas se movendo. O elevador começou a subir de algum lugar lá embaixo.
Enquanto aguardavam, o bando de hienas desceu de modo furtivo as escadas, espreguiçando-se, usufruindo a prazerosa irradiação do dispositivo que Fiona trazia consigo. Algumas se acomodaram no chão do corredor, inclusive a chamada Skuld.
Ninguém ousava falar, olhando fixamente os monstros.
A distância, abafado pela porta, o som de gritos e de tiros chegava até eles. Khamisi estava no auge da própria batalha. Quanto tempo ainda levaria para que conseguisse chegar até eles?
Como se pudessem ler os pensamentos de Monk, as portas duplas da mansão escancararam-se. Os distantes disparos de armas de fogo ficaram repentinamente claros e aterrorizantes, com seus estampidos e explosões. Os gritos aumentaram. Os homens se precipitaram para dentro. As tropas dos Waalenberg estavam se retirando. Entre eles, Monk divisou os membros da elite, todos vestidos de preto, irmanados por um louro brilhante, muito fortes, um pouco inquietos, como se voltassem para casa depois de um revigorante dia em uma quadra de tênis.
Com a guerra prosseguindo do lado de fora, as duas forças se encontraram frente a frente no corredor.
Nada bom.
A equipe de Monk recuou com pressa, ficando imobilizada contra a parede. Estavam em desvantagem de cinco para um.
Gray afastou-se um pouco de Baldric Waalenberg.
- Vigie-o - ordenou a Marcia.
Gray deslizou para a estação de trabalho que Isaak ocupara, mantendo o olhar no medidor de energia do Sino. Ele segurou uma chave comutadora que já vira Isaak manuseando. Ela controlava o escudo protetor que envolvia o equipamento ativado.
- O que está fazendo? - perguntou Baldric, a voz grave com súbita preocupação.
Então, havia algo capaz de assustar o velho mais do que uma bala. Bom saber. Gray mudou a chave de posição. Os motores soaram sob os seus pés e o escudo começou a baixar. Uma luz azul de grande intensidade trespassou sua borda superior, resplandecendo do lado de fora à medida que a parede de chumbo baixava do teto.
Não faça isso! Você vai matar todos nós!
Gray encarou o velho.
Então, desligue essa maldita coisa!
Baldric olhava fixamente para a proteção descendo e para o console.
Não posso desligá-la, ezel! O Sino foi programado. Precisa ser descarregado.
Gray deu de ombros.
Sendo assim, vamos todos assistir a isso enquanto ocorre.
O aro de luz azul ficou mais espesso.
Baldric praguejou e voltou-se para o console.
Mas posso apagar da memória a programação para matar. Posso neutralizá-la. Assim não ferirá seus amigos.
Faça isso.
Baldric digitava com rapidez, seus dedos roliços movendo-se velozmente.
Apenas levante o escudo de proteção!
Depois que você tiver concluído. - Gray observava sobre os ombros do homem. Viu todos os nomes aparecerem na tela juntamente com um código alfanumérico assinalado GENETISCH PROFIEL. O homem apertou a tecla delete quatro vezes e os perfis genéticos foram apagados.
Terminado! - exclamou Baldric, voltando-se para Gray. - Feche o escudo!
Gray alcançou a chave e a virou novamente ao som de um estalido.
Ouviu-se um tipo de gemido sob seus pés. A seguir algo crepitou com um solavanco de estremecer o chão. O escudo de chumbo parou no lugar, parcialmente abaixado.
Além da sua borda, um sol azul resplandecia no coração da câmara principal. O ar se agitava em volta do Sino à medida que seu revestimento externo girava em uma direção e a interior em outra.
- Faça alguma coisa! - suplicou Baldric.
- O mecanismo hidráulico emperrou - Gray murmurou. Baldric recuava, seus olhos mais arregalados a cada passo.
- Você selou o destino de todos aqui! Depois de completamente carregado, o pulso bruto e sem proteção do Sino matará todos em um raio de oito quilômetros... ou pior ainda.
Gray não ousou perguntar o que poderia ser pior.
Monk observava os rifles se erguerem em sua direção.
Em desvantagem.
O elevador ainda não chegara naquele andar e, mesmo se chegasse, levariam muito tempo para entrar e fechar as portas. Não havia como evitar um tiroteio. A não ser que... Monk inclinou-se para Fiona.
- Que tal um pouquinho de dor...?
Ele acenou para a escada onde as hienas haviam se retirado. Fiona compreendeu e moveu o dedo no aparelho, trocando de prazer para dor. Apertou o botão.
O efeito foi instantâneo. Foi como se alguém tivesse posto fogo no rabo das hienas. Gritos lancinantes de dor partiram de várias gargantas. Algumas criaturas caíram do alto das sacadas internas no chão. Outras rolaram pelas escadas sobre os homens. Garras e dentes atacavam com violência tudo que se movesse em uma ferocidade cega. Os homens berravam, disparando seus rifles.
Por trás de Monk as portas do elevador finalmente se abriram.
Monk recuou, levando Fiona consigo e guiando Lisa e Painter.
Despejaram uma saraivada de tiros sobre eles, mas a maioria das forças dos Waalenberg se concentrava nas hienas. Mosi e Brooks responderam ao fogo enquanto se retiravam para o elevador.
Ainda assim, foi por pouco. E depois? Alertadas, as forças simplesmente os caçariam.
Monk apertava às cegas os botões do subsolo.
Teria de se preocupar com isso mais tarde.
Entretanto, havia alguém em seu grupo que não era dado a maiores delongas.
Gunther empurrou Anna para os braços de Monk.
- Leve-a! Eu os mantenho lá fora.
Anna tentou alcançá-lo enquanto as portas se fechavam. Gunther gentilmente abaixou o braço dela e afastou-se. Voltou-se, então, a pistola em uma das mãos, o rifle na outra - mas não sem antes olhar nos olhos de Monk, selando assim um compromisso silencioso:
Proteja Anna.
Em seguida as portas se fecharam.
Khamisi corria pela selva, totalmente curvado sobre a motocicleta. Paula Kane vinha na garupa com seu rifle no ombro. Guerreiro zulu e agente britânica. Estranhos aliados. Algumas das mais sangrentas histórias daquelas terras ocorreram durante as guerras anglo-zulus no século XIX.
Não mais.
Agora eles formavam uma equipe muito afinada.
- Esquerda - gritou Paula.
Khamisi virou o guidom. O cano da arma de Paula mudou para o outro lado. Ela atirou. Uma sentinela dos Waalenberg tombou de costas com um grito.
De todos os lados, tiros e explosões ecoavam pela selva.
As tropas da propriedade estavam em fuga desordenada.
De repente, sem aviso prévio, a moto em que estavam saltou da selva, entrando em um bem cuidado jardim de quarenta metros quadrados. Khamisi pressionou o freio até parar, deslizando para se protegerem sob os ramos de um salgueiro.
A mansão era tudo o que se enxergava à frente.
Khamisi ergueu seu binóculo do pescoço e esquadrinhou o telhado. Avistou o heliporto em que o helicóptero do parque pousara. Um movimento atraiu seus olhos. Ele ajustou o binóculo e focalizou uma figura familiar em suas lentes. Tau. Seu amigo zulu estava em pé na beirada do terraço, estudando a guerra abaixo.
A seguir, à esquerda, uma figura entrou em seu campo de visão; por trás de Tau, um cano acima da cabeça dele. O guarda-caça Gerald Kellogg.
- Não se mova - pediu Paula atrás de Khamisi.
A coronha de seu rifle estava em cima da cabeça de Khamisi, enquanto ela fazia pontaria com sua mira telescópica.
- Posso vê-lo - disse ela.
Khamisi encolheu-se, imóvel, e olhou atento pelo binóculo.
Paula apertou o gatilho. O rifle detonou, fazendo seus ouvidos tilintarem.
A cabeça do guarda-caça estourou, lançando-o para trás. Tau quase caiu do telhado de susto, mas escapou ileso, sem saber que sua vida acabara de ser salva.
Khamisi sentiu um pouco do medo de Tau, um tremor de pressentimento depois que seu amigo escapou da morte por um triz. Como os outros estariam se saindo lá dentro?
- Você selou nosso destino! - repetiu Baldric.
Gray recusava-se a desistir.
- Você pode retardar a descarga do Sino? Ganhe algum tempo para que eu possa descer. Para consertar o escudo.
O velho observou o escudo protetor paralisado, coroado pela luz azul. Seu rosto tinha uma expressão de medo.
Pode ser que exista uma maneira, mas... mas...
Mas o quê?
- Alguém tem de entrar lá. - Apontou a bengala vacilante para a câmara principal e balançou a cabeça, claramente se recusando a ser voluntário.
- Eu entrarei - disse uma voz quando a porta se abriu.
Gray e Marcia giraram e ergueram suas pistolas.
Uma visão surpreendente entrava com dificuldade no recinto. Monk veio primeiro, apoiando a mulher de cabelos negros que acabara de se pronunciar. A maioria dos outros eram estranhos. Um homem negro mais velho mancava ao lado de um jovem de barba feita e com um corte de cabelo bem curto, em estilo militar. Vinham seguidos por Fiona e uma loura alta de porte atlético, que parecia ter acabado de correr uma maratona. As duas sustentavam um homem de mais idade, debilitado, que mal agüentava o seu próprio peso. O movimento parecia ser a única coisa que ainda o mantinha em pé. Assim que as mulheres pararam, ele começou a ceder. O rosto dele, baixo até então, reergueu-se e encontrou o olhar atento de Gray com seus familiares olhos azuis.
Gray... - ele sussurrou entorpecido.
Um choque de familiaridade o atravessou.
Diretor Crowe?
Gray correu em sua direção.
- Não há tempo - avisou a mulher de cabelos negros, ainda apoiada por Monk. Ela parecia estar um pouco melhor do que Painter. Seus olhos examinavam o escudo e o Sino com uma expressão de conhecimento.
- Precisarei de ajuda para entrar na câmara. E ele entrará comigo. Ela ergueu o braço trêmulo para Baldric Waalenberg.
O velho ficou aflito.
- Não...
A mulher o encarou com raiva.
- Vamos precisar de dois pares de mãos nos conduítes de polaridade. E você conhece a máquina.
Monk sinalizou para o homem negro.
- Mosi, ajude-me a colocar Anna lá dentro. Precisamos de uma escada.
Em seguida olhou para Gray e lhe deu um breve aperto de mãos, inclinando-se para a frente a fim de tocar ombro com ombro, em um gesto mais amigável.
Não temos muito tempo - Gray disse ao ouvido de Monk, surpreso com o alívio que sentia por sua chegada. Ele sentiu uma esperança renovada .
Nem me diga. - Monk desenganchou um rádio e o deu a Gray. - Ponha essa geringonça para funcionar. Vou dar um jeito de as coisas andarem por aqui.
Gray apanhou o rádio e saiu. Tinha inúmeras perguntas que, no entanto, teriam de esperar. Manteve o canal do rádio aberto. Ouviu ruídos e vozes, discussões e alguns gritos. Passos o seguiam, correndo. Ele olhou para trás. Era Fiona.
- Vou com você! - ela gritou, alcançando-o quando ele chegou às escadas de incêndio.
Ele desceu.
Ela levantou um transmissor com a antena estendida.
Para o caso de você se deparar com algum daqueles monstros.
Apenas não desanime - brincou ele.
Ah, cale a boca.
Eles correram o restante do caminho, chegando à entrada do andar subterrâneo e à sala de máquinas.
- Anna e aquele velho cretino estão lá dentro da câmara - Monk falou pelo rádio. - É claro que ele não está muito satisfeito com isso. Uma pena. Logo agora que já estávamos quase nos tornando grandes amigos.
Monk... - alertou Gray, fazendo seu subordinado concentrar-se de volta na tarefa.
Vou passar o rádio para Anna. Ela irá coordenar com você. Ah, a propósito, vocês têm menos de um minuto. Ciao.
Gray sacudiu a cabeça e empurrou a porta da sala de máquinas. Trancada.
Fiona o viu puxar a porta com força mais uma vez e suspirou.
- Sem as chaves?
Gray franziu a testa, sacou a pistola da cintura e apontou para a fechadura. Disparou. O tiro ecoou no corredor, deixando um buraco esfumaçado no lugar da tranca. Ele deu um empurrão e a porta se abriu.
Fiona o seguiu.
- Acho que isso também funciona.
À frente ele avistou as instalações do motor e os pistões para erguer e abaixar o escudo protetor.
Uma estranha estática ritmada fluía no rádio, aumentando e diminuindo como as ondas na praia. Gray entendeu que deveria ser interferência do Sino. Monk devia ter passado o rádio para Anna.
Confirmando isso, ouviu uma voz de mulher discutindo em meio à estática. Era uma discussão técnica confusa, uma mistura enraivecida de alemão e holandês. Gray perdeu quase todo o contato ao contornar as máquinas. Em seguida, a voz da mulher soou mais clara em inglês.
Comandante Pierce?
Ele pigarreou.
Prossiga.
Sua voz estava à beira da exaustão.
- Estamos com nossos dedos no proverbial "dique" aqui em cima, mas isso não irá segurar.
- Agüentem firme.
Gray descobriu o problema. Um fusível queimado junto a um dos pistões. Com a ponta de sua camisa, o removeu. Voltou-se para Fiona.
Precisamos de outro. Deve ter um reserva por aqui em algum lugar.
Depressa, comandante.
A estática aumentava como um mau presságio, mas não o bastante para encobrir as palavras de Baldric, sussurradas em regime de urgência:
- ... junte-se a nós. Poderíamos usar outra especialista com o Sino.
Mesmo apavorado, Baldric fazia todas as tentativas a seu alcance.
Gray prestou mais atenção. Será que ela iria traí-los? Ele acenou para Fiona.
- Joga para cá esse transmissor.
Ela o passou para Gray de má vontade. Ele o apanhou e arrancou a antena de metal. Não tinha tempo para procurar por um fusível sobressalente. Teria de fazer uma ligação direta. Enfiou a antena entre os contatos e foi até o painel de controle com um forte pé-de-cabra. A operação era auto-explicativa.
No topo estava escrito "OP" e abaixo trazia "ONDER’AAN".
Para cima e para baixo.
Não exigia exatamente muita perspicácia.
- Anna - Gray falou ao rádio. - Você e Baldric já podem sair daí.
- Não podemos, comandante. Um de nós tem de permanecer com o dedo no dique. Se ambos sairmos, o Sino explodirá instantaneamente.
Gray fechou os olhos. Não ousariam confiar na cooperação de Baldric.
A estática já aumentara para um ruído enfadonho em seu ouvido.
- Você sabe o que deve fazer, comandante.
Ele o fez.
Empurrou a alavanca.
As últimas palavras dela soaram ao longe:
- Diga a meu irmão... que eu o amo.
Ainda, enquanto ela abaixava o rádio, uma última afirmação escapou em meio aos ruídos - em resposta à oferta de Baldric, como uma última declaração ao mundo ou simplesmente para sua própria satisfação.
- Não sou nazista.
Lisa ajoelhou-se no chão, embalando Painter. Em seguida, sentiu o ruído surdo de motores pesados sob seus joelhos. A sua frente, o escudo gigantesco de chumbo subia em direção ao teto, fazendo desaparecer a brilhante luz azul.
Ergueu-se um pouco. Anna ainda estava lá dentro. Até Monk deu um passo em direção ao escudo protetor que se fechava.
Um grito de horror irrompeu de seu interior.
Era o velho. Lisa avistou os dedos dele arranharem acima da beirada, de modo frenético, à procura de um local para se segurar. Tarde demais. O escudo elevou-se acima de seu alcance e se prendeu suavemente ao fecho em forma de anel no teto.
Seus gritos ainda podiam ser ouvidos, abafados, desvairados.
Então, Lisa sentiu. Nas entranhas. Uma poderosa pancada de energia. Era algo indescritível. Um tremor que aturdia sem movimento algum. E então, nada. Silêncio total, como se o mundo inteiro prendesse o fôlego.
Painter gemeu, como se o efeito lhe causasse dor.
A cabeça dele estava reclinada em seu colo. Ela o examinou. Os olhos dele reviraram. A respiração rangia por causa dos fluidos. Ela o sacudiu de modo gentil. Nenhuma reação. Semicomatoso. Eles o estavam perdendo.
- Monk...!
- Depressa, Gray! - Monk chamou pelo rádio.
Gray apertou o passo ao subir de volta, seguido por Fiona. Embaixo, ele se demorara apenas o suficiente para encontrar um fusível extra e consertar o escudo protetor. Não compreendeu tudo o que Monk retransmitira, mas preencheu as lacunas com o que já sabia. Painter fora envenenado com alguma espécie de radiação, e no Sino estava a única possibilidade de cura.
Ao se aproximar da plataforma no quinto andar, ele ouviu passos pesados de botas seguindo aos tropeções na direção deles. Gray sacou a pistola. E agora, o que mais?
Uma figura pesada, com sobrancelhas cerradas e de um branco pálido surgiu no alto, cambaleando pelas escadas em sua direção. Sua camisa estava banhada em sangue. Um corte feio riscava seu rosto do alto da cabeça até a garganta. Ele sustentava um pulso quebrado contra a barriga.
Gray ergueu a arma.
Fiona passou por ele, empurrando-o.
- Não! Ele está do nosso lado. - E, em um tom mais baixo, disse para Gray: - É o irmão de Anna.
O gigante tropeçou até onde estavam e também reconheceu Fiona. Seus olhos se voltaram para Gray, desconfiados, porém, esgotados. Ainda assim acenou com o rifle em direção ao alto das escadas.
- Blockiert - grunhiu. Bloqueado.
O gigante dera tempo a eles com o próprio sangue.
Eles desceram o corredor às pressas em direção à câmara do Sino.
Gray, entretanto, sabia que precisava preparar Gunther. Depois do sacrifício de Anna, era o mínimo que poderia fazer pelo irmão dela.
- Sobre Anna... - começou.
Gunther voltou-se para ele, tenso, uma expressão de dor nos olhos, como se já esperasse o pior.
Gray enfrentou aquele receio e explicou de maneira concisa, sem omitir nada, concluindo com a grande verdade.
- A dedicação de Anna salvou a vida de todos.
As pernas do homenzarrão amoleceram diante do relato. O que seus ferimentos não puderam debilitar o pesar o fez, afinal. Ele foi caindo lentamente de joelhos.
Gray fez uma pausa.
Suas últimas palavras... foram para você, expressando seu amor.
O homem encobriu o rosto e curvou-se no chão.
Sinto muito... - balbuciou Gray.
Monk surgiu no corredor.
Gray, que diabos você está...?
Então, enxergou Gunther em posição de pura tristeza. Sua voz morreu.
Gray se aproximou de Monk.
Ainda não terminara para nenhum deles.
- Abaixem o escudo!
Lisa viu num relance o comandante Pierce entrar a passos largos na câmara junto com Monk, ambos com a cabeça inclinada, juntas. Ela estava em pé junto à mesa de controle do Sino. Passara os últimos minutos familiarizando-se com o equipamento. No decorrer dos eventos, Anna lhe passara em detalhes o funcionamento do Sino. Ela temia estar debilitada demais para supervisionar sua operação. Alguém mais precisava saber. Esse ônus recaiu sobre Lisa.
- O escudo! - Gray gritou para ela de novo, ao lado de Monk.
Ela acenou com uma expressão vaga e moveu a chave.
Motores estalaram abaixo deles. Ela se voltou para assistir ao escudo protetor descer. Com o Sino inativo, a luz não resplandecia mais em seu interior. A um passo de distância, Painter encontrava-se deitado no chão sobre uma lona, no momento sendo atendido pela dra. Fairfield. A sua direita, Mosi e Brooks enrolavam em outra lona o corpo dos gêmeos.
E quanto ao avô dos dois?
O escudo de proteção continuou abaixando, já pelo meio agora. O Sino estava em silêncio ao centro, esperando ser ativado mais uma vez. Lisa lembrava-se da descrição que Anna fizera do formato do Sino. O instrumento fundamental de medida quântica. Aquilo a deixava em pânico.
A sua esquerda, gritando um bocado a fim de ser ouvido com o barulho da máquina, Monk relatava a mensagem de Khamisi pelo rádio. As forças zulus tomaram a propriedade, conduzindo todas as forças restantes dos Waalenberg para a mansão, no momento sitiada. Um tiroteio sem fim prosseguia no alto.
- Gunther bloqueou as escadas de emergência - disse Gray. - E as portas dos elevadores estão presas, abertas. Isso deve nos dar algum tempo.
Ele acenou para Brooks e Mosi.
- Vigiem o corredor externo!
A seguir eles empunharam as armas e saíram.
Assim que partiram, Gunther entrou cambaleando. Pela expressão de seu rosto, Lisa soube que tinham lhe falado sobre Anna. Ele largara todas as armas. Cada passo pesava como chumbo, à medida que se aproximava do escudo que descia. Precisava testemunhar o fim. Como uma forma de absolvição por todo o sangue em suas mãos.
O escudo parou. Os motores silenciaram.
Lisa temia ver os estragos pessoalmente; no entanto, tinha uma tarefa a executar. Atravessou a sala até o Sino.
Anna estava deitada de lado à sombra do aparelho, curvada como um bebê. Sua pele estava branca como cinzas, seus cabelos negros brancos como a neve, como se ela houvesse se transformado em uma estátua de mármore. Gunther se aproximou da beira do escudo e se ajoelhou ao lado da irmã. Sem uma só palavra, ou mesmo expressão em seu rosto, curvou-se e a aconchegou em seus braços. Ela ficou totalmente relaxada, amolecida na morte, sua cabeça descansando no ombro do irmão.
Gunther ergueu-se, deu as costas para o Sino e saiu.
Ninguém tentou impedi-lo.
Desapareceu porta afora.
O olhar de Lisa posou sobre a outra figura estatelada no piso do escudo de chumbo. Baldric Waalenberg. Tal como a de Anna, a pele dele ficara excepcionalmente branca, quase translúcida. Entretanto, a radiação queimara também todos os cabelos, deixando-o careca, até mesmo sem sobrancelhas e cílios. A carne também recuara até os ossos, dando-lhe uma aparência mumificada. E havia ainda algo com relação à sua estrutura óssea, algo estava... estava errado.
Lisa ficou paralisada, horrorizada para dar mais um passo adiante.
Sem cabelos, a carne afundada, o esqueleto estava visivelmente deformado, como se houvesse sido parcialmente derretido e depois voltado ao estado sólido. As mãos estavam torcidas, os dedos estranhamente alongados, como os de um macaco. A palavra involução preencheu sua mente.
Tirem-no daqui. - ordenou Gray enojado, dirigindo-se em seguida a Lisa: - Vou ajudá-la a colocar Painter lá dentro.
Não podemos... - Ela não conseguia tirar os olhos do horror retorcido que restara do ex-patriarca Waalenberg. Não poderia deixar que acontecesse o mesmo a Painter.
Gray aproximou-se dela.
- O que você quer dizer com isso?
Ela engoliu em seco, ainda contemplando enquanto Monk segurava a monstruosidade pela manga da camisa, cheio de medo de sequer tocar no corpo.
- Painter já foi muito longe. A esperança, com o Sino, é apenas adiar ou desacelerar a debilitação, não revertê-la. Você gostaria de manter seu diretor no atual estado?
- Enquanto há vida, há esperança.
As palavras dele, ditas com suavidade, de modo gentil, quase obtiveram sucesso em desviar a atenção dela, enquanto Monk arrastava a forma degenerada do velho para fora da máquina, batendo na beirada.
Lisa abriu a boca para argumentar contra falsas esperanças.
Mas então os olhos de Baldric Waalenberg arregalaram-se, leitosos e cegos, mais parecidos com pedras do que com carne. Sua boca se arreganhou em um longo e silencioso berro. Suas cordas vocais não existiam mais. Não tinha mais língua. Não havia mais nada dentro dele, à exceção de horror e dor.
Lisa deu voz ao homem, berrando alto, afastando-se até esbarrar no console. Monk também ficou horrorizado com a situação. Afastou-se em um salto, largando Baldric nos ladrilhos fora do escudo de proteção.
A forma transmutada desmoronou. Os membros continuavam sem cor e totalmente flácidos. A boca, no entanto, abria-se e fechava, como peixe fora d'água. Os olhos arregalados fitavam o nada.
Gray, então, pôs-se entre Lisa e aquele horror. Ele a segurou com firmeza no ombro.
- Dra. Cummings. - O olhar dela, trêmulo de pânico, voltou-se para o dele. - O diretor Crowe precisa da senhora.
Não há... não há nada que eu possa fazer.
Há sim. Podemos usar o Sino.
Não posso fazer isso com o Painter - ela elevou a voz. - Não isso!
- Não acontecerá. Monk me contou como Anna a orientou. Você sabe como programar o Sino para uma emissão mínima, para uma radiação paliativa. O que acabou de ocorrer aqui foi diferente. Baldric elevou a amperagem do Sino ao máximo, preparando-o para nos matar. E no fim das contas... no fim das contas cada um colhe o que planta.
Lisa cobriu o rosto com as mãos, como se quisesse bloquear tudo o mais.
- Mas o que você está tentando colher? - queixou-se ela. - Painter está às portas da morte. Por que fazê-lo sofrer ainda mais?
Gray puxou as mãos de Lisa para baixo e inclinou-se, procurando atrair a atenção dela.
- Conheço o diretor Crowe. E creio que você também o conhece. Ele lutaria até o fim.
Como médica, ela já ouvira esse tipo de argumento; mas também era realista. Quando não existe esperança, tudo o que alguém que cuide de outras pessoas pode oferecer é um pouco de paz e dignidade.
- Se houvesse uma chance de cura - disse ela sacudindo a cabeça, sua voz recuperando a firmeza -, uma só que fosse, eu correria o risco. Se soubéssemos o que Hugo Hirszfeld tentava comunicar à filha. Seu código aperfeiçoado. - Ela sacudiu a cabeça outra vez.
Gray segurou o queixo dela com os dedos. Ela procurou se livrar, faiscando de irritação. Mas ele segurava o rosto dela com segurança e firmeza.
- Eu sei o que Hugo escondeu naqueles livros - disse.
Ela franziu o rosto para ele, entretanto, leu a verdade em seus olhos.
- Eu tenho a resposta - completou ele.
África do Sul
- Não é um código - disse Gray. - Nunca foi.
Kle ajoelhou-se no chão com uma caneta hidrográfica nas mãos. E então circulou o conjunto de runas que desenhara para Baldric Waalenberg.
Os outros juntaram-se à sua volta, mas ele manteve a atenção concentrada em Lisa Cummings. A conclusão a que Gray chegara não fazia sentido, mas ele pressentia que aquilo era a fechadura, e aquela mulher, que sabia mais a respeito do Sino do que todos os outros na sala, poderia ter a chave. Eles teriam de trabalhar juntos.
- Runas de novo - disse Lisa.
Gray franziu a testa como que pedindo uma explicação.
Ela acenou para o chão.
- Vi outro conjunto de runas, um conjunto diferente, desenhado com sangue. Elas formavam as palavras Schwarze Sonne.
Sol Negro - traduziu Gray.
Era o nome do projeto de Anna no Nepal.
Gray refletiu sobre o significado. Lembrou-se do símbolo do Sol Negro na estação de trabalho, abaixo. O grupo original da trama de Himmler devia ter-se dividido após a guerra. O grupo de Anna seguira para o norte e o de Baldric para o sul. Uma vez separados, os dois grupos afastaram-se cada vez mais e mais, até que aliados se tornassem adversários.
Lisa bateu de leve nas runas desenhadas no chão, chamando de volta sua atenção.
- As runas que decifrei eram uma simples transposição de letras para símbolos. Isso aqui é a mesma coisa?
Gray sacudiu a cabeça negativamente.
Baldric chegou à mesma suposição. E por isso teve tanta dificuldade de decifrar as runas. No entanto, Hugo não enterraria seu tesouro assim tão na superfície.
Se não é um código - perguntou Monk -, então, o que é?
É um quebra-cabeça - respondeu Gray.
O quê?
- Lembra-se da ocasião em que falamos com o pai de Ryan?
Monk assentiu com a cabeça.
Gray recordou-se do encontro com Johann Hirszfeld, o homem deficiente devido a um enfisema, perdido no passado, a propriedade da família eternamente à sombra do Castelo Wewelsburg e o sujo segredinho nazista da família.
- Ele descreveu o quanto seu avô Hugo era curioso. Sempre pesquisando coisas estranhas, investigando mistérios históricos.
Foi isso que o levou aos nazistas. - disse Fiona.
E, em seu tempo livre, Hugo estava sempre exercitando a mente.
As palavras de Johann ecoaram na lembrança de Gray: Truques de memorização, quebra-cabeças. Sempre com os quebra-cabeças.
Gray bateu de leve no conjunto de runas.
- Isso era apenas mais uma atividade para estimular a mente. Mas não um código... e sim um quebra-cabeça. As runas eram formas a serem manipuladas, reagrupadas, para trazer de volta a ordem a partir do caos.
Gray solucionara o enigma em sua cabeça ao longo do dia, permitindo que as runas mudassem de posição e girassem em sua imaginação, até que uma figura ganhasse forma. Ele sabia que ali estava a resposta. Especialmente conhecendo a angústia de Hugo no fim da vida, seu remorso franco pela colaboração com os nazistas. Mas qual seria o significado daquilo? Seus olhos se voltaram para Lisa.
Ele redesenhou as seis runas no chão, uma após a outra, reorganizando-as em sua seqüência correta. Completou o quebra-cabeça no chão, inserindo a última runa e dando assim forma ao símbolo.
A ordem a partir do caos.
A absolvição a partir da colaboração.
O sagrado a partir do profano.
Das runas pagãs, Hugo revelou sua verdadeira
É uma estrela - comentou Monk.
Lisa ergueu os olhos.
Não é uma estrela qualquer... é a estrela-de-davi.
Gray concordou com um aceno de cabeça.
Fiona fez a pergunta mais importante:
Mas o que significa? Gray suspirou.
- Não sei. Não faço a menor idéia do que isso tem a ver com o Sino, com o aperfeiçoamento do aparelho. Quem sabe não era apenas uma última declaração sobre quem ele era, uma mensagem secreta para sua família.
Gray lembrou-se das últimas palavras de Anna: Não sou nazista.
Não seria o código rúnico de Hugo uma outra maneira de dizer o mesmo?
- Não! - disse Lisa de forma categórica, sua convicção ressoando pelo ambiente. - Se quisermos chegar a uma solução, temos de agir como se isto fosse a resposta.
Gray notou algo nos olhos dela, alguma coisa que faltava minutos antes.
Esperança.
- De acordo com a Anna - prosseguiu ela Hugo entrou na câmara do Sino sozinho com um bebê. Sem qualquer ferramenta especial. Eram somente ele e o menino. E depois que as experiências terminaram, testes mostraram que ele fora bem-sucedido em gerar o primeiro verdadeiro e puro Sonnenkönig.
- O que ele fez lá dentro? - perguntou Fiona.
Lisa bateu de leve na estrela-de-davi.
- Isto está de algum modo ligado ao segredo. Mas desconheço o significado do símbolo.
Gray conhecia. Ele estudara uma infinidade de religiões e de ramos de estudos espirituais durante a juventude, e também enquanto aprimorava seu treinamento Sigma.
A estrela possui significados distintos. É um símbolo de oração e fé. E talvez mais do que isso. Reparem como a estrela de seis pontas também é, na verdade, dois triângulos, um sobre o outro. Um aponta para baixo, outro para cima. Na cabala judaica, os dois triângulos equivalem ao yin e ao yang, à luz e às trevas, ao corpo e à alma. Um dos triângulos representa a matéria e o corpo. O outro, nossa alma, nosso ser espiritual, nossa mente consciente.
E juntos, eles se tornam ambos - disse Lisa. - Não apenas uma partícula ou uma onda - mas ambos.
Gray vislumbrou uma possibilidade de compreensão, uma luz.
- O quê?
Lisa ficou olhando para a câmara.
- Anna afirmou que o Sino era basicamente um aparelho de medição quântica para manipular a evolução. Evolução quântica. Tem tudo a ver com mecânica quântica. A resposta tem de estar aí.
Gray franziu a testa.
- O que você quer dizer com isso?
Lisa explicou o que Anna a ensinara. Gray, que estudara biologia e física avançadas para a Sigma, precisava pensar.
Fechou os olhos e recostou-se à procura da conexão entre a estrela-de-davi e a mecânica quântica. Será que havia uma resposta comum às duas?
Você disse que Hugo entrou na câmara apenas com o bebê? - inquiriu Gray.
Sim - disse Lisa suavemente, como se pressentisse que ele precisava ficar a sós com seus pensamentos.
Gray concentrou-se. Hugo lhe dera a fechadura. Lisa, a chave. Agora, dependia dele. Deixando de lado a pressão do tempo, ele permitiu que sua mente revolvesse e revirasse as pistas e os fragmentos, testando, rejeitando.
Como mais um dos quebra-cabeças de Hugo.
Assim como ocorreu com a estrela-de-davi, a combinação certa se formou, afinal, em sua cabeça. De modo tão claro, tão perfeito. Deveria ter pensado nisso antes. Gray abriu os olhos.
Lisa parecia ter percebido algo em seu olhar.
- O quê?
Gray levantou-se.
- Liguem o Sino - ordenou ele, indo até o controle. - Agora! Lisa o seguiu e deu início aos procedimentos.
- Levará quatro minutos até atingir um pulso paliativo. - Enquanto trabalhava, ela olhou de relance para Gray, com olhos inquisidores. - O que estamos fazendo?
Gray voltou-se para o Sino.
Hugo não entrou na câmara sem alguma ferramenta.
Mas foi isto que Anna...
Não - interrompeu Gray. - Ele entrou com a estrela-de-davi. Ele entrou com oração e com fé. Mas, principalmente, ele entrou com o próprio computador quântico.
O quê?
Gray falou muito rápido, sabia que estava certo.
- A consciência tem desconcertado os cientistas por séculos... essa questão retrocede até Darwin. O que é a consciência? É apenas o nosso cérebro? Apenas nervos em ação? Qual é a fronteira entre o cérebro e a mente? Entre a matéria e o espírito? Entre o corpo e a alma?
Ele apontou o símbolo.
Pesquisas recentes afirmam que está aí. Somos ambos. Somos ondas e partículas. Corpo e alma. A própria vida é um fenômeno quântico.
Muito bem, agora é que não estou entendendo nada mesmo - disse Monk, juntando-se a ele e puxando Fiona.
Gray respirou fundo, entusiasmado.
Os cientistas modernos rejeitam a espiritualidade e definem o cérebro apenas como um computador complexo. A consciência surge como mero subproduto da descarga de uma complexa interconectividade de neurônios, formando basicamente um computador com uma rede neural que opera em nível quântico.
Um computador quântico - disse Lisa. - Você já o mencionou, mas o que diabos é isso?
Você já viu um código de computação fragmentado em seus níveis mais elementares. Páginas de zero e de um. É assim que um computador atual pensa. Ligando ou desligando um comando. O zero ou o um. Se pudesse ser construído, o computador quântico teórico, apresentaria uma terceira opção. O velho zero ou um, mas também uma terceira escolha: zero e um.
Os olhos de Lisa estreitaram-se.
Como os elétrons no mundo quântico. Podem ser ondas ou partículas, ou ambas ao mesmo tempo.
Uma terceira escolha - disse Gray, concordando. - Pode não parecer muito, mas ao adicionar essa possibilidade ao arsenal de um computador, torna-se possível que o aparelho resolva tarefas com algoritmos múltiplos simultaneamente.
Assobiar e chupar cana - emendou Monk.
Tarefas que exigiriam anos até que os computadores atuais as desempenhassem poderiam ser realizadas em frações de segundo.
E nosso cérebro faz isso? - perguntou Lisa. - Age como computadores quânticos?
Esse é o consenso mais recente. Nosso cérebro propaga um campo eletromagnético mensurável, gerado por nossa complexa interconectividade neural. Alguns cientistas conjecturam que é nesse campo que reside a consciência, criando uma ponte entre os problemas relacionados com o cérebro e o universo quântico.
E o Sino é hipersensível aos fenômenos quânticos - lembrou Lisa. - Portanto, quando Hugo juntou-se ao bebê dentro da câmara, ele influenciou o resultado.
O que é observado é modificado pelo ato de observar. Mas creio que foi mais do que isso - Gray disse e acenou para a estrela-de-davi: - Por que isso? Um símbolo de oração?
Lisa sacudiu a cabeça.
O que é a oração senão uma concentração da mente, uma concentração da consciência... e se a consciência é um fenômeno quântico, então, a oração é um fenômeno quântico.
E como todo fenômeno quântico, ele mensura e precisa mensurar e assim influencia o resultado - Lisa compreendeu.
Em outras palavras... - Gray esperou.
A oração funciona - emendou Lisa.
É isso o que Hugo descobriu; foi o que escondeu em seus livros. Algo espantosamente perturbador e, porém, maravilhoso demais para que deixasse morrer.
Monk inclinou-se sobre o console próximo a Lisa.
- Você está dizendo que ele desejou que o bebê fosse perfeito?
Gray acenou com a cabeça. - Quando Hugo entrou na câmara com o bebê, orou por perfeição, um pensamento concentrado e específico, abnegado e puro. A consciência humana, em forma de oração, atua como uma ferramenta perfeita de mensuração quântica. Sob o Sino, o potencial quântico puro no menino foi medido, influenciado pela concentração e pelo desejo de Hugo. Como resultado, todas as variáveis harmonizaram-se perfeitamente. Um lance perfeito de dados genéticos.
Lisa voltou-se.
- Então, talvez possamos fazer o mesmo a fim de inverter o dano quântico causado em Painter. Salvá-lo antes que seja tarde demais.
Uma nova voz intrometeu-se, a de Marcia, que ainda cuidava de Painter no chão:
- É melhor se apressarem.
Monk e Gray colocaram Painter às pressas dentro do escudo protetor, envolto em uma lona.
- Coloquem-no próximo ao Sino - orientou Lisa.
Enquanto eles obedeciam, ela passou a dar as instruções finais aos outros. O Sino já estava girando, com seus dois envoltórios em rotações opostas. Ela se lembrou da descrição de Gunther: batedeira. Ótima definição! Um brilho suave também reluziu de seu envoltório externo de cerâmica.
Ela ajoelhou-se ao lado de Painter e verificou seus sinais vitais, o pouco que ainda restava.
- Posso ficar com você - disse-lhe Gray, sobre seu ombro.
- Não. Creio que mais de um computador quântico venha a interferir no resultado.
- Cozinheiros demais na cozinha - concordou Monk.
- Então me deixe ficar - pediu Gray.
Lisa sacudiu a cabeça.
- Só teremos uma chance. Se é preciso concentração e desejo para curar Painter, talvez seja melhor que a mente direcionando essa orientação seja a de um médico.
Gray suspirou, pouco convencido.
- Você já fez sua parte, Gray. Nos deu uma resposta. Nos deu esperança. - Ela ergueu os olhos para ele, acima. - Deixe-me fazer a minha.
Ele acenou e afastou-se.
Monk inclinou-se até ela.
- Tenha apenas muito cuidado com o que desejar - pediu. Suas palavras estavam carregadas de significado. Ele não era tão bobo e desajeitado quanto fingia ser. Em seguida deu-lhe um beijo no rosto.
O casal partiu.
Marcia avisou do console:
Irradiação em um minuto. A seguir deu meia-volta.
Levante o escudo protetor.
Assim que as engrenagens rangeram embaixo dela, Lisa inclinou-se sobre Painter. A pele dele estava meio azulada, mas talvez fosse apenas o brilho do Sino outra vez. De qualquer modo, restava a ele pouco tempo de vida. Os lábios dele estavam rachados, a respiração muito fraca, a ausculta do coração parecia mais sopros do que batimentos. Até mesmo as raízes dos seus cabelos estavam brancas como neve. Ele definhava a uma velocidade exponencial.
O escudo de proteção ergueu-se à volta dela, - isolando-os do restante do grupo. As vozes do outro lado, já bastante silenciosas, ficaram ainda mais abafadas e cessaram completamente depois que o escudo encaixou-se no teto.
Sozinha, sem ninguém olhando, Lisa curvou-se sobre Painter, apoiando a testa dele em seu peito. Ela não precisava concentrar sua vontade em alguma espécie de transe meditativo. Diz-se que não há ateus em uma trincheira na linha de frente. Esse era com certeza o caso ali. Ela, porém, não sabia a que Deus recorrer para pedir por socorro naquele instante.
Lisa lembrou-se da conversa com Anna a respeito de evolução e de design inteligente. A mulher insistia em que eram as mensurações quânticas que, em última análise, colapsaram potencial em realidade. Os aminoácidos formaram as primeiras proteínas replicantes, porque a vida era o melhor instrumento de mensuração quântica. E se levarmos isso mais adiante, a consciência, que era um instrumento ainda melhor de medição quântica do que a vida em si, evoluiu pela mesma razão. Mais um elo na cadeia evolucionária. Ela imaginou a seqüência:
AMINOÁCIDOS »»» PRIMEIRA PROTEÍNA »»» PRIMEIRA VIDA »»» CONSCIÊNCIA
No entanto, o que há além da consciência? Se o futuro ditava o passado por meio das mensurações quânticas, o que desejou que a consciência se formasse? Que instrumento melhor de mensuração quântica há lá na frente, no futuro, ditando o presente? Até que ponto no futuro vai essa corrente? E o que há no seu fim?
AMINOÁCIDOS »»» PRIMEIRA PROTEÍNA »»» PRIMEIRA VIDA »»» CONSCIÊNCIA »»»???
Lisa recordou mais uma declaração misteriosa de Anna, quando a confrontou sobre o papel de Deus em tudo isso. Enquanto a evolução quântica parecia deixar a intervenção divina de fora das repentinas mutações benéficas, as últimas palavras de Anna sobre o assunto foram: Você está vendo a situação da maneira errada, na direção errada. Lisa atribuíra a enigmática afirmação à exaustão de Anna. Mas talvez a mulher tivesse refletido sobre a mesma questão. O que existia no fim da evolução? Seria meramente um instrumento perfeito e incorruptível de medição quântica?
E se for, seria isso Deus?
Ela não tinha resposta alguma ao se reclinar sobre Painter. Tudo o que sabia, era que desejava que ele vivesse. Ela podia ter ocultado dos outros a exata profundidade de seus sentimentos por ele - quem sabe até de si mesma. No entanto, já não conseguia mais esconder.
Ela abriu seu coração, permitindo que sua vulnerabilidade reluzisse.
A medida que o zunido do Sino crescia e o brilho se intensificava, ela relaxava mais.
Talvez isso é o que faltou ao longo de toda sua vida, o porquê dos homens parecerem sumir de seu caminho, o motivo de ela estar sempre fugindo. Assim ninguém perceberia o que podia ser tão facilmente ferido. Ela escondia sua vulnerabilidade protegendo-se atrás do profissionalismo e de namoros fortuitos. Escondia o coração. Não é de admirar que ela estivesse sozinha, no topo de uma montanha, quando Painter entrou por acaso em sua vida.
Mas ela dera um basta!
Ergueu a cabeça, ajeitou-se e beijou Painter suavemente nos lábios, mostrando o que tentara esconder.
Fechou os olhos durante a contagem dos últimos segundos. Abriu o seu coração, desejando um futuro para aquele homem, desejando que ficasse saudável, cheio de vigor. Acima de tudo, orou por mais tempo com ele.
Seria aquela a função primordial do Sino? Abrir um canal quântico até o grandioso instrumento de medição quântica, situado no fim de toda a evolução, um vínculo pessoal com aquele último designer.
Lisa sabia o que tinha de fazer. Livrou-se da cientista dentro dela, livrou-se de si mesma. Seu objetivo estava além da própria consciência, além da oração. Era simplesmente crer.
Em meio à pureza daquele momento, o Sino irrompeu em um brilho ofuscante, unindo-os como se fossem um, transformando a realidade em puro potencial.
Gray moveu a chave comutadora e o escudo começou a abaixar. Todos prenderam a respiração. O que encontrariam? Os motores rangiam. Juntaram-se à volta do escudo protetor.
Monk olhava com visível preocupação.
Em meio ao silêncio, ouviu-se um pequeno apito, vindo da esquerda.
A câmara aparecia aos poucos. O Sino, silencioso e escuro, repousava inerte no centro. Então surgiu Lisa, de costas para eles, agachada sobre Painter.
Ninguém falou.
Lisa virou-se lentamente, levantando-se. As lágrimas, mantidas suspensas por seus cílios, escorreram pelo seu rosto. Ela ergueu Painter com o braço enquanto se levantava. Ele não parecia melhor. Pálido, fraco, debilitado. No entanto, suspendeu a cabeça sozinho e avistou Gray.
Seus olhos traziam um brilho de firmeza e concentração.
Gray sentiu-se aliviado.
Em seguida ouviu-se o pequeno apito mais uma vez.
Os olhos de Painter tremularam na direção dela e na de Gray. Painter moveu os lábios, mas nenhuma palavra aflorou deles. Gray aproximou-se mais, a fim de ouvi-lo.
Os olhos de Painter estreitaram-se com força, fixos nele. Fez nova tentativa. A palavra saiu fraca e não fazia o menor sentido. Gray ficou preocupado com o estado mental de Painter.
- Bomba... - repetiu o homem com a voz rouca.
Lisa também ouviu. Ela olhou subitamente na mesma direção que Painter. Para o corpo de Baldric Waalenberg. Então empurrou Painter em direção a Monk.
- Leve-o.
Ela dirigiu-se até a forma retorcida do homem. Em algum momento, sem ser visto, sem ser pranteado, Baldric havia, afinal, morrido.
Gray juntou-se a ela.
Lisa ajoelhou-se e ergueu a manga do homem. Ele usava um grande relógio de pulso. Ela o virou para cima. Um ponteiro de segundos girava rapidamente sobre um dispositivo digital de leitura. - Já vimos isso antes - disse Lisa. - Um monitor de batimentos cardíacos preso a um micro transmissor. Depois que o coração parou, o aparelho iniciou uma contagem regressiva.
Lisa torceu o pulso de Baldric para que Gray pudesse enxergar os números.
02:01
Enquanto ele observava, o ponteiro de segundos girou mais duas vezes sobre o número. O aparelho voltou a emitir o já familiar apito ao marcar menos de 02:00.
- Temos menos de dois minutos para sair daqui - disse Lisa.
Gray concordou com ela e empertigou-se:
- Todos para fora! Monk, envie uma mensagem a Khamisi pelo rádio! Diga-lhe para evacuar todos os seus homens para o mais longe possível da mansão.
Seu companheiro obedeceu.
- Temos um helicóptero no terraço - lembrou Lisa.
Em segundos, todos estavam correndo. Gray tirou Painter de Monk. Mosi ajudou Brooks. Lisa, Fiona e Marcia os seguiram.
- Onde está Gunther? - Fiona perguntou.
- Ele partiu com a irmã. Não queria que ninguém o seguisse - Brooks respondeu.
Não havia tempo para procurá-lo. Gray apontou o elevador. O grupo de Monk prendera as portas abertas com uma poltrona do corredor, para que ninguém o usasse a fim de segui-los. Mosi a arrancou fora com uma só mão e atirou corredor abaixo. Eles se amontoaram dentro do elevador.
Lisa apertou o botão mais alto. Sexto andar. Começaram a subir lentamente.
- Passei um rádio para o nosso homem lá em cima - Monk falou. - Ele não sabe pilotar, mas sabe acionar a ignição. Vai ligar e aquecer os motores.
- A bomba - disse Gray, virando-se para Lisa. - O que podemos esperar dela?
- Se for do mesmo tipo da do Himalaia, é das grandes. Eles desenvolveram alguma espécie de bomba quântica usando o Xerum 525.
Gray lembrou-se dos tanques armazenados no subsolo.
- Merda...
O elevador continuou subindo, passando pelo andar principal, que estava em silêncio sepulcral. E prosseguiram para cima.
Painter remexeu-se, ainda incapaz de agüentar o próprio peso. Mas encontrou o olhar de Gray.
- Da próxima vez... - sussurrou ainda rouco - ... você vai sozinho para o Nepal.
Gray sorriu. Ah, sim, Painter estava de volta.
Mas por quanto tempo?
O elevador chegou ao sexto piso e a porta abriu-se.
- Um minuto - disse Marcia. Ela tivera a presença de espírito de anotar e monitorar o tempo.
Subiram as escadas em disparada para o terraço e encontraram o helicóptero aguardando, as hélices girando. Correram até ele, amparando-se uns aos outros. Já debaixo dos rotores, Gray passou Painter de volta para Monk.
- Mande todos embarcarem.
Gray correu para o outro lado e ocupou o lugar do piloto.
- Quinze segundos - avisou Marcia.
Gray acionou a alavanca de velocidade do motor. As hélices guincharam. Puxou o outro controle e o pássaro de metal ergueu os patins do terraço. Gray nunca ficara tão radiante por sair de algum lugar. O helicóptero alçou vôo. De quanta distância precisariam?
Ele ajustou o passo das pás para ganhar mais velocidade.
Enquanto eles subiam Gray deu uma guinada e mudou de direção. Em seguida examinou os arredores da propriedade. Avistou jipes e motocicletas a toda velocidade para todas as direções, afastando-se da mansão.
Marcia iniciou a contagem regressiva:
- Cinco, quatro...
Sua precisão estava em leve descompasso.
Um clarão ofuscante subitamente resplandeceu abaixo deles, como se estivessem saindo do sol. O efeito mais perturbador, no entanto, foi o completo e absoluto silêncio. Impossibilitado de enxergar, Gray lutava para manter o helicóptero no ar. Era como se o ar tivesse desaparecido debaixo dele. Ele sentiu o helicóptero mergulhar em direção ao solo.
Logo a seguir, a luz decaiu ao redor deles com um enorme estrondo, espalhando-se como água.
Os rotores de súbito encontraram ar novamente, sacolejando no espaço por um longo momento.
Gray estabilizou a aeronave e a inclinou, afastando-se, completamente apavorado. Olhou para trás, onde costumava ficar a mansão. Uma imensa cratera de paredes lisas estava em seu lugar, com um corte uniforme, atravessando rochas e solo. Era como se um titã tivesse enfiado uma colher para sorvete gigante na mansão, levando junto a maior parte dos jardins ao redor.
Tudo desaparecera. Nem escombros, nem ruínas. Somente um vazio.
Lagos e córregos, cortados ao meio, escorriam pela borda em quedas-d’água que mal passavam de um filete.
Mais afastados da borda, Gray avistou veículos parando e pessoas olhando para trás, algumas aproximando-se para conferir de perto. O exército de Khamisi. Em segurança. O povo zulu reunido ao longo das fronteiras, reivindicando o que haviam perdido há muito tempo.
Gray passou acima deles, com o helicóptero voando de lado para contornar a cratera. Ele lembrou-se do tambor de Xerum 525 que faltava, o que estava marcado para os EUA. Ligou o rádio e começou a passar uma longa série de códigos de segurança para o Comando da Sigma.
Ficou surpreso ao ouvir alguém que não era Logan entrar na linha. Era Sean McKnight, ex-diretor da Sigma. Uma apreensão súbita tomou conta de Gray. O que ele fazia lá? Algo estava errado. McKnight rapidamente o colocou a par do que ocorrera. A última notícia chegou como um soco no estômago.
Desligou, afinal, entorpecido e chocado.
Monk inclinou-se em sua direção, notando sua crescente consternação.
- O que há de errado? - perguntou.
Ele voltou-se. Precisava olhar o parceiro nos olhos quando contasse.
- Monk... é a respeito da Kat.
Washington, D.C.
Três dias haviam se passado. Três longos dias pondo as coisas em ordem na África do Sul.
O avião em que viajaram finalmente aterrissara no aeroporto internacional de Dulles, depois de um vôo direto de Johannesburg. Monk livrara-se de Gray e dos outros no terminal. Chamara um táxi e partira. Em seguida o táxi parou em um congestionamento próximo ao estacionamento. Monk teve de se controlar para não abrir a porta e sair correndo a pé, até que afinal o trânsito foi liberado e eles voltaram a se mover.
Monk inclinou-se à frente.
- Cinqüenta pratas se você chegar lá em menos de cinco minutos.
A aceleração lançou Monk de volta ao encosto do banco. Assim estava bem melhor.
Dois minutos depois, surgia a confusão de prédios em tijolo aparente. Eles passaram a toda por uma placa com a inscrição HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE GEORGETOWN. Os pneus cantaram ao parar no estacionamento de visitantes, quase batendo na lateral de uma ambulância.
Monk atirou um punhado de notas ao motorista e saltou do carro.
Ele se espremeu de lado na porta automática, impaciente porque demorou a abrir. Passou a toda velocidade pelo saguão, driblando pacientes e enfermeiros. Ele sabia qual era o quarto da UTI.
Cruzou rapidamente uma enfermaria, ignorando um grito para diminuir o passo.
Hoje não, querida.
Monk fez uma curva e avistou a cama. Acelerou, jogou-se de joelhos nos últimos passos, deslizou sobre a calça de moletom até o pé da cama e acabou por bater com certa força contra a grade lateral abaixada.
Kat o fitou com os olhos arregalados e uma colher cheia de gelatina de limão tremulando, a meio caminho de sua boca.
Monk...?
Vim assim que pude - disse ele, quase sem fôlego.
Mas eu falei com você há apenas uma hora e meia, pelo telefone via satélite.
Isso é conversa.
Ele deu um impulso para cima, inclinou-se sobre a cama e a beijou direto na boca. Kat tinha o ombro esquerdo e o tórax enfaixados, meio ocultos por um avental hospitalar. Três projéteis, quase um litro de sangue perdido, um pulmão lacerado, clavícula estilhaçada e baço perfurado.
Mas ela estava viva.
E tivera muita sorte.
O funeral de Logan Gregory estava marcado para dali a três dias.
Mesmo assim, ela e Logan haviam salvado Washington de um ataque terrorista: derrubaram a tiros o Waalenberg assassino e impediram que um plano secreto fosse posto em ação. O Sino de ouro cerimonial estava agora bem enterrado no laboratório de pesquisas da Sigma. O carregamento de Xerum 525 destinado ao Sino fora encontrado em um pátio de cargas marítimas em New Jersey. No entanto, quando as agências de inteligência dos EUA rastrearam o carregamento - com dificuldade devido à vasta rede de corporações, depósitos e subsidiárias de propriedade dos Walenberg -, aquela última amostra de Xerum fora encontrada degradada, deixada exposta ao sol por muito tempo, inerte devido à refrigeração inadequada. E, sem sua fonte de combustível, os Sinos, até mesmo aqueles recuperados de outras embaixadas, jamais soariam novamente.
Já foram tarde!
Monk preferia a evolução à moda antiga.
Sua mão deslizou para a barriga dela. Estava com receio de perguntar.
Não precisava. A mão de Kat cobriu a dele.
- O bebê está ótimo. Os médicos dizem que não deve haver complicações.
Monk caiu novamente de joelhos, apoiando a cabeça de lado na barriga de Kat, aliviado. Fechou os olhos. Passou um dos braços ao redor da cintura dela, com delicadeza e cuidado por causa dos ferimentos, e apertou o corpo contra o dela.
- Graças a Deus.
Kat tocou o rosto dele.
Ainda de joelhos, Monk enfiou a mão em um bolso e retirou o estojo preto com o anel. Ele o ergueu, de olhos ainda fechados e com uma oração nos lábios.
Case comigo.
Está bem.
Monk abriu os olhos, contemplando o rosto da mulher que amava.
O quê?
Eu disse: está bem.
Monk levantou a cabeça.
Tem certeza?
Você está tentando me dissuadir?
Bem, você está sob o efeito de drogas. Talvez seja melhor eu lhe pedir...
- Pode passar esse anel para cá. - Ela pegou o estojo e abriu. Ficou fitando-o por alguns instantes. - Está vazia!
Monk pegou o estojo e o examinou. O anel sumira.
Ele sacudiu a cabeça.
O que aconteceu? - perguntou Kat.
Fiona - Monk rosnou.
Na manhã seguinte, Painter estava deitado de costas em outra ala do Hospital da Universidade de Georgetown. A mesa deslizou para fora da máquina de tomografia computadorizada em forma de tubo. O exame levara mais de uma hora. Ele quase pegara no sono por ter dormido muito pouco nos últimos dias. A ansiedade invadira suas noites.
Uma enfermeira abriu a porta.
Lisa a seguiu para dentro do quarto.
Painter sentou-se. O quarto estava gelado. Também, pudera! Ele não usava nada além de um avental hospitalar puído. Tentou aparentar alguma dignidade, cobrindo-se e ajeitando-se, mas afinal aceitou a derrota.
Lisa sentou-se ao lado dele. Acenou às suas costas, em direção à sala de monitoração. Um grupo de pesquisadores do Johns Hopkins e da Sigma trabalhava lado a lado, com a atenção concentrada na saúde de Painter.
Parece bom - disse Lisa. - Todos os sinais de calcificação interna estão sumindo. Seus índices clínicos laboratoriais estão todos se normalizando. Pode ser que você fique com uma pequena cicatriz residual na válvula da aorta, mas possivelmente nem isso. A taxa de recuperação é extraordinária... se me permite dizer, miraculosa.
Eu permito - respondeu Painter. - Mas, o que você me diz disso?
Ele passou os dedos pela faixa de cabelos brancos acima de uma orelha.
Ela estendeu a mão para cima e seguiu os dedos dele com os seus.
- Eu gosto. E você ficará ótimo.
Ele acreditava nela. Pela primeira vez, bem no fundo, sabia que ficaria bem. Deixou aflorar um suspiro estremecido. Ele viveria. Ainda tinha toda uma vida à sua frente.
Painter segurou a mão de Lisa, beijou sua palma e a abaixou.
Ela enrubesceu, a face refletida no vidro da sala de monitoração - entretanto, não retirou sua mão da dele, enquanto conversava com uma enfermeira sobre questões técnicas.
Painter a analisava. Ele fora ao Nepal não só para investigar as enfermidades relatadas por Ang Gelu mas também para vivenciar uma odisséia particular, um tempo de reflexão pessoal. Esperava encontrar incensos, meditação, cânticos e orações, mas, em vez disso, a odisséia particular se transformara em uma viagem infernal e violenta ao redor de meio mundo. Ainda assim, no fim, talvez o resultado tenha sido o esperado.
Sua mão apertou a dela.
Ele a encontrara.
E apesar de terem passado por tantas experiências juntos nos últimos dias, ainda mal se conheciam. Quem era ela de fato? Qual era o prato preferido? O que a fazia dar uma gostosa gargalhada? Como deveria ser dançar com ela? O que ela sussurraria ao dizer boa-noite?
Painter só tinha uma certeza, estava ali sentado em seu avental hospitalar, praticamente nu ao lado dela, exposto ao nível de seu DNA.
Queria saber de tudo.
Dois dias depois, rifles dispararam os últimos tiros em direção ao céu azul, com estampidos magníficos que ressoaram pelas colinas verdes do Cemitério Nacional de Arlington. O dia estava excessivamente límpido para um funeral, um dia glorioso.
Gray afastou-se para o lado ao fim do funeral. A distância, contemplando o grupo de pessoas de luto em seus trajes negros, erguia-se o Túmulo dos Soldados Desconhecidos; oitenta toneladas de mármore do Colorado. Ele representava a perda sem nome, uma vida ceifada a serviço da nação.
Logan Gregory agora se juntava a eles. Mais um desconhecido. Poucos saberiam de seu heroísmo, o sangue derramado para proteger a todos os demais.
No entanto, alguns sabiam.
Gray observava o vice-presidente passar uma bandeira dobrada para a mãe de Logan, toda de preto, apoiada por seu pai. Logan não tinha mulher, nem filhos. A Sigma fora sua vida... e sua morte.
Lentamente, depois de um discurso, entre condolências e despedidas, a cerimônia foi encerrada. Todos caminhavam devagar em direção às limusines pretas e carros oficiais.
Gray acenou para Painter. Ele apoiava-se em uma bengala, recuperando-se da fraqueza, e cada dia estava mais forte. A seu lado a dra. Cummings vinha com um braço em volta de seu ombro, não para apoiá-lo, mas simplesmente para estar perto dele.
Monk seguia atrás deles, a caminho da fila de carros que aguardava.
Kat ainda estava internada. O funeral teria sido muito para ela de todo jeito. Ainda era muito cedo.
Ao chegar aos carros estacionados, Gray aproximou-se de Painter. Tinham alguns assuntos para acertar.
Lisa beijou o diretor no rosto.
- Vejo você lá. - E afastou-se com Monk. Eles tomariam outro carro até a casa da família de Logan, onde haveria uma pequena reunião.
Gray se surpreendera ao descobrir que os pais de Logan moravam a poucos quarteirões de seus pais, no Takoma Park. Isso só mostrava como sabia pouco a respeito daquele homem.
Painter foi até a um carro oficial modelo Lincoln e abriu a porta. Entraram no banco de trás. O motorista ergueu a janela interna, para dar privacidade aos ocupantes, e arrancou com o veículo.
Gray, li seu relatório - disse Painter afinal. - É um ponto de vista muito interessante. Vá em frente e prossiga nessa linha. Só que isso significará mais uma viagem à Europa.
Tenho de cuidar de alguns assuntos pessoais por lá, de qualquer modo. É sobre isso que queria conversar. Preciso de alguns dias extras.
Painter ergueu uma das sobrancelhas com um ar de brincadeira.
- Não sei se o mundo está pronto para mais uma de suas férias a trabalho.
Gray teve de aceitar que isso poderia ser verdade.
Painter mudou de assunto, claramente ainda sentindo algumas dores.
- E a respeito do relatório da dra. Marcia Fairfield? Você acha... acredita que a descendência dos Waalenberg...? - perguntou ele sacudindo a cabeça.
Gray também lera o relatório. Lembrava-se de quando ele e a doutora britânica vasculharam às escondidas o laboratório embrionário no último nível do subsolo. A dra. Fairfield afirmara certa ocasião que, quanto maior o tesouro, mais fundo estaria enterrado. O mesmo podia ser dito dos segredos, em especial aqueles guardados pelos Waalenberg. Como o experimento deles com quimera, misturando células-tronco humanas e de animais no cérebro.
No entanto, isso ainda não era o pior.
- Checamos os registros médicos gerais a partir do início da década de 1950 - disse Gray. - Foi confirmado. Baldric Waalenberg era estéril.
Painter balançou a cabeça novamente.
- Não é de admirar que o cretino fosse tão obcecado com procriação e com genética, lutando continuamente para sujeitar a natureza à sua vontade. Ele foi o último dos Waalenberg. Mas e as novas crianças... as que usou nos experimentos? É verdade?
Gray encolheu os ombros.
- Baldric estava envolvido intimamente com o programa nazista Lebensborn. O programa de procriação ariana deles. Juntamente com outros projetos relacionados à eugenia e também tentativas recentes de armazenar óvulos e esperma. Ao fim da guerra, parece que o programa Xerum 525 não foi o único projeto secreto que chegou às mãos de Baldric. Um outro teve o mesmo destino. Um congelado em tubos de ensaio. Uma vez descongelados, Baldric utilizou as amostras para inseminar sua jovem mulher.
- Tem certeza disso?
Gray acenou, confirmando.
Lá embaixo, no laboratório subterrâneo, a dra. Fairfield tinha visto a verdadeira árvore genealógica do novo e aprimorado clã dos Waalenberg. Ela vira o nome datilografado ao lado do da mulher de Baldric. Heinrich Himmler, o chefe da Ordem Negra. O nazista cretino podia ter se matado após a guerra, entretanto possuía um plano para continuar vivendo, para trazer à vida o novo super-homem ariano, uma nova linhagem de reis germânicos, a partir do seu próprio sêmen degradado.
E com o clã Waalenberg erradicado - disse Gray -, esse monstro está finalmente fora de combate também.
- Pelo menos é o que esperamos.
Gray concordou.
- Estou em contato com Khamisi. Ele está nos mantendo informados sobre a limpeza da propriedade. Até agora já capturaram diversos guardas. Ele teme que alguns dos animais tenham escapado para as profundezas da floresta, mas de fato a maioria foi morta durante a explosão. As buscas prosseguem.
Khamisi fora nomeado guarda-caça-chefe interino da reserva Hluhluwe-umfolozi. Também lhe foi dada autoridade policial de emergência pelo governo da África do Sul, para ajudar a coordenar a ajuda à tribo local junto ao chefe Mosi D'Gana. As dras. Paula Kane e Marcia Fairfield davam-lhe apoio técnico para lidar com a reação das comunidades internacionais de inteligência ao ataque e ao bombardeio à mansão.
As duas mulheres haviam se instalado de novo em sua residência na reserva, felizes em encontrarem uma à outra, vivas e bem, assim como também haviam aberto sua casa para Fiona. As duas espiãs ajudaram até mesmo Fiona a entrar em um programa de admissão antecipada em Oxford.
Gray contemplou rapidamente o panorama. Ele esperava que Oxford tivesse tudo lacrado com pregos, com toda segurança. Suspeitava que a baixa taxa de crimes nos arredores da universidade estava prestes a sofrer um repentino e significativo aumento.
Pensando em Fiona, Gray lembrou-se que precisava verificar como estava Ryan. Com o assassinato do pai, o rapaz colocara a propriedade da família a leilão, determinado a finalmente escapar da sombra do castelo Wewelsberg.
Era melhor assim
- E quanto a Monk e Kat? - perguntou Painter, atraindo de volta sua atenção. Sua voz estava mais clara, encobrindo um pouco da tristeza com a perda do amigo, ou ao menos a deixando de lado. - Soube que ficaram noivos ontem.
Gray estava sorrindo pela primeira vez naquele dia.
Ficaram.
Valha-nos Deus.
Mais uma vez Gray teve de concordar com o amigo. Compartilhavam aquela pequena alegria. A vida prosseguia. Conversaram sobre inúmeros outros detalhes, até que afinal o motorista fez uma curva e entrou na rua arborizada de Takoma Park e estacionou diante de uma casinha de madeira verde ao estilo vitoriano.
Painter desceu.
Lisa já estava lá.
Vamos encerrar por aqui?
Sim, senhor!
Avise-me sobre o que descobrir na Europa. E tire aqueles dias extras.
Obrigado, senhor.
Painter ofereceu o braço. Lisa aceitou. Os dois seguiram juntos até a casa. Assim que Gray desceu, Monk aproximou-se e acenou com a cabeça na direção da mulher e do diretor.
- Quer apostar?
Gray observou-os subir as escadas da varanda. Os dois haviam se tornado praticamente inseparáveis desde que deixaram a propriedade Waalenberg. Com Anna morta e Gunther desaparecido, Lisa era agora a única fonte de informação viva sobre a operação do Sino. Ela passara longas horas na Sigma, sendo interrogada. Mesmo assim Gray achava que os relatos e relatórios também serviam como desculpas para que Painter e Lisa passassem mais tempo juntos.
Parecia que o Sino fizera mais do que simplesmente curar o corpo.
Gray fitou por um momento as mãos deles dadas enquanto chegavam à varanda. Refletiu na pergunta de Monk. Quer apostar? Naquele ponto, talvez fosse muito cedo para certezas. Se a vida e a consciência são um fenômeno quântico, talvez o amor também fosse.
Amar ou não amar.
Onda ou partícula?
Talvez para Lisa e Painter ainda fosse ambos um potencial suspenso que apenas o tempo poderia determinar.
- Não sei - murmurou Gray, respondendo à pergunta de Monk. Seguiu em direção à casa, pensativo sobre o próprio futuro.
Como todas as outras pessoas, ele tinha a própria realidade para medir.
Wroclaw, Polônia
Ele estava atrasado.
Enquanto o sol baixava no horizonte, Gray cruzava a ponte verde de ferro fundido. A ponte barroca erguia-se sobre o rio Oder, uma extensão verde e plana que o sol poente transformara no brilho de um espelho.
Gray consultou o relógio. O avião de Rachel devia estar aterrissando naquele momento. Eles haviam combinado de se encontrar em um café no outro lado da rua do hotel deles, no antigo bairro histórico. Mas primeiro ele tinha um último assunto para resolver, um último encontro.
Continuou pela ponte de pedestres. Abaixo, um casal de cisnes negros deslizava majestosamente sobre as águas. Algumas gaivotas passaram rápido pelo céu, refletido no rio. O ar tinha cheiro de mar e dos lilases que cresciam ao longo das margens do canal. Ele começara aquela jornada em uma ponte em Copenhague, e agora ela terminava em outra.
Ergueu o olhar para a cidade antiga, com suas torres de flecha pretas, torrinhas com teto de cobre e torres de relógio em estilo renascentista. O nome antigo de Wroclaw era Breslau, uma cidade fortificada na fronteira da Alemanha com a Polônia. Grandes trechos da cidade haviam sido arruinados durante a Segunda Guerra Mundial quando o Wehrmacht alemão combateu o Exército Vermelho russo.
As conseqüências do ataque também trouxeram Gray até ali... quase sessenta anos depois.
Adiante surgiu a Ilha da Catedral. As torres góticas gêmeas da catedral de São João Batista, que dera o nome à ilha, brilhavam intensamente à medida que o dia chegava ao fim. Mas o destino de Gray não era a catedral. Havia muitas outras igrejas menores amontoadas na ilha. A meta de Gray ficava apenas a alguns passos da ponte.
Suas botas passaram do rangido de ferro para a rua com calçamento de pedras.
A igreja de São Pedro e São Paulo situava-se despretensiosamente à esquerda, fácil de passar despercebida, com sua fachada de trás fundindo-se com o muro de alvenaria junto ao rio. Gray avistou uma pequena porta para o escoamento de carvão que conduzia da margem rochosa do canal aos fundos da reitoria da igreja.
Será que uma certa criança havia brincado ao longo daquela margem?
Uma criança perfeita.
Gray soubera por intermédio de arquivos russos recentemente tornados públicos que o garoto sem mãe fora criado no orfanato outrora administrado pela igreja de São Pedro e São Paulo. Havia tantas crianças como esta, abandonadas depois da guerra, mas Gray havia restringido as possibilidades a idade, sexo e cor dos cabelos.
O último desses parâmetros, sem sombra de dúvida, era branco-alourados.
Gray também encontrara registros das buscas empreendidas pelo Exército Vermelho na cidade, da procura nas montanhas por laboratórios subterrâneos nazistas de armas, da descoberta na mina Wenceslas. Eles por pouco não capturaram o Obergruppenführer da SS Jakob Sporrenberg, avô de Anna e Gunther, enquanto ele evacuava o Sino. Lisa soubera por intermédio de Anna que foi naquela cidade, naquele rio, que Tola, a filha de Hugo, havia afogado o bebê.
Mas havia mesmo?
Foi essa possibilidade que fizera Gray e um punhado de pesquisadores da Sigma se debruçarem sobre velhos arquivos, seguir uma pista que esfriara havia muito, reconstituída a partir de pequenos fragmentos. Então veio a descoberta... o diário de um padre - do padre que administrava o orfanato ali -, contando sobre um bebê do sexo masculino, frio e sozinho, encontrado com a mãe morta. Ela havia sido enterrada em um cemitério ali próximo, anônima até agora.
O bebê, porém, sobrevivera, crescera ali e ingressara no seminário sob a tutela do mesmo padre que o resgatara, recebendo o nome de padre Piotr.
Gray dirigiu-se à porta da reitoria. Ele telefonara antes para marcar uma entrevista com o padre de 60 anos, fazendo-se passar por um repórter que estava pesquisando órfãos da época da guerra para um livro. Ergueu e bateu a aldraba de ferro contra a porta comum de tábuas.
Ele pôde ouvir pessoas cantando na igreja propriamente dita: uma missa estava sendo celebrada.
Depois de alguns momentos, a porta foi aberta.
Gray soube no mesmo instante quem o cumprimentava, reconhecendo de fotos antigas o rosto velho e sem rugas e a densa cabeleira branca partida ao meio. O padre Piotr vestia roupas informais: jeans, camisa preta, o colarinho romano de sua profissão e um suéter leve abotoado.
Ele falava inglês com forte sotaque polonês.
- Você deve ser Nathan Sawyer.
Gray não era, mas confirmou com um aceno de cabeça, subitamente pouco à vontade por mentir para um padre. Aquele subterfúgio, porém, era necessário, tanto para o bem do padre quanto para o seu próprio.
Ele pigarreou.
Obrigado por me conceder este encontro.
Claro. Por favor, entre. Seja bem-vindo.
O padre Piotr conduziu Gray pelo saguão da reitoria até uma pequena sala com um fogão a carvão aceso no canto. Um bule de chá estava em infusão em cima dele. Ele acenou para que Gray se acomodasse em uma cadeira. Assim que se sentou, Gray pegou um bloco com várias perguntas.
Piotr encheu duas xícaras de chá e sentou-se em uma poltrona que parecia um trono surrado, cujas almofadas havia muito tinham ficado marcadas com o contorno do corpo do homem. Uma Bíblia estava sobre uma mesa, ao lado de um abajur com cúpula de vidro, junto com alguns esfarrapados romances de mistério.
- Você veio para perguntar sobre o padre Varick - perguntou o homem, com um sorriso suave e autêntico. - Um grande homem.
Gray fez um aceno de cabeça.
- E sobre a vida do senhor aqui no orfanato.
Piotr bebericou seu chá e acenou com os dedos para que Gray prosseguisse.
As perguntas não eram assim tão importantes, a maioria visava a preencher lacunas. Gray já sabia quase tudo sobre a vida do homem. Vigor, tio de Rachel, como chefe do setor de inteligência do Vaticano, havia fornecido à Sigma um dossiê completo e detalhado sobre o padre.
Inclusive o prontuário médico.
O padre Piotr levava uma vida modesta no seio da Igreja. Não havia nada especialmente digno de nota sobre suas realizações além da dedicação constante a seu rebanho. No entanto, sua saúde continuava excepcionalmente boa. Não havia quase nada nos seus antecedentes médicos. Uma fratura óssea quando era adolescente, ao cair de uma rocha. Mas, exceto isso, os exames médicos de rotina revelavam um indivíduo com a saúde perfeita. Ele não era enorme como Gunther ou tão ágil como os Waalenberg. Apenas obstinadamente saudável.
O encontro não revelou qualquer novidade.
Gray por fim fechou seu bloco de anotações e agradeceu ao padre o tempo que lhe dedicara. Só para ser meticuloso, ele obteria amostras de sangue e de DNA quando o padre se submetesse ao próximo exame médico, de novo fornecidas pelo tio de Rachel. Mas Gray não esperava que muita coisa resultasse disso.
A criança aperfeiçoada de Hugo não passava de um homem bom e atencioso com uma saúde de ferro. Talvez aquilo fosse perfeição suficiente.
Quando estava de saída, Gray avistou um quebra-cabeça inacabado espalhado sobre uma mesa no canto da sala. Ele indicou com a cabeça em direção ao objeto.
- Então o senhor gosta de quebra-cabeças?
O padre Piotr sorriu com culpa, porém de maneira afável.
- É apenas um passatempo. Mantém a mente aguçada.
Gray concordou com um aceno de cabeça e saiu. Ele pensou no interesse de Hugo Hirszfeld pelo mesmo jogo. Será que alguma essência espiritual do pesquisador judeu havia sido passada para o menino, transmitida pelo Sino? Ao sair da igreja e voltar-se na direção do rio, Gray refletiu sobre tais associações. Pais e filhos. Era apenas genética? Ou havia algo mais? Alguma coisa no nível quântico?
A pergunta não era nova para Gray. Ele e seu pai jamais haviam tido um bom relacionamento; só recentemente é que pontes começaram a ser construídas. E, além disso, havia outras questões, problemas de fato inquietantes. A exemplo do quebra-cabeça de Piotr, o que Gray havia herdado do pai? Ele sem dúvida não podia negar o medo do mal de Alzheimer, uma possibilidade genética real, mas a questão era bem mais profunda que isso, retrocedia ao relacionamento difícil entre eles.
Que tipo de pai ele seria?
Apesar de estar atrasado, a pergunta fez Gray parar gélido na ponte de ferro.
Naquela única pergunta, a realidade mudou para ele. Ele lembrou-se de Monk provocando-o durante o vôo para a Alemanha, por causa de Rachel, do relacionamento deles. As palavras dele voltaram à mente de Gray ali na ponte.
Você deveria ter visto a sua cara quando mencionei a gravidez de Kat. Você se borrou de medo. E se trata do meu filho.
Ali estava a origem de seu pânico.
Que tipo de pai ele seria? Seria como seu pai, sem tirar nem pôr?
Gray encontrou a resposta no lugar mais improvável. Uma garota passou por ele na ponte, enfiada num suéter com capuz para se proteger da brisa do rio. Ele pensou em Fiona. Lembrou-se dos dias de terror, da mão dela apertando a sua, precisando dele, mas sempre brigando com ele. Lembrou-se da sensação daquela experiência.
Segurou com força no parapeito da ponte.
A sensação fora maravilhosa.
E ele queria mais.
Deu uma curta gargalhada ao se dar conta disso, apenas um louco numa ponte. Ele não tinha de ser como seu pai. Embora existisse o potencial de seguir as pegadas do pai, ele também tinha livre-arbítrio, uma consciência que poderia colapsar o potencial em qualquer direção.
Afinal liberto, voltou a caminhar pela ponte, permitindo lentamente que essa realidade colapsasse outros potenciais, caindo como um efeito dominó, um após o outro, levando a um último potencial hesitante, não resolvido.
Rachel.
Saiu da ponte e seguiu para o encontro.
Quando chegou ao café, ela já estava esperando no terraço. Ela também devia ter acabado de chegar, e ainda não o tinha visto. Ele parou, admirado com a beleza dela. Uma beleza que o impressionava de maneira diferente toda vez que se encontravam. Alta, pernas compridas, uma convidativa curva dos quadris, dos seios e do pescoço. Ela virou-se e o notou, fitando-a. Um sorriso aflorou nos lábios dela. Os olhos dela, cor de caramelo, brilharam calorosamente. Ela correu uma das mãos pelos cabelos negros, quase com timidez.
Quem não haveria de querer passar o resto da vida com ela?
Ele atravessou a rua, fechando a lacuna, estendendo uma das mãos para os dedos dela.
Naquele momento, ele voltou a se lembrar da provocação de Monk. Parecia tão distante. Uma provocação a respeito do rumo que Gray e Rachel haviam seguido. Uma provocação feita com três dedos erguidos.
Esposa, hipoteca, filhos.
Em outras palavras, realidade.
Um relacionamento não poderia ficar suspenso para sempre como puro potencial. Como amar e não amar. A evolução não toleraria isso. A realidade é que deveria medir isso.
E foi o que fez naquele instante para Gray.
Esposa, hipoteca, filhos.
Gray tinha sua resposta. Ele estava pronto para o desafio que os três representavam. E, consciente disso, a última peça do dominó caiu no seu coração.
Amar ou não amar.
Ondas ou partículas.
Gray segurou nos dedos de Rachel. Ele via a situação com clareza, e, no entanto, o resultado ainda o surpreendia. Ele a puxou na direção de uma pequena mesa e notou que havia sobre ela um prato com bolinhos junto a duas xícaras escuras fumegantes de café com leite, já à espera deles.
A habitual amabilidade de Rachel.
Ele a conduziu a uma cadeira e sentou-se na outra.
Olhou-a fixamente nos olhos. Não conseguiu disfarçar em sua voz o pesar e o pedido de desculpas, mas também não deixou de expressar sua firme decisão.
- Rachel, nós precisamos conversar.
Gray, então, viu isso nos olhos dela também. Realidade. Duas carreiras, dois continentes, duas pessoas com caminhos separados a partir dali.
Ela apertou os dedos dele.
- Eu sei.
O padre Piotr havia observado o rapaz cruzar a ponte. Estava em pé junto à porta aberta para o escoamento de carvão que conduzia à adega da reitoria. Ele esperou que seu recente visitante desaparecesse na rua do outro lado e então suspirou.
Um rapaz simpático, mas envolto em sombras.
O pobre rapaz tinha muito pesar à sua frente.
Mas assim era a jornada da vida.
Um miado suave chamou sua atenção para baixo. Um gato malhado esquelético esfregava-se em seus calcanhares, a cauda ereta, os olhos erguidos para ele em expectativa. Um dos animais abandonados do padre Varick. Agora sob os cuidados dele. Piotr ajoelhou-se e pôs um pratinho com restos de comida em cima de uma pedra. O gato, que vivia na beira do rio, esfregou-se uma última vez nele e em seguida andou com passinhos miúdos até a comida.
O padre Piotr agachou-se e fixou o olhar no rio, resplandecente com os últimos raios do sol. Notou uma coisinha com penugem perto de seu tornozelo. Um pardal marrom com o pescoço quebrado. Um dos muitos presentes que seus órfãos deixavam à sua porta.
Ele sacudiu a cabeça, recolheu o pássaro mole entre as palmas das mãos e ergueu-o até os lábios. Soprou suas penas, fazendo-as eriçar-se, levantando uma asa, que aparou o ar com um movimento surpreso. O pardal levantou vôo de sua palma, disparando e dançando de novo no céu.
Piotr observou-o por um instante, tentando interpretar algo na trilha traçada no ar. Em seguida esfregou as mãos e levantou-se, espreguiçando-se.
A vida permanecia sempre um mistério maravilhoso.
Mesmo para ele.
James Rollins
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















