



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Quase um século depois que uma pesquisa científica financiada pelo Exército dos Estados Unidos foge do controle, tudo o que resta é uma paisagem apocalíptica. As cobaias utilizadas nos experimentos - prisioneiros a caminho do corredor da morte - escaparam do laboratório e iniciaram uma terrível carnificina, se alimentando de qualquer ser vivo com sangue nas veias e espalhando por todo o continente o vírus com o qual foram inoculadas.
Um em cada 10 habitantes pode ter sido infectado. Os outros nove se tornaram presas desses virais, criaturas animalescas extremamente ágeis e fortes cujos únicos pontos fracos parecem ser a hipersensibilidade à luz e uma pequena área frágil próxima ao esterno.
Em uma fortificação construída nas montanhas, cercada de muralhas de concreto e holofotes superpotentes, uma comunidade tenta sobreviver aos constantes ataques noturnos. Mas a precária estrutura que a protege está com os dias contados: as baterias que alimentam as luzes começam a falhar e uma invasão é iminente.
Não se sabe o que aconteceu ao resto do mundo: a comunicação foi cortada, não há governo e o Exército nunca cumpriu a promessa de voltar. Provavelmente estão todos mortos. Mas a chegada de uma misteriosa andarilha traz novas expectativas: ao que tudo indica, ela tem as mesmas habilidades dos virais, mas não sua necessidade de sangue. Agarrando-se a essa esperança, um grupo parte da Colônia para buscar mais sobreviventes - e a verdade fora dos muros.
Com uma narrativa tensa e bem estruturada, Justin Cronin constrói personagens de complexidade psicológica surpreendente. Na transição do mundo que conhecemos para um que não poderíamos imaginar encontra-se uma humanidade sitiada pelos próprios erros.
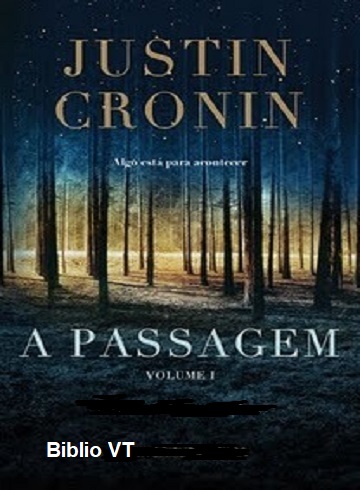
Antes de se tornar a Garota de Lugar Nenhum - Aquela que Surgiu, A Primeira, Última e Única, a que viveu mil anos - ela era apenas uma menininha de Iowa chamada Amy. Amy Harper Bellafonte.
Quando Amy nasceu, sua mãe, Jeanette, tinha 19 anos. Jeanette a chamou assim em homenagem à mãe, que havia morrido quando ela era pequena, e escolheu o segundo nome, Harper, por causa de Harper Lee, autora de O sol é para todos, seu livro predileto - para dizer a verdade, o único livro que havia lido até o final do ensino médio. Poderia tê-la chamado de Scout, como a narradora da história, porque queria que a filha fosse igual à personagem: forte, divertida e inteligente, de um jeito que Jeanette jamais conseguira ser. Mas Scout era nome de menino, e ela não queria que a filha passasse a vida inteira tendo que explicar isso.
O pai de Amy era um homem que um dia apareceu no restaurante em que Jeanette trabalhava como garçonete desde os 16 anos, um lugar que todos chamavam de Caixa, porque parecia uma grande caixa de sapatos cromada, e que ficava à beira da estrada, diante de uma plantação de milho e feijão, de onde não se via mais nada por quilômetros, a não ser um lava a jato daqueles em que você coloca moedas na máquina e tem que fazer todo o trabalho sozinho. O homem, que se chamava Bill Reynolds, vendia ceifadeiras, colheitadeiras e máquinas desse tipo. Era um sujeito de fala suave que, enquanto Jeanette lhe servia o café - e também mais tarde - lhe disse várias vezes que ela era linda, que gostava de seus cabelos pretos como carvão, de seus olhos castanhos e dos pulsos finos. Ele falou tudo isso de um modo que parecia verdadeiro, e não como os garotos da escola, como se as palavras fossem apenas algo que precisava ser dito para que Jeanette os deixasse fazer o que quisessem com ela. Ele tinha um carro grande, um Pontiac novo, com um painel que brilhava como uma espaçonave e bancos de couro macios como manteiga. Ela achava que poderia ter amado aquele homem, amado de verdade. Mas ele só ficou na cidade por alguns dias e depois foi embora.
Quando ela contou ao pai o que havia acontecido, ele quis ir atrás do responsável por aquilo, fazê-lo assumir a criança. Mas o que Jeanette sabia e não disse ao pai era que Bill Reynolds era casado e tinha família na cidade de Lincoln, em Nebraska, bem longe dali. Havia até mesmo mostrado a ela as fotos dos filhos que trazia na carteira: dois menininhos vestindo uniformes de beisebol, Bobby e Billy. De modo que, por mais que seu pai perguntasse quem era o homem que havia feito aquilo com ela, ela não diria. Jamais sequer mencionou o nome dele.
A verdade era que nada disso a incomodara realmente: nem a gravidez, que foi bem tranquila, nem o parto propriamente dito, que foi ruim mas rápido, e muito menos o bebê, sua pequena Amy. Para que a filha soubesse que ele a havia perdoado, seu pai transformou o antigo quarto do irmão de Jeanette num quartinho de neném. Ele pegou um velho berço no sótão, o mesmo em que a própria Jeanette havia dormido quando bebê, e, nos últimos meses antes da chegada de Amy, levou Jeanette para comprar algumas coisas de que precisava, como pijamas, uma banheira de plástico e um móbile para pendurar em cima do berço. Ele havia lido que bebês precisavam de coisas assim, objetos para olharem, de modo que seus pequenos cérebros fossem estimulados e funcionassem bem.
Desde o início, Jeanette só pensou no bebê como sendo "ela", porque em seu coração desejava uma menina, mas sabia que esse era o tipo de coisa que não deveria dizer a ninguém, nem mesmo a si própria. Fez uma ultrassonografia no hospital em Cedar Falis e perguntou à técnica, uma mulher de jaleco florido que passava o pequeno aparelho de plástico em sua barriga, se era possível saber o sexo da criança, mas a mulher apenas sorriu e disse, olhando no monitor as imagens do bebê de Jeanette dormindo dentro dela: "Querida, este neném é tímido. Às vezes dá para ver, outras vezes não, e esta é uma delas." Então Jeanette não soube, mas decidiu que estava bem assim.
Depois, quando ela e o pai esvaziaram o quarto do irmão, arrancaram os antigos pôsteres - de astros do beisebol, bandas musicais e modelos de propagandas de cerveja - e viram como as paredes estavam desbotadas, resolveram pintar o quarto de uma cor cujo nome na lata de tinta era "hora de sonhar" e que, de algum modo, era ao mesmo tempo rosa e azul - o que seria adequado qualquer que fosse o sexo do bebê. Seu pai colocou uma faixa junto ao teto, com padrão de patos nadando num laguinho, e comprou uma velha cadeira de balanço de madeira numa loja de móveis usados, para que Jeanette tivesse onde ficar sentada com o neném no colo quando o levasse para casa.
O bebê nasceu no verão, a menina que ela desejara e a quem chamou de Amy Harper Bellafonte. Não parecia fazer sentido usar Reynolds, o sobrenome de um homem que Jeanette achava que nunca mais veria e que, agora que Amy estava ali, não queria mais ver. Mas Bellafonte, era impossível haver nome melhor. Significava "linda fonte", e era exatamente isso o que Amy era. Jeanette a amamentava, ninava, lhe trocava as fraldas e, quando Amy chorava no meio da noite porque estava molhada, com fome ou porque não gostava do escuro, Jeanette ia cambaleando pelo corredor até o quarto dela, sem se importar com a hora ou com o cansaço depois de trabalhar o dia inteiro na Caixa, e lhe dizia que estava ali, que sempre estaria, que se você chorar eu venho correndo, esse é o nosso trato, meu e seu para todo o sempre, minha pequenina Amy Harper Bellafonte. E a pegava no colo, ninando-a até que a luz do amanhecer começasse a entrar pelas persianas e Jeanette ouvisse passarinhos cantando nos galhos das árvores lá fora.
E então Amy tinha 3 anos e Jeanette estava sozinha. Seu pai havia morrido - ataque cardíaco, disseram, ou talvez derrame; não era o tipo de coisa que fosse preciso verificar. O que quer que fosse, pegara-o de manhã cedo num dia de inverno, enquanto andava até a picape para ir trabalhar. Ele só tivera tempo de colocar seu café no para-choque antes de cair e morrer, sem derramar uma gota. Jeanette ainda trabalhava na Caixa, mas agora o dinheiro não dava nem para Amy nem para nada, e seu irmão, que estava em algum lugar com a Marinha, não respondia às suas cartas. "Deus inventou Iowa", ele sempre dizia, "para que as pessoas vão embora e nunca mais voltem." Ela pensava no que fazer.
Até que um dia um homem entrou no restaurante. Era Bill Reynolds. Havia algo diferente nele, e a mudança não era boa. O Bill Reynolds de que se lembrava - tinha de admitir que ainda pensava nele de vez em quando, principalmente nos pequenos detalhes, como o modo como seu cabelo cor de areia caía pela testa enquanto falava, ou como ele soprava o café antes de beber, mesmo que não estivesse mais quente - tinha alguma coisa, uma espécie de luz interior cálida que a gente queria ter por perto. Ele lembrava a ela aquelas varinhas de néon que brilham quando sacudidas. Era o mesmo homem, mas o brilho havia sumido. Parecia mais velho, mais magro. Ela reparou que ele não havia se barbeado nem penteado os cabelos, que estavam oleosos e bagunçados, e que não estava usando uma camisa polo engomada, como antes, e sim uma camiseta simples, como as que seu pai costumava usar no trabalho, por fora da calça e manchada nas axilas. Parecia ter passado a noite inteira na rua ou num carro estacionado em algum lugar. Ele atraiu seu olhar assim que passou pela porta, e ela o acompanhou até uma mesa nos fundos do restaurante.
- O que está fazendo aqui?
- Eu a deixei - respondeu Bill olhando para ela.
Jeanette sentiu cheiro de cerveja, suor e roupa suja.
- Foi o que eu fiz, Jeanette. Deixei minha mulher. Sou um homem livre.
- Você veio até aqui para me dizer isso?
- Tenho pensado em você. - Ele pigarreou. - Muito. Tenho pensado em nós.
- Nós, quem? Você não pode aparecer aqui desse jeito e dizer que andou pensando em nós.
Ele se empertigou.
- Bom, é exatamente o que estou fazendo agora.
- O restaurante está cheio, não está vendo? Não posso ficar conversando assim. Você vai ter de pedir alguma coisa.
- Ótimo - respondeu ele, sem olhar o cardápio na parede, os olhos fixos nela, e acrescentou: - Vou querer um cheeseburger. Um cheeseburger e uma Coca.
Enquanto anotava o pedido e as palavras flutuavam em sua visão, ela percebeu que tinha começado a chorar. Sentia-se como se não dormisse havia um mês, um ano. O peso da exaustão era sustentado apenas por uma pontinha de força de vontade. Houve um tempo em que ela desejara fazer alguma coisa da vida - cortar o cabelo, talvez, tirar um diploma, abrir uma loja, mudar-se para uma cidade de verdade, como Chicago ou Des Moines, alugar um apartamento, ter amigos. Por algum motivo sempre se imaginara numa dessas cidades, sentada num restaurante, um café elegante: era outono, fazia frio lá fora, e ela estava sozinha sentada junto à janela, lendo um livro. Em sua mesa havia uma caneca fumegante de chá. Ela olhava pela janela e observava as pessoas andando depressa de um lado para o outro com casacos pesados e chapéus, e via também seu próprio rosto refletido no vidro, pairando acima da imagem dos pedestres lá fora. Mas, enquanto anotava o pedido de Bill, essas ideias pareciam pertencer a uma pessoa totalmente diferente. Agora havia Amy, quase sempre doente, com gripe ou alguma virose que pegava na creche barata onde ficava para que Jeanette trabalhasse na Caixa, e a morte de seu pai daquele jeito tão brusco, tão depressa, como se tivesse caído por um alçapão na superfície da Terra, e Bill Reynolds sentado à mesa como se houvesse se ausentado por alguns segundos, e não quatro anos.
- Por que você está fazendo isso comigo?
Ele sustentou o olhar de Jeanette por um longo tempo e tocou sua mão.
- Me encontre mais tarde. Por favor.
Bill acabou indo morar com Amy e Jeanette. Ela não sabia dizer se o havia convidado ou se aquilo simplesmente acontecera. De qualquer modo, logo se arrependeu. Bill Reynolds: quem era ele de verdade? Tinha deixado a mulher e os filhos, Bobby e Billy, com seus uniformes de beisebol, tudo para trás em Nebraska. O Pontiac se fora, e ele não tinha mais emprego - isso também ficara para trás. Com a economia daquele jeito, ele explicara, ninguém mais comprava porcaria nenhuma. Bill disse que tinha planos, mas o único plano que ela o via pôr em ação era ficar sentado em casa, sem fazer nada por Amy e nem mesmo lavar os pratos do café da manhã, enquanto ela trabalhava o dia inteiro na Caixa.
Ele bateu nela pela primeira vez depois de estarem morando juntos havia três meses. Estava bêbado e, assim que acabou, explodiu em pranto, dizendo repetidamente como estava arrependido. Ficou de joelhos chorando, como se ela tivesse feito alguma coisa contra ele. Disse que ela precisava entender como tudo era difícil, todas aquelas mudanças na vida dele. Era mais do que um homem, qualquer homem, podia suportar. Ele a amava, estava arrependido, aquilo nunca aconteceria de novo, jamais. Ele jurou. Não aconteceria com ela nem com Amy. E, no fim, ela se viu pedindo desculpas também.
Ele havia batido nela por causa de dinheiro. Quando o inverno chegou e Jeanette não tinha dinheiro suficiente para pagar pelo óleo para aquecer a casa, Bill bateu nela de novo.
- Desgraça, mulher! Não está vendo que estou cheio de problemas?
Ela estava no chão da cozinha, as mãos na cabeça. Ele havia batido com força suficiente para fazê-la voar. Agora, caída, ela notava como o chão estava imundo, sujo e manchado, com cotões de poeira e Deus sabe mais o quê acumulados contra a base dos armários, onde geralmente não eram vistos. Uma parte da sua mente se ocupava disso enquanto a outra dizia: você não está pensando direito, Jeanette. Bill bateu em você e algum parafuso se soltou, e agora você fica se preocupando com a poeira. Algo estranho parecia estar acontecendo com os sons ao redor, também. Amy estava assistindo a um programa lá em cima, na pequena televisão em seu quarto, mas Jeanette podia escutar tudo como se estivesse dentro de sua cabeça: Barney, o dinossauro roxo, e uma música sobre escovar os dentes, e depois, ao longe, o som do caminhão de óleo indo embora, o motor rugindo enquanto se afastava pela estrada.
- Esta casa não é sua - disse ela.
- Nisso você está certa. - Bill pegou uma garrafa de Old Crow em cima da pia e fez de um pote de geleia o copo em que se serviu uma dose, apesar de serem apenas 10 da manhã. Sentou-se à mesa, mas não cruzou as pernas como se quisesse ficar confortável. - E o óleo também não é meu.
Jeanette rolou e tentou ficar de pé, mas não conseguiu. Olhou para ele por um instante.
- Vá embora.
Ele riu, balançando a cabeça, e tomou outro gole de uísque.
- Que engraçado - zombou ele - você dizer isso aí do chão.
- Estou falando sério. Vá embora.
Amy entrou na cozinha. Segurava o coelhinho de pelúcia que ainda carregava para todo canto e usava um macacão, o melhor que tinha, que Jeanette havia comprado numa liquidação na OshKosh B'Gosh, com moranguinhos bordados no peito. Uma das alças estava solta, balançando na altura da cintura. Jeanette percebeu que Amy devia ter desabotoado a alça sozinha porque precisava ir ao banheiro.
- Você caiu, mamãe.
- Está tudo bem, querida. - Ela se levantou para provar. Seu ouvido direito zumbia um pouco, como num desenho animado, e ela estava tonta. Viu também que tinha um pouco de sangue na mão, não sabia de onde. Ela pegou Amy no colo e se esforçou ao máximo para sorrir.
- Está vendo? Mamãe só escorregou, só isso. Você precisa ir ao banheiro, querida? Precisa?
- Olhe só para você - disse Bill. - Dê só uma olhada em você. - Ele balançou a cabeça de novo e tomou mais um gole. - Sua babaca idiota. Ela provavelmente nem é minha.
- Mamãe - disse a menina, e apontou você se cortou. Seu nariz está sangrando.
E talvez pelo que tinha escutado ou por causa do sangue, a menininha começou a chorar.
- Viu o que você fez? - disse Bill, e para Amy: - Ora, ora. Não foi nada de mais, às vezes as pessoas discutem, é assim mesmo.
- Vou dizer mais uma vez: vá embora.
- E aí, o que você vai fazer? Você não consegue nem encher o tanque de óleo.
- Acha que eu não sei disso? Deus sabe que não preciso de você para me dizer isso.
Amy chorou ainda mais. Segurando-a no colo, Jeanette sentiu uma umidade quente se espalhar por sua cintura quando a menina soltou a bexiga.
- Pelo amor de Deus, faça essa garota calar a boca.
Ela apertou Amy junto ao peito.
- Você está certo. Ela não é sua. Não é sua e nunca será. Vá embora ou chamo a polícia, eu juro.
- Não faça isso comigo, Jean. Estou falando sério.
- Eu também. E é isso mesmo o que vou fazer.
Então ele se levantou e irrompeu pela casa, pegando suas coisas, jogando-as nas mesmas caixas de papelão que tinha usado para trazê-las meses antes. Jeanette se perguntou por que, na época, não achara estranho o fato de ele nem sequer ter uma mala de verdade. Ela se sentou à mesa da cozinha segurando Amy no colo, olhando o relógio acima do fogão e contando os minutos até que ele voltasse para bater mais nela.
Mas então ela ouviu a porta da frente se abrir e os passos pesados dele na varanda. Bill ficou entrando e saindo por algum tempo, carregando as caixas, deixando o ar frio penetrar na casa pela porta da frente aberta. Por fim entrou na cozinha, fazendo um rastro de neve no chão com as solas das botas.
- Ótimo. Ótimo. Quer mesmo que eu vá embora? - Ele pegou a garrafa de Old Crow na mesa. - Última chance - disse.
Jeanette não falou nada, nem olhou para ele.
- Então é assim. Ótimo. Se importa se eu tomar uma saideira?
E foi então que Jeanette bateu no copo dele, atirando-o do outro lado da cozinha, a mão espalmada como uma raquete. Só meio segundo antes do gesto ela percebeu o que ia fazer. Percebeu que aquela não era a melhor ideia que tivera, mas já era tarde demais. O copo bateu na parede com um som oco e caiu no chão, sem quebrar. Ela fechou os olhos e segurou Amy com força, sabendo o que viria. Por um momento o som do copo rolando no chão pareceu ser o único ruído na cozinha. Ela podia sentir a raiva crescendo dentro de Bill como ondas de calor.
- Espere só para ver o que a aguarda, Jeanette. Anote o que eu digo.
Então seus passos o levaram para fora da casa, e ele se foi.
Ela pagou ao homem do óleo a quantia que pôde e virou o termostato para 10 graus, para que o óleo durasse mais tempo.
- Viu, Amy, é como se estivéssemos num acampamento - disse ela à filha enquanto enfiava as mãozinhas da menina em luvas e punha um gorro em sua cabeça. - Pronto, não está tão frio assim, na verdade. É como uma aventura.
As duas dormiam juntas sob uma pilha de cobertores, o quarto tão gelado que a respiração delas formava uma névoa. Jeanette arranjou um segundo emprego, à noite, fazendo faxina numa escola. Ela deixava Amy com uma vizinha, mas, quando a mulher ficou doente e teve de ser internada, Jeanette precisou deixar a filha sozinha. Explicou à menina o que fazer: fique na cama, não abra a porta, apenas feche os olhos e eu estarei de volta antes que você perceba. Certificava-se de que ela estivesse dormindo antes de se esgueirar pela porta, depois andava rapidamente pelo caminho coberto de neve até onde havia parado o carro, longe da casa, para que Amy não escutasse o motor sendo ligado.
Mas uma noite Jeanette cometeu o erro de falar sobre isso a uma colega de trabalho, enquanto as duas faziam uma pausa para fumar. Ela nunca havia fumado antes e sabia que não devia gastar aquele dinheiro, mas o cigarro a ajudava a ficar acordada e, fora aquele intervalo, não havia nada pelo que esperar além de mais banheiros a serem limpos e corredores a serem esfregados. Pediu à mulher, que se chamava Alice, que não contasse a ninguém, sabia que poderia ter problemas por deixar Amy sozinha daquele jeito. Mas foi exatamente isso o que Alice fez: foi direto ao supervisor, que demitiu Jeanette no ato.
- Deixar uma criança sozinha assim não é certo - disse ele em seu escritório perto das caldeiras, um cômodo que não passava de três metros quadrados, com uma mesa de metal amassada, uma velha poltrona com estofo saindo e um calendário de outro ano na parede. O ar ali era sempre tão quente e abafado que Jeanette mal conseguia respirar. - Você tem sorte de eu não denunciá-la às autoridades.
Ela se perguntou quando se tornara uma pessoa a quem alguém poderia dizer aquilo sem estar errado. O supervisor fora gentil com ela até aquele dia, e talvez Jeanette pudesse tê-lo feito entender a situação, que sem o dinheiro da faxina ela não saberia o que fazer, mas estava cansada demais para encontrar as palavras. Pegou seu último pagamento e voltou para casa em seu velho carro, o Kia que comprara ainda na adolescência, quando ele tinha seis anos de uso e já se deteriorava tão depressa que ela praticamente podia ver pelo retrovisor as porcas e os parafusos caindo no asfalto. Então, quando parou no mercadinho para comprar cigarro e o motor não quis mais pegar, ela começou a chorar. E levou meia hora para conseguir parar.
O problema era a bateria. Acabou tendo de gastar 83 dólares na compra de uma nova. A essa altura já havia faltado ao trabalho uma semana e perdido o emprego na Caixa também. O dinheiro que tinha foi suficiente apenas para ir embora levando suas coisas em duas sacolas de compras e nas caixas que Bill havia deixado para trás.
Ninguém jamais soube o que aconteceu a elas. A casa ficou vazia. Os canos congelaram e estouraram como frutas maduras demais. Quando chegou a primavera, a água jorrou por eles por muitos dias, até que a companhia de água, percebendo que ninguém pagava a conta, mandou dois homens para desligá-la. Os ratos se apossaram da casa, e, quando uma janela no andar de cima se quebrou durante uma tempestade de verão, vieram as andorinhas. Elas construíram seus ninhos no quarto onde Jeanette e Amy haviam dormido no frio, e logo a casa se encheu com o som e o cheiro dos pássaros.
Em Dubuque, Jeanette trabalhou à noite num posto de gasolina, enquanto Amy dormia no sofá numa sala dos fundos, até que o dono descobriu e a mandou embora. Era verão, e elas moravam no Kia, usando o banheiro atrás do posto para se lavarem, de modo que ir embora era apenas uma questão de entrar no carro e sair Durante algum tempo, as duas viveram na casa de uma amiga de leanette em Rochester, uma garota que ela conhecera na escola e que tinha se mudado para lá para estudar enfermagem. Jeanette arranjou um emprego como faxineira no hospital onde a amiga trabalhava, mas ganhava apenas um salário mínimo, e o apartamento da amiga era pequeno demais para elas ficarem. Jeanette e Amy se mudaram para um hotel, mas não havia ninguém para cuidar da menina, a amiga não podia fazer isso e não conhecia ninguém que pudesse, e as duas acabaram indo morar no Kia de novo. Era setembro, e o frio já estava de volta. O rádio falava o dia todo sobre a guerra. Jeanette dirigiu em direção ao sul e conseguiu chegar até Memphis antes que o Kia pifasse de vez.
O homem que deu carona a elas na Mercedes disse que se chamava John - o que era mentira, supôs Jeanette pelo modo como ele falou, como uma criança ao contar quem quebrou o abajur, olhando-a por um segundo antes de dizer "Meu nome é... John". Ela calculou que ele devia ter uns 50 anos, mas não sabia avaliar muito bem essas coisas. Ele tinha uma barba bem aparada e usava um terno escuro apertado, como um agente funerário. Enquanto dirigia, ficava olhando para Amy pelo retrovisor, ajeitando-se no banco, fazendo perguntas a Jeanette sobre ela, aonde estava indo, que tipo de coisas gostava de fazer, o que a trouxera ao grande estado do Tennessee. O carro a fez lembrar o de Bill Reynolds, só que mais caro. Com as janelas fechadas, Jeanette mal podia ouvir qualquer coisa lá fora, e os bancos eram tão macios que ela parecia estar sentada num prato de sorvete. Sentiu vontade de dormir. Quando pararam no hotel, ela mal se importava com o que iria acontecer. Parecia inevitável. Estavam perto do aeroporto. O terreno era plano como em Iowa e, no crepúsculo, ela podia ver as luzes dos aviões circulando nas pistas, movendo- se em arcos sonolentos e vagarosos como alvos num clube de tiro.
- Amy, querida, mamãe vai ter de entrar com esse moço por um minuto, está bem? Fique olhando seu livro de figuras, querida.
Ele foi bastante educado, indo direto ao assunto, chamando-a de querida e coisa e tal, e antes de ir embora pôs 50 dólares na mesinha de cabeceira - o bastante para Jeanette pagar por uma noite para Amy e ela no hotel.
Mas outros não foram tão gentis.
A noite ela trancava Amy no quarto com a TV ligada para fazer algum barulho, ia para a frente do hotel, ficava à beira da estrada, imóvel, e não demorava muito. Alguém sempre parava, e, assim que entravam num acordo, ela levava o homem para o hotel. Ela ia na frente e, antes de deixá-lo entrar no quarto, carregava Amy para o banheiro, onde arrumara uma cama para ela dentro da banheira, usando alguns cobertores e travesseiros extras.
Amy tinha 6 anos. Era quieta, falava muito pouco na maior parte do tempo, mas havia aprendido a ler praticamente sozinha, de tanto olhar os mesmos livros, e conhecia os números. Uma vez as duas estavam assistindo a um programa de TV, e, quando chegou a hora de a participante escolher como gastar o dinheiro que havia ganhado, a menina disse exatamente o que ela conseguiria comprar, que não teria o suficiente para as férias em Cancún, mas poderia levar o conjunto de sala de estar e ainda sobraria o bastante para o jogo de tacos de golfe. Jeanette pensou em como a filha era esperta por deduzir aquilo, que talvez fosse até muito inteligente e que provavelmente deveria estar na escola, mas não sabia onde havia escolas por ali. Conhecia apenas oficinas, lojas de penhores e hotéis como aquele em que moravam, o SuperSix. O dono era um homem que se parecia com Élvis Presley, não o Élvis jovem e bonito, mas o velho e gordo, de cabelos oleosos e óculos dourados enormes, que faziam seus olhos parecerem peixes nadando num aquário, e uma jaqueta de cetim com um raio nas costas, exatamente como Élvis. Na maior parte do tempo ele ficava sentado à sua mesa atrás do balcão, jogando paciência e fumando um cigarro com piteira de plástico.
Jeanette pagava em dinheiro vivo toda semana e, se lhe desse uns 50 dólares extras, o dono do hotel não a incomodava. Um dia ele perguntou se ela possuía alguma coisa para se proteger, se não queria comprar um revólver. Ela disse que sim, quanto é, e ele respondeu que 100 pratas. Ele lhe mostrou um pequeno revólver calibre 22 enferrujado. Quando ela o colocou na mão direita, ali no saguão, não pareceu grande coisa, muito menos algo com que se pudesse atirar numa pessoa. Mas era suficientemente pequeno para caber na bolsa que ela sempre levava para a estrada, e Jeanette não achou que seria má ideia.
- Veja lá para onde você aponta isso - disse ele.
- Bem, se você está com medo, ele deve funcionar. Você acaba de vender uma arma.
Ficou feliz por ter o revólver. O simples fato de saber que ele estava em sua bolsa fizera-a perceber que antes sentia medo, mas agora não, pelo menos não muito. A arma era como um segredo, um segredo a respeito de quem ela realmente era, como se estivesse carregando o último pedacinho de si mesma na bolsa. A outra Jeanette, a que ficava parada na estrada com um top curtíssimo e uma saia justa, que projetava o quadril, sorria e dizia "O que você quer, querido? O que posso fazer por você?", aquela Jeanette era uma pessoa inventada, como uma mulher de uma história cujo final ela não estava certa de querer saber.
O homem daquela noite não era o que aparentava. Geralmente Jeanette podia identificar os maus logo de cara, e às vezes dizia não, obrigada, e continuava andando. Mas aquele parecia legal, ela achou que era um universitário, ou pelo menos era jovem o bastante para ser. Estava bem-vestido, com uma calça cáqui e uma camisa polo. Parecia alguém que se arrumara para ir a um encontro, o que a fez rir sozinha enquanto entrava no carro, uma grande picape com um suporte no teto para transportar bicicletas ou o que fosse.
Mas então algo estranho aconteceu. Ele não quis ir até o quarto do hotel. Alguns homens preferiam fazer tudo ali mesmo, no carro, sem se incomodar em sair, mas quando ela começou a fazer isso, achando que era o que ele queria, ele a afastou gentilmente. Disse que queria levá-la para sair.
- Como assim, sair? - ela perguntou.
- Vamos a um lugar legal. Não prefere ir a um lugar legal? Eu pago mais.
Ela pensou em Amy dormindo no quarto e achou que não faria muita diferença.
- Desde que não demore mais de uma hora - disse. - Depois você me traz de volta.
Mas levaria mais de uma hora, muito mais. Quando finalmente chegaram
aonde ele queria, Jeanette estava com medo. O homem estacionou em frente a uma casa que tinha uma grande placa na varanda com desenhos que pareciam letras, mas não eram bem isso, e Jeanette logo soube do que se tratava: uma república estudantil. Um lugar onde um bando de garotos ricos morava e se embebedava usando o dinheiro dos pais, fingindo estar na faculdade para um dia virarem médicos ou advogados.
- Você vai gostar dos meus amigos - disse o sujeito. - Venha, quero que os conheça.
- Não vou entrar aí. Me leve de volta agora.
Ele parou, colocou as duas mãos no volante, e, quando ela viu o que havia em seus olhos, a fome lenta e louca, de repente ele não parecia mais um cara legal.
- Essa opção não existe - disse ele. - Aliás, ela não faz nem parte do cardápio.
- Não existe é o cacete.
Ela abriu a porta da picape e saiu correndo, mesmo não sabendo onde estava, mas ele foi atrás dela e a agarrou com força pelo braço. Agora ficara bem claro o que a esperava dentro da casa, o que ele queria, e como tudo ia acontecer. A culpa era dela por não ter entendido antes - muito antes, talvez ainda na Caixa, no dia em que Bill Reynolds havia entrado. Percebeu que o rapaz também estava com medo, que talvez alguém o tivesse obrigado a fazer aquilo, os amigos dentro da casa, quem sabe, mas o fato é que ele também parecia nervoso. Mas isso não importava. Ele chegou por trás dela e tentou prendê-la dando uma chave de pescoço. Então Jeanette o acertou com a parte de trás do punho, com força, onde sabia que ia doer - o que o fez gritar, chamá-la de vadia, puta e tudo o mais e lhe dar um soco no rosto.
Jeanette perdeu o equilíbrio e caiu de costas, e ele então montou nela como um jóquei em um cavalo, batendo e socando, tentando prender seus pulsos. Ela sabia que, se ele conseguisse isso, seria o fim. O cara provavelmente não se incomodaria se ela estivesse inconsciente enquanto agia, pensou, nenhum deles se importaria. Ela alcançou a bolsa, que estava caída na grama. Sua vida lhe era tão estranha que não parecia mais ser sua, se é que algum dia tinha sido. Mas tudo fazia sentido para uma arma. Uma arma sabia exatamente o que era, e ela sentiu o metal frio do revólver se alojar na palma de sua mão, como se quisesse estar ali. Ela disse a si mesma: "Não pense, Jeanette", e encostou o revólver na têmpora do rapaz, sentindo a pele e o osso contra o cano, tão perto que não poderia errar, e então puxou o gatilho.
Jeanette levou quase a noite inteira para chegar em casa. Depois que o rapaz rolou de cima dela, ela correu o mais depressa que pôde até a maior rua que encontrou, uma ampla avenida que reluzia sob as luzes, bem a tempo de pegar um ônibus. Não sabia se havia sangue em sua roupa, mas o motorista mal olhou para ela enquanto explicava como chegar ao aeroporto, e se sentou bem atrás, onde ninguém pudesse vê-la. De qualquer forma, o ônibus estava quase vazio.
Ela não fazia ideia de onde estava. O ônibus se arrastava por ruas ladeadas de casas e lojas, tudo muito escuro. Passou por uma igreja enorme, depois por placas que indicavam o zoológico, e finalmente entrou no centro da cidade, onde ela desceu e ficou parada sob um toldo, tremendo de frio, esperando outro ônibus. Havia perdido o relógio e não sabia que horas eram. Ele devia ter caído durante a briga, e a polícia talvez pudesse usá-lo como pista. Mas era um modelo simples que ela havia comprado numa loja qualquer, então pensou que o relógio não revelaria grande coisa. O revólver é que faria isso. Pelo que lembrava, ela o havia jogado na grama. Sua mão ainda estava meio dormente por causa da força do disparo da arma, os ossos ressoando como um diapasão que se recusava a parar.
Quando chegou ao hotel o sol estava nascendo, e ela sentiu a cidade acordar. Sob a luz pálida, Jeanette entrou no quarto. Amy estava dormindo com a televisão ainda ligada, um comercial de algum equipamento de ginástica. Um homem musculoso, de rabo de cavalo e boca grande como a de um cachorro, latia em silêncio na tela. Jeanette calculou que não teria muito mais de duas horas antes que a polícia aparecesse. Tinha sido idiotice deixar a arma para trás, mas não adiantava se preocupar com isso agora. Jogou um pouco de água no rosto e escovou os dentes, sem se olhar no espelho, vestiu uma calça jeans e uma camiseta, pegou as roupas sujas - a saia curta, o top justo e a jaqueta com franjas que usava na estrada -, cheias de sangue e pedaços de coisas que ela não queria saber o que eram, levou-as para trás do hotel e jogou em uma lixeira fedorenta.
Parecia que o tempo havia se comprimido de algum modo, como um acordeão: todos os anos que tinha vivido, tudo o que lhe acontecera sendo subitamente espremido sob o peso daquele momento. Lembrou-se de quando Amy era apenas um bebê, das manhãs que passava ninando a filha junto à janela, muitas vezes caindo no sono também. Aquelas haviam sido boas manhãs, algo que ela recordaria para sempre. Colocou algumas coisas na mochila das Meninas Superpoderosas de Amy e dinheiro e roupas numa sacola de supermercado. Desligou a televisão e acordou a filha, sacudindo-a gentilmente.
- Venha, querida. Acorde. Precisamos ir.
A menina estava sonolenta, mas deixou que Jeanette a vestisse. Ela era sempre assim de manhã, meio atordoada, e Jeanette sentiu-se grata por não ser alguma outra hora do dia, quando teria de dar mais explicações. Deu uma barra de cereais e uma lata de refrigerante de uva à filha, e então as duas foram andando até a estrada onde o ônibus a deixara.
Lembrou-se de ter visto, na volta para o hotel, uma grande igreja de pedra com uma placa na frente onde se lia NOSSA SENHORA DAS DORES. Se pegasse os ônibus certos, conseguiria passar lá de novo, pensou.
Sentou-se com Amy no fundo do ônibus e abraçou a filha para mantê-la bem perto. A menina não falou nada, só uma vez, para dizer que estava com fome de novo, e então Jeanette pegou outra barra de cereais na caixa que pusera na mochila de Amy, junto com a muda de roupas limpas, a escova de dentes e seu coelhinho. Amy, pensou, você é minha menininha, minha menininha tão querida, e eu sinto muito, sinto muito mesmo. Pegaram outro ônibms no centro da cidade e viajaram por mais 30 minutos. Quando Jeanette viu a placa do zoológico, se perguntou se já não teriam passado do ponto, porém se lembrou de que tinha visto a igreja antes do zoológico, de modo que agora, indo na direção oposta, ela estaria depois.
Então a viu. À luz do dia, parecia diferente, não tão grande, mas serviria. Saíram pela porta de trás. Jeanette fechou o zíper do casaco de Amy e pôs a mochila nas costas da menina enquanto o ônibus se afastava.
Então avistou outra placa, que se lembrava de ter visto à noite, pendurada num poste à beira de uma alameda ao lado da igreja: CONVENTO DAS IRMÃS DA MISERICÓRDIA.
Jeanette segurou a mão de Amy e foi andando pela alameda ladeada de árvores enormes, carvalhos com galhos compridos e cheios de musgo que se inclinavam acima das duas. Não imaginava como seria um convento, e acabou descobrindo se tratar apenas de uma casa, só que grande e bonita, de telhas, feita de pedras ligeiramente brilhantes e com um acabamento branco ao redor das janelas. Havia uma horta na frente, e ela achou que devia ser isso o que as freiras faziam, deviam cuidar das plantas. Chegou à porta da frente e tocou a campainha.
A mulher que atendeu não era uma velha, como Jeanette havia imaginado, e não usava um hábito, ou qualquer que fosse o nome daquelas roupas. Era relativamente jovem, não muito mais velha que Jeanette, e, a não ser pelo véu, vestia-se como outra pessoa qualquer, de saia, blusa e um par de sapatos marrons. E era negra. Antes de sair de Iowa, sem contar na televisão e nos filmes, Jeanette vira apenas um ou dois negros. Mas Memphis era cheia deles. Sabia que algumas pessoas tinham problemas com eles, mas ela nunca havia tido nenhum, e achou que uma freira negra seria tão adequada quanto qualquer outra.
- Desculpe incomodá-la - começou. - Meu carro quebrou aqui perto e eu pensei que...
- Claro - disse a mulher. Sua voz era diferente de tudo o que Jeanette ouvira antes, como se notas musicais ressoassem dentro de cada palavra. - Entrem.
A mulher se afastou da porta para que Jeanette e Amy pudessem entrar. Em algum lugar da casa, Jeanette sabia, devia haver outras freiras - talvez também fossem negras - dormindo, cozinhando, lendo ou rezando, o que ela achava que as freiras faziam bastante, talvez a maior parte do dia. O lugar era bem silencioso, por isso supôs que provavelmente estivesse certa. Agora precisava fazer com que a mulher a deixasse sozinha com Amy. Não tinha dúvidas disso, assim como não tinha dúvidas de haver matado um homem na noite anterior, e de todo o resto. O que estava prestes a fazer doeria demais, no entanto, pensando bem, não seria tão diferente assim, apenas mais uma dose da mesma dor de sempre.
- Senhorita...?
- Ah, pode me chamar de Lacey - disse a mulher. - Somos bastante informais por aqui. Esta menininha é sua filha?
Ela se ajoelhou em frente a Amy.
- Oi, qual é o seu nome? Eu tenho uma sobrinha mais ou menos da sua idade, quase tão linda quanto você. - Em seguida voltou-se para Jeanette: - Sua filha parece estar muito acanhada. Talvez seja por causa do meu sotaque. Eu sou de Serra Leoa, na África Ocidental. - A mulher voltou a se dirigir a Amy, segurando sua mão. - Sabe onde fica? É muito longe.
- Todas as freiras daqui são de lá? - perguntou Jeanette.
A mulher riu enquanto se levantava, mostrando os dentes brilhantes.
- Por Deus, não! Só eu.
Por um momento nenhuma das duas disse nada. Jeanette gostou da mulher, gostou de escutar sua voz. Gostou de vê-la interagindo com Amy, do modo como olhava nos olhos dela ao falar.
- Eu estava correndo para levá-la à escola, sabe? - disse Jeanette. - Então aquele meu carro velho... simplesmente parou.
A mulher assentiu.
- Por favor. Por aqui.
A freira conduziu Jeanette e Amy pelo corredor até a cozinha, um cômodo grande com uma enorme mesa de carvalho e armários com etiquetas: LOUÇA, ENLATADOS, MACARRÃO, ARROZ. Jeanette nunca havia pensado que freiras também precisavam se preocupar em comer. Imaginou que, com tanta gente morando na mesma casa, era mesmo uma boa ideia saber onde ficava cada coisa na cozinha. A mulher apontou para o telefone, um aparelho velho e marrom pendurado na parede. Jeanette havia planejado muito bem a parte seguinte. Digitou o número enquanto a mulher pegava um prato de biscoitos para Amy - não eram biscoitos de loja, e sim algo que alguém havia feito de verdade. Depois, enquanto a gravação do outro lado dizia que o dia seria nublado, com temperatura máxima de 13 graus e possibilidade de chuva no fim da tarde, ela fingiu estar falando com a seguradora, assentindo o tempo todo.
- O reboque está vindo - disse, pondo o fone no gancho. - Pediram que eu saísse e esperasse. Disseram que a garagem é aqui pertinho, na verdade.
- Bom, isso é ótimo - respondeu a mulher, animada. - Hoje é seu dia de sorte. Se quiser, pode deixar sua filha aqui comigo. Não seria bom ficar parada com ela numa rua movimentada.
Pronto. Jeanette não precisaria fazer nada mais. Só precisava dizer sim.
- Não se incomoda?
A mulher sorriu de novo.
- Vamos ficar bem, não vamos? - disse, olhando de modo encorajador para Amy. E virando-se para Jeanette: - Viu? Ela vai ficar bem. Vá cuidar do seu carro.
Amy estava sentada numa das cadeiras da grande mesa de carvalho, com o prato de biscoitos intocado e um copo de leite à sua frente. Tinha tirado a mochila e estava com ela no colo. Jeanette olhou para ela pelo máximo de tempo que pôde se permitir, depois se ajoelhou e a abraçou.
- Seja boazinha agora - disse.
Encostada em seu ombro, Amy assentiu.
Jeanette queria dizer mais alguma coisa, mas não pôde encontrar as palavras. Pensou no bilhete que havia deixado na mochila, o pedaço de papel que as freiras com certeza encontrariam quando não voltasse para pegá-la. Abraçou-a pelo máximo de tempo que ousou. A sensação daquele abraço a envolveu completamente, o calor do corpo da filha, o cheirinho de seus cabelos e de sua pele. Jeanette sabia que ia chorar, algo que não podia deixar que a mulher - Lucy? Lacey? - visse, mas se permitiu abraçar Amy por mais um instante, tentando gravar aquele sentimento em sua mente, em algum lugar seguro onde pudesse guardá-lo. Depois soltou a filha e, antes que alguém pudesse dizer qualquer outra coisa, saiu da cozinha, abriu a porta, desceu a alameda até a rua, e não parou mais.
DOIS
Dos arquivos eletrônicos de Jonas Abbott Lear, Ph.D.
Professor, Departamento de Biologia Molecular e Celular, Universidade de Harvard
Alocado no Instituto de Pesquisas Médicas de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos
Departamento de Paleovirologia, Fort Detrick, Maryland
De: lear@amedd.army.mil
Data: segunda-feira, 6 de fevereiro 13:18
Para: pkiernan@harvard.edu
Assunto: Conexão via satélite está funcionando
Paul,
Saudações das selvas da Bolívia, esse fim de mundo nos Andes. De onde você está, na frígida Cambridge, olhando a neve cair, tenho certeza de que um mês nos trópicos não deve parecer muito ruim. Mas acredite: isto aqui não é St. Barts. Ontem vi uma cobra do tamanho de um submarino.
A viagem para cá foi tranquila - foram 16 horas de voo até La Paz, depois seguimos num veículo do governo até Concepción, na bacia florestal do leste do país. Aqui não existem estradas decentes. É um verdadeiro buraco, e temos de viajar a pé. Todos na equipe estão bastante empolgados e o grupo cresce cada vez mais. Além do pessoal da UCLA, Tim Fanning, da Universidade Colúmbia, se juntou a nós em La Paz, assim como Claudia Swenson, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. (Acho que você uma vez me disse que a conheceu em Yale.) Você ficará feliz em saber que, além de seu considerável talento, Tim trouxe meia dúzia de recém-formadas da graduação para serem assistentes, de modo que, de uma hora para outra, a média de idade da equipe caiu uns 10 anos e as mulheres viraram maioria por aqui. "Cientistas brilhantes, todas elas", Tim insistiu. Três ex-esposas, cada uma mais nova que a anterior. O cara não aprende nunca.
Devo dizer que, apesar da minha relutância (e, é claro, da sua e de Rochelle) em envolver os militares, isso fez uma diferença enorme. Só mesmo o Exército tem dinheiro e poder para montar uma equipe como esta em um mês. Depois de anos tentando fazer com que as pessoas me ouvissem, sinto que uma porta se abriu de repente e que tudo o que precisamos fazer é atravessá-la. Você me conhece, sou cientista de corpo e alma, e não tenho absolutamente nenhuma superstição. Mas parte de mim acredita que é a mão do destino. Depois da doença de Liz, de sua longa luta, é irônico que eu finalmente tenha a chance de resolver o maior de todos os mistérios - o da própria morte. Acho que ela teria gostado daqui. Posso vê-la com seu grande chapéu de palha, sentada num tronco à beira do rio, lendo seu amado Shakespeare ao sol.
Antes que eu me esqueça: parabéns pela sua efetivação no cargo. Pouco antes de partir, ouvi dizer que você havia sido eleito por aclamação pelo comitê, o que não me surpreendeu depois do voto do departamento, sobre o qual não estou autorizado a falar, mas que, extraoficialmente, foi unânime. Não posso dizer como estou aliviado. Não é só o fato de você ser o melhor bioquímico que temos, o cara que pode fazer uma proteína microtubular com cicloesqueleto ficar de pé e cantar. O que eu faria no intervalo do almoço se meu parceiro de squash não tivesse conseguido o cargo?
Mande um abraço a Rochelle e diga a Alex que o tio Jonas vai trazer um presente legal da Bolívia para ele. Que tal um filhote de jibóia? Ouvi dizer que são bons bichos de estimação, desde que você as alimente bem. E espero que você ainda esteja a fim de ir ao jogo dos Sox. Não faço ideia de como conseguiu os ingressos.
Jonas.
De: lear@amedd.army.mil Data: quarta-feira, 8 de fevereiro 8:00
Para: pkiernan@harvard.edu Assunto: Re: Vai fundo, cara Paul,
Obrigado pela mensagem e, claro, pelo muito sábio conselho a respeito das belas pesquisadoras diplomadas por universidades de prestígio. Não posso dizer que discordo de você e devo admitir que, durante algumas noites solitárias em minha barraca, a ideia me passou pela cabeça. Mas isso não está nos meus planos. Por enquanto, Rochelle é a única mulher para mim, e você pode dizer a ela que falei isso.
A novidade aqui - e já posso ouvir Rochelle exclamando um grande "eu não disse?" - é que parece que fomos militarizados. Acho que isso era inevitável, pelo menos desde que aceitei o dinheiro do Exército. (Estamos falando de muito dinheiro - fazer reconhecimento aéreo não é barato e alterar a trajetória de um satélite não sai por menos de 20 mil pratas, e isso só por meia hora.) Mas mesmo assim, parece um exagero. Estávamos fazendo os últimos preparativos para a partida ontem quando um helicóptero pousou no acampamento e você não imagina quem saiu: um esquadrão das Forças Especiais equipado como se estivéssemos prontos para invadir o quartel-general do inimigo (camuflagem, rostos pintados, infravermelhos e M s de alta potência com coice reduzido - a parafernália completa). Uns sujeitos com cara de mau. Atrás deles vinha um cara de terno, um civil, que parecia estar no comando. Veio andando em minha direção e pude ver que era jovem, menos de 30 anos. Além disso, tinha o bronzeado de um tenista profissional. O que ele estaria fazendo com um esquadrão das Forças Especiais?
Você é o cara dos vampiros?", o sujeito perguntou. Você sabe como me sinto com relação a essa palavra, Paul - tente conseguir uma verba para pesquisa com a palavra "vampiro" inserida em qualquer parte da papelada. Mas só para ser educado e também porque, afinal, ele tinha poder de fogo suficiente para derrubar o governo de um país pequeno, respondi: "Sim, sou eu." "Mark Cole. Muito prazer, Dr. Lear", disse ele, e apertou minha mão com um sorriso enorme. "Vim de muito longe só para conhecê-lo. Adivinhe só. Agora o senhor é major." Fiquei pensando: major? Que negócio é esse? E o que esses caras estão fazendo aqui?
Esta é uma expedição científica civil", respondi. "Não é mais." "Quem decidiu isso?" E ele respondeu: "Meu chefe, Dr. Lear." "E quem é o seu chefe?" perguntei. E ele disse: "O meu chefe, Dr. Lear, é o presidente dos Estados Unidos."
Tim ficou bem chateado, porque é só capitão. Não sei qual a diferença entre ser capitão, major ou coronel, de modo que, para mim, é tudo a mesma coisa. Mas foi Claudia quem realmente acabou arrumando confusão. Chegou a ameaçar fazer as malas e ir para casa. "Eu não votei naquele cara e não vou fazer parte da porcaria do exército dele, não importa o que esse panaca diga." Nem vamos mencionar o fato de que nenhum de nós votou nele tampouco, e que a coisa toda realmente parece uma grande piada. Mas acontece que ela é quacre. O irmão mais novo dela chegou a fazer campanha contra a Guerra do Irã. Mas no fim nós a acalmamos e conseguimos convencê-la a ficar, com a promessa de que não teria de bater continência para ninguém.
O negócio é que não consigo entender realmente por que esses caras estão aqui. Era de esperar que os militares mostrassem algum interesse, porque afinal de contas é o dinheiro deles que estamos gastando, e fico grato por ele. Mas por que mandar um regimento das Forças Especiais (tecnicamente eles são um esquadrão de "reconhecimento especial") para acompanhar um bando de bioquímicos? O sujeito de terno - acho que ele é da Agência de Segurança Nacional, mas quem saberia dizer? - me disse que a área para a qual estávamos viajando é controlada pelo cartel de drogas de Diego Montoya e que os soldados estão aqui para nos proteger. "O que aconteceria se uma equipe de cientistas americanos fosse morta por chefes do tráfico na Bolívia?", ele perguntou. "Não seria um dia nem um pouco feliz para a política externa americana, seria?" Eu não o contradisse, mas sei muito bem que não existem atividades ligadas ao tráfico de drogas na região aonde vamos - isso fica mais para oeste, no altiplano. A bacia do leste é praticamente inabitada, exceto por algumas aldeias indígenas que, em sua maioria, não têm nenhum contato com a civilização há anos. E ele sabe que eu sei disso.
Isso tudo me deixa meio preocupado, mas acho que não faz muita diferença para a expedição em si. Só que agora temos companhia de artilharia pesada. Os soldados ficam quase sempre na deles, praticamente não abrem a boca. É estranho, mas pelo menos eles não se intrometem.
De qualquer modo, vamos partir de manhã. A oferta da cobrinha de estimação continua de pé.
Jonas.
De: lear@amedd.army.mil
Data: quarta-feira, 15 de fevereiro 23:32
Para: pkiernan@harvard.edu
Assunto: Ver anexo
Anexo: DSC00392.jpg (596 KB)
Paul,
Seis dias. Desculpe não ter mandado notícias e, por favor, diga a Rochelle que não se preocupe. Cada passo do caminho é difícil e, na mata fechada e com chuva constante, é quase impossível manter o equipamento de satélite ligado. À noite todos nós comemos como peões de obra e caímos exaustos nas barracas. Além disso, ninguém aqui está cheirando muito bem.
Mas esta noite estou ligado demais para dormir. O anexo vai explicar o motivo. Sempre acreditei no que estamos fazendo, mas é claro que tive meus momentos de dúvida, noites de insónia em que me perguntava se isso não era loucura minha, algum tipo de fantasia que meu cérebro inventou quando Liz ficou tão doente. Sei que você também pensou nisso. Portanto eu seria um idiota se não questionasse meus próprios motivos. Mas não agora.
De acordo com o GPS, ainda estamos a uns 20 quilômetros do local. A topografia corresponde exatamente ao reconhecimento por satélite - uma mata densa e plana e uma ravina profunda, com penhascos de calcário e centenas de cavernas, ao longo do rio. Até um geólogo amador poderia interpretar esses penhascos, como páginas de um livro. As camadas de sedimento fluvial são as habituais, e então, cerca de quatro metros abaixo da superfície, uma linha preta como carvão. É condizente com uma lenda que diz que há cerca de mil anos toda a região foi enegrecida pelo fogo, "uma grande chama enviada pelo deus Auxl, senhor do sol, para destruir os demônios do homem e salvar o mundo". Acampamos ontem à noite à margem do rio, ouvindo os morcegos que saíam aos borbotões das cavernas ao pôr do sol, e de manhã rumamos para o leste ao longo da ravina.
Passava do meio-dia quando vi a estátua.
A princípio achei que talvez estivesse imaginando coisas. Mas olhe a imagem, Paul. É um ser humano, mas não exatamente: a postura animal encurvada, as mãos como garras, os dentes longos, a musculatura hipertrofiada do tronco, detalhes ainda visíveis, de algum modo, depois de... quanto tempo? Quantos séculos de vento, chuva e sol se passaram, desgastando a pedra? E mesmo assim a visão da estátua me tirou o fôlego. E a semelhança com as outras imagens que lhe mostrei é inquestionável - as colunas no templo de Mansarha, os relevos no cemitério em Xianyang, os desenhos nas cavernas em Côtes D'Amor.
Mais morcegos esta noite. A gente acaba se acostumando, e eles diminuem um pouco a quantidade de mosquitos. Claudia montou uma armadilha para pegar um. Parece que os morcegos gostam de pêssego em lata, que ela usou como isca. Talvez Alex prefira um morcego de estimação, em vez da cobra.
J
De: lear@amedd.army.mil Data: sábado, 18 de fevereiro 18:51 Para: pkiernan@harvard.edu Assunto: mais jpgs
Anexos: DSC00481.jpg (596 KB), DSC00486.jpg (582 KB), DSC00491.jpg (697 KB)
Dê uma olhada nessas fotos. Já contamos nove estátuas até agora.
Cole acha que estamos sendo seguidos, mas não quer me dizer por quem. Diz que é só uma sensação. Ele fica a noite toda na comunicação via satélite, mas não quer me dizer o que está acontecendo. Pelo menos parou de me chamar de major. É um cara novo, mas não tão inexperiente quanto parece.
Tempo bom, finalmente. Estamos perto, a menos de 10 quilômetros, e andando bem.
De: lear@amedd.army.mil Data: domingo, 19 de fevereiro 21:51 Para: pkiernan@harvard.edu Assunto:
De: lear@amedd.army.mil
Data: terça-feira, 21 de fevereiro 1:16 Para: pkiernan@harvard.edu Assunto:
Paul,
Estou escrevendo isso para o caso de eu não voltar. Não quero assustar você, mas preciso ser realista sobre a situação. Estamos a menos de cinco quilômetros do cemitério, mas duvido que possamos realizar a extração como foi planejado. Muitos na equipe estão doentes ou mortos.
Há duas noites fomos atacados - não por traficantes de drogas, mas por morcegos. Eles chegaram algumas horas depois do anoitecer, enquanto a maioria de nós estava fora das barracas cuidando das tarefas noturnas, espalhados pelo acampamento. Era como se eles tivessem nos vigiado o tempo todo, esperando o momento certo para dar início ao ataque aéreo. Eu tive sorte: tinha caminhado algumas centenas de metros rio acima, para longe das árvores, tentando achar um lugar com bom sinal para o GPS. Ouvi os gritos e depois os tiros, mas, quando voltei, o bando de morcegos já havia seguido rio abaixo. Quatro pessoas morreram naquela noite, inclusive Claudia. Os morcegos simplesmente a engoliram. Ela tentou chegar até o rio - acho que pensou que poderia afastá-los assim -, mas não conseguiu. Quando a alcançamos, ela havia perdido tanto sangue que não teve chance. No caos, seis outras pessoas foram mordidas ou arranhadas, e agora estão todas doentes com o que parece uma versão acelerada da febre hemorrágica boliviana - sangrando pela boca e pelo nariz, pele e olhos avermelhados por causa dos capilares estourados, febre altíssima, líquido nos pulmões, em coma. Entramos em contato com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mas, sem análise dos tecidos, é impossível fazer um diagnóstico. Tim teve as duas mãos praticamente devoradas enquanto tentava arrancar os morcegos de cima de Claudia. É quem está mais fraco. Duvido seriamente que dure até amanhã.
Ontem à noite eles voltaram. Os soldados haviam estabelecido um perímetro de defesa, mas havia um número simplesmente incontável deles - devem ter chegado às centenas de milhares, um bando gigantesco que encobriu as estrelas. Três soldados morreram, assim como Cole. Ele estava parado bem na minha frente. Os morcegos chegaram a erguê-lo do chão antes de o atravessarem como facas quentes na manteiga. Mal restou o suficiente dele para ser enterrado.
A noite hoje está silenciosa, sem nenhum morcego no céu. Fizemos fogueiras em volta do acampamento, e isso parece mantê-los a distância. Até os soldados estão bastante abalados. Os poucos de nós que restamos estamos decidindo o que fazer. Boa parte do equipamento foi destruída. Não sabemos ao certo como isso aconteceu, mas em algum momento durante o ataque da noite passada um cinto com granadas caiu no fogo, matando um soldado e destruindo o gerador, além da maior parte do que havia na barraca de suprimentos. Mas ainda temos comunicação via satélite e bateria suficiente para falar com a equipe de resgate. Provavelmente deveríamos simplesmente dar o fora daqui.
No entanto, quando me pergunto por que deveria voltar agora, não consigo pensar num único motivo. Seria diferente se Liz estivesse viva. Acho que, de um ano para cá, alguma parte de mim vem fingindo que ela simplesmente se ausentou por um tempo, que um dia eu a verei novamente parada junto à porta, sorrindo do jeito que sempre fazia, a cabeça um pouco inclinada para o lado, para o cabelo não cair no rosto. Minha Liz, finalmente em casa, ávida por uma xícara de chá, pronta para um passeio na neve. Mas agora sei que nada disso vai acontecer. Por mais estranho que pareça, os acontecimentos dos últimos dois dias trouxeram à minha mente uma espécie de clareza sobre o que estamos fazendo, sobre o que está em jogo. Não lamento nem um pouco por estar aqui e não estou com medo. Se for preciso, talvez siga em frente sozinho.
Paul, independentemente do que acontecer e do que quer que eu decida, quero que saiba que foi um grande amigo para mim. Mais do que amigo: um irmão. Que estranho escrever essa frase, sentado à beira de um rio nas selvas da Bolívia, a 6 mil quilômetros de tudo e de todos que um dia conheci e amei! Sinto que está começando uma nova era da minha vida. A que lugares estranhos a vida pode nos levar, a que passagens escuras!
De: lear@amedd.army.mil
Data: terça-feira, 21 de fevereiro 5:31
Para: pkiernan@harvard.edu
Assunto: Re: não seja idiota, saia daí, por favor Paul,
Fizemos contato com a equipe de resgate ontem à noite. Eles chegam daqui a 10 horas, o que todos temem que talvez seja tarde demais. Não sei como podemos sobreviver a mais uma noite aqui. Os que ainda estão saudáveis decidiram aproveitar o dia para avançar em direção ao sítio. íamos tirar a sorte, mas no fim todos quiseram ir. Partiremos em uma hora, assim que o dia raiar. Talvez algo ainda possa ser aproveitado em meio a este desastre. Uma notícia boa: Tim parece ter saído de perigo nas últimas horas. A febre baixou bastante e, embora ele continue inconsciente, o sangramento parou e a pele parece melhor. Mas, com relação aos outros, eu diria que ainda é uma incógnita.
Sei que o seu deus é a ciência, Paul, mas posso pedir que reze por nós? Por todos nós.
De: lear@amedd.army.mil Data: terça-feira, 21 de fevereiro 21:16 Para: pkiernan@harvard.edu Assunto:
Agora eu sei por que os soldados estão aqui.
TRÊS
Situada em 1.60O hectares de florestas de pinheiros e pradarias no leste do Texas, lembrando um complexo de escritórios ou uma grande escola pública, a Unidade de Polunsky do Departamento de Justiça Criminal do Texas, também conhecida como Terrell, significava uma coisa: se alguém fosse condenado por homicídio doloso no estado do Texas, seria enviado para morrer ali.
Naquela manhã de março, Anthony Lloyd Cárter - prisioneiro número 999642, condenado à morte por injeção letal pelo assassinato de uma mulher em Houston chamada Rachel Wood, mãe de duas crianças, cujo gramado ele cortava a cada semana em troca de 40 dólares e um copo de chá gelado - já era residente da ala de isolamento de Terrell havia 1.332 dias - menos que muitos, mais do que alguns, não que para ele isso fizesse diferença. Não era o caso de se receber um prêmio por estar ali há mais tempo. Cárter fazia as refeições sozinho, se exercitava sozinho, tomava banho sozinho, e, para ele, uma semana era o mesmo que um dia ou um mês. O único dia diferente seria aquele em que o diretor e o capelão aparecessem em sua cela e ele fosse para a sala onde ficava a agulha, e esse dia não estava tão distante. Tinha permissão de ler, mas isso não era fácil para ele, nunca fora, e fazia muito tempo que ele havia parado de se incomodar com isso. Sua cela era uma caixa de concreto de dois metros por três, com uma janela e uma porta de ferro que tinha uma fenda com largura suficiente para enfiar as mãos, mas só isso, e ele ficava deitado na cama praticamente o dia todo, a mente vazia. Em grande parte do tempo não saberia dizer ao certo se estava acordado ou dormindo.
Aquele dia começou como outro qualquer, às três da madrugada, quando acendiam as luzes e empurravam as bandejas do café da manhã pelas fendas. Geralmente serviam cereal matinal, ovos ou panquecas - na melhor das opções, com manteiga de amendoim. O garfo era de plástico e quase sempre quebrava, de modo que Cárter se sentou na cama e comeu as panquecas dobradas, como se fossem tacos. Os outros homens do bloco B reclamavam da comida, que consideravam horrível, mas Cárter não achava tão ruim assim. Já comera coisa pior, e houvera dias em sua vida em que ele não tivera absolutamente nada para comer, de forma que panquecas com manteiga de amendoim eram uma bela visão no café da manhã, ainda que não fosse propriamente manhã, já que o dia ainda não clareara lá fora.
Havia dias de visita, é claro, mas Cárter não recebera ninguém durante todo o tempo que passara em Terrell, a não ser uma vez, quando o marido da mulher que ele matara foi até lá lhe dizer que tinha aceitado Jesus Cristo, que havia orado muito pensando no que Cárter fizera ao tirar dele e das filhas para sempre sua linda esposa e que, depois de semanas, meses de orações ele conseguira aceitar isso e decidira perdoá-lo. O sujeito chorou um bocado, sentado do outro lado da proteção de vidro comprimindo o fone contra o rosto. Cárter também já fora cristão, e apreciou o que o homem disse, mas, pelo modo como falou, pareceu que havia optado por perdoar Cárter apenas para se sentir melhor. Ele, claro, não mencionou nada a respeito de tentar impedir o que estava prestes a acontecer com o prisioneiro, mas Cárter não poderia imaginar como falar sobre o assunto pudesse melhorar sua situação, por isso agradeceu ao sujeito, disse Deus o abençoe, sinto muito, se eu encontrar a Sra. Wood no Céu contarei a ela o que o senhor fez aqui hoje - o que fez o homem se levantar depressa e deixá-lo sozinho ali, segurando o fone. Foi a última vez que alguém visitou Cárter na Terrell, e fazia pelo menos dois anos.
A questão era que a mulher, a Sra. Wood, sempre fora boa para ele, dando-lhe cinco ou 10 dólares a mais e servindo-lhe chá gelado nos dias quentes, sempre numa bandeja pequena, como faziam nos restaurantes, e o que havia acontecido entre eles estava confuso. Cárter lamentava, lamentava profundamente, mas mesmo assim o negócio não fazia sentido em sua cabeça, não importava quanto remoesse o incidente. Nunca dissera ser inocente, mas não achava justo morrer por causa de algo que não entendia, não antes de pelo menos ter a chance de compreender o que realmente acontecera. Repassava as cenas em sua mente, mas em quatro anos a situação nunca se tornara clara. Talvez não tivesse conseguido encontrar uma forma de aceitar aquilo tudo, como fizera o Sr. Wood. A situação fazia cada vez menos sentido para ele, e, com os dias, semanas e meses compactados como estavam em seu cérebro, ele sequer tinha certeza de que suas lembranças eram verdadeiras.
Às seis da manhã, na troca de turno, os guardas acordaram todo mundo de novo para a chamada, depois seguiram pelo corredor com os sacos de lavanderia para pegar as cuecas e as meias. Isso significava que era sexta-feira. Cárter tomava banho apenas uma vez por semana e ia ao barbeiro a cada dois meses, de modo que era bom ter roupas limpas. A sensação da pele pegajosa era pior no verão, quando suava o dia inteiro mesmo que ficasse parado como uma pedra. Mas, de acordo com o que seu advogado dissera na carta enviada meses antes, ele não precisaria passar outro verão no Texas. Dia 2 de junho seria o fim.
Seus pensamentos foram interrompidos por duas batidas à porta.
- Cárter. Anthony Cárter. - A voz pertencia a Beliscão, o chefe do turno.
- Ah, qual é, Beliscão - disse Anthony em sua cama. - Quem você achava que estaria aqui?
- Apresente-se para as algemas, Tony.
- Não está na hora da recreação. E também não é meu dia de banho.
- Acha que tenho o dia inteiro para esperar?
Cárter saiu da cama, onde estivera olhando para o teto e pensando na mulher, o copo de chá gelado na bandeja. Seu corpo estava dolorido e pesado, e com esforço ele se ajoelhou de costas para a porta. Tinha feito isso milhares de vezes, mas ainda não gostava. Manter o equilíbrio era a parte mais complicada. Já de joelhos, jogou os ombros para trás, torceu os braços e guiou as mãos, as palmas para cima, pela fenda através da qual serviam a comida. Sentiu a mordida fria do metal enquanto Beliscão o algemava. Todo mundo o chamava de Beliscão porque ele apertava demais as algemas.
- Para trás agora, Cárter.
Cárter arrastou um dos pés para a frente, o joelho esquerdo fazendo um som de atrito enquanto ele mudava o centro de gravidade, depois se levantou cuidadosamente, ao mesmo tempo que tirava as mãos algemadas da fenda. Do outro lado da porta escutou o chacoalhar do grande chaveiro de Beliscão, e então ela se abriu, revelando o chefe do turno e o guarda que eles chamavam de Dennis, o Pimentinha, por causa do cabelo igual ao do garoto do desenho e pelo fato de ele gostar de ameaçar os presos com o cassetete. Ele era capaz de encontrar pontos no corpo que você nunca imaginaria que podiam doer tanto apenas com uma cutucada de um pedaço de pau.
- Parece que alguém veio ver você, Cárter - disse Beliscão. - E não é sua mãe nem um advogado.
Beliscão não sorriu, mas Dennis parecia estar se divertindo. Ele girou o cassetete como numa coreografia de banda marcial.
- Minha mãe está com Jesus desde que eu tinha 10 anos - respondeu Cárter. - Você sabe disso, Beliscão, já lhe contei centenas de vezes. Quem quer me ver?
- Não sei. O diretor mandou chamar você. Eu só tenho que levá-lo.
Cárter imaginou que aquilo não era bom sinal. Fazia muito tempo desde que o marido da Sra. Wood fora visitá-lo. Talvez tivesse voltado para se despedir ou dizer que tinha mudado de ideia, não perdoo mais, vá para o inferno, Anthony Cárter. De qualquer modo, Cárter não tinha nada a dizer a ele. Havia pedido perdão a todo mundo, repetidamente, e já estava farto disso.
- Vamos logo - disse Beliscão.
Os dois guardas o levaram pelo corredor. Beliscão agarrava com força seu cotovelo para guiá-lo, como se faz com uma criança no meio de uma multidão ou com uma garota com quem você esteja dançando. Era assim que levavam os presos a todos os lugares, até para o chuveiro. Uma parte de você acabava se acostumando com as mãos dos outros lhe tocando desse jeito, mas outra parte não se habituava nunca. Dennis foi na frente, abriu a porta que separava a área de isolamento do restante do bloco B e depois a porta externa, que os levou pelo corredor dos presos comuns até o pavilhão de visitas. Fazia quase dois anos que Cárter vivia isolado no bloco B - B de "buraco do inferno", B de "bate mais um pouco em mim com esse cassetete", B de "bye-bye, mãe, estou indo me encontrar com Jesus" -, e olhando para o chão enquanto andava, mesmo assim se permitia espiar em volta, nem que fosse para dar aos olhos algo novo para ver. Mas aquilo ainda era Terrell, um labirinto de concreto, aço e portas pesadas, o ar úmido e azedo com o cheiro de homens.
No pavilhão de visitas apresentaram-se ao oficial de plantão e entraram numa sala vazia. O ar ali era 10 graus mais quente e tinha um cheiro tão forte de água sanitária que fez os olhos de Cárter arderem. Beliscão soltou as algemas. Enquanto Dennis mantinha a ponta do cassetete embaixo do queixo de Cárter, os dois algemaram suas mãos e os tornozelos. Havia avisos por toda a parede detalhando o que os prisioneiros podiam e não podiam fazer, mas Cárter não se deu o trabalho de ler e nem mesmo de olhar nada disso. Empurraram-no até a cadeira e lhe deram o fone que Cárter só conseguia manter encostado ao ouvido se dobrasse as pernas em direção ao peito - o que causava estalos úmidos em seus joelhos -, puxando o fio esticado junto ao corpo como se fosse um zíper comprido.
- Não precisei ser algemado da última vez - disse Cárter.
Beliscão deu uma gargalhada maligna.
- Desculpe, não estamos sendo gentis o suficiente? Que se foda, Cárter. Você tem 10 minutos.
Então eles saíram, e Cárter esperou que a porta do outro lado se abrisse e revelasse quem viera lhe ver depois de todo aquele tempo.
O agente especial Brad Wolgast odiava o Texas. Odiava tudo a respeito do Texas.
Odiava o clima, que era quente como um forno num minuto e gelado no outro, o ar tão úmido que a sensação era a de ter uma toalha quente em cima da cabeça. Odiava a aparência do lugar, a começar pelas árvores, que eram mirradas e patéticas, os galhos retorcidos como se saíssem de um livro de Dr. Seuss, e o relevo plano, um nada castigado pelo vento. Odiava os outdoors, as rodovias, as ruas inexpressivas e a bandeira do Texas, que tremulava acima de tudo, sempre grande como uma lona de circo. Odiava as picapes gigantescas que todo mundo tinha, ainda que a gasolina custasse 13 pratas o galão e o mundo estivesse sendo lentamente cozido como um pacote de ervilhas num micro-ondas. Odiava as botas, as fivelas dos cintos e o sotaque caipira com que as pessoas falavam, como se passassem o dia todo laçando e montando, e não cuidando de dentes, vendendo seguros ou trabalhando em contabilidade, como o restante do mundo fazia.
Acima de tudo, odiava o lugar porque seus pais o haviam obrigado a morar ali quando estava na sexta série. Wolgast tinha 44 anos e ainda estava em forma, apesar dos joelhos doloridos e do cabelo ralo entregarem a idade. A sexta série havia ficado para trás havia muito tempo, e não tinha nada a lamentar, mas mesmo assim - viajando com Doyle pela 1-45, a rodovia que ligava Houston a Dallas, com a primavera texana espalhada por toda parte - a ferida parecia recente.
Texas, o sofrimento em forma de estado: num minuto ele era um menino perfeitamente feliz no Oregon, pescando trutas no rio Coos e brincando com os amigos na floresta atrás de casa durante horas intermináveis e preguiçosas. No outro, estava preso no pântano urbano de Houston, morando numa casa horrível
sem uma lasquinha de sombra, indo a pé para a escola num calor de 38 graus que parecia esmagá-lo. Para ele, era o fim do mundo. Era ali que ele estava. O fim do mundo ficava em Houston, no Texas. Em seu primeiro dia de aula na sexta série, a professora o fizera ficar de pé para cantar o hino do Texas, como se ele tivesse se mudado para outro país. Foram três anos deprimentes. Ele nunca ficara tão feliz em sair de um lugar, mesmo levando em conta o modo como isso acontecera. Seu pai, que era engenheiro mecânico, havia conhecido sua mãe logo após se formar, no emprego que arranjou como professor de matemática numa reserva indígena em Grande Ronde, onde ela, que era de ascendência chinuque - o nome da família dela era Po-Bear -, trabalhava como auxiliar de enfermagem. Os dois haviam decidido se mudar para o Texas pelo dinheiro, mas seu pai acabou perdendo o emprego com a crise do petróleo em 1986. Eles tentaram vender a casa mas não conseguiram, e no fim seu pai simplesmente largou as chaves no banco. Mudaram-se para Michigan, depois para Ohio, depois para o estado de Nova York, indo sempre atrás de emprego, mas o pai nunca se ergueu de novo. Quando morreu de câncer no pâncreas dois meses antes de Wolgast se formar no ensino médio - na terceira escola em três anos -, a conclusão lógica era que, de algum modo, o Texas havia feito aquilo. Sua mãe acabou se mudando de volta para Oregon, mas ela também havia morrido. Ele estava sozinho agora.
Wolgast conseguira o primeiro homem, Babcock, em Nevada. Os outros vieram do Arizona, de Louisiana, de Kentucky, do Wyoming, da Flórida, de Indiana e de Delaware. Também não gostava muito desses lugares, mas qualquer coisa era melhor que o Texas.
Wolgast e Doyle haviam voado de Denver para Houston na noite anterior. Dormiram no hotel Raddison, perto do aeroporto - Wolgast havia pensado numa rápida ida à cidade, talvez para ver sua antiga casa, mas depois se perguntou por que haveria de querer uma coisa dessas pegaram o carro alugado de manhã, um Chrysler Victory novo em folha, e rumaram para o norte. O dia estava claro, o céu azul. Wolgast dirigia enquanto Doyle bebericava seu café com leite e lia o dossiê, uma pilha de papéis em seu colo.
- Este é Anthony Cárter - disse Doyle, levantando a foto. - Cobaia Número 12.
Wolgast não quis olhar. Sabia o que veria: mais um rosto inexpressivo, mais um par de olhos que mal aprenderam a ler, mais uma alma que havia olhado para si mesma por tempo de mais. Aqueles homens eram negros ou brancos, gordos ou magros, velhos ou novos, mas os olhos eram sempre os mesmos: vazios como ralos capazes de sugar o mundo inteiro. Talvez fosse até possível ter compaixão deles, mas só talvez.
- Não quer saber o que ele fez?
Wolgast deu de ombros. Não tinha pressa, mas aquele era um momento tão bom quanto qualquer outro.
Doyle tomou um gole do café com leite e leu:
- Anthony Lloyd Cárter. Afro-americano, 1,63m, 55 quilos. - Doyle ergueu os olhos. - Isso explica o apelido. Adivinhe.
Wolgast já estava cansado.
- Não sei. Pequeno Anthony?
- Você está revelando a idade, chefe. É Tony T. T de "tampinha", deve ser, mas nunca se sabe. Mãe falecida, pai desconhecido, uma série de lares adotivos no distrito. Um mau começo em todos os sentidos. Tem uma série de crimes anteriores, mas a maioria deles pequenos: furto, perturbação da ordem, esse tipo de coisa. E o incidente. O nosso Anthony cortava o gramado da casa de uma mulher toda semana. O nome dela era Rachel Wood, morava em River Oaks, tinha duas filhinhas, o marido era um advogado importante. Frequentava todos aqueles bailes de caridade, festas beneficentes, country clubes. Anthony Cárter era o projeto dela. Começou cortando o gramado um dia, quando ela o viu parado sob um viaduto com um cartaz que dizia ESTOU COM FOME, POR FAVOR, AJUDE. Algo assim. Enfim, ela o levou para casa, fez um sanduíche para ele, deu uns telefonemas e encontrou um lugar para ele ficar, algum tipo de abrigo para o qual ela levantava fundos. Depois ligou para todas as amigas em River Oaks e disse: vamos ajudar esse sujeito, o que você precisa que seja feito em sua casa? De repente ela se transforma na própria escoteira arregimentando tropas. E assim o cara começa a cortar os gramados para todas elas, aparar as cercas vivas, você sabe, todas as coisas que precisam ser feitas naquelas mansões. Isso continua durante uns dois anos.
Ele fez uma pequena pausa antes de prosseguir:
- Tudo vai muito bem até que um dia o nosso amigo Anthony vai cortar o gramado da Sra. Wood, e uma das meninas dela não foi à escola porque está doente. Ela tem 5 anos. A mãe está ao telefone ou fazendo alguma coisa, a menininha sai para o quintal, vê Anthony. Ela sabe quem ele é, já o viu por ali diversas vezes, mas dessa vez algo sai errado. Ele a amedronta. Não se sabe se ele tocou nela, o psiquiatra do tribunal não confirmou isso. De qualquer modo a garota começa a gritar. A mãe sai correndo da casa, começa a gritar, todo mundo está gritando, de repente a coisa toda parece um campeonato de gritos. Num minuto ele é o sujeito legal que vem cortar o gramado, e no próximo ele é só um negro com a sua filha, e toda a conversa tipo Madre Teresa vai por água abaixo. Os dois começam a brigar. No meio da confusão, a mãe cai ou é empurrada na piscina. Anthony mergulha atrás dela, talvez para ajudar, mas ela ainda está gritando com ele, lutando para afastá-lo. E agora todo mundo está molhado, berrando e se debatendo na água. - Doyle olhou para Wolgast com ar interrogativo. - Sabe como tudo acaba?
- Ele a afoga?
- Bingo. Bem ali, na frente da menina. Um vizinho ouviu tudo e chamou a polícia, e, quando eles chegaram, o encontraram sentado à beira da piscina, e a mulher boiando lá dentro. - Doyle balançou a cabeça. - Com certeza não foi uma imagem agradável.
Às vezes Wolgast ficava intrigado com a quantidade de energia que Doyle colocava naquelas histórias.
- Alguma chance de ter sido acidente?
- A vítima fez parte da equipe de natação na universidade. Ainda atravessava a piscina 50 vezes todas as manhãs. O promotor fez um tremendo estardalhaço com esse detalhe. Isso e o fato de que Cárter praticamente admitiu o crime.
- O que ele disse quando o prenderam?
Doyle deu de ombros.
- Ele só queria que ela parasse de gritar. Depois pediu um copo de chá gelado.
Wolgast balançou a cabeça. As histórias eram sempre ruins, mas eram os detalhes que o impressionavam. Um copo de chá gelado. Santo Deus!
- Quantos anos você disse que ele tem?
Doyle voltou algumas páginas.
- Não disse. Trinta e dois. Vinte e oito quando foi preso. Outra coisa: ele não tem nenhum parente. A única visita que recebeu em Polunsky foi o marido da vítima, há pouco mais de dois anos. E o advogado dele saiu fora depois que a apelação foi recusada. Designaram-lhe outro. O caso foi enviado para a defensoria pública do condado de Harris, mas lá nem tocaram na papelada. Ou seja, ninguém está nem aí. Anthony Cárter vai receber a injeção letal no dia 2 de junho, por homicídio qualificado com circunstância agravante, e nem uma alma neste mundo se importa. O cara já é um fantasma.
A viagem até Livingston demorou uma hora e meia, os últimos 15 minutos numa estrada rural banhada pela sombra intermitente dos bosques de pinheiro e campos salpicados de bluebonnets. Ainda era meio-dia. Com sorte, pensou Wolgast, poderiam terminar antes do jantar, tempo suficiente para retornarem a Houston, devolverem o carro à locadora e pegarem um avião para o Colorado. Era melhor quando essas viagens eram rápidas assim. Quando demorava demais, ou o cara ficasse hesitando e embromando - embora eles invariavelmente acabassem aceitando o acordo -, ele começava a ter uma sensação esquisita no estômago com relação à coisa toda. Isso sempre o fazia pensar numa peça que havia lido no ensino médio: O julgamento do diabo, e em como, nesse trato, o diabo era ele.
Doyle era diferente: para começar era mais novo, não tinha nem 30 anos, havia crescido numa fazenda em Indiana, tinha o rosto cor de cereja, contentava-se perfeitamente em chamá-lo de chefe, em bancar o Robin e deixar para ele o papel de Batman, e era tão antiquadamente patriota que Wolgast o vira chorar durante o hino nacional no início de uma partida de beisebol a que os dois assistiram pela TV Antes não sabia que ainda existiam pessoas como Phil Doyle. Mas de vez em quando Wolgast também podia detectar nele uma inteligência mais sombria, mais calculista. E não havia dúvida de que Doyle era esperto e tinha um bom futuro pela frente. Recém-formado pela Universidade Purdue, com uma especialização em direito a caminho, Doyle entrou para o FBI logo depois do massacre no Mali of America - 300 pessoas mortas a tiros por terroristas iranianos na semana anterior ao Natal, todo o horror captado pelas câmeras de segurança e retransmitido com cenas assustadoras pela CNN. Naquele dia metade do país parecia estar pronta para se alistar em alguma coisa, qualquer coisa - e, depois de terminar o treinamento em Quântico, ele fora postado na agência de Denver, para trabalhar em contraterrorismo.
Quando o Exército precisou de dois agentes, Doyle foi o primeiro na fila dos voluntários. Wolgast não conseguia entender isso: no papel, o que eles chamavam de Projeto Noé parecia um beco sem saída, e ele aceitara a missão exatamente por isso. Havia acabado de se divorciar - o casamento com Lila não havia se desgastado, acabara de repente, de modo que ele se surpreendeu ao ver como a documentação do divórcio o deixara triste - e alguns meses de viagem pareciam a maneira ideal de relaxar a mente. Conseguira um bom acordo no divórcio - ficara com metade da casa em Cherry Creek, além de uma parte do plano de previdência de Lila - e chegara a pensar em sair do FBI, talvez voltar ao Oregon e usar o dinheiro para abrir um pequeno negócio: quem sabe uma loja de ferragens ou de material esportivo, não que ele soubesse alguma coisa sobre qualquer um dos dois ramos. Os caras que saíam do FBI quase sempre acabavam trabalhando como seguranças, mas para Wolgast a ideia de uma pequena loja, algo simples e limpo, as prateleiras cheias de luvas de beisebol ou martelos, objetos cujo propósito podia ser identificado só de olhá-los, era muito mais atraente. E o Projeto Noé parecera um passeio e não devia ser um jeito ruim de passar o último ano no FBI.
É claro que a missão acabou sendo mais do que cuidar de papelada e bancar a babá, muito mais, e ele se perguntava se de algum modo Doyle já sabia disso.
Em Polunsky, os dois se identificaram e entregaram as armas, depois foram para a sala do diretor. Polunsky era um lugar feio, mas todos os presídios eram. Enquanto esperavam, Wolgast consultou pelo celular os voos noturnos que partiam de Houston - havia um às 20h30, de modo que, se corressem, conseguiriam pegá-lo. Doyle não disse nada, ficou apenas folheando um exemplar da Sports Illustrated, como se estivesse na sala de espera do dentista. Era pouco mais de uma da tarde quando a secretária os deixou entrar.
O diretor do presídio era um negro com cerca de 50 anos, cabelo grisalho e um peito de halterofilista comprimido sob um colete de terno. Não se levantou nem fez menção de apertar a mão deles quando entraram. Wolgast lhe entregou os documentos.
Ele terminou de ler e levantou os olhos.
- Agente Wolgast, isso é a coisa mais esquisita que já vi. Para que, diabos, vocês querem Anthony Cárter?
- Infelizmente não sei dizer. Estamos aqui apenas para fazer a transferência.
O diretor pôs os documentos de lado e cruzou as mãos sobre a mesa.
- Sei. E se eu dissesse que não?
- Então eu lhe daria um número para telefonar, e a pessoa do outro lado da linha faria o melhor possível para explicar que este é um assunto de segurança nacional.
- Um número.
- Isso mesmo.
O diretor suspirou, irritado, girou na cadeira e fez um gesto indicando as amplas janelas atrás dele.
- Senhores, sabem o que há lá fora?
- Não estou entendendo.
Ele se virou para encará-los de novo. Não parecia estar com raiva, pensou Wolgast. Era apenas um homem acostumado a conseguir o que queria.
- É o estado do Texas. Seiscentos e noventa e um mil quilômetros quadrados de Texas, para ser mais exato. E a última vez que verifiquei, é para ele que eu trabalho. Não para alguém em Washington, Langley ou onde quer que seja o tal número. Anthony Cárter é um prisioneiro sob meus cuidados, e fui encarregado pelos cidadãos deste estado de fazer com que a sentença dele seja cumprida. E, a menos que receba um telefonema da governadora, é exatamente isso o que farei.
Texas desgraçado, pensou Wolgast. Esse negócio vai demorar o dia todo.
- Podemos providenciar isso.
O diretor estendeu os papéis para Wolgast.
- Bem, agente Wolgast, então providencie.
Os dois agentes pegaram as armas na saída e retornaram ao carro. Wolgast telefonou para Denver, e a ligação foi transferida para o coronel Sykes por uma linha criptografada. Wolgast contou o que acontecera. Sykes ficou irritado, mas disse que cuidaria de tudo. Um dia, no máximo, disse ele. Fiquem por aí e esperem o telefonema, depois façam Anthony Cárter assinar os papéis.
- Só para você ficar sabendo: talvez haja uma mudança no protocolo - disse Sykes.
- Que tipo de mudança?
Sykes hesitou.
- Eu aviso quando chegar a hora. Apenas consiga que Cárter assine.
Dirigiram até Huntsville e se hospedaram num hotel. A resistência do diretor não era novidade - esse tipo de coisa já havia acontecido antes. Atrasos irritavam, mas não impediriam o sucesso da missão. Dali a alguns dias, no máximo em uma semana, Cárter estaria dentro, e todas as evidências de que ele existira seriam apagadas da face da Terra. Até o diretor do presídio juraria nunca ter ouvido falar do sujeito. Alguém precisaria conversar com o marido da falecida, claro, o advogado de River Oaks que agora tinha de criar as duas filhinhas sozinho, mas isso não era problema de Wolgast. Haveria uma certidão de óbito e provavelmente alguma história sobre um ataque cardíaco e cremação rápida, e sobre como, no fim das contas, a justiça fora cumprida. Não importava, o serviço seria feito.
Às cinco horas eles ainda não tinham recebido nenhuma notícia, por isso trocaram os ternos por jeans e saíram para procurar um lugar onde comer. Jantaram em um restaurante numa rua comercial entre uma loja Best Buy e uma Costco. O restaurante pertencia a uma rede, o que era bom, já que precisavam atrair o mínimo de atenção possível. O atraso deixara Wolgast irritado, mas Doyle não parecia se incomodar. Uma boa refeição e alguns dias numa cidade estranha, cortesia do governo federal - por que reclamar? Doyle devorou um bife gigantesco, grosso como uma tora, enquanto Wolgast escolheu costela. E depois de pagarem a conta - em dinheiro vivo, tirado de um maço de notas novas que Wolgast mantinha no bolso - foram sentar-se junto ao bar.
- Acha que ele vai assinar? - perguntou Doyle.
Wolgast balançou o gelo em seu uísque.
- Eles sempre assinam.
- Acho que não têm muita opção. - Doyle tinha a testa enrugada enquanto encarava o copo. - A injeção, ou o que quer esteja esperando por eles. Mas mesmo assim...
Wolgast sabia o que Doyle estava pensando: o que quer que estivesse esperando por eles não era bom. Por que outro motivo eles precisariam de prisioneiros condenados à morte, homens sem nada a perder?
- Mesmo assim... - concordou.
A TV acima do balcão exibia um jogo de basquete, os Rockets contra o Golden State, e, durante algum tempo, assistiram em silêncio. Era o início do jogo e os dois times pareciam lentos, movendo a bola sem fazer grande coisa com ela.
- Tem notícias de Lila? - perguntou Doyle.
- Na verdade, tenho. - Wolgast fez uma pausa. - Vai se casar.
Os olhos de Doyle se arregalaram.
- Com o cara? O médico?
Wolgast confirmou com a cabeça.
- Foi rápido. Por que você não disse alguma coisa? Meu Deus, o que ela fez, convidou você para o casamento?
- Não exatamente. Mandou um e-mail, achou que eu deveria saber.
- O que você disse?
Wolgast deu de ombros.
- Não disse.
- Não disse nada?
Havia mais, porém Wolgast não queria entrar no assunto. Querido Brad, escrevera Lila, achei que você deveria saber que David e eu estamos esperando um filho. Vamos nos casar na semana que vem. Espero que você possa ficar feliz por nós. Ele ficara sentado diante do monitor, os olhos vidrados na mensagem na tela durante uns 10 minutos.
- Não havia o que dizer. Nós estamos divorciados, ela pode fazer o que quiser.
Ele tomou o resto do uísque e pegou mais dinheiro para pagar pelas bebidas.
- Vamos?
Doyle passou os olhos pelo restaurante. Quando haviam se sentado junto ao bar, o lugar estava quase vazio, porém mais pessoas tinham entrado, inclusive um grupo de jovens que tinham juntado três mesas e tomavam jarras de margaritas, falando muito alto. Havia uma faculdade ali perto, a Sam Houston State, e Wolgast achou que elas deviam ser estudantes ou então trabalhavam juntas em algum lugar. O mundo podia estar indo para o inferno, mas happy hour era happy hour, e garotas bonitas ainda enchiam os bares em Huntsville, no Texas. Elas usavam blusas coladas no corpo e jeans da moda, com cinturas baixas e rasgados nos joelhos o rosto e o cabelo arrumados para a noite na cidade, e bebiam com vontade Uma das garotas, meio rechonchuda, sentada de costas para eles, usava uma calça tão baixa que Wolgast podia ver os coraçõezinhos de sua calcinha. Ele não sabia se queria olhar mais de perto ou jogar um cobertor em cima dela.
- Talvez eu fique mais um pouco - disse Doyle, e levantou o copo num pequeno brinde. - Para ver o jogo.
Wolgast assentiu. Doyle não era casado, nem tinha namorada firme. Eles deveriam evitar interações sociais ao máximo, mas não achava que fosse da sua conta o modo como Doyle passaria a noite. Sentiu uma pontada de inveja, depois afastou o pensamento.
- Tudo bem. Lembre-se apenas de que...
- Eu sei - retrucou Doyle. - Como recomendam os cartazes nos parques nacionais: tire apenas fotos, deixe apenas pegadas. Neste momento sou um representante de vendas de fibra ótica de Indianápolis.
Atrás deles as garotas explodiram em gargalhadas. Wolgast podia ouvir a tequila na voz delas.
- Bela cidade, Indianápolis - disse Wolgast. - Pelo menos é melhor que esta.
- Ah, eu não diria isso - respondeu Doyle e deu um sorriso maroto. - Acho que vou gostar um bocado daqui.
Wolgast saiu do restaurante e foi andando pela estrada. Tinha deixado o celular no hotel, pensando que poderiam receber um telefonema durante o jantar e ter de ir embora, mas quando chegou viu que não havia mensagens. Depois do barulho e da agitação no restaurante, o silêncio do quarto era incômodo, e ele pensou que talvez devesse ter ficado com Doyle, mesmo sabendo que ele próprio não era uma companhia muito boa ultimamente. Tirou os sapatos e se deitou para assistir ao resto do jogo, sem trocar de roupa. Não que realmente quisesse assisti-lo, mas isso lhe daria algo em que se concentrar. Por fim, pouco depois da meia-noite - 23 horas em Denver, um pouco tarde demais, mas que diabos -, ele fez o que havia prometido a si mesmo que não faria: ligou para Lila. Uma voz masculina atendeu.
- David, sou eu, Brad.
Por um momento David não disse nada.
- Está tarde, Brad. O que você quer?
- Lila está?
- Ela teve um dia longo - disse David com firmeza. - Está cansada.
Sei que ela está cansada, pensou Brad. Eu dormi na mesma cama que ela durante seis anos.
- Passe o telefone para ela, está bem?
David suspirou e pousou o fone com um ruído surdo. Wolgast ouviu o farfalhar de lençóis e depois a voz de David dizendo a Lila: "É Brad, imagine só! Diga a ele que ligue numa hora decente da próxima vez."
- Brad?
- Desculpe ligar tão tarde. Não sabia que já estava deitada.
- Não acredito nem um pouco. O que você quer?
- Estou no Texas. Mais precisamente, num hotel. Não posso dizer exatamente onde.
- Texas. - Ela fez uma pausa. - Você odeia o Texas. Acho que não me ligou para dizer que estava no Texas, ligou?
- Desculpe, não deveria ter acordado você. Acho que David não ficou muito feliz.
Lila suspirou ao telefone.
- Ah, tudo bem. Ainda somos amigos, certo? David é adulto. Pode aguentar isso.
- Recebi seu e-mail.
- Que bom. - Ele a ouviu respirar. - Foi o que pensei. Você ligou por causa disso. Achei que mais cedo ou mais tarde você telefonaria.
- Você fez mesmo o que disse? Casou com David?
- Casei. No fim de semana passado, aqui em casa. Convidamos apenas alguns amigos. E meus pais. Eles perguntaram por você, queriam saber o que estava fazendo. Eles sempre gostaram de você. Pode ligar para eles, se quiser. Acho que meu pai sente sua falta mais do que qualquer outra pessoa.
Ele preferiu não comentar - mais do que qualquer outra pessoa? Mais do que você, Lila? Esperou que ela dissesse outra coisa, mas não disse, e o silêncio foi preenchido por uma imagem que se formou em sua mente, uma imagem que na verdade era uma lembrança: Lila na cama, vestindo uma camiseta velha e as meias que sempre usava - sentia frio nos pés, não importava a época do ano -, um travesseiro enfiado entre os joelhos para aliviar a coluna por causa do bebê. O bebê deles. Eva.
- Eu só queria dizer que fiquei.
Lila perguntou baixinho:
- Ficou o quê, Brad?
- Fiquei... feliz por você. Como você pediu. Estava pensando que você deveria, sabe, largar o emprego dessa vez. Dar um tempo, se cuidar melhor. Eu sempre me perguntei, você sabe, se...
- Vou fazer isso - interrompeu Lila. - Não se preocupe. Está tudo bem, está tudo normal.
Normal. Normal, pensou ele, era justamente o que tudo não estava.
- Eu só...
- Por favor, Brad. - Ela respirou fundo. - Você está me deixando triste. Preciso levantar cedo amanhã.
- Lila...
- Eu disse que preciso desligar.
Ele sabia que ela estava chorando. Lila não fez nenhum som que indicasse isso, mas ele sabia. Os dois estavam pensando em Eva, e isso sempre a fazia chorar, e era exatamente por esse motivo que eles não estavam mais juntos e nem podiam estar. Quantas horas ele passara abraçado a Lila enquanto ela chorava? E esse era o problema: ele nunca soubera o que dizer quando Lila chorava. Só muito mais tarde - tarde demais - foi que ele percebeu que não precisava dizer absolutamente nada.
- Que droga, Brad. Eu não queria falar sobre isso, principalmente agora.
- Desculpe, Lila. Eu só estava... pensando nela.
- Sei que estava. Droga. Droga. Não faça isso, por favor.
Ele a ouviu soluçar, e então a voz de David soou no telefone.
- Não ligue de novo, Brad. Estou falando sério. Preste atenção.
- Vá se foder - respondeu Wolgast.
- Como você quiser. Só não a incomode outra vez. Deixe a gente em paz.
E desligou o telefone.
Wolgast olhou para o celular antes de atirá-lo do outro lado do quarto. O aparelho fez um belo arco, girando como um frisbee, antes de bater na parede acima da televisão com o estalido de plástico se quebrando. Wolgast se arrependeu imediatamente. Mas quando se ajoelhou e pegou o aparelho, descobriu que o telefone continuava inteiro, só a bateria se soltara.
Wolgast estivera naquele complexo apenas uma vez, no verão anterior, para conhecer o coronel Sykes. Não se tratava propriamente de uma entrevista de emprego: os militares haviam deixado claro a Wolgast que seria parte do Projeto Noé se quisesse. Dois soldados o levaram em uma van com janelas pintadas de preto, mas Wolgast sabia que estavam indo para o oeste de Denver, em direção às montanhas. A viagem levou seis horas, e, quando chegaram ao complexo, ele estava dormindo. Saiu da van, se espreguiçou e olhou para a paisagem à sua volta, sob o sol forte de uma tarde de verão. Pela topografia, viu que deveriam estar em algum lugar perto de Ouray. Talvez mais ao norte. O ar era rarefeito e limpo. Wolgast sentiu o latejar surdo de uma dor de cabeça no topo do crânio, provocada pela altitude.
Ele foi recebido no estacionamento por um civil, um homem baixo que vestia jeans e uma camisa cáqui com as mangas dobradas, óculos Ray-Ban apoiados no nariz grande e ligeiramente bulboso. Seu nome era Richards.
- Espero que a viagem não tenha sido muito ruim - disse o homem enquanto se cumprimentavam.
De perto, Wolgast reparou que o rosto de Richards era cheio de marcas de antigas espinhas.
- Estamos numa região muito alta. Se não estiver acostumado, é melhor ir com calma.
Richards acompanhou Wolgast até um prédio que chamou de Chalé e que tinha exatamente essa aparência. Era uma grande estrutura em estilo Tudor, com três andares e partes de madeira expostas, como uma enorme pousada rústica. Antigamente as montanhas eram cheias desse tipo de lugar, relíquias de uma era anterior aos condomínios e resorts. O prédio dava para um gramado aberto e, mais além, a uns 100 metros dali, havia um conjunto de estruturas funcionais: alojamentos feitos de blocos de concreto, meia dúzia de barracas militares infláveis, um prédio baixo que parecia um hotel de beira de estrada. Veículos militares, jipes e caminhões pesados iam de um lado para outro na estrada. No centro do gramado, um grupo de homens musculosos e de cabelos à escovinha pegava sol sem camisa em cadeiras de jardim.
Ao entrar no Chalé, Wolgast teve a sensação desorientadora de estar espiando por trás de um cenário de estúdio de cinema: o lugar fora totalmente readaptado, a arquitetura original substituída pelas texturas neutras de um moderno prédio de escritórios - carpete cinza, iluminação adequada, teto rebaixado para melhorar a acústica. Poderia estar num consultório de dentista ou no edifício onde se reunia uma vez por ano com seu contador para cuidar dos impostos. Pararam no balcão de recepção, onde Richards pediu que deixasse o celular e a arma, que ele entregou ao guarda, um jovem com roupa de camuflagem que lhes deu crachás. Havia um elevador, mas Richards passou direto por ele e guiou Wolgast por um corredor estreito até uma pesada porta de metal que dava para uma escada. Subiram até o segundo andar e foram andando por outro corredor até chegarem à sala de Sykes.
Sykes se levantou enquanto eles entravam: era um homem alto, forte, uniformizado, o peito enfeitado por vários emblemas coloridos cujo significado Wolgast nunca soubera. A sala era impecável, com objetos meticulosamente arrumados, inclusive os porta-retratos, dando a impressão de que tudo havia sido organizado de modo a obter o máximo de eficiência. No centro da mesa havia um único envelope pardo atulhado de papéis. Wolgast tinha quase certeza de que era o dossiê a respeito dele, ou pelo menos uma parte do dossiê.
Os dois se cumprimentaram, e Sykes ofereceu café, que Wolgast aceitou. Não estava sonolento, mas sabia que a cafeína o ajudaria a se livrar da dor de cabeça.
- Desculpe por toda aquela palhaçada da van - disse Sykes, e indicou uma cadeira. - É assim que fazemos as coisas.
Um soldado trouxe o café, uma garrafa térmica de plástico e duas xícaras numa bandeja. Richards permaneceu de pé atrás da mesa de Sykes, de costas para as amplas janelas que davam para a floresta em volta do complexo. Sykes explicou a missão a Wolgast. Era tudo muito simples, disse ele, e a essa altura Wolgast já sabia o básico. O Exército precisava de 10 a 20 prisioneiros condenados à morte para usar no terceiro estágio de testes de uma droga experimental, em uma operação de codinome Projeto Noé. Em troca de seu consentimento, esses homens teriam a sentença comutada para prisão perpétua. O trabalho de Wolgast seria obter a assinatura desses homens, nada mais. Tudo seria feito dentro da lei, mas, como o projeto era assunto de segurança nacional, todos esses homens a partir dali seriam considerados legalmente mortos. Passariam o resto da vida sob os cuidados do sistema penal federal, numa penitenciária para colarinhos-brancos, usando identidades falsas. Os homens seriam selecionados de acordo com vários fatores, mas todos deveriam ter entre 20 e 35 anos, sem parentes de primeiro grau vivos. Wolgast se reportaria diretamente a Sykes; não teria nenhum outro contato, mas tecnicamente continuaria sendo agente do FBI.
- Eu preciso escolhê-los? - perguntou Wolgast.
Sykes balançou a cabeça.
- Esse trabalho é nosso. Você vai receber ordens minhas. Só precisa conseguir o consentimento deles. Assim que tiverem assinado, passarão a ser responsabilidade do Exército. Eles serão levados para a prisão federal mais próxima, depois serão transportados para cá.
Wolgast pensou por um momento.
- Coronel, preciso perguntar...
- O que estamos fazendo?
Naquele momento ele pareceu se permitir um sorriso quase humano.
Wolgast confirmou com a cabeça.
- Sei que não pode me dar informações muito específicas. Mas vou pedir a eles que assinem algo que mudará suas vidas. Preciso dizer alguma coisa.
Sykes trocou um olhar com Richards, que deu de ombros.
- Vou deixá-los agora - disse Richards, e assentiu para Wolgast, despedindo-se.
Quando Richards havia saído, Sykes se recostou na cadeira.
- Não sou bioquímico, agente Wolgast. Você terá de se satisfazer com a versão leiga. Eis o básico, pelo menos a parte que posso contar: há cerca de 10 anos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças recebeu um telefonema de um médico de La Paz. Ele tinha quatro pacientes, todos americanos, que haviam contraído algo parecido com o hantavírus: febre alta, vômitos, dor muscular, dores de cabeça, hipoxemia. Os quatro tinham feito uma viagem de turismo ecológico na selva. Diziam fazer parte de um grupo de 14 pessoas, mas haviam se separado dos outros e andado pela floresta durante semanas. Foi pura sorte terem encontrado um posto comercial administrado por frades franciscanos, que conseguiram arranjar o transporte para La Paz. Bom, o hantavírus não é como a gripe comum, mas também não é tão raro, de modo que nada disso teria sido mais do que um pontinho no radar do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, se não fosse por uma coisa: todos os quatro eram pacientes terminais de câncer. A viagem havia sido organizada por uma instituição chamada Último Desejo. Já ouviu falar?
Wolgast assentiu.
- Achei que só levavam pessoas para fazer paraquedismo, coisas desse tipo.
- Era o que eu pensava também. Mas parece que não. Um dos pacientes tinha um tumor cerebral que não podia ser operado, dois tinham leucemia linfocítica aguda e a quarta tinha câncer de ovário. E todos ficaram bons. Não só do hantavírus, ou do que quer que fosse. Não havia mais câncer. Nenhum vestígio.
Wolgast ficou perplexo.
- Não entendi.
Sykes tomou um gole de café.
- Bem, ninguém do Centro de Controle e Prevenção de Doenças entendeu também. Mas algo havia acontecido, uma interação entre o sistema imunológico deles e alguma coisa, provavelmente umVírus, a que tinham sido expostos na selva. Algo que comeram? A água que beberam? Ninguém sabe ao certo. Nem eles puderam dizer exatamente onde haviam estado. - Sykes se inclinou sobre a mesa. - Sabe o que é o timo?
Wolgast balançou a cabeça.
Sykes apontou para o peito, logo acima do esterno.
- É uma pequena glândula que fica aqui, entre o esterno e a traqueia, mais ou menos do tamanho de uma avelã. Na maioria das pessoas ela atrofia completamente na puberdade. Dá pra passar a vida toda sem notar a existência dela, a não ser que ela tenha algum problema. Na verdade não se sabe o que ela faz, ou pelo menos se sabia até que fizeram exames naqueles quatro pacientes. De alguma forma o timo havia voltado a funcionar. Mais do que isso: tinha triplicado de tamanho. Parecia um tumor maligno, mas não era. E o sistema imunológico deles passou a funcionar de forma acelerada. Um ritmo extremamente rápido de regeneração celular E havia outros benefícios. Lembre-se de que eles eram pacientes de câncer, todos com mais de 50 anos. Era como se fossem adolescentes de novo. Olfato, visão, tônus da pele, volume dos pulmões, força e resistência física, até a função sexual. O cabelo de um dos homens chegou a crescer novamente.
- Um vírus fez isso?
Sykes assentiu.
- Como eu disse, esta é a versão para leigos. Mas tenho profissionais lá embaixo que acham que foi exatamente isso que aconteceu. Alguns deles são especialistas em áreas com nomes que nem soletrar eu saberia. Falam comigo como se eu fosse uma criança, e não estão errados.
- O que aconteceu com eles? Com os quatro pacientes.
Sykes se recostou na cadeira, o rosto um pouco sombrio.
- Bem, infelizmente esta não é a parte mais feliz da história. Todos morreram. O que sobreviveu mais tempo durou 85 dias. Aneurisma cerebral, ataque cardíaco, derrame. Foi como se um fusível simplesmente queimasse em seus corpos.
- E os outros?
- Ninguém sabe. Desapareceram sem deixar pistas, inclusive o guia, que por acaso era uma figura bastante estranha. Parece que na verdade ele transportava drogas, usando as viagens como disfarce. - Sykes deu de ombros. - Provavelmente já falei demais. Mas acho que isso vai ajudá-lo a colocar as coisas em perspectiva. Não estamos falando de curar uma doença, agente Wolgast. Estamos falando de curar todas elas. Quanto tempo um ser humano poderia viver se não houvesse mais câncer, doenças cardíacas, diabetes, mal de Alzheimer? E chegamos a um ponto em que realmente precisamos de cobaias humanas. Não é uma boa expressão, mas não existe outra. E é aí que você entra. Preciso que me consiga esses homens.
- Por que não chamaram oficiais de justiça? Isso não é mais a praia deles?
Sykes balançou a cabeça, descartando a ideia.
- Se me permite dizer, esses caras não passam de um bando de xerifes que todo mundo idolatra. Acredite, chegamos a pensar nisso. Se fosse para carregar um sofá escada acima, eles seriam os primeiros que eu chamaria. Mas para isso, não.
Sykes abriu o dossiê em sua mesa e começou a ler:
- Bradford Joseph Wolgast, nascido em Ashland, no Oregon, em 29 de setembro de 1974. Formado em justiça criminal em 1996, pela Universidade do Estado de Nova York, com louvor. É recrutado pelo FBI mas recusa, consegue uma bolsa na Universidade de Stony Brook para um Ph.D. em ciências políticas, mas abandona depois de dois anos para ingressar no FBI. Depois de treinar em Langley, é mandado para... - ele ergueu as sobrancelhas para Wolgast. - Dayton?
Wolgast deu de ombros.
- Não foi muito empolgante.
- Bom, todos nós temos que passar por isso. Dois anos no interior, um pouco disso e daquilo, na maioria das vezes serviços sem grande importância, mas recebe boas avaliações o tempo todo. Depois dos ataques de 11 de setembro, você pede para ser transferido para o departamento de contraterrorismo, volta a Langley por 18 meses, é designado para a agência de Denver em setembro de 2004 como contato com o Departamento do Tesouro, rastreando fundos transferidos de bancos americanos por cidadãos russos, isto é, a máfia russa, apesar de não os chamarmos assim. Em termos de vida pessoal, nenhuma filiação política, não é sócio de nada, nem mesmo possui assinaturas de jornais. Pais falecidos. Sai com algumas garotas, mas não tem namorada firme. Casa-se com Lila Kyle, cirurgiã ortopédica. Divorcia-se quatro anos depois.
Sykes fecha o dossiê e levanta os olhos para Wolgast.
- O que precisamos, agente Wolgast, para ser honesto, é de alguém que tenha certo tato, alguém que saiba negociar, não somente com os prisioneiros, mas também com os diretores dos presídios. Alguém que saiba pisar leve, que não chame muito a atenção. O que estamos fazendo aqui é perfeitamente legal - diabos, esta pode ser a pesquisa médica mais importante na história da humanidade. Mas poderia ser facilmente mal interpretada. Estou lhe dizendo tudo isso porque acho que vai ajudá-lo a entender a importância da missão.
Wolgast achou que Sykes talvez estivesse lhe contando um décimo da história - uma parte bastante persuasiva, sem dúvida, mas, ainda assim, só uma parte.
- E a droga é segura?
Sykes deu de ombros.
- Relativamente segura. Não vou mentir. Há riscos. Mas faremos todo o possível para minimizá-los. Um resultado ruim não é do interesse de ninguém aqui. E lembre-se de que esses homens são prisioneiros condenados à morte. Não são os melhores sujeitos do planeta, e nem têm tantas opções. Estamos lhes dando uma chance de continuarem vivos e ao mesmo tempo talvez darem uma contribuição significativa para a medicina. Não é uma proposta ruim, nem de longe. Todo mundo aqui está do lado dos mocinhos.
Wolgast passou alguns instantes pensando. Era tudo meio difícil de aceitar.
- Só não entendo por que os militares estão envolvidos.
Diante disso Sykes enrijeceu, parecendo ter se ofendido.
- Não entende? Pense bem, agente Wolgast. Digamos que um soldado de infantaria lutando no Irã ou na Tchetchênia seja atingido por um estilhaço. Digamos que houvesse uma bomba à beira da estrada, um monte de explosivos enfiados num tubo de chumbo cheio de parafusos. Talvez algo adquirido no mercado negro de artilharia russa. Acredite, já vi de perto o que essas coisas podem fazer. Precisamos tirá-lo de lá. Talvez no caminho ele sangre até a morte, mas, se tiver sorte, talvez consiga chegar ao hospital de campo, onde um cirurgião, dois assistentes e três enfermeiras o remendem da melhor maneira possível antes que seja levado para a Alemanha ou a Arábia Saudita. É doloroso, é assustador, foi um grande azar, e ele provavelmente está definitivamente fora de combate. É um investimento perdido. Todo o dinheiro que gastamos no treinamento dele, um desperdício total. E a coisa fica pior. Ele volta para casa deprimido, com raiva, talvez sem um dos membros ou algo pior, sem nada de bom para dizer sobre ninguém nem sobre coisa nenhuma. No bar da esquina ele desabafa com os amigos: perdi minha perna, vou mijar num saco pelo resto da vida, e tudo isso em troca de quê?
Sykes se recostou na cadeira, deixando a história surtir efeito.
- Nós estamos em guerra há 15 anos, agente Wolgast. Pelo andar da carruagem, continuaremos em guerra por mais 15 anos, e isso se tivermos sorte. Não vou enganá-lo. O maior desafio que os militares enfrentam, que sempre enfrentaram, é manter os soldados no campo de batalha. Então, digamos que o mesmo soldado seja atingido pelo mesmo estilhaço, mas em menos de um dia o corpo dele se regenere e ele esteja de volta à sua unidade, lutando por Deus e por seu país. Acha que os militares não estariam interessados em algo assim?
Wolgast sentiu que havia levado uma bronca.
- Entendo seu ponto de vista.
- Que bom, deveria entender mesmo.
A expressão de Sykes se suavizou. O sermão havia acabado.
- Digamos que os militares estejam pagando a conta. E eu diria deixe-os pagar, porque, francamente, o que já gastamos até agora faria seus olhos saltarem das órbitas. Não sei quanto a você, mas eu gostaria de conhecer meus tetranetos. Diabos, gostaria de acertar uma bola de golfe a 300 metros de distância quando estiver com 100 anos e depois ir para casa fazer amor com a minha mulher até ela ficar descadeirada por uma semana. Quem não gostaria?
Ele fez uma pausa e encarou Wolgast.
- Estamos do lado dos mocinhos, agente Wolgast. Não se esqueça disso. Estamos entendidos?
Os dois se despediram com um aperto de mãos. Sykes acompanhou Wolgast até a porta. Richards estava esperando do lado de fora para levá-lo de volta à van.
- Uma última pergunta - disse Wolgast. - Por que o projeto se chama Noé?
Parado junto à porta, Sykes olhou rapidamente para Richards. Nesse momento, Wolgast sentiu uma mudança no equilíbrio de poder: Sykes podia estar tecnicamente no comando, mas de algum modo, Wolgast tinha certeza, ele também prestava contas a Richards, que provavelmente era o elemento de ligação entre os militares e quem quer que estivesse realmente comandando o show: o Instituto de Pesquisas Médicas do Exército, o Departamento de Segurança Interna, ou talvez a Agência de Segurança Nacional.
Sykes se virou para Wolgast.
- Deixe-me responder da seguinte forma: já leu a Bíblia?
- Um pouco. - Wolgast olhou para os dois. - Quando criança. Minha mãe era metodista.
Sykes se permitiu um sorriso.
- Dê uma olhada nela. A história de Noé e a arca. Veja quanto tempo ele viveu. É só isso o que vou dizer.
Naquela noite, de volta ao apartamento em Denver, Wolgast fez o que Sykes havia sugerido. Não tinha uma Bíblia, provavelmente não punha os olhos em uma desde o dia do casamento. Mas encontrou um site de busca de textos bíblicos na internet.
Noé viveu ao todo novecentos e cinquenta anos, depois morreu.
Foi então que encontrou a peça que faltava, o que Sykes deixara de mencionar. Devia estar em seu dossiê, é claro. Era o motivo pelo que o haviam selecionado entre todos os agentes federais disponíveis.
Tinham escolhido Wolgast por causa de Eva, porque ele fora obrigado a ver a filha morrer.
Na manhã seguinte, Wolgast acordou com o barulho do celular. Estava sonhando, e no sonho Lila ligava de volta para ele, dizendo que o bebê havia nascido - não o de David, mas o deles. Por um momento ele ficou feliz, mas então sua mente clareou e ele percebeu onde estava - no hotel em Huntsville. Sua mão encontrou o telefone na mesinha de cabeceira e ele apertou o botão para atender sem ao menos olhar a tela para ver quem era. Ouviu a estática da criptografia e em seguida a voz de Sykes.
- Tudo acertado - disse Sykes. - Agora é só conseguir que Carter assine. E não faça as malas por enquanto. Talvez tenhamos outra tarefa para você.
Olhou para o relógio: 6h58. Doyle estava no chuveiro. Wolgast ouviu o ruído da torneira se fechando, depois o som do secador de cabelo. Tinha uma vaga lembrança de ter ouvido Doyle voltando do bar - o barulho da rua invadindo o quarto pela porta aberta, um pedido de desculpas sussurrado e depois o som de água correndo - e de haver olhado o relógio e visto que eram pouco mais de duas da manhã.
Doyle entrou no quarto com uma toalha enrolada na cintura. O vapor umedecia o ar ao redor.
- Que bom que você acordou.
Os olhos dele brilhavam, e a pele estava vermelha por causa do calor do chuveiro. Wolgast não conseguia entender como alguém podia ficar acordado metade da noite, bebendo, e na manhã seguinte parecer pronto para correr uma maratona.
Wolgast pigarreou.
- Como foi o negócio da fibra ótica?
Doyle se jogou na outra cama e passou a mão no cabelo úmido.
- Você ficaria surpreso em saber como é um negócio interessante. Acho que as pessoas o subestimam.
- Deixe-me adivinhar. A da calcinha?
Doyle riu, balançando as sobrancelhas num gesto sugestivo.
- Todas estavam de calcinha, chefe.
Ele inclinou a cabeça para Wolgast.
- O que aconteceu com você? Parece que foi arrastado por um carro.
Wolgast olhou para baixo e descobriu que tinha dormido com a roupa do dia anterior. Isso estava virando hábito: desde que recebera o e-mail de Lila, passava a maior parte das noites no sofá do apartamento, assistindo à televisão até cair no sono, como se não fosse mais capaz de ir para a cama como uma pessoa normal.
- Esqueça - disse. - Deve ter sido um jogo chato.
Ele se levantou e se espreguiçou.
- Sykes telefonou. Vamos acabar logo com isso.
Tomaram o café da manhã no Denny's e foram até Polunsky. O diretor estava esperando por eles no escritório. Seria apenas mau humor matinal, pensou Wolgast, ou também ele não teria dormido muito bem?
- Nem precisam se sentar - disse ele, entregando-lhes um envelope.
Wolgast examinou o conteúdo. Era mais ou menos o que ele esperava: uma carta de comutação assinada pela governadora e uma ordem judicial transferindo Cárter para a custódia deles como prisioneiro federal. Presumindo que Cárter assinasse, poderiam colocá-lo em trânsito para o presídio federal em El Reno antes do jantar. Dali ele seria transferido para três outras instalações federais, seu rastro ficando cada vez mais fraco, até que em algum momento, dentro de duas ou três semanas, ou no máximo um mês, uma van preta chegaria ao complexo, e um homem agora conhecido simplesmente como Cobaia Número 12 sairia do carro sob o sol do Colorado.
Os últimos itens no envelope eram o atestado de óbito de Cárter e um relatório do médico-legista, ambos datados de 23 de março. Na manhã do dia 23, dali a três dias, Anthony Lloyd Cárter morreria de aneurisma cerebral em sua cela.
Wolgast colocou os papéis de volta no envelope e o enfiou na pasta. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo como uma cobra. Como era fácil fazer um ser humano sumir!
- Obrigado, diretor. Agradecemos sua colaboração.
O diretor olhou para eles com o maxilar trincado.
- Também fui instruído a dizer que nunca ouvi falar de vocês.
Wolgast se esforçou ao máximo para sorrir.
- Há algum problema em relação a isso?
- Imagino que, se houvesse, um daqueles relatórios do médico-legista apareceria com meu nome escrito. Eu tenho filhos, agente Wolgast.
O diretor pegou o telefone e apertou um botão.
- Mande dois guardas trazerem Anthony Cárter até o pavilhão de visitas, depois venha até a minha sala.
Ele desligou o telefone e olhou para Wolgast.
- Se não se importarem, gostaria que esperassem lá fora. Se continuar olhando para vocês, vai ser difícil esquecer tudo isso. Tenham um bom dia, senhores.
Dez minutos depois, dois guardas chegaram. O mais velho tinha o rosto benevolente e rechonchudo de um Papai Noel de shopping, mas o outro, que não devia ter mais de 30 anos, tinha uma expressão zangada que não agradou a Wolgast. Havia sempre um guarda que gostava do serviço pelos motivos errados, e esse era um deles.
- Vocês estão procurando o Cárter?
Wolgast assentiu e mostrou suas credenciais.
- Isso mesmo. Agentes especiais Wolgast e Doyle.
- Não interessa quem vocês são - disse o gordo. - O diretor mandou levá-los, e vamos levá-los.
Foram até o pavilhão de visitas. Cárter estava sentado do outro lado do vidro, o fone encaixado entre o ouvido e o ombro. Era franzino como Doyle dissera, e o macacão ficava folgado nele. Wolgast aprendera que havia muitas maneiras de encarar a condenação à morte, e a expressão de Cárter não parecia ser de medo nem de raiva, era simplesmente de resignação, como se o mundo houvesse arrancado pedaços dele por toda a vida.
Wolgast se virou para os guardas e fez um sinal indicando as algemas.
- Tirem isso, por favor.
O guarda balançou a cabeça.
- Normas da direção.
- Não importa. Tratem de tirá-las.
Wolgast pegou o fone que estava pendurado na parede.
- Anthony Cárter? Sou o agente especial Wolgast. Este é o agente especial Doyle. Somos do FBI. Esses homens irão até aí soltar suas algemas. Pedi a eles que fizessem isso. Você vai cooperar, não vai?
Cárter assentiu com dificuldade e respondeu baixinho:
- Sim, senhor.
- Precisa de mais alguma coisa para ficar confortável?
Cárter olhou para ele intrigado. Há quanto tempo ninguém lhe fazia uma pergunta dessas?
- Não, tudo bem - respondeu.
Wolgast se virou para encarar os guardas.
- E então? O que estão esperando? Estou falando com as paredes ou preciso ligar para o diretor?
Os guardas passaram um momento se entreolhando, decidindo o que fazer. Então Dennis saiu da sala e reapareceu do outro lado do vidro depois de um instante. Wolgast se levantou e ficou observando, os olhos fixos no guarda enquanto ele retirava as algemas.
- Só isso? - perguntou o outro guarda.
- Só. Queremos ficar sozinhos por algum tempo. Avisaremos ao oficial de plantão quando tivermos terminado.
- Como queira - respondeu o guarda, e saiu fechando a porta.
Havia apenas uma cadeira de metal dobrável na sala. Wolgast posicionou-a de frente para o vidro e se sentou, enquanto Doyle permanecia de pé atrás dele. Era Wolgast quem sempre falava. Ele pegou o fone novamente.
- Está melhor assim?
Cárter hesitou por um momento, avaliando-o, depois assentiu.
- Sim, senhor. Obrigado. Beliscão sempre aperta demais as algemas.
Beliscão. Wolgast fez uma anotação mental sobre isso.
- Está com fome? Eles lhe deram café da manhã?
- Panquecas. - Cárter deu de ombros. - Mas já faz cinco horas.
Wolgast se virou para Doyle e ergueu as sobrancelhas. Doyle assentiu e saiu da sala. Durante alguns minutos Wolgast ficou calado, esperando. Apesar do grande aviso para não fumar, a beirada do balcão estava cheia de marcas de queimadura.
- O senhor disse que era do FBI?
- Isso mesmo, Anthony.
Um leve sorriso atravessou o rosto de Cárter.
- Como naquele seriado?
Wolgast não sabia do que ele estava falando, mas tudo bem: isso daria a Cárter algo para falar.
- Que seriado, Anthony?
- O da mulher. Da mulher com os extraterrestres.
Wolgast pensou um pouco, depois se lembrou. Claro! Arquivo X. Não passava havia mais de... o quê? Vinte anos? Cárter provavelmente assistira às reprises quando criança. Wolgast não lembrava muita coisa, só a ideia geral - sequestros por alienígenas e algum tipo de conspiração para esconder tudo. Essa era a impressão que Cárter tinha do FBI.
- Eu também gostava do seriado. Como estão as coisas para você aqui?
Cárter ajeitou os ombros.
- O senhor veio até aqui me perguntar isso?
- Você é um cara inteligente, Anthony. Não, não foi por esse motivo.
- Então qual foi?
Wolgast chegou mais perto do vidro e olhou nos olhos de Cárter.
- Eu sei sobre esse lugar, Anthony. Sobre Terrell. Sei o que acontece aqui. E apenas me certificando de que você esteja sendo tratado direito.
Cárter olhou-o com desconfiança.
- Dá pra aguentar, eu acho.
- Os guardas são legais com você?
- Beliscão aperta demais as algemas, mas na maior parte do tempo é legal. - Cárter encolheu os ombros ossudos. - Dennis não é meu amigo. Alguns outros também não.
A porta se abriu atrás de Cárter e Doyle entrou com uma bandeja amarela do refeitório. Colocou-a no balcão diante de Cárter: um cheeseburger com batatas fritas brilhando de gordura, num cestinho de plástico coberto por um guardanapo. Ao lado havia uma caixinha de achocolatado.
- Pode comer, Anthony - disse Wolgast, e fez um gesto apontando para a bandeja. - Podemos conversar quando você tiver terminado.
Cárter pôs o telefone no balcão e levou o cheeseburger à boca. Três mordidas e metade do sanduíche havia sumido. Cárter limpou a boca com as costas da mão e partiu para as batatas, enquanto Wolgast olhava. A concentração de Cárter era total. Era como ver um cachorro comendo, pensou Wolgast.
Doyle havia retornado para o outro lado do vidro, junto a Wolgast.
- Puxa - disse ele baixinho -, esse cara estava mesmo com fome.
- Tem alguma sobremesa lá?
- Umas tortas ressecadas e umas bombas que parecem cocô de cachorro.
- Pensando bem, deixe a sobremesa para lá. Pegue um copo de chá gelado para ele. No capricho. Enfeite um pouco com umas rodelas de limão.
Doyle franziu a testa.
- Ele já tem o leite. Não sei nem se existe chá gelado lá embaixo. Este lugar é um pardieiro.
- Estamos no Texas, Phil. - Wolgast venceu sua impaciência e continuou: - Acredite, tem chá. Encontre.
Doyle deu de ombros e saiu de novo. Quando terminou de comer, Cárter lambeu o sal de cada dedo e deu um suspiro profundo. Depois pegou novamente o telefone, e Wolgast fez o mesmo.
- E então, Anthony? Está se sentindo melhor?
Pelo telefone, Wolgast pôde ouvir o peso da respiração de Cárter. Seus olhos estavam relaxados, brilhando de prazer. Todas aquelas calorias, aquelas moléculas de proteínas, todos aqueles carboidratos complexos batendo em seu organismo como um martelo. Era como se Wolgast tivesse lhe dado uma dose dupla de uísque.
- Sim, senhor. Obrigado.
- Um homem precisa comer. Não se pode viver de panquecas.
Houve um momento de silêncio. Cárter lambeu lentamente os lábios. Quando voltou a falar, sua voz era quase um sussurro.
- O que o senhor quer de mim?
- Você não está entendendo, Anthony - disse Wolgast. - Estou aqui para descobrir o que eu posso fazer por você.
Cárter olhou para o balcão, para os restos gordurosos de sua refeição.
- Ele mandou o senhor, não foi?
- Quem, Anthony?
- O marido da mulher. - Cárter franziu a testa diante da lembrança. - O Sr. Wood. Ele veio aqui uma vez. Falou que tinha encontrado Jesus.
Wolgast se lembrou do que Doyle tinha dito no carro. Aquilo já fazia dois anos, mas ainda estava na mente de Cárter.
- Não, ele não me mandou, Anthony. Dou minha palavra.
- Eu já disse a ele que sinto muito - disse Cárter com insistência, a voz falhando. - Disse a todo mundo. Não vou dizer mais.
- Ninguém está dizendo que você precisa se desculpar, Anthony. Sei que está arrependido. Por isso vim até aqui ver você.
- Veio de onde?
- De longe, Anthony - respondeu Wolgast, balançando a cabeça devagar. - De muito, muito longe.
Wolgast fez uma pausa e examinou o rosto de Cárter. Havia algo nele, era diferente dos outros. Sentiu o momento chegando, como uma porta que se abria.
- Anthony, o que você diria se eu lhe contasse que posso tirá-lo deste lugar?
Por trás do vidro, Cárter olhou-o com desconfiança.
- Como assim?
- Como eu disse. Agora mesmo. Hoje. Você pode sair de Terrell e não voltar nunca mais.
Os olhos de Cárter vaguearam, confusos. A ideia era estranha demais para ser processada.
- Eu diria que o senhor está me enganando.
- Não é mentira, Anthony. Foi por isso que viemos de tão longe. Você pode não saber, mas é um sujeito especial. Pode:se dizer que é uma pessoa única.
- Está dizendo que eu posso sair daqui? - Cárter franziu a testa, amargo. - Não faz sentido. Ainda mais depois de todo esse tempo. Eu não tenho direito a apelação. O advogado disse isso numa carta.
- Não é apelação, Anthony. É melhor do que isso. É simplesmente você sair daqui. O que me diz?
- Parece ótimo. - Cárter se recostou e cruzou os braços sobre o peito com um riso de desafio. - Parece bom demais para ser verdade. Eu estou em Terrell.
Wolgast sempre ficava pasmo ao ver como a aceitação da ideia de comutação da pena se parecia aos cinco estágios do luto. Nesse momento Cárter estava na fase de negação. A ideia era incrível demais para ser aceita.
- Sei onde você está. Conheço este lugar. É a casa da morte, Anthony. Não é o lugar certo para você. Por isso estou aqui. E não vim por causa de qualquer um. Não vim por causa de outras pessoas, Anthony. Eu vim por você.
A postura de Cárter relaxou.
- Não sou ninguém especial. Sei disso.
- É, sim. Talvez não saiba, mas é. Veja bem, eu preciso de um favor seu, Anthony. A proposta é uma via de mão dupla. Eu posso tirar você daqui, mas preciso que você faça uma coisa para mim em troca.
- Um favor?
- As pessoas para quem eu trabalho, Anthony, ficaram sabendo do que ia acontecer com você em junho e acham que isso não está certo. Elas não acham certo o modo como você tem sido tratado, o fato de o seu advogado ter ido embora e deixado você aqui, assim. Perceberam que podiam fazer alguma coisa a respeito e que tinham um trabalho que precisavam que você fizesse.
Cárter franziu a testa, confuso.
- Quer dizer, cortar grama? Que nem fazia para aquela dona?
Meu Deus, pensou Wolgast. O sujeito pensava mesmo que Wolgast queria que ele cortasse a grama.
- Não, Anthony. Não é nada disso. O que eu preciso que você faça é tão importante que não posso contar o que é. Porque nem eu sei.
- Como o senhor sabe que é importante se não sabe o que é?
- Você é um homem inteligente, Anthony, e está certo em perguntar isso. Mas terá de confiar em mim. Eu posso tirar você daqui agora mesmo. Você só precisa dizer que quer.
Foi então que ele puxou da pasta o envelope dado pelo diretor e o abriu. Nesse momento Wolgast sempre se sentia como um mágico tirando o coelho da cartola. Com a mão que estava livre, colocou o documento contra o vidro, para que Cárter o visse.
- Sabe o que é isso? É uma carta de comutação, Anthony, assinada pela governadora Jenna Bush. Tem a data de hoje, bem aqui na parte de baixo. Sabe o que significa comutação?
Cárter franziu os olhos para o papel.
- Eu não vou ter que tomar a injeção?
- Isso mesmo, Anthony. Nem em junho nem nunca.
Wolgast pôs o papel de volta no envelope. Aquilo era a isca, algo para atiçar o desejo. O outro documento, o que Cárter precisaria assinar e que Wolgast tinha certeza de que ele iria assinar assim que toda a hesitação acabasse - aquele em que Anthony Lloyd Cárter, prisioneiro 999642 do estado do Texas, entregava integralmente sua vida, passada, presente e futura, ao Projeto Noé - entraria em cena em seguida. Quando esse segundo pedaço de papel visse a luz do dia, o objetivo era que não fosse lido.
Cárter assentiu devagar.
- Sempre gostei dela. Gostava dela quando era a primeira-dama.
Wolgast deixou o erro passar.
- Ela é apenas uma das pessoas para quem eu trabalho, Anthony. Há outras. Talvez você reconhecesse alguns outros nomes se eu lhe dissesse, mas não posso fazer isso. E essas pessoas pediram que eu viesse até aqui e lhe falasse quanto elas precisam de você.
- Então eu faço esse favor e você me tira daqui? Mas não pode me dizer o que é?
- É mais ou menos isso, Anthony. Se você disser não, eu vou embora. Se disser sim, você sai de Terrell esta noite. Simples assim.
A porta atrás de Cárter se abriu de novo e Doyle entrou trazendo o chá. Tinha feito o que Wolgast pedira: equilibrava em um pires o copo enfeitado com uma fatia de limão, com uma colher comprida e alguns pacotinhos de açúcar ao lado. Cárter olhou para o copo e seu rosto se transformou. Foi então que Wolgast soube que Anthony Cárter não era culpado, pelo menos não da forma como o tribunal havia tecido a coisa. Com os prisioneiros anteriores, ele sempre soubera com o que estava lidando: os crimes eram claros. Mas não neste caso. Algo havia acontecido naquele dia em River Oaks, e uma mulher havia morrido no quintal. Mas havia mais alguma coisa, talvez muito mais. Olhando para Cárter, Wolgast pôde ver que sua mente havia se movido para um cômodo escuro sem janelas e de porta trancada. Sabia que era ali que encontraria Anthony Cárter - iria encontrá-lo no escuro - e, quando isso acontecesse, Cárter lhe mostraria a chave que abriria a porta.
- Eu só quero... - balbuciou Cárter, os olhos fixos no copo.
Wolgast esperou que ele terminasse a frase. Quando isso não aconteceu, Wolgast perguntou:
- O que você quer, Anthony? Pode dizer.
Cárter levantou a mão livre e roçou com os dedos a lateral do copo. O vidro estava frio, suando com a umidade. Cárter afastou a mão e esfregou lentamente as gotas d'água entre o polegar e os outros dedos, os olhos totalmente focalizados no gesto. Sua concentração era tão intensa que Wolgast pôde sentir a mente do sujeito se abrindo, absorvendo tudo aquilo. Era como se a sensação da água fria nas pontas dos dedos fosse a chave para cada mistério de sua vida. Ele ergueu os olhos para Wolgast.
- Preciso de tempo... para entender - disse baixinho. - O que aconteceu. Com a mulher.
Noé viveu ao todo novecentos e cinquenta anos...
- Eu posso lhe dar esse tempo, Anthony - disse Wolgast. - Todo o tempo do mundo. Um oceano de tempo.
Outro momento se passou. Então Cárter assentiu. - O que eu preciso fazer?
Wolgast e Doyle chegaram ao aeroporto George Bush pouco depois das sete da noite. O tráfego estava horrível, mas mesmo assim ainda tinham 90 minutos. Devolveram o carro alugado e pegaram o ônibus do aeroporto até o terminal da Continental. Mostraram as credenciais para não precisarem passar pela segurança e atravessaram a multidão até o portão de embarque.
Doyle pediu licença e foi comprar algo para comer. Wolgast não estava com fome, mas sabia que provavelmente lamentaria a decisão mais tarde, principalmente se o voo atrasasse. Verificou o celular. Nenhuma mensagem de Sykes. Ficou satisfeito. Só queria dar o fora do Texas. Havia apenas alguns passageiros esperando junto ao portão: umas duas famílias, alguns estudantes plugados em Blu-rays ou iPods, um grupo de homens de terno falando aos celulares ou digitando em laptops. Wolgast verificou o relógio: 19h25. Nesse momento, pensou, Anthony Cárter estaria sentado em uma van a caminho de El Reno, deixando para trás apenas arquivos destruídos e uma vaga e desbotada lembrança de que ele jamais existira. Antes do fim do dia, até mesmo seus registros em órgãos do governo teriam desaparecido: Anthony Cárter não passaria de uma lenda, uma pequena onda, imperceptível, no oceano.
Wolgast se recostou na cadeira e percebeu como estava exausto. Essa sensação sempre se apossava dele subitamente. Aquelas viagens o deixavam física e emocionalmente esgotado e com um peso na consciência que ele sempre precisava fazer algum esforço para aplacar. Ele simplesmente era bom demais nisso, era um especialista em encontrar o gesto certo, a frase perfeita. Conseguia instintivamente ler aqueles sujeitos, como páginas de um livro. Quando um homem fica sentado numa caixa de concreto por muito tempo, pensando na própria morte, sua vida evapora até virar apenas uma poeira leitosa, como água num bule esquecido no fogão. Para entendê-lo, era preciso descobrir do que era feita aquela poeira, o que sobrava daquele homem depois que o restante de sua vida, passado, presente e futuro, tivesse se transformado em vapor. Em geral era algo simples:
raiva, tristeza ou vergonha, ou simplesmente a necessidade de ser perdoado. Alguns não queriam absolutamente nada: só o que lhes restava era uma silenciosa fúria animal contra o mundo e todos os seus sistemas.
Anthony era diferente: Wolgast havia demorado algum tempo para deduzir isso. Anthony era como um ponto de interrogação humano, uma expressão viva de pura perplexidade. Ele verdadeiramente não sabia por que estava em Terrell. Não que não entendesse sua sentença: isso era claro, e ele a aceitara - como quase todos os outros, porque não tinham escolha. Bastava ler as últimas palavras de homens condenados à morte para entender isso: "Diga a todos que eu os amo. Sinto muito. Muito bem, diretor, vamos logo com isso." Eram sempre palavras desse tipo, arrepiantes de se ler, como Wolgast fizera inúmeras vezes. Mas para Anthony Cárter faltava uma peça do quebra-cabeça. Wolgast vira isso quando Cárter tocou a lateral do copo - até mesmo antes, quando perguntou sobre o marido de Rachel e disse que sentia muito. Wolgast não sabia ao certo se Cárter não conseguia se lembrar do que acontecera naquele dia no quintal dos Wood ou se não conseguia entender seus atos e relacioná-los ao homem que ele pensava ser. De qualquer modo, Anthony Cárter precisava encontrar parte de si mesmo antes de morrer.
De sua cadeira, Wolgast tinha uma boa visão das pistas atrás das janelas do terminal: o sol estava baixando, os últimos raios brilhando na fuselagem dos aviões parados. O voo para casa sempre lhe fazia bem: algumas horas no ar perseguindo o pôr do sol, e ele se sentiria inteiro de novo. Jamais bebia, lia ou dormia durante o voo, apenas ficava sentado perfeitamente imóvel enquanto o chão abaixo dele sumia. Uma vez, numa viagem de volta de Tallahassee, o avião contornara uma tempestade tão gigantesca que parecia um vulcão suspenso, o interior turbulento iluminado como um presépio por raios serrilhados. Era uma noite de setembro e eles sobrevoavam algum lugar em Oklahoma, pensou, ou no Kansas, algum lugar plano e vazio. Talvez fosse mais para o oeste. A cabine estava escura. Quase todos os passageiros dormiam, inclusive Doyle, sentado ao seu lado com um travesseiro sob a cabeça. Durante 20 minutos o avião circundou a área de tempestade sem que houvesse sequer um tremor.
Em toda a sua vida Wolgast nunca vira nada igual, nunca sentira com tanta intensidade a imensidão da natureza, de sua força do tamanho do mundo. O ar dentro da tempestade era um cataclismo de pura voltagem atmosférica; no entanto, ali estava ele, lacrado no silêncio, viajando sobre nada além de 9 mil metros de ar, contemplando tudo aquilo como se fosse um filme numa tela, um filme mudo. Esperou que a voz do piloto estalasse no alto-falante dizendo alguma coisa sobre a tempestade, alertando os outros passageiros sobre o espetáculo, mas isso não aconteceu, e, quando pousaram em Denver, com 40 minutos de atraso ele não falou a ninguém sobre o assunto, nem mesmo a Doyle.
Pensou em como gostaria de ligar para Lila e falar sobre isso. O sentimento era tão forte, tão claro em sua mente, que ele levou algum tempo até perceber que era loucura, era apenas a voz da máquina do tempo. A máquina do tempo: era disso que a psicóloga havia falado, uma amiga de Lila do hospital com quem eles haviam se consultado umas poucas vezes, uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos compridos e prematuramente grisalhos e os olhos grandes sempre úmidos de empatia. Ela gostava de tirar os sapatos no início de cada sessão e sentar-se com as pernas dobradas embaixo do corpo, como uma conselheira de acampamento antes de ensinar uma música, e falava tão baixo que Wolgast precisava se inclinar para ouvi-la. De vez em quando, explicara em sua voz minúscula, a mente deles lhes pregaria peças. Pelo modo como falava, aquilo não parecia um aviso: estava apenas constatando um fato. Ele e Lila poderiam fazer algo ou ver alguma coisa e ter um forte sentimento do passado. Poderiam, por exemplo, se pegar na fila do caixa do supermercado com um pacote de fraldas no carrinho ou passar pelo quarto de Eva na ponta dos pés, como se ela estivesse dormindo. Esses seriam os momentos mais difíceis, explicara a mulher, porque teriam de reviver toda a perda novamente, mas, à medida que os meses passassem - ela havia garantido -, isso aconteceria cada vez menos.
O negócio é que aqueles momentos não eram difíceis para Wolgast. Ainda aconteciam de vez em quando, mesmo depois de três anos, mas ele não achava ruim. Longe disso: para ele, eram dádivas inesperadas de sua mente. Mas para Lila era diferente, ele sabia.
- Agente Wolgast?
Ele se virou na cadeira. O terno cinza, os sapatos sociais confortáveis, a gravata comum: era como se Wolgast estivesse se olhando no espelho. Mas o rosto era novo para ele.
Levantou-se e enfiou a mão no bolso para mostrar o documento de identidade.
- Sou eu.
- Agente especial Williams, do FBI de Houston.
Os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos.
- Infelizmente vocês não vão pegar este voo. Tenho um carro lá fora esperando.
- Há alguma mensagem?
Williams tirou um envelope do bolso.
- Acho que é provavelmente isso o que você está procurando.
Wolgast pegou o envelope. Dentro dele havia um fax. Ele se sentou e leu, depois leu novamente. Os olhos ainda estavam vidrados no papel quando Doyle voltou bebendo algo com um canudinho e carregando um saco de um restaurante mexicano.
Wolgast levantou os olhos para Williams.
- Pode nos dar um segundo, por favor?
Williams se afastou.
- O que foi? - perguntou Doyle baixinho. - O que há de errado?
- Meu Deus, Phil. - Wolgast balançou a cabeça e entregou o fax a Doyle. - É uma civil.
QUATRO
A irmã Lacey Antoinette Kudoto não sabia o que Deus queria. Mas sabia que Ele queria alguma coisa.
Desde quando podia se lembrar, o mundo lhe falara assim, em sussurros e murmúrios: no farfalhar das folhas de palmeira movendo-se com a brisa do mar no povoado onde fora criada, no som da água fria correndo nas pedras do riacho atrás de sua casa, até nos ruídos agitados que o homem produzia: nos motores, máquinas e vozes humanas. Era bem pequena, não teria mais de 6 ou 7 anos, quando perguntou à irmã Margaret, que administrava a escola do convento em Port Loko, o que estava escutando, e a irmã riu.
"Lacey Antoinette, como você me surpreende!", disse ela. "Quer dizer que não sabe?" Ela abaixou a voz, inclinando o rosto bem perto do de Antoinette: "Isso não é nada senão a voz de Deus."
Mas Lacey sabia e, assim que a irmã lhe explicou, entendeu que sempre soubera. Nunca falou a mais ninguém sobre a voz, nem aos pais nem às irmãs: o modo como a irmã havia falado, como se aquilo fosse um segredo que só as duas soubessem, lhe fez ver que o que ela escutava no vento e nas folhas, na própria trama da existência, era algo particular entre as duas. Havia ocasiões, às vezes durante semanas ou mesmo um mês, em que a sensação recuava e o mundo virava um lugar comum de novo, feito de coisas corriqueiras. Acreditava que era assim que o mundo parecia à maior parte das pessoas, até mesmo àquelas mais próximas a ela, seus pais, as irmãs e as colegas da escola: elas passavam a vidanteira numa prisão de silêncio sem graça, um mundo sem voz. Saber disso a deixava tão triste que às vezes não conseguia parar de chorar por dias a fio, e seus pais a levavam ao médico, um francês de costeletas compridas que chupava balas que cheiravam a cânfora e que a cutucava, examinava e tocava com o disco gelado do estetoscópio, mas que nunca encontrava nada errado. Que terrível, pensava ela como deve ser terrível viver assim, sozinho para sempre. Mas de repente - Lacey podia estar andando para a escola através das plantações de cacau, jantando com as irmãs ou não fazendo nada, apenas olhando uma pedra no chão ou deitada de olhos abertos na cama - ela voltava a escutar aquela voz que não era exatamente uma voz, que vinha de dentro dela e também de todos os lugares ao seu redor, um sussurro abafado que não parecia feito de som, e sim da própria luz, que se movia como um sopro suave. Quando tinha 18 anos e entrou para o convento, entendeu o que era: aquela voz chamava o seu nome.
Lacey, dizia a voz. Lacey. Escute.
Era a mesma voz que ouvia agora, depois de todos esses anos, e a um oceano de distância, sentada na cozinha do Convento das Irmãs da Misericórdia em Memphis, no Tennessee.
Lacey encontrara o bilhete na mochila da menina não muito depois de a mãe ter saído. Alguma coisa naquela história a deixara inquieta, e ao olhar para a menina ela percebeu o que era: a mulher jamais tinha dito o nome da filha. Obviamente a garota era filha dela - o mesmo cabelo escuro e os olhos castanhos, a mesma pele clara e os cílios compridos que se curvavam para cima, como se levantados por uma brisa ínfima. Ela era bonita, mas o cabelo precisava ser penteado - havia partes emboladas, grossas como o pelo de um cachorro e ela mantivera o casaco na mesa, como se estivesse acostumada a sair dos lugares às pressas. Parecia saudável, embora um pouco magra. A calça era curta demais e estava dura de sujeira. Quando a menina terminou de comer os biscoitos, cada farelo, Lacey se sentou na cadeira perto dela. Perguntou se havia alguma coisa na mochila com o que quisesse brincar ou um livro que as duas pudessem ler juntas, mas a garota, que não dissera uma palavra, apenas assentiu, tirou a mochila do colo e a entregou a Lacey. Ela examinou a mochila cor-de-rosa com personagens de desenho animado - bonecas de olhos enormes que lembravam os da menina - e se lembrou do que a mulher dissera, que estava levando a filha para a escola.
Abriu a mochila e encontrou o coelho de pelúcia, calcinhas e meias enroladas, uma escova de dentes e meia caixa de barras de cereal de morango. Não havia mais nada na mochila, mas Lacey notou um bolsinho fechado com zíper do lado de fora. Já era tarde para estarem indo para a escola, pensou ela, e não havia lanche nem livros na mochila. Ela prendeu a respiração e abriu o zíper. Foi então que achou a folha de caderno dobrada.
Sinto muito. O nome dela é Amy. Tem 6 anos.
Lacey ficou olhando para o papel por um bom tempo. Não para as palavras em si, cujo significado era bastante simples. O que mais chamava sua atenção era o espaço em volta das palavras, uma página inteira de nada. Três frases minúsculas eram tudo o que aquela menina tinha para explicar quem era. Apenas três frases e os poucos itens na mochila. Talvez fosse a coisa mais triste que Lacey Antoinette Kudoto já vira na vida, tão triste que ela nem pôde chorar.
Não havia sentido em ir atrás da mulher. Ela já estaria longe. E o que Lacey faria se a encontrasse? O que poderia dizer? Acho que esqueceu uma coisa. Acho que cometeu um erro. Mas não havia erro. A mulher, Lacey compreendeu, tinha feito exatamente o que decidira fazer.
Dobrou o bilhete e o colocou no bolso fundo de sua saia.
- Amy - disse ela, e como a irmã Margaret fizera tantos anos antes naquele pátio da escola em Port Loko, aproximou-se do rosto da menina.
Ela sorriu.
- É esse o seu nome? Amy? É um nome lindo.
A garota olhou ao redor, quase furtivamente.
- Posso ficar com Peter?Lacey pensou um momento. Um irmão? O pai da menina?
- Claro - disse. - Quem é Peter, Amy?
- Está na mochila - declarou a menina.
Lacey ficou aliviada - a primeira coisa que a menina lhe pedia era algo simples, que ela podia fazer facilmente. Tirou o coelho da mochila. Era de pelúcia aveludada, com partes gastas e brilhantes, um coelhinho de olhos negros e orelhas com armação de arame. Lacey entregou o coelho a Amy, que o colocou rapidamente no colo.
- Amy - começou ela de novo -, aonde sua mãe foi?
- Não sei.
- E Peter? Ele sabe? Será que Peter poderia me contar?
- Ele não sabe nada - disse Amy. - Ele é de pelúcia. - A menininha franziu a testa. - Quero voltar para o hotel.
- Onde fica o hotel, Amy?
- Não posso dizer.
- É segredo?
A menina assentiu, os olhos fixos na superfície da mesa. Um segredo tão grande que ela nem podia dizer que era segredo, pensou Lacey.
- Não posso levar você até lá se não souber onde é, Amy. É isso o que você
quer? Ir para o hotel?
- Fica na estrada cheia de carros - explicou a menina, puxando a manga da blusa.
- Você mora lá com sua mãe?
Amy não disse nada. Tinha um jeito de nem olhar nem falar, de ficar sozinha consigo mesma até na presença de outra pessoa, um jeito que Lacey jamais tinha visto. Havia algo assustador naquilo. Quando a menina fazia isso, era como se a própria Lacey tivesse sumido.
- Tenho uma ideia - declarou Lacey. - Quer fazer uma brincadeira, Amy?
A garota olhou para ela desconfiada.
- Que brincadeira?
- Eu a chamo de jogo dos segredos. É muito fácil. Eu lhe conto um segredo e depois você me conta um. Entende? É uma troca, o meu segredo pelo seu. O que acha?
A garota balançou os ombros.
- Está bem.
- Certo, então. Vou começar. O meu segredo é o seguinte: uma vez, quando eu era bem pequena, que nem você, eu fugi de casa. Foi em Serra Leoa, de onde eu vim. Eu estava muito chateada com a minha mãe porque ela não quis me deixar ir ao circo antes de fazer o dever de casa. Eu estava bem empolgada com o circo, porque tinha ouvido falar que havia um espetáculo com cavalos, e eu adorava cavalos. Aposto que você gosta de cavalos também, não é, Amy?
A menina assentiu:
- Acho que sim.
- Toda menina gosta de cavalos. Mas eu... era apaixonada! Para ver como eu era louca, me recusei a fazer o dever, e minha mãe me colocou de castigo no quarto a noite toda. Ah, fiquei com tanta raiva dela! Fiquei batendo com os pés no chão do quarto feito uma doida. Depois pensei: se eu fugir, ela vai se arrepender de ter me tratado desse jeito. Vai me deixar fazer o que eu quiser daqui em diante. Eu era muito boba, mas era nisso que acreditava. Aí, naquela noite, depois que meus pais e minhas irmãs tinham ido dormir, eu saí de casa. Não sabia para onde ir, por isso me escondi no mato atrás do nosso quintal. Estava frio e muito escuro. Eu queria ficar ali a noite toda, e de manhã poderia ouvir minha mãe gritando meu nome, quando ela acordasse e visse que eu não estava em casa. Mas não consegui fazer isso. Fiquei no mato por algum tempo, mas senti muito frio e muito medo. Voltei para casa e fui para a cama, e ninguém soube que eu tinha fugido.
Ela olhou para a menina, que a observava atentamente e se esforçava para sorrir.
- Pronto. Nunca tinha contado essa história a ninguém, até agora. Você é a primeira pessoa a quem contei. O que acha?
A garota agora tinha toda a atenção voltada para Lacey.
- Aí você só voltou para casa?
Lacey assentiu e disse:
- Eu não estava mais com tanta raiva assim. E de manhã tudo acabou parecendo um sonho. Nem tive certeza de que tudo aquilo tinha acontecido de verdade, mas agora, tanto tempo depois, sei que aconteceu mesmo.
Ela deu um tapinha encorajador na mão de Amy.
- Agora é a sua vez. Tem algum segredo para me contar, Amy?
A garota abaixou o rosto e não disse nada.
- Nem unzinho?
- Acho que ela não vai voltar - disse Amy.
Os policiais que atenderam ao chamado, um homem e uma mulher, também não chegaram a lugar nenhum. A policial, uma mulher branca e gorda, o cabelo curto como o de homem, conversou com a garota na cozinha, enquanto o parceiro, um negro bonito de rosto estreito e pele lisa, pediu a Lacey que descrevesse a mulher. Ela parecia nervosa? Estava bêbada, drogada? O que estava usando? Lacey viu o carro? Ele continuou o interrogatório por um bom tempo, mas Lacey podia perceber que o homem só perguntava porque era seu trabalho. Ele provavelmente também não achava que a mãe da menina fosse aparecer. Anotou as respostas dela com um lápis minúsculo num bloco de papel que, assim que terminaram, pôs de volta no bolso da camisa. Na cozinha, um clarão de luz: a policial havia tirado uma foto de Amy.
- Quer ligar para o Serviço de Proteção à Criança ou prefere que façamos isso? - perguntou o policial a Lacey. - Porque, levando em conta quem a senhora é, talvez fizesse sentido esperarmos. Não precisamos colocá-la no sistema imediatamente, principalmente por ser fim de semana, se a senhora não se incomodar que ela fique aqui. Podemos divulgar uma descrição da mulher e ver se chegamos a algum lugar. Vamos cadastrar a menina no banco de dados de crianças desaparecidas. Também pode ser que a mãe volte, mas, se isso acontecer, não entregue a menina a ela. Ligue para nós.
Era pouco mais de meio-dia. As outras irmãs deveriam voltar às 13h da cozinha comunitária, onde haviam passado a manhã arrumando as prateleiras e as estocando de comida enlatada, cereais, macarrão e fraldas. Elas faziam isso às terças e sextas. Mas Lacey estivera gripada a semana toda - mesmo depois de três anos em Memphis, ainda não havia se adaptado aos invernos úmidos - e a irmã Arnette havia sugerido que ela ficasse em casa, não fazia sentido adoentar-se mais ainda. Era uma proposta típica da irmã Arnette, ainda que Lacey estivesse se sentindo perfeitamente bem quando acordou.
Olhando para o policial, ela tomou uma decisão rápida.
- Está bem - disse ela.
E foi assim que, quando as irmãs retornaram, Lacey não lhes contou a verdade sobre a menina.
- Esta é Amy - disse ela às outras, enquanto tiravam os casacos e cachecóis no corredor. - A mãe dela é minha amiga e teve de viajar às pressas para visitar um parente adoentado, de modo que Amy vai passar o fim de semana conosco.
Surpreendeu-se ao ver como a mentira havia saído dela com facilidade. Não estava acostumada a enganar, no entanto as palavras haviam se formado rapidamente em seu pensamento e encontrado o caminho para os seus lábios sem esforço. Enquanto falava, olhou para Amy, imaginando se ela a denunciaria, e viu um brilho de cumplicidade nos olhos da menina. Lacey percebeu que aquela era uma garotinha acostumada a guardar segredos.
- Irmã Lacey - disse a irmã Arnette em tom desaprovador. - Fico feliz em ver que se ofereceu para ajudar esta menina e a mãe dela. Mas também é verdade que deveria ter me consultado sobre isso.
- Sinto muitíssimo - respondeu Lacey. - Foi uma emergência. Será só até segunda-feira.
A irmã Arnette a avaliou com um olhar, depois olhou para Amy, que estava grudada às pregas da saia de Lacey. Enquanto falava, a irmã Arnette tirou as luvas, um dedo de cada vez. O ar frio da rua ainda podia ser sentido no espaço fechado do corredor.
- Isto é um convento, não um orfanato. Não é lugar para crianças.
- Sei disso, irmã. E sinto muito. Simplesmente não pude evitar.
Outro momento se passou. Santo Deus, pensou Lacey, ajude-me a gostar mais da irmã Arnette, que é imperiosa e altiva, mas que é sua serva, assim como eu.
- Certo - disse finalmente a irmã Arnette, e suspirou irritada. - Até segunda-feira. Ela pode ficar no quarto de hóspedes.
Foi então que Lacey se perguntou por que havia mentido e por que a história saíra com tanta facilidade, como se não fosse uma mentira no sentido mais amplo: coisas verdadeiras e coisas não verdadeiras. Sua história também era cheia de furos. O que aconteceria se a polícia retornasse, ou telefonasse, e a irmã Arnette descobrisse o que ela fizera? O que aconteceria na segunda-feira, quando tivesse de ligar para as autoridades? No entanto, não sentia medo com relação a essas coisas. A garota era um mistério, havia sido enviada a elas por Deus - não para elas, mas para ela. Para Lacey. Era responsabilidade sua desvendar esse mistério e, ao mentir para a irmã Arnette - não era necessariamente uma mentira, disse a si mesma; quem poderia dizer que a mãe não fora visitar um parente adoentado, afinal de contas? ela ganhara o tempo necessário para isso. Talvez fosse por isso que a mentira havia saído com tanta facilidade: o Espírito Santo falara através dela, a havia inspirado com a chama de uma verdade diferente, mais profunda, e o que Ele dissera era que a garota estava com problemas e precisava da sua ajuda.
As outras irmãs ficaram felizes. Nunca recebiam visitas, ou isso acontecia raramente, e eram sempre visitas religiosas: padres e outras freiras. Mas uma garotinha era novidade. Assim que a irmã Arnette subiu para seu quarto, todas começaram a falar. De onde a irmã Lacey conhecia a mãe da garota? Quantos anos tinha Amy? O que ela gostava de fazer? De comer? De assistir? De usar? Estavam tão empolgadas que mal notaram que Amy quase não falava, que na verdade não dizia absolutamente nada; Lacey respondia por ela. Amy gostaria muito de jantar hambúrguer ou cachorro-quente - suas comidas prediletas - e batata frita, com sorvete de flocos de sobremesa. Gostava de colorir e de trabalhos com papel, cola e tesoura, gostava de assistir a filmes de princesas e de coelhos, quando encontravam filmes assim nas lojas. Ela precisaria de roupas: na pressa, a mãe havia esquecido a mala da menina, de tão agitada que estava com sua missão piedosa (em Arkansas, perto de Little Rock; a avó da menina era diabética e tinha problemas cardíacos), e, quando disse que voltaria para pegá-la, Lacey insistira que não era preciso, que elas poderiam se virar.
As mentiras jorravam de modo tão gracioso em ouvidos tão dispostos a acreditar que, em menos de uma hora, todas as irmãs pareciam ter uma versão ligeiramente diferente da mesma história. As irmãs Louise e Claire foram até o mercado buscar hambúrgueres, salsichas e batata congelada, depois compraram algumas roupas, filmes e brinquedos. Na cozinha, a irmã Tracy começou a planejar o jantar, anunciando que elas não somente poderiam esperar o hambúrguer, o cachorro-quente e o sorvete prometidos, mas que teriam também um bolo de chocolate com recheio duplo para acompanhá-los. (Elas sempre esperavam ansiosamente pelas noites de sexta, quando a irmã Tracy ficava encarregada da cozinha. Os pais dela eram donos de um restaurante em Chicago e, antes de entrar para o convento, ela havia estudado na Cordon Bleu.) Até a irmã Arnette pareceu captar o espírito da coisa, sentando-se com Amy e as outras irmãs na sala para assistir a A princesa prometida enquanto o jantar era preparado.
Durante todo esse tempo, Lacey elevava os pensamentos a Deus. Quando o filme terminou, todas concordaram que era lindo, e as irmãs Louise e Claire levaram Amy até a cozinha para mostrar a ela o que tinham comprado: livros para colorir, lápis de cor, massinha e papel para colagem e o pet shop da Barbie, cujas peças a irmã Louise levou 15 minutos para soltar da embalagem - pentes e escovas para os cachorrinhos, pratos minúsculos e todo o resto.
Lacey subiu as escadas. No silêncio do seu quarto rezou pensando nesse mistério, o mistério de Amy, escutando a voz que a invadiria, preenchendo-a com o conhecimento da vontade de Deus. Mas, enquanto ela elevava a mente, tudo que lhe veio foi a sensação de uma pergunta sem resposta. Esse, ela sabia, era um dos modos pelo qual Deus podia falar com as pessoas. Sua vontade era difícil de entender na maior parte das vezes, e ainda que isso fosse frustrante - e seria bom se, de vez em quando, Ele optasse por tornar suas intenções mais explícitas era assim que as coisas funcionavam. Embora a maior parte das irmãs rezasse na capela atrás da cozinha e Lacey também fizesse isso, ela reservava suas orações mais intensas e urgentes para os momentos em que estava sozinha no quarto, sem nem mesmo se ajoelhar, sentada diante da escrivaninha ou na beirada da cama estreita. Ela pousava as mãos no colo, fechava os olhos, projetava a mente o mais longe que podia - desde a infância imaginava que suas preces eram uma pipa, subindo cada vez mais alto enquanto ela ia soltando a linha -, e esperava para ver o que acontecia. Agora, sentada na cama, ela empinava a pipa o mais alto que podia, o carretel imaginário ficando cada vez menor em sua mão, a pipa tornando-se apenas um pontinho colorido lá no alto, mas tudo que sentia era o vento celestial empurrando a pipa, uma força tão poderosa contra algo tão pequeno.
Depois do jantar, as irmãs retornaram à sala para assistir a um programa de TV, um seriado médico que vinham acompanhando o ano todo, e Lacey levou Amy até o andar de cima para se preparar para dormir. Eram oito da noite. Geralmente as irmãs iam para a cama às nove da noite e se levantavam às cinco para as orações matinais, e Lacey imaginou que aquele seria um bom horário para uma menina da idade de Amy dormir. Ela deu um banho em Amy, esfregando seu cabelo com xampu de framboesa e usando uma boa quantidade de condicionador para desembaraçar os nós. Penteou seu cabelo até ficar liso e brilhante, o tom negro se aprofundando a cada passada do pente, e depois levou suas velhas roupas até a lavanderia lá embaixo. Quando retornou, Amy havia posto o pijama que a irmã Claire comprara aquela tarde. Era cor-de-rosa, com um estampado de estrelas e luas sorridentes, feito de um material macio que brilhava como seda. Quando Lacey entrou no quarto, viu que Amy estava olhando desorientada para as mangas: o pijama era comprido demais, balançava além de suas mãos e pés como as roupas de um palhaço. Lacey dobrou as mangas e a bainha da calça. Amy escovou os dentes, pôs a escova de volta na caixa e então deu as costas para o espelho para olhar para a freira.
- É aqui que eu vou dormir? - perguntou baixinho.
Haviam se passado tantas horas desde que escutara a voz da menina que Lacey não teve certeza de ter ouvido a pergunta direito. Examinou o rosto dela. Por mais estranha que fosse, a pergunta fez sentido.
- Por que você dormiria no banheiro, Amy?
Ela olhou para o chão.
- Mamãe diz que eu preciso ficar quietinha.
Lacey não sabia o que pensar.
- Não, claro que não. Você vai dormir no seu quarto. Fica ao lado do meu, vou lhe mostrar.
O quarto era limpo e simples, com paredes nuas e apenas uma cama, uma cômoda e uma escrivaninha pequena, sem ao menos um tapete no chão, e Lacey desejou ter algo que o deixasse mais alegre para uma menininha. Decidiu que no dia seguinte perguntaria à irmã Arnette se poderia comprar um pequeno tapete para colocar junto à cama, de modo que os pés de Amy não precisassem encostar nas tábuas frias de manhã.
Ajeitou Amy embaixo dos cobertores e se sentou na beira da cama. Lacey podia escutar de longe o som grave da televisão lá embaixo e o estalar dos canos se expandindo atrás das paredes e, lá fora, o vento de março roçando as folhas dos carvalhos e bordos e o zumbido fraco do tráfego noturno na avenida Poplar. O zoológico ficava a dois quarteirões do convento, na outra extremidade do parque. Nas noites de verão, quando as janelas estavam abertas, às vezes era possível escutar os macacos gritando nas jaulas. Lacey achava estranho e maravilhoso que pudesse ouvir tais criaturas a milhares de quilômetros de casa, mas quando visitou o zoológico, descobriu que era um lugar medonho, como uma prisão: os cercados eram pequenos, os felinos eram mantidos em jaulas atrás de paredes de acrílico, os elefantes e as girafas tinham as patas acorrentadas. Todos os animais pareciam deprimidos. A maioria nem se incomodava em se mexer, e os visitantes do zoológico eram barulhentos e mal-educados e deixavam que os filhos jogassem pipoca nas jaulas para chamar atenção dos animais. Era mais do que Lacey podia suportar, e ela saiu rapidamente quase chorando. Ficou de coração partido ao ver as criaturas de Deus tratadas de modo tão cruel, com tamanha indiferença e frieza, sem qualquer motivo.
Mas agora, sentada na beira da cama, pensava que uma visita ao zoológico talvez fosse algo de que Amy gostaria. Talvez ela nunca tivesse ido a um. Já que não havia nada que Lacey pudesse fazer para aliviar o sofrimento dos animais, não parecia pecado - um erro em cima do outro - levar a menina que tivera tão poucas alegrias na vida para vê-los. De manhã, quando fosse perguntar sobre o tapete, pediria permissão à irmã Arnette para o passeio.
- Pronto - disse, ajeitando o cobertor de Amy. Ela estava deitada imóvel, quase como se tivesse medo de se mexer. - Está tudo bem. Eu estou no quarto ao lado, se você precisar de alguma coisa. Amanhã vamos fazer uma coisa divertida, você vai ver. Nós duas.
- Pode deixar a luz acesa?
Lacey disse que sim. Depois se abaixou e a beijou na testa, que cheirava a geleia por causa do xampu.
- Suas irmãs são legais - disse Amy.
Lacey sorriu. Com tudo o que acontecera, de algum modo não havia previsto esse mal-entendido.
- Veja bem, Amy. É difícil explicar. Elas não são minhas irmãs de verdade, não como você está pensando. Não temos os mesmos pais. Mas mesmo assim somos irmãs.
- Mas como?
- Ah, existem outro tipos de irmãs. Nós somos irmãs em espírito. Somos irmãs aos olhos de Deus - disse ela, e apertou a mão de Amy. - Até a irmã Arnette.
Amy franziu a testa.
- Ela é emburrada.
- É, sim. Mas é o jeito dela. E ela ficou feliz por você estar aqui. Todas nós ficamos. Acho que nem tínhamos percebido que algo estava faltando, até que você chegou.
Ela tocou a mão de Amy novamente e se levantou.
- Agora, chega de conversa. Você precisa dormir.
- Prometo que vou ficar quietinha.
Lacey parou junto à porta.
- Não precisa - disse.
Naquela noite, Lacey sonhou que era pequena de novo, nos campos atrás de sua casa. Estava agachada sob uma palmeira baixa, as folhas compridas parecendo uma barraca à sua volta, roçando a pele de seus braços e do rosto, e suas irmãs também estavam lá, mas não exatamente: elas estavam fugindo. Atrás dela ouviu homens, ou melhor, sentiu-os, suas presenças sombrias. Ouviu o estalo de tiros e a voz de sua mãe gritando "Fujam, crianças, corram o mais depressa que puderem", mas Lacey ficou paralisada de medo. Parecia ter se transformado em alguma substância nova, uma espécie de madeira viva, e não conseguia mexer um músculo. Ouviu mais estalos e, junto, viu clarões de luz que cortavam a escuridão como uma lâmina. A cada clarão podia ver tudo ao redor: sua casa, os campos e os homens se movendo, homens que pareciam soldados mas não vestiam fardas, que varriam o chão à sua frente com os canos dos fuzis. Lacey via tudo como uma série de slides. Sentia medo mas não podia desviar os olhos. Suas pernas e pés estavam molhados. Curiosamente, não estavam frios, mas quentes. Percebeu que havia urinado, mas não se lembrava de ter feito isso. Sentia a fumaça e seu gosto amargo na boca, e também de suor, e de outra coisa, que não sabia o que era. Era o gosto de sangue.
Então sentiu que alguém estava perto. Era um dos homens. Podia ouvir seus passos e sua respiração pesada. Podia sentir o cheiro de medo e raiva brotando do corpo do homem como um vapor reluzente. Não se mexa, Lacey, disse a voz, poderosa e ardente. Não se mexa. Ela fechou os olhos, não ousando nem mesmo respirar, o coração batendo com tanta força que parecia que ela era somente isso: um coração batendo. A sombra dele pousou sobre ela, passando por seu rosto e seu corpo como uma enorme asa preta. Quando abriu os olhos de novo, o homem tinha ido embora, os campos estavam vazios e ela estava sozinha.
Acordou com um susto, tomada pelo terror, o corpo coberto de suor. Mas conforme percebeu onde estava, sentiu o sonho se partir dentro dela, se afastando e desaparecendo. O toque de folhas na pele. Uma voz sussurrando. Um cheiro, como de sangue. Mas agora até isso havia sumido.
Então sentiu que havia alguém no quárto com ela. Sentou-se na cama abruptamente e viu Amy parada junto à porta. Lacey olhou o relógio. Era só meia-noite, tinha dormido apenas algumas horas.
- O que foi, querida? - perguntou baixinho. - Você está bem?
Amy entrou no quarto. O pijama brilhava à luz que vinha através da janela, de modo que seu corpinho parecia envolto em estrelas e luas. Lacey se perguntou por um momento se a menina seria sonâmbula.
- Amy, você teve um pesadelo?
Mas Amy não disse nada. No escuro, Lacey não podia ver seu rosto. Estaria chorando? Empurrou os cobertores de lado para que Amy pudesse deitar.
- Tudo bem, venha aqui - disse Lacey.
Sem dizer uma palavra, Amy subiu na cama estreita, ao lado dela. Ondas de calor irradiavam do seu corpo - não era febre, mas também não era algo comum.
Ela reluzia como uma brasa.
- Você não precisa ter medo - disse Lacey. - Está segura agora.
- Eu quero ficar aqui.
Lacey percebeu que ela não estava falando do quarto, nem de sua cama. Queria ficar morando ali para sempre. Lacey não sabia o que responder. Na segunda-feira teria de contar a verdade à irmã Arnette, simplesmente não havia como evitar. O que aconteceria às duas depois disso, ela não sabia. Mas agora podia ver com clareza que, ao mentir sobre Amy, havia entrelaçado o destino das duas.
- Vamos ver o que podemos fazer.
- Eu não conto a ninguém. Não deixe eles me levarem.
Lacey sentiu um tremor de medo.
- Quem, Amy? Quem vai levar você?
Amy não disse nada.
- Tente não se preocupar. - Lacey a abraçou e a puxou para perto. - Agora durma. Precisamos descansar.
Mas, durante horas e horas, Lacey ficou acordada no escuro, os olhos arregalados.
Passava um pouco das três da manhã quando Wolgast e Doyle chegaram a Baton Rouge, de onde rumaram para o norte, em direção à fronteira do Mississippi. Doyle havia dirigido no primeiro turno da viagem, assumindo o volante de Houston até o leste de Lafayette, enquanto Wolgast tentava dormir. Pouco depois das duas, eles pararam num restaurante à beira da estrada para trocar de lugares, e desde então Doyle mal havia se mexido. Caía uma chuva fraca, o bastante para apenas embaçar o para-brisa.
Ao sul ficava o distrito industrial de Nova Orleans, que Wolgast ficou feliz em evitar. Só pensar nele já o deprimia. Tinha visitado a antiga Nova Orleans uma vez, numa viagem com amigos da faculdade durante um feriado prolongado, e fora instantaneamente seduzido pela energia louca da cidade - sua condescendência, suas ruas pulsando de vida. Durante três dias quase não dormira, nem sentira necessidade disso. Numa madrugada foi parar no Preservation Hall - uma casa noturna que, na verdade, era pouco mais do que uma cabana, mais quente que a porta do inferno e, enquanto ouvia um quarteto de jazz tocar "St. Louis Blues", Percebeu que estivera acordado durante quase 48 horas. O ar no salão era abafado como uma estufa, e todo mundo dançava, arrastando os pés e batendo palmas, uma multidão de todas as idades e raças. Onde mais seria possível escutar seis negros, nenhum deles com menos de 80 anos, tocando jazz às cinco da manhã? Mas então o Katrina golpeou a cidade em 2005, e o Vanessa alguns anos depois - um furacão de categoria cinco que invadiu a costa rugindo, causando ventos de 300km/h e ondas de nove metros de altura -, e aí foi o fim. Agora o lugar se resumia a uma gigantesca refinaria de petróleo, cercada por alagados tão poluídos que a água das lagunas fétidas era capaz de derreter a pele da mão de alguém.
Ninguém vivia mais na cidade propriamente dita. Mesmo o acesso ao espaço aéreo estava proibido, e os céus eram patrulhados por caças da base aérea de Kessler. A cidade inteira era cercada e patrulhada por tropas do Departamento de Segurança Interna usando trajes de guerra completos. Para além do perímetro de segurança, que se estendia por 16 quilômetros em todas as direções, ficava o distrito residencial de Nova Orleans - conhecido simplesmente como N.O. um mar de trailers que outrora haviam sido usados como abrigo para as vítimas dos furacões, mas que agora serviam de depósito humano para os milhares de trabalhadores que mantinham o complexo industrial da cidade funcionando dia e noite. Era algo entre campo de refugiados e postos de fronteira no Velho Oeste. A polícia sabia que o índice de homicídios em N.O. era altíssimo, mas, como o lugar não era oficialmente uma cidade, nem mesmo parte de algum estado, praticamente nenhuma atenção era dada a isso.
Faltando pouco para o sol nascer, o posto de fiscalização da fronteira do Mississippi apareceu diante deles, um povoado de luzes que tremeluziam na escuridão antes do alvorecer. Mesmo àquela hora as filas de veículos eram compridas, na maioria caminhões-tanque viajando rumo ao norte, para St. Louis ou Chicago. Guardas com cães, contadores Geiger e longas varas com espelhos na ponta andavam de um lado para o outro junto às filas.
Wolgast parou atrás de uma carreta com adesivos do Eufrazino, do desenho do Pernalonga, nas laterais dos para-lamas, e uma frase no para-choque que dizia SE ME VIR ATRACADO COM A MINHA EX, SEPARE, QUE É BRIGA.
Atrás dele, Doyle se remexeu, esfregando os olhos. Ele se ajeitou no banco e olhou ao redor.
- Já chegamos?
- É só um posto de fiscalização. Volte a dormir.
Wolgast saiu da fila e dirigiu até o guarda mais próximo. Baixou o vidro e exibiu as credenciais.
Agentes federais. Há algum modo de fazer a gente passar?
O guarda era apenas um garoto, o rosto suave e salpicado de espinhas. O colete à prova de balas o fazia parecer maior, mas Wolgast podia ver que não era mais do que um peso-mosca. Deveria estar em casa, pensou Wolgast, onde quer que fosse aconchegado na cama e sonhando com alguma garota da turma de matemática, e não parado numa estrada do Mississippi, carregando 15 quilos de fibra Kevlar no colete e um fuzil atravessado ao peito.
Ele olhou para as credenciais de Wolgast com desinteresse e inclinou a cabeça na direção de um prédio de concreto junto à estrada.
- O senhor terá que ir até aquele posto.
Wolgast suspirou irritado.
- Filho, eu não tenho tempo para isso.
- Se quiser furar a fila, vai ter que arrumar tempo.
Nesse momento um segundo guarda apareceu diante dos faróis. Ele virou na direção do veículo e pegou a arma. Mas que droga, pensou Wolgast.
- Pelo amor de Deus. Isso é mesmo necessário?
- Mãos onde eu possa ver, senhor! - gritou o segundo homem.
- Minha nossa! - disse Doyle.
O primeiro guarda se virou para o outro e acenou, mandando-o baixar a arma.
- Fica frio, Duane. Eles são federais.
O outro guarda hesitou, depois deu de ombros e foi andando. Então o rapaz, voltando-se novamente para eles, disse:
- Desculpem. Deem a volta por aqui. Vão liberar vocês depressa.
- É melhor que sim - disse Wolgast.
No posto, o oficial pegou suas credenciais e pediu que esperassem enquanto ele telefonava para verificar sua numeração. O FBI, o Departamento de Segurança Interna, e até mesmo os departamentos de polícia locais, todas as agências de segurança agora faziam parte de um sistema unificado e tinham acesso aos movimentos uns dos outros. Wolgast se serviu um copo de café que parecia lama, tomou um gole e jogou tudo no lixo. Havia um aviso de não fumar, mas a sala fedia a cigarro. O relógio na parede mostrava que acabava de passar das seis. O sol nasceria em menos de uma hora.
O oficial voltou ao balcão com as credenciais deles. Era um homem comum, de bom porte, e vestia o uniforme cinza do Departamento de Segurança Interna.
- Muito bem, senhores. Podem seguir seu caminho. Só uma coisa: o sistema diz que vocês tinham um voo marcado para Denver esta noite. Provavelmente foi só um erro, mas eu preciso fazer o registro.
Wolgast tinha a resposta pronta:
- É verdade. Mas fomos redirecionados para Nashville para buscar uma testemunha.
O oficial pensou por um minuto, depois assentiu. Digitou a informação no computador.
- Está tudo certo. Mas foi sacanagem não mandarem vocês de avião. Devem ser uns 1.600 quilômetros.
- Nem me fale. Eu só vou aonde me mandam.
- Amém, irmão.
Os dois retornaram ao carro e um guarda liberou sua saída. Instantes depois estavam de volta à estrada.
- Nashville? - perguntou Doyle.
Wolgast assentiu, fixando o olhar na estrada adiante.
- Pense bem. A rodovia 1-55 tem postos de fiscalização no Arkansas e em Illinois, um logo ao sul de St. Louis e outro mais ou menos na metade do caminho entre Normal e Chicago. Mas se você pegar a 1-40 em direção ao leste atravessando o Tennessee, o primeiro posto de fiscalização fica do outro lado do estado, no trevo da 1-40 com a 1-75. Logo, este é o último posto antes de Nashville, de modo que o sistema não saberá que nós não fomos para lá. Podemos fazer a coleta em Memphis, atravessar para o Arkansas, evitar o de Oklahoma indo pelo anel viário de Tulsa, pegar a 1-70 ao norte de Wichita e nos encontrarmos com Richards na fronteira do Colorado. Há um posto de fiscalização antes de chegarmos a Telluride, mas Sykes pode cuidar disso. E o sistema jamais saberá que nós fomos para Memphis.
Doyle franziu a testa.
- E a ponte na 1-40?
- Teremos de evitá-la, mas é um desvio bem fácil. A uns 80 quilômetros ao sul de Memphis há uma ponte mais antiga que atravessa o rio e leva a uma estrada estadual em Arkansas. A ponte não aguenta os carros-tanque que vêm de N.O., de modo que, em sua maioria, os veículos são carros de passageiros. O leitor de código de barras vai pegar a gente, assim como as câmeras. Mas é fácil cuidar disso se for necessário. Depois é só rumarmos para o norte e pegarmos a 1-40 ao sul de Little Rock.
Eles seguiram viagem. Wolgast pensou em ligar o rádio, talvez pudesse escutar a previsão do tempo, mas decidiu não fazer isso; ainda estava alerta, apesar da hora, e precisava manter o foco. Quando o céu empalideceu e ficou cinza, já estavam um pouco ao norte de Jackson. Tinham avançado bastante. A chuva parou, e recomeçou. A paisagem ao redor era de pequenas colinas, como ondas em mar distante. Mesmo que parecesse terem se passado dias, Wolgast ainda pensava na mensagem de Sykes.
Amy sexo feminino, caucasiana, sobrenome desconhecido. Rastro zero. Avenida poplar 20323, Memphis, Tennessee. Pegar no máximo até meio-dia de sábado. Sem contatos. VAR. Sykes.
VAR: Voar abaixo dos radares.
Não só pegue um fantasma, agente Wolgast. Seja um fantasma.
- Quer que eu dirija? - perguntou Doyle, cortando o silêncio. Pelo tom de voz dele, Wolgast soube que ele estivera pensando a mesma coisa. Amy, sobrenome desconhecido. Quem seria Amy?
Wolgast balançou a cabeça. Ao redor deles, as primeiras luzes do dia se espalhavam sobre o delta do Mississippi como um cobertor encharcado. Ele ligou os limpadores para dissipar a névoa do para-brisa.
- Não - disse ele. - Estou bem assim.
CINCO
Havia algo errado com Número Zero.
Havia seis dias ele não saía daquele canto, nem mesmo para se alimentar. Só ficava pendurado ali, como algum tipo de inseto gigantesco. Grey podia vê-lo no infravermelho, uma bolha reluzente nas sombras. De vez em quando mudava de posição, deslocando-se um pouco para a esquerda ou para a direita, mas era só isso, e Grey nunca o vira mover-se realmente. Bastava Grey afastar o rosto do monitor, ou sair da sala para pegar uma xícara de café ou fumar um cigarro na sala de descanso, e quando olhava novamente encontrava o Zero pendurado em outro lugar.
Pendurado? Grudado? Que diabos, levitando?
Ninguém havia explicado porcaria nenhuma a Grey. Nenhuma palavra, como, para começar, o que Zero realmente era. Havia características nele que Grey diria serem humanas. Por exemplo: ele tinha dois braços e duas pernas. Havia uma cabeça onde se esperava que houvesse uma, orelhas, olhos e uma boca. Ele tinha até mesmo uma espécie de pênis pendurado entre as pernas, um negócio enrolado que parecia um cavalo-marinho. Mas as semelhanças acabavam aí.
O Número Zero reluzia. No infravermelho, qualquer fonte de calor faria isso. Mas a imagem do Número Zero saltava na tela como um fósforo aceso, quase brilhante demais para ser possível manter os olhos nela. Até o cocô dele reluzia. Seu corpo sem pelos, liso e brilhante como vidro, parecia espiralado - essa era a palavra que vinha à mente de Grey, como se a pele estivesse esticada sobre uma corda enrolada - e os olhos eram de um laranja semelhante ao dos cones de tráfego. Mas os dentes eram o pior. De vez em quando Grey ouvia um tilintar no equipamento de áudio e sabia que era o som de um ou mais dentes de Zero caindo no cimento. Eles caíam aos montes, uma média de meia dúzia por dia. Iam para o incinerador, como tudo mais. Uma das tarefas de Grey era varrê-los, e ele sentia arrepios quando os via, compridos como palitos de dentes. Eram o instrumento perfeito se você quisesse, digamos, rasgar um coelho e esvaziá-lo em dois segundos.
E também havia algo nele que era diferente dos outros. Não que ele parecesse tão diferente. Aquelas criaturas fluorescentes eram todas feias de doer, e, nos seis meses em que Grey estivera trabalhando no Nível 4, ele acabara se acostumando à aparência delas. E claro que era possível notar pequenas diferenças quando se olhava com atenção. O Número Seis era um pouco mais baixo que os outros; o Nove, um pouco mais ativo; o Sete gostava de comer de cabeça para baixo e fazia uma sujeira danada; o Um falava sem parar, aquele som estranho que eles faziam, um grasnar úmido que saía do fundo da garganta e que não lembrava nada que Grey jamais tivesse ouvido.
Não, não era uma característica física que destacava Zero, mas sim o modo como ele fazia a gente se sentir. Essa era a melhor forma que Grey encontrava para explicar. Os outros pareciam tão interessados nas pessoas atrás do vidro quanto um bando de chimpanzés no zoológico. Mas Zero, não: ele prestava atenção. Sempre que baixavam as barras, isolando Zero na parte de trás do cômodo, e Grey vestia seu traje protetor contra agentes biológicos e passava pela câmara pressurizada para fazer a limpeza ou levar os coelhos - coelhos, pelo amor de Deus; por que tinham de ser coelhos? -, uma espécie de arrepio lhe subia pelo pescoço, como se formigas andassem sobre sua pele. Fazia o trabalho depressa, sem sequer erguer os olhos do chão, e, quando saía dali e ia para a área de descontaminação, estava ofegante e coberto de suor. Mesmo agora, com uma parede de vidro de cinco centímetros entre ele e Zero -, pendurado de tal modo que tudo que Grey podia ver eram suas costas largas e brilhantes e os pés compridos que pareciam garras.
Grey sentia a mente de Zero à espreita no cômodo escuro, movendo-se como uma rede invisível.
Ainda assim, Grey tinha de admitir que, de modo geral, aquele não era um trabalho ruim. Certamente já tivera piores. Na maior parte do tempo, tudo o que fazia era ficar ali sentado durante as oito horas de seu turno, fazendo palavras cruzadas, verificando o monitor e anotando dados no relatório - o que o Zero comia e não comia, a quantidade de urina e fezes que descia pelo ralo - e fazendo backup dos discos rígidos quando o espaço era todo preenchido por centenas de horas de filmagens de Zero fazendo absolutamente nada.
Imaginou se as outras cobaias também não estariam comendo. Pensou em perguntar a um dos técnicos. Talvez todos tivessem entrado numa espécie de greve de fome. Talvez estivessem apenas cansados de coelhos e quisessem esquilos, gambás ou cangurus. Era estranho ele pensar nisso, considerando o modo como as criaturas fluorescentes comiam - que ele só se permitira assistir uma vez e fora mais que o bastante para torná-lo praticamente vegetariano, mas Grey havia notado que eles eram um tanto exigentes, como se tivessem regras com relação à alimentação, a começar por aquela história do décimo coelho. Quem saberia por quê? Quando recebiam 10 coelhos, só comiam nove, deixando o décimo intocado, como se o estivessem guardando para mais tarde. Grey já tivera um cachorro assim. Chamava-se Urso-pardo, por nenhum motivo particular: o cachorro não se parecia com um urso e nem era pardo, mas caramelo e com manchas brancas no focinho e no peito. Urso-pardo comia exatamente metade da tigela a cada manhã, depois a terminava à noite. Em geral, Grey estava dormindo quando isso acontecia. Ele acordava às duas ou três da manhã com o barulho do cachorro mastigando a ração na cozinha, e de manhã encontrava a tigela vazia em seu lugar, perto do fogão. Urso-pardo era um bom cachorro, o melhor que ele já tivera. Mas isso fora há muitos anos. Tivera de se desfazer dele, e agora Urso-pardo já devia estar morto havia muito tempo.
Todos os trabalhadores civis, o pessoal da limpeza e alguns técnicos, ficavam no mesmo alojamento ao sul do complexo. Os quartos não eram ruins: tinham TV a cabo e água quente, e não havia contas para pagar. Ninguém poderia ir a lugar nenhum por um bom tempo, o que fazia parte do trato, mas Grey não se importava com isso: tinha tudo de que precisava ali mesmo, e o salário - que estava acumulando numa conta em seu nome no exterior - era bom, semelhante ao que ganhava na plataforma de petróleo. E, por causa de algum acordo especial para a contratação de civis, regido pela Lei Federal de Emergência para a Proteção da Pátria, nem desconto de impostos havia.
Um ou dois anos daquilo, pensava Grey, e, desde que não gastasse demais com cigarros e lanches na cantina, teria dinheiro suficiente para ficar a muitos quilômetros de distância de Zero e dos demais. Os outros funcionários da limpeza eram legais, mas ele preferia ficar na dele. No quarto, à noite, gostava de assistir ao National Geographic ou ao Travei Channel, escolhendo os lugares aonde iria quando isso tudo acabasse. Durante algum tempo pensara no México - devia haver espaço de sobra lá, já que metade da população do país parecia ter emigrado para viver de bicos no Estados Unidos. Mas na semana anterior ele vira um programa sobre a Polinésia Francesa - a água de um azul cristalino como ele nunca havia visto antes e casinhas sobre palafitas que se projetavam acima dela -, e agora estava pensando seriamente em mudar seus planos. Grey tinha 46 anos e fumava como uma chaminé, por isso achava que só lhe restavam uns 10 anos para se divertir. Seu pai, que fumava como ele, havia passado os últimos cinco anos de sua vida numa cadeira de rodas, respirando ar de um cilindro, até bater as botas um mês antes de completar 60 anos.
Mesmo assim seria bom se pudesse sair de vez em quando, nem que fosse só para passear um pouco. Sabia que estavam em algum lugar no Colorado por causa das placas de alguns carros e também porque às vezes alguém - provavelmente um dos oficiais ou cientistas que iam e vinham quando quisessem - deixava largado um exemplar do Denver Post. Assim, independentemente do que Richards dissesse, na verdade o lugar onde estavam não era um grande segredo. Um dia, depois de uma nevasca forte, Grey e os outros caras da limpeza tinham subido até o teto do alojamento para tirar a neve, e ele pôde ver, além das árvores, o que parecia ser uma estação de esqui, com um teleférico subindo lentamente o morro e figuras minúsculas esquiando encosta abaixo. Não poderia ficar a mais de oito quilômetros de onde ele estava. Era estranho, com o mundo em guerra e toda aquela confusão, ver algo assim. Grey nunca havia esquiado, mas sabia que também devia haver bares e restaurantes por perto, hidromassagens, saunas e pessoas envoltas pelo vapor, sentadas com suas taças de vinho na mão. Tinha visto isso no Travel Channel.
Era março e ainda havia bastante neve no chão, o que significava que, assim que o sol baixava, a temperatura caía como uma pedra. Nessa noite um vento maligno soprava também e, enquanto Grey caminhava com dificuldade de volta para o alojamento, as mãos enfiadas nos bolsos e o queixo metido na gola do agasalho, seu rosto parecia estar sendo estapeado uma centena de vezes. Tudo isso o fez pensar um pouco mais em Bora Bora e naquelas casinhas sobre palafitas. Para que ficar pensando no Número Zero, que aparentemente perdera o gosto por coelhinhos da Páscoa frescos? O que Zero comia ou não comia não era da sua conta.
Se lhe mandassem servir ovos com torradas a partir de agora, obedeceria com prazer. Imaginou quanto custaria uma casa daquelas. Com uma casa ssim você nem precisaria de encanamento de esgoto: bastava ir até a varanda, sentar-se na balaustrada e fazer as necessidades, a qualquer hora do dia ou da noite.
Quando Grey trabalhava nas plataformas do Golfo, gostava de fazer isso de manhã cedo ou tarde da noite, quando não havia ninguém por perto. Era preciso prestar atenção ao vento, é claro, mas com uma brisa soprando às suas costas, poucos prazeres na vida se comparavam a mijar 60 metros acima do Golfo, vendo o esguicho fazer um arco no ar antes de chover sobre a imensidão azul de uma altura de 20 andares. Você se sentia grande e pequeno ao mesmo tempo.
Agora a indústria do petróleo estava sob proteção federal, e praticamente todo mundo que ele conhecia dos velhos tempos parecia ter desaparecido. Depois daquela coisa em Minneapolis, do atentado a bomba no depósito de gás em Secaucus, do ataque ao metrô de Los Angeles e de todo o resto, e, é claro, do que acontecera no Irã, no Iraque ou onde quer que fosse, toda a economia havia travado como um motor com defeito. Com o problema nos joelhos, o vício em cigarro e o nome fichado na polícia, jamais o aceitariam no Departamento de Segurança Interna ou em qualquer outro lugar.
Ele estava desempregado havia quase um ano quando recebeu o telefonema. Inicialmente pensou que certamente devia ser mais um trabalho em alguma plataforma, talvez para um fornecedor estrangeiro. De algum modo eles haviam dado a entender que era isso, sem dizê-lo propriamente. E ele ficou surpreso quando foi de carro até o endereço e descobriu apenas uma loja vazia num shopping abandonado perto do parque de exposições de Dallas. O lugar havia sido uma locadora de vídeo - um letreiro desbotado e com letras faltando sobre o reboco sujo acima da porta ainda permitia que se lesse o nome: Movie World West. A loja ao lado tinha sido um restaurante chinês; a outra, uma tinturaria; as demais, ele não saberia dizer. Ele passara na frente da loja umas duas vezes antes de parar, pensando ter anotado o endereço errado e relutando em trocar o conforto do ar-condicionado da picape por uma oportunidade de trabalho falsa.
Lá fora fazia um calor de 38 graus, o que era típico em agosto no norte do Texas, mas mesmo assim nada fácil de se acostumar, o ar denso com cheiro de sujeira, o sol brilhando como a cabeça de um martelo. A porta estava trancada, mas Grey tocou a campainha e esperou um minuto. O suor começava a ensopar sua camisa quando ele ouviu um grande chaveiro chacoalhando do outro lado e o estalo da porta sendo destrancada.
Havia uma pequena escrivaninha e dois arquivos nos fundos da loja, mas as paredes ainda estavam cobertas de prateleiras vazias que um dia haviam abrigado DVDs, e um monte de fios embolados e outras porcarias pendiam dos espaços abertos no teto rebaixado. Encostada a uma das paredes, Grey viu uma figura de papelão em tamanho real, coberta com uma camada de poeira - algum astro de cinema cujo nome ele não lembrava, um sujeito careca de óculos escuros, os bíceps inchados sob a camiseta como dois presuntos que ele estivesse tentando roubar do supermercado. Também não conseguia se lembrar de nada sobre o filme.
Grey preencheu o formulário, mas o homem e a mulher que estavam ali mal olharam para ele. Enquanto digitavam no computador, pediram que ele urinasse num copo e que se submetesse a um teste com um detector de mentiras, mas isso era um procedimento padrão. Ele se esforçou ao máximo para que suas respostas verdadeiras não parecessem mentiras e, quando perguntaram sobre a pena que ele havia cumprido em Beeville, como ele sabia que fariam, contou toda a história exatamente como acontecera. Preso a todos aqueles fios, não havia como escondê-la e, além do mais, era uma ocorrência registrada e, no Texas, era possível, na internet, ter acesso à foto e a todos os dados sobre as pessoas fichadas. Mas nem mesmo isso pareceu ser problema. Eles já pareciam saber bastante a seu respeito, e a maioria das perguntas tinha a ver com sua vida pessoal, coisas que não teriam como descobrir se não perguntassem. Ele tinha amigos? (Na verdade, não.) Morava sozinho? (Desde sempre.) Tinha algum parente vivo? (Só uma tia em Odessa que ele não via havia uns 20 anos, e uns dois primos cujos nomes ele nem tinha certeza se sabia.) O trailer onde morava em Allen - quem eram seus vizinhos? (Vizinhos?) E coisas desse tipo. Tudo o que dizia a eles parecia deixá-los cada vez mais satisfeitos. Eles tentaram esconder, mas dava para ver a satisfação em seus rostos, tão clara como palavras num livro. Grey finalmente pôde relaxar quando chegou à conclusão de que eles não eram policiais.
Dois dias depois - quando se deu conta de que não sabia os nomes do homem e da mulher e nem poderia descrevê-los - estava num avião para Cheyenne. Eles haviam explicado sobre o salário e o fato de que não poderia sair durante um ano, o que para ele estava bem. Deixaram claro que ele não deveria dizer a ninguém para onde ia, o que, na verdade, não poderia fazer, já que não tinha a mínima ideia. No aeroporto de Cheyenne foi recebido por um homem que usava um conjunto esportivo preto e que mais tarde passaria a conhecer como Richards - um sujeito magro que não chegava a 1,70m, com uma expressão sisuda permanente no rosto. Richards o levou até o lado de fora. Dois outros homens, que deviam ter chegado em voos diferentes, estavam parados diante de uma van.
Richards abriu a porta do motorista e retornou com uma sacola de pano do tamanho de uma fronha. Ele a manteve aberta como uma boca e disse:
- Carteiras, celulares, objetos pessoais, fotos, qualquer coisa que tenha algo escrito até a caneta que você pegou no banco. Não importa se é só a porra de um
biscoito. Ponham tudo aqui.
Eles esvaziaram os bolsos, colocaram as malas no bagageiro e entraram na van. Quando Richards fechou a porta, Grey percebeu que as janelas eram pintadas de preto Por fora o veículo parecia comum, mas por dentro a coisa era diferente: a parte onde ficava o motorista era isolada por um painel de vidro, e a dos de passageiros não passava de uma caixa de metal com bancos de plástico aparafusados ao chão. Tinham permissão de dizer seu primeiro nome, mas só isso. Os outros dois homens se chamavam Jack e Sam. Eram tão parecidos com Grey que era como se ele estivesse se olhando no espelho: sujeitos brancos, de meia-idade, cabelos curtos, mãos vermelhas inchadas e um bronzeado típico de operários, terminando onde começavam os punhos da camisa e o colarinho. O primeiro nome de Grey era Lawrence, mas ele quase nunca o usava. Pareceu estranho saindo de sua boca. Assim que o disse, enquanto apertava a mão de Sam, sentiu-se diferente, como se fosse uma pessoa ao embarcar no avião em Dallas e outra ao pousar em Cheyenne.
Na van escura era impossível saber para onde iam, e a viagem era um pouco nauseante. Para Grey, eles poderiam estar dando voltas ao redor do aeroporto. Sem nada para ver ou fazer, todos caíram logo no sono. Quando Grey acordou, não fazia ideia da hora. Além disso, estava desesperado para mijar. Devia ser a injeção de Depo-Provera. Levantou-se do banco e bateu no vidro que os separava do motorista.
- Ei, preciso fazer uma parada - disse.
Richards abriu o vidro, permitindo que Grey tivesse um vislumbre do lugar através do para-brisa da van. O sol havia se posto e a estrada de duas pistas estava escura e vazia. A distância pôde ver uma faixa de luz violeta onde o céu encontrava uma cordilheira.
- Preciso tirar água do joelho - explicou. - Desculpe.
No compartimento de passageiros, os outros homens estavam acordando. Richards se abaixou por um instante e entregou a Grey uma garrafa plástica de boca larga.
- Vou ter de mijar nisso?
- É essa a ideia.
Richards fechou o vidro sem dizer mais nada. Grey sentou-se de volta no banco e examinou a garrafa em sua mão. Achou que a abertura era larga o suficiente. Mas a ideia de colocar seu equipamento para fora ali, na frente dos outros homens, como se isso não fosse nada de mais, fez todos os músculos em volta da sua bexiga se retesarem.
- Não vou usar isso aí de jeito nenhum - disse Sam. Ele estava sentado com as mãos cruzadas no colo e os olhos fechados. Seu rosto tinha um ar de concentração intensa. - Vou continuar segurando.
Viajaram um pouco mais. Grey tentou pensar em algo que mantivesse a mente longe da bexiga quase explodindo, mas isso só piorava a situação. Parecia haver um oceano chacoalhando dentro dele. A van bateu num buraco e o mar se chocou contra o litoral. Grey soltou um gemido.
- Ei! - disse batendo de novo no vidro. - Ei, você aí! É uma emergência!
Richards abriu o painel.
- O que é desta vez?
- Escute. - Grey enfiou a cabeça pela abertura estreita e baixou a voz para que os outros não ouvissem. - Não consigo. Sério. Não dá para usar a garrafa. Vocês têm de parar.
- Segure as pontas, pelo amor de Deus.
- Sério. Eu imploro. Não posso... não posso mais segurar. Eu tenho um problema médico.
Richards suspirou, irritado. Os olhos dos dois se encontraram rapidamente pelo retrovisor, e Grey se perguntou se ele saberia.
- Fique onde eu possa vê-lo e nada de olhar em volta. Estou falando sério, porra!
O veículo parou no acostamento. Grey murmurava baixinho:
- Anda, anda...
Então a porta se abriu e ele estava do lado de fora, correndo para longe da luz forte da van. Tropeçou barranco abaixo, cada segundo tiquetaqueando como uma bomba entre suas coxas. Grey estava em algum tipo de pasto. Havia uma lasca de lua no céu, pintando as pontas do capim com um brilho gelado. Tinha de se afastar pelo menos 15 metros, pensou, talvez mais, para fazer a coisa do jeito certo. Chegou a uma cerca e, apesar dos joelhos e da pressão na bexiga, pulou por cima dela como um atleta. Ouviu a voz de Richards atrás dele:
- Pare agora mesmo, porra, cacete.
E então ouviu Richards ordenar que os outros homens fizessem o mesmo.
O capim cheio de orvalho roçava ruidosamente contra as pernas da calça de Grey, encharcando suas botas. Um pontinho de luz vermelha saltava no campo à sua frente, e ele se perguntou o que seria aquilo. Podia sentir cheiro de vacas, sentir a presença delas ao redor, em algum lugar no campo. Uma nova onda de pânico o assolou: e se elas estivessem olhando?
Mas era tarde demais, simplesmente tinha de se aliviar, não podia esperar nem mais um segundo. Parou onde estava, abriu o zíper e mijou com tanta força na escuridão que gemeu de alívio. Não foi um tépido arco dourado: a urina disparou dele como de um hidrante estourado. Mijou, mijou, mijou e mijou mais um pouco. Deus todo poderoso, era a coisa mais maravilhosa do mundo, mijar assim, como se uma grande rolha tivesse sido arrancada dele. Quase ficou feliz por ter esperado tanto.
Então terminou. Seu tanque estava vazio. Ficou parado um momento, sentindo o ar frio da noite na carne exposta. Uma calma imensa o preencheu, um bem-estar quase celestial. O campo se estendia ao redor como um tapete vasto, estalando com o som de grilos. Acendeu um cigarro do maço que havia escondido no bolso da camisa e, quando a fumaça atingiu os pulmões, inclinou o rosto para o horizonte. Mal havia notado a lua antes, um fiapo de luz suspenso sobre as montanhas. O céu estava cheio de estrelas.
Virou para olhar na direção de onde viera. Podia ver os faróis da van estacionada no acostamento e Richards esperando em seu conjunto esportivo, e segurando algo brilhante. Grey pulou a cerca a tempo de ver Jack sair do campo também, depois espiou Sam atravessar a estrada, vindo do outro lado. Todos haviam voltado para a van na mesma hora.
Richards estava parado sob o brilho cónico dos faróis com as mãos nos quadris. O que quer que ele estivesse segurando antes havia sumido.
- Obrigado - disse Grey por cima do som do motor em ponto morto. Terminou de fumar e jogou o cigarro no asfalto. - Eu estava precisando muito.
- Foda-se - respondeu Richards. - Você não sabe de nada. - Jack e Sam olhavam para o chão. Richards inclinou a cabeça para a porta aberta do veículo. - Andem, entrem. E nem mais uma palavra, porra.
Os três voltaram a seus lugares num silêncio disciplinado. Richards acelerou e retomou o caminho. Foi então que Grey percebeu. Não precisou olhar para eles para saber. Os outros dois, Jack e Sam, eram iguais a ele. E mais uma coisa. O objeto que Richards estivera segurando, que Grey achou que agora deveria estar enfiado na calça ou guardado no porta-luvas, aquela luzinha que dançava no capim como um pontinho de sangue: mais um passo, Grey teve certeza, e Richards teria atirado nele.
Uma vez por mês Grey tomava uma injeção de Depo-Provera, e toda manhã uma pílula minúscula, em forma de estrela, de espironolactona. Era assim havia pouco mais de seis anos. Tinha sido uma das condições para sua libertação.
E a verdade era que ele não se importava. Não precisava se barbear tanto, essa era a vantagem. A espironolactona, um antiandrógeno, fazia diminuir o tamanho dos seus testículos. Desde que começara a tomá-la, tinha de se barbear apenas a cada dois ou três dias, e seus pelos estavam mais finos e menos crespos, como quando era criança. A pele estava mais clara e mais macia, mesmo ele sendo fumante. E, claro, havia os "benefícios psicológicos", como dissera o psiquiatra da prisão. As coisas não o afetavam como antes, quando podia passar dias remoendo um sentimento, como um pedaço de vidro que tivesse engolido. Dormia como uma pedra e nunca se lembrava dos sonhos. O que quer que o tivesse feito parar a picape naquele dia, 15 anos antes - o dia em que tudo começara -, se fora havia muito tempo. Sempre que voltava a mente para aquele período de sua vida e para tudo o que viera depois, ainda se sentia mal. Mas até mesmo esse sentimento era indistinto, uma imagem fora de foco. Era como se sentir desanimado por causa de um dia chuvoso, algo que ninguém podia evitar.
Mas o Depo-Provera fazia o diabo com sua bexiga, porque era um esteroide. Com relação a não querer que ninguém o visse, achava que era simplesmente por causa do modo como sua mente funcionava agora. O psiquiatra lhe falara sobre isso e, como todo o resto, ocorria exatamente como ele dissera. Os inconvenientes eram pequenos, e Grey tivera de passar algum tempo afastando o olhar das coisas. De crianças, para começar, motivo pelo qual havia se dado tão bem no trabalho em plataformas. Postos de parada em estradas. Grávidas. A maioria dos programas de televisão - que antes ele assistia sem pensar duas vezes, não somente coisas sensuais, mas boxe ou até mesmo o noticiário. Não tinha permissão de chegar a menos de 200 metros de uma escola ou creche, o que para ele estava ótimo - nunca andava de carro, se pudesse evitá-lo, entre as três e as quatro horas da tarde, e dava voltas enormes só para se manter longe dos ônibus escolares. Não queria nem ver a cor amarela. Tudo isso era meio esquisito, e certamente não era algo que ele pudesse explicar a alguém, mas sem dúvida era muitíssimo melhor que a prisão. Mais do que isso: era melhor que o modo como vivia antes, sempre se sentindo como uma bomba prestes a explodir.
Se o seu velho pudesse vê-lo agora, pensou. Com o modo como os remédios o faziam se sentir, Grey poderia até ter descoberto um jeito de perdoá-lo pelas coisas que ele havia feito. O psiquiatra da prisão, Dr. Wilder, tinha falado um bocado sobre perdão. O perdão, explicara, era o primeiro passo numa longa estrada, o caminho da recuperação. Era uma estrada, mas às vezes também era uma porta, e somente passando por ela seria possível fazer as pazes com o passado e encarar seus demônios interiores, o "você ruim" que existia dentro do "você.
Wilder gesticulava muito enquanto falava, fazendo pequenos sinais de aspas no ar. Grey o achava basicamente um merda. Provavelmente falava a mesma besteira para todo mundo. Mas, pensando bem, precisava admitir que Wilder tinha certa razão quanto àquele negócio do "você ruim". O Grey ruim era bastante real e, durante um bom tempo - na verdade, durante a maior parte de sua vida -, fora o único Grey a existir. E essa era a maior vantagem dos remédios, e o motivo pelo qual ele planejava continuar tomando-os pelo resto da vida, mesmo ao fim dos 10 anos determinados pelo tribunal: o Grey ruim não era alguém que ele quisesse encontrar de novo.
Grey andou com dificuldade pela neve até o alojamento e comeu um prato de tacos na cantina antes de voltar ao quarto. Terça-feira tinha Noite de Bingo, mas Grey não ligava a mínima para isso. Havia jogado umas duas vezes e saído com 20 dólares a menos, e os soldados sempre ganhavam, o que o fazia pensar que havia alguma armação. De qualquer modo, era um jogo idiota, só uma desculpa para fumar, o que ele podia fazer no quarto.
Deitou-se na cama, pôs dois travesseiros atrás da cabeça e um cinzeiro sobre a barriga e ligou a televisão. A maioria dos canais estava bloqueada: nada de CNN, MSNBC, GOVTV, MTV, nem E! - não que ele ainda assistisse a essas emissoras - e, na hora dos comerciais, a tela ficava azul por um ou dois minutos até o programa voltar. Zapeou entre os canais até encontrar algo interessante, um programa na War Network sobre a batalha da Normandia. Grey sempre gostara de história, e até tirara boas notas nessa matéria na escola. Era bom com datas e nomes, e parecia que, se mantivesse esses dados na cabeça, o restante era só preencher as lacunas. Esticado na cama, ainda de macacão, Grey assistia à TV e fumava. Na tela, soldados chegavam de barco até a praia aos borbotões, atirando, se desviando de bombas e lançando granadas. Atrás deles, no mar, canhões enormes lançavam fogo nos penhascos da França ocupada pelos nazistas. Isso, sim, pensou Grey, era uma guerra de verdade. A maior parte do filme era tremida e fora de foco, mas numa das cenas Grey pôde ver claramente um braço - um braço nazista - se estendendo para fora de um abrigo subterrâneo no qual um rapaz americano tinha acabado de usar um lança-chamas. O braço estava todo queimado e fumegava como uma asa de galinha esquecida numa churrasqueira. O pai de Grey havia servido como médico no Vietnã, e ele imaginou o que o velho teria dito sobre uma coisa daquelas. Às vezes Grey até esquecia que seu pai era médico. O sujeito nunca havia sequer colocado um band-aid em seu joelho quando era criança.
Grey acendeu um último cigarro e desligou a televisão. Dois dias antes, Jack e Sam haviam ido embora sem dizer uma palavra a ninguém, por isso Grey tinha concordado em fazer um turno duplo. Ele teria de estar de volta ao N4 às seis da manhã. Era uma pena que tivessem ido embora daquele jeito: se não trabalhassem o ano inteiro, perderiam o direito ao pagamento. Richards deixara bem claro que não ficara nem um pouco feliz com a situação e que, se mais alguém estivesse pensando em sair, era melhor pensar muito bem - muito bem, dissera ele, correndo os olhos longa e lentamente pela sala, como um professor de educação física puto da vida. Fez o pequeno discurso no refeitório durante o café da manhã, e Grey manteve o olhar grudado em seus ovos mexidos o tempo todo. Pensou que o que havia acontecido com Sam e lack não era da sua conta, e, de qualquer modo, o aviso não se aplicava a ele: Grey não iria a lugar nenhum e, na verdade, não havia ficado amigo daqueles caras. Chegaram a conversar um pouco sobre uma coisa ou outra, mas só para passar o tempo, e a saída deles significava mais dinheiro para Grey. Cada turno extra lhe rendia mais 500 pratas, e, se fizesse três extras na mesma semana, receberia mais 100 dólares de bônus. Desde que o dinheiro continuasse entrando, enchendo sua conta com todos aqueles zeros enfileirados como ovos numa caixa, Grey ficaria ali até o fim dos tempos.
Tirou o macacão e apagou a luz. A neve batia contra a janela, um som que lembrava areia chacoalhando num saco de papel. A cada 20 segundos a janela se iluminava quando a luz do farol do perímetro oeste passava por ali. Às vezes os medicamentos deixavam Grey inquieto ou então lhe davam cãibras nas pernas, mas geralmente dois comprimidos de ibuprofeno resolviam isso. Às vezes acordava no meio da noite para fumar ou mijar, mas em geral dormia direto.
Ficou deitado no escuro e tentou acalmar os pensamentos, mas se pegou pensando em Zero novamente. Talvez fosse o braço queimado do nazista, mas não conseguia afastar da mente a imagem de Zero. Ele era uma espécie de prisioneiro. Seus modos ao comer não eram dignos de elogio, e aquela matança de coelhos não era nada boa de se ver, mas comida era comida, e Zero não estava comendo nada.
Tudo o que fazia era ficar pendurado como se estivesse dormindo, mas Grey não achava que estivesse. O chip no pescoço de Zero transmitia diversos tipos de dados para o painel de controle, alguns dos quais Grey entendia, e outros não. Mas sabia muito bem o que era dormir, que era diferente de estar acordado. Os batimentos cardíacos de Zero eram sempre iguais, aproximadamente 102 por minuto. Os técnicos que iam à sala de controle para ler os dados nunca diziam nada sobre isso, só assentiam e verificavam as telas de seus palmtops. Mas, para Grey, ter 102 batimentos parecia significar que se estava totalmente acordado.
Além disso, Zero passava a sensação de estar acordado. Lá ia Grey de novo, pensando em como Zero o fazia se sentir, o que era loucura, mas fazer o quê?
Nunca gostara muito de gatos, mas conseguia enxergar as semelhanças. Um gato dormindo na escada não estava dormindo de verdade. Era uma mola encolhida à espera de um camundongo distraído. O que Zero estaria esperando? Talvez, pensou Grey, ele só estivesse cansado de coelhos. Talvez quisesse bolo de chocolate salsichão ou uma coxa de peru. Pelo que Grey tinha visto, o cara seria capaz de comer um pedaço de pau. Com dentes como aqueles, praticamente não havia nada que ele não pudesse destroçar.
Argh, pensou Grey estremecendo, os dentes-, e foi então que percebeu que tinha de fazer alguma outra coisa para dormir, além de ficar ali deitado, imerso em seus pensamentos. Já era meia-noite. As seis da manhã pulariam sobre ele antes que percebesse, como o palhaço de uma caixa de surpresa. Levantou-se e tomou dois comprimidos de ibuprofeno, fumou um cigarro e esvaziou a bexiga de novo, por segurança, depois se enfiou novamente debaixo das cobertas. As luzes passaram pela janela uma, duas, três vezes. Fez um esforço para fechar os olhos e imaginar uma escada rolante. Esse era um dos truques que Wilder havia ensinado. Grey era o que Wilder chamava de "sugestionável", o que significava que podia ser hipnotizado facilmente, e a escada rolante era a imagem que Wilder havia usado para isso. Era preciso se imaginar numa escada rolante, descendo lentamente. Não importava onde a escada estivesse: num aeroporto, shopping ou sei lá onde, e a escada de Grey não estava em nenhum lugar específico. O importante era que ela descesse até o fundo, que não era o fundo no sentido de ser o fim de alguma coisa, mas sim um lugar de luz fria e azul. Às vezes era só uma escada comprida; outras, uma série de escadas rolantes mais curtas que desciam um andar de cada vez. Esta noite era uma só. O mecanismo estalava sob seus pés. O corrimão de borracha era liso e fresco ao toque. Grey sentia que o azul o esperava lá embaixo, mas não desviava o olhar para vê-lo, porque não era algo que se visse, era algo que vinha de dentro da pessoa. Quando o preenchia por inteiro, você sabia que estava dormindo.
Grey.
Agora a luz estava dentro dele, mas não era azul, e isso era estranho. Era de um laranja quente, pulsante como um coração. Parte de seu cérebro dizia: você está dormindo, Grey, está dormindo e sonhando. Mas outra parte, a parte que estava de fato no sonho, não se incomodava com isso. Ele se moveu através da luz laranja pulsante.
Grey. Estou aqui.
Agora a luz era diferente, dourada. Grey estava no celeiro, deitado na palha. Um sonho que era uma lembrança, mas não exatamente isso: ele tinha palha pelo corpo todo, de tanto rolar nela, grudada nos braços, no rosto e no cabelo, e o outro garoto estava ali, seu primo Roy, que não era seu primo de verdade, mas ele o chamava assim. Roy também estava coberto de palha e rindo. Eles haviam rolado, lutando, por assim dizer, e então a sensação mudou, como quando se muda uma música. Ele podia sentir o cheiro da palha e do seu suor misturado ao de Roy, seus sentidos se combinando para formar o cheiro de uma tarde de verão na infância. Roy falava baixinho: tudo bem, tira a calça, eu vou tirar a minha também, não tem ninguém vindo. Apenas faça como eu, eu mostro como é, é a melhor sensação do mundo. Grev se ajoelhou ao lado dele na palha.
Grey. Grey.
E Roy estava certo: era mesmo a melhor sensação. Como subir uma corda na aula de ginástica, só que melhor, como um grande espirro crescendo por dentro, começando lá de baixo e seguindo por todas as vias, becos e canais dentro dele. Grey fechou os olhos e deixou a sensação crescer.
Isso. Grey, escute. Estou indo.
Mas não era só Roy que estava com ele, não mais. Grey ouviu o rugido e então os passos na escada, como se a música mudasse de novo. Viu Roy uma última vez com o canto do olho e ele estava todo queimado e soltando fumaça. Seu pai estava usando o cinto preto e grosso, não precisava vê-lo para saber. Enterrou o rosto na palha enquanto o cinto descia em suas costas nuas, batendo e rasgando, outra vez, e mais outra. E então outra coisa, indo mais fundo, rasgando-o por dentro.
Você gosta disso, é disso que você gosta, eu vou lhe mostrar, agora fique quieto e agüente.
Esse homem não era seu pai. Agora Grey se lembrava. Não era só o cinto, e não era seu pai que o estava usando. Seu pai fora substituído por esse homem - esse homem chamado Kurt que agora vai ser seu pai - e por esse sentimento de ser dilacerado por dentro, o modo como seu pai de verdade havia se dilacerado no banco da frente de sua picape na manhã em que havia nevado. Grey não devia ter mais de 6 anos quando isso aconteceu. Acordou um dia antes que os outros se levantassem, a luz de seu quarto flutuava com uma leveza reluzente, e logo percebeu o que o havia despertado: a neve caíra durante a noite. Jogou de lado o cobertor e puxou as cortinas, piscando diante do brilho suave do mundo. Neve! Nunca nevava, não no Texas. Às vezes havia gelo, mas não era a mesma coisa, não era como a neve que ele via nos livros e na TV, aquele extraordinário lençol branco, a neve de se andar de trenó e esquiar, de fazer anjos, castelinhos e bonecos. Seu coração pulou diante de tamanho fascínio, das possibilidades e da novidade de tudo aquilo, daquele presente maravilhoso, impossível, que esperava do lado de fora da janela. Encostou a mão no vidro e sentiu o frio saltar para as pontas dos dedos, uma pontada súbita, como um choque elétrico.
Afastou-se rapidamente da janela, vestiu uma calça jeans e enfiou os pés em um par de tênis, sem se incomodar sequer em amarrar os cadarços. Se havia neve, ele precisava estar lá. Esgueirou-se para fora do quarto e desceu a escada até à sala. Era sábado de manhã. Tinham dado uma festa na noite anterior, pessoas haviam estado em sua casa, ele escutara conversas e um monte de vozes altas do quarto, e o cheiro de cigarro ainda estava no ar, como uma nuvem gordurosa. No andar de cima seus pais dormiriam até tarde.
Abriu a porta da frente e saiu para a varanda. O ar estava frio e parado e cheirava a roupa lavada. Inspirou fundo.
Grey. Olhe.
Foi então que viu a picape do pai. Estava parada como sempre, na entrada de veículos, mas algo estava diferente. Havia uma mancha vermelho-escura, como um espirro de tinta, na janela do motorista, o tom ainda mais escuro e intenso por causa da neve. Pensou no que estava vendo. Imaginou que podia ser uma espécie de piada, que seu pai havia feito algo para provocá-lo, como uma brincadeira divertida e estranha, para quando acordasse de manhã antes de todo mundo. Desceu os degraus da varanda e atravessou o quintal. A neve enchia seus tênis, mas ele manteve os olhos fixos na caminhonete, que agora lhe dava uma sensação ruim, como se não fosse a neve que o tivesse tirado do sono, e sim outra coisa. A picape estava ligada e o escapamento deixara uma mancha cinza na neve. O pára-brisa estava embaçado pelo calor e a umidade. Ele podia ver uma silhueta escura encostada ao pára-brisa, onde estava a vermelhidão. Suas mãos eram pequenas e ele não tinha força, mas mesmo assim abriu a porta da caminhonete. E nesse momento seu pai tombou, caindo na neve.
Grey. Olhe. Olhe para mim.
O corpo havia caído de rosto para cima. Um dos olhos estava apontado para Grey, mas na verdade era para o nada, o que ele percebeu instintivamente. O outro olho havia sido arrancado. Grey sabia o que era estar morto. Tinha visto animais - gambás, guaxinins e às vezes gatos ou até cachorros - despedaçados à beira da estrada, e isso era a mesma coisa. Estava tudo acabado. A arma ainda estava na mão de seu pai, o dedo curvado no pequeno buraco, da forma como havia mostrado a Grey um dia na varanda. Está vendo, está vendo como é pesada? Nunca aponte uma arma para ninguém. E havia sangue por toda parte, misturado a outras coisas, como pedaços de carne e pedacinhos brancos de alguma coisa esmagada, por todo o rosto de seu pai, pela jaqueta e pelo banco da picape e pela parte interna da porta, e Grey sentiu o cheiro daquilo, tão forte que parecia preencher sua boca como um comprimido se dissolvendo.
Grey, Grey, estou aqui.
Então a cena começou a mudar. Grey sentiu movimento ao redor, como se a terra estivesse se esticando. Havia algo diferente na neve, tinha começado a se mexer, e, quando ele levantou o rosto para olhar, não era mais neve que ele via, e sim coelhos: milhares e milhares de coelhos, todos os coelhos do mundo, tão próximos uns aos outros que seria possível andar pelo quintal sem jamais tocar o chão. O quintal estava repleto de coelhos. Eles viraram os rostos macios para ele, os olhinhos pretos apontando em sua direção, porque o conheciam, sabiam o que ele havia feito, não com Roy, mas com os outros, com os meninos que voltavam da escola para casa carregando suas mochilas, os desgarrados, os que andavam sozinhos. E foi então que Grey soube que não era mais seu pai quem estava caído no sangue. Era Zero, e Zero estava em toda parte, estava dentro dele, rasgando-o e dilacerando-o, esvaziando-o como fazia com os coelhos. Ele abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu.
Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey.
Richards estava sentado diante do monitor em seu escritório no Nível 2, a mente concentrada no FreeCell. A partida número 36.592, ele tinha de admitir, estava acabando com ele. Tinha mudado as cartas de posição dezenas de vezes, chegando bem perto da solução, mas ainda não havia conseguido arrumar as colunas, nem encaixar todos os ases que precisava para liberar os oitos vermelhos. Havia passado quase o dia todo tentando solucionar isso.
Mas sempre era possível ganhar. Essa era a vantagem do FreeCell. As cartas eram distribuídas, e, se você olhasse direito para elas, se fizesse os movimentos corretos, um depois do outro, cedo ou tarde o jogo seria seu. Um clique vitorioso do mouse e todas as cartas voavam tela acima. Richards nunca se cansava daquilo, o que era bom, porque ainda tinha 91.048 partidas pela frente, contando com aquela. Um garoto de 12 anos no estado de Washington afirmava ter ganhado todas, em ordem - inclusive a 64.523, a mais sinistra de todas -, em pouco menos de quatro anos. Isso significava 88 jogos por dia, todo dia, inclusive no Natal, no ano-novo e em todos os outros feriados. De modo que, presumindo que o garoto de vez em quando tirasse um dia para fazer coisas de garoto ou mesmo que ficasse de cama com uma gripe forte, o número verdadeiro provavelmente beirava 100 partidas por dia. Richards não entendia como isso era possível. Ele nunca ia à escola? Não tinha dever de casa? O sacaninha dormia quando?
A sala de Richards, como todos os espaços subterrâneos do complexo, era pouco mais do que uma caixa iluminada, tudo nela passando por bombas e filtros. Até a luz parecia reciclada. Eram pouco mais de duas e meia da madrugada, mas Richards estava acostumado a dormir menos de quatro horas por noite. Vinha sendo assim havia muitos anos, e por isso não se incomodava. No alto da parede à sua frente, três dúzias de monitores mostravam, com contadores de tempo, cada canto do complexo - os guardas congelando no portão da frente, o refeitório vazio com suas máquinas de refrigerante e mesas desocupadas, o setor de cobaias, dois andares abaixo, com sua reluzente carga infecciosa, e até mesmo, muito mais abaixo, sob uma camada de mais de 15 metros de granito, as células nucleares que forneciam energia para tudo aquilo, capazes de manter as luzes acesas ali e tudo funcionando por uns 100 anos. Gostava de ter tudo onde pudesse ver com uma passada de olhos, onde pudesse entender as imagens da mesma forma como avaliava as cartas. Em algum momento entre as cinco e as seis da manhã haveria uma entrega, e ele achou que talvez fosse melhor ficar acordado a noite inteira por causa disso. O procedimento com as cobaias levava no máximo duas horas. Ele poderia tirar um cochilo no escritório depois, se precisasse.
Então, na tela do computador, viu a resposta. Estava bem ali, embaixo do seis: a dama preta que ele precisava para eliminar o valete e liberar o dois, e assim por diante. Dois cliques e o jogo estava acabado. As cartas correram pela tela como os dedos de um pianista voando sobre as teclas.
Quer jogar de novo?
Sem dúvida nenhuma.
Porque o jogo era o estado natural do mundo. Porque o jogo era uma guerra, sempre era, e quando não havia uma guerra em algum lugar, para manter um homem como Richards bem empregado? Os últimos 20 anos tinham sido bons para ele, como uma longa rodada com apenas boas notícias vindo das cartas. Sarajevo, Albânia, Tchetchênia. Afeganistão, Iraque, Irã. Síria, Paquistão, Serra Leoa, Chade. Filipinas, Indonésia, Nicarágua e Peru.
Richards se lembrou do dia - aquele dia glorioso e terrível - em que viu os aviões atingindo as torres, a imagem repetida incessantemente. As bolas de fogo, os corpos caindo, um bilhão de toneladas de aço e concreto se liqüefazendo, as enormes nuvens de poeira. A imagem do milênio, o grande reality show, transmitido 24 horas por dia, sete dias por semana. Richards estava em Jacarta quando isso aconteceu, nem conseguia lembrar por quê. Havia pensado nisso na época - não, havia sentido isso. Um ato de retidão puro e firme. Era preciso dar aos militares algo para fazer, é claro, ou eles acabariam atirando uns nos outros.
Mas, a partir daquele dia, seria o fim do antigo modo de resolver as coisas. A guerra - a guerra de verdade, a que vinha acontecendo havia mil anos e que continuaria por mais milhares deles, a guerra entre nós e eles, entre os que têm e os que não têm, entre os meus deuses e os seus deuses, quem quer que você seja - seria travada por homens como Richards: homens com rostos que não eram notados e dos quais não se conseguiria lembrar, vestidos como ajudantes de garçom, motoristas de táxi ou carteiros, com silenciadores enfiados nas mangas. Seria travada por jovens mães empurrando cinco quilos de C4 em carrinhos de bebê e colegiais entrando em metrôs com frascos de gás sarin escondidos em suas mochilas da Hello Kitty. Seria travada na carroceria de picapes, em quartos de hotel comuns perto de aeroportos e em remotas cavernas nas montanhas. Seria lutada em estações de trem e em cruzeiros, em shoppings, cinemas e mesquitas, no campo e na cidade, no escuro ou em plena luz do dia. Seria travada em nome de Alá, do nacionalismo curdo, dos Judeus por Jesus ou em defesa dos New York Yankees - os temas não haviam mudado, nunca mudariam. Quando se retiravam as asneiras, o que sobrava se resumia a relatórios trimestrais dos lucros e a quem seria todo-poderoso. Mas agora a guerra estava em toda parte, em metástase, como um milhão de células malignas se espalhando pelo planeta, e todo mundo fazia parte dela.
E por esse motivo o Projeto Noé fez certo sentido quando tudo começou. Richards era parte do projeto desde o início, desde o primeiro comunicado de Cole, descanse em paz, seu babaca. Ele percebeu que era algo importante quando Cole foi encontrá-lo em Ancara, cinco anos antes. Richards esperava sentado a uma mesa em frente a uma janela quando Cole entrou devagar, balançando uma pasta que provavelmente não tinha nada além de um celular e um passaporte diplomático. Usava uma camisa havaiana por baixo do terno caqui, um belo toque ao disfarce, como algo tirado de um livro de Graham Greene. Richards quase riu.
Os dois pediram um café e Cole começou a falar, o rosto liso animado de empolgação. Cole era de uma cidadezinha na Geórgia, mas todos aqueles anos em Andover e Princeton haviam deixado mais rígida a sua forma de falar e, quando pronunciava as palavras, parecia Bobby Kennedy incorporando um militar do século XIX. Além disso, tinha dentes bonitos, dentes de um aluno típico de universidades de prestígio, retos como uma cerca e tão brancos que podiam iluminar uma sala escura.
Bem, começou Cole, pense na bomba atômica, em como o simples fato de tê-la mudou tudo. Até que os russos explodissem a deles em 1949, o mundo era nosso para fazermos o que quiséssemos. Por quatro anos foi a Pax Americana, e aí, bye-bye. Agora, claro, todo mundo tinha uma arma nuclear escondida no porão, e pelo menos uma centena de ogivas da era soviética circulava no mercado negro, e isso era só a parte de que se tinha notícia, e, é claro, o Paquistão e a índia tinham que ser os primeiros - muito obrigado, pessoal, vocês acabaram de transformar a incineração gratuita de milhares de pessoas em assunto corriqueiro até nas subsecretárias assistentes da guerra contra o terror.
Mas isso, disse Cole, tomando um gole de café, ninguém poderia imitar. Era o novo Projeto Manhattan. Era maior do que isso. Cole não podia entrar em detalhes, pelo menos por enquanto, mas, só para contextualizar a questão, pense em como seria transformar o próprio ser humano em arma. Imagine o estilo americano de vida como algo realmente duradouro. Algo permanente.
E era por isso que Cole estava ali. Ele precisava de alguém como Richards, explicou, alguém de fora, mas não só isso. Alguém que fosse experiente e tivesse habilidades práticas. Habilidades pessoais, por assim dizer. Talvez não de imediato, mas nos meses seguintes, à medida que as peças fossem se juntando para formar o todo. Segurança era fundamental, o item mais importante na lista de Cole. Por isso ele estava ali, vestindo aquela camisa de luau ridícula. Para convencê-lo. Para conseguir uma peça fundamental do quebra-cabeça.
Teria sido muito bom se as coisas tivessem saído de acordo com os planos, mas não saíram, nem de longe, a começar pelo fato de que Cole estava morto. Na verdade, muitas pessoas estavam mortas, e algumas delas... bem, era difícil dizer o que elas estavam. Apenas três haviam saído vivas da selva, sem contar Fanning, que já estava a caminho de se tornar... bem, o quê? Aquilo era mais do que o acordo com Cole previa, sem dúvida. Podia ser que houvesse mais sobreviventes, porém a ordem do Departamento de Armas Especiais tinha sido clara: qualquer um que não conseguisse chegar ao ponto de encontro viraria churrasco. O míssil que passara zunindo por sobre as montanhas garantira isso. Richards se perguntou o que Cole teria dito se soubesse que seria um deles.
E foi então - quando Fanning foi trancado em segurança, Lear se mudou para o complexo no Colorado e tudo o que havia acontecido na América do Sul foi apagado do sistema - que Richards entendeu do que se tratava. EMV, ou Envelhecimento Muito Vagaroso. Precisava dar os parabéns a quem quer que tivesse bolado aquela sigla idiota. Um vírus, ou melhor, uma família de vírus escondida em algum lugar, em pássaros, macacos ou em um banheiro sujo. Um vírus que, com o procedimento adequado, poderia restaurar completamente a função do timo.
Richards lera os artigos de Lear que haviam atraído a atenção de Cole, o primeiro na revista Science e o segundo no Diário de Paleovirologia. Sua tese era a de que existiria um "agente com capacidade de aumentar significativamente o tempo de vida humana e o vigor físico, e que assim o fez em momentos específicos, durante toda a história da humanidade". Não era necessário ser Ph.D. em microbiologia para saber que se tratava de algo perigoso: tinha a ver com vampiros, embora ninguém no Departamento de Armas Especiais jamais usasse a palavra. Se aquilo não tivesse sido escrito por um cientista da importância de Lear, um especialista em microbiologia de Harvard, teria parecido notícia de algum tabloide sensacionalista. Mesmo assim, havia algo naquilo tudo que chamava a atenção. Quando criança, Richards tinha lido diversas histórias desse tipo, não somente em quadrinhos - Contos da cripta, Dark Shadows e todos os outros -, mas também o Drácula original de Bram Stoker, e tinha assistido aos filmes. Era um monte de idiotice e cenas de sexo de segunda categoria, ele percebera mesmo naquela época, no entanto não haveria naquilo algo que causava certa identificação? Os dentes, a sede de sangue, a união imortal com as trevas - e se essas coisas não fossem mera fantasia, e sim uma lembrança, ou até mesmo um instinto, algo gravado em nosso DNA havia milênios, algum poder sombrio que existia dentro do homem? Um poder que poderia ser reativado, aprimorado, controlado?
Era nisso que Lear acreditara, e Cole também. E essa crença os havia levado à selva boliviana, à procura de um grupo de turistas mortos. Ou, como descobriram depois, um grupo de turistas mortos-vivos - Richards não gostava dessa expressão, mas não conseguia encontrar outra mais adequada, já que ela, no fim das contas, dava uma descrição bastante precisa daquela condição - que havia matado, na verdade, estraçalhado, o restante da equipe de pesquisa: todos menos Lear, Fanning, um dos soldados e um jovem estudante de pós-graduação chamado Fortes. Se não fosse por Fanning, a coisa toda teria sido uma perda total.
Lear: era preciso dar crédito ao sujeito. Provavelmente ele ainda achava que estava tentando salvar o mundo, mas havia vendido esse sonho no minuto em que se juntara a Cole e ao Departamento de Armas Especiais. Para dizer a verdade, era difícil saber no que Lear andava pensando ultimamente: o sujeito nunca saía do Nível 4, dormia lá embaixo no laboratório, numa cama dobrável suada, e vivia à base de comida congelada. Provavelmente não via a luz do sol havia um ano.
No início, Richards pesquisara mais a fundo e descobrira detalhes interessantes. A primeira evidência tinha sido o obituário da mulher de Lear no Boston Globe - datado de apenas seis meses antes de Cole tê-lo procurado em Ancara, um ano antes do fiasco na Bolívia. Elizabeth Macomb Lear, 41 anos. Bacharelado no Smith College, mestrado em Berkeley e doutorado na Universidade de Chicago. Professora de inglês no Boston College, editora associada do Renaissance Quarterly e autora de Monstros de Shakespeare: Transformação animal e o primeiro momento moderno, publicado pela Cambridge University Press em 2009. Uma longa batalha contra um linfoma, etc. Também havia uma foto. Richards não diria que Elizabeth Lear era linda, mas era bonitinha, embora parecesse ligeiramente desnutrida. Uma mulher séria, com idéias sérias. Pelo menos não havia filhos envolvidos. Provavelmente a quimioterapia e a radiação tinham descartado essa possibilidade. De modo que ele se perguntara se, no fundo, o Projeto Noé não se tratava apenas de um homem enlutado que se trancava num porão, tentando desfazer a morte da mulher.
Agora, depois de cinco anos e centenas de milhões de dólares ralo abaixo, os únicos resultados que haviam obtido com tudo isso eram cerca de 300 macacos, muitos porcos e cachorros e meia dúzia de mendigos mortos, além de 11 condenados à morte que reluziam no escuro e faziam qualquer um se borrar de medo. Assim como os macacos, as primeiras cobaias humanas tinham morrido em poucas horas, queimando de febre, sangrando como hidrantes arrebentados. Mas então o primeiro prisioneiro, Babcock, sobreviveu - Giles Babcock, o pior psicopata que já andou sobre a face da Terra. Todos no Nível 4 o chamavam de Tagarela, porque o sujeito não conseguia calar a boca nem por um segundo, nem antes nem depois -, seguido por Morrison, Chavez, Baffes e os outros, a cada etapa o vírus se tornando mais fraco, de modo que os corpos dos prisioneiros pudessem combatê-lo. Onze vampiros - por que não usar esta palavra? - que, na opinião de Richards, não tinham muita utilidade para ninguém. Sykes confessara que não tinha certeza se seria possível matá-los, a menos que lhes metessem uma granada goela abaixo. O vírus havia transformado a pele deles numa espécie de exoesqueleto à base de proteínas, tão duro que fazia o Kevlar parecer massa de panqueca. Apenas um pouco acima do esterno - uma área de cerca de oito centímetros quadrados - esse material era suficientemente fino para ser penetrado. Mas até isso era apenas teoria.
E aquelas coisas estavam empesteadas de vírus. Seis meses antes, um técnico fora exposto: ninguém conseguiu descobrir como isso aconteceu. Num minuto ele estava bem, no outro estava caído na câmara de descontaminação, vomitando e se contorcendo. Se Richards não o tivesse visto pelo monitor e lacrado todo o andar, quem sabe o que poderia ter acontecido? Felizmente, ele teve apenas que purificar o ar da câmara, esperar o sujeito morrer e depois chamar o pessoal da limpeza. Achava que o nome do técnico era Samuel ou Samuelson. Não importava. Os faxineiros não foram contaminados e, depois de uma quarentena de 72 horas, Richards havia liberado o andar.
Sabia que não hesitaria nem um segundo se chegasse a hora de acabar com tudo. O Protocolo Elizabeth: se aquilo era para ser uma piada, quem quer que tivesse escolhido o nome não era muito bom nisso. E Richards tinha certeza de quem seria essa pessoa. Aquilo era a cara de Cole - do falecido Cole, aliás, já que Cole não existia mais. Por trás daquela imagem de bajulador e sócio de country clube, havia um homem verdadeiramente maquiavélico. Elizabeth, pelo amor de Deus. Só mesmo Cole para usar o nome da mulher morta do cara.
Agora Richards podia sentir que a coisa toda estava à deriva. Parte do problema era o simples tédio daquilo tudo. Não dá para colocar 80 homens numa montanha sem nada para fazer além de contar peles de coelho e exigir que eles fiquem alerta e de boca fechada para sempre.
E havia os pesadelos.
Richards também os tinha, ou pensava que tinha. Nunca se lembrava direito deles, mas às vezes acordava com a sensação de que algo estranho tinha acontecido durante a noite, como se tivesse feito uma viagem não planejada e acabado de voltar. Era isso o que havia acontecido com os dois desertores. Usar caras castrados tinha sido idéia de Richards, e, por algum tempo, isso tinha funcionado: seria impossível encontrar sujeitos mais dóceis, afáveis como monges budistas, e quando o jogo finalmente acabasse, ninguém sentiria falta deles. Os dois novos funcionários da limpeza, Jack e Sam, tinham saído do complexo escondendo-se em latões de lixo. Quando Richards os encontrou na manhã seguinte - entocados num hotel barato à beira da rodovia interestadual, a 30 quilômetros de distância, esperando para serem apanhados -, só conseguiam falar de uma coisa: dos pesadelos. A luz laranja, os dentes, as vozes no vento chamando seus nomes. Eles haviam simplesmente pirado com aquilo.
Durante algum tempo, ele apenas ficara sentado na beira da cama e os deixara falar: dois homens de meia-idade condenados por crimes sexuais, de pele macia como caxemira e testículos do tamanho de passas, assoando o nariz nas mãos e chorando como crianças. De certa forma era uma cena tocante, mas não dava para escutar esse tipo de coisa por muito tempo. É hora de ir, rapazes, disse Richards, tudo bem, ninguém está com raiva de vocês. Então os levou de carro até um lugar que conhecia, um local bonito à beira de um rio, para que eles vissem o mundo que estariam deixando. E deu um tiro na cabeça deles.
Agora Lear queria uma criança, uma menina. Até mesmo Richards precisou parar e pensar nisso. Um bando de mendigos bêbados e prisioneiros condenados à morte era uma coisa - para Richards, apenas material reciclável humano -, mas uma criança? Sykes tinha dito que o motivo era algo relacionado ao timo. Quanto mais jovem fosse a glândula, explicara ele, melhor poderia combater o vírus e levá-lo a uma espécie de paralisia. Era a isso que Lear estava tentando chegar: ter os benefícios, mas sem os efeitos colaterais desagradáveis. Efeitos colaterais, desagradáveis! Richards teve de rir. Esqueça o fato de que em sua vida humana anterior as criaturas fosforescentes tivessem sido homens como Babcock, que corriam a garganta da mãe por uma passagem de ônibus. Achou que talvez esse fosse um dos motivos, também: Lear queria uma folha em branco, alguém cujo cérebro ainda não estivesse cheio de lixo. Dali a pouco o cara ia pedir um bebê, pensou ele.
E Richards havia conseguido. Depois de algumas semanas de busca, encontrou a cobaia certa: uma garota de sobrenome desconhecido, branca, de aproximadamente 6 anos, largada como um saco de lixo em um convento em Memphis pela mãe, que provavelmente estava drogada demais para se importar. Rastro zero, dissera Sykes, e essa garota, essa criança de origem desconhecida e aproximadamente 6 anos, não deixaria vestígio algum. Mas na segunda-feira ela estaria sob os cuidados do Serviço de Proteção à Criança, e então eles poderiam simplesmente dar adeus a ela. Isso lhes dava 48 horas para a coleta, presumindo que a mãe não voltasse para buscá-la, como se fosse uma bagagem perdida. Quanto às freiras, bem, Wolgast arranjaria um jeito de lidar com elas. O cara seria capaz de vender bronzeador a pessoas em tratamento de câncer de pele. Já havia provado isso.
Richards ergueu os olhos para os monitores. Todas as crianças estavam aconchegadas na cama. Babcock parecia tagarelar como sempre, o papo inchando e desinchando como um sapo. Richards ligou o áudio e ouviu os estalos e grunhidos por um minuto, imaginando, como sempre, se aquilo significaria alguma coisa. "Deixe-me sair daqui" ou "Gostaria de comer mais uns coelhos agora" ou "Richards, a primeira coisa que vou fazer quando sair daqui é pegar você, cara". Richards falava muitas línguas - as européias de sempre, mas também turco, parse, árabe, russo, tagalo, híndi e até um pouquinho de suaíli - e, às vezes, quando escutava Babcock no monitor, tinha a nítida sensação de que ali havia palavras em algum lugar, recortadas e embaralhadas, se pudesse acostumar os ouvidos a reconhecê-las. Mas agora, ouvia apenas ruídos.
- Não conseguiu dormir?
Richards se virou e encontrou Sykes parado junto à porta, segurando um copo de café. Estava de uniforme, mas tinha a gravata solta e o paletó aberto. Passou a mão no cabelo ralo, girou uma cadeira e sentou-se virado para o encosto, diante de Richards.
- Bem - disse Sykes -, eu também não.
Richards pensou em perguntar a Sykes se havia tido um daqueles pesadelos, mas decidiu que era desnecessário. Podia ver a resposta em seu rosto.
Eu não durmo - respondeu Richards. - Pelo menos não muito.
Certo. - Sykes deu de ombros. - É claro que não.
Quando Richards não disse nada ele inclinou a cabeça na direção dos monitores.
- Tudo calmo lá embaixo?
Richards assentiu.
- Mais alguém saindo para um passeio ao luar?
Estava falando de Jack e Sam. Sykes não costumava ser sarcástico, mas tinha o direito de estar puto. Latões de lixo, pelo amor de Deus. As sentinelas deveriam inspecionar tudo o que entrava ou saía, mas na verdade eram apenas garotos, soldados alistados. Agiam como se ainda estivessem no colégio, porque era praticamente só isso o que sabiam. Era preciso mantê-los à rédea curta, e Richards havia deixado as coisas afrouxarem.
- Falei com o oficial de plantão. Uma conversa que ele não vai esquecer.
- Por acaso você pode me dizer o que aconteceu com os caras?
Richards não tinha nada a dizer. Sabia que Sykes precisava dele, mas não era obrigado a gostar do cara.
Sykes se levantou e foi até os monitores. Ajustou a imagem e deu um zoom na que mostrava Zero.
- Sabe, eles eram amigos - disse ele. - Lear e Fanning. Richards assentiu.
- Foi o que ouvi dizer.
- É... - Sykes inspirou devagar, o olhar ainda fixo em Zero. - Belo modo de tratar os amigos.
Sykes se virou para Richards, que continuava sentado junto ao terminal. Sykes parecia não se barbear havia uns dois dias, e seus olhos, apertados por causa da luz fluorescente, estavam embaçados. Por um momento, ele pareceu ter esquecido onde estava.
- E nós? - perguntou ele a Richards. - Somos amigos?
Ora, essa era nova para Richards. Os pesadelos de Sykes deviam ser piores do que ele pensava. Amigos! Quem se importava?
- Claro - respondeu Richards, com um sorriso. - Somos amigos. Sykes o encarou por mais um instante.
- Pensando bem - disse -, talvez essa não seja uma idéia tão boa. Mas obrigado, de qualquer modo.
Richards sabia o que estava incomodando Sykes: a menina. Ele sabia que Sykes tinha dois filhos - dois homens feitos, formados em West Point, como o pai, um deles trabalhando no Pentágono com algo relacionado ao serviço de informações e o outro lotado em uma unidade de tanques no deserto na Arábia Saudita - e achou que talvez também tivesse netos. Provavelmente já tinha falado alguma coisa sobre isso, mas não era o tipo de assunto que eles costumavam discutir. De qualquer modo, sabia que Sykes não aceitava bem esse negócio da menina. Richards, por utro lado, não ligava a mínima para o que Lear quisesse, fosse o que fosse.
- Você realmente deveria tentar dormir um pouco - disse Richards. - Teremos uma entrega em... - ele olhou o relógio - três horas.
- Acho melhor ficar acordado.
Sykes foi até a porta, virou-se e dirigiu novamente o olhar cansado para Richards.
Só entre nós, se é que você não se incomoda com a pergunta: como conseguiu trazê-lo para cá tão depressa?
- Não foi muito difícil. - Richards deu de ombros. - Coloquei-o num transporte de tropas perto de Waco. Era só um grupo de reservistas, mas valeu como via expressa. Pousaram em Denver pouco depois da meia-noite.
Sykes franziu a testa.
- Via expressa ou não, foi bem rápido. Alguma idéia do motivo da pressa?
Richards não saberia dizer com certeza. A ordem viera do contato no Departamento de Armas Especiais. Mas, se tivesse de adivinhar, apostaria que tinha algo a ver com o catre suado, as refeições congeladas e um ano sem sol nem ar puro, com os pesadelos, o hotel barato e todo o resto. Diabos, se você olhasse bem para a situação - algo que ele parara de se incomodar em fazer havia muito tempo -, aquilo tudo provavelmente remontava a uma mulher de beleza mediana, Elizabeth Macomb Lear, sua longa batalha contra o câncer, etc, etc.
- Me deviam um favor em Langley e tiraram tudo do sistema, de cabo a rabo. Para ser mais claro, Carter não existe mais. Não conseguiria sequer comprar um chiclete.
- Ninguém deixa de existir. - Sykes franziu a testa. - Sempre aparece alguém procurando o sujeito.
- Talvez. Mas esse cara chega perto.
Sykes parou por mais um instante junto à porta, sem dizer nada, os dois sabendo o que o silêncio significava.
- Bem - concluiu -, ainda não estou gostando disso. Há motivos para termos um protocolo. Três prisões, 30 dias, depois trazemos o cara.
- Isso é uma ordem?
Era uma piada: Sykes não podia lhe dar ordens, não realmente. Richards mantinha essa encenação por gentileza.
- Não, esqueça - disse Sykes, e bocejou. - O que iríamos fazer, devolvê-lo? Ele bateu na lateral da porta. - Ligue para mim quando a van chegar. Estarei lá em cima, acordado.
Quando Sykes saiu, Richards se pegou desejando que ele tivesse ficado. Talvez fossem amigos, de certo modo. Richards já tivera trabalhos ruins antes. Sabia que existia um momento em que a coisa mudava, como uma caixa de leite que é esquecida fora da geladeira e azeda. Você se pegava conversando como se nada tivesse importância, como se a coisa toda já tivesse acabado. Então começava a gostar das pessoas, o que era um problema. Depois disso as coisas desmoronavam rápido.
Carter não era ninguém especial, apenas mais um condenado sem nada a oferecer além da própria vida. Mas a garota? O que Lear poderia querer com uma menina de 6 anos?
Richards se virou para os monitores e colocou o fone de ouvido. Babcock estava de novo no canto, matraqueando sem parar. Era estranho: algo em Babcock sempre o incomodara. Era como se Richards pertencesse a ele, como se Babcock fosse dono de uma parte dele. Não conseguia afastar aquela sensação. Richards era capaz de ficar sentado ouvindo o cara durante horas. Às vezes caía no sono diante dos monitores ainda usando os fones de ouvido.
Olhou o relógio de novo, sabendo que não deveria, mas incapaz de se conter. Já passava das três da madrugada. Não estava a fim de jogar mais uma partida que se danasse o garoto idiota de Seattle e viu as horas de espera até a chegada da van se abrirem subitamente diante dele, como uma enorme boca que poderia engoli-lo inteiro.
Não havia como resistir. Ajustou o volume e se acomodou para escutar, imaginando o que aqueles sons estariam tentando lhe dizer.
SEIS
Lacey acordou com o som da chuva batendo nas folhas do lado de fora da janela. Amy.
Onde estava Amy?
Levantou-se depressa, vestiu o roupão e desceu a escada correndo. Mas quando chegou ao térreo, seu pânico havia passado. Com certeza a menina simplesmente saíra da cama para procurar algo para comer, assistir à TV ou andar pelo prédio.
Lacey a encontrou sentada à mesa da cozinha, ainda de pijama, enfiando garfadas de waffle na boca. Irmã Claire estava sentada à cabeceira da mesa ampla, vestindo o agasalho de moletom que usava em suas corridas matinais pelo paraue Overton, segurando uma caneca de café fumegante e lendo o Commercial Appeal Irmã Claire ainda não era propriamente uma freira, e sim uma noviça. Os ombros de seu agasalho estavam molhados de chuva e seu rosto, úmido e corado.
Ela abaixou o jornal e sorriu para Lacey.
- Que bom que você acordou. Já tomamos nosso café da manhã, certo, Amy? A menina confirmou com a cabeça.
Antes de entrar para a ordem, Claire havia sido corretora em Seattle, e, quando se sentou à mesa, Lacey viu que ela estivera lendo os classificados de imóveis. Se irmã Arnette visse aquilo, ficaria aborrecida e poderia até fazer um dos seus discursos improvisados sobre as distrações da vida material. Mas o relógio acima do fogão marcava pouco mais de oito horas: as outras irmãs deviam estar na missa, na capela ao lado da casa. Lacey sentiu uma pontada de vergonha. Como podia ter dormido até tão tarde?
- Fui à missa cedo - disse Claire, como se respondesse aos seus pensamentos. Irmã Claire costumava ir à missa das seis, antes de sua corrida diária, à qual se referia como "visita a Nossa Senhora das Endorfinas". Ao contrário das outras irmãs, que nunca haviam conhecido outra coisa, Claire tinha passado a vida inteira fora da ordem: ela fora casada, ganhara dinheiro, possuíra um apartamento, sapatos bonitos e um carro de luxo. Só sentira o chamado religioso quando estava próxima dos 40 anos e divorciada do homem a quem uma vez havia se referido como "o pior marido do mundo". Ninguém sabia de detalhes, a não ser, talvez, irmã Arnette, mas a vida de Claire era um mistério para Lacey. Como era possível uma pessoa ter duas vidas tão diferentes uma da outra? Às vezes Claire dizia algo como "Esses sapatos são lindos" ou "O único hotel decente em Seattle é o Vintage Park", e por um momento todas as irmãs caíam num silêncio perplexo, que era em parte desaprovação e em parte inveja. Claire fora a escolhida para comprar as coisas para Amy, já que havia um consenso implícito de que ela seria a única realmente capaz de fazer isso.
- Se você correr ainda pode chegar a tempo para a das oito - sugeriu Claire. Mas era tarde demais, claro. O que Claire realmente queria dizer, Lacey compreendeu, era outra coisa.
- Eu posso ficar com Amy.
Lacey olhou para a menina. O cabelo dela estava desgrenhado, mas a pele e os olhos brilhavam, descansados. Lacey passou as pontas dos dedos pelos cabelos da menina.
- É muita gentileza sua - disse. - Talvez hoje, só desta vez, como Amy está aqui...
- Nem precisa dizer mais nada - incentivou irmã Claire e, brincando, levantou a mão como um guarda de trânsito em sinal de "Pare". - Eu dou cobertura.
O restante do dia foi sendo montado na mente de Lacey. Sentada à mesa, lembrou-se do plano de ir ao zoológico. A que horas ele abria? E a chuva? Seria melhor sair de casa antes que as outras irmãs voltassem, pensou. Não só porque elas ficariam questionando por que ela não tinha ido à missa, mas também porque podiam começar a fazer perguntas sobre Amy. A mentira havia funcionado até agora, mas Lacey sentia sua fragilidade, como um piso de tábuas podres sob seus pés.
Quando Amy terminou de comer os waffles e de tomar um copo grande de leite, Lacey levou-a de volta para cima e a ajudou a vestir rapidamente a roupa: uma calça jeans engomada de tão nova e uma blusinha com a palavra ATREVIDA estampada com purpurina na frente. Só irmã Claire teria coragem de escolher algo assim. Irmã Arnette não gostaria nem um pouco da blusa - se a visse, provavelmente iria suspirar e balançar a cabeça, azedando o ambiente -, mas Lacey sabia que era perfeita, exatamente o tipo de coisa que uma menininha gostaria de usar. O brilho da roupa a tornava especial, e sem dúvida era isso o que Deus queria que dessem a uma criança como Amy: um pouco de felicidade, ainda que pequena. No banheiro, limpou a geleia das bochechas da menina e escovou seu cabelo. Depois se vestiu como de costume, com a saia cinza pregueada, a blusa branca e o véu.
A chuva havia parado e um sol morno surgia sem pressa no pátio lá fora. O dia seria quente, supôs Lacey, uma onda de calor vinda do sul depois da frente fria que havia trazido a chuva na noite anterior. Tinha algum dinheiro, o bastante para os ingressos e um pequeno lanche, e poderiam ir a pé até o zoológico. Quando saíram, o dia havia começado a esquentar e o ar tinha um cheiro doce de grama molhada.
Os sinos da igreja badalaram as horas - a missa terminaria a qualquer momento. Lacey e Amy passaram rapidamente pelo portão do jardim, sentindo o aroma ácido das ervas que começavam a florescer - o alecrim, o estragão e o manjericão que irmã Louise cultivava com tanto carinho -, e foram andando até o parque, aonde as pessoas já chegavam para aproveitar o sol do primeiro dia de primavera: jovens trazendo cachorros e frisbees, gente se exercitando, famílias disputando churrasqueiras e mesas à sombra.
O zoológico ficava na parte norte do parque, flanqueado por uma avenida larga que dividia o bairro em áreas bastante distintas. Do outro lado da avenida,
casas amplas com gramados impecáveis davam lugar a casebres com varandas arrebentadas e carros caindo aos pedaços em quintais cheios de entulho. Rapazes andavam de um lado para o outro da rua como pombos, empoleirando-se numa ou noutra esquina por alguns instantes e depois seguindo adiante, envoltos num torpor vadio e vagamente agourento. Lacey gostaria de se sentir mais confortável em relação ao bairro, mas os negros que viviam ali eram diferentes dela, que nunca fora pobre, pelo menos não daquele jeito. Em Serra Leoa, seu pai trabalhava no ministério e sua mãe tinha um motorista à disposição para levá-la às compras em Freetown e aos jogos de polo no clube. O próprio presidente da República havia dançado uma valsa com ela em uma festa.
Ao chegarem perto do zoológico o ar mudou, cheirando a amendoim e animais. Uma pequena fila já havia se formado junto à entrada. Lacey comprou os ingressos, contando cada moeda do troco, depois pegou a mão de Amy de novo e a levou pela roleta. A menina havia trazido sua mochila com o coelho Peter dentro. Quando Lacey sugerira que ela poderia deixá-la, viu rapidamente nos olhos da garota que isso estava fora de questão. A mochila não era algo que Amy poderia deixar para trás.
- O que você quer ver? - perguntou Lacey.
Perto da entrada encontraram um quiosque com um grande mapa dividido em cores que indicavam os diferentes habitats e espécies. Um casal o examinava, o homem com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço, a mulher empurrando suavemente um carrinho para trás e para a frente. O bebê dormia, afogado em tecidos cor-de-rosa. A mulher olhou para Lacey e a observou por um momento com um olhar de suspeita: o que uma freira negra estaria fazendo com uma menina branca? Mas então sorriu, um pouco forçadamente - um sorriso de desculpas, de retratação -, e o casal seguiu seu caminho.
Amy olhou para o mapa. Lacey imaginou se ela sabia ler, mas havia figuras ao lado das palavras.
- Não sei - disse ela. - Os ursos?
- De que tipo?
A menina pensou por um momento, os olhos examinando as figuras.
- Os ursos-polares - disse.
Um brilho surgiu nos olhos da menina enquanto ela falava. A idéia do zoológico, de ver os animais, era algo que as duas compartilhavam agora. Era exatamente como Lacey havia esperado. Enquanto estavam ali paradas, mais pessoas tinham passado pelo portão e, de repente, o zoológico estava formigando de visitantes.
- E também as zebras, os elefantes e os macacos.
- Maravilha! - disse Lacey, e sorriu. - Vamos ver todos eles. Compraram um saco de amendoins em um quiosque e começaram o passeio,
mergulhando na intensidade de sons e cheiros do lugar. Ao se aproximarem do tanque dos ursos-polares, ouviram barulho de água, risos e gritinhos divertidos de susto, uma mistura de vozes jovens e velhas. Amy, que estivera segurando a mão de Lacey, soltou-a de repente e saiu correndo.
Lacey se esgueirou por entre as pessoas que haviam se juntado para ver os ursos e encontrou Amy com o rosto praticamente colado ao vidro que mostrava a parte do tanque que ficava sob a água - uma visão curiosa no calor de Memphis: pedras pintadas de branco para parecerem icebergs e muita água, de um azul ártico. Três ursos se esquentavam ao sol, esparramados como tapetes gigantescos junto a uma lareira, e outro nadava. Enquanto Amy e Lacey olhavam, ele nadou até elas e, totalmente submerso, bateu com o focinho no vidro. As pessoas em volta ficaram boquiabertas. Uma onda de prazer e medo desceu como um choque elétrico pela coluna de Lacey, irradiando-se até os pés e as pontas dos dedos. Amy estendeu a mão e tocou o vidro suado, a centímetros do rosto do urso. O urso abriu a boca mostrando a língua rosada.
- Cuidado aí, menininha - alertou um homem atrás. - Eles podem parecer bonitinhos, mas para eles você não passa de almoço.
Assustada, Lacey virou a cabeça, procurando o dono da voz. Quem seria esse homem que tentava amedrontar uma criança daquele jeito? Mas nenhum dos rostos atrás dela devolveu seu olhar. Todos estavam sorrindo e admirando os ursos.
- Amy - disse ela baixinho, e pôs a mão no ombro da menina. - Talvez seja melhor não provocá-los.
Amy pareceu não ouvi-la e aproximou ainda mais o rosto do vidro.
- Qual é o seu nome? - perguntou ao urso.
- Amy - advertiu Lacey. - Não fique tão perto. Amy acariciou o vidro.
- Ele tem um nome de urso. Não consigo falar. Lacey hesitou. Aquilo seria uma brincadeira?
- O urso tem nome?
A menina levantou os olhos, as sobrancelhas franzidas e uma luz de conhecimento no rosto.
- Claro que tem.
Ele lhe disse isso?
O tanque explodiu com o som de um mergulho. A multidão arfou surpresa. Um segundo urso - ou ursa? - havia pulado na água e foi nadando na direção de Amy Agora havia dois ursos-polares grandes como automóveis encostados ao vidro, a poucos centímetros do rosto de Amy, o pelo branco ondulando ao movimento da água.
- Olhem só - exclamou alguém.
Era a mulher que Lacey tinha visto perto do mapa. Ela estava parada ao lado das duas, segurando o bebê pelas axilas diante do vidro, como uma boneca. A mulher, cujo cabelo estava preso num rabo de cavalo apertado, usava short, camiseta e chinelos de borracha. Lacey pôde perceber, por entre as dobras da camiseta, a barriga ainda frouxa da gravidez. O marido estava atrás, vigiando o carrinho vazio e segurando a máquina fotográfica.
- Acho que eles gostam de você - disse a mulher a Amy. - Olhe, querida falou para seu bebê, sacudíndo-o e fazendo seus braços balançarem como as asas de um pássaro. - Olhe os ursos. Olhe os ursinhos, neném. Querido, tire uma foto. Tire... uma... foto.
- Não dá - disse o homem. - A posição não está boa. Vire ela para cá. A mulher suspirou irritada.
- Ande com isso, tire logo a foto enquanto ela está sorrindo. É tão difícil assim? Lacey observava isso quando aconteceu: um segundo mergulho, e então, antes
que pudesse virar a cabeça, um terceiro. Sentiu o vidro começar a ceder. Uma crista de água subiu por cima da borda do tanque e começou a cair, a multidão percebendo o que acontecia, mas sem qualquer reação.
- Cuidado!
A água gelada atingiu Lacey como um tapa, enchendo seu nariz, a boca e os olhos com um gosto de sal e lançando-a para trás. Gritos irromperam por toda parte. Ouviu o choro do bebê, e depois a mãe gritando saiam, saiam. Corpos se espremeram contra o dela. Lacey percebeu que tinha fechado os olhos por causa da ardência do sal. Tombou para trás, os pés tropeçando em alguma coisa, e caiu sobre um monte de gente. Esperou pelo som do vidro se quebrando, a pancada da água liberada.
- Amy!
Abriu os olhos. Um homem olhava para ela, o rosto a centímetros do seu. Era o homem da máquina fotográfica. A multidão ao redor tinha se acalmado. O vidro não se rompera, afinal.
- Desculpe - disse o homem. - A senhora está bem, irmã? Devo ter tropeçado.
- Que droga! - gritou a mulher.
Ela estava parada de pé junto deles, as roupas e o cabelo totalmente encharcados. O bebê gritava aninhado em seu ombro. O rosto dela estava furioso.
- O que sua menina fez?
Lacey percebeu que a mulher estava falando com ela.
- Desculpe - começou. - Eu não...
- Olhe para ela!
A multidão havia recuado, todos os olhares agora fixos na garotinha de mochila ajoelhada diante do tanque com as mãos no vidro e quatro ursos-polares amontoados junto a elas do outro lado.
Lacey se colocou de pé e agiu rapidamente. A cabeça da menina estava abaixada, a água ainda escorrendo por seu corpo. Viu os lábios dela se mexendo, como em oração.
- Amy, o que foi?
- Essa menina está falando com os ursos! - disse uma voz, e um burburinho de espanto se ergueu da multidão. - Olhem só!
Câmeras começaram a clicar. Lacey se agachou ao lado de Amy e usou os dedos para afastar do rosto da menina algumas mechas de cabelo. As bochechas dela estavam cheias de lágrimas, misturadas a toda a água do tanque. Algo estava acontecendo.
- Diga, querida.
- Eles sabem - respondeu Amy, ainda encostada no vidro.
- O que os ursos sabem?
A garota ergueu o rosto. Lacey estava pasma. Nunca vira tanta tristeza no rosto de uma criança, tanto sofrimento, um sofrimento de quem sabe das coisas. E no entanto, ao examinar os olhos de Amy, não viu medo. O que quer que Amy tivesse descoberto, havia aceitado.
- O que eu sou - disse ela.
Sentada na cozinha do Convento das Irmãs da Misericórdia, irmã Arnette havia tomado uma decisão.
Deram nove horas, depois 10, e Lacey e a menina não tinham voltado. Irmã Claire acabara entregando a história: Lacey perdera a missa e as duas saíram pouco depois, a menina com a mochila. Tinha escutado as duas saírem e observado pela janela enquanto passavam pelo portão dos fundos e seguiam em direção ao parque.
Lacey estava aprontando alguma coisa. Arnette deveria ter percebido antes.
A história da garota não fazia sentido, ela soubera na hora, ou, se não soubera, certamente avia pressentido alguma coisa, um fio de suspeita que crescera durante a noite até se tornar a certeza de que algo estava errado. Como a Srta. Clavel em Madeline, irmã Arnette sabia.
E agora, exatamente como na história, uma menininha havia sumido.
Nenhuma das outras irmãs conhecia a verdade sobre Lacey. Nem Arnette soubera toda a história até que a madre superiora lhe mandasse o relatório psiquiátrico. Arnette se lembrou de ter ouvido algo a respeito no noticiário, muitos anos antes, mas aquele não era o tipo de coisa que acontecia com freqüência, principalmente na África? Aqueles países pequenos e medonhos onde a vida não parecia significar nada, onde a vontade de Deus era mais estranha e incompreensível que em qualquer outra parte? Era de partir o coração, de causar horror, mas a mente só podia reter uma quantidade limitada de histórias assim, e Arnette havia se esquecido totalmente disso.
Agora ali estava Lacey, sob seus cuidados, sem que ninguém mais soubesse a verdade. Lacey, ela tinha de admitir, era uma freira exemplar em quase todos os aspectos, ainda que um pouco retraída, talvez um pouquinho mística demais em sua devoção. Ela dizia, e sem dúvida também acreditava, que o pai, a mãe e as irmãs ainda estavam em Serra Leoa, indo a bailes em palácios e cavalgando seus pôneis em partidas de polo. Desde o dia em que fora encontrada escondida em um campo pelos soldados da Força de Paz da ONU que a encaminharam às freiras, Lacey jamais havia contado outra versão. Era a misericórdia divina, com certeza, a misericórdia de Deus protegendo-a da lembrança do que havia acontecido. Porque depois de matarem sua família, os guerrilheiros não foram simplesmente embora, fizeram o que bem entenderam com Lacey no campo por horas e horas, e a garotinha que deixaram para trás, pensando que estivesse morta, podia mesmo estar, se Deus não a tivesse protegido, apagando os acontecimentos de sua mente. O fato de Ele ter optado por não levá-la naquele dia era uma expressão de Sua vontade, e Arnette não a questionava. Esse conhecimento e a preocupação que vinha com ele eram um fardo que tinha de suportar em silêncio.
Mas agora havia a menina. Amy. Muito educada, quieta como um camundongo, mas não havia algo muito estranho naquilo tudo? Algo completamente inacreditável? Agora que pensava nisso, a explicação de Lacey fazia menos sentido ainda. Ela, amiga da mãe da menina? Impossível. A não ser para ir à missa, Lacey não punha os pés fora dali. Arnette não podia imaginar como teria feito contato com uma mulher, quanto mais uma mulher que lhe confiasse a filha. Não havia explicação: a história era mentira. E agora as duas haviam sumido.
Sentada na cozinha, às 10 e meia da manhã, irmã Arnette soube o que deveria fazer.
Mas o que diria? Por onde começar? Por Amy? Nenhuma das outras freiras parecia saber de nada. A garota havia chegado quando Lacey estava sozinha em casa, como acontecia com freqüência - Arnette havia tentado instigá-la diversas vezes a sair, passar o dia com elas na cozinha comunitária ou ir ao supermercado ou qualquer outro lugar, mas Lacey sempre recusava, seu rosto irradiando uma expressão vazia de contentamento que logo encerrava o assunto. Não, obrigada, irmã. Talvez outro dia. Três, quatro anos assim, e agora a garota havia aparecido do nada e Lacey afirmava conhecê-la. Então, se ligasse para a polícia, sabia que teria de começar contando a história sobre Lacey em um campo na África.
Arnette pegou o telefone.
- Irmã?
Ela se virou: era irmã Claire. Claire, que tinha acabado de entrar na cozinha, ainda usando o agasalho de moletom, quando já deveria ter posto a roupa comum. Claire, que fora corretora de imóveis, que não somente fora casada como também divorciada. Claire, que ainda mantinha no armário um par de sapatos de salto alto e um vestido de festa preto. Mas esse era um problema totalmente diferente, não era nisso que tinha de pensar agora.
- Irmã - disse Claire, preocupada. - Há um carro lá fora. Arnette desligou o telefone.
- Quem é? Claire hesitou.
- Parece... a polícia.
Arnette chegou à porta da frente no momento em que a campainha tocava. Puxou a cortina da janela para olhar. Dois homens - um deles com uns 20 e poucos anos, o outro mais velho, mas, ainda assim, alguém que ela consideraria jovem. Ambos pareciam agentes funerários, de terno escuro e gravata. Policiais, mas não exatamente. Com certeza algo sério, oficial. Estavam parados ao sol na base da escada, longe da porta. O mais velho a avistou e deu um sorriso amigável, porém não disse nada. Tinha boa aparência, mas não uma beleza que chamasse a atenção. Parecia estar em boa forma física e tinha o rosto agradável e bem formado. Alguns fios grisalhos apareciam nas têmporas, que brilhavam levemente com o suor.
- Devemos abrir? - perguntou Claire, parada atrás dela. Irmã Louise tinha ouvido a campainha e descido também.
Arnette respirou fundo, tentando se acalmar. - Claro, irmãs.
Abriu a porta, mas deixou a parte externa, de tela, fechada com o trinco. Os dois homens se adiantaram.
- Em que posso ajudá-los, senhores?
O mais velho enfiou a mão no bolso do paletó e pegou uma pequena carteira dobrada. Abriu-a e, num relance, ela viu a sigla: FBI.
- Irmã, sou o agente especial Wolgast. Este é o agente especial Doyle.
Num instante a carteira havia sumido novamente nas entranhas do paletó. Ela viu um corte no queixo do homem: ele devia ter-se cortado ao se barbear.
- Desculpe incomodá-la numa manhã de sábado...
- É a respeito de Amy - disse Arnette.
Não podia explicar, mas as palavras simplesmente pularam de sua boca, como se o homem de algum modo a tivesse obrigado a falar. Quando ele não respondeu, ela continuou:
- É isso, não é? Estão aqui por causa de Amy.
O agente mais velho - seu nome já lhe fugira à memória - olhou para irmã Louise, atrás de Arnette, com um sorriso rápido, tranquilizador, antes de voltar novamente o olhar a Arnette.
- Sim, senhora. Isso mesmo. É a respeito de Amy. Será que poderíamos entrar? Gostaríamos de lhes fazer algumas perguntas.
E no instante seguinte estavam na sala do Convento das Irmãs da Misericórdia: dois homens grandes de terno escuro, cheirando a suor masculino. Sua presença enorme pareceu mudar a atmosfera da sala, tornando-a menor. A não ser por algum profissional fazendo consertos ou uma visita do padre Fagan, da reitoria, nenhum outro homem jamais entrava na casa.
- Desculpem-me, senhores - disse Arnette -, mas poderiam dizer seus nomes de novo?
- Claro.
Mais um sorriso confiante, agradável. Até agora o mais novo não havia aberto a boca.
- Sou o agente Wolgast e este é o agente Doyle. - Ele olhou ao redor. - Então, Amy está aqui?
- O que os senhores querem com ela? - irmã Claire interveio.
- Infelizmente, não posso dizer tudo às senhoras, para sua própria segurança. Mas devem saber que Amy é uma testemunha federal. Estamos aqui para colocá-la sob proteção.
Proteção federal! O peito de Arnette se apertou de pânico. Era pior do que havia pensado. Proteção federal! Como naqueles seriados da TV a que ela não gostava de assistir mas que às vezes via porque as outras irmãs queriam.
- O que Lacey fez?
As sobrancelhas do agente se ergueram com interesse.
Lacey?
Ele estava tentando fingir que sabia, abrir espaço para que ela falasse, de modo a extrair informações. Arnette podia ver isso claramente. Mas fora exatamente isso o que ela fizera: tinha dado a eles o nome de Lacey. Ninguém dissera nada sobre Lacey, a não ser Arnette. Pôde sentir a pressão do silêncio das outras irmãs atrás dela.
- Irmã Lacey - explicou ela - nos disse que a mãe de Amy era sua amiga.
- Sei. - Ele olhou para o outro agente e assentiu. - Bem, talvez seja melhor falarmos com ela também.
- Estamos correndo algum perigo? - perguntou irmã Louise. Irmã Arnette se virou para ela com uma careta que a fez se calar.
- Irmã, sei que sua intenção é boa. Mas me deixe cuidar disso, por favor.
- Eu não diria que correm perigo, não exatamente - explicou o homem -, mas acho que seria melhor se pudéssemos vê-la. Ela está em casa?
- Não.
Quem respondeu foi irmã Claire. Estava de pé, com ar de desafio, os braços cruzados diante do peito.
- Elas saíram. Há mais de uma hora.
- Sabem aonde elas foram?
Por um momento, ninguém disse nada. Então o telefone tocou.
- Com licença, senhores - disse Arnette.
Ela foi até a cozinha. Seu coração martelava. Sentia-se grata pela interrupção, já que lhe daria algum tempo para pensar. Mas quando atendeu ao telefone, não reconheceu a voz do outro lado.
- É do convento? Sei que já vi as senhoras nas redondezas. Perdoe-me por estar ligando assim.
- Quem é?
- Desculpe - ele falava com pressa, a voz alterada. - Meu nome é Joe Murphy. Sou chefe de segurança do Zoológico de Memphis.
Havia algum tipo de agitação ao fundo. Por um momento, ele falou com outra pessoa: Apenas abra o portão. Faça isso agora. Depois voltou ao telefone:
- A senhora sabe alguma coisa sobre uma freira que está aqui com uma menininha? Uma moça negra, vestida como vocês.
Um zunido vazio, como um enxame de abelhas invisíveis, tomou irmã Arnette. Numa manhã perfeitamente agradável algo havia acontecido, algo terrível. A porta da cozinha se abriu e os agentes entraram, seguidos pelas irmãs Claire e Louise. Todos estavam olhando para ela.
- Sim, sim, eu a conheço. - Arnette se esforçava para manter a voz baixa, mas sabia que era inútil. - O que houve? O que está acontecendo?
O som ficou abafado. O homem do zoológico havia tapado o fone. Quando tirou a mão, ela ouviu gritos, crianças chorando e, por trás disso tudo, outra coisa: o som de animais. Macacos, leões, elefantes e pássaros, guinchando e rugindo. Arnette levou um momento para perceber que não estava ouvindo aqueles sons apenas pelo telefone. Eles também vinham pela janela, atravessando o parque e entrando na cozinha.
- O que está acontecendo? - implorou.
- É melhor vir até aqui, irmã - respondeu o homem. - É a coisa mais espantosa que já vi.
Lacey corria quase sem fôlego, encharcada até os ossos: ela agora tinha Amy no colo, as pernas da menina apertadas com força ao redor de sua cintura, as duas perdidas no labirinto de caminhos do zoológico. A menina chorava, soluçando na blusa de Lacey - o que eu sou, dizia, o que eu sou. Outras pessoas também corriam. Havia começado com os ursos, cujos movimentos foram ficando mais e mais frenéticos, até que Lacey empurrou Amy para longe do vidro. Em seguida, atrás delas, os leões-marinhos começaram a entrar e sair da água com uma fúria maníaca. Logo depois, enquanto elas corriam em direção ao centro do zoológico, foi a vez das gazelas, zebras, ocapis e girafas irromperem em círculos loucos, correndo e se lançando contra as cercas.
Amy estava causando isso, Lacey sabia. Aquilo tudo tinha algo a ver com Amy. O que quer que houvesse acontecido com os ursos-polares estava se repetindo com tudo agora, não somente com os animais mas também com as pessoas, uma onda de caos se espalhando por todo o zoológico. Passaram pelos elefantes e ela sentiu imediatamente seu tamanho e força, os pés imensos batendo no chão e as trombas se levantando para bramir no calor de Memphis. Um rinoceronte se lançou contra a cerca, provocando um estrondo como em um acidente de carro, e começou a golpeá-la furiosamente com o chifre enorme. De repente o lugar estava tomado por aqueles sons, poderosos, terríveis e cheios de dor, e as pessoas corriam de um lado para o outro chamando seus filhos, se acotovelando, puxando e empurrando, a multidão abrindo caminho para Lacey enquanto ela corria com Amy.
- É ela! - gritou uma voz, e as palavras acertaram Lacey por trás como uma flecha.
Lacey girou e viu o homem com a máquina fotográfica apontar um dedo comprido em sua direção. Ele estava parado ao lado de um segurança que vestia um uniforme amarelo.
- É aquela menina!
Ainda apertando Amy, Lacey continuou correndo, passando por jaulas de macacos guinchando, uma lagoa onde os cisnes grasnavam e batiam inutilmente as asas enormes, jaulas altas explodindo com gritos de pássaros da selva. A multidão aterrorizada saía aos borbotões do pavilhão dos répteis. Um grupo de crianças em um passeio escolar - todas apavoradas e vestindo camisetas vermelhas iguais - entrou no caminho de Lacey, que quase caiu ao desviar, mas de algum modo continuou de pé. O chão à sua frente estava coberto dos vestígios da fuga em massa: mapas, peças de roupas e bolas de sorvete grudadas a pedaços de papel. Um grupo de homens ofegantes passou correndo a toda a velocidade, um deles carregando uma arma. Em algum lugar uma voz anunciava com calma quase robótica:
- O zoológico está fechado. Por favor, dirijam-se rapidamente à saída mais próxima. O zoológico está fechado...
Lacey corria em círculos, procurando uma saída, sem encontrar. Os leões rugiam e os babuínos guinchavam, juntamente com os suricates e os macacos que ela costumava escutar de seu quarto nas noites de verão. Os sons vinham de toda parte, enchendo sua mente como um coro, ricocheteando como balas num tiroteio, como o tiroteio no campo, como a voz de sua mãe gritando de casa: fujam, crianças, corram o mais depressa que puderem
Lacey parou. E foi então que o sentiu. A sombra. O homem que não estava ali, mas estava. Ele vinha pegar Amy, agora Lacey sabia. Era o que os animais estavam dizendo a ela. O homem sombrio levaria Amy para aquele campo cheio de galhos, os galhos para os quais Lacey olhara deitada no chão por horas e horas, vendo o céu, da noite empalidecer até o raiar do dia, ouvindo os sons do que estava acontecendo com ela e os gritos vindos de sua boca. Mas Lacey havia mandado a mente para longe do corpo, subindo cada vez mais alto, através dos galhos, até chegar ao céu, onde Deus estava, e a menina no campo era outra pessoa, alguém de quem ela não se lembraria, e o mundo havia sido envolto numa luz quente que a manteria segura para sempre.
Lacey sentia um gosto pungente de sal na boca, mas não era somente a água do tanque. Agora ela também chorava, enxergando o caminho através de um véu de lágrimas, segurando Amy com força enquanto corria. Foi então que viu o quiosque. Ele apareceu diante dela como um farol, o quiosque com o enorme guarda-sol onde ela comprara amendoim, e mais adiante, aberto como uma boca, o amplo portão da saída. Guardas com camisas amarelas gritavam nos walkie-talkies e sinalizavam com urgência para que as pessoas passassem. Lacey respirou fundo e se meteu no meio da multidão, segurando Amy junto ao peito.
Estava a pouco mais de um metro da saída quando a mão de alguém segurou seu braço. Ela se virou rapidamente: era um dos guardas. Com a mão livre, ele gesticulou para alguém por cima da cabeça, apertando seu braço com mais força.
Lacey. Lacey.
- Senhora, por favor, venha comigo.
Lacey não hesitou. Impeliu o corpo para a frente com toda a força que lhe restava e sentiu a multidão ceder. Atrás dela ouviu os grunhidos e gritos das pessoas caindo enquanto ela se soltava, e o guarda gritando, mandando-a parar. Mas agora as duas haviam passado pelo portão, e corriam pelo caminho que levava ao estacionamento. O som de sirenes se aproximava. Ela estava suando e ofegante, e sabia que a qualquer momento poderia cair. Não sabia para onde estava indo, mas isso não importava. Para longe, pensou. Corram o mais depressa que puderem. Corra para longe com Amy.
Então, vindo de algum lugar no zoológico, ouviu um tiro. O som cortou o ar, imobilizando Lacey. No silêncio súbito que se seguiu, viu uma van chegar derrapando e parar bem na sua frente. Amy estava prostrada de encontro ao seu peito. Era a van das irmãs, a grande van azul na qual iam à cozinha comunitária e saíam para fazer compras na cidade. Irmã Claire estava dirigindo, ainda usando o agasalho de moletom. Um segundo veículo, um sedã preto, parou atrás da van enquanto irmã Arnette descia do banco do carona. Ao redor, a multidão corria e carros saíam do estacionamento a toda a velocidade.
- Lacey, o que...
Dois homens saíram do segundo veículo. As trevas emanavam deles. Lacey sentiu um aperto no coração e sua voz parou na garganta, como uma rolha. Não precisava olhar para eles para ver o que eram. Tarde demais! Tudo perdido!
- Não! - gritou ela, recuando. - Não! Arnette agarrou-a pelo braço.
- Irmã, contenha-se!
Pessoas a puxavam. Mãos tentavam soltar a menina dela. Lacey continuou segurando, apertando a menina contra o peito com toda a força que lhe restava.
- Não os deixem levá-la! - gritava. - Socorro!
- Irmã Lacey, esses homens são do FBI! Por favor, faça o que eles pedem!
- Não a levem! - Agora Lacey estava no chão. - Não a levem! Não a levem! Fora Arnette, no fim, quem acabara afastando Amy de Lacey. Como acontecera no campo, Lacey chutava, lutava e gritava.
- Amy, Amy!
Então ela se sacudiu em um soluço descontrolado, as últimas forças deixando seu corpo, um vazio à sua volta quando Amy foi levada. Ouviu a voz da menina gritando por ela: Lacey, Lacey, Lacey, e então o som abafado das portas do carro se fechando, enquanto Amy era lacrada lá dentro. Ouviu o som de um motor, rodas girando, um carro se afastando a toda a velocidade. Seu rosto estava enterrado nas mãos.
- Não me levem, não me levem - soluçava. - Não me levem, não me levem, não me levem.
Claire estava ao seu lado agora. Ela passou o braço em volta dos ombros trêmulos de Lacey.
- Irmã, está tudo bem - disse, e Lacey pôde ver que ela também chorava. - Está tudo bem, você está segura agora.
Mas não estava tudo bem, e ela não estava segura. Ninguém estava seguro: nem Lacey, nem Claire, nem Arnette, nem a mulher com o bebê ou o guarda de camisa amarela. Agora Lacey sabia. Como Claire podia dizer que estava tudo bem? Porque não estava. Era isso o que as vozes vinham lhe dizendo durante todos aqueles anos, desde aquela noite no campo, quando era apenas uma menininha.
Lacey Antoinette Kudoto. Escute. Olhe.
Com os olhos da mente ela viu, viu tudo enfim: os exércitos passando e as chamas da batalha, as sepulturas, os poços e os gritos agonizantes de milhões de almas, a escuridão se espalhando como uma asa negra sobre a terra, as últimas horas amargas de crueldade e tristeza, as terríveis lutas finais, o grande domínio da morte sobre tudo, e, finalmente, as cidades vazias, inertes no silêncio de um
século. Tudo isso se aproximava. Lacey chorou, e chorou mais. Porque, sentada ali, naquele meio-fio em Memphis, no Tennessee, viu Amy também. Sua Amy, que ela não conseguira salvar, como não poderia salvar a si mesma. Amy, imobilizada no tempo e sem um nome, vagando para sempre num mundo esquecido e sem luz, sozinha e sem voz, a não ser para dizer: O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou.
SETE
Carter estava em um lugar frio. Foi a primeira coisa que percebeu. Primeiro o levaram para fora do avião - ele nunca havia andado de avião e teria preferido se sentar perto da janela, mas o haviam enfiado nos fundos junto com todas as sacolas de lona, o pulso esquerdo acorrentado a um ferro e dois soldados o vigiando -, e quando saiu no topo da escada que levava até a pista, o frio golpeou seus pulmões. Carter já sentira frio antes - era impossível dormir embaixo de um viaduto em Houston em janeiro e não saber o que era frio -, mas aquele frio era diferente, tão seco que dava para sentir os lábios repuxando. Seus ouvidos haviam ficado entupidos também. Era tarde, não dava para saber a hora, mas o aeroporto estava iluminado como um pátio de cadeia. Do topo da escada, Carter contou uma dúzia de aviões, todos grandes e gordos, com portas enormes abertas na traseira, e viu empilhadeiras que se moviam de um lado para o outro no asfalto, carregando engradados cobertos com tecido de camuflagem. Imaginou se o transformariam em uma espécie de soldado, se havia trocado a vida por isso.
Wolgast - lembrava-se do nome. Era estranho como se pegara confiando no sujeito. Carter não confiava em ninguém havia muito, muito tempo. Mas algo em Wolgast o fazia pensar que o cara se importava com ele.
Os pulsos e os pés de Carter estavam algemados. Ele desceu com cuidado a escada, tentando manter o equilíbrio, com um soldado à sua frente e outro atrás. Nenhum dos dois tinha dito nada a ele e nem falado com o outro. Carter estava usando um agasalho por cima do macacão, mas o zíper estava aberto por causa das correntes, e o vento o atravessava com facilidade.
Levaram-no pela pista cheia de poças até um hangar muito iluminado, onde uma van os aguardava com o motor ligado. A porta se abriu quando se aproximaram.
O primeiro soldado o cutucou com o fuzil.
- Entre - ordenou ele.
Carter obedeceu, depois ouviu acelerarem o motor, e a porta se fechou. Pelo menos os bancos eram confortáveis, não como o assento duro do avião. A única luz vinha de uma pequena lâmpada no teto. Ouviu duas batidas na porta e a van deu partida.
Tinha cochilado no avião e não estava cansado a ponto de dormir mais. Sem janelas e sem ter como saber as horas, não tinha noção de distância nem de direção. Mas havia ficado sentado sem ter o que fazer durante meses. Algumas horas a mais não seriam nada que ele não pudesse agüentar. Deixou a mente se esvaziar. O tempo passou, então sentiu a van diminuindo a velocidade. Do outro lado da parede que o isolava do motorista, ouviu o som abafado de vozes, mas não sabia do que se tratava. A van avançou por mais alguns metros e então parou.
A porta se abriu rebelando dois soldados que batiam os pés para espantar o frio, garotos brancos vestindo agasalhos por cima dos uniformes. Atrás dos soldados, o oásis iluminado de um McDonald's brilhava na escuridão. Carter ouviu o som do tráfego e achou que deviam estar em alguma rodovia. Apesar de ainda estar escuro, algo no céu dava a sensação de que era manhã. As pernas e os braços estavam dormentes de tanto ficar sentado.
- Pegue - disse um dos guardas e lhe jogou um saco de papel. Ele notou que o outro guarda dava as últimas mordidas em um sanduíche. - Café da manhã.
Carter abriu o saco, que continha um Egg Muffin, batata frita e um copo de suco. Sua garganta estava totalmente seca por causa do frio, e ele desejou que houvesse mais suco, ou pelo menos água. Bebeu-o depressa. Era tão doce que fez seus dentes trincarem.
- Obrigado.
O soldado cobriu um bocejo com a mão. Carter se perguntou por que estariam sendo tão gentis. Não pareciam nem um pouco com Beliscão e os outros. Tinham armas na cintura, mas não se comportavam como se isso fosse uma grande coisa.
Ainda temos duas horas de viagem pela frente - disse o soldado, enquanto Carter terminava de comer. - Precisa ir ao banheiro?
Carter não urinava desde o avião, mas estava tão seco por dentro que não imaginava que isso fosse necessário. Sempre fora assim, conseguia segurar a urina durante horas a fio. Mas pensou no McDonalds, nas pessoas lá dentro, no cheiro de comida e nas luzes fortes, e decidiu que gostaria de ver aquilo.
- Acho que sim.
O soldado subiu na van, as botas pesadas ressoando no piso de metal. Agachando-se no espaço minúsculo, tirou uma chave brilhante de uma bolsinha no cinturão e abriu as algemas. Anthony pôde ver o rosto dele de perto. Era ruivo e não devia ter mais de 20 anos.
- Nada de gracinhas, certo? - disse ele a Anthony. - Na verdade, não deveríamos soltar você.
- Pode deixar, chefe.
Vamos, e feche o casaco. Aqui fora está um frio do cacete.
Levaram-no pelo estacionamento, um de cada lado, mas sem encostar nele. Carter não conseguia se lembrar da última vez que havia ido a algum lugar sem que a mão de alguém estivesse segurando alguma parte do seu corpo. A maioria dos carros no estacionamento tinha placa do Colorado. O ar cheirava a limpeza, a desinfetante, e ele sentiu a presença das imponentes montanhas em volta. Havia também neve no chão, acumulada contra os limites do estacionamento e coberta de gelo. Ele só vira neve uma ou duas vezes na vida.
Os soldados bateram à porta do banheiro e, quando ninguém respondeu, deixaram Carter entrar. Um deles o seguiu, enquanto o outro ficou vigiando a porta. Havia dois mictórios, e Carter ocupou um. O soldado que estava com ele ocupou o outro.
- Mãos onde eu possa ver - disse o soldado, e riu. - Só estou brincando. Carter acabou de urinar e foi até a pia lavar as mãos. Os McDonalds de que se lembrava, em Houston, eram bem sujos, sobretudo os banheiros. Quando morava na rua, costumava usar um na Montrose para se lavar de vez em quando, até que o gerente um dia o pegou e o expulsou de vez. Mas esse era bonito e limpo, com sabonete de perfume floral e um vasinho de plantas ao lado da pia. Ele lavou demoradamente as mãos, deixando a água quente correr na pele.
- Agora colocam plantas nos McDonalds? - perguntou ao soldado.
O soldado lhe lançou um olhar perplexo, depois explodiu em uma gargalhada.
- Quanto tempo você esteve trancafiado? Carter não sabia o que era tão engraçado.
- A maior parte da vida - respondeu.
Quando saíram do banheiro, o outro soldado já estava na fila da caixa. Nenhum dos dois havia encostado a mão nele. Carter olhou vagarosamente ao redor: dois homens sentados sozinhos, uma ou duas famílias, uma mulher com um adolescente que brincava com um videogame portátil. Todos brancos.
Chegaram ao balcão e o soldado pediu café.
Você quer mais alguma coisa? - perguntou ele a Carter. Carter pensou por um momento.
- Aqui tem chá gelado?
- Vocês têm chá gelado? - perguntou o soldado à garota atrás do balcão. Ela deu de ombros, mastigando ruidosamente um chiclete.
Temos chá quente.
O soldado olhou para Carter, que balançou a cabeça.
- Só o café, então.
Os nomes dos soldados eram Paulson e Davis. Eles se apresentaram quando voltaram à van. Um deles era de Connecticut e o outro, do Novo México, mas Carter confundiu quem era de onde, e não achou que isso faria muita diferença, já que nunca estivera em nenhum dos dois lugares. Davis era o ruivo. Durante o restante da viagem, a janelinha do painel que separava os dois compartimentos da van permaneceu aberta, e os soldados deixaram Carter sem algemas. Estavam no Colorado, como ele pensara, mas sempre que chegavam a uma placa rodoviária, os dois o mandavam fechar os olhos, rindo como se aquilo fosse uma grande piada.
Depois de algum tempo, saíram da interestadual e pegaram uma estrada rural que serpenteava pelas montanhas. Sentado no banco da frente do compartimento de passageiros, Carter podia ver um pouquinho do mundo pelo pára-brisa. A neve se acumulava nos acostamentos. Não parecia haver cidades por perto: só de vez em quando um carro se aproximava em sentido contrário, um clarão seguido pelo som de neve batendo contra a lataria. Nunca estivera em um lugar assim, com tão pouca gente. O relógio no painel mostrava que eram pouco mais de seis da manhã.
- Está frio - disse Carter.
Paulson estava dirigindo e Davis lia um quadrinho.
- É isso aí - respondeu Paulson. - Mais frio que o colete ortopédico de Beth Pope.
- Quem é Beth Pope?
Paulson deu de ombros, espiando pelo retrovisor.
- Uma garota que eu conheci no colégio. Tinha... Como é mesmo o nome daquilo? Escoliose.
Carter não sabia o que era. Mas Paulson e Davis acharam tudo muito engraçado. Se o serviço que Wolgast tinha para ele significava trabalhar com aqueles dois, ele ficaria satisfeito.
- Essa revistinha é do Aquaman? - perguntou Carter a Davis.
Davis lhe passou dois quadrinhos, um da Liga da Justiça e o outro dos X-Men. Estava escuro demais para ler as palavras, mas Carter gostava de olhar os desenhos, que de qualquer jeito contavam a história. Aquele tal de Wolverine era sinistro. Carter sempre havia gostado dele, mas sentia pena, também. Não podia ser divertido ter todo aquele metal nos ossos, e alguém de quem ele gostava sempre acabava morrendo.
Aproximadamente uma hora depois, Paulson parou a van e se virou para Carter.
- Desculpe, meu chapa. Temos de algemar você de novo.
- Tudo bem - respondeu Carter, e assentiu. - Foi legal ter passado esse tempo solto.
Davis saiu do carro. A porta traseira se abriu e uma lufada de ar frio entrou.
Davis algemou Carter novamente e colocou a chave no bolso.
- Confortável?
Carter assentiu.
- Quanto falta para a gente chegar?
- Não muito.
A van seguiu adiante. Agora dava para ver que estavam subindo uma serra. Carter não podia ver o céu, mas achou que logo ficaria claro. Diminuíram a velocidade para atravessar uma ponte comprida, o vento sacudindo a van.
Quando chegaram ao outro lado da ponte, Paulson o encarou pelo retrovisor.
- Sabe, você não se parece com os outros. O que você fez, afinal? Se não se importa que eu pergunte...
- Que outros?
- Você sabe. Outros caras como você. Condenados. Ele se virou para Davis.
- Lembra daquele cara, o Babcock? Ele balançou a cabeça e riu.
- Minha nossa, que sujeito pirado. Olhou para Carter de novo.
- Aquele cara não era igual a você. Dá para ver que você é diferente.
- Não sou maluco - disse Carter. - O juiz disse que eu não era.
- Mas você apagou alguém, não foi? Senão não estaria aqui agora.
Carter se perguntou se responder a esse tipo de pergunta era algo que tinha de fazer, se fazia parte do trato.
- Dizem que eu matei uma mulher. Mas não foi por querer.
- Quem era ela? Esposa, namorada, algo assim?
Paulson ainda estava rindo para ele pelo retrovisor, os olhos brilhando de interesse.
- Não. - Carter engoliu em seco. - Eu cortava a grama da casa dela. Paulson riu e olhou de novo para Davis.
- Escute só. Ele cortava a grama dela. E olhou novamente para Carter.
- Um cara franzino como você. Como foi que a matou?
Carter não sabia o que dizer. Ele agora sentia algo ruim, como se os soldados só estivessem sendo legais para confundir sua cabeça.
- Vamos, Anthony. Compramos um sanduíche para você, lembra? Levamos você ao banheiro. Pode contar.
- Pelo amor de Deus - Davis repreendeu Paulson. - Cale a boca. Estamos quase chegando. De que adianta isso?
- O que adianta - respondeu Paulson, e respirou fundo - é que eu quero saber o que esse cara fez. Todos eles fizeram alguma coisa. Vamos, Anthony, qual é a sua história? Estuprou a dona antes de acabar com ela? Como foi?
Carter sentiu o rosto ficar vermelho de vergonha.
- Eu nunca faria isso - conseguiu dizer. Davis se virou para Carter.
- Não dê ouvidos a esse cabeça de merda. Você não precisa dizer nada.
- Qual é o cara é retardado. Não está vendo? Aposto que você comeu aquela dona branca e linda de quem cortava o gramado, não foi, Anthony?
Carter sentiu o ar preso na garganta.
- Não vou... dizer... mais nada.
- Sabe o que eles vão fazer com você? - perguntou Paulson. - Achou que ia dar esse passeio de graça?
- Droga. Cale essa boca - disse Davis. - Richards vai arrancar o nosso couro por causa disso.
- Ele que se foda também - reagiu Paulson.
- O homem... disse que tinham um trabalho para mim - conseguiu dizer Anthony. - Disse que era importante. Disse... que eu era especial.
- Especial - repetiu Paulson, zombando. - Você é especial mesmo. Seguiram em silêncio. Carter olhava para o chão da van, sentindo-se tonto e enjoado. Desejava não ter comido o sanduíche. Tinha começado a chorar. Não sabia quando fora a última vez que chorara. Ninguém nunca tinha dito nada sobre estuprar a mulher, não que ele lembrasse. Tinham perguntado sobre a menina, mas ele sempre havia afirmado que não, o que era verdade, jurava por Deus. Aquela menininha não teria mais de 5 anos. Ele só estava tentando lhe mostrar um sapo que encontrara na grama. Pensou que ela gostaria de ver algo assim, uma coisa pequenininha, que nem ela. Era só isso o que ele queria fazer, ser gentil. Ninguém nunca tinha feito nada assim para ele quando era pequeno. Venha aqui, querida, tenho uma coisa para lhe mostrar. É só uma coisa pequenininha, que nem você.
Pelo menos ele conhecia o presídio Terrell, sabia o que ia acontecer com ele lá. Ninguém tinha dito nada sobre estuprar a Sra. Wood. Naquele dia no quintal ela havia simplesmente ficado louca, gritando e batendo nele, mandando a menininha correr, e não foi culpa dele ela ter caído na piscina, ele só estava tentando chamá-la, dizendo que não tinha acontecido nada, que iria embora e nunca mais voltar, se era isso o que ela queria. Para ele, tudo bem, e tinha aceitado tudo o resto também. Mas então Wolgast apareceu e disse que ele não precisava tomar a injeção levando os pensamentos de Carter numa direção diferente, e agora olha onde ele estava. Nada daquilo fazia sentido. Aquela história toda o deixara enjoado e tremendo até os ossos.
Levantou a cabeça e encontrou Paulson rindo. Seus olhos se arregalaram.
- Buuu! - Paulson bateu no volante e explodiu numa gargalhada, como se tivesse acabado de contar a melhor piada do mundo. Depois fechou a janela do painel com força.
Wolgast e Doyle estavam agora em algum lugar no sul de Memphis, saindo de um dos subúrbios da cidade e passando por um labirinto de ruas residenciais. A coisa toda havia sido um desastre desde o início. Wolgast não fazia idéia do que acontecera no zoológico, tudo tinha virado uma loucura, e então a mulher, a velha freira, Arnette, praticamente nocauteara a outra para arrancar a menina dos braços dela.
A menina. Amy, sobrenome desconhecido. Não podia ter mais de 6 anos.
Wolgast estivera a ponto de desistir da coleta, mas então a freira negra soltou a menina, e a velha a entregou a Doyle, que a levou para o carro antes que Wolgast pudesse dizer mais uma palavra. Depois disso não havia mais nada a fazer, a não ser sair dali o mais rápido possível antes que a polícia local aparecesse e começasse a fazer perguntas. Quem sabia quantas testemunhas teriam visto aquilo? Tudo acontecera depressa demais.
Precisavam abandonar o carro. Precisavam ligar para Sykes. Precisavam sair do Tennessee, nessa ordem, e precisavam fazer tudo isso imediatamente. Amy estava deitada no banco de trás, olhando para o outro lado, agarrada ao coelho de pelúcia que havia tirado da mochila. Santo Deus, o que ele havia feito? Uma menininha de 6 anos!
Num bairro pavoroso de prédios e lojas caindo aos pedaços, Wolgast parou em um posto de gasolina e desligou o motor. Virou-se para Doyle. Nenhum dos dois havia aberto a boca desde o zoológico.
- O que é que você tem na cabeça?
- Brad, escute...
- Está maluco? Olhe para ela. É uma criança.
A coisa simplesmente aconteceu. - Doyle balançou a cabeça. - Estava tudo um caos. Talvez eu tenha feito merda, admito. Mas o que mais poderia fazer?
Wolgast respirou fundo, tentando se acalmar.
- Espere aqui.
Saiu do carro e digitou o número da linha criptografada de Sykes.
- Temos um problema.
- Vocês fizeram a coleta?
- Fizemos. Ela é uma criança, porra!
- Agente, sei que está com raiva...
- É claro que estou com raiva. E tivemos umas 50 testemunhas, a começar pelas freiras. Estou com vontade de largá-la na primeira delegacia que encontrar.
Sykes ficou quieto por um momento.
- Preciso que você se concentre, agente Wolgast. Vamos tirá-los do estado. Depois pensamos no que acontecerá em seguida.
- Não vai acontecer nada em seguida. Não é para isso que estou aqui.
- Entendo que tenha ficado chateado. E tem todo o direito de ficar. Onde vocês estão?
Wolgast respirou fundo, tentando controlar a raiva.
- Num posto de gasolina. No sul de Memphis.
- Ela está bem?
- Fisicamente, sim.
- Não faça nada de que possa se arrepender.
- Está me ameaçando? - perguntou Wolgast, mas, ao mesmo tempo que dizia as palavras, pôde enxergar a situação com uma clareza súbita, fria. O momento de desertar havia passado, no zoológico. Agora eles eram fugitivos.
- Não preciso fazer isso - respondeu Sykes. - Espere meu telefonema. Wolgast desligou o telefone e entrou no posto. O funcionário, um indiano de turbante, estava sentado atrás do vidro à prova de balas, assistindo a um programa religioso na TV. A menina provavelmente estava com fome. Wolgast pegou um pacote de biscoitos recheados e uma caixinha de achocolatado e se dirigiu ao balcão. Estava olhando para cima, observando as câmeras, quando o celular tocou em sua cintura. Pagou rapidamente e saiu.
- Posso arranjar outro carro perto de Little Rock - disse Sykes. - Mandarei um agente levá-lo até vocês se me derem um endereço.
Little Rock ficava a pelo menos duas horas dali. Demoraria demais. Dois homens de terno e uma menininha em um sedã preto certamente levantariam suspeitas. As freiras provavelmente tinham anotado o número da placa. Eles não conseguiriam passar pelo controle da ponte de jeito nenhum. Se houvessem denunciado o seqüestro da menina, o Alerta Amber já teria sido dado.
Wolgast olhou ao redor. Do outro lado da avenida, viu uma concessionária de carros usados, com flâmulas multicoloridas balançando por todo o estacionamento. A maioria dos carros era um lixo, bebedores de gasolina velhos cujos tanques ninguém mais agüentava encher. Um Chevy Tahoe com no mínimo 10 anos tava virado para a rua, com as palavras FINANCIAMENTO FÁCIL escritas no
pára-brisa.
Wolgast disse a Sykes o que pretendia fazer. Entregou a Doyle o leite e os biscoitos para Amy e atravessou correndo a pista. Um homem com óculos enormes e alguns fios de cabelo esticados sobre a careca saiu do escritório enquanto Wolgast se aproximava do Tahoe.
- Uma beleza, não é?
Ele conseguiu que o homem baixasse o preço para 6 mil, quase todo o dinheiro que lhe restava. Sykes teria de resolver isso também. Como era sábado, o registro da venda do carro só entraria no sistema do Departamento de Trânsito na segunda-feira de manhã. Até lá eles já teriam sumido havia muito tempo.
Doyle seguiu Wolgast no sedã até um prédio a pouco mais de um quilômetro dali. Largou o carro nos fundos, longe da rua, e levou Amy até o Tahoe. Não era perfeito, mas desde que Sykes conseguisse mantê-lo fora do sistema até o fim do dia, seria impossível rastreá-los. O interior do Tahoe cheirava um pouco demais a aromatizador de limão, mas fora isso estava limpo e era confortável, e não tinha rodado tanto, pouco mais de 140 mil quilômetros.
- Quanto você tem em dinheiro? - perguntou a Doyle.
Os dois somaram o dinheiro que tinham: pouco mais de 300 dólares. Gastariam pelo menos 200 para encher o tanque, mas isso os levaria até o oeste de Arkansas, talvez até Oklahoma. Alguém poderia encontrá-los no caminho com dinheiro e um novo veículo.
Viajaram até o limite do Mississippi e viraram para oeste na direção do rio. O dia estava claro, com apenas algumas nuvens no céu. No banco de trás, Amy estava deitada, imóvel como uma pedra. Não havia tocado na comida. Ela era apenas uma criancinha. Aquele negócio todo dava uma sensação de enjôo no estômago de Wolgast: o Tahoe era uma cena de crime ambulante. Mas por enquanto ele precisava se concentrar apenas em sair do estado. Depois disso, não sabia o que fazer.
Era quase uma hora quando se aproximaram da ponte.
- Acha que estamos safos? - perguntou Doyle. Wolgast manteve os olhos à frente.
- lá vamos descobrir.
Os portões estavam abertos, e não havia ninguém na guarita. Passaram facilmente, atravessando a amplidão do rio lamacento, inchado com o degelo da primavera. Abaixo deles, uma longa fila de barcaças seguia distraidamente para o norte, contra a corrente espumante. A placa do veículo seria registrada, mas o carro ainda estava no nome do vendedor. Levariam dias para examinar tudo, verificar o vídeo e ligá-los à menina e ao carro. Do outro lado, a estrada se reclinava em direção aos campos úmidos e férteis da planície aluvial do oeste Wolgast havia pensado cuidadosamente na rota: eles evitariam as cidades maiores até que estivessem perto de Little Rock. Ajustou o piloto automático para 90km/h, o limite da estrada, e virou novamente em direção ao norte, perguntando-se como Sykes soubera exatamente o que ele faria.
Quando a van que levava Anthony Carter parou no complexo, Richards dormia em sua sala com a cabeça recostada na mesa. Acordou com o barulho do interfone: era um dos soldados da guarita dizendo que Paulson e Davis estavam lá fora.
Richards esfregou os olhos e procurou colocar a mente em foco.
- Traga-os direto para cá.
Decidiu que deixaria Sykes dormir. Levantou-se e se espreguiçou, mandou que um dos integrantes da equipe médica e um dos seguranças o encontrassem lá em cima, vestiu o casaco e subiu a escadaria até o térreo. A área de descarga ficava nos fundos do prédio, no lado sul, de frente para a floresta e o desfiladeiro do rio. O complexo já funcionara como uma espécie de retiro para executivos e autoridades do governo. Richards não conhecia direito a história. O lugar permanecera fechado por mais de 10 anos, até ser ocupado pelo Departamento de Armas Especiais. Cole havia ordenado que o chalé fosse totalmente desmontado para que escavassem os andares inferiores e construíssem a central de energia, e depois mandara reconstruir o exterior exatamente como fora antes.
Richards saiu na escuridão e no frio. Um telhado amplo sobre a entrada de concreto mantinha a superfície livre da neve e impedia que a área fosse vista pelo restante do complexo. Olhou o relógio: 7h12. A essa altura, pensou, Anthony Carter devia estar psicologicamente arrasado. Os outros indivíduos haviam tido tempo para se ajustar. Mas Carter fora arrancado do corredor da morte e trazido até ali em menos de um dia. Sua cabeça devia estar dando voltas como uma secadora de roupas. O importante nas próximas duas horas era mantê-lo calmo.
O espaço foi invadido pela luz dos faróis da van que se aproximava. Richards desceu os degraus da área de descarga enquanto os seguranças, dois soldados armas na cintura, vinham correndo ao seu encontro. Richards mandou que mantivessem distância e deixassem as armas nos coldres. Tinha lido o dossiê Carter, e duvidava que ele fosse violento. O cara era basicamente dócil como um cordeiro.
Paulson desligou o motor e desceu da van. Havia um código para abertura da porta do veículo. Ele digitou os números e Richards viu a porta deslizar lentamente.
Carter estava sentado no banco traseiro, a cabeça baixa, mas dava para ver que seus olhos estavam abertos. As mãos algemadas estavam cruzadas no colo. Richards viu um saco do McDonald's amassado no chão, aos pés dele. Pelo menos tinham lhe dado comida. O painel que separava os compartimentos estava fechado.
- Anthony Carter?
Não houve resposta. Richards chamou o nome de novo. Nada, nem um tremor. Carter parecia totalmente catatônico.
Richards se afastou da porta e puxou Paulson de lado.
- O que aconteceu?
Paulson deu de ombros, como se perguntasse "o que eu tenho com isso?".
- Não faço a mínima idéia. O cara é pirado, sei lá.
- Não me venha com gracinhas, filho.
Richards voltou a atenção para Davis, o rapaz ruivo. Ele tinha uma pilha de quadrinhos no colo. Quadrinhos, pelo amor de Deus. São garotos, Richards pensou pela milésima vez.
- E você, soldado? - perguntou a Davis.
- Senhor?
- Não banque o idiota. Tem alguma coisa a dizer?
Davis desviou o olhar para Paulson, depois se voltou novamente para Richards.
- Não, senhor.
Richards decidiu que cuidaria dos dois mais tarde. Andou na direção da van. Carter não havia mexido um músculo. Richards podia ver que o nariz dele estava escorrendo, as bochechas riscadas de lágrimas.
- Anthony, meu nome é Richards. Sou o chefe de segurança destas instalações. Esses dois garotos não vão mais incomodar você, ouviu?
- Nós não fizemos nada - implorou Paulson. - Foi só uma brincadeira. Ei, Anthony, você não agüenta brincadeira?
Richards se virou rapidamente para encará-los de novo.
- Sabe aquela voz na sua cabeça, aquela que diz para calar a porra da boca? É melhor obedecê-la agora.
- Ah, qual é? - reclamou Paulson. - O cara é doente mental ou sei lá o quê. Qualquer um pode ver isso.
Richards sentiu o pouco que lhe restava de paciência evaporar. Que se danem. Sem dizer nada, puxou a arma que estava escondida nas costas: uma Springfield calibre 45 de cano longo que ele usava principalmente para fazer vista. Era uma arma enorme, ridiculamente grande. Mas, apesar do volume, ele podia segurá-la confortavelmente, e à luz da alvorada, ali na área de descarga, seu revestimento de titânio irradiava a ameaça de sua perfeita eficiência mecânica. Num único movimento, soltou a trava com o polegar e pôs um cartucho na câmara, e então puxou Paulson pela fivela do cinto e encostou o cano sob o queixo do rapaz.
- Você compreende - disse baixinho - que eu atiraria em você aqui mesmo, só para colocar um sorriso no rosto desse homem?
O corpo de Paulson se enrijeceu. Ele tentou virar os olhos para Davis, ou talvez para os seguranças, mas estava voltado para o lado errado.
- Mas que porra... - gaguejou, os músculos da garganta totalmente contraídos. Engoliu em seco, seu pomo de adão balançando contra o cano da arma. - Calma aí, chefe, está tudo bem.
- Anthony - chamou Richards, os olhos fixos nos de Paulson. - Você é quem decide, amigo. Está tudo bem?
Na van, um longo silêncio. Depois, baixinho:
- Está tudo bem.
- Tem certeza? Porque, se não estiver, quero que você me diga. A última palavra é sua.
Outra pausa.
- Está tudo bem.
- Ouviu? - disse Richards, virando-se para Paulson. Em seguida, soltou o cinto do soldado e guardou a arma. - O cara disse que está tudo bem.
Paulson parecia estar a ponto de chorar e chamar pela mãe. Na área de descarga, os seguranças explodiram em gargalhadas.
- A chave - ordenou Richards.
Paulson enfiou a mão no cinto e entregou-a a Richards. Suas mãos tremiam e o hálito cheirava a vômito.
- Pode ir - disse Richards.
Em seguida olhou para Davis, que segurava sua pilha de quadrinhos.
- Você também, Júnior. Saiam logo daqui, vocês dois, porra.
Paulson e Davis saíram correndo pela neve. Nos poucos minutos desde que a van havia parado, o sol se erguera por trás das montanhas, enchendo o ar de um brilho pálido. Richards se curvou para dentro da van e soltou as algemas de Carter. - Você está bem? Esses garotos machucaram você?
Carter esfregou o rosto úmido.
- Eles não fizeram por mal.
Em seguida, Carter girou os pés, desceu-os pesadamente até o chão, piscou e olhou ao redor.
- Eles já foram embora? Richards assentiu.
- Que lugar é este?
Boa pergunta - respondeu Richards, assentindo. - Tudo em seu devido tempo. Está com fome, Anthony?
- Eles me deram comida. Mcdonalds.
Os olhos de Carter encontraram os seguranças parados na área de desembarque, acima deles. Seu rosto continuava inexpressivo.
- E esses aí?
- Eles estão aqui por sua causa. Você é o convidado de honra, Anthony. Carter estreitou os olhos para Richards.
- O senhor ia mesmo atirar naquele cara se eu mandasse?
Algo a respeito de Carter o fez pensar em Sykes parado na sala com aquela expressão perdida no rosto, perguntando se eles eram amigos.
- O que você acha? Acha que eu deveria?
- Eu não sei o que pensar.
- Bom, cá entre nós, não. Eu não ia atirar. Só estava curtindo com a cara dele.
- Eu imaginei que o senhor estivesse brincando. - O rosto de Carter se abriu em um sorriso. - Mas achei engraçado o senhor fazer aquilo.
Ele balançou a cabeça, rindo um pouco, e olhou em volta de novo.
- O que vai acontecer agora?
- O que vai acontecer agora é que vamos levar você para dentro, onde está quente.
OITO
Ao anoitecer estavam a 80 quilômetros de Oklahoma City, disparando rumo a oeste através de uma pradaria aberta, indo de encontro a uma tempestade de primavera que surgia no horizonte como um jardim de flores se abrindo num vídeo acelerado. Doyle estava ferrado no sono no banco do carona do Tahoe, a cabeça encostada à janela e protegida dos solavancos da estrada por um casaco dobrado. Nesses momentos, Wolgast se pegava invejando a capacidade de Doyle de se desligar. Ele era capaz de apagar como um menino de 10 anos, baixar a cabeça e dormir praticamente em qualquer lugar. Wolgast estava morto de cansaço. Sabia que a decisão mais sensata seria parar e trocar de lugar com Doyie, cochilar um pouco. Mas havia dirigido desde Memphis, e a sensação do volante nas mãos era a única coisa que o fazia pensar que ainda tinha uma carta na manga.
Desde o telefonema para Sykes, o único contato entre os dois acontecera no estacionamento de uma pequena parada de caminhões perto de Little Rock, onde um agente os encontrara com um envelope de dinheiro - 3 mil dólares, tudo em notas de 20 e 50 - e outro carro, um sedã discreto do FBI. Mas àquela altura, Wolgast havia decidido que gostava do Tahoe e quis ficar com ele. Gostava do motor de oito cilindros, grande, forte, da direção que chiava e da suspensão dura. Não dirigia algo assim havia anos. Seria um desperdício mandar um carro daqueles para o compactador, e, quando o agente lhe ofereceu as chaves do sedã, ele as recusou sem pensar duas vezes.
- Há alguma coisa no sistema a nosso respeito? - perguntara ao agente, um recém-recrutado de rosto rosa como uma fatia de presunto.
O agente franziu a testa, confuso.
- Não sei de nada.
Wolgast pensou nisso.
- Bem - disse por fim. - Vamos tentar manter as coisas assim.
O agente o levou até a traseira do sedã e abriu o porta-malas. Havia uma sacola de nylon preta que ele não havia pedido, mas que esperava encontrar.
- Pode ficar com ela - disse Wolgast.
- Tem certeza? Era para eu entregá-la a você.
Wolgast virou o olhar na direção do Tahoe, que estava parado na entrada do estacionamento, entre dois trailers pequenos. Pelo vidro traseiro podia ver Doyle, mas não a garota, que estava deitada no banco de trás. Queria seguir adiante, mais que qualquer coisa. Ficar parado não era uma opção. Quanto à sacola, talvez precisasse dela, talvez não. Mas a decisão de deixá-la para trás parecia correta.
- Conte o que quiser no escritório - disse. - Bom mesmo seria que tivessem mandado uns livros para colorir.
- O quê?
Wolgast teria rido se estivesse de bom humor. Pôs a palma da mão na tampa do porta-malas e a empurrou.
- Não importa - disse.
A sacola tinha armas, claro, e munição, e talvez coletes à prova de balas. Provavelmente haveria um para a menina também - depois do que acontecera em Minneapolis, uma empresa de Ohio começara a fabricar coletes para crianças. Wolgast havia assistido a uma matéria sobre isso no programa Today. Na verdade já estavam fazendo até macacõezinhos à prova de balas para bebês. Que mundo é este!, pensou.
Agora, seis horas depois da parada em Little Rock, não se sentia nem um pouco arrependido de ter recusado a sacola. O que tivesse de acontecer aconteceria; parte dele queria que fossem pegos. Ao saírem de Little Rock, deixara o velocímetro chegar a 130km/h, tendo uma leve noção do que estava fazendo desafiando algum daqueles policiais que ficam escondidos na estrada a acabar com a coisa toda. Mas então Doyle lhe pedira para diminuir a velocidade - Ei, chefe, não é melhor tirar o pé do pedal um pouquinho? - e ele voltara a si.
Estivera pensando na cena - as luzes da patrulha piscando e um único toque rápido da sirene, ele parando o veículo no acostamento e pondo as mãos no volante, levantando os olhos para o retrovisor e vendo o policial informar pelo rádio o número de sua placa, dois adultos e uma criança em um veículo com registro provisório do Tennessee. Não demoraria muito até que descobrissem tudo, ligando-os à freira e ao zoológico. Sempre que imaginava a cena, não conseguia ver nada além do momento em que o policial teria uma das mãos no rádio e a outra repousando no cabo da arma. O que Sykes faria? Diria que os conhecia? Não, ele e Doyle seriam jogados na máquina de picar papel, assim como Anthony Carter.
Quanto à garota, ele não sabia.
Haviam contornado Oklahoma City, desviando do posto de controle da rodovia 1-40 e cortando a 1-35 por uma estradinha rural asfaltada, longe de qualquer câmera. O Tahoe não possuía GPS, mas Wolgast tinha um no celular. Dirigindo com uma das mãos ao volante e digitando agilmente as teclas minúsculas com o polegar, foi planejando a rota à medida que prosseguiam, uma colcha de retalhos de estradas estaduais e municipais, algumas de cascalho e outras de terra, avançando gradualmente em direção ao noroeste. Agora tudo o que havia entre eles e a fronteira do Colorado eram umas cidadezinhas com nomes como Virgil, Ricochet e Buckrack, oásis semiabandonados em um mar de pradarias de capim longo, vilarejos onde não havia praticamente nada além de um mercadinho, uma igreja e um silo, com quilômetros de planície aberta entre eles. Era o tipo de lugar sobre o qual a maioria das pessoas talvez passe de avião um dia, mas onde jamais irá colocar os pés. A palavra que lhe vinha à cabeça era eterno. Imaginou que aquela região devia ter sido sempre assim e que continuaria do mesmo jeito para sempre. Uma pessoa poderia facilmente sumir em um lugar desses, levando a vida sem que ninguém notasse.
Talvez, pensou Wolgast, quando tudo aquilo terminasse, ele voltasse ali. Talvez precisasse exatamente de um lugar assim.
Amy estava tão quieta no banco de trás que seria possível esquecê-la, não fosse o fato de tudo com relação à presença dela ali ser errado. Uma menina de 6 anos. Maldito Sykes! Maldito FBI, maldito Doyle e maldito ele mesmo. Deitada no amplo banco de trás com o cabelo esparramado sobre o rosto, Amy parecia dormir, mas Wolgast achava que não: ela provavelmente estava fingindo, observando-o como um gato. O que quer que tivesse acontecido em sua vida a havia ensinado a esperar. Sempre que Wolgast perguntava se ela precisava parar para ir ao banheiro ou comer alguma coisa - Amy não havia tocado nos biscoitos ou no leite, que certamente já estava quente e estragado -, suas pálpebras se levantavam com uma rapidez felina ao ouvir seu nome, encarando-o no retrovisor por um segundo que o atravessava como uma afiada lança de gelo. Então ela fechava os olhos de novo. A última vez que escutara a voz da menina fora no zoológico, havia mais de oito horas.
Lacey. Esse era o nome da freira que havia segurado Amy no colo como se fosse a própria morte. Quando Wolgast se lembrava daquele horrível cabo de guerra humano no estacionamento, com todo mundo gritando e chorando, algo dentro dele se contorcia de dor. Oi, Lila, adivinhe só: seqüestrei uma criança hoje. Agora nós dois temos uma, o que você acha?
Doyle acordou no banco do carona. Ele se esticou e esfregou os olhos, a expressão vazia e sem foco. Sua mente, Wolgast sabia, tentava localizar onde ele se encontrava. Ele olhou rapidamente para Amy no banco de trás e depois virou o rosto para a frente.
- Parece que o tempo vai piorar - disse.
As nuvens de tempestade haviam subido rapidamente, bloqueando o pôr do sol e afundando-os numa escuridão prematura. No horizonte, abaixo de uma fileira de nuvens, a chuva caía nos campos por trás de uma faixa de luz dourada.
Doyle se inclinou para examinar o céu através do pára-brisa e perguntou em voz baixa:
- A que distância você acha que estamos da tempestade? - Acho que uns oito quilômetros.
- Talvez a gente devesse sair da estrada. - Doyle olhou o relógio. - Ou virar para o sul por um tempo.
Três quilômetros depois passaram por um caminho de terra sem qualquer placa, com as margens delimitadas por arame farpado. Wolgast parou o carro e deu ré. A estrada subia uma encosta suave e desaparecia numa fileira de choupos. Provavelmente havia um rio do outro lado do morro, ou pelo menos um canal. Wolgast verificou o GPS e viu que a estrada não estava no mapa.
- Não sei - disse Doyle. - Talvez devêssemos procurar outra.
Wolgast virou o volante do Tahoe e seguiu para o sul. Não achava que a estrada fosse sem saída; do contrário, haveria caixas de correio no cruzamento. Trezentos metros depois, a estrada se estreitou, transformando-se numa trilha de terra esburacada.
Ao descerem a encosta, atravessaram uma velha ponte de madeira sobre o riacho que Wolgast havia previsto. A luz da tarde havia adquirido um tom verde pálido. Pelo retrovisor, podia ver a tempestade subindo acima do horizonte. As pontas do capim balançando ao vento dos dois lados da estrada indicavam que ela os estava seguindo.
Haviam percorrido mais 15 quilômetros quando a chuva começou a cair. Não tinham passado por nenhuma casa ou fazenda. Estavam no meio de lugar nenhum e sem abrigo. Começou com apenas algumas gotas, mas em poucos segundos a chuva se transformou num aguaceiro tão grande que Wolgast não conseguia ver nada. Os limpadores de pára-brisa eram inúteis. O vento golpeava furiosamente o carro, e Wolgast resolveu parar à beira da estrada.
- E agora, chefe? - perguntou Doyle.
Wolgast olhou para Amy, que ainda fingia dormir no banco de trás. Um trovão rugiu acima deles, mas a menina nem se moveu.
- Vamos esperar, eu acho. Vou descansar um minuto.
Wolgast fechou os olhos, ouvindo a chuva bater no teto do Tahoe. Ele deixou o som atravessá-lo. Havia aprendido a fazer isso durante aqueles meses com Eva, a descansar sem se entregar totalmente ao sono, de modo que pudesse se levantar rapidamente e ir até o berço caso ela acordasse. Lembranças esparsas começaram a se formar em sua mente, imagens e sensações de uma outra época de sua vida: Lila de manhã na cozinha em Cherry Creek, pouco depois de terem comprado a casa, colocando leite numa tigela de cereal; o frio da água quando mergulhava do píer em Coos Bay, os amigos rindo e instigando-o lá de cima; a sensação de ser muito pequeno, não mais que um bebê, e os barulhos e as luzes do mundo ao redor, tudo dizendo que ele estava seguro. Havia entrado na antecâmara do sono, o lugar onde sonhos e lembranças se misturavam em histórias estranhas, mas parte dele ainda estava no carro, ouvindo a chuva.
- Preciso ir.
Seus olhos se abriram bruscamente. A chuva havia parado. Por quanto tempo tinha dormido? O carro estava escuro. O sol havia se posto. Doyle estava virado para trás olhando para Amy.
- O que você disse? - perguntou Doyle.
- Eu preciso ir... - declarou a menina.
Depois de horas de silêncio, sua voz era incrivelmente clara e forte.
- Ao banheiro.
Doyle olhou nervoso para Wolgast.
- Quer que eu a leve? - perguntou, mas Wolgast sabia que ele preferia não ir.
- Você, não - disse Amy. Ela agora estava sentada, segurando seu coelho. Era uma coisa molenga, imunda de tanto manuseio. Ela olhou para Wolgast pelo retrovisor, levantou a mão e apontou. - Ele.
Wolgast soltou o cinto de segurança e saiu do Tahoe. O ar estava frio e parado. A sudeste, dava para ver a tempestade se afastando, deixando para trás um céu seco cor de nanquim, um profundo preto azulado. Ele apertou o botão do chaveiro para destravar a porta do carona e Amy desceu. Ela havia fechado o zíper do agasalho e colocado o capuz sobre a cabeça.
- Tudo bem? - perguntou ele.
- Não vou fazer xixi aqui.
Wolgast não disse nada a ela sobre não ir para longe; não parecia haver necessidade. Aonde ela poderia ir? Guiou-a 15 metros pela estrada, para longe das luzes do Tahoe. Wolgast afastou o olhar enquanto ela parava à beira da vala e abaixava o jeans.
- Preciso de ajuda.
Wolgast se virou. Ela o encarava, o jeans e a calcinha embolados nos tornozelos. Sentiu o rosto enrubescer, sem graça.
- O que você precisa que eu faça?
Ela estendeu as duas mãos. Seus dedos pareciam minúsculos junto aos dele, as mãozinhas quentes e úmidas. Ele precisou segurar com força enquanto ela jogava todo o peso para trás e se agachava, o corpo suspenso sobre a vala como um piano pendurado em um guindaste. Onde ela havia aprendido a fazer isso? Quem havia segurado suas mãos desse jeito?
Quando ela terminou, Wolgast se virou para que ela se vestisse.
- Não precisa ter medo, querida.
Amy não disse nada, nem fez qualquer movimento em direção ao Tahoe. Ao redor, os campos estavam ermos, o ar absolutamente imóvel, como no intervalo entre duas respirações. Wolgast podia sentir o vazio dos campos espalhando-se por milhares de quilômetros em todas as direções. Ouviu a porta da frente do Tahoe se abrir e depois bater ruidosamente: Doyle provavelmente havia aproveitado para se aliviar também. Ao sul, ouviu o eco remoto de um trovão longe dali e, no amplo espaço posterior, um novo som: uma espécie de tilintar, como de sinos.
- Podemos ser amigos, se você quiser - propôs ele. - Tudo bem?
Amy era uma menina estranha, pensou de novo: por que não tinha chorado? Não havia derramado sequer uma lágrima desde o zoológico e jamais perguntara pela mãe, nem dissera que queria ir para casa ou mesmo voltar ao convento. Onde seria a casa dela? Em Memphis, talvez, mas ele achava que não. Em lugar nenhum. O que quer que tivesse acontecido com a garota havia roubado dela a idéia de lar.
Depois de alguns instantes, Amy disse:
- Não estou com medo. Podemos voltar para o carro se você quiser.
Por um momento ela apenas o encarou, com aquele seu jeito observador. Os ouvidos dele tinham se ajustado ao silêncio, e agora ele tinha certeza de que o que estivera escutando era música, embora o som estivesse distorcido pela distância. Em algum lugar daquela estrada, sabia que havia música.
- Eu me chamo Brad.
O nome pareceu sem graça e pesado em sua boca. Amy assentiu.
- Sabe o outro homem? O nome dele é Phil.
Sei quem vocês são. Ouvi vocês falando. Vocês acharam que eu não estava escutando, mas estava.
Garota esquisita. E inteligente também. Podia perceber isso em sua voz, no modo como o media com os olhos, usando o silêncio para avaliá-lo. Ele tinha a sensação de que estava falando com alguém muito mais velho, mas não era bem isso. Não conseguia identificar o que havia de diferente nela.
- O que vamos fazer no Colorado? É para lá que estamos indo. Ouvi vocês falarem.
Wolgast não sabia quanto deveria contar.
- Bem, há um médico lá. Ele vai olhar você. Vai ser como uma consulta.
Não estou doente.
- É por isso, eu acho. Não tenho certeza... bem, não sei, na verdade. A mentira o fez encolher-se por dentro.
- Não precisa ter medo.
- Não fique repetindo isso.
Ele ficou tão pasmo com o modo direto de falar da garota que por um momento não disse nada.
- Certo. Isso é bom. Fico feliz por você não estar com medo.
- Não estou com medo - declarou Amy e começou a andar em direção às luzes do Tahoe. - Você é que está.
Alguns quilômetros depois viram o que parecia ser uma cúpula cheia de luzes cintilantes que, à medida que se aproximavam, transformavam-se em diversos pontinhos voadores, como uma família de constelações girando no horizonte. Wolgast tentava entender o que estavam vendo, quando a estrada repentinamente acabou em um cruzamento. Ele acendeu a luz do teto do carro e verificou o GPS.
Havia uma fileira de carros e caminhonetes na outra estrada, mais do que haviam visto durante horas, todos indo na mesma direção. Wolgast abriu a janela para o ar da noite. O som de música agora era inconfundível.
- O que é isso? - perguntou Doyle.
Wolgast não disse nada. Virou à esquerda, entrando no tráfego. Na carroceria da picape à frente deles, um grupo de cerca de meia dúzia de adolescentes estava sentado sobre montes de feno. Passaram por uma placa que dizia: HOMER, OKLAHOMA. POPULAÇÃO: 1.232.
- Não fique perto demais - disse Doyle, referindo-se à picape. - Não estou gostando muito disso.
Wolgast o ignorou. Uma garota, vendo o rosto de Wolgast pelo pára-brisa, acenou para ele, o vento soprando seu cabelo em volta do rosto. As luzes da feira rural agora ficavam mais nítidas, assim como os sinais de civilização: uma caixa-d'água sobre caibros, uma loja de materiais agrícolas mal iluminada e, um pouco mais longe da estrada, um prédio moderno que parecia ser uma clínica. A picape parou em uma mercearia chamada Casey, cujo estacionamento estava atulhado de carros e pessoas. Os jovens desceram da carroceria antes mesmo de o veículo parar e saíram correndo para encontrar os amigos. O tráfego foi ficando mais lento à medida que eles entravam na cidade. Amy ficou sentada no banco de trás olhando a cena movimentada pela janela. Doyle se virou. Fique deitada, Amy. Tudo bem, deixe-a olhar - disse Wolgast, levantando a voz para que Amy
escutasse. - Não dê ouvidos ao Phil. Olhe o que quiser, querida. Doyle inclinou a cabeça na direção de Wolgast.
- O que você está... fazendo? Wolgast manteve o olhar adiante.
- Relaxe.
Querida. De onde isso tinha vindo?
As ruas estavam apinhadas de pessoas, todas andando na mesma direção, carregando toalhas de piquenique, caixas de isopor e cadeiras dobráveis. Muitos seguravam crianças pequenas pela mão ou empurravam carrinhos de bebê: gente do interior, vestindo jeans e macacões, todos de botas, alguns homens com chapéus de feltro. Wolgast viu algumas poças d'água aqui e ali, mas o céu noturno estava límpido e seco. A chuva havia passado e a feira estava começando.
Wolgast acompanhou o tráfego até uma escola, onde se lia em uma placa enorme: ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DO CONDADO DE Branch. AVANTE, WILDCATS! FESTA DA PRIMAVERA, 20 A 22 DE MARÇO. Um homem de colete laranja fluorescente acenou para que eles fossem em direção ao portão, e um segundo homem os direcionou para um estacionamento improvisado em um campo cheio de lama. Wolgast desligou o motor e olhou para Amy pelo retrovisor. A atenção dela estava voltada para a janela, em direção aos sons e luzes da feira.
Doyle pigarreou.
- Você está brincando, não está? Wolgast girou no banco.
- Amy, Phil e eu vamos sair um segundo para conversar. Tudo bem?
A menina assentiu. De repente parecia haver entre eles uma cumplicidade que excluía Doyle.
- Voltamos já - disse Wolgast.
Doyle e Wolgast se dirigiram para trás do Tahoe.
- Nós não vamos fazer isso - disse Doyle.
- Qual é o problema? Doyle abaixou a voz.
- Temos sorte de ainda não termos sido vistos por nenhum policial local. Pense bem. Dois homens de terno e uma menininha. Acha que não vamos chamar atenção?
- Vamos nos separar. Eu levo Amy. Podemos trocar de roupa no carro. Vá tomar uma cerveja, se divertir um pouco.
- Você não está sendo racional, chefe. Ela é uma prisioneira.
- Não é, não. Doyle suspirou.
- Você sabe o que quero dizer.
- Sei? Ela é uma criança, Phil. Uma menininha.
Estavam parados muito perto um do outro. Wolgast podia sentir o cheiro de suor em Doyle, depois de tantas horas dentro do Tahoe. Um grupo de adolescentes passou por eles, e os dois se calaram. O estacionamento estava ficando cheio.
- Olhe, eu não sou feito de pedra - disse Doyle baixinho. - Acha que eu também não percebi que esse negócio é foda? Isso está revirando meu estômago.
- Na verdade você parece bem tranqüilo. Dormiu como um bebê desde Little Rock.
Doyle franziu a testa, defensivo.
- Ótimo, pode me crucificar. Eu estava cansado. Mas não vamos levá-la para brincar no parque. Isso está fora de questão.
- Uma hora. Não podemos deixá-la trancada num carro o dia inteiro sem dar uma folga. Deixe que ela se divirta um pouquinho, libere a tensão. Sykes não precisa saber disso. Depois voltamos para a estrada. Ela provavelmente vai dormir o resto do caminho.
- E se ela fugir?
Ela não vai fazer isso.
- Não sei como você pode ter tanta certeza.
- Você pode vir atrás de nós. Se acontecer alguma coisa, seremos dois. Doyle franziu a testa, duvidando.
- Bem, você é quem está no comando. A responsabilidade é sua. Mesmo assim, não gosto nada disso.
- Sessenta minutos. Depois vamos embora.
No banco da frente do Tahoe, cada um deles vestiu uma calça jeans e uma camisa esporte, enquanto Amy esperava. Então Wolgast explicou a ela o que iam fazer. - Você precisa ficar bem perto de mim - disse. - Não fale com ninguém. Promete?
- Por que não posso falar com ninguém?
- É só uma regra. Se você não prometer, não podemos ir.
A menina pensou um momento, depois assentiu.
- prometo.
Doyle ficou para trás enquanto eles andavam até a entrada da feira. O ar estava doce com o cheiro de fritura. Num alto-falante, uma voz de homem uniforme como a planície de Oklahoma, cantava os números do bingo: 11... 30... 16.
- Escute - disse Wolgast a Amy, quando teve certeza de que Doyle não podia ouvir. - Sei que pode parecer estranho, mas quero que você finja uma coisa. Pode fazer isso para mim?
Os dois pararam no caminho. Wolgast viu que o cabelo da menina estava todo embolado. Agachou-se para encará-la e fez o máximo para ajeitá-lo com os dedos, afastando-o do rosto dela. A blusa de Amy tinha a palavra ATREVIDA estampada na frente, as letras delineadas com pontinhos brilhantes. Ele fechou o zíper do agasalho dela por causa do frio da noite.
- Finja que sou seu pai. Não seu pai de verdade, só de brincadeirinha. Se alguém perguntar, eu sou seu pai, certo.
- Mas eu não devo falar com ninguém. Você disse.
- É, mas se falarmos, é isso o que você deve dizer.
Wolgast olhou por cima do ombro de Amy para onde Doyle estava esperando com as mãos nos bolsos. Ele vestia um casaco leve por cima da camisa polo, o zíper fechado até o queixo. Sabia que a arma dele ainda estaria aconchegada no coldre embaixo do braço. Wolgast havia deixado a dele no porta-luvas.
- Então vamos praticar. Quem é esse homem que está com você, menininha?
- Meu pai? - sugeriu ela.
- Precisa falar sério. Finja.
- Meu... pai.
Um bom desempenho, pensou Wolgast. A garota sabia interpretar.
- É isso aí!
- A gente pode andar no gira-gira?
- No gira-gira. Qual é o gira-gira, lindinha?
Querida, lindinha. Pelo jeito ele não conseguia se conter: as palavras simplesmente saltavam de sua boca.
Aquele.
Wolgast olhou para o local que Amy estava apontando. Atrás da bilheteria, viu uma geringonça enorme com cabines giratórias na ponta de cada braço, as pessoas rodando em carros multicoloridos. O brinquedo se chamava Polvo.
- É claro que podemos - disse ele, e sentiu que sorria. - Podemos fazer o que você quiser.
Wolgast foi até a bilheteria pagar as entradas da feira e depois entrou numa segunda fila, para comprar ingressos para os brinquedos. Achou que talvez Amy quisesse comer, mas decidiu esperar: ela poderia ficar enjoada nos brinquedos. Percebeu que gostava de pensar nisso, imaginando o que ela iria sentir, as coisas que a fariam feliz. Até ele podia sentir a animação da feira, que na verdade não passava de um punhado de brinquedos velhos, em sua maioria provavelmente perigosos como o diabo, mas e daí? Por que dissera que levariam apenas uma hora?
- Pronta?
A fila para o Polvo era longa, mas andou depressa. Quando chegou a vez de eles embarcarem, o funcionário os deteve com a mão levantada.
- Quantos anos ela tem?
O homem franziu as sobrancelhas, descrente, por cima do cigarro. Tatuagens roxas serpenteavam por seus braços. Antes que Wolgast pudesse abrir a boca para responder, Amy deu um passo à frente.
- Tenho 8.
Nesse momento, Wolgast viu uma placa sobre uma cadeira dobrável: PROIBIDO PARA MENORES DE 7 ANOS.
- Ela não parece ter 8 anos - disse o homem.
- Mas tem - respondeu Wolgast. - Ela está comigo.
O funcionário olhou Amy de cima a baixo, depois deu de ombros.
- Se passar mal, a culpa é de vocês - disse.
Subiram na cabine, que bamboleava, e o homem tatuado empurrou a barra de segurança contra a cintura dos dois. Com uma guinada, o carro subiu e parou abruptamente para que outras pessoas embarcassem atrás deles.
- Está com medo?
Amy estava grudada nele, o agasalho puxado até o rosto por causa do frio, as duas mãos apertando a barra. Seus olhos estavam muito arregalados. Ela balançou a cabeça enfaticamente.
- Não.
O carro subiu e parou mais quatro vezes. Do ponto mais alto, podiam avistar toda a área da feira, a escola, o estacionamento e a cidadezinha de Homer mais além, com seus quarteirões iluminados. Uma fileira de carros anuía ainda da estrada rural. Do alto, os veículos pareciam se mover com a lentidão de alvos em um clube de tiro. Wolgast examinava o chão abaixo, procurando Doyle, quando sentiu o brinquedo balançar de novo.
- Segure firme!
De repente a cabine deu um mergulho, girando rápido, pressionando seus corpos contra a barra. Gritos de prazer encheram o ar. Wolgast fechou os olhos por causa do impacto da descida. Não andava num brinquedo desses havia muitos anos. A violência daquilo era espantosa. Sentiu o peso de Amy contra seu corpo, o movimento do carro empurrando-a em direção a ele enquanto giravam e tombavam.
Quando olhou de novo, estavam perto do chão, deslizando a apenas alguns centímetros do campo de terra batida, as luzes da feira girando ao redor deles como uma chuva de estrelas cadentes. Depois foram lançados de novo para o céu, seis, sete, oito vezes, subindo e descendo como uma onda. Demorou uma eternidade e acabou num instante.
Enquanto começavam a descida aos solavancos para desembarcar, Wolgast olhou para o rosto de Amy, que mantinha a expressão neutra, avaliadora. No entanto, por trás da escuridão daquele olhar, ele detectou uma luz quente de felicidade. Um novo sentimento se abriu dentro dele: ninguém jamais tinha dado a ela um presente daqueles.
- Então, como foi? - perguntou rindo.
- Foi maneiro. - Amy levantou o rosto rapidamente. - Quero ir de novo.
Assim que o funcionário soltou a barra, eles voltaram ao fim da fila. Na frente deles havia uma mulher grande com um vestido florido que mais parecia um roupão, acompanhada do marido, um homem envelhecido que usava calça jeans e camisa xadrez e mascava um gordo naco de tabaco.
- Que coisa mais lindinha! - exclamou a mulher e olhou calorosamente para Wolgast. - Quantos anos ela tem?
- Tenho 8 - disse Amy, segurando a mão de Wolgast. - Este é o meu pai.
A mulher riu, as sobrancelhas arqueadas como paraquedas inflados e as bochechas emplastradas de ruge.
- É claro que ele é o seu pai, querida. Qualquer um pode ver isso. Está na cara. Ela cutucou as costelas do marido. - Ela não é lindinha, Earl?
O homem assentiu.
- Com certeza.
- Qual é o seu nome, querida? - perguntou a mulher. - Amy.
A mulher se virou para Wolgast de novo.
- Tenho uma sobrinha mais ou menos da idade dela, mas não fala tão bem. O senhor deve ter muito orgulho dela.
Wolgast estava pasmo demais para responder. Sentia-se como se ainda estivesse no brinquedo, a mente e o corpo sendo puxados por uma tremenda força gravitacional. Pensou em Doyle, imaginando se ele estaria vendo aquela cena de algum lugar no meio da multidão. Mas então decidiu que não se importava: Doyle que olhasse.
- Estamos indo para o Colorado - acrescentou Amy e apertou a mão de Wolgast de modo conspirador. - Para visitar minha avó.
- É mesmo? Sua avó tem muita sorte em receber a visita de uma menina como você.
- Ela está doente. Temos que levá-la ao médico. O rosto da mulher se encheu de empatia.
- Sinto muito. Em seguida dirigiu um olhar grave para Wolgast. - Espero que fique tudo bem. Vamos rezar por vocês.
- Obrigado - respondeu ele.
Andaram no Polvo mais três vezes. Em seguida, percorreram a feira em busca de algo para comer, mas Wolgast não viu Doyle em lugar nenhum. Ou ele os estava seguindo como um profissional ou tinha decidido deixá-los em paz. Havia muitas mulheres bonitas ali. Talvez Doyle tivesse se distraído, pensou ele.
Wolgast comprou um cachorro-quente para Amy e os dois se acomodaram em uma mesa de piquenique. Ele a observou enquanto comia: três, quatro mordidas, e o cachorro-quente acabou. Comprou outro e, quando viu que ela o havia devorado também, pediu churros e um suco. Não era a refeição mais nutritiva, mas pelo menos ela bebeu suco.
- E agora? - perguntou.
As bochechas de Amy estavam sujas de açúcar e gordura. Ela levantou as costas da mão para se limpar, mas Wolgast a interrompeu.
- Use um guardanapo - disse, entregando-lhe um.
- O carrossel - disse ela.
- Sério? Parece bem bobinho depois do Polvo.
- Tem carrossel aqui?
- Tenho certeza que sim.
O carrossel. Claro, pensou Wolgast. O Polvo era para o lado adulto de Amy, a parte dela que sabia observar, esperar e podia mentir de forma encantadora e confiante para a mulher da fila. O carrossel era para a outra Amy, para a menininha que ela era na verdade. Sob o encanto da noite, de suas luzes e sons, e ainda agitado depois de ter andado no Polvo quatro vezes seguidas, Wolgast quis perguntar muitas coisas a Amy: quem ela era; sobre sua mãe, seu pai, se é que existia um, e de onde ela vinha; sobre a freira, Lacey, e o que havia acontecido no zoológico, a loucura no estacionamento. Quem é você, Amy? O que trouxe você? O que trouxe você a mim? E como sabe que estou com medo, que sinto medo o tempo todo?
Amy segurou a mão dele de novo enquanto andavam. A sensação da palma da mão dela contra a sua era eletrizante, como a fonte de uma corrente elétrica que carecia se espalhar por seu corpo. Quando ela viu o carrossel com seus cavalos reluzentes, Wolgast sentiu a alegria da menina irradiar até ele.
Lila pensou. Lila, era isso o que eu queria. Está vendo? Eu só queria isso.
Wolgast entregou os ingressos ao funcionário. Amy escolheu um cavalo na fileira mais externa do carrossel, um lipizzano branco congelado em meio a um salto, exibindo uma brilhante fileira de dentes de cerâmica. Passava das nove da noite e as crianças menores tinham ido para casa. O brinquedo estava quase vazio.
- Fique aqui, perto de mim - ordenou Amy.
Ele fez isso, colocando uma das mãos no mastro e outra no arreio do cavalo, como se a estivesse guiando. As pernas dela eram pequenas demais, e seus pés não alcançavam os estribos. Wolgast disse a ela que se segurasse com força.
Foi então que viu Doyle parado a menos de 30 metros dali, atrás de uma fileira de fardos de feno que delimitavam uma barraca de cerveja, conversando animado com uma jovem de fartos cabelos ruivos. Ele parecia estar contando uma história, gesticulando com o copo na mão para enfatizar algum ponto ou marcar o desfecho de uma piada. Desempenhava o papel do belo vendedor de fibra ótica de Indianápolis - exatamente como Amy fizera com a mulher na fila, tecendo detalhes sobre a avó doente que morava no Colorado. É o que todo mundo faz, pensou Wolgast: começa a contar uma história sobre quem é, e logo não há mais nada além de mentiras, e então você acaba se transformando naquela pessoa.
Sob seus pés, o tablado do carrossel estremeceu quando as engrenagens engataram. Os alto-falantes acima deles começaram a tocar uma música, e o brinquedo se pôs em movimento. A mulher, num gesto de flerte ensaiado, jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada ao mesmo tempo que estendia a mão para tocar rapidamente o ombro de Doyle. Então o carrossel girou e os dois saíram de seu campo de visão.
Foi então que Wolgast pensou naquilo. As frases eram claras em sua mente, como se estivessem escritas ali.
Simplesmente suma. Pegue Amy e suma.
Doyle perdeu a noção do tempo. Está distraído. Faça isso agora.
Salve a menina.
Os dois giraram e giraram. O cavalo de Amy subia e descia como um pistão. Naqueles poucos minutos, Wolgast sentiu os pensamentos se juntarem em um plano: quando o brinquedo parasse, ele a pegaria, se esgueiraria pela noite misturado à multidão, para longe da barraca de cerveja, e sairia pelo portão. Quando Doyle percebesse o que havia acontecido, eles não seriam nada além de vaga vazia no estacionamento. Seriam só um pontinho em algum lugar em milhares de quilômetros em qualquer direção. Ele era bom nisso, sabia o que estava fazendo. Mantivera o Tahoe só por um motivo: mesmo lá atrás, parado no estacionamento em Little Rock, aquela idéia já se insinuava dentro dele como uma semente prestes a germinar. Não sabia se conseguiria encontrar a mãe da menina, mas pensaria nisso depois.
Nunca sentira nada assim, com uma clareza tão grande e tão súbita. Toda a sua vida parecia convergir para uma única coisa, para esse propósito. O resto - o FBI, I Sykes, Carter e os outros, até mesmo Doyle - era uma mentira, uma cortina atrás da qual seu verdadeiro eu havia se ocultado, esperando para se revelar. O momento havia chegado. Ele só precisava seguir seus instintos.
O carrossel começou a diminuir a velocidade. Ele nem olhou na direção de Doyle, não queria estragar esse sentimento novo. Quando pararam totalmente, tirou Amy do cavalo e se ajoelhou, de modo que pudesse olhá-la nos olhos.
- Amy, quero que você faça uma coisa para mim. Preciso que preste atenção ao que vou dizer.
A menina assentiu.
- Nós vamos embora agora. Só nós dois. Fique perto de mim, não diga nenhuma palavra. Vamos andar depressa, mas sem correr. Faça o que eu digo e tudo vai ficar bem. - Ele examinou o rosto dela para confirmar que o compreendera. - Você entendeu?
- Não é para correr.
- Isso mesmo. Agora vamos.
Saíram do tablado pelo lado oposto à barraca de cerveja. Wolgast passou Amy rapidamente por cima da grade que cercava o carrossel, depois, firmando a mão no metal, pulou também. Ninguém pareceu notar - ou talvez tivessem notado, mas ele não olhou para trás. Segurando a mão de Amy, andou rapidamente em direção à parte de trás da feira, para longe das luzes. Seu plano era andar até o portão principal ou outra saída. Se fossem depressa, Doyle só notaria tarde demais.
Chegaram até uma cerca alta de arame. Atrás dela podiam ver uma fileira de árvores e, mais além, as luzes de uma estrada que margeava os campos esportivos e uma escola ao sul. Não havia como pular. Teriam que andar ao longo da cerca até a entrada principal.
Eles caminhavam sobre a grama fofa, ainda molhada da tempestade, encharcando os sapatos e as calças. Chegaram aos quiosques de comida e à mesa de piquenique onde haviam lanchado. Wolgast podia ver a saída a poucos metros dali. Seu coração batia forte no peito. Parou rapidamente para olhar ao redor: Doyle não estava em lugar nenhum. - Direto pela saída - disse a Amy. - Não olhe nem para mim. - Ei, chefe! Wolgast congelou. Doyle chegou correndo atrás deles, apontando para o relógio.
- Pensei que você tinha dito uma hora. Wolgast olhou para o rosto inexpressivo de Doyle.
- Achei que tínhamos perdido você e fomos procurá-lo - respondeu.
Doyle espiou rapidamente por cima do ombro, na direção da barraca de cerveja.
- Bem, sabe, estava jogando conversa fora - explicou com um sorriso cheio de culpa. - O pessoal aqui é legal, gosta de bater papo. - Depois, indicando a calça molhada de Wolgast, perguntou: - O que aconteceu com vocês? Estão completamente molhados.
Por um momento, Wolgast não disse nada.
- Poças d'água - respondeu, esforçando-se para sustentar o olhar de Doyle.
- A chuva.
Haveria outra chance, talvez, se ele pudesse distrair Doyle no caminho até o Tahoe. Mas Doyle era mais jovem e mais forte que ele, e Wolgast tinha deixado a arma no carro.
- A chuva - repetiu Doyle, assentindo devagar.
Wolgast viu no rosto do rapaz que ele sabia. Soubera o tempo todo. A barraca de cerveja havia sido um teste, uma armadilha. Ele e Amy jamais tinham estado fora do alcance dos olhos de Doyle, nem por um segundo.
- Sei. Bem, temos um trabalho a fazer. Certo, chefe?
- Phil...
- Não - interrompeu Doyle em voz baixa, não de forma ameaçadora, meramente declarando os fatos. - Não me conte. Nós somos parceiros, Brad. Está na hora de irmos embora.
Toda a esperança de Wolgast desmoronou dentro dele. A mão de Amy ainda estava na sua, e ele nem suportava olhar para ela. Sinto muito, pensou, enviando-lhe a mensagem através da mão. Sinto muito. E juntos, com Doyle os acompanhando cinco passos atrás, passaram pela saída e foram até o estacionamento.
Nenhum dos dois notou o homem que os acompanhava com os olhos - um policial local que estava de folga, mas que, fazia algumas horas, antes de sair do trabalho e se encontrar com a mulher na feira para ver os filhos brincando no carrinho bate-bate, tinha visto o informe sobre uma menina seqüestrada por dois homens brancos no zoológico de Memphis.
NOVE
O dia todo as palavras estiveram paradas em seus lábios. Às oito, quando acordara, enquanto tomava banho, se vestia, tomava o café da manhã, e depois que se sentara na cama em seu quarto, zapeando pelos canais e fumando, esperando a noite chegar. Durante o dia inteiro fora isso o que ouvira:
Fanning. Eu me chamava Fanning.
As palavras não significavam nada para Grey. Não era um nome que ele conhecesse. Nunca havia conhecido ninguém nem nada chamado Fanning, não que pudesse lembrar. No entanto, enquanto dormia, o nome de alguma forma havia se alojado em sua cabeça, como se ele tivesse dormido ouvindo uma música repetidamente, a letra cavando um buraco em seu cérebro como um arado, e agora parte de sua mente ainda estivesse dentro daquele buraco, sem conseguir sair. Fanning? Que diabo era isso? Pensou no psiquiatra da prisão, o Dr. Wilder, em como levara Grey a um estado mais profundo que o sono, ao lugar que ele chamava de perdão. Pensou nas lentas batidas da caneta na mesa, o som serpenteando dentro dele. Agora Grey não conseguia pegar o controle remoto, nem coçar a cabeça, nem acender um cigarro sem ouvir as palavras, seu ritmo sincopado como um fundo musical para tudo o que fazia.
Eu (riscar o fósforo)... me (acender o cigarro)... chamava (tragar)... Fanning(soltar a fumaça).
Sentou-se, fumou, esperou e fumou mais um pouco. Que diabo havia de errado com ele? Sentia-se diferente, e a mudança não era boa. Estava irritado, fora de sincronia consigo mesmo. Geralmente era capaz de ficar parado e não fazer absolutamente nada enquanto esperava as horas passarem - havia aprendido a fazer muito bem em Beeville, deixando dias inteiros escorrerem numa espécie de transe sem pensamentos -, mas hoje, não. Hoje estava agitado como um inseto
caiu dentro de uma panela quente. Tentou assistir à TV, mas as palavras e as imagens não pareciam se relacionar umas com as outras. Lá fora, do outro lado das janelas do alojamento, o céu da tarde lembrava um plástico velho, de um cinza pálido como Grey. Um dia perfeito para cochilar, deixar o tempo passar. No entanto ali estava ele, sentado na cama ainda por fazer, esperando que a tarde acabasse, suas entranhas zunindo como uma gaita feita de papel.
Além disso, sua sensação era de que não tinha dormido nada, embora de algum modo não houvesse conseguido ouvir o despertador às cinco horas, perdendo o turno da manhã. Era seu turno extra, de modo que podia inventar alguma desculpa - que havia se confundido ou simplesmente esquecido -, mas mesmo assim sabia que levaria uma bronca. Teria que trabalhar novamente às 22h. Precisava mesmo cochilar, descansar um pouco antes de passar mais oito horas observando Zero vigiá-lo.
Às 18h, vestiu o casaco para atravessar o complexo até a cantina. Faltava uma hora para o pôr do sol, mas as nuvens estavam baixas, sugando o pouco de luz que restava. Um vento úmido o atravessava enquanto ele cruzava o campo aberto entre o alojamento e o refeitório, uma estrutura pré-moldada de concreto que parecia ter sido erguida às pressas. Não dava para ver as montanhas, e, em dias assim, Grey às vezes pensava no complexo como se na verdade fosse uma ilha - que o mundo havia parado, mergulhado em um mar de escuridão e insignificância em algum lugar além do longo caminho de entrada. Veículos chegavam e saíam - caminhões de entrega, vans e caminhões do Exército carregados de suprimentos -, mas para Grey eles poderiam muito bem estar vindo da Lua. Até suas lembranças do mundo começavam a desbotar. Não saía dos limites da cerca do complexo havia seis meses.
A cantina deveria estar movimentada a essa hora, com 50 ou mais pessoas enchendo o lugar de barulho e calor, mas quando passou pela porta, logo depois de abrir o zíper do agasalho e bater os pés no chão para sacudir a neve, Grey examinou o espaço e viu que havia menos de uma dúzia de pessoas espalhadas pelas mesas, sentadas sozinhas ou em grupos pequenos. Pela roupa dava para saber quem fazia o quê: o pessoal da equipe médica estava sempre de jaleco e tamancos de plástico, os soldados vestiam uniformes camuflados de inverno e ficavam encurvados sobre as bandejas, enfiando vorazmente a comida na boca, os faxineiros usavam macacões marrons.
Atrás do refeitório havia uma área de lazer com uma mesa de pingue-pongue e uma de hóquei, mas não havia ninguém jogando nem assistindo à televisão de tela grande, e o lugar estava quieto, com apenas algumas vozes murmurando e o tilintar de copos e pratos. Por algum tempo a sala de lazer tivera mesas com computadores, Macs novos que podiam ser usados para mandar e-mails e coisa e tal, mas numa manhã de verão uma equipe de técnicos levara todos eles num carrinho, bem no meio do café da manhã. Alguns soldados chegaram a reclamar, mas não adiantou nada. Os computadores jamais retornaram, e a única lembrança remanescente deles eram os fios pendurados na parede. A retirada dos computadores devia ter sido uma espécie de castigo, supôs Grey, mas não sabia por quê. Ele mesmo nunca havia se incomodado em usá-los.
Apesar da sensação de nervosismo no corpo, o cheiro de comida o deixou com fome - o Depo-Provera lhe abria o apetite de tal maneira que era incrível que ele não estivesse mais gordo -, e ele encheu a bandeja enquanto passava pelo balcão, saboreando na mente a ideia da refeição: uma tigela de sopa, salada com croutons e queijo, purê de batata, picles de beterraba e uma fatia grossa de presunto com um anel de abacax- O em calda por cima, como uma tiara cítrica. Pegou um pedaço de torta de limão e um copo grande de água gelada para finalizar e levou a bandeja até uma mesa vazia no canto. Quase todos da equipe de limpeza comiam sozinhos, como Grey: não tinham permissão para falar muita coisa. Às vezes uma semana inteira se passava sem que Grey dissesse ao menos uma sílaba a qualquer pessoa além do segurança do Nível 3 que controlava sua entrada e saída do setor de cobaias. Até alguns meses antes, os técnicos e o pessoal da equipe médica ainda lhe faziam perguntas sobre Zero, sobre os coelhos e os dentes. Ouviam suas respostas e assentiam, às vezes anotando algo nos palmtops. Mas agora eles simplesmente pegavam os relatórios que ele lhes entregava sem dizer nada, como se toda a questão do Zero tivesse sido resolvida e não houvesse qualquer novidade a ser descoberta.
Grey comeu sua refeição metodicamente, prato por prato. As palavras sobre Fanning continuavam rodando em sua mente como o gerador de caracteres de um noticiário, mas a refeição pareceu acalmá-las um pouco. Durante alguns minutos ele quase esqueceu que estavam ali. Estava terminando a torta quando um dos soldados se aproximou de sua mesa. Grey achava que o nome dele era Paulson. Grey o vira por ali, mas para ele os soldados pareciam todos iguais, com suas roupas de camuflagem, camisetas e botas brilhantes, o cabelo tão curto que as orelhas se projetavam como se alguém as tivesse grudado nas laterais da cabeça. O cabelo dele era cortado tão rente que Grey não poderia dizer de que cor era. Paulson pegou uma cadeira vazia ao lado de Grey e a girou, sentando-se virado para o encosto, sorrindo de uma forma que não parecia muito amigável.
- Vocês comem, hein?
Grey deu de ombros.
- Você é o Grey, não é? - O soldado estreitou os olhos. - Já vi você.
Grey pousou o garfo e engoliu um pedaço de torta.
- Sou.
Paulson assentiu, pensativo, como se estivesse decidindo se aquele era um bom nome ou não. Seu rosto tinha uma expressão calma que parecia forçada. Por um momento seus olhos voaram em direção à câmera de segurança no canto da sala, e em seguida encontraram o rosto de Grey de novo.
- Sabe, vocês não falam muito - disse Paulson. - É meio esquisito, se você não se importa que eu diga.
Esquisito. Paulson não sabia da missa a metade. Grey ficou quieto.
- Posso fazer uma pergunta? - Paulson apontou o queixo na direção do prato de Grey. - Não quero interromper. Pode comer enquanto a gente conversa.
- Já acabei - respondeu Grey. - Preciso ir trabalhar.
- Como está a torta?
; - Quer saber minha opinião sobre a torta?
- A torta? Não. - Paulson balançou a cabeça. - Eu só estava sendo educado. É o que chamam de conversar sobre amenidades.
Grey se perguntou o que ele poderia querer. Os soldados nunca falavam com ele, e ali estava esse cara, Paulson, dando-lhe aulas de etiqueta como se as câmeras não estivessem viradas direto para eles.
- É boa - respondeu Grey. - Eu gosto de limão.
- Chega de falar da torta. Estou cagando e andando para a torta.
Grey agarrou as laterais da bandeja.
- Preciso ir - disse, mas quando fez menção de se levantar, Paulson segurou seu pulso. Apenas com aquele toque, Grey pôde sentir como o sujeito era forte, como se os músculos do braço dele estivessem presos em barras de ferro.
- Sente-se aí, porra.
Grey se sentou. De repente a sala pareceu vazia. Olhou para trás de Paulson e viu que a maioria das mesas estava desocupada. Havia apenas dois técnicos do outro lado da sala, tomando café em copos descartáveis. Para onde todo mundo tinha ido?
- Veja bem, eu sei quem vocês são, Grey - disse Paulson em tom firme, porém calmo. Estava inclinado sobre a mesa, a mão ainda no pulso de Grey. - Nós sabemos o que vocês todos fizeram. É isso o que quero dizer. Pegaram menininhos, ou sei lá o quê. Por mim, tudo bem, cada macaco no seu galho. O que é de gosto, regalo da vida, está me entendendo?
Grey ficou quieto.
- Nem todo mundo pensa como eu, mas essa é a minha opinião. Este ainda é um país livre. - Paulson se remexeu na cadeira, aproximando o rosto ainda mais de Grey. - Conheço um cara no ensino médio que colocava massa de biscoito no pau e deixava o cachorro lamber. Então, se você quer comer um menininho, vá em frente. Pessoalmente eu não curto, mas cada um na sua.
Grey se sentiu enjoado.
- Desculpe - conseguiu dizer. - Preciso ir.
- Aonde você precisa ir, Grey?
- Aonde? - Grey engoliu em seco. - Trabalhar. Preciso trabalhar.
- Não precisa, não. - Paulson pegou uma colher na bandeja de Grey e começou a girá-la em cima da mesa com a ponta do indicador.
Aonde aquela conversa ia chegar?
- Ainda faltam três horas para o seu turno. Eu sei ver as horas, Grey. Nós estamos batendo papo, droga!
Grey ficou olhando para a colher, esperando que Paulson dissesse outra coisa. De repente sentiu que cada fibra do seu corpo precisava fumar, uma vontade tão intensa que parecia uma possessão.
- O que você quer de mim?
Paulson girou mais uma vez a colher.
- O que eu quero, Grey? Essa é a questão, não é? Eu quero uma coisa, nisso você está certo. - Ele se inclinou na direção de Grey, fazendo um gesto com o indicador para que ele se aproximasse. Quando voltou a falar, sua voz era pouco mais que um sussurro. - O que quero é que você me conte sobre o Nível 4.
Grey sentiu as entranhas caírem, como se tivesse posto o pé num degrau que não estivesse ali.
- Eu só faço a limpeza. Sou faxineiro.
- Desculpe - disse Paulson. - Mas não acredito nisso nem por um segundo.
Grey pensou de novo nas câmeras.
- Richards...
- Richards que se foda.
Paulson olhou para a câmera, deu um adeusinho, depois girou as mãos lentamente, dobrando todos os dedos menos o médio. Manteve a mão assim por alguns segundos.
- Acha que alguém está mesmo vigiando essas coisas? O dia todo, todos os dias, ouvindo a gente, bisbilhotando o que a gente faz?
- Não há nada lá embaixo. Juro.
Paulson balançou a cabeça lentamente. Grey viu de novo a loucura nos olhos dele.
- Nós dois sabemos que isso é mentira, portanto pode dar um tempo, por favor? Vamos ser honestos um com o outro.
- Eu só faço a limpeza - disse Grey em voz baixa. - Só estou aqui para trabalhar. Paulson não disse nada. A sala estava tão quieta que Grey pensou estar ouvindo
O próprio coração bater.
- Diga uma coisa. Você dorme bem, Grey?
- O quê?
Os olhos de Paulson se estreitaram numa expressão de ameaça.
- Fiz uma pergunta: você... dorme... bem?
- Acho que sim - respondeu Grey. - Claro, durmo, sim.
Paulson deu uma risadinha sarcástica, recostou-se na cadeira e olhou para o teto. - Você acha. Você acha.
- Não sei por que você está me perguntando essas coisas. Paulson suspirou com força.
- Sonhos, Grey - respondeu, aproximando o rosto ainda mais de Grey. - Estou falando de sonhos. Você sonha, não é? Bem, eu sonho. A porra da noite toda. Um sonho atrás do outro. Tenho tido uns sonhos muito doidos.
Doido, pensou Grey: isso praticamente resumia a situação. Paulson estava doido. Os parafusos não estavam mais no lugar. Talvez tivesse passado um tempo excessivo na montanha, muitas semanas no frio e na neve. Grey conhecera sujeitos assim em Beeville: eles pareciam ótimos quando chegavam, mas, depois de alguns meses, não conseguiam juntar duas frases que fizessem sentido.
- Quer saber com o que eu sonho, Grey? Ande. Adivinhe.
- Não quero.
- Tente, porra.
Grey olhou para a mesa. Podia sentir as câmeras vigiando, podia sentir Richards, em algum lugar, absorvendo tudo aquilo. Pensou: por favor. Pelo amor de Deus. Chega de perguntas. - Eu não... sei.
- Não sabe.
Grey balançou a cabeça, os olhos ainda voltados para baixo. - Não.
- Então vou lhe contar - disse Paulson baixinho. - Eu sonho com você.
Por um momento nenhum dos dois falou nada. Paulson estava doido, pensou Grey. Doido de pedra.
- Desculpe - gaguejou Grey. - Não há mesmo nada lá embaixo. - Fez menção de se levantar novamente, esperando sentir a mão de Paulson agarrando seu cotovelo e tentando impedir sua saída.
- Tudo bem - disse Paulson, e acenou com a mão. - Por enquanto é só. Saia daqui. - Ele girou a cadeira e olhou para Grey, que estava de pé segurando a bandeja. - Mas vou lhe contar um segredo. Quer ouvir?
Grey balançou a cabeça.
- Sabe aqueles dois sujeitos da limpeza que foram embora?
- Quem?
- Você sabe quem são os caras - respondeu Paulson, franzindo a testa. - Os dois gordos. O retardado e o amigo dele.
- Jack e Sam.
- Isso. - Paulson desviou o olhar. - Eu nunca soube o nome deles. Acho que podemos dizer que nomes não fazem parte do trato.
Grey esperou que Paulson dissesse mais alguma coisa.
- O que é que tem?
- Bem, espero que não sejam seus amigos. Porque tenho um pequeno furo jornalístico para você. Eles estão mortos. - Ele se levantou sem olhar para Grey. - Todos nós estamos mortos.
Estava escuro e Cárter estava com medo.
Ele parecia estar em algum lugar abaixo do solo, bem abaixo. Tinha visto quatro botões no elevador, os números correndo ao contrário, como numa garagem subterrânea. Quando o colocaram na maca, ele estava tonto e não sentia dor - haviam dado a ele alguma coisa, algum tipo de injeção que o deixara sonolento mas sem dormir de verdade, por isso sentiu um pouco o que estavam fazendo na sua nuca. Cortando, colocando alguma coisa embaixo da pele. Seus pés e mãos estavam presos - para deixá-lo confortável, tinham dito. Depois o haviam levado na maca até o elevador, e essa era a última coisa de que se lembrava: os botões e o dedo de alguém apertando N4. O cara da arma, Richards, não tinha voltado como prometera.
Agora ele estava acordado e, mesmo não podendo ter certeza, sentia-se como se estivesse no fundo, no fundo de um buraco. Os pulsos e os tornozelos ainda estavam presos, e provavelmente a cintura também. A sala era fria e escura, mas ele podia ver luzes piscando em algum lugar, não saberia dizer a que distância, e ouvir o barulho de um ventilador. Não conseguia se lembrar muito da conversa que tivera com os homens antes de o levarem para baixo. Tinham-no pesado, disso Cárter se lembrava, e feito outras coisas que qualquer médico faria: mediram sua pressão, pediram que mijasse num copo, bateram em seu joelho com um martelinho e espiaram dentro de seu nariz e da boca. Depois enfiaram aquele tubo nas costas da sua mão - o que doeu, doeu como o diabo; ele se lembrava de ter soltado um puta que pariul - e prenderam o tubo a um saco plástico pendurado num suporte. O resto era só um borrão. Lembrava-se de uma luz esquisita, de um vermelho vivo, brilhando na ponta de uma caneta, e todos os rostos à sua volta subitamente usando máscaras, um deles - não dava para saber qual - dizendo: "Isso é só um laser, Sr. Cárter. Talvez o senhor sinta uma leve pressão."
Agora, no escuro, lembrava-se de ter pensado, antes que o cérebro ficasse diluído e distante, que Deus havia pregado uma última peça nele e que talvez, no fim das contas, essa fosse a sua viagem até a injeção letal. Tinha imaginado se veria Jesus logo, ou a Sra. Wood ou o próprio diabo.
Mas não havia morrido, apenas dormira, mas não sabia por quanto tempo. Sua mente vagara por um período, indo de um tipo de escuridão a outro, como se ele estivesse andando por uma casa sem luz e, sem nada para ver, não tivesse como se orientar. Não sabia distinguir o que estava embaixo do que estava em cima. Seu corpo todo doía, e a língua parecia uma meia embolada dentro da boca, como se um estranho animal peludo estivesse entocado ali. A região da nuca na altura dos ombros latejava de dor. Levantou a cabeça para olhar em volta, mas tudo o que pôde ver foram pequenos pontos de luz - luzes vermelhas, como a da caneta. Não sabia a que distância estavam nem o tamanho delas. Para ele, poderiam ser luzes de uma cidade distante.
Wolgast: o nome lhe veio à mente, flutuando na escuridão. Havia algo a respeito de Wolgast, aquilo que dissera sobre o tempo. Eu posso lhe dar esse tempo, Anthony. Todo o tempo do mundo. Um oceano de tempo. Era como se ele soubesse o que havia no coração de Cárter, como se não tivessem acabado de se encontrar, mas se conhecessem havia muitos anos. Ninguém jamais havia falado com ele daquele jeito.
Isso o fez pensar no dia em que tudo começara, como se os dois fossem um só. Junho: era junho, disso se lembrava. Era junho, o ar quentíssimo embaixo do viaduto, e Cárter estava de pé num canto sujo na sombra, segurando a placa de papelão - COM FOME. QUALQUER AJUDA SERVE. DEUS O ABENÇOE. Ele havia visto o carro, um Denali preto, parar junto ao meio-fio. A janela do carona se abriu, mas não somente a fresta usual, de modo que quem estivesse dentro pudesse lhe entregar algumas moedas ou uma nota dobrada sem que os dedos precisassem sequer encostar nos dele: a janela desceu até o final em um único movimento, o reflexo de Cárter no vidro escuro caindo como uma cortina, como se um buraco tivesse sido aberto no mundo, revelando uma sala secreta lá dentro. Era meio-dia, e o tráfego da hora do almoço aumentara nas estradas e na West Loop, que vibrava em um ritmo tenso acima de sua cabeça, estalando como uma longa fileira de vagões de carga.
- Oi - gritou alguém de dentro do carro.
Era a voz de uma mulher, esforçando-se para ser ouvida acima do rugido dos carros e do eco do viaduto.
- Ei, você aí. Moço! Com licença, moço!
Enquanto se aproximava da janela aberta, Cárter pôde sentir o ar frio de dentro do carro bater em seu rosto, sentiu o cheiro doce do couro novo e então, quando chegou mais perto, o perfume da mulher. Ela estava inclinada na direção da janela do carona, o corpo fazendo força contra o cinto de segurança, os óculos escuros empoleirados no alto da cabeça. Uma mulher branca, claro. Ele sabia mesmo antes de olhar: um Denali preto de pintura reluzente e uma grade brilhante enorme na frente, seguindo pela pista leste na San Felipe, que ligava a Galleria a River Oaks, onde ficavam as mansões.
Mas a mulher era jovem, mais do que ele teria imaginado vendo um carro daqueles. Ela devia ter no máximo 30 anos e usava o que parecia ser uma roupa de tênis, com saia branca e blusa combinando, a pele lisa e brilhosa. Os braços eram magros, fortes e bronzeados. O cabelo era louro e liso, com algumas mechas mais escuras, puxado para trás, para longe do rosto. O nariz era delicado e as maçãs do rosto, bem definidas. Sem jóias que ele pudesse ver, a não ser um anel com um diamante do tamanho de um dente. Ele sabia que não deveria olhar mais de perto, mas não pôde se conter. Deixou os olhos percorrerem o banco de trás do carro. Viu uma cadeirinha de bebê vazia, brinquedos de pelúcia coloridos pendurados e, ao lado, uma grande sacola de compras feita de papel metalizado. O nome da loja, Nordstrom, estava nela.
- O que a senhora puder dar - murmurou Cárter. - Deus a abençoe.
A bolsa dela, uma gorda sacola de couro, estava em seu colo. Ela começou a jogar o conteúdo no banco: um batom, uma agenda, um celular minúsculo que parecia uma joia.
- Quero lhe dar alguma coisa - disse ela. - Vinte está bom? É o que as pessoas normalmente dão? Não sei.
- Deus abençoe a senhora.
O sinal de trânsito, Cárter sabia, estava para mudar.
- O que a senhora puder.
Assim que ela pegou a carteira, a primeira buzina impaciente tocou. A mulher virou a cabeça depressa ao escutar o som, depois olhou para o sinal de trânsito, agora verde.
- Ah, droga, droga. - Ela remexia freneticamente a carteira, um negócio enorme do tamanho de um livro, com presilhas, zíperes e compartimentos atulhados de pedaços de papel. - Onde está? - dizia ela. - Onde está?
Mais buzinas, e então, com um rugido, o veículo atrás dela, uma Mercedes vermelha, acelerou e se enfiou na pista do meio, cortando um utilitário modelo esportivo. O motorista do utilitário pisou no freio e se debruçou sobre a buzina.
- Desculpe, desculpe - dizia a mulher. - Ela olhava para a carteira como se fosse uma porta trancada cuja chave ela não conseguia encontrar. - Só tenho cartão aqui, eu achei que tinha uma nota de 20, talvez fosse de 10, ah, droga, droga...
- Ei, idiota! - Um homem pôs a cabeça para fora da janela de uma picape grande, dois carros atrás. - Não está vendo o sinal? Saia da frente!
- Tudo bem - disse Anthony, recuando. - É melhor a senhora ir.
- Está me ouvindo? - gritou o homem.
Mais buzinadas longas. Ele sacudiu o braço na janela.
- Saia da frente, porra!
A mulher arqueou as costas para olhar pelo retrovisor. Seus olhos ficaram muito arregalados.
- Cale a boca! - gritou ela, amarga, batendo no volante com os punhos. - Meu Deus, cale a boca!
- Tire a porra desse carro daí!
- Eu queria lhe dar alguma coisa. Era só o que eu queria. Por que tem de ser tão difícil fazer isso? Eu só queria ajudar...
Cárter percebeu que era hora de correr. Dava para ver como o resto iria se desenrolar: a porta do carro se abrindo, os passos furiosos vindo em sua direção, um rosto de homem perto do de Cárter, com um sorrisinho de desprezo - Está incomodando essa senhora? Que porra é essa que você está fazendo, cara? - e então mais homens, quem sabia quantos, sempre aparecia um monte de homens quando chegava a hora, e, independente do que a mulher dissesse, ela não poderia ajudá-lo, e eles veriam o que quisessem ver: um negro e uma mulher branca com uma cadeirinha de bebê e sacolas de compras, a carteira aberta no colo.
- Por favor - disse ele. - Dona, a senhora precisa ir.
A porta da picape se abriu, vomitando um sujeito enorme com o rosto vermelho, de jeans e camiseta, com mãos grandes como luvas de beisebol. Ele esmagaria Cárter como um inseto.
- Ei! - gritou ele, apontando. A fivela grande e redonda do seu cinto brilhava ao sol. - Você aí!
A mulher levantou os olhos para o espelho e viu o mesmo que Cárter: o sujeito tinha uma arma.
- Ai, meu Deus, ai, meu Deus! - gritou ela.
- Ele está assaltando ela! Esse crioulo está roubando o carro dela!
Cárter ficou imobilizado. Aquilo tudo estava vindo para cima dele com um rugido furioso, o mundo inteiro buzinando e vindo pegá-lo, vindo finalmente pegá-lo. A mulher estendeu a mão rapidamente por cima do banco do carona e abriu a porta.
- Entre!
Mesmo assim ele não conseguia se mexer.
- Vamos! - gritou ela. - Entre no carro!
E por algum motivo ele entrou. Largou o cartaz, entrou rapidamente e bateu a porta. A mulher pisou no acelerador e atravessou o sinal, que havia ficado vermelho de novo. Carros se desviaram enquanto eles disparavam pelo cruzamento. Por um segundo Cárter teve certeza de que iriam bater e fechou os olhos com força, preparando-se para o impacto. Mas nada aconteceu, ninguém os acertou.
Era incrível, pensou. O carro saiu voando de sob o viaduto, a mulher dirigindo tão velozmente que parecia ter esquecido que ele estava ali. Passaram por cima dos trilhos de uma ferrovia e o Denali pulou tão alto que ele sentiu a cabeça tocar o teto. O solavanco pareceu sacudir a mulher também, e ela pisou no freio com tanta força que os dois foram lançados na direção do painel. Depois disso ela fez uma curva e estacionou em frente a uma tinturaria e uma loja de donuts, e então, sem olhar para Anthony nem dizer uma palavra, abaixou a cabeça sobre o volante e começou a chorar.
Cárter nunca tinha visto uma mulher branca chorar, pelo menos não de perto, só em filmes e na TV. Dentro do Denali ele podia sentir o cheiro das lágrimas, como cera derretendo, e o aroma limpo do cabelo dela. Então percebeu que podia sentir o próprio cheiro também, coisa que não acontecia havia muito tempo, e viu que não cheirava nada bem. Cheirava mal, mal de verdade, como carne estragada e leite azedo, e então olhou para o corpo, para as mãos e braços sujos, e a mesma camiseta e os jeans que usava havia dias, e sentiu vergonha.
Depois de algum tempo ela levantou o rosto do volante e limpou o nariz com as costas da mão.
- Qual é o seu nome?
- Anthony.
Por um momento Cárter se perguntou se ela iria levá-lo direto para a polícia. O carro era tão limpo e novo que ele se sentia como uma grande mancha de sujeira sentado ali. Mas se ela estava sentindo seu mau cheiro, não demonstrou.
- Posso descer aqui - disse Cárter. - Desculpe ter lhe causado tantos problemas.
- Você? O que você fez? Você não fez nada. - Ela respirou fundo, inclinou a cabeça para trás, encostando-a no apoio do banco, e fechou os olhos. - Meu Deus, meu marido vai me matar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Rachel, o que você estava pensando?
A mulher parecia estar com raiva, e Cárter achou que ela estava esperando que ele simplesmente saísse por conta própria. Estavam poucos quarteirões ao norte de Richmond. Dali ele poderia pegar um ônibus até o lugar onde costumava dormir, um terreno baldio na Westpark, ao lado de um centro de reciclagem. Era um bom local, não tinha problemas ali, e, quando chovia, o pessoal deixava ele dormir em uma garagem vazia. Tinha pouco mais de 10 dólares - algumas notas e moedas que conseguira durante a manhã -, o bastante para ir embora e comprar alguma coisa para comer.
Pôs a mão na porta.
- Não - disse ela rapidamente. - Não vá. - Em seguida se virou para ele. Seus olhos, inchados de tanto chorar, examinaram o rosto de Cárter. - Você precisa dizer se estava falando sério.
Cárter não entendeu.
- Como é, dona?
- O que você escreveu no cartaz. O que você disse: "Deus o abençoe". Ouvi você dizer isso. Porque o negócio - disse ela sem esperar resposta - é que não me sinto abençoada, Anthony. - Ela deu uma risada, mostrando uma fileira de dentes pequeninos e brancos como pérolas. - Não é estranho? Eu deveria me sentir abençoada, mas não me sinto. Eu me sinto péssima. Eu me sinto péssima o tempo todo.
Cárter não sabia o que dizer. Como uma dona branca que nem ela podia se sentir péssima? Com o canto do olho ele conseguia ver a cadeirinha de bebê vazia e os brinquedos coloridos no banco de trás, e se perguntou onde a criança estaria agora. Talvez devesse dizer algo sobre o fato de ela ter um bebê, como isso deveria deixá-la feliz. Pelo que ele sabia, as pessoas gostavam de ter bebês, principalmente as mulheres.
- Não importa - disse a mulher. - Ela olhava com a expressão vazia pelo para-brisa, em direção à loja de donuts.
- Sei o que você está pensando. Não precisa dizer nada. Eu devo parecer maluca.
- Para mim, a senhora parece bem.
Ela deu outra risada amargurada.
- É exatamente isso, não é? Eu pareço bem. Você pode perguntar a qualquer um. Rachel Wood tem tudo o que uma pessoa poderia desejar. Rachel Wood parece estar perfeitamente bem...
Durante um minuto os dois ficaram sentados, a mulher chorando baixinho, os olhos tristes fixados no nada, enquanto Cárter tentava decidir se devia sair do carro ou não. Mas ela estava chateada, e parecia errado deixá-la assim. Ele se perguntava se ela queria que ele sentisse pena dela. Rachel Wood: achou que esse era o nome dela. Mas não tinha certeza. Talvez Rachel Wood fosse uma amiga dela ou alguém que estivesse cuidando de seu bebê.
Sabia que teria de sair dali mais cedo ou mais tarde. Em algum momento o sentimento que havia tomado conta dela iria passar, e ela se daria conta de que quase levara um tiro por causa daquele crioulo fedorento que estava sentado em seu carro. Mas, por enquanto, a sensação do ar fresco que vinha do painel em seu rosto e o silêncio estranho e triste da mulher bastavam para mantê-lo onde estava.
- Qual é o seu sobrenome, Anthony?
Ele não se lembrava de que alguém lhe houvesse feito essa pergunta antes.
- Cárter - respondeu.
O que ela fez em seguida surpreendeu-o mais do que qualquer outra coisa que acontecera até então. Ela se virou no banco e, olhando-o com expressão decidida, estendeu a mão para cumprimentá-lo.
- Bem - disse ela, a voz ainda marcada pela tristeza. - Prazer em conhecê-lo Sr. Cárter. Meu nome é Rachel Wood.
Sr. Cárter. Ele gostou disso. As mãos dela eram pequenas, mas o aperto era forte como o de um homem. Ele se sentiu... Cárter não conseguiu pensar nas palavras para descrever aquele sentimento. Ficou vendo se ela iria limpar a mão, mas ela não fez menção disso.
- Ah, meu Deus - disse a mulher, os olhos arregalados de ansiedade. - Meu marido vai ter um ataque do coração. O senhor não pode contar a ele o que aconteceu. De jeito nenhum.
Cárter balançou a cabeça.
- Quero dizer, ele não tem culpa de ser um babaca total e absoluto. Ele simplesmente não veria a coisa como nós. O senhor precisa me prometer, Sr. Cárter.
- Não vou falar nada.
- Bom. - Ela assentiu satisfeita e voltou os olhos para o para-brisa de novo, a testa lisa se franzindo, pensativa. - Donuts. Não sei por que fui parar logo aqui. Provavelmente o senhor não gosta de donuts, gosta?
Só em escutar a palavra, a boca de Cárter se encheu de saliva. Ele sentiu o estômago roncar.
- Gosto de donuts - respondeu Cárter. - Principalmente com café.
- Mas isso não seria uma refeição de verdade, seria? - A voz dela soava firme, determinada. - O senhor precisa de uma refeição de verdade.
Foi então que Cárter entendeu o que estava sentindo. Ele se sentia visto. Como se o tempo todo tivesse vivido como um fantasma sem saber. Percebeu de repente que ela pretendia levá-lo para casa. Ele ouvira falar de gente assim, mas nunca havia acreditado.
- Sabe, Sr. Cárter, acho que Deus o colocou naquele viaduto hoje por um motivo. Acho que Ele estava tentando me dizer alguma coisa.
Ela ligou o Denald.
- O senhor e eu vamos ser amigos. Posso sentir isso.
E eles eram amigos, exatamente como ela dissera. Isso era o mais estranho. Ele e essa dona branca, a Sra. Wood, com o marido dela - que tinha idade para ser seu pai, se bem que Cárter quase nunca o visse - e a casa grande embaixo dos carvalhos, com gramado farto e cerca viva, e as duas menininhas - não só o bebê, mas a mais velha também, linda como uma joaninha, assim como a irmã, as duas parecendo uma pintura. Ele sentia isso até os ossos, até a parte mais profunda de sua alma: eles eram amigos. Ela havia feito coisas por ele que ninguém jamais fizera: era como se tivesse aberto a porta do carro e lá dentro existisse uma sala enorme, e naquele espaço houvesse pessoas, vozes dizendo o nome dele, comida, uma cama para dormir e todo o resto. Ela havia lhe arranjado trabalho, não só na casa dela, mas em outras também, e em todas elas as pessoas o chamavam de Sr. Cárter e perguntavam se ele poderia fazer um servicinho extra porque elas iam receber visitas: remover as folhas secas do pátio, pintar algumas cadeiras ou limpar as calhas, ou mesmo levar um cachorro para passear de vez em quando. Sr. Cárter, sei que o senhor deve estar ocupado, mas se não for incomodar, poderia...? E ele sempre dizia sim e, no envelope embaixo do capacho ou no vaso de plantas, sempre deixavam 10 ou 20 pratas a mais, sem que ele tivesse de pedir. ; Gostava daquelas outras pessoas, mas a verdade é que elas não importavam para ele: era por ela que Cárter fazia tudo.
Às quartas-feiras, o melhor dia da semana - o dia dela -, a Sra. Wood acenava de uma janela enquanto ele empurrava o cortador de grama para fora da garagem, e às vezes, muitas vezes, saía da casa quando ele havia terminado e estava limpando as ferramentas - ela não deixava o dinheiro embaixo do capacho como os outros, colocava-o na sua mão - e se sentava um pouquinho no pátio com copos de chá gelado, lhe contava coisas sobre a vida dela, mas também perguntava sobre ele. Os dois conversavam como pessoas de verdade, sentados à sombra. Sr. Cárter - dizia ela - o senhor foi mandado por Deus. Sr. Cárter, não sei como conseguia fazer as coisas sem o senhor. O senhor era a peça que faltava no quebra-cabeça.
Ele a amava. Era verdade. Esse era o mistério, o mistério triste e lamentável de tudo aquilo. Deitado agora no escuro e no frio, sentiu as lágrimas chegando, subindo de dentro dele. Como alguém poderia dizer que ele fizera alguma coisa à Sra. Wood quando ele a amava daquele jeito? Porque ele sabia. Sabia que, mesmo que ela sorrisse, gargalhasse e cuidasse da própria vida, indo às compras ou ao cabeleireiro e jogando tênis, havia um vazio dentro dela, ele vira isso naquele primeiro dia no carro, e seu coração se entregara àquilo, como se o simples fato de ele desejar preencher aquele vazio fosse suficiente.
Nos dias em que ela não ia até o pátio, o que se tornou mais frequente à medida que o tempo foi passando, ele a avistava de relance no sofá, onde ela ficava deitada durante horas, simplesmente deixando o neném chorar de fome ou porque estava molhada, sem mover nenhum músculo: era como se todo o ar tivesse fugido dela. Algumas vezes ele não a via e achava que ela devia estar triste em algum lugar dentro da casa. Nesses dias ele fazia coisas extras, aparando com mais capricho a cerca viva, ou tirando ervas daninhas do caminho, na esperança de que, se esperasse o suficiente, ela sairia com o chá. O chá significava que ela estava bem, que tinha superado mais um daqueles dias em que se sentia péssima.
E então, naquela tarde - naquela tarde terrível - ele encontrou a menina mais velha, Haley, sentada sozinha no pátio. Era dezembro, o ar estava áspero e úmido, a piscina cheia de folhas de inverno. A menininha, que estava no jardim de infância, vestia o short azul e a blusa de gola do uniforme e mais nada, nem agasalho, nem mesmo sapatos. Ela segurava uma boneca, uma Barbie. Ela não tinha aula hoje?, Cárter perguntou, e ela balançou a cabeça sem olhar para ele. A mãe dela estava em casa? Papai está no México, a menina falou, tremendo de frio. Com a namorada dele. Mamãe não quer sair da cama.
Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Tocou a campainha e depois chamou da janela, mas ninguém atendeu. Não sabia o que pensar da menininha ali fora, sozinha, mas havia muita coisa que ele não sabia sobre gente como os Wood, nem tudo na vida deles fazia sentido para ele. Só tinha seu suéter velho e sujo para dar à menina, mas ela o aceitou, enrolando-o em volta do corpo como um cobertor. Ele começou a trabalhar no gramado, pensando que talvez o som do cortador de grama acordasse a Sra. Wood e ela se lembrasse de que a filha estava lá fora perto da piscina, que ela acidentalmente havia trancado a porta. Sr. Cárter, não sei como isso aconteceu, eu caí no sono, graças a Deus o senhor está aqui.
Enquanto a menina o olhava em silêncio com a boneca na mão, ele terminou de cortar o gramado e pegou a peneira na garagem para limpar a piscina. Foi então que o viu, perto da beirada do caminho: um sapinho. Não era maior que uma moedinha. Fora sorte não tê-lo acertado com o cortador. Abaixou-se para pegá-lo. Não pesava nada em sua mão. Se não o estivesse vendo com os próprios olhos, diria que a mão estava vazia, de tão leve que era. Talvez fosse a menina olhando para ele do pátio, ou então a Sra. Wood dormindo lá em cima na casa, mas naquele momento parecia que de algum modo o sapo, aquela coisinha minúscula no gramado, poderia consertar as coisas.
- Venha aqui - disse à menina. - Venha aqui, querida, tenho uma coisa para lhe mostrar. É só uma coisinha pequenininha, Srta. Haley. Uma coisa pequenininha, que nem você.
Então se virou e encontrou a Sra. Wood parada no quintal, a menos de quatro metros dele. Devia ter saído pela porta da frente, porque ele não ouvira nenhum som. Ela vestia uma camiseta grande, como uma camisola, o cabelo todo desgrenhado em volta do rosto.
- Sra. Wood - disse ele -, como vai? Que bom ver a senhora de pé. Eu ia mostrar isso aqui à Srta. Haley...
- Saia de perto dela!
Mas aquela não era a Sra. Wood, não a que ele conhecia. Os olhos dela estavam ensandecidos. Parecia que não sabia quem ele era.
- Sra. Wood, eu só ia mostrar uma coisa bonitinha a ela...
- Vá embora! Vá embora! Corra, Haley, corra!
E, antes que ele pudesse dizer mais uma palavra, ela o havia empurrado com força, com toda a força. Ele cambaleou para trás e seu pé tropeçou no cabo da peneira que havia deixado no deque. Ele estendeu a mão instintivamente, as pontas dos dedos segurando a frente da camiseta dela, e sentiu o seu peso levá-la. Não pôde fazer nada para impedir, e foi então que os dois caíram na piscina.
A água o acertou como um punho, o nariz, os olhos e a boca se enchéndo daquele horrível gosto químico, como o hálito do demônio. Ela estava embaixo, em cima e em volta dele enquanto os dois afundavam, enrolando os braços e as pernas um no outro como uma rede. Ele tentou se soltar, mas ela o agarrou com força, arrastando-o cada vez mais para o fundo. Ele não sabia nadar, nem uma braçada, era capaz de se manter flutuando na superfície se fosse necessário, mas até isso o apavorava, e ele não tinha forças para se desvencilhar. Esticou a cabeça em direção à superfície brilhante da água, mas era como se estivesse a um quilômetro de distância. A Sra. Wood o estava puxando para baixo, para um mundo de silêncio, como se a piscina fosse um pedaço do céu invertido, e foi então que ele percebeu: era para lá que ela queria ir. Era para lá que ela havia se dirigido o tempo todo, desde aquele dia embaixo do viaduto, quando tinha parado o carro e perguntado o nome dele.
O que quer que a estivesse mantendo naquele outro mundo, no mundo acima da água, havia finalmente se partido, como a linha de uma pipa, mas o mundo estava de cabeça para baixo, e agora a pipa caía. Ela o puxou contra o peito, o rosto encostado no ombro de Cárter, e por um instante ele vislumbrou seus olhos através da água agitada e viu que estavam cheios de uma escuridão terrível e derradeira. Por favor, deixe que seja eu. Eu morro se a senhora quiser, eu morreria pela senhora, se a senhora pedisse, deixe-me morrer em seu lugar. Ele só precisava inspirar. Sabia disso com tanta clareza quanto sabia o próprio nome, porém, por mais que quisesse, não conseguia fazer isso. Tinha vivido demais para simplesmente desistir da vida. Os dois bateram no fundo com um baque suave, a Sra. Wood o segurando, e ele sentiu os ombros dela estremecerem quando ela inspirou pela primeira vez. A Sra. Wood inspirou de novo, e então uma terceira vez, as bolhas do ar que restava em seus pulmões subindo ao lado do ouvido dele como um segredo sussurrado - Deus o abençoe, Sr. Cárter -, e então ela o soltou.
Ele não se lembrava de ter saído da piscina, nem do que tinha dito à menina. Ela estava chorando alto e então parou. A Sra. Wood estava morta, sua alma não estava mais ali, mas o corpo vazio subiu lentamente à superfície, ocupando seu lugar junto às folhas que ele pretendera limpar. Havia uma espécie de paz naquilo tudo, a paz terrível de um coração partido, como se algo que viesse acontecendo havia muito tempo finalmente tivesse encontrado um jeito de acabar. Cárter se sentia começando a desaparecer de novo. Horas - ou talvez minutos - se passaram antes que a vizinha viesse, e depois a polícia, mas àquela altura ele decidira que não diria a absolutamente ninguém o que acontecera, as coisas que tinha visto e ouvido. Ela havia lhe confiado um segredo, o último segredo sobre quem ela era, e ele pretendia guardá-lo.
Cárter decidiu que não se importava com o que iria lhe acontecer agora. Parecia inevitável. Talvez Wolgast tivesse mentido, talvez não, mas a missão de Cárter havia sido cumprida, agora ele sabia disso. Ninguém iria lhe perguntar de novo sobre a Sra. Wood. Ela era apenas algo em sua mente, como se uma parte dela tivesse passado direto para ele, e ele não precisaria falar mais nada a ninguém sobre isso.
O silêncio à sua volta se quebrou com um som sibilante, como o ar saindo de um pneu, e uma única luz verde apareceu na parede oposta, onde antes havia uma vermelha. Uma porta se abriu, banhando a sala de uma luz azul pálida. Cárter viu que estava deitado numa maca, vestindo uma camisola hospitalar. O tubo ainda estava preso em sua mão, e olhar para o lugar onde ele repuxava a pele por baixo do esparadrapo fazia-o doer ferozmente de novo. A sala era maior do que ele tinha pensado e sem nada além de superfícies totalmente brancas, a não ser pelo lugar onde a porta se abrira e algumas máquinas na parede mais distante, que não se pareciam com nada que ele conhecesse.
Havia uma figura parada junto à porta.
Cárter fechou os olhos e se recostou, pensando. Agora estava tudo certo. Tudo certo. Estou pronto. Podem vir.
- Temos um problema.
Eram pouco mais de 10 horas da noite. Sykes estava parado à porta da sala de Richards.
- Eu sei - disse Richards. - Estou cuidando disso.
O problema era a menina, Amy. Ela não era mais uma fulana sem sobrenome. Richards recebera a notícia pelo informe geral da polícia pouco depois das nove horas. A mãe da menina era suspeita de um assassinato que acontecera nos arredores de uma república universitária e o rapaz em quem ela havia atirado era filho de um juiz federal. A arma, que ela deixara no local do crime, levara a polícia a um hotel barato perto de Graceland, onde o gerente - que tinha duas páginas de ficha criminal - identificara a menina pela foto tirada pelos policiais na sexta-feira, no convento onde a mãe a havia deixado.
As freiras tinham contado a história e outra coisa, que deixara Richards intrigado - algo sobre uma confusão no zoológico em Memphis -, e uma delas identificara Doyle e Wolgast a partir de um vídeo de vigilância feito na noite anterior no posto de fiscalização da 1-55 ao norte de Baton Rouge. A notícia fora ao ar no telejornal local à noite, e o Alerta Amber tinha sido dado.
Assim, de uma hora para outra, o mundo inteiro estava procurando dois agentes federais e uma menininha chamada Amy Bellafonte.
- Onde eles estão agora? - perguntou Sykes.
De seu terminal, Richards se conectou ao satélite e apontou o visor para os estados entre o Tennessee e o Colorado. Havia um transmissor no celular de Wolgast. Richards identificou 18 localidades possíveis na região, depois encontrou a que correspondia exatamente ao número do rastreador de Wolgast.
- Oeste de Oklahoma.
Sykes estava de pé atrás dele, olhando por cima de seu ombro.
- Acha que eles já sabem?
Richards ajustou a imagem, dando um zoom.
- Eu diria que sim - respondeu, e mostrou os dados a Sykes.
Velocidade do alvo: 102km/h
E um momento depois:
Velocidade do alvo: 122km/h
Agora eles estavam fugindo. Richards teria de ir pegá-los. A polícia local estava envolvida, talvez até a estadual. Seria, no mínimo, arriscado. Isso se conseguisse alcançá-los a tempo. O helicóptero já estava vindo de Fort Carson, Sykes o solicitara.
Os dois subiram de escada até o Nível e ficaram esperando do lado de fora do prédio. A temperatura havia subido desde o nascer do sol. Uma névoa densa subia em espirais sob as luzes do estacionamento, lembrando gelo seco em um show de rock. Os dois permaneceram calados. Não havia o que dizer. A situação era mais ou menos uma merda completa e absoluta. Richards pensou na foto de Amy que estava em todos os informes policiais. Amy Bellafonte: bela fonte - o cabelo preto e liso caindo até os ombros parecia úmido, como se ela tivesse andado na chuva, e o rosto delicado, infantil, tinha ainda as bochechas arredondadas de um bebê, mas olhos escuros que demonstravam uma compreensão profunda. Estava usando jeans e um agasalho fechado até o pescoço. Em uma das mãos segurava um bicho de pelúcia. Podia ser um cachorro. Mas os olhos: Richards não conseguia parar de olhar para eles. Era como se Amy estivesse encarando a câmera e dizendo: Está vendo? O que você achou que eu era, Richards? Achou que ninguém no mundo me amasse?
Por um segundo apenas, um pensamento passou de raspão por ele como uma asa: o desejo de que ele fosse uma pessoa diferente, de que a expressão nos olhos de uma criança significasse alguma coisa para ele.
Cinco minutos depois ouviram o barulho, uma presença pulsante voando baixo sobre as árvores a sudeste. A aeronave circulou o complexo uma vez, arrastando um cone de luz, depois desceu no estacionamento com precisão, empurrando uma onda de ar trêmulo por baixo das hélices. Um Blackhawk UH-60 com armamento completo, preparado para reconhecimento noturno. Parecia um exagero para buscar uma menininha. Mas esta era a situação em que se encontravam agora. Levaram as mãos aos olhos para se protegerem do vento e do redemoinho de neve.
Enquanto o helicóptero pousava, Sykes segurou Richards pelo cotovelo:
- Ela é uma criança! - disse acima do barulho. - Faça isso direito!
Qualquer que seja o significado disso, pensou Richards, e se afastou rapidamente na direção da porta que se abria.
DEZ
Agora estavam correndo, Wolgast dirigindo, Doyle no banco do carona, digitando furiosamente uma mensagem em seu celular. Ele queria que Sykes soubesse quem estava no comando.
- Não tem sinal esta porra. - Doyle atirou o celular no painel.
Estavam a 25 quilômetros de Homer, viajando em direção ao oeste. Campos abertos deslizavam interminavelmente sob um céu denso de estrelas.
- Eu poderia ter lhe contado isso - disse Wolgast. - Isto aqui é o fim do mundo. E vê se controla o palavreado.
Doyle o ignorou. Wolgast levantou os olhos rapidamente para o retrovisor e encontrou Amy olhando para ele. Sabia que ela também sentia que os dois agora tinham uma ligação. Desde o momento em que haviam saído do carrossel, ele passara para o lado dela.
- Quanto você sabe? - perguntou Wolgast. - Acho que agora não faz diferença se me contar.
- Tanto quanto você. - Doyle deu de ombros. - Talvez um pouco mais. Richards achou que você poderia ter problemas com isso.
Quando eles teriam conversado?, pensou Wolgast. Enquanto ele e Amy andavam nos brinquedos? Naquela noite em Huntsville, quando Wolgast retornara ao hotel para telefonar para Lila? Ou teria sido antes?
- Você deveria ter cuidado. Estou falando sério, Phil. Um cara como ele. Um agente de segurança particular. O sujeito é pouco mais que um mercenário.
Doyle suspirou irritado.
- Sabe qual é o seu problema, Brad? Você não sabe quem está do seu lado aqui. Eu lhe dei o benefício da dúvida lá atrás. Tudo o que você precisava fazer era trazê-la de volta para o carro no horário combinado. Você não está vendo a coisa em perspectiva.
- Já vi o suficiente.
Um posto de gasolina apareceu diante deles, um oásis luminoso na escuridão. Enquanto se aproximavam, Wolgast diminuiu a velocidade.
- Pelo amor de Deus, não pare - disse Doyle. - Continue dirigindo.
- Não chegaremos muito longe sem gasolina. Estamos com um quarto de tanque. Este pode ser o último posto por um bom tempo.
Se Doyle queria ser o chefe, pensou Wolgast, pelo menos teria de agir como tal.
- Ótimo. Mas só a gasolina. E vocês dois ficam no carro.
Pararam junto à bomba. Depois que Wolgast desligou o motor, Doyle estendeu a mão para tirar as chaves da ignição. Em seguida abriu o porta-luvas e tirou a arma de Wolgast. Soltou o pente, enfiou-o no bolso do casaco e colocou a arma vazia de volta.
- Fique aqui.
- Seria bom você verificar o óleo também.
Doyle deu um suspiro exasperado.
- Meu Deus, mais alguma coisa, Brad?
- Só estou avisando. Não seria nada bom se o carro quebrasse.
- Está bem. Vou verificar. Mas fique no carro.
Doyle deu a volta por trás do Tahoe e começou a encher o tanque. Com Doyle fora do carro, Wolgast tinha um momento para pensar, mas, desarmado e sem as chaves, não havia muito o que pudesse fazer. Parte dele tinha decidido não levar Doyle completamente a sério, mas, por enquanto, a situação era o que era. Puxou a alavanca embaixo do painel. Doyle foi até a frente do Tahoe e levantou o capô, bloqueando sua visão do interior do carro.
Wolgast se virou para Amy.
- Você está bem?
A menina confirmou com a cabeça. Ela segurava a mochila no colo, a orelha gasta de seu coelho de pelúcia aparecendo pela abertura. A luz do posto de gasolina, Wolgast podia ver um pouco de açúcar nas bochechas dela, como flocos de neve.
- Ainda vamos ao médico?
- Não sei. Vamos ver.
- Ele tem uma arma.
- Eu sei, querida. Está tudo bem.
- Minha mãe tinha uma arma.
Antes que ele pudesse responder, Doyle bateu o capô do Tahoe. Espantado, Wolgast se virou rapidamente, a tempo de ver três carros da polícia estadual, as luzes acesas, passando rapidamente pelo posto de gasolina na direção oposta.
A porta do carona do Tahoe se abriu, deixando entrar um sopro de ar úmido.
- Merda. - Doyle entregou as chaves a Wolgast e girou no banco para olhar os carros passando. - Acha que é por nossa causa?
Wolgast virou a cabeça para olhar os carros pelo retrovisor externo. Eles estavam indo no mínimo a 130km/h, talvez mais. Talvez se tratasse de alguma coisa corriqueira, como uma batida ou um incêndio. Mas algo dentro dele dizia que não. Ele contou os segundos, olhando as luzes se afastarem. Tinha contado até 20 quando teve certeza de que eles estavam fazendo a volta.
Virou a chave, sentiu o motor rugir.
- É por nossa causa, sim.
Eram 10 horas, e irmã Arnette não conseguia dormir. Não conseguia nem fechar os olhos.
Era horrível, simplesmente horrível, tudo o que havia acontecido - primeiro os homens vindo atrás de Amy, o modo como eles a haviam enganado, haviam enganado a todo mundo, embora irmã Arnette continuasse sem entender como eles podiam ser agentes do FBI e sequestradores ao mesmo tempo. Depois aquela coisa terrível no zoológico, os gritos, o choro e todo mundo correndo, e Lacey segurando Amy daquele jeito, recusando-se a soltá-la. E as horas que elas haviam passado na delegacia, o restante do dia. Não foram tratadas como criminosas, mas certamente também não do modo a que irmã Arnette estava acostumada - aquele tom levemente acusatório, o detetive fazendo as mesmas perguntas repetidamente, e depois os repórteres e carros das redes de TV enfileirados na rua em frente ao convento, os refletores enormes iluminando as janelas da frente enquanto a noite chegava, o telefone tocando sem parar, até que finalmente irmã Claire teve a ideia de desconectá-lo.
A mãe da menina havia matado alguém, um jovem. Era o que o detetive tinha dito. O nome do policial era Dupree, um rapaz novo com uma barbicha espetada, e ele falou com ela de modo cortês, com um pouco daquele velho sotaque de Nova Orleans - o que significava que provavelmente era católico -, chamando-a de querida e meu bem, mas não era isso o que irmã Arnette havia pensado dos outros dois, quando bateram à sua porta? Wolgast e o mais novo, o bonitão, cujos rostos ela vira de novo no vídeo embaçado que Dupree lhe mostrara, feito em algum lugar do Mississippi, quando - ela supôs - eles achavam que ninguém estava olhando. Não pensara que eles eram homens bons porque pareciam bons? E a mãe? O detetive Dupree tinha dito que a mãe era uma prostituta. "Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis." Provérbios, capítulo 23. "Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte; os seus passos conduzem para o inferno."
Conduzem para o inferno. As palavras faziam irmã Arnette estremecer na cama. Porque o inferno era verdadeiro, isso era fato: era um lugar real, onde as almas atormentadas gemiam em agonia por toda a eternidade. Esse era o tipo de mulher que Lacey deixara entrar na cozinha delas, que havia estado na casa delas não mais de 36 horas atrás: uma mulher que conduzia para o inferno. De algum modo a mulher havia atraído o tal rapaz - Arnette não queria nem imaginar essa parte - e depois atirado nele, dado um tiro na cabeça dele, e depois havia largado a menina com Lacey enquanto fugia, uma menina que tinha sabe Deus o que dentro dela. Porque havia alguma coisa nela que não era... terrena. Não era bom pensar nisso, mas era verdade. De que outro modo explicar o que tinha acontecido no zoológico, os animais correndo e todo aquele tumulto?
A situação toda era horrível. Horrível, horrível, horrível.
Arnette tentou se obrigar a dormir, mas não conseguiu. Ainda podia ouvir os carros das emissoras de TV lá fora, podia ver, através do véu dos olhos fechados, o brilho voraz dos refletores. Se ligasse a televisão, sabia o que iria encontrar: repórteres falando em tom sério e gesticulando em direção à casa onde Arnette e as outras irmãs tentavam dormir. A cena do crime, como eles a chamavam, do último acontecimento naquela história emocionante de assassinato e sequestro, em que agentes federais estavam de algum modo envolvidos - ainda que Dupree tivesse proibido terminantemente que as irmãs mencionassem esse detalhe a qualquer pessoa.
Quando elas voltaram para casa na viatura policial, todas mudas de tanta exaustão, e encontraram pelo menos uma dúzia de carros de emissoras enfileirados junto ao meio-fio em frente à casa, irmã Claire notou que não eram só das redes de Memphis, mas vinham de longe - de Nashville, Paducah e Little Rock, até mesmo de St. Louis. Assim que a viatura estacionou, os repórteres partiram para cima delas como um enxame, apontando-lhes refletores e microfones e ladrando suas perguntas furiosas, ininteligíveis. Aquelas pessoas não tinham decência. Irmã Arnette ficou tão apavorada que começou a tremer. Foram necessários dois policiais para afastar os repórteres da propriedade - Não veem que elas são freiras? O que vocês pensam que estão fazendo, incomodando um grupo de religiosas? Todos vocês, para trás, agora mesmo -, de modo que as irmãs pudessem andar em segurança até a casa.
É, o inferno era real, e Arnette sabia onde ficava. Ela estava dentro dele agora mesmo.
Depois disso, as irmãs haviam se sentado na cozinha, nenhuma delas com fome, mas mesmo assim precisando estar juntas em algum lugar - todas menos Lacey, que Claire tinha levado direto para descansar no quarto. Era estranho: de todas elas, Lacey parecia a menos abalada pelos acontecimentos da tarde. Mal havia pronunciado uma palavra durante horas, nem para as irmãs nem para Dupree, ficando apenas sentada com as mãos no colo, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mas então algo curioso aconteceu: os policiais lhe mostraram o vídeo gravado no Mississipp- O e, quando Dupree congelou a imagem dos dois homens, Lacey se inclinou e olhou intensamente para o monitor. Arnette já dissera a Dupree que eram eles, que ela havia olhado bem e não tinha nenhuma dúvida de que os homens na tela eram os mesmos que tinham ido até o convento e levado a menina. Mas a expressão no rosto de Lacey, algo parecido com surpresa, mas que não era bem isso - a palavra que veio à mente de Arnette foi perplexidade -, fez com que todos esperassem.
- Eu estava errada - disse Lacey finalmente. - Não é... ele. Não é ele.
- Qual deles, irmã? - perguntou Dupree, gentilmente.
Ela ergueu o dedo para o agente mais velho, o único que havia falado - se bem que fora o mais novo, lembrou Arnette, que pegara Amy e a colocara no carro. Na imagem, o homem estava olhando diretamente para a câmera, segurando um copo descartável. O horário indicado no canto direito inferior da tela era 6h01, na mesma manhã em que os dois haviam chegado ao convento.
- Ele - disse Lacey, e encostou o dedo no vidro.
- Ele não levou a menina?
- Tenho toda a certeza de que foi ele quem a levou, detetive - declarou Arnette, que em seguida se virou e olhou para as irmãs Louise e Claire, que assentiram, confirmando. - Todas nós concordamos nisso. Irmã Lacey está muito abalada.
Mas a explicação não dissuadiu Dupree.
- Irmã Lacey? O que quer dizer com "não é ele"?
O rosto dela brilhava de convicção.
- Esse homem - respondeu ela. - Estão vendo? - Em seguida se virou e olhou para todos. Chegou a sorrir. - Não estão vendo? Ele a ama.
Ele a ama. O que pensar disso? Mas essas foram as únicas palavras que Lacey dissera a respeito. Será que ela queria dizer que Wolgast conhecia a garota? Será que ele poderia ser o pai de Amy? O que significava tudo aquilo? Mas isso não explicava o que ocorrera no zoológico, uma coisa terrível - na confusão, uma criança fora pisoteada e tinha sido internada; dois animais, um felino e um dos macacos, tinham sido mortos a tiros -, nem o rapaz morto na faculdade, nem todo o resto. E no entanto, durante toda a tarde na delegacia, enquanto elas contavam a história, Lacey ficara sentada em silêncio, com aquele sorriso estranho, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia.
Arnette achava que tudo remontava ao que acontecera a Lacey muitos anos antes, quando ela era uma menininha na África. Arnette havia contado tudo às irmãs, enquanto estavam sentadas na cozinha esperando dar a hora de irem para a cama. Provavelmente não deveria ter feito isso, mas tivera de contar a Dupree, e, assim que elas chegaram em casa, ela simplesmente colocou tudo para fora. As irmãs concordaram que uma experiência como aquela jamais deixava a pessoa; ela penetrava bem fundo e ficava ali para sempre. Irmã Claire - é claro que tinha que ter sido irmã Claire, aquela que havia cursado uma faculdade e mantinha um vestido elegante e sapatos de salto alto no armário, como se a qualquer momento fosse receber um convite para uma festa chique - sabia o nome daquilo: estresse pós-traumático. Fazia sentido, disse irmã Claire, agora tudo se encaixava. Isso explicava a atitude protetora de Lacey para com a menina, e por que jamais saía de casa, e o modo como parecia viver afastada delas, mesmo estando na mesma casa, como se parte dela estivesse sempre em outro lugar. Pobre Lacey, tendo de carregar uma lembrança assim...
Arnette olhou o relógio: meia-noite e cinco. O barulho dos carros havia finalmente cessado, e todas as equipes de TV tinham ido embora. Ela puxou as cobertas e deu um suspiro preocupado. Não havia como negar. Tudo isso era culpa de Lacey. Arnette jamais teria entregado a menina àqueles homens se Lacey não tivesse mentido, e, no entanto, agora era Lacey que estava dormindo tranquilamente, enquanto ela, Arnette, ficava acordada na cama. As outras irmãs não conseguiam ver isso? Provavelmente estavam dormindo também. Apenas ela, Arnette, fora sentenciada a passar a noite vagando pelos corredores de sua mente.
Porque estava preocupada, muito preocupada. Alguma coisa não batia, não importava o que irmã Claire dissesse. Não é ele. Ele a ama. Aquele sorriso estranho nos lábios de Lacey, um sorriso de quem sabia de algo mais. Dupree havia interrogado Lacey repetidamente, perguntando-lhe o que isso significava, mas Lacey só sorria e repetia aquelas palavras, como se elas explicassem tudo. Mas aquilo ia diametralmente contra os fatos. Wolgast era o sujeito em questão: todos concordavam nesse ponto. Wolgast e o outro homem, o que havia levado a garota para o carro - o nome dele, Arnette se lembrava agora, era Doyle, Phil Doyle. Para onde haviam levado a menina, e por quê? Bem, ninguém dissera nada a Arnette. Ela sentia que Dupree também estava perplexo, pelo modo como ficava repetindo as mesmas perguntas, clicando a caneta, franzindo a testa e balançando a cabeça com expressão de incredulidade, dando telefonemas, tomando um copo de café atrás do outro.
Então, apesar de todas essas preocupações, Arnette sentiu que começava a relaxar. As imagens do dia se desenrolavam em sua cabeça como a linha de um carretel, puxando-a para o sono. Fale de novo sobre o que aconteceu no estacionamento, irmã. Arnette na salinha que tinha o espelho que não era espelho - e ela sabia disso. Fale sobre os homens. Fale sobre Lacey. Arnette estava virada para o vidro. Por cima do ombro de Dupree, ela podia ver o reflexo do próprio rosto - velho, marcado pelo tempo e pelo cansaço, envolto no tecido cinza do véu, de modo que parecia um rosto flutuando sem corpo - e atrás dele, do outro lado do vidro, acima e ao redor dela, uma presença obscura a vigiava. Quem estaria por trás do seu rosto? Agora podia ouvir a voz de Lacey também. Lacey no estacionamento, a Lacey enlouquecida que parecia alheia a todas elas, sentada no chão e apertando a menina com ferocidade. Arnette estava de pé junto a ela, e Lacey e a menina choravam. Não a levem. Sua mente acompanhou o som da voz de Lacey, descendo para um lugar de escuridão. Não me levem, não me levem, não me levem...
Um raio de ansiedade golpeou seu peito. Ela se levantou depressa. O ar no quarto pareceu mais leve, como se todo o oxigênio tivesse sido extraído. Seu coração martelava. Teria caído no sono? Estaria sonhando? O que era aquilo?
E então soube, soube com certeza. Elas estavam em perigo, um perigo terrível. Algo vinha chegando. Não sabia o quê. Alguma força tenebrosa estava à solta e varrendo o mundo, indo em direção a elas, a todas elas.
Mas Lacey sabia. Lacey, que ficara deitada no campo durante horas, sabia que mal era aquele.
Arnette saiu depressa do quarto. Uma mulher de 68 anos consumida por tamanho terror! Consagrar a vida a Deus, à Sua paz amorosa, e depois se deparar com um momento desses! Estar deitada sozinha com aquilo na escuridão! Doze passos até o quarto de Lacey. Arnette tentou girar a maçaneta, mas a porta se recusou a abrir. Estava trancada por dentro. Bateu com os punhos. - Irmã Lacey! Irmã Lacey, abra esta porta!
Logo Claire estava ao seu lado. Ela usava uma camiseta que parecia reluzir no corredor escuro. Seu rosto estava lambuzado com uma película de um creme azulado.
- O que foi? O que está acontecendo?
- Irmã Lacey, abra esta porta agora mesmo!
Silêncio do outro lado. Arnette segurou a maçaneta e a sacudiu como um cachorro com um trapo nos dentes. Bateu e bateu.
- Faça o que estou mandando agora mesmo!
Luzes se acenderam, sons de portas e vozes, uma grande agitação ao redor. Agora as outras irmãs também estavam no corredor, os olhos arregalados em alarme, todas falando ao mesmo tempo.
- O que está acontecendo?
- Não sei, não sei...
- Lacey está bem?
- Alguém ligue para a emergência!
- Lacey - Arnette gritava -, abra esta porta!
Uma força enorme a segurou e a puxou dali. Irmã Claire havia agarrado Arnette por trás, pegando-a pelos braços. Ela se sentiu diminuída, pôde ver como sua força, contra a da irmã Claire, não era nada.
- Olhem, a irmã se machucou...
- Santo Deus do Céu!
- Olhem as mãos dela!
- Por favor - soluçou Arnette -, me ajudem!
Irmã Claire a soltou. Um silêncio reverente baixou sobre elas. Tiras vermelhas escorriam pelos punhos cerrados de Arnette. Claire segurou um deles e o abriu gentilmente. A palma da mão de Arnette estava cheia de sangue.
- Foram só as unhas dela - disse Claire para as outras. - Ela cravou as unhas nas palmas das mãos.
- Por favor - implorou Arnette, as lágrimas escorrendo pelo rosto. - Apenas abram a porta e olhem.
Ninguém sabia onde estava a chave. Irmã Tracy foi quem deu a ideia de pegarem a chave de fenda na caixa de ferramentas embaixo da pia da cozinha e enfiá-la na fechadura. Mas, antes mesmo que isso acontecesse, irmã Arnette já sabia o que elas encontrariam.
A cama não havia sido desfeita. As cortinas da janela aberta balançavam no ar da noite.
A porta se abriu para revelar um quarto vazio. A irmã Lacey Antoinette Kudoto havia sumido.
Duas da madrugada. A noite se arrastava.
Não que ela tivesse começado bem para Grey. Depois da discussão com Paulson na cantina, Grey havia retornado ao seu quarto no alojamento. Ainda faltavam duas horas para o início de seu turno, mais do que o suficiente para pensar no que ele dissera sobre Jack e Sam. O único lado bom disso era que afastava um pouco seus pensamentos daquela outra coisa, do eco esquisito em sua cabeça, mas mesmo assim não era nada bom ficar ali sentado e preocupado e, às 9h45, quase a ponto de explodir, ele vestiu o agasalho e atravessou o complexo até o Chalé. Sob as luzes do estacionamento, Grey fumou um último cigarro, tragando a fumaça. Alguns médicos e técnicos de laboratório, com pesados sobretudos por cima dos jalecos, saíram do prédio, entraram em seus carros e foram embora. Ninguém sequer acenou para ele.
O chão junto à porta da frente estava escorregadio por causa da neve derretida. Grey bateu as botas para limpá-las e foi até o balcão da recepção. O segurança pegou seu crachá, passou-o pelo leitor e liberou sua entrada no elevador, onde ele apertou o botão do Nível 3. - Segure o elevador.
Grey sentiu um arrepio. Era Richards, que um instante depois entrava no elevador, uma nuvem do ar gélido de fora ainda em seu casaco de nylon.
- Grey. - Richards apertou o botão do Nível 2 e olhou rapidamente o relógio. - Onde você estava de manhã, porra?
- Dormi demais.
A porta se fechou e o elevador iniciou a descida lenta.
- Acha que isso aqui é uma colônia de férias? Acha que pode aparecer quando der vontade?
Grey balançou a cabeça, os olhos no chão. O som da voz do sujeito bastava para que suas costas se retesassem. Grey não olharia para ele de jeito nenhum. - Hum, hum.
- É só isso o que você tem a dizer?
Grey podia sentir o cheiro do suor de nervosismo que seu corpo exalava, um fedor rançoso, como cebolas esquecidas numa gaveta. Provavelmente Richards também sentia.
- Acho que sim.
Richards fungou e não disse nada. Grey sabia que ele estava decidindo o que fazer.
- Vou descontar dois turnos - disse Richards por fim, sem olhar para Grey. - Mil e duzentas pratas.
A porta se abriu no Nível 2.
- Não deixe que isso aconteça de novo - alertou Richards.
Ele saiu do elevador e foi andando. Quando as portas se fecharam, Grey percebeu que estava prendendo a respiração e soltou o ar. Mil e duzentas pratas, isso doía. Mas Richards... Ele deixava Grey muito nervoso. Principalmente agora, depois do pequeno discurso de Paulson no refeitório. Grey havia começado a pensar que talvez algo tivesse realmente acontecido a Jack e Sam, que eles não tinham simplesmente dado no pé. Grey se lembrou daquela luz vermelha dançando no campo. Tinha de ser verdade: algo havia acontecido, e Richards pusera aquela luz nos sujeitos.
A porta se abriu no Nível 3, revelando a equipe de segurança: dois soldados com braçadeiras laranja no uniforme. Agora ele estava bem abaixo do solo, o que a princípio sempre o fazia sentir-se meio claustrofóbico. Acima da mesa havia um grande cartaz: SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO. RISCO BIOLÓGICO E NUCLEAR. PROIBIDO COMER, BEBER OU FUMAR. INFORME IMEDIATAMENTE AO OFICIAL DE PLANTÃO QUALQUER UM DOS SINTOMAS ABAIXO. Em seguida havia uma lista de sintomas similares aos de uma virose estomacal grave, só que piores: febre, vômito, desorientação, tremores.
Entregou o crachá ao soldado que conhecia como Davis.
- Oi, Grey. - Davis pegou o crachá e o passou pelo leitor, sem ao menos olhar para a tela. - Tenho uma charada para você: quantas crianças com TDA são necessárias para trocar uma lâmpada?
- Não sei.
- Ei, quer andar de bicicleta?
Davis gargalhou, dando tapas nos joelhos. O outro soldado franziu a testa. Grey achou que ele também não tinha entendido a piada.
- Não entendeu?
- Porque eles gostam de andar de bicicleta?
- É, porque gostam de andar de bicicleta... E TDA, cara, transtorno de déficit de atenção. Eles não conseguem prestar atenção.
- Ah, agora saquei.
- É uma piada, Grey. Você deveria rir.
- É engraçada - Grey conseguiu responder -, mas agora preciso trabalhar.
Davis deu um suspiro pesado.
- Certo, vamos lá.
Grey voltou até o elevador com Davis, que tirou do pescoço uma chave comprida e prateada e a enfiou numa fenda ao lado do botão onde se lia N4.
- Divirta-se lá embaixo - disse Davis.
- Eu só faço a limpeza - respondeu Grey, nervoso.
Davis franziu a testa e balançou a cabeça.
- Não quero saber nada disso.
No vestiário do Nível 4, Grey trocou o macacão por um jaleco. Dois outros homens estavam ali, faxineiros como ele, Jude e Ignacio. Na parede, um grande quadro branco listava as tarefas de cada funcionário do turno. Eles se vestiram juntos sem falar nada e saíram.
Grey estava com sorte: só precisava limpar os corredores e esvaziar o lixo, depois ficar de olho em Zero, para ver se ele comia alguma coisa. Pegou um esfregão e o restante do material de limpeza no armário e começou a trabalhar. À meia-noite havia terminado. Então foi até a porta no fim do primeiro corredor, passou o crachá no leitor e entrou.
A sala, que media aproximadamente seis metros quadrados, estava vazia. Do lado esquerdo, uma câmara pressurizada de dois estágios fazia a conexão com a área de detenção de cobaias. Quando precisava entrar nela, Grey gastava pelo menos 10 minutos, grande parte desse tempo usada na volta, quando precisava passar pelo chuveiro. À direita da porta da câmara ficava o painel de controle - um monte de luzes, botões e interruptores que, na maior parte, Grey não entendia e nem estava autorizado a mexer. Acima do painel, uma parede de vidro reforçado escuro mostrava a área de detenção.
Grey se sentou diante do painel e examinou o infravermelho. Zero estava encolhido num canto, longe do portão, que fora deixado aberto quando o pessoal do último turno trouxera os coelhos. O carrinho galvanizado ainda estava lá, parado no meio do cômodo com as 10 gaiolas abertas. Três coelhos ainda estavam dentro das gaiolas. Grey olhou ao redor do cômodo. Os outros coelhos estavam espalhados, intactos.
Pouco depois de uma hora, a porta do corredor se abriu e um dos técnicos entrou, um sujeito hispânico e grande chamado Pujol. Ele cumprimentou Grey com a cabeça e olhou para o monitor.
- Continua sem comer?
- Sim.
Pujol anotou algo em seu palmtop. Seu rosto era daqueles que, mesmo barbeados, parecem sempre estar com a barba por fazer.
- Eu andei pensando uma coisa - disse Grey. - Por que eles nunca comem o décimo coelho?
Pujol deu de ombros.
- Como é que eu vou saber? Talvez estejam guardando para mais tarde.
- Tive um cachorro que fazia isso.
Pujol continuou tomando notas no palmtop.
- Sei.
E deu de ombros novamente. Aquela informação não significava nada para ele.
- Avise o laboratório se ele decidir comer.
Quando Pujol saiu, Grey desejou ter se lembrado de fazer a ele as outras perguntas. Por que coelhos? Como Zero conseguia ficar grudado no teto, o que fazia às vezes? Por que simplesmente ficar ali o deixava arrepiado quase sempre? Porque era assim com Zero, mais do que com os outros: estar com Zero era como estar com uma pessoa de verdade na sala. Zero tinha uma mente, e Grey podia senti-la trabalhando. Mais cinco horas: Zero não havia se mexido um centímetro desde a chegada de Grey, mas o visor abaixo do infravermelho indicava que sua frequência cardíaca era de 102 batimentos por minuto, a mesma de quando ele se movia.
Grey lamentou não ter uma revista para ler, ou talvez algumas palavras cruzadas, para ajudá-lo a ficar alerta, mas Paulson o havia abalado tanto que ele acabara esquecendo. Também queria fumar. Alguns dos caras fumavam no banheiro, não só os faxineiros, mas também os técnicos e um ou dois médicos. Geralmente se subentendia que os funcionários podiam fumar lá, se realmente precisassem e não demorassem mais de cinco minutos, mas Grey não queria abusar da sorte com Richards, principalmente depois do encontro no elevador.
Recostou-se na cadeira. Mais cinco horas. Fechou os olhos.
Grey.
Os olhos de Grey se abriram de imediato. Ele deu um pulo na cadeira.
Grey. Olhe para mim.
Não era uma voz o que ele estava escutando, não era bem isso. As palavras estavam na sua cabeça, quase como algo que ele estivesse lendo. As palavras eram de outra pessoa, mas a voz era dele.
- Quem é?
No monitor, a forma brilhante de Zero.
Eu me chamava Fanning.
Então Grey pôde ver, como se alguém tivesse aberto uma porta em sua cabeça. Uma cidade. Uma grande cidade pulsando de luz, tantas luzes que era como se o céu estrelado tivesse caído na terra e se enrolado em volta de prédios, pontes e ruas. Em seguida, ele se viu passando por uma porta e pôde sentir e cheirar o lugar onde estava, a dureza do pavimento frio sob seus pés, a sujeira dos canos de descarga e o cheiro de pedra, a maneira como o ar de inverno se movia pelos corredores em volta dos prédios, de modo que havia sempre uma brisa soprando em seu rosto. Mas sabia que não estava em Dallas nem em qualquer outra cidade onde já estivera. Era algum lugar antigo, e era inverno. Parte dele estava sentada diante do painel do Nível 4 e parte estava em outro lugar. Sabia que seus olhos estavam fechados agora.
Quero ir para casa. Me leve para casa, Grey.
Era uma universidade, ele sabia, mas por que estaria vendo uma universidade? E como sabia que estava em Nova York - uma cidade em que nunca estivera na vida, que só vira em fotos - e que os prédios ao redor ficavam em um campus - escritórios e salas de aula, dormitórios e laboratórios? Ele estava andando por um caminho, não andando de fato, mas movendo-se de algum modo, e as pessoas passavam por ele.
Olhe para elas.
Eram mulheres, mulheres jovens, vestindo casacos pesados e cachecóis, algumas usando gorros - belas mechas fluindo deles como xales de seda e se espalhando sobre os ombros protegidas contra o inverno de Nova York. Os olhos delas brilhavam de vida. Elas riam enquanto caminhavam com livros enfiados embaixo dos braços ou apertados contra os peitos esguios, conversando animadas, ainda que ele não pudesse ouvir suas palavras.
Elas são lindas. Não são lindas, Grey?
Eram mesmo. Eram lindas. Por que Grey nunca soubera disso?
Você pode senti-las quando passam, pode sentir o cheiro delas, não pode? Nunca me canso do cheiro delas. Como o ar fica doce quando passam... Eu costumava ficar parado e inspirar. Também está sentindo o cheiro delas, não está, Grey? Como o dos meninos.
- Os meninos.
Você se lembra dos meninos, não é, Grey?
Sim. Ele se lembrava dos meninos. Os que iam da escola para casa, suando no calor, as mochilas pendendo dos ombros, as camisas úmidas grudadas no corpo. Ele se lembrava do cheiro de suor e sabonete nos cabelos e na pele deles, e da mancha úmida nas costas onde as mochilas haviam se comprimido contra a camisa. E do garoto, o garoto que ficara para trás, que pegara o atalho pelo beco, o caminho mais rápido da escola para casa: aquele garoto, a pele bronzeada, o cabelo preto grudado na nuca, os olhos abaixados, entretidos em alguma brincadeira com as riscas da calçada, de modo que a princípio não notou Grey, a picape se movendo lentamente atrás dele e então parando. Como ele parecia solitário...
Você queria amá-lo, não é, Grey? Fazer com que ele sentisse esse amor?
Grey sentiu que algo despertava dentro dele. O antigo Grey. O pânico tomou sua garganta.
- Não me lembro.
Lembra, sim. Mas fizeram alguma coisa com você, Grey. Tiraram essa parte de você, a parte que sentia amor.
- Eu não... eu não posso...
Ela ainda está aí, Grey. Escondida dentro de você. Eu sei, porque ela também estava escondida em mim. Antes de eu virar o que sou.
- O que você é...
Você e eu somos iguais. Sabemos o que queremos, Grey. Dar amor, sentir amor. Jovens garotas, meninos, é tudo a mesma coisa. Queremos amá-los como precisam ser amados. Você quer, Grey? Quer sentir aquilo de novo?
Queria. Então ele soube.
- Sim. É isso o que eu quero.
Preciso ir para casa, Grey. Quero levar você comigo, mostrar tudo isso a você.
E Grey pôde ver de novo, nos olhos de sua mente: a grande cidade de Nova York erguendo-se à sua volta, zunindo, chiando, a energia passando através de cada pedra e cada tijolo, seguindo linhas invisíveis que se conectavam às solas de seus pés. Estava escuro e ele sentia a escuridão como algo maravilhoso, algo a que pertencia. Ela fluía para ele, descendo pela garganta e para os pulmões, como um grande e prazeroso afogamento. Ele estava em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo, movendo-se não sobre a paisagem, mas através dela, entrando e saindo, respirando a cidade escura que também o respirava.
Então ele a viu. Lá estava ela. Uma garota. Ela estava sozinha, andando pelo caminho entre os prédios da universidade. Um dormitório cheio de estudantes rindo. Uma biblioteca de corredores silenciosos, as amplas janelas enevoadas pelo frio. Uma sala vazia onde uma faxineira solitária, ouvindo música pelos fones de ouvido, se abaixava para lavar o esfregão num balde. Ele percebia tudo aquilo, podia ouvir o riso e os sons do estudo silencioso e contar os livros nas prateleiras, podia ouvir as palavras da música enquanto a mulher com o balde cantarolava junto - sempre que você está perto... hum hum... ouço uma sinfonia -, e a garota no caminho, sua silhueta solitária tremeluzindo, pulsando de vida. Ela caminhava diretamente para ele, a cabeça inclinada contra o vento, os ombros ligeiramente encolhidos sob o casaco pesado, revelando que segurava alguma coisa. A garota, voltando depressa para casa. Tão sozinha... Ela havia ficado fora até tarde, estudando o livro que segurava junto ao peito, e agora sentia medo. Grey sabia que precisava dizer algo a ela, antes que fosse embora. Você gosta disso, é disso que você gosta, vou mostrar a você. Ele estava se erguendo, estava subindo e depois caindo em cima dela...
Ame-a, Grey. Tome-a.
Então ele ficou enjoado. Inclinou-se para a frente na cadeira e, com um único espasmo, liberou no chão todo o conteúdo do estômago: a sopa e a salada, o picles de beterraba, o purê e o presunto. Sua cabeça estava entre os joelhos e um longo fio de saliva pendia dos lábios.
Que diabo. Que merda é essa?
Levantou a cabeça com dificuldade. Sua mente começou a clarear. N4. Estava no Nível 4. Algo havia acontecido. Não conseguia lembrar o quê. Um pesadelo sobre voar. No sonho havia comido alguma coisa. O gosto ainda estava na boca. Um gosto de sangue. E então tinha vomitado daquele jeito.
Vômito, pensou, e sentiu o estômago afundar - isso era ruim. Muito, muito ruim. Sabia a que sintomas devia estar atento: vômito, febre, tremores. Até mesmo um espirro forte e repentino. As placas estavam por toda parte, não só no Chalé, mas também no alojamento, no refeitório, até nos banheiros: "Informe imediatamente ao oficial de plantão qualquer um dos sintomas abaixo."
Pensou em Richards. Richards, com a luzinha dançante, e em Jack e Sam.
Ah, merda. Ah, merda, merda, merda.
Tinha de agir depressa. Ninguém podia descobrir a poça de vômito no chão. Disse a si mesmo que tinha de ficar calmo. Calma, Grey, fique calmo. Olhou o relógio: 2h31. De jeito nenhum iria esperar mais três horas e meia. Levantou-se evitando pisar na sujeira e abriu silenciosamente a porta. Uma espiada rápida pelo corredor: ninguém à vista. Velocidade era crucial: precisava limpar tudo rápido e depois dar no pé. As câmeras não tinham importância. Paulson provavelmente tinha razão - como alguém poderia vigiar tudo a cada minuto do dia e da noite? Pegou um esfregão no armário, colocou um balde para encher no tanque e jogou um copo de água sanitária dentro. Se alguém visse, ele poderia dizer que tinha derramado alguma coisa, um refrigerante ou uma xícara de café. Sabia que não tinha autorização para levar nada para beber na sala, mas todo mundo levava. Havia derramado um refrigerante. Lamentava muitíssimo. Era o que diria.
Além do mais não estava doente de verdade, dava para ver, pelo menos não como as placas indicavam. Estava suando, mas era só pânico. Enquanto levantava o balde do tanque fundo, fedendo a cloro, seu corpo dizia isso com absoluta certeza. Alguma outra coisa o fizera vomitar, alguma coisa no sonho. O gosto - uma doçura quente, pegajosa, que parecia cobrir a língua, a garganta e os dentes - ainda estava em sua boca, assim como uma sensação de carne macia cedendo sob as mandíbulas, o sumo explodindo. Como se tivesse mordido uma fruta podre.
Puxou do suporte alguns metros de toalha de papel, pegou um saco de lixo e luvas no armário e levou tudo de volta à sala. Era sujeira de mais para simplesmente limpar com o esfregão, por isso ele se ajoelhou e fez o que pôde para absorver o máximo possível com as toalhas de papel, juntando os pedaços maiores em montes que poderia pegar. Colocou tudo no saco e o amarrou com força, depois molhou o esfregão no balde e o passou no chão, com movimentos circulares. Havia um pouco de vômito grudado em seus sapatos, e ele os limpou também. Agora o gosto na boca era diferente, como algo estragado, o que o fez pensar em Urso-pardo, cujo bafo ficava assim às vezes. Era a única coisa de que não gostava nele: quando voltava para o trailer fedendo a algum bicho morto e colocava a cara perto do rosto de Grey, com aquele seu sorriso de cachorro, as gengivas puxadas para trás junto aos molares. Grey não podia censurá-lo, já que ele era um cachorro, mas não gostava nem um pouco daquele cheiro, principalmente agora, que o sentia na própria boca.
No vestiário trocou de roupa rapidamente, jogou o jaleco no cesto de roupa suja e subiu de elevador até o Nível 3. Davis ainda estava lá, recostado na cadeira e com os pés apoiados na mesa, lendo uma revista, as botas balançando ao ritmo de alguma música que ele escutava nos pequenos fones de ouvido.
- Sabe, nem sei por que ainda olho essas coisas - disse Davis, elevando a voz por causa da música. - De que adianta? Não vou sair dessa merda de lugar nunca mesmo...
Davis baixou os pés para o chão e levantou a capa da revista para que Grey pudesse vê-la: duas mulheres nuas em um abraço insinuante, as bocas abertas e as pontas das línguas se tocando. A revista se chamava Gostosas. Para Grey, as línguas pareciam fatias de músculo, algo que poderia estar no balcão refrigerado de uma delicatéssen. A visão provocou uma nova onda de náusea dentro dele.
- Ah, tudo bem - disse Davis ao ver a expressão de Grey e, em seguida, tirou os fones do ouvido. - Vocês não gostam disso. Desculpe.
Davis se inclinou para a frente e torceu o nariz.
- Cara, você está fedendo. O que houve?
- Acho que comi alguma coisa estragada - respondeu Grey cauteloso. - Preciso me deitar um pouco.
Davis se encolheu, alarmado. Afastou-se da mesa, aumentando a distância entre eles.
- Nem diga uma coisa dessas, porra.
- Juro que é só isso. - Meu Deus, Grey.
Os olhos do soldado se arregalaram de pânico.
- O que você está tentando fazer comigo? Está com febre ou alguma coisa?
- Só vomitei, só isso. No banheiro. Acho que comi demais. Só preciso deitar um pouco.
Davis pensou por alguns segundos, olhando ansioso para Grey.
- Bom, eu já vi você comer, Grey. Vocês todos. Vocês não deviam se empanturrar desse jeito. E você não está parecendo nada bem, dá para ver. Sem ofensa, mas você está com uma cara horrível. Eu realmente deveria reportar isso.
Grey sabia que seria preciso lacrar aquele nível, o que significava que Davis também teria de ficar preso ali embaixo. Quanto ao que aconteceria com ele, não tinha ideia. Não queria pensar nisso. Não estava doente de verdade, disso tinha certeza. Mas havia algo errado com ele. Tivera pesadelos antes, mas nenhum deles jamais o fizera vomitar.
- Tem certeza? - insistiu Davis. - Quero dizer, você me diria se houvesse alguma coisa realmente errada, não diria?
Grey assentiu. Uma gota de suor escorreu por suas costas.
- Cara, que merda de dia - Davis suspirou, resignado. - Certo, espere aí.
Grey aguardou enquanto o rapaz puxava o comunicador do cinto.
- Não diga que nunca fiz nada por você, certo? - Davis jogou a chave do elevador. Então falou ao microfone: - Aqui é a sentinela do N3. Precisamos de um faxineiro substituto...
Mas Grey não ficou para ouvir. Já estava no elevador, indo embora.
ONZE
Em algum lugar a oeste da cidade de Randall, em Oklahoma, alguns quilômetros ao sul do limite do Kansas, Wolgast decidiu se render. Estavam parados em um lava a jato, perto de uma estrada rural cujo número ele havia esquecido havia muito tempo. O dia estava quase amanhecendo e Amy dormia profundamente, aninhada como um filhote no banco de trás do Tahoe.
Eles haviam passado três horas dirigindo a toda a velocidade, com Doyle gritando as direções de uma rota que havia montado às pressas no GPS e uma fileira de luzes piscando a distância atrás deles, às vezes sumindo quando faziam uma curva, mas sempre aparecendo de novo em sua cola. Eram pouco mais de duas da manhã quando Wolgast viu o lava a jato. Resolveu tentar a sorte, e entrou ali. Ficaram sentados no escuro, ouvindo os carros da polícia passarem voando.
- Quanto tempo você acha que a gente deve esperar? - perguntou Doyle.
Toda a arrogância anterior o havia abandonado.
- Um pouco - respondeu Wolgast. - Vamos deixar que eles se afastem de nós.
- Isso vai dar tempo para montarem bloqueios nos limites do estado. Ou eles podem voltar quando perceberem que foram despistados.
- Se você tiver uma ideia melhor, pode falar.
Doyle pensou por um momento. As grandes escovas girando no para-brisa faziam o espaço no carro parecer mais apertado.
- Na verdade, não tenho.
Por isso ficaram sentados. Wolgast esperava que a qualquer momento o lava a jato se enchesse de luz e eles ouvissem a voz de um policial num megafone ordenando que saíssem com as mãos para cima. Mas isso não aconteceu. Agora tinham sinal para o celular, mas a banda era analógica e não comportava criptografia, de modo que não havia como avisar a ninguém onde estavam.
- Olhe, Brad - disse Doyle. - Desculpe o que aconteceu lá atrás.
Wolgast estava cansado demais para conversar. A feira parecia ter acontecido havia dias.
- Esqueça isso.
- Sabe, o negócio é que eu realmente gostava do meu trabalho. Do FBI, de tudo. É o que eu sempre quis fazer. - Doyle respirou fundo e recolheu com o dedo uma gota que se formara na janela do carona. - O que você acha que vai acontecer?
- Não sei.
Doyle franziu a testa numa expressão azeda.
- Sabe, sim. Aquele cara, o Richards. Você estava certo com relação a ele.
As vidraças do lava a jato haviam começado a empalidecer. Wolgast olhou o relógio: faltavam poucos minutos para as seis. Tinham esperado o máximo que podiam. Ligou a ignição do Tahoe e deu marcha a ré.
Então Amy acordou. Ela se levantou e esfregou os olhos, olhando em volta.
- Estou com fome - anunciou.
Wolgast se virou para Doyle.
- E aí?
Doyle hesitou. Wolgast podia ver a ideia tomando forma em sua mente. Ele sabia o que estava querendo dizer na verdade: está tudo acabado. - Pode ser.
Wolgast fez o retorno com o Tahoe e voltou para Randall. O centro da cidade não era grande coisa, apenas meia dúzia de quarteirões. Um ar de abandono pairava sobre ela. A maior parte das janelas estava coberta de papel ou manchada de sabão. Provavelmente, pensou Wolgast, não muito longe havia um Walmart ou alguma outra loja dessas que apagam do mapa cidadezinhas como Randall. No fim do quarteirão, via-se um quadrado de luz refletido na calçada: algumas picapes paradas junto ao meio-fio.
- Hora do café da manhã - declarou ele.
O restaurante consistia em um único salão estreito, o teto rebaixado manchado por anos de gordura e fumaça de cigarro. Um balcão longo em um dos lados do salão dava para uma fileira de reservados com poltronas de encosto alto acolchoadas. O ar cheirava a manteiga derretida e café fervido. Alguns homens vestindo jeans e camisas de trabalho estavam sentados junto ao balcão, as costas largas encurvadas sobre pratos de ovos e xícaras de café. Os três ocuparam uma mesa nos fundos. A garçonete, uma mulher de meia-idade, cintura larga e olhos cinza transparentes, trouxe café e o cardápio.
- O que posso servir aos senhores?
Doyle disse que não estava com fome e só tomaria um café. Wolgast olhou para a mulher, que usava um crachá com o nome LUANNE.
- Qual é a melhor pedida hoje, Luanne?
- Tudo vai estar bom se o senhor estiver com fome. - Ela deu um sorriso. - O mingau de aveia não está ruim.
Wolgast assentiu e entregou o cardápio a ela. - Muito bem.
A mulher olhou para Amy.
- E essa bonequinha? O que você quer, querida?
Amy levantou os olhos do cardápio.
- Panqueca.
- E um copo de leite - acrescentou Wolgast.
- É para já - disse a mulher. - Você vai gostar da panqueca, querida. O cozinheiro faz uma especial.
Amy havia trazido a mochila para o restaurante. Wolgast a levou até o banheiro feminino para se lavar.
- Precisa que eu entre com você?
Amy balançou a cabeça.
- Lave o rosto e escove os dentes - disse. - E penteie o cabelo também.
- A gente ainda vai ao médico?
- Acho que não. Vamos ver.
Wolgast retornou à mesa.
- Escute - disse baixinho a Doyle. - Não quero dirigir até pararmos num bloqueio na estrada. Algo pode dar errado.
Doyle assentiu. O significado era claro. Com todo aquele poder de fogo, qualquer coisa podia acontecer. Em um instante o Tahoe seria cravado de balas e eles estariam mortos.
- Que tal o distrito policial de Wichita?
- É longe demais. Não vejo como conseguiríamos chegar até lá. E a essa altura acho que ninguém vai dizer que conhece a gente. Esse negócio todo está sendo feito por baixo dos panos.
Doyle olhou para a sua xícara de café. Seu rosto parecia abatido, derrotado, e Wolgast sentiu uma ponta de empatia por ele. Ele não tinha previsto nada daquilo.
- Ela é uma boa menina - disse Doyle, dando um suspiro profundo em seguida. - Merda.
- Acho que o melhor é irmos até a polícia local. Decida o que você quer fazer. Posso lhe dar as chaves do carro, se quiser fugir. Vou contar a eles tudo o que sei. Acho que essa é a nossa melhor chance.
- Quer dizer a melhor chance dela.
Doyle não disse isso em tom acusatório, estava apenas constatando um fato.
- É, a melhor chance dela.
A comida chegou enquanto Amy voltava do banheiro. O cozinheiro tinha feito panquecas com cara de palhaço, usando spray de chantilly para o cabelo e uvas no lugar dos olhos e da boca. Amy espalhou calda por cima de tudo e começou a devorar as panquecas, alternando mordidas enormes e goles de leite. Dava gosto vê-la comendo.
Wolgast saiu da mesa quando haviam terminado e foi andando até o pequeno corredor onde ficavam os banheiros. Não queria usar o celular, que, de qualquer modo, havia deixado no Tahoe. Tinha visto um telefone público ali, uma relíquia. Digitou o número de Lila em Denver, mas o telefone simplesmente tocou, tocou e, quando caiu na secretária eletrônica, ele não conseguiu pensar no que dizer e desligou. De qualquer modo, David apagaria a mensagem se a ouvisse primeiro.
Quando retornou à mesa, a garçonete estava retirando os pratos. Ele pegou a conta e foi até a caixa para pagar.
- Há alguma delegacia de polícia aqui perto? - perguntou à mulher enquanto lhe entregava o dinheiro.
- A três quarteirões daqui - respondeu ela, enfiando o dinheiro na caixa. - Mas o senhor não precisa ir tão longe. - Ela bateu a gaveta com um tá-tsin. - O Kirk ali é o subdelegado. Não é, Kirk?
- Ah, corta essa, Luanne. Estou comendo.
Wolgast olhou para a outra ponta do balcão. O sujeito, Kirk, estava curvado sobre um prato de omelete. Tinha queixo duplo, mãos grossas e gastas pelo tempo, e estava à paisana, com um jeans Wrangler apertado embaixo da barriga e uma jaqueta manchada de gordura, da cor de torrada queimada. Numa cidade pequena assim, provavelmente ele trabalhava em três empregos diferentes.
Wolgast se aproximou dele.
- Preciso denunciar um sequestro - disse.
O homem se virou no banco, limpou a boca com um guardanapo e olhou para Wolgast, incrédulo.
- O que foi que disse?
Ele tinha a barba por fazer e seu hálito cheirava a cerveja.
- Está vendo aquela garota ali? É ela que todo mundo está procurando. Imagino que você tenha visto alguma coisa a respeito no informe geral da polícia.
O homem olhou para Amy, depois de volta para Wolgast. Seus olhos se arregalaram.
- Cacete. Você está brincando. A que estava em Homer?
- Ele está certo - disse Luanne, animada. Ela estava apontando para Amy. - Eu vi no noticiário. É aquela menina. É você, não é, queridinha?
- Santo Deus!
Kirk se levantou do banco.
O restaurante caiu no silêncio. Agora todos olhavam para eles esperando o que viria em seguida.
- A polícia estadual está procurando por ela em toda parte. Onde vocês a acharam?
- Na verdade, fomos nós que a pegamos - explicou Wolgast. - Somos os sequestradores. Sou o agente especial Wolgast, aquele é o agente especial Doyle. Dê um tchauzinho, Phil.
Doyle acenou da mesa com expressão apática.
- Eaí?
- Agentes especiais? Quer dizer, FBI?
Wolgast pegou suas credenciais e as colocou no balcão para que Kirk pudesse vê-las.
- É difícil explicar.
- E vocês pegaram a menina.
Wolgast repetiu que sim.
- Gostaríamos de nos entregar a você, subdelegado Kirk. Depois que acabar de tomar seu café da manhã, é claro.
Um dos outros homens no balcão deu uma risadinha.
- Ah, já acabei - respondeu Kirk.
Ele continuava segurando as credenciais de Wolgast, estudando-as como se não pudesse acreditar no que via.
- Minha Nossa Senhora! Cacete!
- Ande logo, Kirk - disse o outro homem, e riu novamente. - Prenda eles, se é o que eles querem. Você se lembra de como fazer isso, não lembra?
- Dá um tempo, Frank. Estou pensando.
Kirk olhou sem graça para Wolgast.
- Desculpe, mas já faz um bocado de tempo. O que eu mais faço hoje em dia é cavar poços. Não acontece muita coisa por aqui, a não ser um pouco de bebedeira e desordem. E, na metade das vezes, quem faz isso sou eu. Nem tenho algemas nem nada.
- Tudo bem - respondeu Wolgast. - Podemos lhe emprestar as nossas.
Wolgast sugeriu que ele apreendesse o Tahoe, mas Kirk disse que teria de voltar mais tarde para pegá-lo. Os dois agentes entregaram suas armas e todos entraram na cabine da picape de Kirk para percorrer os três quarteirões até a delegacia, um prédio de tijolos de dois andares, com o ano, 1854, gravado em destaque acima da porta da frente. Agora o sol estava mais alto, banhando a cidade com uma luz uniforme e discreta. Enquanto saíam da picape, Wolgast ouviu passarinhos cantando nos choupos que começavam a florescer. Ele sentiu uma certa alegria, que reconheceu como alívio. Durante a viagem, espremidos na cabine da caminhonete, Amy sentara em seu colo. Agora ele se ajoelhara perto dela e colocara as mãos em seus ombros.
- Quero que você faça tudo o que esse homem mandar, está bem? Ele vai me colocar numa cela, e provavelmente não vou ver você por algum tempo.
- Quero ficar com você - disse ela.
Wolgast viu que os olhos da menina estavam cobertos por uma película de lágrimas. Sentiu um nó se formar na garganta. Mas sabia que havia tomado a decisão certa. Assim que Kirk fizesse o contato, a polícia estadual de Oklahoma chegaria como um enxame, e Amy estaria segura.
- Eu sei - disse ele, e fez o máximo para sorrir. - Vai ficar tudo bem. Prometo.
A sala do delegado ficava no porão. Kirk não os havia algemado, já que os dois estavam cooperando tanto. Ele os conduzira pela lateral do prédio e os guiara escada abaixo até uma sala de teto rebaixado com duas mesas de metal, um armário cheio de rifles e vários arquivos encostados nas paredes. A única iluminação vinha de duas janelas altas com grades do lado de fora, ambas cheias de folhas secas.
A sala estava vazia. A secretária só chegava às oito horas, explicou Kirk, acendendo as luzes. Quanto ao delegado, quem sabia onde ele estava? Provavelmente andando de carro por aí.
- Para dizer a verdade - disse Kirk nem sei se consigo fichar vocês direito. É melhor tentar encontrar o delegado pelo rádio.
Ele perguntou a Wolgast e Doyle se eles se importavam em esperar numa cela. Só tinham uma, e estava quase cheia de caixas de papelão, mas havia espaço suficiente para os dois. Wolgast respondeu que não havia problema, Kirk os levou para a cela, destrancou a porta, e os dois agentes entraram.
- Quero entrar com eles - disse Amy.
Kirk franziu a testa, incrédulo.
- Este é o sequestro mais estranho que já vi.
- Tudo bem - disse Wolgast. - Ela pode esperar aqui comigo.
Kirk pensou por um momento.
- Está bem, acho. Pelo menos até meu cunhado chegar.
- Quem é seu cunhado?
- John Price. É o delegado.
Kirk falou pelo rádio, e, 10 minutos depois, um homem vestindo um uniforme cáqui justo entrou pela porta e marchou diretamente até a cela. Era pequeno, com o corpo esguio e musculoso de um rapaz, e não tinha mais de 1,65m, mesmo com os saltos das botas de caubói, que Wolgast achou que fossem feitas de algo extravagante - couro de lagarto ou talvez de avestruz. Ele provavelmente as usava para parecer um pouco mais alto.
- Puta merda! - disse em voz surpreendentemente grave.
Price olhava para os dois com as mãos nos quadris. Havia um pedacinho de papel em seu queixo, onde ele provavelmente havia se cortado fazendo a barba às pressas.
- Vocês são federais?
- Isso mesmo.
- Contando ninguém acreditaria. - Ele então se virou para Kirk. - Por que você colocou a garota na cela?
- Ela disse que queria entrar.
- Meu Deus, Kirk. Você não pode colocar uma criança lá. Já fichou os dois?
- Prefiro esperar você chegar.
Price suspirou exasperado.
- Sabe - disse ele revirando os olhos -, você realmente precisa trabalhar mais sua autoconfiança, Kirk. Já falamos sobre isso. Você deixa Luanne e os outros pegarem demais no seu pé.
Como Kirk não dissesse nada, ele continuou:
- Bem, é melhor a gente botar a boca no trombone. Sei que estão procurando essa garota no céu e no inferno. - Olhou para Amy e emendou: - Está tudo bem com você, menininha?
Sentada no banco de concreto ao lado de Wolgast, Amy assentiu timidamente.
- Ela disse que queria entrar - repetiu Kirk.
- Não importa o que ela disse.
Price pegou uma chave em um dos compartimentos do cinto e destrancou a cela.
- Venha - disse, e estendeu a mão para Amy. - Uma cela de cadeia não é lugar para uma menininha como você. Vamos lhe arranjar um refrigerante ou alguma outra coisa. - Voltando o rosto para o cunhado, prosseguiu - Kirk, ligue para Mavis e diga que precisamos dela aqui agora mesmo.
Quando ficaram sozinhos de novo, Doyle, que estava jogado no banco de concreto, inclinou a cabeça para trás, fechando os olhos.
- Pelo amor de Deus - gemeu. - Isto parece uma novela.
Cerca de uma hora se passou. Wolgast podia ouvir Kirk e Price falando na outra sala, decidindo o que fazer, para quem ligar primeiro. A polícia estadual? A promotoria? Ainda não os haviam fichado. Mas isso não importava: seria feito mais cedo ou mais tarde.
A porta se abriu e Wolgast ouviu uma voz de mulher se dirigir a Amy, dizendo a ela que era uma menina muito bonita e perguntando o nome do coelhinho e se gostaria de tomar um sorvete, que a loja da esquina estaria aberta dentro de alguns minutos e ela poderia ir até lá comprar um. Tudo exatamente como Wolgast havia previsto quando, sentado no Tahoe no interior do lava a jato escuro, tinha decidido se entregar. Estava feliz por ter feito isso, tão feliz que se surpreendeu, e a cela, que ele achou que seria a primeira de muitas na vida, não parecia tão ruim.
Imaginou se fora assim que Anthony Cárter se sentira, se teria dito a si mesmo: esta é minha vida daqui por diante.
Price veio até a cela, segurando a chave.
- Os estaduais estão vindo - disse ele, balançando-se no salto das botas. - Pelo jeito vocês devem ter mexido num verdadeiro ninho de vespas.
Em seguida jogou duas algemas para dentro da cela.
- Acho que sabem usar isso.
Doyle e Wolgast se algemaram. Price abriu a cela e os levou de volta à sala. Amy estava sentada com a mochila no colo em uma cadeira dobrável de metal perto da mesa da recepção, comendo um sorvete. Uma mulher de meia-idade e terninho verde estava sentada ao lado, mostrando a ela um livro de colorir.
- Aquele é o meu pai - disse Amy à mulher.
- Aquele ali? - perguntou, virando a cabeça. Tinha sobrancelhas escuras desenhadas e cabelos pretos em formato de capacete: uma peruca. A mulher olhou intrigada para Wolgast, depois de volta para Amy. - Esse homem aí é seu pai?
- Tudo bem - disse Wolgast.
- Ele é o meu pai - repetiu Amy em tom sério. - Papai, a gente precisa ir embora agora.
Price havia pegado um kit de impressões digitais. Atrás dele, Kirk preparava uma tela e uma câmera para fotografá-los.
- Que negócio é esse? - perguntou Price.
- É uma longa história - respondeu Wolgast.
- Papai, agora.
Wolgast ouviu a porta se abrir atrás dele. A mulher levantou o rosto.
- Em que posso ajudar?
- Oi, bom dia - disse uma voz de homem.
Havia algo familiar nela. Price segurava Wolgast pelo pulso, para rolar seus dedos na tinta. Então Wolgast viu a expressão de Doyle e soube.
- Aqui é a delegacia? - perguntou Richards. - Oi, pessoal. Ei, essas coisas aí são de verdade mesmo? Vocês têm um monte de armas. Olhem, trouxe uma coisa para mostrar a vocês.
Wolgast girou a tempo de ver Richards atirar na testa da mulher. Um tiro à queima-roupa, abafado pelo cano longo do silenciador. Ela se balançou para trás na cadeira, os olhos arregalados de espanto, a peruca torta na cabeça. Uma pequena mancha de sangue apareceu no chão atrás dela. Seus braços se levantaram e depois caíram de novo, imóveis.
- Desculpe - disse Richards, encolhendo-se um pouco.
Em seguida rodeou a mesa. A sala se encheu do odor acre de pólvora. Price e Kirk ficaram paralisados de medo, os queixos caídos. Ou talvez não fosse medo que estivessem sentindo, e sim uma perplexidade muda. Como se tivessem entrado num filme sem sentido.
- Oi - disse Richards, mirando. - Fiquem parados. Assim mesmo. Perfeito.
E atirou neles também.
Ninguém se mexeu. Tudo havia acontecido com uma lentidão curiosa, como em um sonho, mas acabara em um instante. Wolgast olhou para a mulher, depois para os dois corpos no chão, Kirk e Price. Como a morte era surpreendente! Como era irreversível e completa! Junto à mesa da recepção, os olhos de Amy estavam fixos no rosto da mulher morta. A menina estava sentada a pouco menos de um metro quando Richards atirou. A boca da mulher estava aberta, como se fosse falar, sangue escorria por sua testa, preenchendo as rugas fundas do rosto, abrindo-se num leque como o delta de um rio. O que restava do sorvete estava espremido na mão de Amy, que provavelmente tinha a língua ainda coberta com sua doçura. Era estranho, pensou Wolgast: pelo resto da vida dela o gosto de sorvete traria de volta aquela imagem.
- Que porra é essa! - berrou Doyle. - Você matou eles, porra!
Price havia caído de cara no chão atrás de sua mesa. Richards se ajoelhou perto do corpo e revistou os bolsos até encontrar a chave das algemas, que jogou para Wolgast. Depois gesticulou para Doyle, que tinha os olhos no armário de vidro cheio de rifles.
- Eu não faria isso - alertou Richards, e Doyle se sentou.
- Você não vai atirar em nós - disse Wolgast, soltando as mãos.
- Agora, não.
Amy tinha começado a chorar, soluçando. Wolgast deu a chave a Doyle, pegou-a no colo e apertou-a com força contra o peito. O corpo da menina ficou mole de encontro ao seu.
- Sinto muito, sinto muito. - Foi só o que conseguiu dizer.
- Isso é muito tocante - disse Richards, entregando a Doyle a pequena mochila com os pertences de Amy mas se não sairmos agora, serei obrigado a atirar em mais um monte de gente, e acho que já tive uma manhã bastante cheia.
Wolgast pensou na lanchonete. Provavelmente todos estavam mortos lá também. Amy soluçava contra seu peito. Podia sentir as lágrimas dela encharcando sua camisa.
- Droga, ela é uma criança.
Richards franziu a testa.
- Por que todo mundo fica dizendo isso?
E sinalizou com a arma em direção à porta.
- Vamos.
O Tahoe estava esperando do lado de fora à luz da manhã, parado junto ao carro de Price. Richards ordenou que Doyle dirigisse e se sentou no banco de trás com Amy. Wolgast se sentia completamente impotente: depois de tudo o que fizera, das centenas de decisões que tomara na vida, não lhe restava mais nada senão obedecer. Richards os guiou para fora da cidade, para um campo aberto onde havia um helicóptero preto à espera. Quando se aproximaram, as grandes pás começaram a girar. Wolgast escutou o uivo de sirenes se aproximando.
- Vamos, depressa! - gritou Richards, sinalizando com a arma.
Subiram no helicóptero e decolaram quase instantaneamente. Wolgast segurava Amy com força. Sentia-se como em um transe, um sonho - um sonho terrível, indizível, em que tudo o que ele sempre quisera na vida lhe estivesse sendo tirado, e a única coisa que podia fazer era olhar. Já tivera esse sonho antes, um sonho em que desejava morrer mas não podia.
O helicóptero fez uma curva fechada, abrindo a visão do campo encharcado embaixo, na borda uma fileira de carros de polícia movendo-se depressa. Wolgast contou nove. Na cabine, Richards apontou pelo vidro e disse algo ao piloto que o levou a virar o helicóptero para o outro lado e depois fazê-lo pairar. Agora as viaturas estavam a apenas algumas centenas de metros do Tahoe. Richards sinalizou para que Wolgast pegasse o fone de ouvido.
- Olhe isso - disse.
Antes que Wolgast pudesse responder, houve um clarão ofuscante, como um gigantesco flash de máquina fotográfica, e um estrondo ensurdecedor sacudiu o helicóptero. Wolgast abraçou Amy pela cintura e a segurou com força. Quando olhou de novo pela janela, tudo o que restava do Tahoe era um buraco fumegante na terra, grande o suficiente para engolir uma casa. Ele ouviu a gargalhada de Richards pelo fone. Então o helicóptero fez outra curva inclinada, a força da aceleração pressionando-os contra os bancos, e levou-os embora dali.
DOZE
Que ele estava morto era fato. Wolgast aceitava isso, assim como aceitava qualquer fato da vida. Quando tudo terminasse - como quer que isso
acontecesse -, Richards o levaria para uma sala em algum lugar e lhe daria o mesmo olhar frio e definitivo que dera a Price e Kirk - como se estivesse testando sua habilidade em encaçapar uma bola de sinuca ou arremessar uma bolinha de papel no lixo - e seria o fim.
Talvez o levasse para fora para fazer isso. Wolgast esperava que sim, que ele fosse levado a algum lugar onde pudesse ver as árvores e sentir o toque do sol em sua pele, antes que Richards enfiasse uma bala em sua cabeça. Talvez chegasse a pedir: Você se importa? Se não for muito incômodo, eu gostaria de morrer olhando as árvores.
Havia 27 dias que estava no complexo. De acordo com a sua contagem, era a terceira semana de abril. Não sabia onde Amy estava, nem Doyle. Eles haviam sido separados desde o momento em que chegaram - Amy fora levada rapidamente por Richards e um grupo de soldados armados, e Wolgast e Doyle por outro grupo, mas logo em seguida os dois agentes foram separados também. Ninguém o interrogara, o que a princípio lhe parecera estranho, embora depois de algum tempo ele tivesse entendido o motivo: nada daquilo acontecera oficialmente.
Ninguém iria interrogá-lo, porque sua história era apenas isso, uma história. A única coisa que ele não entendia era por que Richards ainda não tinha simplesmente atirado nele.
O cômodo onde o haviam trancado parecia um quarto de hotel barato, se bem que pior: chão sem carpete e uma única janela, sem cortinas, a mobília pesada e sem graça aparafusada ao chão. O banheiro consistia em um cubículo minúsculo de piso gelado, e um emaranhado de fios na parede indicava o local onde um dia houvera uma TV. A porta para o corredor era grossa e se abria para fora com um rangido. Seus únicos visitantes eram os homens que traziam as refeições: figuras silenciosas, encurvadas, usando sempre os mesmos macacões marrons, que deixavam bandejas de comida na mesinha onde Wolgast passava a maior parte do dia, sentado e esperando. Provavelmente Doyle estava fazendo a mesma coisa, isso se Richards ainda não tivesse atirado nele.
A vista não era grande coisa, só uma floresta de pinheiros vazia, mas às vezes Wolgast ficava de pé durante horas olhando pela janela. A primavera estava chegando. A floresta estava encharcada de neve derretida, e em toda parte se ouvia o - O som de água escoando - pingando dos telhados e galhos, correndo pelas calhas. - Se ficasse na ponta dos pés, podia ver uma cerca ao longo das árvores e figuras se movendo perto dela. Uma noite, no início de sua quarta semana de prisão, uma tempestade de proporções bíblicas soprou com violência: trovões sacudiram as montanhas durante toda a noite, e de manhã ele olhou pela janela e viu que o inverno havia terminado, lavado pela chuva.
Durante algum tempo, Wolgast tentara puxar conversa com os homens que traziam as refeições e, às vezes, uma nova muda de roupas cirúrgicas e chinelos, nem que fosse só para perguntar seus nomes. Mas nenhum deles jamais respondera uma palavra. Eles andavam pesadamente, os movimentos desajeitados e ; imprecisos, com expressões de indiferença e uma total falta de curiosidade, como mortos-vivos em algum filme antigo - cadáveres ambulantes se reunindo em torno de uma casa de fazenda, gemendo e tropeçando nos próprios pés, vestindo os farrapos de suas vidas esquecidas. Wolgast adorava aqueles filmes quando ( era garoto, sem entender como eram de fato verdadeiros. O que eram os mortos-vivos, pensou ele, senão uma metáfora da vil marcha da meia-idade?
Wolgast sabia que era possível que a vida de uma pessoa se tornasse apenas - O uma longa série de erros e que o fim fosse apenas mais uma instância em uma cadeia sucessiva de escolhas malfeitas. O negócio era que, na verdade, esses erros, em sua grande maioria, eram originários de outras pessoas. Você pegava as idéias ruins de alguém e, por algum motivo, as tornava suas. Essa era a verdade que ele aprendera no carrossel com Amy, mas aquele pensamento vinha tomando forma : dentro dele havia algum tempo, quase um ano, na verdade. Agora Wolgast tinha tempo de sobra para pensar. Não era possível olhar nos olhos de um homem como - O Anthony Cárter e deixar de ver como isso funcionava. Era como se, naquela noite em Oklahoma, ele tivesse tido sua primeira ideia original em anos. A primeira desde Lila, desde Eva. Mas Eva morrera três semanas antes de completar ano, e, desde aquele dia, ele vagava como um morto-vivo, um homem carregando um fantasma, com um espaço vazio em seus braços, onde Eva estivera. Por isso havia sido tão eficiente ao lidar com Cárter e os outros: era exatamente igual a eles.
Imaginou onde Amy estaria, o que estaria acontecendo a ela. Esperava que não estivesse se sentindo sozinha e com medo. Mais do que esperava: agarrava-se à ideia com a ferocidade de uma prece, tentando fazê-la se tornar real. Imaginava se algum dia a veria de novo, e o pensamento o fazia levantar-se da cadeira e ir até a janela, como se fosse encontrá-la lá fora, nas sombras das árvores. E o tempo corria de algum modo, sua passagem marcada apenas pela mudança da luz na janela e as idas e vindas dos homens com as refeições, que ele mal tocava. Durante toda a noite Wolgast dormia um sono sem sonhos que o deixava aturdido de manhã, os braços e as pernas pesados como ferro. Imaginava por quanto tempo continuaria vivo.
Então, na manhã do 34º dia, alguém veio vê-lo. Era Sykes, mas estava diferente. O homem que ele conhecera um ano antes era elegante e educado. Este, ainda que usasse o mesmo uniforme, parecia ter dormido embaixo de um viaduto. Sua roupa estava amarrotada e manchada e as bochechas e o queixo, cobertos por uma barba grisalha de dias. Os olhos estavam injetados como os de um boxeador depois de alguns assaltos em uma luta desequilibrada.
Sykes se sentou pesadamente à mesa onde Wolgast estava. Cruzou as mãos, pigarreou e falou.
- Vim aqui lhe pedir um favor.
Wolgast não dizia nenhuma palavra havia dias. Quando tentou responder, a traqueia parecia fechada pela falta de uso. A voz saiu como um grasnido.
- Estou cheio de fazer favores.
Sykes respirou fundo. Exalava um cheiro rançoso de suor seco misturado a poliéster velho. Por um momento, ele deixou os olhos percorrerem o quarto minúsculo.
- Provavelmente isso tudo parece um pouco... ingrato. Admito.
- Foda-se. - Wolgast sentiu uma incrível satisfação ao dizer isso.
- Estou aqui por causa da menina, agente Wolgast.
- O nome dela é Amy.
- Sei o nome dela. Sei um bocado sobre ela.
- Ela tem 6 anos. Gosta de panquecas e de andar no carrossel. Tem um coelhinho de pelúcia chamado Peter. Você é um escroto desalmado, sabia, Sykes?
Sykes pegou um envelope no bolso do paletó e o pousou na mesa. Dentro dele havia duas fotos. Uma delas era de Amy, tirada no convento, supôs Wolgast. Provavelmente a mesma que fora divulgada no Alerta Amber. A segunda era do anuário de uma escola de ensino médio. A jovem na foto era obviamente a mãe de Amy. O mesmo cabelo escuro, o mesmo feitio delicado da ossatura facial, os mesmos olhos fundos e melancólicos, ainda que cheios de uma luz quente, esperançosa, no momento em que o obturador da câmera se abriu. Quem era aquela garota? Será que tinha amigos, família, namorado? Alguma matéria predileta na escola? Um esporte de que gostava e no qual era boa? Será que tinha segredos, uma história sobre ela própria que ninguém conhecia? O que esperava da vida? Estava quase de perfil virada para a câmera, olhando por cima do ombro direito e usando o que parecia um vestido de baile de formatura azul-claro que deixava os ombros nus. Embaixo da foto havia uma legenda: ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE MASON - MASON, IOWA.
- A mãe dela era prostituta. Na noite antes de deixar Amy no convento, ela atirou num cliente no gramado diante de uma república universitária. Só para constar.
Wolgast queria dizer: E daí? Alguma dessas coisas era culpa de Amy? Mas a imagem da mulher na fotografia - na verdade nem era uma mulher, era só uma garota - conteve sua raiva. Talvez Sykes nem estivesse dizendo a verdade. Ele pousou a foto.
- O que foi feito dela? - O Sykes deu de ombros.
- Ninguém sabe. Sumiu.
- E as freiras?
Uma sombra cobriu o rosto de Sykes. Wolgast podia ver que havia acertado no alvo sem querer. Meu Deus, pensou. As freiras também? Teria sido Richards ou outro?
- Não sei - respondeu Sykes.
- Olhe-se no espelho. Você sabe, sim.
Sykes não falou mais nada, o silêncio dizendo a Wolgast: Este assunto está encerrado. Ele coçou o olho, pôs as fotos novamente no envelope e o guardou no bolso.
- Onde está ela?
- Agente, a questão é que...
- Onde está Amy?
- O Sykes pigarreou de novo.
- Este é o motivo por que vim aqui. O favor. Achamos que Amy talvez esteja morrendo.
Wolgast foi proibido de fazer perguntas. Não teve permissão de falar com ninguém, nem olhar em volta, nem sair da linha de visão de Sykes. Uma escolta de dois soldados guiou-o pelo complexo à luz úmida da manhã. O ar tinha a aparência e o cheiro da primavera. Depois de quase cinco semanas no quarto, Wolgast se pegou respirando fundo, os pulmões famintos. O sol doía nos olhos.
Assim que chegaram ao Chalé, Sykes desceu quatro andares com ele por um elevador. Saíram num corredor vazio, branco e impecavelmente limpo, como em um hospital. Wolgast calculou que deviam estar 15 metros abaixo do chão, talvez mais. O que quer que os homens de Sykes estivessem mantendo ali embaixo, queriam que houvesse pelo menos essa quantidade de terra separando-os do mundo acima. Chegaram a uma porta onde estava escrito LABORATÓRIO PRINCIPAL, mas Sykes passou por ela sem diminuir o passo. Mais portas, e então chegaram à que interessava a Sykes. Ele passou um cartão pelo leitor e a porta se abriu.
Wolgast se viu em uma espécie de sala de observação. Do outro lado da janela ampla, sob uma luz fraca e azul, Amy estava deitada em uma cama hospitalar, sozinha. Ela estava ligada a um tubo intravenoso, mas era só isso. Ao lado da cama ; havia uma cadeira de plástico vazia. De trilhos no teto pendia um conjunto de tubos coloridos, enrolados como as mangueiras pneumáticas de uma oficina de carros. Fora isso, o lugar estava vazio.
- É ele?
Wolgast se virou e viu um homem que ele não havia notado antes. Ele usava um jaleco sobre roupas cirúrgicas verdes, como as de Wolgast.
- Agente Wolgast, este é o Dr. Fortes. Os dois assentiram, cumprimentando-se silenciosamente. Fortes era jovem,
provavelmente não passava dos 30 anos. Wolgast se perguntou se ele seria um médico ou alguma outra coisa. Como Sykes, Fortes parecia desgastado, fisicamente exausto. Sua pele era oleosa, e ele precisava cortar o cabelo e fazer a barba. Seus óculos pareciam não ser limpos havia mais de um mês.
- Um chip implantado nela transmite os sinais vitais para este painel. Fortes mostrou o painel a Wolgast: batimentos cardíacos, respiração, pressão :
arterial, temperatura. A de Amy era 39,2°C.
- Onde?
- Onde o quê?
Os olhos do médico vagaram, cheios de incompreensão.
- Onde está o chip?
- Ah... - Fortes olhou para Sykes, que assentiu. Fortes apontou para a própria nuca. - Subcutâneo, entre a terceira e a quarta vértebras cervicais. A fonte de energia é fantástica: na verdade, é uma minúscula célula nuclear. Como as dos satélites, só que muito menor.
Fantástica. Wolgast estremeceu. Uma fantástica célula nuclear na nuca de Amy. Ele se virou para Sykes, que observava tudo com uma expressão de cautela.
- Foi isso o que aconteceu com os outros? Com Cárter e o resto?
- Eles foram... preliminares - disse Sykes.
- Preliminares em relação a quê?
Ele pensou um pouco. - AAmy.
Fortes explicou o quadro: Amy estava em coma. Ninguém havia previsto isso. Sua febre estava alta demais e já durava muito tempo. As funções dos rins e do fígado haviam sido comprometidas.
- Esperávamos que você pudesse falar com ela - disse Sykes. - Às vezes isso ajuda com os pacientes em estado prolongado de inconsciência. Doyle disse que ela é bastante... ligada a você.
Uma câmara pressurizada de dois estágios fazia a conexão com a sala onde Amy estava. Sykes e Fortes guiaram Wolgast até a primeira câmara. Havia um traje protetor contra agentes biológicos laranja pendurado na parede, o capacete vazio inclinado para a frente, como um homem de pescoço quebrado. Sykes explicou como tudo funcionava.
- Você precisa vestir isso, depois vedar todas as costuras com fita adesiva. As válvulas na base do capacete se conectam aos tubos no teto. Elas estão codificadas por cores, o que torna a coisa bem simples. Quando você voltar, vai precisar tomar uma ducha com o traje, e depois outra sem ele. As instruções estão na parede.
Wolgast se sentou no banco para tirar os chinelos. E parou.
- Não - disse.
Sykes olhou para ele e franziu a testa.
- Não o quê?
- Não vou usar isso. - Em seguida se virou e encarou Sykes. - Não vai ajudar se ela acordar e me vir com uma roupa de astronauta. Se quiserem que eu entre lá, vou como estou.
- Não é uma boa ideia, agente - alertou Sykes.
Sua decisão estava tomada.
- Ou eu entro sem o traje ou nada feito.
Sykes olhou para Fortes, que deu de ombros.
- Poderia ser... interessante. Em teoria, o vírus deve estar inerte. Por outro lado, pode ser que não esteja.
- O vírus?
- Você vai descobrir logo - disse Sykes. - Deixe-o entrar, sob minha responsabilidade. E, Wolgast, depois que estiver lá dentro, não posso garantir mais nada. Está claro?
Wolgast fez que sim. Sykes e Fortes se afastaram da porta. Wolgast percebeu que não esperava que concordassem. No último instante, chamou-os de volta.
- Onde está a mochila de Amy?
Fortes e Sykes se entreolharam.
- Espere aqui - disse Sykes e retornou alguns minutos depois com a mochila. As Meninas Superpoderosas. Wolgast nunca havia observado o desenho com atenção. Eram três meninas, as imagens de plástico emborrachado grudadas à lona áspera da mochila, voando com os punhos levantados. Wolgast abriu o zíper: alguns dos pertences de Amy estavam faltando, como a escova de cabelo, mas Peter ainda estava lá dentro.
Ele fixou o olhar em Fortes.
- Como vou saber se o vírus não está... inerte?
- Ah, você vai saber - disse Fortes.
A porta foi lacrada atrás dele. Wolgast sentiu a pressão do ar cair. Acima da segunda porta, a luz mudou de vermelho para verde. Wolgast virou a maçaneta e entrou: um segundo compartimento, maior que o primeiro, com um ralo grande no chão e um chuveiro parecido com um girassol e ativado por uma corrente de metal. A luz ali era diferente: tinha um tom azulado, como o crepúsculo no outono. Um cartaz na parede continha as instruções de que Sykes havia falado - uma longa lista de passos, os últimos dos quais eram ficar de pé acima do ralo, nu, lavar a boca e os olhos, e depois pigarrear e cuspir. Uma câmera o espiava de um canto do teto.
Wolgast parou junto à segunda porta. A luz acima estava vermelha. Na parede havia um teclado onde deveria digitar a senha para destravar a porta. Como ele iria passar? Então a luz ficou verde, como acontecera com a primeira - Sykes havia acionado o sistema pelo lado de fora.
Wolgast parou antes de abrir a porta, que parecia pesada, feita de aço brilhante, como um cofre de banco ou um submarino. Não sabia exatamente por que tinha insistido em não usar o traje, decisão que agora parecia idiota. Por Amy, como dissera? Ou para arrancar alguma informação, ainda que escassa, de Sykes? De qualquer modo, a decisão parecera certa na hora.
Virou a maçaneta e sentiu os ouvidos estalarem quando a pressão caiu de novo. Encheu os pulmões de ar, prendeu a respiração e entrou.
Grey não fazia ideia do que estava acontecendo. Dias e dias assim: apresentava-se para o turno de serviço, descia de elevador até o Nível 4 - nada havia lhe acontecido depois daquela noite; Davis tinha dado cobertura a ele trocava de roupa no vestiário, limpava os corredores e banheiros, depois entrava em sua sala no setor de cobaias e saía seis horas mais tarde.
Tudo era perfeitamente normal, exceto aquelas seis horas, que ficavam em branco, como uma gaveta vazia no cérebro. Ele fazia suas tarefas - preenchia os relatórios e fazia cópias dos discos, levava as gaiolas dos coelhos para dentro e para fora, até trocava algumas palavras com Pujol ou os outros técnicos que vez por outra apareciam. No entanto, não conseguia se lembrar de nada. Passava o crachá pelo leitor antes de entrar na sala de observação, e a próxima coisa de que se lembrava era que o turno havia acabado e que estava saindo pela porta outra vez.
A não ser por pequenas coisas, fugazes, sutis, mas de algum modo luminosas, pedacinhos de dados registrados que pareciam captar a luz enquanto flutuavam como confete por sua mente durante o dia. Não eram imagens, nada tão claro e direto assim, nada que ele pudesse agarrar, mas às vezes estava sentado na cantina, ou de volta ao quarto, ou atravessando o pátio até o Chalé, e um gosto vinha borbulhando do fundo da garganta, uma sensação esquisita e suculenta na boca. Às vezes aquela impressão o atingia com tanta força que ele ficava imobilizado no meio de um passo. E, quando isso acontecia, ele pensava em coisas estranhas, desconexas, boa parte delas relacionada a Urso-pardo. Era como se o gosto em sua boca apertasse um botão que o fazia pensar no velho cachorro, no qual ele não pensara realmente até pouco tempo atrás. Na verdade, não pensava nele havia anos, até aquela noite em que tivera o sonho dentro de sua sala no setor de cobaias e vomitara o chão todo.
Urso-pardo e seu hálito fedido. Urso-pardo arrastando algum bicho morto, um guaxinim ou um gambá, até a escada da frente. Como no dia em que ele encontrou um ninho de coelhos embaixo do trailer - bolinhas cor de pêssego, ainda sem pelos - e os mastigou um a um, os pequenos crânios estalando entre seus dentes, como um menino assistindo a um filme com um saco de amendoim crocante.
Estranho: não podia dizer com certeza se Urso-pardo tinha mesmo feito isso.
Perguntava a si mesmo se estaria doente. A placa em cima do posto da sentinela no Nível 3 o deixava nervoso como nunca havia acontecido antes. Parecia estar falando diretamente com ele: QUALQUER UM DOS SINTOMAS ABAIXO... Um dia, voltando do café da manhã, sentira uma coceira na garganta, como se estivesse pegando uma gripe. Antes que percebesse, havia espirrado com força. Seu nariz vinha escorrendo um pouco desde então. Mas era primavera, ainda fazia frio à noite, a temperatura ficava em torno de 10 ou 15°C durante a tarde, e todas as árvores estavam brotando, as montanhas pinceladas de tênues chumaços verdes. Ele sempre fora alérgico.
E havia o silêncio. Grey demorou algum tempo para notá-lo. Ninguém dizia nada - não só os faxineiros, que nunca falavam muito mesmo, mas os técnicos, soldados e médicos também. Não era como se isso tivesse acontecido de repente, em um dia ou mesmo em uma semana. Mas gradativamente, com o passar dos dias, um silêncio baixara sobre o lugar, lacrando-o como uma tampa. Grey sempre fora mais de ouvir - era isso o que Wilder, o psiquiatra da prisão, falara sobre ele: "Você é um bom ouvinte, Grey." Ele dissera isso como um elogio, mas, na maior parte do tempo, Wilder era simplesmente apaixonado pela própria voz e adorava uma plateia. Mesmo assim, Grey sentia falta de vozes humanas. Uma noite, na cantina, contou 30 homens encurvados sobre as bandejas, e nenhum deles dizia uma única palavra. Alguns não estavam nem comendo: sentados nas cadeiras, apenas seguravam uma xícara de café ou chá, olhando para o espaço. Como se estivessem meio adormecidos.
Uma coisa: Grey estava dormindo muito bem. Dormia, dormia e dormia, e quando o despertador tocava às cinco horas - ou ao meio-dia se, como acontecia com frequência, ele estivesse escalado para o turno da noite -, ele rolava da cama, acendia um cigarro do maço que mantinha sobre a mesinha de cabeceira e ficava parado por alguns minutos, tentando decidir se havia sonhado ou não. Achava que não.
Até que um dia de manhã ele se sentou na cantina para comer - torradas cheias de manteiga, dois ovos, linguiça e uma tigela de mingau de aveia; se estava doente, isso certamente não o fizera perder o apetite - e, quando levantou o rosto para dar a primeira mordida na torrada, viu Paulson sentado ali, bem à sua frente, a duas mesas de distância. Grey o vira uma ou duas vezes desde a conversa que haviam tido, mas não tão perto. Paulson estava sentado diante de um prato de ovos que não havia tocado. Estava um caco, a pele do rosto tão esticada que dava para ver as junções dos ossos. Por um instante, apenas um instante, seus olhos se encontraram.
Paulson desviou o olhar.
Naquela noite, quando chegou para seu turno, Grey perguntou a Davis:
- Conhece aquele tal de Paulson?
Ultimamente Davis não andava muito animado. Não havia mais piadas, nem revistas pornográficas, nem fones de ouvido vazando música. Grey se perguntava o que, diabos, Davis ficava fazendo a noite toda - se bem que o próprio Grey também não sabia o que fazia a noite toda.
- O que é que tem?
Mas o assunto morreu ali. Grey não conseguiu puxar o assunto.
- Nada. Só estava pensando se você o conhecia.
- Faça um favor a si mesmo. Fique longe daquele babaca.
Grey desceu e foi trabalhar. Só mais tarde, enquanto limpava um dos vasos sanitários no Nível 4, pensou na pergunta que pretendera fazer.
De que ele tem tanto medo?
De que todo mundo tem tanto medo?
Chamavam-no de Número 12. Não de Cárter, Anthony ou Tony, mas agora estava tão doente, deitado sozinho no escuro, que esses nomes pareciam se referir a outra pessoa, não a ele. Uma pessoa que havia morrido, deixando em seu lugar apenas essa forma doente que se contorcia.
A doença parecia eterna. Essa era a palavra que lhe vinha à mente. Não que fosse durar para sempre. Era mais como se o mal que o afligisse fosse a própria eternidade. Como se a ideia de tempo estivesse dentro dele, em cada célula de seu corpo, e o tempo não pudesse ser um oceano, como alguém lhe dissera antes, e sim um milhão de minúsculos pavios acesos que jamais seriam apagados. A pior sensação do mundo. Alguém havia lhe dito que logo ele se sentiria melhor, muito melhor, e ele se agarrara a essas palavras. Mas agora sabia que eram mentira.
Estava levemente consciente dos movimentos ao redor, das idas e vindas, das cutucadas e beliscões dos homens com roupas de astronauta. Queria água, só um gole d'água, aplacar a sede, mas quando pedia isso não ouvia som algum saindo dos lábios, nada além do rugido e do zunido em seus ouvidos. Haviam tirado sangue dele. Pareciam litros e litros. O homem chamado Anthony havia vendido sangue de vez em quando: apertava a bolinha e ficava olhando o saco se encher, espantado com a densidade e a cor vermelha intensa, pensando em como parecia vivo. Nunca lhe tiravam mais de meio litro, e então lhe davam um lanche e um bolo de notas e o mandavam embora. Mas agora os homens vestidos de astronauta enchiam um saco depois do outro, e o sangue era diferente, mas ele não poderia dizer exatamente como. O sangue em seu corpo estava vivo, mas ele não achava que fosse apenas seu: pertencia a alguém, a alguma coisa, outra coisa.
Seria bom morrer agora.
A Sra. Wood soubera disso. E não somente com relação a ela própria, mas também com relação a Anthony, e, quando ele pensava a respeito, por um segundo era Anthony de novo. Era bom morrer. Havia uma leveza, um desapego, como no amor.
Tentou se agarrar a esse pensamento, o pensamento que o mantinha ainda Anthony, mas pouco a pouco ele ia escorrendo para longe, como uma corda puxada lentamente de suas mãos. Não sabia quantos dias teriam se passado. Algo estava acontecendo com ele, mas não rápido o suficiente para os homens vestidos de astronauta. Eles falavam e falavam nisso, cutucando-o, sondando e tirando mais sangue. E agora ele escutava outra coisa também: um murmúrio suave, como vozes, mas não vinha dos homens vestidos de astronauta. Os sons pareciam vir de longe e ao mesmo tempo de dentro dele. Não eram palavras que ele conhecia, mas mesmo assim eram palavras. O que escutava era uma língua, tinha ordem, sentido e uma mente, e não apenas uma mente, mas 12. No entanto uma delas era mais forte que as outras, não mais alta, e sim mais forte. Escutava essa voz, e depois, atrás dela, as outras, 12 no total. E estavam falando com ele, chamando-o. Sabiam que ele estava ali. Estavam em seu sangue e eram eternas, também.
Queria responder alguma coisa.
Abriu os olhos.
- Baixem o portão! - gritou uma voz. - Ele está virando!
As amarras não eram mais nada, pareciam de papel. Os rebites saltaram da mesa e dispararam pelo cômodo. Primeiro os braços, depois as pernas. A sala estava escura, mas não escondia nada de seus olhos, porque agora a escuridão fazia parte dele. E dentro dele, lá dentro, uma enorme fome devoradora despertou. Queria comer o próprio mundo. Colocar tudo dentro dele e se encher, tornar-se inteiro. Tornar o mundo eterno, como ele.
Um homem estava correndo para a porta.
Anthony caiu sobre ele rapidamente, vindo de cima. Um grito, e a voz do homem silenciou, o corpo em pedaços molhados no chão. O lindo calor do sangue! Anthony bebeu e bebeu.
Era o mesmo homem que tinha dito que logo ele se sentiria melhor. Não estava errado, afinal.
Anthony Cárter nunca se sentira melhor na vida.
Pujol, aquele escroto idiota, estava morto.
Trinta e seis dias: foi o tempo que Cárter levou para virar. Era quem havia demorado mais, desde que tinham começado. Mas Cárter devia ser o mais agressivo de todos, o último estágio antes que o vírus chegasse à forma final. O que a menina havia recebido.
Richards não se importava pessoalmente com a garota. Poderia sobreviver ou não. Viveria para sempre ou morreria nos próximos cinco minutos. Em algum momento a garota deixara de ter importância para o Departamento de Armas Especiais. Wolgast estava com ela, falando com ela, tentando trazê-la de volta. Até agora ele estava bem, mas se a garota morresse, isso não faria a menor diferença.
Em que, diabos, Pujol estivera pensando? Eles deveriam ter baixado o portão dias antes. Mas pelo menos agora sabiam o que aquelas coisas eram capazes de fazer.
O relatório da Bolívia indicara isso, mas era muito diferente ver com os próprios olhos, assistir ao vídeo de Cárter, aquele homenzinho que parecia um graveto, com um QI que não passava de 80 e que tinha medo da própria sombra, lançar-se seis metros no ar, tão depressa que era como se estivesse se movendo não pelo espaço, mas em volta dele, e rasgar um homem de cima a baixo como uma carta que ele não pudesse esperar para abrir. Quando tudo acabou - em cerca de dois segundos -, foi preciso golpear Cárter com as luzes para empurrá-lo de volta para o canto, de modo que pudessem baixar o portão.
Agora tinham os 12. Contando Fanning, 13. O trabalho de Richards estava feito, ou quase. A ordem acabara de chegar. O Projeto Noé estava avançando para o estágio em que se tornaria a Operação Ponto de Partida. Dentro de uma semana eles levariam as cobaias para White Sands. Depois disso a coisa estaria fora das mãos de Richards.
Os destruidores definitivos de fortalezas inimigas. Era como Cole os havia chamado, lá atrás, quando tudo era só teoria - antes da Bolívia, de Fanning e de todo o resto. Imagine só o que uma coisa daquelas poderia fazer, digamos, nas cavernas das montanhas ao norte do Paquistão, nos desertos do leste do Irã ou nos atiradores de elite na Tchetchênia. Pense numa lavagem intestinal, Richards: uma boa limpeza de dentro para fora.
Talvez Cole acabasse abrindo os olhos. Mas, em sua ausência, a ideia ganhara vida própria. Não importava que ela violasse pelo menos meia dúzia de tratados internacionais em que Richards podia pensar. Não importava que fosse praticamente a ideia mais idiota que ele já ouvira na vida. Um blefe, provavelmente, mas a questão era que sempre havia alguém disposto a pagar para ver. E será que alguém pensava seriamente, ao menos por um segundo, que seria possível conter uma coisa daquelas nas cavernas do norte do Paquistão?
Richards se sentia mal por Sykes, e estava bastante preocupado com ele. O sujeito estava um farrapo, mal havia saído de sua sala desde que chegara a notícia do Departamento de Armas Especiais. Quando Richards perguntara a ele se Lear sabia, Sykes dera uma gargalhada longa e infeliz. Coitado, dissera ele. Ainda acha que está tentando salvar o mundo. Aliás, pelo modo como as coisas estão indo, pode ser que o mundo acabe precisando de salvação. Nem posso acreditar que as coisas tenham chegado a esse ponto.
Caminhões blindados levariam as criaturas fluorescentes para Grand Junction. De lá, elas seriam transportadas de trem para White Sands. Quanto a Richards, assim que tudo estivesse devidamente concluído, estava pensando em comprar uma propriedade no norte do Canadá.
Os faxineiros seriam os primeiros. Os técnicos e a maioria dos soldados também, a começar pelos mais perturbados, como Derrick G. Paulson. Vinte e dois anos. Recrutado imediatamente após o ensino médio em Glastonbury, em Connecticut. Um ano no deserto, depois de volta para os Estados Unidos. Nenhum antecedente criminal, e o sujeito era inteligente também: tinha um QI de 136. Sem dúvida teria ido para a faculdade ou para a escola de oficiais. Estava ali havia 23 meses. Fora punido duas vezes por dormir no serviço e uma vez por uso não autorizado de e-mail, mas apenas isso.
O que o incomodava era que Paulson sabia, ou acreditava saber. Richards havia sentido isso. Não por causa de algo que Paulson tivesse feito ou dito, mas pela expressão de Cárter quando Richards abrira a porta do furgão - como se o coitado tivesse visto um fantasma ou coisa pior. Ninguém, a não ser a equipe médica, o pessoal do laboratório e os faxineiros, punha os pés no Nível 4. Sem nada a fazer além de ficar parados na neve, era inevitável que os recrutas tecessem hipóteses em conversas às mesas do refeitório. Mas Richards sentia que o que quer que Paulson tivesse dito a Cárter era mais do que simplesmente fofoca.
Talvez Paulson estivesse sonhando. Talvez todos estivessem.
Se Richards sonhava naqueles dias, era com as freiras. Não havia gostado muito dessa parte. Muito tempo antes, tanto tempo que parecia uma vida totalmente diferente, ele estudara em uma escola católica. As freiras não passavam de vacas velhas e murchas que gostavam de dar tapas, mas ele as respeitava. Elas falavam sério e faziam o que falavam. De modo que atirar em freiras ia contra a sua natureza. O jeito como a mulher abrira os olhos fez com que ele pensasse que ela o estivera esperando. Ele já havia apagado duas, ela era a terceira. A mulher abriu os olhos na cama e, à luz pálida que vinha da janela, ele viu que ela não era um cavalo-marinho seco como as outras, e sim uma mulher jovem, e não era feia. Então ela fechou os olhos e murmurou alguma coisa, uma oração provavelmente, e Richards atirou nela, abafando o ruído com um travesseiro.
Ainda faltava uma freira: Lacey Antoinette Kudoto, a doida. Ele havia lido a ficha psiquiátrica dela na diocese. Ninguém acreditaria muito na história dela, e, mesmo que acreditassem, o elo fora rompido no oeste de Oklahoma, com policiais mortos por agentes do FBI corruptos e um Tahoe velho que só em mil anos poderia ser montado novamente, após usarem pinças para juntar seus pedaços.
Mesmo assim não havia gostado de atirar naquela freira.
Richards estava sentado em sua sala, olhando os monitores de segurança. O relógio indicava 22h26. Os faxineiros entravam e saíam da área de detenção de cobaias com carrinhos cheios de coelhos, mas elas não comiam nenhum. O jejum havia começado com Zero, mas se espalhara entre os outros desde que Cárter chegara, talvez dois dias depois. Isso era um enigma, mas, de qualquer modo, se o Departamento de Armas Especiais conseguisse o que queria, todas as criaturas fluorescentes logo, logo se alimentariam. E, nesse meio-tempo, Richards esperava estar pescando no gelo na baía de Hudson ou juntando neve para fazer um iglu.
Olhou para a câmara de Amy no monitor. Lá estava Wolgast, sentado junto à cama dela. Haviam providenciado um pequeno toalete portátil com uma cortina de nylon, e uma cama onde ele podia dormir. Mas ele não havia dormido. Ficava sentado na cadeira ao lado dela dia e noite, segurando sua mão, falando com ela. Richards não se interessava em saber o que ele dizia. No entanto, pegava-se olhando para eles durante horas, quase tanto quanto olhava Babcock.
Voltou a atenção para a câmara de Babcock, o Número Um. Babcock estava pendurado de cabeça para baixo nas barras, os olhos daquela estranha cor laranja encarando a câmera, as mandíbulas trabalhando em silêncio, mastigando o ar. Eu sou seu e você é meu, Richards. Todos somos destinados a alguém, e eu sou destinado a você.
É, pensou Richards. Foda-se, também.
O comunicador de Richards vibrou em sua cintura.
- Aqui é a sentinela do portão - disse a voz do outro lado. - Há uma mulher aqui fora.
Richards examinou o monitor que mostrava a guarita. Dois guardas, um segurando o comunicador junto ao ouvido, o outro com a mão no coldre. A mulher estava parada fora do círculo de luz em volta da guarita.
- E daí? - disse ele. - Livre-se dela.
- Essa é a questão, senhor. Ela não quer ir. E não parece estar de carro. Acho que ela veio andando.
Richards olhava atentamente para o monitor. Viu o primeiro guarda largar o comunicador no chão e pegar a arma.
- Ei! - Richards escutou o soldado gritando. - Volte aqui! Pare ou eu atiro!
Richards ouviu o barulho da arma. O segundo soldado saiu correndo no escuro. Mais dois tiros, o som abafado pelo comunicador caído na lama. Dez segundos se passaram, depois 20. Então eles voltaram para a luz. Pela linguagem corporal deles, Richards podia ver que a haviam perdido.
O primeiro guarda pegou o comunicador e olhou para a câmera.
- Sinto muito, senhor. Ela sumiu, não sei como. Quer que a gente a procure?
Meu Deus. Era só o que faltava.
- Quem era ela?
- Uma mulher negra, com algum tipo de sotaque - explicou o guarda. - Disse que estava procurando alguém chamado Wolgast.
Ele não morreu. Não imediatamente, e nem à medida que os dias foram passando. E no terceiro dia ele contou a história.
- Era uma vez uma menininha - disse Wolgast. - Menor que você. O nome dela era Eva, e a mãe e o pai dela a amavam muito. Na noite depois que ela nasceu, o pai a pegou do berço no quarto do hospital e a segurou, sua pele encostada à dele, e, desde aquele momento, ela ficou dentro dele. A menininha ficou dentro dele, em seu coração.
Provavelmente havia alguém olhando, escutando. A câmera ficava acima do seu ombro, mas ele não se importava. Fortes entrava e saía. Tirava o sangue de Amy e trocava os sacos de soro, e Wolgast falava. Falou durante horas no terceiro dia, contando tudo a Amy, a história que não havia contado a ninguém.
- E então aconteceu uma coisa. Foi o coração. O coração dela, veja só - ele mostrou o lugar no peito onde o órgão ficava - começou a encolher. Enquanto o corpo dela crescia, o coração, não. E então o resto do corpinho dela parou de crescer também. Ele teria dado seu coração a ela se pudesse, porque, na verdade, já era dela. Sempre havia sido e sempre seria. Mas não podia fazer isso, não podia fazer nada, ninguém podia, e, quando ela morreu, ele morreu com ela. O homem que ele era se foi. E o homem e a mulher não podiam mais se amar, porque agora seu amor não passava de tristeza e saudade da menininha.
Ele contou a história toda. E quando estava terminando, o dia chegara ao fim também.
- E então você veio, Amy. Então encontrei você. Está vendo? Foi como se ela tivesse voltado para mim. Volte, Amy. Volte, volte, volte.
Ele ergueu o rosto. Abriu os olhos.
E Amy abriu os dela, também.
TREZE
Lacey se movia agachada na floresta, correndo de árvore em árvore, distanciando-se ao máximo dos soldados. O ar frio e rarefeito era cortante em seus pulmões. Ela apoiou as costas numa árvore por alguns segundos para respirar.
Não estava com medo. As balas dos soldados não eram nada. Ela as tinha ouvido rasgar o mato baixo, mas nem haviam passado perto dela. E eram tão pequenas! Como poderiam machucar uma pessoa? Depois da longa distância que havia viajado, contra tantas dificuldades, como eles podiam achar que conseguiriam espantá-la com algo tão insignificante?
Espiou ao redor do tronco grosso como um barril. Por entre o mato baixo, podia ver a luz da guarita, ouvir os dois homens falando, as vozes atravessando facilmente a noite sem luar. Uma mulher negra, com algum tipo de sotaque, e o outro repetindo sem parar: Merda, ele vai arrancar o couro da gente por causa disso. Como a gente foi perder ela? Hein? Como, porra? Você nem mirou, porra!
Quem quer que fosse o homem com quem estavam falando, tinham medo dele. Mas esse homem... Ela sabia que ele não era nada, não era ninguém. E os soldados eram como crianças, não agiam por conta própria. Como os do campo, tantos anos antes. Agora Lacey se lembrava, depois das longas horas de fuga, o que eles haviam feito a ela durante toda aquela noite. Achavam que estavam tirando alguma coisa dela - dava para ver em seus sorrisos sombrios, para sentir no hálito azedo deles em seu rosto -, e era verdade, tinham tirado mesmo. Mas agora ela os perdoaria e teria a si própria de volta, e muito mais. Fechou os olhos. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, pensou.
És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde.
Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém.
Não me assustam os milhares que me cercam.
Levanta-te, Senhor! Salva-me, Deus meu! Quebra o queixo de todos os meus inimigos; arrebenta os dentes dos ímpios.
Ela se movia de novo entre as árvores. O homem que falava aos guardas pelo rádio mandaria mais gente para caçá-la. No entanto, um sentimento quase de júbilo a tomava - uma energia nova, ágil, mais rica e profunda que qualquer coisa que já sentira na vida. Aquilo vinha crescendo durante as semanas em que estivera vindo para... bem, para onde? Não sabia o nome do lugar. Em sua mente, era apenas o lugar onde Amy estava.
Havia pegado um ônibus. Depois viajara por algum tempo na carroceria da picape de alguém, com dois cães labradores e um caixote de leitões. Às vezes acordava onde quer que estivesse e sabia que naquele dia deveria andar, simplesmente andar. De vez em quando comia ou, se parecesse certo, batia à porta de alguém e perguntava se havia uma cama onde pudesse dormir. E a mulher que atendia à porta - era sempre uma mulher, não importava em que porta Lacey batesse - dizia Claro, entre, e a levava até um quarto onde havia uma cama arrumada esperando, sem mais nenhuma palavra sobre o assunto.
E um dia, quando estava subindo por uma longa estrada na montanha, viu a glória de Deus na luz do sol que a envolvera e soube que havia chegado.
Espere, dissera a voz. Espere o pôr do sol, irmã Lacey. O caminho vai lhe mostrar o caminho.
E foi assim: o caminho mostrou o caminho. Mais homens a perseguiam agora: a cada passo, a cada estalo de graveto, a cada respiração ela ouvia um tiro mais alto, revelando a ela onde eles estavam - espalhados atrás dela numa linha ampla, seis deles, apontando as armas para a escuridão, para o nada, para um lugar onde Lacey havia estado mas não estava mais.
Chegou a uma clareira. Uma estrada. À esquerda, 200 metros adiante, ficava a guarita, banhada em seu halo de luz. À direita, a estrada virava para dentro das árvores e descia íngreme. De algum lugar lá embaixo vinha o som de um rio.
Nada nesse lugar significava qualquer coisa para Lacey, mas ela sabia esperar. Abaixou-se e encostou a barriga no chão. Os soldados continuavam atrás dela, a 50 metros, 40, 30.
Lacey ouviu o som grave de um motor a diesel, o ritmo diminuindo quando o motorista engatou a marcha para a subida final. A luz e o barulho iam lentamente na direção dela. Ela se agachou enquanto os faróis passavam por cima da crista de um morro. Era algum tipo de caminhão do Exército. O rugido do motor mudou novamente quando o motorista trocou de marcha outra vez e o camihão começou a ganhar velocidade.
Agora?
E a voz respondeu: Agora.
Ela estava de pé e corria com toda a força, o corpo se lançando em direção à traseira do caminhão. Um pára-choque largo e, acima dele, uma caçamba coberta por uma lona. Por um momento pareceu que era tarde demais, que o caminhão lassaria, mas, num impulso, ela o alcançou. Suas mãos encontraram a borda da carroceria, um pé descalço e depois o outro deixando a estrada. Lacey Antoinette Kudoto havia alçado voo: ela subira, passara por cima do pára-choque e agora rolava para dentro do caminhão.
Sua cabeça bateu no fundo da carroceria com uma pancada.
Caixas. O caminhão estava cheio de caixas.
Foi rapidamente para a parte da frente e encostou as costas na cabine. O caminhão diminuiu a velocidade de novo quando se aproximou da guarita. Lacey prendeu a respiração. O que tivesse de acontecer agora, aconteceria. Não havia nada que ela pudesse fazer. Ouviu o ranger dos freios. O caminhão parou com um solavanco.
- Deixe-me ver a relação de carga.
A voz pertencia ao primeiro guarda, o que havia mandado Lacey parar. O rapazinho com a arma. Dava para perceber, pelo ângulo de onde vinha a voz, que ele estava em pé no estribo do caminhão. O ar subitamente se encheu do cheiro de fumaça de cigarro.
- Você não deveria fumar.
- Quem é você, minha mãe?
- Leia sua relação de carga, cabeça de bosta. Você está carregando artilharia suficiente para explodir tudo e mandar a gente para Marte.
Um risinho veio do banco do carona.
- O enterro é seu. Viu alguém lá embaixo na estrada?
- Um civil, você quer dizer?
- Não. Quero dizer o abominável homem das neves. Sim, um civil. Uma mulher negra, pouco mais de 1,60m, usando saia.
- Está brincando. E depois de uma pausa: - Não vimos ninguém, está escuro. Não sei.
O guarda desceu do estribo.
- Espere enquanto dou uma olhada aí atrás.
Não se mexa, Lacey, disse a voz. Não se mexa.
A aba de lona se abriu, fechou, se abriu de novo. Um feixe de luz inundou a traseira do caminhão.
Feche os olhos, Lacey.
Ela fechou. Sentiu a luz da lanterna passar por seu rosto. Uma, duas, três vezes. Tu, Senhor, és o escudo que me protege...
Ouviu duas batidas na lateral do caminhão, bem ao lado do seu ouvido.
- Pode ir!
O caminhão se afastou.
Richards não estava nem um pouco feliz. Aquela freira maluca - que porra ela estava fazendo ali?
Decidiu não contar a Sykes. Pelo menos até saber mais a respeito. Tinha mandado seis homens. Seis! Era só dar uma porra de um tiro nela! Mas tinham voltado sem nada. Ele os mandara fazer mais uma busca ao redor do perímetro. Era só achar a mulher! Mandar uma bala nela! Era tão difícil assim?
O negócio com Wolgast e a garota já havia durado demais. E Doyle - por que aquele cara ainda estava vivo? Richards olhou o relógio: meia-noite e três. Pegou a arma na última gaveta da mesa, verificou o pente e a enfiou na cintura, às costas. Depois deixou a sala, pegou a escada dos fundos até o Nível e saiu pela área de carga.
Doyle estava detido no alojamento civil, no quarto que tinha sido de um dos faxineiros mortos. O segurança junto à porta estava cochilando na cadeira.
- Levante-se - disse Richards.
O soldado acordou assustado. Seus olhos vagaram, perdidos. Ele não parecia saber onde estava. Quando viu Richards, se levantou rapidamente em posição de sentido.
- Desculpe, senhor.
- Abra a porta.
O soldado digitou o código e se afastou.
- Pode ir - disse Richards.
- Senhor?
- Se vai dormir, faça isso no alojamento. Uma expressão de alívio.
- Sim, senhor. Sinto muito, senhor.
O soldado desceu o corredor correndo. Richards abriu a porta. Doyle estava sentado na beira da cama, as mãos cruzadas no colo e os olhos fixos no quadrado vazio na parede onde a TV estivera um dia. Havia uma bandeja de comida intocada no chão, exalando um leve cheiro de peixe estragado. Quando Doyle ergueu o rosto, um sorriso fino abriu seus lábios.
- Richards. Seu escroto.
- Vamos.
Doyle suspirou e bateu nos joelhos.
- Sabe, ele estava certo com relação a você. Wolgast. Eu estava aqui pensando. Quando é que meu velho amigo Richards virá me fazer uma visita?
- Por mim, teria vindo antes.
Doyle parecia que ia gargalhar. Richards nunca vira tanta disposição em um homem que com certeza sabia o que estava prestes a lhe acontecer. Doyle balançou pesaroso a cabeça, ainda sorrindo.
- Eu devia ter tentado pegar aqueles rifles.
Richards sacou a arma e soltou a trava com o polegar.
- Isso teria economizado tempo, com certeza.
Ele conduziu Doyle pelo complexo, em direção às luzes do Chalé. Talvez Doyle tentasse sair correndo, mas até onde chegaria? Richards imaginava por que ele não havia perguntado sobre Wolgast ou a garota.
- Diga uma coisa - pediu Doyle, enquanto chegavam ao estacionamento, onde ainda estavam os carros dos funcionários do turno da noite do laboratório. - Ela está aqui?
- Quem está aqui?
- Lacey. Richards parou.
- Isso quer dizer que está - disse Doyle e deu um risinho. - Richards, você precisava ver sua cara.
- O que você sabe sobre isso?
Era estranho. Uma luz azul e fria parecia brilhar nos olhos de Doyle. Mesmo na claridade do estacionamento Richards podia ver. Era como olhar para uma câmera fotográfica no momento em que o obturador se abre.
- É estranho, sabe? - provocou Doyle e levantou o olhar para as formas escuras das árvores. - Eu a ouvi chegando.
Ele estava no Nível 4. No monitor, a forma reluzente de Zero.
Grey. Chegou a hora.
Então ele se lembrou, finalmente se lembrou de tudo: dos sonhos e de todas as noites que havia passado na área de detenção, olhando Zero, ouvindo sua voz, escutando as histórias que ele contava. Lembrou-se da cidade de Nova York, da garota e de todas as outras, cada noite uma nova, e da escuridão se movendo através dele, a mandíbula se movendo em um júbilo suave enquanto voava para cima delas. Ele era Grey e não era Grey, era Zero e não era Zero, estava em toda parte e em lugar nenhum. Ele se levantou e olhou para o vidro.
Chegou a hora.
Era estranha, pensou Grey, toda a idéia de tempo. Grey sempre havia pensado que era uma coisa, mas na verdade era outra. Não era uma linha, e sim um círculo, e mais ainda: era um círculo feito de círculos feitos de círculos, um em cima do outro, de modo que cada momento estava próximo a todos os outros momentos, tudo simultaneamente. E, assim que você ficava sabendo disso, não podia deixar de saber. Como agora, o jeito como ele podia ver os acontecimentos que estavam para se desenrolar, como se já tivessem acontecido, porque de certa forma já tinham.
Abriu a câmara pressurizada. Seu traje pendia frouxo na parede. Precisava fechar a primeira porta para abrir a segunda e fechar a segunda para abrir a terceira, mas não havia nada dizendo que tinha de vestir o traje ou que tinha de estar sozinho.
A segunda porta, Grey.'
Passou para a segunda parte da câmara. O chuveiro pairava acima de sua cabeça como uma flor monstruosa. A câmera apontava para ele, mas não havia ninguém do outro lado, ele sabia disso. E escutava outras vozes agora, não só a de Zero, e sabia de quem eram, também.
A terceira porta, Grey.
Ah, era uma felicidade tão grande!, pensou. Um alívio tão grande! Esse deixar-se abandonar. Esse entregar-se de vez. Dia a dia sentira isso acontecendo, o Grey bom e o Grey mau se fundindo, formando algo novo, inevitável. O novo Grey, o que podia perdoar.
Eu perdôo você, Grey.
Grey girou a grande maçaneta. O portão estava aberto. Zero se desenrolou à sua frente no escuro. Grey sentiu o hálito dele em seu rosto, nos olhos, na boca e no queixo. O coração martelava. Grey pensou no pai, na neve. Estava chorando, chorando de felicidade, chorando de terror, chorando, chorando, chorando e, enquanto os dentes de Zero encontravam o lugar macio em seu pescoço onde o sangue fluía, soube finalmente o que significava o décimo coelho.
O décimo coelho era ele.
QUATORZE
Aconteceu depressa. Trinta e dois minutos para um mundo morrer e outro começar a nascer.
- O que você disse? - perguntou Richards e depois ouviu, os dois ouviram o som do alarme. O alarme que nunca, jamais deveria tocar, um barulho dessintonizado que ecoou pelo complexo de modo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Falha na segurança. Detenção de Cobaias, Nível 4.
Richards se virou rapidamente para olhar na direção do Chalé. Uma decisão rápida: girou para apontar a arma para o lugar onde Doyle estivera. Doyle havia sumido. Merda, pensou, e depois disse:
- Merda!
Agora eram dois à solta. Luzes se acendiam em toda parte, banhando o complexo numa iluminação árida e artificial que tentava imitar a luz do dia. Ouviu gritos vindos do alojamento, soldados correndo.Agora não havia tempo para lidar com Doyle.
Subiu correndo a escada do Chalé, passou pela sentinela que gritava algo a respeito do elevador e pegou a escada até o Nível 2, os pés mal tocando os degraus. A porta de sua sala estava aberta. Examinou rapidamente os monitores.
A câmara de Zero estava vazia.
A câmara de Babcock estava vazia.
Todas as câmaras estavam vazias.
Ligou o microfone.
- Sentinelas, Nível 4, aqui é Richards. Respondam. Nada, nenhuma palavra em resposta.
- Laboratório principal, responda. Alguém diga que porra está acontecendo aí embaixo.
Uma voz aterrorizada surgiu. Seria Fortes?
- Deixaram eles saírem!
- Quem? Quem deixou?
Um monte de estática, e então os primeiros gritos chegaram pelo áudio, depois tiros e mais gritos - os gritos que homens davam ao morrer.
- Puta que pariu! - Mais estática. - Eles estão soltos lá embaixo! Essas porras de faxineiros deixaram todos eles saírem!
Rapidamente Richards acionou o monitor do posto de sentinela no Nível 3. Havia uma grande mancha de sangue na parede. Davis, o segurança, estava caídono chão, o rosto encostado nos ladrilhos, como se estivesse procurando uma lente de contato perdida. Um segundo soldado surgiu e Richards viu que era Paulson, segurando uma pistola calibre 45. Atrás dele a porta do elevador estava aberta. Paulson olhou diretamente para a câmera enquanto punha a arma no coldre e pegava uma granada no bolso, depois mais duas. Puxou os pinos com os dentes e jogou as granadas para dentro do elevador. Depois deu mais uma olhada para Richards - que viu seus olhos vazios -, sacou a 45, levou-a até a têmpora e puxou o gatilho.
Richards estendeu a mão para o interruptor que lacrava o nível, mas era tarde demais. Ouviu a explosão violenta no poço do elevador, e então um segundo estrondo, enquanto o que restava do elevador despencava para o fundo e todas as luzes se apagavam.
A princípio Wolgast não entendeu o que estava escutando. O barulho do alarme foi tão súbito, tão completamente estranho, que por um momento obliterou qualquer pensamento. Ele se levantou de sua cadeira ao lado da cama de Amy e tentou abrir a porta, mas, claro, não conseguiu. Estavam trancados do lado de dentro. O alarme tocou e tocou. Um incêndio? Não, pensou, era outra coisa, algo pior. Olhou para a câmera pendurada no canto.
- Fortes! Sykes, droga! Abram essa porta!
Ouviu o som de tiros disparados por armas automáticas, abafado pelas paredes grossas. Por um instante pensou esperançoso em um resgate. Mas é claro que isso estava fora de questão. Quem iria resgatá-los?
E então, antes que pudesse ter outro pensamento, ouviu um estrondo estremecedor e um trovejar terrível que terminou num segundo estrondo, mais alto que o primeiro, juntamente com um tremor violento, ruidoso, como um terremoto e a sala mergulhou na escuridão.
Wolgast ficou paralisado. O negrume era total, uma esmagadora ausência de luz, e ele se sentiu completamente desorientado. Os alarmes haviam parado. Sentiu uma ânsia cega de correr, mas não havia para onde ir. A sala pareceu ao mesmo tempo se expandir e se fechar sobre ele.
- Amy, onde você está? Me ajude a encontrá-la!
Silêncio. Wolgast inspirou fundo e prendeu o fôlego.
- Amy, diga alguma coisa. Qualquer coisa. Ouviu, atrás, um gemido baixinho.
- Isso. - Ele se virou, esforçando-se para escutar, tentando calcular a distância e a direção. - Faça isso de novo. Eu encontro você.
Sua mente começou a trabalhar, o pânico inicial dando lugar à noção de haver um objetivo, uma tarefa a cumprir. Cautelosamente deu um passo na direção da voz da menina, depois outro. Um segundo gemido, quase inaudível. A sala era pequena, não chegava a seis metros quadrados, então como Amy podia parecer tão distante no escuro? Não ouviu mais tiros, nenhum som vindo de fora. Só o sussurro suave da respiração de Amy, chamando-o.
Wolgast havia chegado ao pé da cama e estava tateando o caminho ao longo da barra de metal quando as luzes de emergência se acenderam, dois feixes que dispararam dos cantos do teto acima da porta. Mal dava para enxergar, mas bastava. A sala continuava igual: o que quer que estivesse acontecendo lá fora ainda não havia chegado a eles. Sentou-se junto à cama de Amy e pôs a mão em sua testa. Ainda estava quente, mas a febre havia abaixado, e a pele estava um pouco úmida. Com a falta de energia, a bomba de infusão havia parado. Pensou no que fazer, e decidiu desconectá-la. Talvez fosse a decisão errada, mas achou que não. Tinha visto Fortes e os outros mudarem o cateter tantas vezes que conhecia exatamente o ritual. Ajustou a válvula reguladora, interrompendo o fluxo do líquido, e removeu a agulha comprida do conector de borracha ligado ao cateter. Com o equipamento desconectado, não havia motivo para deixar a agulha enterrada na pele da menina. Tirou-a também, puxando-a gentilmente. O ferimento não sangrou, mas, por via das dúvidas, ele o cobriu com gaze e esparadrapo que encontrou no carrinho de suprimentos. Depois esperou.
Os minutos passaram. Amy se remexeu inquieta na cama, como se estivesse sonhando. Wolgast teve a estranha impressão de que, se pudesse de algum modo ver os sonhos dela, saberia o que estava acontecendo lá fora. Mas parte dele se perguntava se isso importaria agora. Estavam muito abaixo do solo, lacrados. Era como se estivessem presos numa tumba.
Wolgast havia praticamente se resignado a esperar quando ouviu, atrás dele, um ruído sibilante de pressão se equalizando. Suas esperanças cresceram alguém havia chegado, afinal. A porta se abriu revelando uma figura solitária, iluminada por trás, o rosto coberto de sombra, usando apenas roupas comuns e um jaleco. Quando a pessoa passou sob os feixes das luzes de emergência, Wolgast viu um homem totalmente desconhecido. O estranho tinha cabelo comprido, ondulado e desgrenhado, com fios grisalhos, e uma barba áspera que subia até metade das bochechas. Seu jaleco estava amarrotado e manchado. Ele se aproximou da cama de Amy com o ar preocupado de uma vítima de acidente ou alguém que houvesse presenciado uma calamidade terrível. Até então não fizera nada que desse a entender ter notado a presença de Wolgast.
- Ela sabe - murmurou ele, olhando para Amy. - Como ela sabe?
- Quem, diabos, é você? O que está acontecendo aqui?
O homem continuou ignorando Wolgast. Uma atmosfera fantasmagórica parecia irradiar dele, uma calma quase fatalista.
- É estranho - disse ele depois de um momento. Deu um suspiro profundo e esfregou a barba, passando o olhar pela sala estéril. - Tudo isso. Era isso... o que eu queria? Eu queria que houvesse um. Quando eu vi, quando eu soube o que eles estavam planejando, como tudo isso terminaria, eu quis que houvesse pelo
menos um.
- O que você está falando? Onde está Sykes?
Por fim o estranho pareceu notá-lo. Olhou Wolgast atentamente, o rosto se contraindo de repente.
- Sykes? Ah, ele está morto. Prefiro pensar que estejam todos mortos, você não?
- O que você quer dizer com mortos
- Mortos, falecidos, provavelmente aos pedaços. Pelo menos os que tiverem sorte. - Ele balançou levemente a cabeça com um ar mórbido de fascínio. - Você deveria ter visto, o modo como eles mergulhavam das árvores. Como morcegos. Realmente deveríamos ter previsto que isso um dia acabaria acontecendo.
Wolgast estava completamente perplexo.
- Por favor. Eu não sei... do que você está falando. O estranho deu de ombros.
- Bem, vai saber. Muito em breve, sinto dizer. - Ele olhou de novo para Wolgast. - Minhas maneiras... Você terá de me desculpar, agente Wolgast. Já faz muito tempo. Eu me chamo Jonas Lear. - Ele deu um sorriso pesaroso. - Pode-se dizer que sou a pessoa no comando por aqui. Ou não. Nas circunstâncias atuais, acho que não há mais ninguém no comando.
Lear. Wolgast revirou a memória, mas o nome não significava nada para ele.
- Ouvi uma explosão...
- Isso mesmo - interrompeu Lear. - Deve ter sido o elevador. Talvez tenha sido um dos soldados. Mas eu estava trancado no freezer, por isso não vi essa parte.
- Ele deu um suspiro pesado e olhou ao redor mais uma vez. - Não foi um ato de grande heroísmo, foi, agente Wolgast, me esconder no freezer? Sabe, eu realmente gostaria que houvesse outra cadeira aqui. Gostaria de me sentar. Não sei há quanto tempo não me sento. Wolgast saltou da cadeira.
- Meu Deus. Pegue a minha. Mas, por favor, me diga o que está acontecendo. Lear balançou a cabeça, o cabelo oleoso oscilando.
- Infelizmente não há tempo. Temos que ir. Está tudo acabado, não é, Amy? - Ele olhou a menina adormecida e tocou gentilmente sua mão. - Finalmente acabou.
Wolgast não agüentou mais.
- O que acabou?
Lear levantou o rosto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas.
- Tudo.
Lear os guiou pelo corredor, Wolgast carregando Amy no colo. O ar cheirava a queimado, como plástico derretido. Quando viraram em direção ao elevador, Wolgast viu o primeiro corpo.
Era Fortes. Não restava muita coisa dele. Seu corpo parecia esmagado, como se tivesse sido atropelado e arrastado por algo gigantesco. As poças de sangue brilhavam sob o piscar das luzes de emergência. Wolgast pensou ter visto outro corpo. Demorou um pouco para entender que ainda se tratava de Fortes, apenas uma parte diferente dele.
Os olhos de Amy estavam fechados, mas mesmo assim Wolgast se esforçou ao máximo para cobri-los, apertando o rosto dela contra o peito. Mais alguns passos e eles depararam com mais dois corpos, ou três, não dava para saber. O chão estava coberto de sangue, tanto sangue que ele sentia os pés escorregarem na oleosidade dos restos humanos.
O elevador havia explodido, não passava de um buraco, o interior escuro iluminado pelas fagulhas dançantes de fios partidos. A pesada porta de metal havia atravessado o corredor, fazendo um buraco na parede oposta. Sob os feixes angulares das luzes de emergência, Wolgast pôde ver mais dois soldados mortos, esmagados Ipor pedaços da porta. Um terceiro estava encostado à parede, sentado como se fizesse a sesta, só que repousava na poça do próprio sangue. O rosto estava pálido e ressecado, o uniforme frouxo no corpo, como se fosse de um tamanho maior. Wolgast afastou o olhar.
- Como vamos sair?
- Por aqui - disse Lear. A névoa havia se dissipado do seu rosto. Agora ele era pura urgência e objetividade. - Depressa.
Seguiram por outro corredor. Havia portas abertas por toda parte - pesadas portas de metal, idênticas às que levavam à câmara de Amy. E no chão, mais corpos, porém Wolgast não os contou, não conseguiu contar. As paredes estavam crivadas de buracos de balas, e havia cartuchos brilhando espalhados por todo o chão.
Então um homem saiu por uma das portas. Não saiu, tropeçou. Um homem grande e mole, como os que costumavam levar as refeições ao quarto de Wolgast, se bem que seu rosto não era familiar. As mãos pressionavam um corte fundo no pescoço, o sangue escorria através dos dedos. A camisa, uma túnica hospitalar branca igual à de Wolgast, era um brilhante manto de sangue.
- Ei - disse ele. - Ei - repetiu, e olhou para os três, depois para ambos os lados do corredor. Parecia não notar o sangue ou, se notava, não demonstrava se importar. - O que aconteceu com as luzes?
Wolgast não sabia o que dizer. Com um ferimento como aquele, o sujeito já deveria estar morto. Wolgast nem acreditava que ele estivesse de pé.
- Uuuuuuu - disse o homem ensangüentado, cambaleando. - Preciso me sentar. Ele deslizou pesadamente para o chão, o corpo parecendo afundar em si mesmo, como uma barraca sem suportes. Respirou fundo e olhou para Wolgast. Seu corpo todo estremeceu em um espasmo profundo.
- Eu estou... dormindo?
Wolgast não disse nada. A pergunta não fazia sentido para ele. Lear tocou seu ombro.
- Agente, deixe-o. Não há tempo.
O homem lambeu os lábios. Tinha perdido tanto sangue que estava ficando desidratado. Seus olhos tinham começado a tremer e as mãos pendiam no chão do lado do corpo, como luvas vazias.
- Porque vou lhes dizer uma coisa: tive o pior pesadelo do mundo. Disse a mim mesmo: Grey, você está tendo o pior pesadelo do mundo.
- Acho que não foi sonho - disse Wolgast.
O homem pensou a respeito e balançou a cabeça.
- Era o que eu temia.
Ele teve mais um espasmo forte, como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica. Lear estava certo: não havia nada a fazer por ele. O sangue em seu pescoço havia se tornado um profundo preto-azulado. Wolgast precisava levar Amy embora.
- Sinto muito - disse Wolgast. - Precisamos ir.
- Você acha que você sente muito - disse o homem e deixou a cabeça cair para trás, encostando-a novamente à parede.
- Agente...
A mente de Grey já parecia estar em outro lugar.
- Não fui só eu - disse ele e fechou os olhos. - Fomos todos nós.
Seguiram correndo até uma sala com armários e bancos. É um beco sem saída, pensou Wolgast, mas Lear tirou uma chave do bolso e abriu uma porta onde estava escrito MECÂNICA.
Wolgast entrou. Lear estava ajoelhado, usando uma pequena faca para soltar um painel de metal. O painel se abriu, balançando em um par de dobradiças, e Wolgast se curvou para olhar dentro. A abertura era um quadrado com menos de um metro de largura.
- Siga em frente por uns nove metros e vai chegar a um cruzamento. Um tubo leva direto para cima. Há uma escada de manutenção que leva até o térreo.
Ele teria que subir pelo menos 15 metros de escada carregando Amy em uma escuridão quase total. Wolgast não via como conseguiria fazer isso.
- Deve haver outra saída.
Lear balançou a cabeça.
- Não há.
O homem segurou Amy enquanto Wolgast entrava no duto. Sentado, com a cabeça bem abaixada, poderia se mover arrastando Amy. Afastou-se até suas pernas ficarem retas. Lear posicionou Amy entre elas. A menina parecia prestes a recobrar a consciência. Através da camisola fina, Wolgast podia sentir a febre em sua pele.
- Lembre-se do que eu disse. Nove metros. Wolgast assentiu.
- Tenha cuidado.
- O que matou aqueles homens? Mas Lear não respondeu.
- Mantenha-a junto a você - disse ele. - Ela é tudo. Agora vá.
Wolgast começou a se arrastar, uma das mãos segurando Amy pela cintura, a outra puxando-os mais para dentro do duto. Só quando o painel foi lacrado Wolgast percebeu que Lear não pretendia ir com eles.
Agora as criaturas fosforescentes estavam em toda parte, espalhadas por todo o complexo. Richards podia ouvir gritos e tiros. Pegou pentes extras na gaveta e subiu correndo até a sala de Sykes. Vazia. Onde estaria Sykes?
Precisavam estabelecer um perímetro. Empurrar as cobaias de volta para o Chalé e apertar o botão. Richards saiu da sala de Sykes com a arma em punho.
Algo se movia pelo corredor.
Era Sykes. Quando Richards o alcançou, ele havia se deixado cair no chão, as costas apoiadas na parede. Seu peito arfava como o de um corredor de cem metros rasos, o rosto brilhando de suor. A mão pressionava um enorme corte no antebraço, logo acima do pulso, de onde o sangue jorrava. Sua arma, uma pistola calibre 45, estava caída no chão perto da palma virada para cima.
- Eles estão em toda parte - disse Sykes e engoliu em seco. - Por que ele não me matou? O filho da puta olhou direto para mim.
- Qual era?
- Que diferença faz? - Sykes deu de ombros. - Seu amiguinho, Babcock. Que porra de ligação é essa entre vocês dois? - Um tremor violento o atravessou. - ! Não estou me sentindo muito bem - disse e depois vomitou.
Richards pulou para longe, mas era tarde. O ar se encheu de um cheiro acre debile e outra coisa, básica e metálica, como terra revirada. Richards sentiu a umidade nas pernas, nas meias. Soube, mesmo sem olhar, que o vômito de Sykes estava cheio de sangue.
- Porra!
Levantou a arma para Sykes.
- Por favor - disse ele, implorando que não, ou talvez que sim, mas de qualquer modo Richards achou que estaria lhe fazendo um favor quando apontou o cano para o centro do peito de Sykes, para o ponto exato, e apertou o gatilho.
Lacey viu o primeiro sair por uma janela do andar de cima. Tão rápido! Parecia a própria luz! Exatamente como um homem se moveria se fosse feito de luz. Estava no alto, lá em cima, num instante, saltando do telhado para o espaço, atravessando o ar acima do complexo, pousando em árvores a 100 metros de distância. Um clarão de luminescência latejante do tamanho de um homem, como uma estrela cadente.
Tinha ouvido o alarme quando o caminhão parou no complexo. Os dois homens na cabine discutiram por um minuto - será que deveriam simplesmente ir embora? -, e Lacey aproveitou esse momento para sair da carroceria e correr para o mato. Foi então que viu o demônio voando pela janela. O topo da árvore onde ele pousou absorveu seu peso com um tremor.
Lacey viu o que estava para acontecer.
O motorista do caminhão estava abrindo a carroceria. Artilharia, tinha dito a sentinela - armas? O caminhão estava cheio de armas.
O topo da árvore se moveu de novo. Um risco de luz verde voou na direção dele.
Ah!, pensou Lacey. Ah! Ah!
Então havia mais deles, arremessando-se para fora do prédio, pelas janelas e portas, lançando-se no ar. Contou 10, 11, 12. E soldados também, por toda parte, correndo, gritando e atirando, mas suas balas não tinham efeito algum: os demônios eram rápidos demais, ou as balas eram inofensivas contra eles. Um a um, os demônios mergulhavam sobre os soldados e estes morriam.
Fora para isso que ela viera, para salvar Amy dos demônios.
Depressa, Lacey. Depressa.
Lacey se afastou das árvores.
- Alto lá!
Ela congelou. Deveria levantar as mãos? O soldado apareceu do meio do mato, onde também estivera se escondendo. Um bom rapaz, fazendo o que achava ser seu dever. Tentando não ter medo, mas é claro que tinha. Ela podia sentir o medo saindo dele, como ondas de calor. Ele não sabia o que estava para lhe acontecer. Lacey foi tomada por um sentimento terno de compaixão.
- Quem é você?
- Não sou ninguém - disse Lacey, e então o demônio estava em cima do rapaz, antes que ele pudesse ao menos apontar a arma, antes que pudesse terminar a palavra que estava dizendo quando morreu. E Lacey correu para o prédio.
Quando chegaram à base do tubo, Wolgast estava suado e ofegante. Uma luz fraca descia sobre eles. Bem no alto, viam-se dois feixes de uma luz de emergência e, mais acima ainda, as pás imóveis de um ventilador gigantesco. O poço de ventilação central.
- Amy, querida - disse. - Amy, você precisa acordar.
Os olhos dela estremeceram, abrindo e voltando a fechar. Ele colocou os braços dela em volta do pescoço e se levantou, sentindo as pernas dela ao redor de sua cintura. Mas dava para perceber que ela não tinha força alguma.
- Você precisa se segurar, Amy. Por favor. Tente.
O corpo dela se retesou em resposta. Mas ele ainda teria de usar um dos braços para sustentar seu peso. Com isso, só teria uma das mãos livre para subir a escada. Meu Deus.
Virou-se para a escada e pôs o pé no primeiro degrau. Era como um daqueles problemas nos testes do FBI: Brad Wolgast está segurando uma menininha. Ele tem de subir 15 metros por uma escada, em um poço de ventilação mal iluminado. A menina está apenas semiconsciente. Como Brad Wolgast poderá salvar a vida dos dois?
Então viu o que poderia fazer. Um degrau de cada vez. Usaria a mão direita para puxar para cima o próprio corpo e o de Amy, depois enfiaria o mesmo cotovelo entre dois degraus, equilibrando o peso dela sobre o joelho enquanto trocava de mão e subia mais um degrau. Primeiro a mão direita, depois a mão esquerda, e assim por diante, movendo o peso de Amy entre elas, degrau por degrau até o topo.
Quanto ela pesava? Vinte e três quilos? Todo aquele peso suportado pela força de um único braço quando trocava de mãos.
Começou a subir.
Pelos gritos e tiros, Richards concluiu que agora as criaturas estavam do lado de fora.
Sabia o que havia acontecido a Sykes. Provavelmente aconteceria com ele também, já que Sykes tinha vomitado a porcaria de seu sangue infectado em cima dele, mas duvidava que viveria o suficiente para que isso tivesse importância. Ei Cole, pensou. Ei, Cole, seu babaca, seu merdinha. Era isso o que você tinha em mente? É essa a sua Pax Americana? Porque só consigo ver um resultado aqui.
Havia apenas uma coisa que Richards desejava agora. Um fim rápido, com um desfecho marcante.
A entrada da frente do Chalé era uma confusão de vidro quebrado e buracos de bala, as portas pendendo inclinadas das dobradiças. Havia três soldados mortos no chão, que provavelmente haviam sido abatidos por fogo amigo no mei do caos. Talvez eles tivessem atirado um no outro de propósito, só para apressar as coisas. Richards levantou as mãos e olhou para a pistola Springfield - por que tinha achado que ela serviria para alguma coisa? Os fuzis dos soldados também não adiantariam. Ele precisava de algo maior. O depósito de armas ficava no outro lado do complexo, atrás do alojamento. Teria de correr até lá.
Olhou pela porta quebrada para a área aberta do complexo. Pelo menos as luzes ainda estavam acesas. Bem, pensou. Melhor antes do que nunca, já que provavelmente não haveria um depois. Partiu correndo.
Os soldados estavam espalhados por toda parte, correndo e atirando aleatoriamente, às vezes uns contra os outros. Eles nem ao menos fingiam estar fazendo uma defesa organizada, quanto mais um ataque contra o Chalé. Richards correu a toda a velocidade, esperando ser alvejado.
Estava na metade do complexo quando viu o caminhão do Exército parado no meio do caminho, estacionado de qualquer maneira, as portas abertas. Sabia o que havia dentro.
Talvez não tivesse de atravessar o complexo, afinal.
- Agente Doyle. Doyle sorriu.
- Lacey.
Estavam no primeiro andar do Chalé, numa sala pequena atulhada de escrivaninhas e arquivos. Doyle havia se refugiado ali desde o início do tiroteio, escondido sob uma mesa. Esperando Lacey. Ele se levantou.
- Sabe onde eles estão?
Lacey fez uma pausa. Tinha arranhões no rosto e no pescoço e pedaços de folhas presos no cabelo. Ela assentiu. - Sei.
- Eu... escutei você - disse Doyle. - Todas as últimas semanas.
Alguma coisa imensa estava se abrindo dentro dele. Sua voz estava embargada pelas lágrimas.
- Não sei como pude ouvi-la. Ela segurou suas mãos.
- Não foi a minha voz que você ouviu, agente Doyle.
Pelo menos Wolgast não podia olhar para baixo. Ele agora suava, as palmas das mãos e os dedos escorregadios nos degraus enquanto puxava a si mesmo e a Amy para cima. Os braços tremiam com o esforço e a parte interna dos cotovelos, que ele usava para segurar cada degrau enquanto trocava de mãos, doía até o osso. Em algum momento, ele sabia, o corpo simplesmente chegaria ao limite, uma linha invisível que, depois de atravessada, não poderia ser cruzada de volta. Afastou aquele pensamento e subiu.
Os braços de Amy, cruzados atrás de sua nuca, seguravam firmes. Juntos os dois continuaram subindo, degrau por degrau.
Agora o ventilador estava mais perto. Wolgast podia sentir no rosto a brisa leve, fresca e cheirando a noite. Esticou o pescoço para examinar as laterais do tubo em busca de uma abertura.
Viu um duto aberto três metros acima, ao lado da escada.
Teria de empurrar Amy primeiro. De algum modo precisaria suportar o próprio peso e o dela enquanto a colocava no duto, depois subiria.
Chegaram à abertura. O ventilador ficava mais alto do que ele havia imaginado, pelo menos 10 metros acima da cabeça dos dois. Achou que deviam estar em algum lugar no primeiro andar do Chalé. Talvez devesse subir mais, encontrar outra saída. Mas suas forças estavam quase esgotadas.
Apoiou o joelho direito para suportar o peso de Amy e estendeu a mão esquerda. As pontas de seus dedos bateram em uma parede fria de metal, lisa como vidro, e então ele encontrou a borda. Puxou a mão de volta. Mais três degraus deviam bastar. Respirou fundo e subiu, posicionando-se logo acima do duto.
- Amy - disse rouco, a boca e a garganta secas como ossos. - Acorde. Faça força para acordar, querida.
Sentiu a respiração dela mudando contra o seu pescoço enquanto ela tentava despertar.
- Amy, preciso que você se solte quando eu mandar. Eu seguro você. Há uma abertura na parede. Preciso que você tente colocar os pés nela.
A menina não respondeu. Wolgast esperava que ela tivesse ouvido. Tentou planejar como faria aquilo - como iria colocá-la dentro do duto e depois entrar porém não conseguiu. Estava ficando sem opções. Se esperasse mais, não teria forças para nada.
Agora.
Empurrou com o joelho, levantando Amy. Os braços dela soltaram seu pescoço e, com a mão livre, ele a segurou pelo pulso, suspendendo-a acima do tubo como um pêndulo, e então viu o que deveria fazer: soltou a outra mão, deixou o peso de Amy puxá-lo para a esquerda, em direção ao buraco, e então os pés dela alcançaram o duto e ela deslizou pelo tubo.
Wolgast começou a cair. Já estava caindo antes. Mas quando sentiu os pés perderem de vez o contato com a escada, suas mãos tentaram freneticamente agarrar a parede. Os dedos bateram na borda do duto, em uma fina aresta de metal que cortou sua pele.
- Au! - gritou, a voz ecoando pelo poço. Parecia estar agarrado ao duto apenas pela força da própria vontade, os pés pendendo no ar. - Calma, agora!
Não poderia explicar como conseguiu. Adrenalina. Exército. O fato de que não queria morrer. Fez toda a força que pôde, os cotovelos se dobrando lentamente, puxando o corpo para cima - primeiro a cabeça e depois o peito, em seguida a cintura e por fim todo o resto, deslizando para dentro do duto.
Por um momento ficou imóvel, os pulmões sugando o ar. Então levantou o rosto e viu uma luz à frente - algum tipo de abertura no chão. Girou o corpo e segurou Amy como havia feito antes, arrastando-se de costas, puxando-a pela cintura. A luz foi ficando mais forte à medida que avançavam. Chegaram a uma grade de metal.
Estava fechada, aparafusada pelo lado de fora.
Sentiu vontade de chorar. Depois de ter chegado tão perto! Mesmo que conseguisse enfiar a mão pelas frestas estreitas e encontrar os parafusos tateando, não tinha ferramentas, nenhum modo de abrir. E voltar era impossível. Havia exaurido o pouco que restava das suas forças.
Ouviu um movimento.
Puxou Amy com força. Pensou nos homens que tinha visto - Fortes, o soldado na poça de sangue, o sujeito chamado Grey. Não era assim que queria morrer. Fechou os olhos e prendeu o fôlego, tentando ficar em silêncio absoluto.
Então escutou uma voz, calma e indagadora:
- Chefe?
Era Doyle.
Um dos caixotes já estava no chão atrás do caminhão. Parecia que alguém o estivera descarregando e, no pânico, o havia largado. Richards procurou rapidamente dentro da carroceria e encontrou um pé de cabra.
A tampa se soltou com um estalo forte. Dentro, aninhados em espuma, estavam dois lançadores de granadas RPG-29. Levantou o suporte e encontrou os foguetes embaixo: cilindros com barbatanas, com cerca de meio metro de comprimento, tendo na ponta ogivas HEAT de carga dupla, capazes de penetrar a blindagem de um tanque de guerra. Richards já vira o estrago que aquilo fazia.
Havia feito a requisição quando chegara a ordem de transportar as criaturas. Seguro morreu de velho, pensara. Vampiros, digam aaaah.
Fixou o primeiro foguete no lançador. Com um giro, o aparato emitiu o zunido que significava que a ogiva estava armada. Milhares de anos de avanço tecnológico, toda a história da civilização humana, pareciam estar contidos naquele som da ogiva HEAT sendo armada. O RPG-29 era reutilizável, mas Richards sabia que só teria uma chance. Ergueu-o até o ombro, ajustou a posição do mecanismo de mira e se afastou do caminhão.
- Ei! - gritou.
Exatamente no momento em que o som da sua voz se lançava na escuridão, um tremor frio de náusea borbulhou em suas entranhas. Sentiu o chão oscilar sob os pés, como o convés de um navio no mar. Gotas de suor brotavam por todo o seu corpo. Sentiu um desejo incontrolável de piscar, uma corrente aleatória cérebro. É. Estava acontecendo mais depressa do que ele havia pensado. Engoliu em seco e deu mais dois passos em direção à luz, apontando o RPG para o topo das árvores.
- Aqui, bichano!
Um minuto de ansiedade se passou enquanto Doyle remexia várias gavetas até encontrar um canivete. De pé numa cadeira, usou a lâmina para soltar os parafusos. Wolgast baixou Amy para os braços de Doyle, depois pulou no chão. A princípio não pôde identificar quem estava ao lado.
- Irmã Lacey?
Ela segurava a menina adormecida de encontro ao peito.
- Agente Wolgast. Wolgast olhou para Doyle.
- Eu não...
- Não está entendendo? - Doyle ergueu as sobrancelhas. Ele vestia roupas cirúrgicas iguais às de Wolgast, mas as suas eram grandes demais, frouxas no corpo. Deu um risinho. - Acredite, eu também não entendo.
- Este lugar está cheio de gente morta - disse Wolgast. - Alguma coisa... não sei. Houve uma explosão.
Ele não conseguia se explicar.
- Nós sabemos - respondeu Doyle, assentindo. - É hora de irmos.
Saíram da sala para o corredor. Wolgast achou que eles deviam estar perto dos fundos do Chalé. O lugar estava silencioso, mas havia estalos esparsos de tiros lá fora. Rapidamente, sem falar, foram até a entrada da frente. Wolgast viu mais corpos de soldados esparramados.
Lacey se virou para ele.
- Pegue-a - disse ela. - Pegue Amy.
Ele a pegou. Seus braços ainda estavam fracos depois da subida, mas ele a segurou de encontro ao corpo. Ela gemia um pouco, tentando acordar, lutando contra a força que a mantinha no limite da consciência. Precisava levá-la a um hospital, mas, mesmo que conseguisse, o que diria? Como explicaria aquilo? O ar perto da porta estava gelado, e Amy, vestida apenas com uma camisola fina, estremeceu.
- Precisamos de um carro - disse Wolgast.
Doyle se esgueirou pela porta. Um minuto depois, retornou trazendo um molho de chaves e uma arma, uma pistola calibre 45. Ele levou Wolgast e Lacey até a janela e apontou.
- Aquele lá embaixo, no fim do estacionamento. O Lexus prateado. Está vendo? Wolgast podia ver. O carro se encontrava, no mínimo, a 100 metros.
- Bela máquina - disse Doyle. - Não dá para imaginar que o dono simplesmente deixaria a chave no para-sol. - Doyle colocou as chaves na mão de Wolgast. Segure firme. São suas. Só para garantir.
Wolgast demorou um momento para entender. O carro era para Amy e ele.
- Phil...
Doyle ergueu as mãos.
- É assim que tem de ser.
Wolgast olhou para Lacey, que assentiu. Depois ela veio andando em sua direção. Beijou Amy, tocando seu cabelo, depois deu um beijo no rosto dele também. Uma profunda calma e um sentimento de segurança pareceram brotar do lugar onde ela tocara e irradiar por todo o seu corpo. Nunca sentira algo assim.
Afastaram-se da porta, com Doyle à frente. Juntos, moveram-se rapidamente sob a cobertura do prédio. Wolgast mal conseguia ficar de pé. Ouviu mais tiros vindo de algum lugar, mas não pareciam estar sendo disparados contra ele, mas para o alto e para longe dali, na direção das árvores e contra os telhados. Eram tiros aleatórios, como algum tipo de comemoração sinistra. Cada vez que isso acontecia, ele escutava um grito, depois vinha um momento de silêncio e então o barulho recomeçava.
Chegaram ao final do prédio. Wolgast podia ver a floresta mais além. Do outro lado, na direção das luzes do complexo, ficava o estacionamento. O Lexus estava parado no final, virado para o outro lado, e não havia nenhum outro carro ao redor para servir de cobertura.
- Temos de correr até lá - disse Doyle. - Prontos? Ofegante, Wolgast se esforçou para assentir. Então partiram correndo em direção ao carro.
Richards o sentiu antes de vê-lo. Virou-se, brandindo o RPG como um atleta do salto com vara.
Não era Babcock.
Não era Zero.
Era Anthony Carter.
Estava meio agachado, a uns seis metros de distância. Carter ergueu o rosto e girou a cabeça, avaliando Richards. Havia algo de canino nele. Sangue brilhava em seu rosto, nas mãos que mais pareciam garras, nos dentes longos e afiados, fileira após fileira. Uma espécie de estalo saía de sua garganta. Lentamente, em um gesto de prazer lânguido, ele começou a se levantar. Richards mirou na boca de Carter.
- Abra a boquinha - disse Richards e disparou.
No momento em que a granada saiu do tubo, a força da ejeção empurrando-o para trás, Richards soube que havia errado o tiro. O lugar antes ocupado por Carter estava vazio. Carter se encontrava no ar. Carter estava voando. E depois caindo em cima de Richards. A granada explodiu, arrebentando a frente do Chalé, mas Richards só escutou vagamente - o barulho recuando, esvaindo-se até uma distância impossível -, enquanto experimentava a sensação absolutamente nova de ser rasgado ao meio.
A explosão alcançou Wolgast como um clarão branco, uma parede de calor e luzque atingiu como um soco o lado esquerdo de seu rosto. Seus pés saíram do chão, e ele sentiu Amy cair longe. Bateu no pavimento, rolou e rolou de novo antes de parar de costas.
Seus ouvidos zumbiam e a respiração parecia presa no fundo do peito. Viu o negrume profundo, aveludado, do céu noturno, e estrelas, milhares e milhares de estrelas, algumas delas caindo.
Pensou: estrelas cadentes. Pensou: Amy. Pensou: chaves.
Levantou a cabeça: Amy estava caída no chão a poucos metros dali. O ar estava cheio de fumaça. A luz tremeluzente do Chalé em chamas, ela parecia estar dormindo - como um personagem de conto de fadas, a princesa que havia adormecido e não podia mais acordar.
Wolgast se virou e ficou de quatro, tateando freneticamente o chão em busca das chaves. Podia sentir um de seus ouvidos obstruído: era como se uma cortina tivesse baixado sobre o lado esquerdo do seu rosto, bloqueando todos os sons. As chaves. As chaves. Então percebeu que elas ainda estavam na sua mão. Ele não as deixara cair.
Onde estavam Doyle e Lacey?
Foi até Amy. Pelo que pôde ver, a queda não parecia tê-la machucado, nem a explosão. Pôs as mãos sob os braços dela e a ergueu sobre o ombro, depois correu para o Lexus o mais rápido que pôde.
Abaixou-se para colocar Amy deitada no banco de trás. Entrou e virou a chave. A luz dos faróis iluminou o complexo.
Algo acertou o capô. Algum animal. Não: algum tipo de coisa monstruosa, pulsando com uma luz verde pálida. Mas quando viu os olhos da criatura, o que havia dentro deles,
soube que aquele ser novo e estranho sobre o capô era Anthony Carter. Carter se ergueu enquanto Wolgast encontrava a alavanca de câmbio, engatava a marcha a ré e pisava no acelerador. Carter caiu. Wolgast pôde vê-lo rolar no chão e, em seguida, numa série de movimentos quase rápidos demais para os seus olhos, lançar-se no ar e sumir. Oque, em nome de... Wolgast afundou o pé no freio, ao mesmo tempo que virava o volante com toda a força para a direita. O carro girou, girou e acabou parando, apontando para a saída de veículos. Então a porta do carona se abriu: era Lacey. Ela subiu rapidamente, sem dizer nada. Havia marcas de sangue em seu rosto e na blusa. Tinha um revólver na mão. Lacey olhou para a arma, espantada, e largou-a no chão.
- Onde está Doyle?
- Não sei - respondeu ela. Ele engrenou o carro de novo e pisou no acelerador. Então viu Doyle correndo na direção do Lexus, segurando a 45.
- Vão! - gritava ele. - Fujam!
Uma pancada forte no teto do carro, e Wolgast soube que era Carter. Carter estava no teto do Lexus. Wolgast pisou no freio de novo, jogando todos para a frente em um solavanco. Carter caiu no capô, mas conseguiu se segurar. Wolgast
; ouviu Doyle disparar três tiros rápidos. Viu uma bala acertar o ombro de Carter,
o impacto provocando uma rápida fagulha. Carter mal pareceu notar.
- Ei! - gritava Doyle. - Aqui!
Carter virou o rosto e viu Doyle. Contraindo o corpo, ele se lançou no ar, enquanto Doyle disparava um último tiro. Wolgast se virou a tempo de ver a criatura que um dia fora Anthony Carter se lançar sobre seu parceiro, devorando-o Icomo uma boca gigantesca. Tudo acabou em um instante.
Wolgast pisou com força no acelerador. Os pneus giraram no eixo sobre uma faixa de grama, cavando um buraco. E então o carro foi em disparada pelo asfalto, cantando pneu. Saíram voando pela longa rampa de entrada, afastando-se do Chalé que pegava fogo, passando pelo corredor de árvores, tudo ficando rapidamente para trás: 80, 95, 110km/h.
- O que, diabos, era aquilo? - perguntou Wolgast a Lacey. - O que era aquilo?
- Pare aqui, agente.
- O quê? Você não pode estar falando sério.
- Eles vão nos pegar. Vão seguir o sangue. Precisa parar o carro agora. - Ela pôs a mão no braço de Wolgast, segurando-o com firmeza. - Por favor, faça o que estou pedindo.
Wolgast parou o Lexus no acostamento. Lacey se virou para encará-lo. Wolgast viu o ferimento nela, um tiro no ombro.
- Irmã Lacey...
- Não é nada - disse ela. - Só carne e osso. Mas não devo ir com vocês. Agora posso ver isso.
Ela tocou o braço dele de novo e sorriu, um sorriso final de bênção, triste e feliz ao mesmo tempo. Um sorriso diante das dificuldades de uma longa jornada que agora chegava ao fim.
- Cuide de Amy. Ela é sua. Você saberá o que fazer.
Então ela saiu do carro e bateu a porta antes que Wolgast pudesse dizer mais alguma coisa.
Ele ergueu os olhos para o retrovisor e a viu correndo de volta para o lugar de onde tinham vindo, balançando os braços no ar. Um alerta? Não, ela os estava atraindo. Não andou 30 metros antes que um jato de luz saltasse sobre ela, e depois outro, e em seguida um terceiro, tantos que Wolgast precisou desviar os olhos. Pisou no acelerador e partiu o mais rápido que pôde, sem olhar novamente para trás.
PARTE 2ª
O ANO ZERO
Vem, vamos para a prisão; Nós dois, sozinhos, cantaremos como pássaros na gaiola. Quando me pedires a bênção, ajoelhar-me-ei E pedirei teu perdão.
William SHAKESPEARE
Rei Lear
QUINZE
Quando todo o tempo chegou ao fim e o mundo perdeu a memória, o homem que ele tinha sido se afastou como um navio que circundasse a lâmina da terra carregando sua antiga vida, quando as estrelas olhavam para o nada e a lua não sabia mais o nome dele e tudo o que restava era o grande mar de fome, no lugar mais profundo dentro dele isto ainda permanecia: um ano. montanha e as estações mudando, e Amy. Amy e o Ano Zero.
Chegaram ao acampamento no escuro. Wolgast dirigiu devagar no último quilômetro, seguindo a luz dos faróis, que abriam caminho entre as árvores, diminuindo ainda mais a velocidade ao passar pelos buracos piores, os sulcos fundos deixados pelo degelo da primavera. Galhos que pareciam dedos, pingando neve derretida, raspavam no teto e nas janelas enquanto eles passavam. O carro era um lixo, um Corolla antigo com aros enormes, espalhafatosos, e um cinzeiro cheio de guimbas amareladas. Wolgast o havia roubado num estacionamento de trailers perto de Laramie, deixando o Lexus com as chaves na ignição e um bilhete no painel. Fique com ele, é seu. Um velho vira-lata preso numa corrente, velho demais para latir, havia olhado com desinteresse enquanto Wolgast fazia ligação direta e levava Amy do Lexus para o Toyota, onde a colocou deitada no banco de trás, que estava cheio de embalagens de comida vazias e maços de cigarro amassados.
Por um momento, Wolgast desejou estar lá para ver a cara do dono quando acordasse de manhã e encontrasse o carro velho substituído por um sedã esportivo de 80 mil dólares, como a abóbora de Cinderela transformada em carruagem. Wolgast nunca havia dirigido um carro como aquele. Esperava que o novo dono, quem quer que fosse, desse a si mesmo o presente de passear nele ao menos uma vez, antes de encontrar um modo de fazê-lo desaparecer discretamente.
O Lexus pertencia a Fortes. Havia pertencido, lembrou Wolgast, porque Fortes estava morto. James B. Fortes. Wolgast só ficara sabendo o primeiro nome dele ao ler o documento do carro. Um endereço em Maryland, o que provavelmente significava que ele era funcionário do Instituto de Pesquisas Médicas do Exército ou, talvez, do Instituto Nacional de Saúde. Wolgast havia jogado o documento pela janela, em uma plantação de trigo em algum lugar perto do limite entre o Colorado e o Wyoming. Mas tinha ficado com o conteúdo da carteira, que encontrara no chão embaixo do banco do motorista: pouco mais de 600 dólares em dinheiro e um cartão de crédito.
Mas tudo isso havia sido horas antes, a passagem do tempo ampliada pela distância que tinham viajado. Colorado, Wyoming, Idaho, este último percorrido inteiramente no escuro, visto apenas através dos cones de luz do Corolla. Tinham entrado no Oregon ao nascer do sol do segundo dia e atravessado os platôs enrugados e áridos do interior do estado à medida que o dia passava. Ao redor, os campos vazios e os morros dourados, varridos pelo vento, floresciam com artemísias roxas. Para se manter alerta, Wolgast dirigia com as janelas abertas, inundando o interior do carro com o perfume doce das flores: um cheiro de infância, de casa. No meio da tarde, sentiu o motor do Toyota se esforçando: finalmente tinham começado a subir. À medida que a escuridão baixava, a cadeia das Cascatas se erguia para encontrá-los, as montanhas cada vez mais volumosas serrilhando os raios do sol poente e iluminando o céu ocidental em uma colagem flamejante de vermelhos e púrpuras, como uma parede de vitral. No alto, os cumes rochosos brilhavam com gelo.
- Amy - disse. - Acorde, querida. Olhe. Amy estava deitada no banco de trás, sob um lençol de algodão. Continuava fraca, tinha dormido durante a maior parte dos dois últimos dias. Mas o pior parecia haver passado. A palidez da febre havia desaparecido e, naquela manhã, ela conseguira dar algumas mordidas em um sanduíche e tomar uns goles do achocolatado que Wolgast comprara. Uma coisa curiosa: Amy estava extremamente sensível à luz do sol, que parecia lhe causar dor, e não somente nos olhos. Todo o seu corpo se encolhia para fugir da luminosidade, como se a luz desse choque. Wolgast havia lhe comprado óculos escuros - com aros de um rosa espalhafatoso, os únicos suficientemente pequenos para se ajustarem ao rosto dela - e um boné em um posto de gasolina. Mas, mesmo com o boné e os óculos, ela mal havia tirado a cabeça de debaixo do lençol o dia todo.
Ao escutar a voz dele, Amy se levantou, lutando contra o sono, e acompanhou seu olhar através do pára-brisa. Mesmo com os óculos cor-de-rosa, ela franziu os olhos por causa da luz, colocando as mãos em concha ao redor das têmporas. O vento no carro aberto fazia seus longos fios de cabelo esvoaçarem ao redor do rosto.
- Está tão... claro - disse ela baixinho.
- São as montanhas - explicou ele.
Dirigiu os últimos quilômetros por instinto, seguindo por estradas mal sinalizadas que o levavam cada vez mais para dentro das montanhas cobertas de florestas, para um mundo oculto onde não havia cidades, casas nem pessoas. Pelo menos era isso o que ele recordava. O ar frio cheirava a pinho. A luz da reserva havia acendido no mostrador de gasolina. Passaram por uma mercearia escura de que Wolgast se lembrava vagamente - MILTONS SECOS E MOLHADOS/EQUIPAMENTOS DE CAÇA, PESCA E BEBIDAS - e começaram a subida final. Depois de três bifurcações, Wolgast pensou que havia se perdido, mas então pequenos detalhes do passado pareceram saltar diante dele: uma determinada subida, uma nesga de céu estrelado enquanto faziam uma curva, o eco enquanto atravessavam o rio. Tudo exatamente como em sua infância, quando o pai o levava para acampar.
Instantes depois chegaram a uma clareira. Ao lado da estrada havia uma placa gasta pelo tempo, onde se lia ACAMPAMENTO MONTANHA DO URSO e, mais embaixo, pendurada por correntes enferrujadas, outra que anunciava VENDE-SE, com o nome de uma imobiliária e um número de telefone com código de área de Salem. A placa, como muitas outras que Wolgast vira ao longo da estrada estava cravada de buracos de bala.
- Chegamos - disse.
A estradinha do acampamento, com l,5km, seguia a crista de uma barragem acima do rio, depois rodeava um afloramento de pedregulhos e os levava para dentro das árvores. O lugar, ele sabia, estava fechado havia anos. Será que as construções ainda existiam? O que eles encontrariam lá? As ruínas de um incêndio devastador? Telhados podres, derrubados pelo peso da neve?
Mas então o acampamento surgiu entre as árvores: o casarão que os garotos', chamavam de Alojamento Velho - porque já era velho na época -, e, ao redor, as construções adjacentes e as cabanas, cerca de uma dúzia no total. Depois disso havia mais árvores e um caminho que descia até o lago, 80 hectares de uma placidez vítrea e absoluta, sustentada por uma represa de terra no formato de um feijão. Enquanto se aproximavam do alojamento, os faróis do Toyota atravessaram as janelas da frente, criando por instantes a ilusão de haver luzes lá dentro, como se a chegada deles fosse esperada - como se não tivessem cruzado o país, e sim recuado no tempo, atravessando um golfo de 30 anos até a infância de Wolgast.
Wolgast estacionou o carro em frente à varanda e desligou o motor, sentindo-se estranhamente compelido a fazer uma oração de agradecimento, a retribuir de algum modo a chegada deles. Mas fazia muito tempo que isso não acontecia - muito tempo mesmo. Desceu do carro e se defrontou com um frio espantoso. Sua respiração formava nuvens ao redor do rosto. Era o início de maio, e o ar ainda parecia guardar a lembrança do inverno. Deu a volta até o porta-malas e o destrancou. Na primeira vez que o abrira, no estacionamento de um Walmart a oeste de Rock Springs, havia encontrado um monte de latas de tinta vazias. Agora tinha suprimentos - roupas para os dois, comida, produtos de higiene pessoal, velas, pilhas, um fogareiro de acampamento e minibotijões de gás, algumas ferramentas, um kit de primeiros socorros, dois grossos sacos de dormir. O suficiente para se estabelecerem, mas ele precisaria descer a montanha em breve. Sob o brilho da lâmpada do porta-malas, encontrou o que estava procurando e subiu os degraus da varanda.
A fechadura da porta da frente cedeu com um tranco forte da chave de roda do Toyota. Wolgast ligou a lanterna e entrou. Amy poderia ficar com medo se ficasse sozinha no carro, mas ele queria dar uma olhada antes de entrarem, garantir que o lugar fosse seguro. Ligou o interruptor junto à porta, mas nada aconteceu: a eletricidade estava desligada, é claro. Provavelmente havia um gerador em algum lugar, mas ele precisaria de combustível para fazê-lo funcionar. E, mesmo assim, quem poderia dizer se funcionaria? Inspecionou a sala à luz da lanterna: uma desarrumação de mesas e cadeiras de madeira, um fogão a lenha, uma escrivaninha de metal encostada à parede e, mais acima, um quadro de avisos vazio, a não ser por uma única folha de papel, as bordas enroladas pelo tempo. As janelas não tinham cortinas, mas o vidro estava intacto. O lugar era apertado e seco e, com o fogão aceso, iria se aquecer depressa. Seguiu o feixe de luz em direção ao quadro de avisos. No alto do papel se lia BEMVINDOS, VISITANTES, VERÃO DE 2014 e, embaixo, preenchendo a página, uma lista e nomes - os Jacobs, Joshuas e Andrews de sempre, mas também um Sacha e até m Akeem -, cada um seguido pelo número da cabana onde ficaria. Wolgast passara as férias no acampamento três anos seguidos, e no último - o verão em que completara 12 anos - trabalhara como monitor e dormira em uma cabana com um grupo de meninos menores, muitos deles tomados por uma saudade de casa tão debilitante quanto uma doença. Juntando os que choravam a noite toda e as estrelas noturnas de seus atormentadores, Wolgast mal conseguira dormir durante o verão. No entanto, nunca fora tão feliz. Aqueles dias haviam sido, em muitos senttidos, os melhores de sua infância, os anos dourados. No outono seguinte, seus pais o levaram para o Texas e todos os seus problemas começaram. O acampamento pertencia a um homem chamado Sr. Hale - um professor de biologia do ensino médio que tinha voz profunda e costas largas como um barril, dignas de um zagueiro de futebol americano, coisa que já fora. Era amigo do pai de Wolgast, mas, pelo que ele se lembrava, essa amizade nunca lhe garantira qualquer tratamento especial. Todo verão o Sr. Hale se instalava no andar de cima com a esposa, em uma espécie de apartamento. Era o que Wolgast estava procurando agora. Saiu da área imunda por uma porta de vaivém e se viu na cozinha: armários rústicos de pinho, panelas e frigideiras penduradas, um tanto enferrujadas, uma pia com uma ximba d'água antiga, um fogão e uma geladeira com a porta semiaberta, tudo isso ao redor de uma grande mesa de madeira e coberto por uma grossa camada de poeira. O fogão era velho, de aço branco, com um relógio na frente, os ponteiros imobilizados às 3h06. Wolgast girou um dos botões e ouviu o assobio do gás.
Da cozinha, uma escada estreita subia até o segundo andar, onde diversos quartos minúsculos haviam sido construídos sob o telhado. A maioria estava vazia, mas em um deles Wolgast encontrou duas camas dobráveis com os colchões virados para a parede e, na mesa junto à janela, um aparelho com botões e mostradores que ele achou ser um rádio de ondas curtas.
Voltou ao carro. Amy ainda estava dormindo, enrolada embaixo do lençol.
Wolgast a sacudiu gentilmente.
Ela se levantou e esfregou os olhos.
- Onde estamos?
- Em casa - respondeu ele.
Naqueles primeiros dias na montanha, Wolgast se pegou pensando em Lila. Eraestranho, mas seus pensamentos não incluíam uma curiosidade mais geral sobre o mundo, sobre o que estaria acontecendo lá fora. Seu tempo era consumido pelas tarefas do dia a dia, como ajeitar o lugar e cuidar de Amy, mas sua mente, livre para ir aonde quisesse, decidira voltar ao passado, pairando sobre ele como um pássaro acima de um lago imenso, sem litoral à vista, tendo como companhia apenas seu próprio reflexo longínquo na superfície brilhante.
Na verdade ele não se apaixonara por Lila imediatamente, mas algo acontecera no dia em que se conheceram. Era um domingo de inverno quando chegou à emergência do hospital, carregado por dois amigos que fediam a suor. Wolgast não era um grande jogador de basquete, não jogava desde os tempos de escola, mas os amigos o haviam convencido a completar o time durante um torneio de caridade - três contra três, meia quadra, um jogo sem compromisso. Por um milagre, haviam conseguido jogar dois tempos antes que Wolgast saltasse para fazer um arremesso e caísse com um estalo no tendão de aquiles esquerdo, e então, enquanto se contorcia no chão - a bola batendo no aro e saindo, para piorar ainda mais a situação -, sentisse uma explosão de dor que levou lágrimas aos seus olhos.
A médica que o examinou na emergência declarou que seu tendão estava rompido e o mandou para o andar de cima, para uma consulta com a ortopedista: Lila. Ela entrou na pequena sala, colocou a última colherada de iogurte na boca, jogou o copinho vazio na lixeira e se virou para lavar as mãos na pia, tudo isso sem olhar para ele sequer uma vez.
- Bem - disse ela, e em seguida secou as mãos e olhou rapidamente para o prontuário, depois para ele, sentado na maca. Lila não possuía o que Wolgast descreveria a princípio como uma beleza clássica, mas algo nela o atraiu imediatamente, um sentimento de déjà vu. O cabelo cor de chocolate estava preso em um coque por uma espécie de palito. Ela usava uns óculos de armação preta, muito pequenos, que ficavam empoleirados no meio de seu nariz aquilino.
- Sou a Dra. Kyle. Você se machucou jogando basquete? Wolgast assentiu, meio sem graça. - Não sou o que se chamaria de atleta - admitiu.
Nesse momento, o celular dela vibrou na cintura. Ela olhou para a tela rapidamente, franzindo a testa. Depois, com uma frieza científica, colocou o dedo esticado na parte macia atrás do terceiro dedo do pé esquerdo de Wolgast.
- Faça força.
Ele obedeceu, ou tentou. A dor era tão intensa que ele pensou que iria desmaiar.
- Que tipo de trabalho você faz? Wolgast engoliu em seco.
- Sou um homem da lei - conseguiu dizer. - Meu Deus, isso dói. Ela anotou algo no prontuário.
- Homem da lei - repetiu ela. - Policial?
- Na verdade, FBI.
Wolgast procurou algum sinal de interesse nos olhos dela, mas não encontrou. Notou que ela não usava aliança na mão esquerda. Mas isso não significava nada, necessariamente. Talvez tirasse a aliança quando atendia os pacientes.
- Vou pedir uma ressonância - disse ela -, mas tenho 90% de certeza de que o tendão se rompeu. - O que significa... Ela deu de ombros.
- Cirurgia. Não vou mentir. Não é divertido. Imobilização durante oito semanas, seis meses para a recuperação total. - Ela deu um sorriso pesaroso. - Seus dias de basquete acabaram, lamento dizer.
Ela lhe deu um comprimido para a dor que o deixou instantaneamente sonolento. Wolgast mal acordou quando o levaram para a ressonância magnética. Quando abriu os olhos de novo, Lila estava parada ao pé da cama. Alguém havia posto um cobertor sobre ele. Olhou o relógio e viu que eram quase nove da noite. Estava no hospital havia cerca de seis horas.
- Seus amigos ainda estão aqui?
- Duvido.
Ela programou a cirurgia para as sete horas da manhã seguinte. Depois de assinar diversos formulários, ele foi levado para um quarto para passar a noite. Ela perguntou se ele precisaria ligar para alguém.
- Na verdade, não. - Ele ainda estava tonto por causa do remédio. - Deve parecer meio patético, mas não tenho nem um gato.
Ela o olhava com expectativa, como se esperasse que ele fosse dizer mais alguma coisa. Wolgast estava prestes a lhe perguntar se já haviam se encontrado antes quando ela rompeu o silêncio com um sorriso súbito, luminoso.
- Bem, isso é bom.
O primeiro encontro, duas semanas depois da cirurgia de Wolgast, foi um jantar na cafeteria do hospital. Wolgast estava de muletas, a perna esquerda enterrada numa bota de plástico com velcro que ia do joelho aos dedos do pé, e foi obrigado a ficar sentado à mesa como um inválido enquanto ela pegava a comida para os dois. Lila usava jaleco - tinha plantão naquela noite, havia explicado, e dormiria no hospital -, mas ele reparou que tinha posto batom e rimel e arrumado o cabelo.
A família toda de Lila vivia na Costa Leste, perto de Boston. Depois da faculdade de medicina na Universidade de Boston - os piores quatro anos da vida de qualquer pessoa, disse ela -, se mudara para o Colorado para fazer residência em ortopedia. Pensou que odiaria aquela cidade enorme e sem personalidade, mas foi o contrário: sentiu apenas alívio. A urbanização desorganizada de Denver, o rosnado caótico de seus bairros e vias expressas, as planícies abertas e as montanhas indiferentes, o modo como as pessoas falavam abertamente, sem fingimento, e o fato de quase todo mundo ser de outro lugar: exilados, como ela.
- Quero dizer, tudo aqui me pareceu tão normal...
Ela espalhava requeijão num pãozinho. Para ela, era o café da manhã, apesar de serem quase oito da noite.
- Acho que eu nem sabia o que era normalidade. Era exatamente o que uma garota de uma família supertradicional de Wellesley necessitava - explicou ela.
Wolgast se sentiu intimidado e disse isso. Ela deu uma gargalhada espontânea e tocou acanhadamente a mão dele.
- Não deveria -, disse.
O horário de trabalho dela era muito puxado: era impossível se encontrarem como os outros casais normalmente faziam, ir a restaurantes ou cinemas. Wolgast estava de licença e passava os dias sentado no apartamento, irrequieto. Depois ia de carro ao hospital e os dois jantavam juntos na cafeteria. Ela lhe contava tudo sobre sua infância em Boston, filha de professores universitários, e sobre a faculdade, os amigos, os estudos e um ano que havia passado na França, tentando se tornar fotógrafa. Wolgast tinha a impressão de que ela estivera esperando que aparecesse alguém em sua vida para quem tudo aquilo fosse novo, e ficava feliz em ouvi-la, em ser essa pessoa.
Durante quase um mês, o máximo que fizeram foi dar as mãos. Tinham acabado de jantar quando Lila tirou os óculos, inclinou-se por cima da mesa e o beijou, um beijo longo e terno, o hálito com gosto da laranja que tinha acabado de chupar.
- Pronto - disse ela. - Tudo bem? - Olhou dramaticamente ao redor e baixou a voz. - Quero dizer, tecnicamente falando, sou sua médica.
- Minha perna já está boa - ele respondeu.
Quando se casaram, Wolgast tinha 35 anos, e Lila, 31. A cerimônia foi em Cape Cod, em setembro, num pequeno iate clube diante de uma baía tranqüila com veleiros balançando sob o límpido céu azul de outono. Quase todos os convidados eram da família de Lila - uma família gigantesca como uma tribo. Eram tantos tios, tias e primos que Wolgast não conseguia contar - e muito menos lembrar os nomes. Quando não eram da família, as mulheres pareciam ter sido colegas de quarto de Lila em algum momento, todas ansiosas para rememorar inúmeras aventuras juvenis, histórias que, no fim, pareciam todas iguais. Wolgast nunca se sentira tão feliz. Depois de ter bebido mais champanhe do que deveria, ele subiu em uma cadeira para fazer um brinde longo e piegas mas absolutamente sincero, que terminou com ele cantando, muito desafinado, um pedaço de "Embraceable You". Todos riram e aplaudiram, antes de se despedirem do casal com uma cafona chuva de arroz. Se alguém sabia que Lila estava grávida de quatro meses, ninguém disse uma palavra.
Wolgast achou que devia ser o jeito discreto do povo da Nova Inglaterra, mas então percebeu que ninguém se importava: todos estavam realmente felizes por eles.
Com o dinheiro de Lila - o salário dela fazia o dele parecer risível -, os dois compraram uma casa em Cherry Creek, um bairro antigo com árvores, parques e boas escolas, e esperaram a chegada do bebê. Sabiam que seria uma menina. Eva era o nome da avó de Lila, uma pessoa forte que, segundo contava a família, tinha viajado no Andréa Doria e namorado um sobrinho de Al Capone. Wolgast simplesmente gostava do nome, e, de qualquer modo, assim que Lila o sugeriu, o nome pegou. O plano era que Lila trabalhasse até pouco antes do parto: depois que Eva nascesse, Wolgast ficaria em casa com ela durante um ano, e então, quando ele voltasse ao trabalho no FBI, Lila ficaria em meio expediente no hospital. Um plano maluco, cheio de problemas potenciais que os dois previam, mas nos quais não pensavam muito. De algum modo, tudo daria certo.
Na 34ª semana de gravidez, a pressão de Lila subiu e o obstetra mandou que ela fizesse repouso. Lila disse a Wolgast que não se preocupasse - a pressão não estava tão alta a ponto de representar um risco para o bebê. Ela era médica, se houvesse realmente um problema, diria a ele. Ele estava preocupado por ela estar trabalhando demais, e ficou feliz por tê-la em casa, deitada como uma rainha, chamando-o a toda hora para trazer refeições, filmes e coisas para ler.
Até que uma noite, três semanas antes da data prevista para o parto, ele chegou em casa e encontrou Lila soluçando, sentada na beira da cama enquanto segurava a cabeça em agonia.
- Há alguma coisa errada - disse ela.
No hospital, Wolgast foi informado de que a pressão de Lila estava 16 por 9,5. Era pré-eclampsia. Esse era o motivo da dor de cabeça. Todos estavam preocupados com os rins de Lila, com a possibilidade de convulsões, com possíveis problemas causados ao bebê. Todos estavam muito sérios, sobretudo Lila, cujo rosto estava pálido de preocupação. Eles teriam de induzir o parto, disse o médico. Parto normal era a melhor opção nesses casos, mas se não acontecesse em seis horas, teriam de fazer uma cesariana.
Colocaram-na no soro com oxitocina e uma segunda agulha intravenosa com sulfato de magnésio para impedir convulsões. A essa altura, já era mais de meia-noite. O magnésio seria desconfortável, disse a enfermeira com animação irritante. Desconfortável como?, perguntou Wolgast. Bem, disse a enfermeira, era difícil explicar, mas não ia ser agradável. Ligaram-na a um monitor fetal e depois disso esperaram.
Foi horrível. Na cama, Lila gemia de dor. O som não se parecia com nada que Wolgast já tivesse escutado, abalando-o até a alma. Segundo Lila, era como se ela tivesse minúsculas fogueiras espalhadas pelo corpo todo. Como se o próprio corpo a odiasse. Nunca se sentira tão mal. Se era o sulfato de magnésio ou a oxitocina, Wolgast não sabia, e ninguém respondia às suas perguntas.
As contrações começaram, fortes e próximas umas das outras, mas o obstetra disse que não havia dilatação suficiente, nem de longe. Dois centímetros, no máximo. Quanto tempo isso poderia continuar? Eles haviam feito o curso de parto sem dor, tinham seguido tudo direitinho. Ninguém dissera que seria assim, como acompanhar um desastre de carro em câmera lenta.
Finalmente, logo antes do amanhecer, Lila disse que precisava empurrar. Precisava. Ninguém acreditava que ela estivesse pronta, mas o médico foi verificar e descobriu que, milagrosamente, a dilatação estava em 10 centímetros. Todo mundo começou a correr de um lado para o outro, reorganizando a sala, empurrando aparelhos sobre rodinhas, colocando luvas novas, dobrando uma parte da cama abaixo da pélvis de Lila. Wolgast se sentiu inútil, um navio sem leme no mar. Pegou a mão de Lila enquanto ela empurrava, uma, duas, três vezes. Então acabou. Alguém entregou a Wolgast uma tesoura para que cortasse o cordão umbilical. A enfermeira começou a fazer o teste de Apgar em Eva. Depois colocou uma touca na cabeça minúscula do bebê, enrolou-a num cobertor e entregou-a a Wolgast. Era incrível. De repente tudo havia ficado para trás, toda a dor, o pânico e a preocupação, e ali estava aquele ser novinho em folha. Nenhuma experiência em sua vida o havia preparado para aquilo, a sensação de um bebê, sua filha,
Eva era pequena, pesava apenas dois quilos e 20 gramas. Sua pele era quente e rosada - como pêssegos amadurecidos ao sol - e, quando ele encostou o rosto no
dela, sentiu um cheirinho de fumaça, como se Eva tivesse sido arrancada de um incêndio. Eles estavam costurando Lila, que continuava grogue por causa da medicação. Wolgast ficou surpreso ao perceber que havia sangue no chão, uma mancha grande e escura sob a cama. No meio de toda a confusão, não reparara nisso. Mas o médico lhe assegurou que Lila estava bem. Wolgast mostrou o bebê a ela e depois segurou Eva por um longo, longo tempo, repetindo seu nomediversas vezes antes que a levassem para o berçário.
Amy foi ficando cada dia mais forte, mas sua sensibilidade à luz não diminuiu. Numa das construções externas, Wolgast encontrou pilhas de compensado e uma escada, um martelo, serrote e pregos. Teve de medir e cortar as tábuas à mão para lacrar as janelas do andar de cima. Mas depois da longa subida no complexo - um feito que, lembrado agora, parecia completamente inacreditável - aquela tarefa não parecia tão desafiadora.
Amy dormia a maior parte do dia, acordando ao crepúsculo para comer. Perguntara onde estavam - no Oregon, explicara ele, nas montanhas, um lugar onde ele havia acampado quando criança -, mas nunca o motivo. Ou ela já sabia ou não se importava. O botijão de gás do alojamento estava quase cheio. Wolgast preparava refeições simples e rápidas no fogão: sopas e enlatados, biscoitos e mingaus cozidos com leite em pó. A água no acampamento era levemente sulfurosa, mas bebível, e jorrava tão gelada na cozinha que fazia os dedos pinicarem.
Wolgast logo descobriu que não trouxera comida suficiente. Teria de descera montanha em breve. Ele havia encontrado caixas de livros antigos no porão romances clássicos, parte de uma coleção encadernada, mofada pelo tempo e pela umidade - e à noite lia para Amy à luz de velas: A ilha do tesouro, Oliver Twi é Vinte mil léguas submarinas.
Às vezes ela saía durante o dia, se o tempo estivesse nublado, e ficava olhando enquanto ele trabalhava - cortando lenha, consertando um buraco no telhado ou tentando fazer funcionar um velho gerador a gasolina que havia encontrado num dos barracões. Amy se sentava num toco de árvore à sombra, usando os óculos escuros e o boné, com uma toalha comprida enfiada por baixo para proteger a nuca. Mas essas visitas nunca duravam muito: uma hora, e sua pele adquiria uma vermelhidão atroz, como se tivesse sido escaldada em água fervendo, e ele a mandava de volta para cima.
No fim de uma tarde, depois de estarem no acampamento por quase três semanas, ele a levou para tomar um banho no lago. Exceto pelos breves momentos do lado de fora olhando-o trabalhar, ela jamais havia se afastado do alojamento e nunca fora tão longe. No fim do caminho havia um cais antigo que se estendia por 10 metros além da margem gramada. Wolgast se despiu até ficar só com a roupa de baixo e mandou Amy fazer o mesmo. Havia levado toalhas, xampu e um sabonete.
- Você sabe nadar?
Amy balançou a cabeça.
- Tudo bem, eu ensino.
Pegou Amy pela mão e a guiou até o lago. A água estava extremamente fria Andaram juntos até a água chegar ao peito de Amy. Então Wolgast pegou-a no colo e, segurando-a pela barriga, mandou que batesse os braços e as pernas.
- Pode soltar - disse ela.
- Tem certeza?
Ela estava respirando depressa.
- Hum, hum.
Ele a soltou. Ela afundou como uma pedra. Através da água claríssima, Wolgast viu que a menina havia parado de se mexer; seus olhos estavam abertos e olhando em volta, como um animal examinando um habitat novo. Então, com uma graça espantosa, Amy estendeu os braços e girou-os para trás, virando os ombros e impulsionando o próprio corpo na água em um movimento hábil. Depois encolheu lateralmente as pernas e as esticou bruscamente, como uma rã: num instante ela estava deslizando junto ao fundo arenoso e sumindo de vista. Wolgast já ia mergulhar atrás dela quando Amy emergiu a três metros de distância, numa parte funda do lago, sorrindo com empolgação.
- É fácil - declarou ela, batendo as pernas. - É que nem voar. Perplexo, Wolgast só pôde rir.
- Cuidado... - disse, mas antes que pudesse terminar, ela havia enchido os pulmões e mergulhado de novo.
Ele lavou o cabelo dela, esforçando-se para lhe dizer como fazer o resto. Quando terminaram, o céu antes púrpura havia se tornado negro. Havia centenas de estrelas, pequenas luzes tremeluzentes duplicadas na superfície imóvel do lago. O silêncio era absoluto, a não ser por suas vozes e o som da água batendo na margem. Wolgast conduziu a menina pelo caminho, orientando-se com a lanterna. Depois de um jantar de sopa e biscoitos na cozinha, ele a levou para o quarto no andar de cima. Sabia que ela ficaria acordada durante horas - a noite,agora era o seu domínio, e estava se tornando o dele também. Às vezes ele ficava sentado metade da noite, lendo para ela.
Obrigada - disse Amy enquanto ele se acomodava com um livro, Anne de Green Gables.
- Por quê?
- Por me ensinar a nadar.- Parecia que você já sabia. Alguém deve ter lhe mostrado. Ela refletiu por um momento, com uma expressão de perplexidade. : - Acho que não. Wolgast não sabia o que pensar de tudo aquilo. Muita coisa a respeito de Amy ira mistério. Ela parecia estar bem - na verdade, mais do que bem. O que quer que tivesse lhe acontecido no complexo, qualquer que fosse o vírus, ela parecia tê-lo suportado. Entretanto, a questão da luz era estranha. E havia outras coisas esquisitas: por que, por exemplo, o cabelo de Amy não parecia crescer? O cabelo de Wolgast agora passava do colarinho; o de Amy, no entanto, parecia ter exatamente o mesmo comprimento de antes. Ele nunca precisava aparar as unhas dela, e nem a via fazer isso. E, é claro, os maiores mistérios: o que havia matado doyle e todos os outros no complexo? Como aquela coisa no capô do carro podia ter sido Carter e ao mesmo tempo um ser inteiramente diferente do Carter que ele conhecera? O que Lacey quisera dizer quando lhe falou que Amy era sua, que ele saberia o que fazer? Aparentemente ela tinha razão: até agora, ele soubera o que fazer. No entanto, não podia explicar nada disso. Mais tarde, quando terminou a leitura da noite, disse a ela que teria de descer a montanha de manhã. Ela estava bem, pensou, poderia ficar sozinha no alojamento. Seria só por uma ou duas horas. Ele estaria de volta antes que ela notasse, antes mesmo que ela acordasse.
- Eu sei - disse ela, e mais uma vez Wolgast não soube o que pensar.
Saiu pouco depois das sete horas. Após tantas semanas parado, juntando pólem sob as árvores, o Toyota emitiu um protesto longo, chiado, quando ele tentou ligá-lo, mas o motor acabou pegando. A névoa da manhã começava a se dissipar. Ele engrenou o carro e começou a longa e lenta descida.
A cidade mais próxima ficava a 50 quilômetros, mas Wolgast não queria ir tão longe. Se o Toyota quebrasse, ele ficaria preso, e Amy também. De qualquer modo, o tanque do carro estava quase vazio. Refez o caminho da vinda, parando a cada bifurcação para consultar a memória. Não viu nenhum outro veículo, o que não era surpreendente em um lugar tão remoto, no entanto, essa ausência o perturbou. O mundo ao qual estava retornando, ainda que brevemente, parecia um lugar diferente do que ele deixara três semanas antes.
Então viu: MILTON'S SECOS E MOLHADOS/EQUIPAMENTOS DE CAÇA, PESCA E BEBIDAS. No escuro, naquela primeira noite, o lugar parecera maior. Na verdade não passava de uma pequena casa de dois andares feita de tábuas sobrepostas castigadas pelo tempo. Um chalé na floresta, como algo tirado de um conto de fadas. Não havia nenhum outro carro no estacionamento, a não ser um furgão velho, da década de 1990, parado na grama ao fundo. Wolgast saiu do Toyota e entrou pela porta da frente.
Na varanda havia meia dúzia de caixas de venda de jornais, quase todas vazias, a não ser a do USA Today. Através da porta de vidro empoeirada, que estava destrancada, Wolgast pôde ver a grande manchete na primeira página. Quando pegou um exemplar, descobriu que o jornal consistia apenas de duas folhas dobradas. Parou na varanda e leu.
CAOS NO COLORADO
Estado das Montanhas Rochosas assolado por vírus assassino
Fronteiras fechadas
Surtos em Nebraska, Utah, Wyoming Presidente coloca militares em alerta máximo e pede à nação que permaneça calma diante da "ameaça terrorista sem precedentes"
WASHINGTON, 18 de maio - O presidente Hughes prometeu esta noite tomar "todas as medidas necessárias" para conter a disseminação do chamado vírus da febre do Colorado e punir os responsáveis: "A justa ira dos Estados Unidos da América baixará sobre aqueles que odeiam a liberdade e sobre os governos criminosos que lhes dão guarida."
Do Salão Oval, o presidente fez seu primeiro pronunciamento ao país desde o início da crise, há oito dias. "Existem evidências irrefutáveis de que essa epidemia devastadora não é uma ocorrência da natureza, e sim obra de extremistas antiamericanos que atuam dentro de nossas fronteiras, com o apoio de nossos inimigos no exterior. Este é um crime não somente contra o povo dos Estados Unidos, mas contra toda a humanidade."
O discurso veio um dia depois que os primeiros casos da doença foram anunciados em estados vizinhos, apenas algumas horas depois que Hughes ordenara o fechamento das fronteiras do Colorado e pusera os militares de toda a nação em alerta máximo. Todos os vôos domésticos e internacionais foram cancelados por ordem presidencial, criando caos na rede de transporte do país, à medida que milhares de pessoas procuravam outros meios de voltar para casa.
Numa tentativa de tranqüilizar o país e responder às crescentes críticas de que sua administração não havia sido ágil o suficiente diante da crise, Hughes disse que a nação deveria se preparar para uma luta colossal. "Esta noite peço sua confiança, sua força e suas orações", disse o presidente. "Não deixaremos pedra sobre pedra. A justiça será rápida."
o presidente não deixou claro a que grupos ou nações se referia. Além disso, recusou-se a ser mais específico sobre qualquer evidência que a administração teria descoberto que possa indicar que a epidemia seja obra de terroristas.
Quando indagado sobre uma possível resposta militar, o porta-voz da presidência, Tim Romer, disse aos repórteres: "Neste momento não estamos descartando nada."
Segundo as autoridades do estado, 50 mil pessoas podem ter morrido até agora. Não se sabe ao certo quantas vítimas sucumbiram à doença propriamente dita e quantas foram mortas por ataques violentos por parte dos infectados. Os primeiros sinais de contaminação incluem tontura, febre alta e enjôo. Depois de um breve período de incubação - de no máximo seis horas -, a doença parece, em alguns casos, provocar um nítido aumento da força física e da agressividade.
"Os pacientes estão enlouquecendo e matando todo mundo", disse uma das autoridades de saúde do Colorado, que pediu para permanecer anônima. "Os hospitais parecem zonas de guerra."
Shannon Freeman, porta-voz do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta, afirmou que tais relatos são "apenas histeria", mas admitiu que a comunicação com autoridades dentro da zona de quarentena havia sido interrompida.
"O que temos certeza é de que essa doença tem uma taxa de mortalidade muito alta, de até 50%", disse Freeman. "Além disso, não sabemos o que de fato está acontecendo por lá. O melhor que todos podem fazer no momento é permanecer em casa."
Freeman confirmou relatos de surtos em Nebraska, Utah e Wyoming, mas não quis ser mais específica.
Ainda estamos aguardando detalhes", disse ela, acrescentando: "Qualquer pessoa que suspeite ter sido exposta deve se dirigir à polícia ou ao hospital mais próximos. É o que recomendamos neste momento."
As cidades de Denver, Colorado Springs e Fort Collins, onde a lei marcial foi decretada na terça-feira, estavam praticamente vazias esta noite, já que os moradores ignoraram a orientação do governador do Colorado, Fritz Millay, de "evacuar pacificamente" e fugiram em massa. Rumores de que as forças do Departamento de Segurança Interna tenham recebido ordens de usar armas letais para impedir que os refugiados cruzassem a fronteira não foram confirmados, assim como relatos de que unidades da Guarda Nacional do Colorado tenham começado a evacuar os doentes dos hospitais e levá-los para locais não revelados.
Havia mais. Wolgast leu e releu. Estavam matando os doentes - estava nas entrelinhas. Dezoito de maio, pensou. O jornal era de três, não, quatro dias atrás. Ele e Amy haviam chegado ao acampamento na manhã de 2 de maio.
Tudo aquilo havia acontecido em apenas 18 dias.
Ouviu movimento na loja atrás dele - apenas o bastante para que soubesse que estava sendo vigiado. Wolgast colocou o jornal embaixo do braço, virou-se e entrou pela porta de tela. Era um lugar pequeno, cheirando a poeira e velhice, atulhado até o teto com todo tipo de mercadorias: artigos para camping, roupas, ferramentas, enlatados. Uma grande cabeça de veado estava suspensa acima da porta dos fundos, que tinha uma cortina de contas. Wolgast se lembrou das vezes que fora ali com os amigos comprar balas e quadrinhos. Na época, havia um mostruário giratório de arame perto da porta da frente: Contos da cripta, O Quarteto Fantástico e Batman, o preferido de Wolgast.
Um homem estava sentado em um banco atrás do balcão, um sujeito grande, careca, vestindo uma camisa de flanela xadrez, os jeans presos à barriga por suspensórios vermelhos. Ele tinha um revólver calibre 38 na cintura, em um apertado coldre de couro. Os dois se cumprimentaram respeitosamente com a cabeça.
- São dois dólares pelo jornal - disse o homem. Wolgast pegou duas notas no bolso e colocou no balcão.
- Tem algum mais recente?
- É o último que recebi - disse o sujeito, enfiando as notas na caixa registradora. - O cara da entrega não aparece desde terça-feira.
O que significava que era sexta. Não que isso importasse.
- Preciso de alguns suprimentos - disse Wolgast. - Munição.
O homem avaliou Wolgast, franzindo as sobrancelhas grisalhas e pesadas.
- O que você tem?
- Uma pistola Springfield 45.
O sujeito tamborilou os dedos no balcão.
- Bem, deixe eu dar uma olhada. Sei que você está com ela.
Wolgast pegou a pistola que trazia na cintura. Era a que Lacey havia deixado no chão do Lexus. O pente estava vazio e ele não sabia se quem disparara fora Lacey ou outra pessoa. Talvez ela tivesse dito algo sobre isso, mas ele não conseguia se lembrar. Em meio a todo aquele caos, ficara difícil dizer o que era o quê. De qualquer modo, a arma lhe era familiar; as Springfields eram usadas pelo FBI. Tirou o pente e travou a pistola, para mostrar ao homem que estava vazia, e a colocou sobre o balcão.
O homem examinou a arma. Pelo modo como ele a virou, deixando-a refletir a luz, Wolgast pôde ver que o sujeito entendia do assunto.
- Chassi de tungstênio, ejetor chanfrado, pino de titânio com mecanismo de gatilho curto. Muito interessante.
Ele olhou para Wolgast com expectativa.
- Se eu tivesse de chutar, diria que você é um federal. Wolgast se empenhou em parecer inofensivo.
- Pode-se dizer que já fui. Em uma outra vida.
O rosto do homem se abriu em um risinho triste. Pôs a arma no balcão.
- Em uma outra vida - repetiu ele, balançando a cabeça, desanimado. - Acho que todos nós já tivemos uma. Deixe-me dar uma olhada.
Ele passou pela cortina dos fundos, retornando um instante depois com uma peqena caixa de papelão.
- Isto é tudo o que tenho. Mantenho um pequeno estoque para um tira aposentado que gosta de levar uma caixa de cerveja para o mato e atirar nas latinhas conforme vão esvaziando. Diz que é seu dia de reciclagem. Mas não o vejo há algum tempo. Você é a primeira pessoa que aparece aqui há mais de uma semana. Pode ficar com elas.
Ele pôs a caixa no balcão - 50 balas de ponta côncava - e apontou com a cabeça.
- Vá em frente, elas não servem para nada na caixa. Carregue a arma, se quiser Wolgast soltou o pente e começou a colocar as balas.
- Conhece algum lugar onde eu possa conseguir mais?
- Não, a não ser que você queira descer até Whiteriver.
O homem bateu duas vezes no próprio esterno com o indicador.
- Estão dizendo que a gente tem de acertar eles bem aqui. Um tiro. Eles caem duros se você fizer a coisa direito. Caso contrário, já era, você vira história declarou em um tom monocórdico, sem satisfação nem medo, como se estivesse fazendo um comentário sobre o tempo. - Não importa se antes se tratava de sua doce avozinha. Ela irá sugá-lo inteirinho antes que você possa mirar duas vezes.
Wolgast terminou de carregar o pente, puxou o transportador para encaixá-lo na câmara e verificou a trava.
- Onde você ouviu isso?
- Internet. Está em toda parte. - Ele deu de ombros. - Teorias da conspiração, encobrimento pelo governo. Histórias de vampiro. A maior parte parece meio maluca. É difícil dizer o que é inventado e o que não é.
Wolgast enfiou a arma de novo na cintura. Pensou em perguntar ao sujeito se poderia usar o computador dele, para ver pessoalmente as notícias. Mas já sabia mais do que o suficiente. Talvez soubesse mais do que qualquer pessoa viva, pensou. Tinha visto Carter e os outros, o que eles podiam fazer.
- Vou lhe dizer uma coisa. Há um cara que se autointitula "A Última Fortaleza em Denver". Ele está postando um videoblog de um arranha-céu no centro da cidade. Diz que está atrás de uma barricada, com um fuzil de alta potência. Ele postou umas imagens boas, você devia ver aqueles sacanas se movendo.
O homem bateu de novo no esterno.
- Apenas lembre-se do que eu lhe disse. Um tiro. Você não vai conseguir dar dois. Eles se movimentam à noite, entre as árvores.
O homem ajudou Wolgast a juntar os suprimentos e levá-los para o carro: comida enlatada, leite em pó, café, pilhas, papel higiênico, velas, combustível, anzóis, varas e outros acessórios de pesca. O sol estava alto e brilhava muito. Ao redor deles, uma quietude absoluta fazia o ar parecer congelado, como o silêncio logo antes de uma orquestra começar a tocar.
Os dois trocaram um aperto de mãos.
- Você está lá em cima, na Montanha do Urso, não é? - perguntou o homem.
- Se não se importa de eu perguntar.
Não parecia haver motivo para esconder.
- Como soube?
- Pelo caminho de onde você veio. - O homem deu de ombros. - Não há nada em cima além do acampamento. Não sei por que nunca conseguiram vendê-lo.
Eu costumava ir lá quando criança. Engraçado, não mudou nem um pouco.
Acho que esse é o objetivo de lugares assim.
- Você é esperto. É um bom lugar. Não se preocupe, não vou contar a ninguém. - Você também deveria sumir - disse Wolgast. - Ir mais para cima nas montanhas. Ou para o norte.
Wolgast podia ver nos olhos do sujeito que ele estava tomando uma decisão. - Venha - disse ele por fim. - Vou lhe mostrar uma coisa.
O homem conduziu Wolgast de volta à loja e passou pela cortina de contas. pois dela havia uma pequena área de moradia.
As cortinas fechadas tornavam o ar asfixiante. Um ar-condicionado zunia junto à janela. Wolgast parou à porta, deixando os olhos se adaptarem à pouca iluminação. No centro do cômodo havia uma grande cama hospitalar onde uma mulher estava dormindo. A cabeceira estava reclinada em um ângulo de 45 graus, mostrando seu rosto macilento virado em direção às cortinas. Ela estava coberta por um lençol, mas Wolgast podia ver como era magra. Na mesinha havia dezenas de vidros de remédio, tubos de pomada, gaze, esparadrapo, uma bacia cromada e seringas ainda lacradas. Um balão de oxigênio verde-claro estava junto à cama. O lençol tinha sido puxado para o lado, expondo os pés da mulher, que tinham bolas de algodão enfiadas entre os dedos. Uma cadeira fora posicionada perto do pé da cama. Wolgast viu uma lixa de unhas e vidros de esmalte de diversas cores.
- Ela sempre gostou de cuidar dos pés - disse o sujeito, baixinho. - Eu estava pintando as unhas dela quando você chegou.
Os dois saíram do cômodo. Wolgast não sabia o que dizer. A situação era óbvia o homem e sua mulher não iriam a lugar nenhum. Os dois voltaram para a claridade do sol no estacionamento.
- Ela tem esclerose múltipla - explicou o homem. - Queria mantê-la em casa o máximo de tempo possível. Foi o acordo que fizemos quando ela começou a piorar no inverno passado. Era para terem mandado uma enfermeira, mas já não vem nenhuma há um bom tempo. Ele arrastou o pé no cascalho e pigarreou.
- Acho que ninguém mais está atendendo em casa.
Wolgast disse o seu nome. O homem se chamava Carl e sua mulher, Martha. Eles tinham dois filhos adultos, um na Califórnia e o outro na Flórida. Carl havia trabalhado a vida toda como eletricista no Oregon, em Corvallis. Quando se aposentou, os dois compraram a loja e foram para lá.
- Há alguma coisa que eu possa fazer? - perguntou Wolgast. Eles haviam apertado as mãos antes, mas fizeram isso de novo.
- Tente ficar vivo - respondeu Carl.
Wolgast estava dirigindo de volta para o acampamento quando, de repente, pensou em Lila. Eram lembranças de outro tempo, de outra vida. Uma vida que agora havia terminado - para ele, para todo mundo. Pensando em Lila, daquele jeito, estava dizendo adeus.
DEZESSEIS
O incêndio chegou em agosto, quando os dias eram longos e secos. Wolgast sentiu cheiro de fumaça uma tarde enquanto trabalhava no quintal. Na manhã seguinte, o ar estava denso com uma névoa acre. Subiu até o telhado para olhar, mas tudo o que conseguiu ver foram as árvores e o lago, as montanhas se estendendo até longe. Não havia como saber a que distância estava o fogo: o vento podia soprar a fumaça por centenas de quilômetros.
Não saía da montanha havia mais de dois meses, desde a ida ao Miltons. Amy e ele haviam se habituado a uma rotina: Wolgast dormia até quase o meio-dia e trabalhava fora da casa até o crepúsculo. Então, depois de jantar e nadar no lago, os dois ficavam acordados metade da noite, lendo ou passando o tempo com jogos de tabuleiro, como passageiros em uma longa viagem marítima. Ele havia encontrado algumas caixas de jogos guardadas em uma das cabanas: Banco Imobiliário, gamão, damas. A princípio deixou Amy ganhar, mas então descobriu que não precisava: ela era uma jogadora astuta, principalmente no Banco Imobiliário, comprando uma propriedade depois da outra, calculando rapidamente os aluguéis que elas rendiam e contando o dinheiro, toda animada. Boardwalk, Park Place, Marvin Gardens. O que esses nomes significavam para Amy? Uma noite, quando ele acabara de se sentar para ler para ela - Vinte mil léguas submarinas, que tinham lido antes, mas que ela quisera ouvir de novo -, ela tirou o livro de sua mão e, à luz tremeluzente das velas, começou a ler em voz alta para ele.
INão se detinha diante das palavras difíceis do livro, nem de sua sintaxe complexa e antiquada. Quando você aprendeu a fazer isso?, perguntou ele a Amy, absolutamente incrédulo, enquanto ela parava para virar a página. Bem, explicou Amy, nós já lemos este livro antes. Acho que eu lembrei, só isso.
O mundo fora da montanha havia se tornado uma lembrança cada dia mais remota. Ele jamais conseguira colocar o gerador para funcionar - esperava um dia poder usar o rádio de ondas curtas - e parara de tentar havia muito tempo. Se o que estava acontecendo era o que ele pensava, era melhor não saberem. De que adiantaria ter informações? Para onde mais poderiam ir?
Mas agora a floresta estava queimando, empurrando uma parede de fumaça sufocante vinda do oeste. No dia seguinte à tarde, Wolgast teve certeza de que teriam de partir: o fogo estava avançando em sua direção e, se conseguisse atravessar o rio, nada mais poderia detê-lo. Wolgast pôs as coisas no Toyota e colocou Amy, enrolada no cobertor, no banco do carona. Ele pegara um pano úmido para cada um, que poderiam usar para cobrir a boca e os olhos se ardessem. Ainda não tinham andado nem três quilômetros quando viram as chamas. A estrada estava bloqueada pela fumaça, o ar impossível de ser respirado, umaparede tóxica. Um vento forte soprava, levando o fogo montanha acima, na direção deles. Tinham de voltar.
Não sabia quanto tempo o incêndio levaria para chegar. Não havia como
molhar o telhado do alojamento - simplesmente teriam de esperar. Pelo menos as janelas fechadas ofereciam alguma proteção contra a fumaça, mas ao cair danoite os dois estavam tossindo e engasgando.
Em uma das construções externas havia uma velha canoa de alumínio. Wolgast levou até a margem do lago, depois pegou Amy no andar de cima. Remou até se afastarem bem, vendo o fogo devorar a montanha e avançar em direção ao acampamento, uma visão de beleza furiosa, como se as portas do inferno tivessem sido abertas. Amy estava deitada no fundo da canoa, encostada nele. Se estava com medo, não deu nenhum sinal. Não havia mais nada a fazer. Toda a energia do dia o abandonara e, mesmo sem querer, Wolgast caiu no sono.
Quando acordou de manhã, o acampamento ainda estava de pé. O fogo não havia atravessado o rio, afinal. O vento mudara em algum momento da noite, empurrando as chamas para o sul. O ar ainda cheirava a fumaça, mas dava para ver que o perigo tinha passado. Naquela tarde, eles ouviram um grande estrondo de trovão, como uma enorme folha de zinco sendo sacudida acima de suas cabeças e a chuva desabou durante toda a noite. Ele mal conseguia acreditar em sua sorte. De manhã, Wolgast decidiu usar o que restara da gasolina para descer a montanha e verificar como estavam Carl e Martha. Desta vez levaria Amy- depois do incêndio decidira nunca mais se afastar dela. Esperou até o crepúsculo e partiu.
O fogo havia chegado perto. Menos de um quilômetro e meio depois da entrada do acampamento, a floresta fora reduzida a destroços carbonizados, o chão queimado e nu, como se tivesse havido uma batalha terrível. Da estrada, Wolgast podia ver corpos de animais - não só criaturas pequenas como gambás e guaxinins, mas cervos, antílopes e até um urso caído junto a um tronco negro. Provavelmente havia morrido enquanto procurava um bolsão de ar respirável perto do chão.
A loja continuava de pé, intocada. Não havia nenhuma luz acesa, mas devia ter faltado energia. Wolgast disse a Amy que esperasse no carro, pegou uma lanterna e subiu os degraus da varanda. A porta estava trancada. Bateu, alto e repetidamente, chamando o nome de Carl, mas não obteve resposta. Por fim, usou a lanterna para quebrar a janela.
Carl e Martha estavam mortos, abraçados em concha na cama hospitalar, Carlatrás da mulher, um braço por cima do ombro dela, como se estivessem cochilando. Podia ter sido a fumaça, mas o cheiro no aposento indicava que os dois estavam mortos havia mais tempo. Na mesinha de cabeceira havia uma garrafa de uísque pela metade e, ao lado, um jornal dobrado, como o primeiro que Wolgast vira, surpreendentemente fino - com uma manchete enorme, gritante -, que ele decidiu enfiar no bolso para ler mais tarde. Parou um momento ao pé da cama onde estavam os corpos. Depois fechou a porta e, pela primeira vez, chorou.
O furgão de Carl ainda estava parado atrás da loja. Wolgast cortou um pedaço da mangueira do jardim para transferir o combustível para o Toyota. Não sabia quando precisariam dele, mas a época de incêndios não havia terminado. Fora um erro ficar tão desprevenido. Encontrou uma lata vazia em um barracão atrás da casa e, quando o tanque do Toyota estava cheio, encheu-a também. Então Amy o ajudou a pegar suprimentos na loja: toda a comida, as pilhas e os botijões de gás que puderam. Colocaram tudo em caixas e levaram para o carro. Depois Wolgast voltou ao cômodo onde os corpos estavam e, com cuidado, prendendo a respiração, tirou a arma da cintura de Carl.
De madrugada, quando Amy havia finalmente pegado no sono, Wolgast tirou o jornal do bolso do casaco. Desta vez havia apenas uma folha, datada de 10 de julho - quase um mês antes. Onde Carl o conseguira? Provavelmente fora até Whiteriver e então, ao voltar - e por causa do que tinha lido e visto -, decidira colocar um ponto final em tudo. A casa estava cheia de remédios; seria fácil para ele realizar a tarefa. Wolgast havia posto o jornal no bolso por medo, mas também por uma certeza fatalista quanto ao que acharia escrito ali. Só os detalhes seriam novos.
CHICAGO Falls Vírus "vampiro" chega à Costa Leste; milhões de mortos.
Zona de quarentena estendida até a região central de Ohio.
Califórnia se separa da União e promete se defender.
índia alardeia seus mísseis e ameaça ataque nuclear "limitado" contra Paquistão.
WASHINGTON, 10 de julho - O presidente Hughes ordenou que as tropas militares dos EUA abandonem hoje o perímetro de Chicago, depois de uma noite de muitas baixas, quando unidades do Exército e da Guarda Nacional foram dominadas por uma enorme força de Pessoas Infectadas que invadia a cidade.
"Uma grande cidade americana foi perdida", disse o presidente em uma declaração impressa. "Nossas orações estão com os moradores de Chicago e com os homens e mulheres que deram a vida para defendê-los. A memória deles nos sustentará nesta grande luta."
O ataque aconteceu logo depois do anoitecer, quando as tropas do Exército posicionadas ao longo da área sul do centro histórico informaram a presença de uma força de tamanho desconhecido que se juntava ao redor da principal área comercial da cidade.
"Este ataque foi claramente organizado", disse o general Carson White, comandante da Zona Central de Quarentena, que se referiu ao incidente como uma "notícia perturbadora".
"Um novo perímetro defensivo foi estabelecido na rota 75, estendendo-se de Toledo a Cincinnati", disse White aos repórteres no início da manhã de terça-feira. "Este é o nosso Rubicão."
Quando questionado sobre relatos de que um grande número de soldados estaria abandonando os postos, White respondeu: "Não ouvi nada a respeito", e chamou os boatos de "irresponsáveis".
"Esses são os homens e mulheres mais corajosos com quem já tive a honra de servir", afirmou o general.
Novos surtos da doença foram informados em diversas cidades, desde Tallahassee, na Flórida, e Charleston, na Carolina do Sul, até Helena, em Massachusetts, e Flagstaff, no Arizona, além de outras localidades no sul de Ontário e no norte do México. Os mortos, segundo estimativa divulgada pela Casa Branca e pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, já chegam a mais de 30 milhões. De acordo com o Pentágono, há ainda 3 milhões de pessoas infectadas.
Grande parte de St. Louis, abandonada no domingo, estava em chamas esta noite, assim como diversas áreas em Memphis, Tulsa e Des Moines. Moradores informaram ter visto aeronaves voando baixo sobre o famoso arco da cidade minutos antes de os incêndios começarem e engolfarem rapidamente a região central da cidade. Nenhuma autoridade governamental confirmou que os incêndios façam parte de um esforço federal para desinfetar as principais regiões metropolitanas da Zona Central de Quarentena.
Escassez e falta de combustível já são realidade em quase todos os cantos do país, e as vias de transporte continuam congestionadas devido ao grande número de pessoas tentando fugir da epidemia. Também é difícil encontrar comida, assim como suprimentos médicos, desde gaze até antibióticos.
Muitos refugiados não têm para onde ir, nem como chegar a lugar algum. "Estamos presos, como todo mundo", disse David Callahan no estacionamento em frente a um McDonald's, a leste de Pittsburgh. Callahan vinha de carro com a família - esposa e dois filhos pequenos de Akron, em Ohio, uma viagem que normalmente levaria duas horas, mas que naquela noite demorara 20. Quase sem gasolina, Callahan havia parado num posto no subúrbio de Monroeville e descobrira que as bombas estavam secas e a comida na lanchonete havia acabado dois dias antes.
"íamos para a casa da minha mãe em Johnston, mas agora ouvi dizer que o vírus já chegou lá", disse Callahan, enquanto um comboio com 50 veículos do Exército passava na pista vazia do outro lado da estrada, seguindo para oeste.
"Ninguém sabe aonde ir", disse ele. "As criaturas estão em toda parte."
Apesar de a doença até agora ter sido relatada apenas nos Estados Unidos, Canadá e México, países de todo o mundo parecem estar se preparando para essa eventualidade. Na Europa, Itália, França e Espanha já fecharam suas fronteiras, enquanto outras nações armazenaram suprimentos médicos ou proibiram viagens domésticas. A Assembléia Geral da ONU, reunindo-se pela primeira vez em Haia desde que abandonou sua sede em Nova York no fim da semana passada, aprovou uma resolução de quarentena internacional, proibindo qualquer navio ou avião de se aproximar menos de 300 quilômetros do continente norte-americano.
Por todo o país, igrejas e sinagogas informaram um comparecimento recorde, com milhões de fiéis se reunindo para rezar. No Texas, onde o vírus já foi disseminado, o prefeito de Houston, Barry Wooten, autor de diversos best-sellers e ex-dirigente da Igreja Bíblica Esplendor Divino, a maior do país, declarou que a cidade é "um portal para o Céu" e convidou os moradores e refugiados de todo o estado a se reunirem no estádio Reliant, em Houston, para se prepararem para "nossa ascensão ao trono do Senhor, não como monstros, mas como homens e mulheres de Deus".
Na Califórnia, onde ainda não há casos da infecção, a Câmara Legislativa Estadual se reuniu em sessão extraordinária ontem à noite e aprovou os Primeiros Artigos da Secessão da Califórnia, cortando o vínculo com a União e declarando-se nação soberana. Em seu primeiro ato como presidente da República da Califórnia, a ex-governadora Cindy Shaw ordenou que todos os militares e agentes da lei que se encontrem dentro do estado sejam postos sob o comando da Guarda Nacional da Califórnia.
"Vamos nos defender, assim como qualquer nação soberana tem o direito de fazer", disse Shaw aos deputados, sob aplausos trovejantes. "A Califórnia e tudo o que ela representa permanecerá de pé."
Reagindo as notícias vindas de Sacramento, o porta-voz da Casa Branca, Tim Romer, disse aos repórteres: "Isso é totalmente absurdo. Agora obviamente não é o momento de qualquer estado ou governo local assumir a segurança do povo americano. Nossa posição permanece a mesma: a Califórnia continua sendo parte da União."
Romer também alertou que qualquer militar ou agente da lei na Califórnia que interfira nos esforços federais de ajuda enfrentará duras sansões. "Não tenham dúvidas", disse Romer. "Eles serão considerados inimigos."
Na quarta-feira, a República da Califórnia foi reconhecida pelos governos da Suíça, da Finlândia, da minúscula república de Palau, na Micronésia, e pelo Vaticano.
O governo da índia, aparentemente em reação à retirada das forças militares americanas do sul da Ásia, repetiu ontem suas ameaças anteriores de usar armas nucleares contra forças rebeldes no leste do Paquistão.
"Esta é a hora de contermos a expansão do extremismo islâmico, disse o primeiro-ministro indiano, Suresh Mitra, ao Parlamento. "O cão de guarda está dormindo."
Então era isso, pensou Wolgast. Era o fim. Ele se lembrou de uma expressão que tinha ouvido apenas no contexto da aviação e que era usada para explicar como, sem mais nem menos, num dia claro, um avião podia simplesmente cair. Vencido pelos eventos. Era o que estava acontecendo agora. O mundo - a raça humana, vencido pelos eventos.
Cuide de Amy, dissera Lacey. Ela é sua. Pensou em Doyle pondo as chaves do Lexus em sua mão, no beijo de Lacey em seu rosto, em Doyle correndo atrás deles e mandando que fossem em frente - "Vão! Fujam!" - e em Lacey pulando do carro para atrair as estrelas. Era assim que Wolgast pensava naquelas criaturas, como estrelas humanas, queimando com um brilho mortal sobre a freira.
Dormir e descansar já não eram uma opção. Wolgast teria de ficar acordado a noite inteira, vigiando a porta com a arma de Carl numa das mãos e a Springfield na outra. Era uma noite fria, a temperatura por volta de 10 graus, e Wolgast acendera o fogão a lenha quando voltaram da loja. Ele pegou o jornal e o dobrou uma, duas, três vezes. Abriu a porta do fogão. Então o pôs no fogo, admirando a velocidade com que o papel desaparecia.
DEZESSETE
O verão terminou, o outono chegou e o mundo os deixara em paz. A primeira neve caiu na última semana de outubro. Wolgast estava cortando lenha no quintal quando viu, com o canto do olho, os primeiros flocos caindo como plumas, mais leves que poeira. Havia vestido uma camisa de manga curta para trabalhar e, quando levantou o rosto e sentiu o frio na pele úmida, percebeu o que estava acontecendo: o inverno chegara.
Cravou o machado na tora, correu para a casa e gritou em direção à escada:
- Amy!
Ela apareceu no andar de cima. Sua pele via tão pouco a luz do sol que era de um branco intenso, como porcelana.
- Já viu neve alguma vez?
- Não sei. Acho que não.
- Bom, está nevando agora. - Ele riu e escutou o prazer na própria voz. - Você não vai querer perder isso. Venha.
Assim que Amy acabou de se vestir - com casaco, botas, óculos e boné, assim como uma camada grossa de protetor solar em cada centímetro de pele exposta -, a neve começou a cair de verdade. Ela saiu naquele redemoinho de brancura, os movimentos solenes, como um explorador pondo os pés em um planeta desconhecido.
- O que acha?
Ela inclinou o rosto e pôs a língua para fora, um gesto instintivo para captar o sabor da neve.
- Adorei - declarou.
Tinham abrigo, comida e aquecimento. Ele fizera mais duas viagens até o Miltorís durante o outono. Sabia que, assim que o inverno chegasse, a estrada ficaria intransitável, então havia pegado toda a comida que restava lá. Racionando os enlatados, o leite em pó, o arroz e o feijão, Wolgast achava que os suprimentos poderiam durar até a primavera. O lago estava cheio de peixes, e em uma das cabanas ele tinha encontrado uma ferramenta que servia para furar o gelo. Com ela, foi fácil abrir buracos para lançar a linha de pesca. O botijão de gás ainda estava pela metade. Assim, o inverno seria bem-vindo para Wolgast. Ele poderia relaxar a mente e entrar no ritmo da estação. Ninguém havia aparecido, afinal. O mundo os esquecera. Eles ficariam escondidos ali, juntos, em segurança.
De manhã, havia 30 centímetros de neve ao redor do chalé. O sol irrompeu entre as nuvens, produzindo um brilho ofuscante. Wolgast passou a tarde desenterrando a pilha de lenha e cavando uma trilha do alojamento até ela e uma segunda, até uma pequena cabana que ele pretendia usar como depósito de gelo, agora que o frio havia chegado. A essa altura, estava levando uma vida quase totalmente noturna - era simplesmente mais fácil adotar o horário de Amy -, e a luz do sol na neve ofuscava seus olhos, como se ele estivesse olhando diretamente para uma explosão. Na certa, pensou, era isso o que Amy sentia o tempo todo. Quando a escuridão caía, os dois saíam de novo.
- Vou lhe mostrar como fazer anjos na neve - disse ele.
Em seguida deitou-se de costas. Acima dele, estrelas refulgiam no céu. Em sua última viagem ao Miltons, havia pegado uma lata de achocolatado, mas não dissera nada a Amy, planejando guardá-la para uma ocasião especial. Naquela noite os dois iriam colocar as roupas molhadas para secar sobre o fogão a lenha e se sentar para tomar chocolate quente.
- Mova os braços e as pernas - disse a Amy. - Assim.
Ela se deitou na neve ao seu lado. O corpo pequeno era leve e ágil como o de uma ginasta. Ela moveu habilidosamente os membros para cima e para baixo.
- O que é um anjo?
Wolgast pensou por um momento. Esse tipo de assunto nunca havia surgido antes.
- Bom, acho que é uma espécie de fantasma.
- Um fantasma como Jacob Marley?
Eles haviam lido Um conto de natal; ou melhor, Amy havia lido para ele. Desde a noite em que descobrira que ela sabia ler - não simplesmente ler, mas ler muito bem, com sentimento e expressividade -, Wolgast apenas ficava sentado escutando.
- Acho que sim. Mas não um fantasma assustador como Jacob Marley. Ainda estavam deitados lado a lado na neve.
- Os anjos são... bem, acho que são fantasmas bons, que nos protegem lá do céu. Pelo menos é nisso que algumas pessoas acreditam.
- E você?
Wolgast ficou aturdido. Ainda não havia se acostumado com o jeito direto de Amy. Sua falta de inibição lhe parecia infantil por um lado, mas muitas vezes as coisas que ela dizia e as perguntas que fazia eram de uma objetividade quase sábia.
- Não sei. Minha mãe acreditava. Ela era muito religiosa, muito devota. Meu pai, provavelmente não. Era um bom homem, mas era engenheiro. Não pensava assim.
Por um momento ficaram em silêncio.
- Ela morreu - disse Amy. - Eu sei.
Wolgast se sentou. Os olhos de Amy estavam fechados.
- Quem morreu, Amy? - Mas, assim que fez a pergunta, soube de quem Amy estava falando. Minha mãe. Minha mãe morreu.
- Não me lembro dela - disse Amy. Sua voz era impassível, como se estivesse dizendo algo que ele certamente já devia saber. - Mas sei que morreu.
- Como?
- Eu senti. - O olhar de Amy encontrou o de Wolgast. - Eu sinto todos eles.
Às vezes, nas primeiras horas logo antes do amanhecer, Amy sonhava. Wolgast podia ouvir os gritos abafados vindos do quarto ao lado, o chiado das molas da cama enquanto ela se remexia inquieta. Não eram exatamente gritos, e sim murmúrios, como vozes que se apossavam dela durante o sono. Às vezes ela se levantava e descia até a sala principal do alojamento, a que tinha janelas grandes que davam para o lago. Wolgast sabia que não deveria acordá-la. Depois ela se virava, subia a escada e voltava para a cama. Como você os sente, Amy?, ele perguntava. O que você sente? E ela dizia: Não sei, não sei. Eles são tristes. São tantos! Eles se esqueceram de quem eram. Quem eram eles, Amy? E ela respondia: Todo mundo. Eram todo mundo. Agora Wolgast dormia na sala, em uma cadeira virada para a porta. Carl disse que eles se moviam à noite, nas árvores. Só teria tempo de dar um tiro. O que seriam aquelas criaturas? Seriam pessoas, como Carter já fora? O que haviam se tornado? E Amy? Amy, que sonhava com vozes, cujo cabelo não crescia, que raramente parecia dormir - porque era verdade, ele percebera que ela apenas fingia - ou comer, que sabia ler e nadar como se estivesse se lembrando de vidas e experiências que não eram suas. Será que ela era um deles também? O vírus estava inerte, dissera Fortes. E se não estivesse? Será que ele, Wolgast, adoeceria? Mas não estava doente, sentia-se exatamente como sempre se sentira: simplesmente desnorteado, como em um sonho, perdido numa paisagem cheia de sinais sem significado. Ele tinha alguma missão na Terra, uma missão que ele não entendia. Até que em uma noite de março escutou um motor. A neve estava pesada e funda. A lua estava cheia. Havia adormecido na cadeira. Percebeu que estivera escutando, enquanto dormia, o som de um motor descendo a trilha comprida que chegava ao alojamento. No sonho - um pesadelo -, esse som havia se transformado no rugido do incêndio do verão, queimando a montanha na direção deles. Ele corria com Amy pela floresta, com fumaça e fogo em todo lugar, e se perdia dela. Um clarão entrou pelas janelas e Wolgast ouviu passos na varanda - passos pesados, cambaleantes. Levantou-se num salto, todos os sentidos imediatamente em alerta. A Springfield estava em sua mão. Moveu o transportador e soltou a trava. A porta foi sacudida por três socos fortes.
- Tem alguém lá fora.
Wolgast se virou e viu Amy parada na base da escada.
- Volte lá para cima! - disse a ela num sussurro áspero. - Ande, depressa!
- Tem alguém aí? - Uma voz de homem na varanda. - Estou vendo a fumaça. Vou entrar!
- Amy, para cima, agora. Mais batidas à porta.
- Pelo amor de Deus, se estiver me ouvindo, abra a porta!
Amy subiu para o quarto. Wolgast foi até a janela e olhou para fora. Não era um carro nem um caminhão, e sim um snowmobile, com latas presas a ele. À luz do farol, ao pé da varanda, estava um homem de sobretudo e botas. Estava abaixado, as mãos nos joelhos. Wolgast abriu a porta.
- Não se aproxime - alertou. - Deixe-me ver suas mãos. O homem levantou os braços, quase sem forças.
- Não estou armado - respondeu.
Estava ofegante, e foi então que Wolgast viu o sangue, uma linha brilhante na lateral do sobretudo. Ele tinha um ferimento no pescoço.
- Estou doente - disse o homem.
Wolgast deu um passo adiante e levantou a arma.
- Saia daqui!
O homem caiu de joelhos.
- Jesus - gemeu. - Jesus Cristo! - Depois jogou o corpo para a frente, esfregando o rosto na neve.
Wolgast se virou e viu Amy parada junto à porta.
- Amy, vá para dentro!
- Faça isso, querida - disse o homem, levantando a mão ensangüentada num aceno frouxo. Em seguida enxugou a boca com as costas da mão. - Faça o que o seu pai mandou.
- Amy, eu mandei entrar. Agora. Amy fechou a porta.
- É melhor assim - disse o homem. Estava ajoelhado de frente para Wolgast.
- É melhor que ela não veja isso. Meu Deus, estou me sentindo uma merda.
- Como você nos encontrou?
O homem balançou a cabeça e cuspiu na neve.
- Não vim procurar vocês, se é isso que você quer dizer. Éramos seis e estávamos escondidos uns 70 quilômetros a oeste daqui. No acampamento de caça de um amigo. Estávamos lá desde outubro, depois que eles destruíram Seattle.
- Eles, quem? - perguntou Wolgast. - O que aconteceu em Seattle?O homem deu de ombros.
- O mesmo que em todos os outros lugares. Todos estavam doentes, morrendo, estraçalhando uns aos outros. O Exército apareceu, e então puf, um incêndio destruiu tudo. Algumas pessoas dizem que foi a ONU. Outros acham que foram os russos. Pelo que eu sei, podem ter sido até os marcianos. Nós fomos para o sul, para as montanhas. Achamos que podíamos passar o inverno lá e depois tentar chegar até a Califórnia. Aí aqueles desgraçados apareceram. Nenhum de nós conseguiu ao menos dar um tiro. Dei o fora de lá, mas um deles me mordeu. A desgraçada apareceu do nada e pulou em cima de mim. Não sei por que ela não me matou como fez com os outros, mas dizem que eles às vezes fazem isso. Ele deu um sorrisinho sem graça.
Acho que era meu dia de sorte.
- Você foi seguido?
- Não faço a mínima idéia. Senti o cheiro da sua fumaça a pelo menos um quilômetro e meio daqui. Não sei como fiz isso. Era como bacon numa frigideira. - Ele ergueu o rosto com uma expressão de tristeza. - Pelo amor de Deus, estou implorando. Eu mesmo daria cabo de tudo se tivesse uma arma.
Wolgast demorou um momento para entender o que o sujeito estava pedindo.
- Qual é o seu nome? - perguntou.
- Bob. - O homem lambeu os lábios com a língua ressecada. - Bob Saunders. Wolgast indicou o caminho com a Springfield.
- Precisamos nos afastar da casa.
Os dois caminharam para a floresta, Wolgast seguindo o estranho a cinco passos de distância. O homem se arrastava na neve funda. De vez em quando parava e colocava as mãos nos joelhos, ofegante.
- Sabe o que é engraçado? - perguntou ele. - Eu era analista de seguros. Vida e morte. Se o sujeito fumasse, dirigisse sem cinto de segurança ou comesse no McDonalds todos os dias, eu seria capaz de dizer quando ele morreria, com uma margem de erro de mais ou menos um mês. - Ele estava se apoiando numa árvore. - Acho que ninguém nunca calculou as estatísticas disso, não é?
Wolgast não disse nada.
- Você vai mesmo fazer isso, não vai? - perguntou Bob.
Ele olhava para longe, para as árvores.
- Vou - respondeu Wolgast. - Desculpe.
- Tudo bem. Não fique se culpando. - O homem respirou com dificuldade, lambendo os lábios. Virou-se e bateu com o dedo no peito, como Carl havia feito, tantos meses antes, para mostrar onde atirar. - Bem aqui, certo? Você pode atirar na cabeça primeiro, se quiser, mas certifique-se de acertar um aqui.
Wolgast assentiu, surpreso com a franqueza do sujeito e seu tom casual.
- Pode dizer à sua filha que eu ataquei você - acrescentou. - É melhor que ela não saiba sobre isso. E queime o corpo depois. Gasolina, querosene, qualquer coisa do tipo.
Estavam se aproximando do barranco acima do rio. A luz azulada da lua, a cena era de uma quietude fantasmagórica. Abaixo da neve e do gelo, Wolgast podia ouvir o calmo gorgolejar do rio. Era um lugar tão bom quanto qualquer outro, pensou.
- Vire-se de frente para mim - ordenou.
Mas Bob pareceu não ouvi-lo. Deu mais dois passos na neve e parou. Tinha começado, distraidamente, a se despir, tirando o casaco sujo de sangue e largando-o na neve, depois tirara os suspensórios da calça e puxara o suéter pela cabeça.
- Eu mandei se virar.
- Sabe o que é pior? - perguntou Bob.
Ele havia tirado a camiseta térmica e estava se ajoelhando para desamarrar as botas.
- Quantos anos tem a sua filha? Eu sempre quis ter filhos. Por que não fiz isso!
- Não sei, Bob. - Wolgast levantou a Springfield. - Levante-se e fique virado para mim. Agora.
Bob se levantou. Alguma coisa estava acontecendo. Ele estava passando o dedo no rasgo sangrento do pescoço. Outro espasmo o sacudiu, mas a expressão em seu rosto agora era prazerosa, quase sexual. Ao luar, sua pele parecia reluzir. Ele arqueou as costas como um gato, as pálpebras pesadas de prazer.
- Nossa, isso é bom - disse Bob. - Isso é realmente... incrível.
- Sinto muito - respondeu Wolgast.
- Ei, espere! - Com um gesto brusco, Bob abriu os olhos e estendeu as mãos.
- Espere um segundo aí!
- Sinto muito, Bob - repetiu Wolgast e então apertou o gatilho.
O inverno terminou com chuva. Durante dias e dias o aguaceiro caiu, enchendo a floresta, inchando o rio e o lago, levando o que restava da estrada.
Wolgast havia queimado o corpo exatamente como Bob o instruíra, jogando gasolina e, quando as chamas se extinguiram, encharcando as cinzas com água sanitária e enterrando tudo embaixo de um monte de pedras e terra. Na manhã seguinte, revistou o snowmobile. As latas presas a ele eram de gasolina, todas vazias, mas, na bolsa de couro pendurada no guidão, encontrou a carteira de Bob: uma carteira de motorista com sua foto e um endereço em Spokane, cartões de crédito, algum dinheiro, um cartão de biblioteca. Também havia uma foto tirada em estúdio: Bob usando um suéter com estampas natalinas, posando com uma loura bonita, grávida, e duas crianças: uma menininha de meia-calça e vestido verde de veludo e um bebê de pijama. Todos com sorrisos enormes no rosto, até o bebê. Atrás da foto havia algo escrito com letra feminina: "Primeiro Natal de Timothy."
Por que Bob dissera que não tinha filhos? Será que fora obrigado a vê-los morrer, uma experiência tão dolorosa que simplesmente a havia apagado da memória? Wolgast enterrou a carteira na encosta, marcando o local com uma cruz feita de dois gravetos amarrados com barbante. Não parecia grande coisa, mas foi tudo o que pôde pensar em fazer.
Esperou que outros viessem, presumindo que Bob fosse apenas o primeiro. Saía do alojamento apenas para fazer as tarefas imprescindíveis, e somente durante o dia. Mantinha a Springfield na cintura o tempo todo e deixava a arma de Carl carregada no porta-luvas do Toyota. De vez em quando ligava o motor e o deixava funcionar por alguns minutos, para manter a bateria carregada. Bob dissera alguma coisa sobre a Califórnia. Será que ainda era seguro lá? Haveria algum lugar seguro? Queria perguntar a Amy: você os ouve chegando? Eles sabem onde estamos? Não tinha nenhum mapa para mostrar a ela onde ficava a Califórnia. Em vez disso, levou-a até o telhado do alojamento uma noite, logo depois do pôr do sol. Está vendo aquelas montanhas?, perguntou, apontando para o sul. Acompanhe minha mão, Amy. É a cadeia das Cascatas. Se alguma coisa acontecer comigo, vápara aquelas montanhas. Corra e continue correndo sem parar. Mas os meses passaram e eles continuavam sozinhos. As chuvas terminaram e, uma manhã, Wolgast saiu do alojamento e sentiu o gosto e o cheiro da luz do sol e a sensação de que algo havia mudado. O canto dos pássaros enchia as árvores. Olhou para o lago e viu água onde antes houvera uma placa grossa de gelo. Uma doce névoa verde revestia o ar e, junto ao alojamento, o açafrão brotava da terra.
O mundo podia estar se despedaçando, mas ali estava o presente da natureza: a primavera nas montanhas. De todas as direções vinham os sons e cheiros de vida. Wolgast nem sabia em que mês estavam. Não tinha um calendário, e a bateria de seu relógio, que não usava desde o outono, tinha acabado havia muito tempo. Seria abril ou maio?
Naquela noite, sentado em sua poltrona perto da porta com a Springfield na mão, sonhou com Lila. Parte dele sabia que era um sonho sobre sexo, sobre fazer amor, no entanto não parecia ser isso. Lila estava grávida e os dois jogavam Banco Imobiliário. O sonho não tinha nenhum cenário específico - a área atrás de onde os dois estavam sentados era velada pela escuridão, como as partes escondidas de um palco. Wolgast foi tomado pelo medo irracional de que o que estavam fazendo pudesse machucar o bebê.
Precisamos parar", disse cheio de ansiedade. "Isso é perigoso." Mas ela não parecia ouvi-lo. Ele jogou os dados e moveu sua peça, descobrindo que parara no quadrado com a imagem do policial soprando o apito. "Vá para a prisão, Brad. Vá direto para a prisão." Depois ela se levantou e começou a tirar a roupa. "Tudo bem disse ela, "pode me beijar, se quiser. Bob não vai se incomodar." "Por que ele não vai se incomodar?", perguntou Brad. "Porque está morto. Estamos todos mortos." Acordou assustado, sentindo que não estava sozinho. Virou-se na poltrona e viu Amy, parada de costas para ele, olhando pela grande janela que dava para o lago. À luz do fogão a lenha ele a viu levantar a mão e tocar o vidro. Levantou-se.
- Amy? O que foi?
Ele estava caminhando em direção a ela quando uma luz ofuscante, imensa e pura, encheu o vidro, e naquele instante a mente de Wolgast pareceu congelar o tempo: como um obturador de máquina fotográfica, seu cérebro captou e guardou a imagem de Amy, as mãos erguidas por causa da luz, a boca aberta para soltar um grito de terror.
Algo sacudiu o chalé, e então, com um abalo estrondoso, as janelas explodiram. Wolgast sentiu seu corpo ser erguido do chão e lançado para o outro lado da sala. Um segundo depois - ou talvez cinco, ou 10 -, o tempo voltou a seu eixo. Wolgast se viu de quatro junto à parede dos fundos. Havia vidro por toda parte, milhares de pedaços no chão, as bordas brilhando à luz estranha que banhava a sala, como estrelas estilhaçadas. Lá fora, um brilho intenso inchava o horizonte a oeste.
- Amy!
Foi até onde ela estava, no chão.
- Você se queimou? Está machucada?
- Não consigo enxergar, não consigo ver! - Ela se sacudia violentamente, balançando os braços diante do rosto, em pânico.
Wolgast podia ver pedaços de vidro brilhando em cima dela, no corpo todo, presos à pele do rosto e dos braços. E sangue, também, encharcando a camiseta enquanto ele se inclinava sobre ela e tentava acalmá-la.
- Por favor, Amy, fique quieta! Deixe-me ver se está ferida.
Ela relaxou em seus braços. Gentilmente ele removeu os pedaços de vidro. Não havia nenhum corte. O sangue, percebeu, era dele. De onde vinha? Olhou para baixo e descobriu um caco comprido e curvo cravado na coxa esquerda. Puxou-o. O vidro saiu facilmente, sem dor. Sete centímetros dentro de sua perna. Por que não o havia sentido? Por causa da adrenalina? Assim que pensou nisso, a dor chegou, como um trem atrasado rugindo ao entrar na estação. Minúsculos pontinhos de luz salpicaram a sua visão e uma onda de náusea o atravessou.
- Brad! Não consigo ver! Onde você está?
- Estou aqui, querida. - A dor fazia a cabeça dele girar. Será que um sangramento daqueles poderia matar? - Tente abrir os olhos.
- Não consigo! Dói muito!
Queimaduras por radiação, pensou. Amy havia sofrido queimaduras na córnea por ter olhado diretamente para o clarão. A explosão não havia sido em Portland, Salem ou mesmo Corvallis. Ela acontecera ali, a oeste. Uma arma nuclear, pensou, mas de quem? E quantas outras haveria? De que iriam adiantar? De nada, ele sabia. Aquilo era só mais um espasmo violento de um mundo que agonizava. Percebeu que, ao sair ao sol e sentir o gosto da primavera, tinha se permitido pensar que o pior havia passado, que eles ficariam bem. Como fora idiota!
Carregou Amy até a cozinha e acendeu o lampião. De algum modo, o vidro da janela em cima da pia havia ficado intacto. Sentou-a numa cadeira, pegou um pano de pratos e o amarrou rapidamente na perna ferida. Amy chorava muito,
apertando os olhos com as mãos. A pele dela - as partes que haviam sido expostas ao clarão - havia se tornado de um vermelho vivo e já começava a descascar.
- Sei que está doendo - disse ele -, mas você tem de abrir os olhos para mim.
Preciso ver se ficou algum vidro aí dentro.
Ele havia posto uma lanterna na mesa, pronta para examinar os olhos dela no momento em que os abrisse. Era um estratagema, mas o que mais ele poderia fazer? Ela balançou a cabeça, afastando-se dele.
- Amy, abra os olhos. Preciso que você seja corajosa. Por favor.Mais um minuto de luta, e finalmente ela cedeu. Deixou que ele puxasse suas mãos e abriu os olhos, uma fenda minúscula, antes de fechá-los de novo.
- Está claro demais! - gritou ela. - Dói muito!
Ele fez uma proposta: contaria até três, então ela abriria os olhos e os manteria abertos enquanto ele contava até três novamente.
- Um - começou ele. - Dois. Três!
Ela abriu os olhos, cada músculo do seu rosto retesado de medo. Wolgast começou a contar de novo, passando a luz da lanterna sobre o rosto dela. Não havia vidro nenhum, nem qualquer ferimento visível. Os olhos estavam limpos.
- Três!
Ela fechou os olhos de novo, tremendo e chorando violentamente. Wolgast passou na pele de Amy um creme para queimaduras que havia encontrado no kit de primeiros socorros. Envolveu os olhos dela com uma atadura e levou-a para a cama, no andar de cima.
- Seus olhos vão ficar bem - garantiu, mas não sabia se era verdade. - Acho que isso é temporário, por ter olhado para o clarão.
Durante algum tempo ele ficou sentado com ela, até que sua respiração se acalmou e ele percebeu que ela estava dormindo. Deveriam tentar ir embora, pensou, afastar-se do local da explosão, mas para onde iriam? Primeiro o incêndio, depois a chuva, e a estrada na montanha havia sido praticamente levada embora. Poderiam tentar fugir a pé, mas até onde conseguiriam chegar? Ele mal podia andar, como guiaria uma menina cega pela floresta? O máximo que poderia esperar era que a explosão tivesse sido pequena, ou mais distante do que ele imaginava, ou que o vento empurrasse a radiação para longe dali.
Wolgast havia encontrado uma pequena agulha de costura e um carretel de linha preta no kit de primeiros socorros. Assim que amanheceu, desceu a escada para a cozinha. Sentado à mesa, à luz do lampião, soltou o pano de prato que havia amarrado e tirou a calça encharcada de sangue. O corte era fundo, mas estava surpreendentemente limpo, como uma embalagem de papel que se rasgara ao embrulhar um bife sangrento. Já havia pregado botões e uma vez fizera bainha em uma calça. Não poderia ser tão difícil.
Pegou a garrafa de uísque que tinha trazido do Miltons, tantos meses antes, no armário em cima da pia. Encheu um copo. Sentou-se e bebeu, virando rápido para não sentir o gosto. Depois serviu mais uma dose e bebeu de novo. Então se levantou, lavou demoradamente as mãos na pia e as enxugou em um pano. Voltou a se sentar, molhou o pano e o colocou na boca. Pegou a garrafa de uísque com uma das mãos e a agulha com a linha com a outra. Lamentando não haver mais luz, respirou fundo e prendeu o fôlego. Depois derramou o uísque no corte.
Aquela acabou se revelando a pior parte. Costurar o ferimento, depois, não foi quase nada.
Só quando acordou percebeu que havia dormido com a cabeça apoiada na mesa. O cômodo estava gelado e o ar tinha um estranho cheiro químico, como o de pneus queimados. Lá fora caía uma neve pálida. Com a perna latejando, mancou até a varanda. Não era neve, percebeu; eram cinzas. Desceu os degraus. Cinzas caíam em seu rosto, no cabelo. Estranhamente, não sentiu medo, nem por ele próprio, nem por Amy. Era uma maravilha. Olhou para cima, recebendo as cinzas, que estavam cheias de pessoas, ele sabia. Chovia cinzas de almas.
Poderia ter se mudado com Amy para o porão, mas parecia não haver sentido. A radiação estaria em toda parte, no ar que respiravam, na comida, na água quecorria do lago para a torneira da cozinha. Ficaram no segundo andar, onde pelo menos as janelas pregadas com tábuas ofereciam alguma proteção.
Três dias depois, quando tirou a atadura de Amy, ela podia enxergar, afinal como ele havia prometido. Wolgast, por outro lado, começou a ter vômitos incontroláveis. Sentia-se péssimo, mesmo depois que a única coisa que tinha para pôr para fora era um muco fino e preto como piche. A perna estava infeccionada, ou então a radiação fizera alguma coisa com ela. Um pus verde escorria do ferimento, encharcando o curativo. E havia um cheiro horrível, um cheiro que estava em sua boca também, nos olhos e no nariz. Parecia estar em cada parte dele.
- Vou ficar bom - dizia a Amy.
Depois de tudo o que acontecera, ela parecia a mesma. Sua pele queimada havia descascado, mas, por baixo, surgira uma nova camada, branca como leite.
- Basta ficar uns dias deitado e vou ficar novinho em folha.
Deitou-se em sua cama, no quarto ao lado do de Amy. Sentia os dias passando ao seu redor, através dele. Estava morrendo, sabia, as células do corpo se dividindo rápido - a mucosa do estômago e da garganta, o cabelo e as gengivas estavam sendo destruídos primeiro. Não era o que a radiação fazia? E agora ela havia penetrado nele como uma grande mão, letal.
Ele sentia que seu corpo se dissolvia como um comprimido na água, um processo irreversível. Deveria ter tentado sair da montanha com Amy, mas a oportunidade passara. Em algum ponto distante de sua consciência, percebia a presença de Amy, seus movimentos no quarto, os olhos observadores, sábios, voltados para ele. Ela encostava copos com água em seus lábios rachados. Ele se esforçava para beber, ansiando pela umidade e tentando ainda agradá-la, oferecer alguma garantia de que iria melhorar. Mas nada parava em seu estômago.
- Estou bem - dizia ela repetidamente, mas talvez ele estivesse sonhando com isso. A voz dela soava calma, próxima ao seu ouvido. Ela acariciava sua testa com um pano. Ele sentia a respiração macia de Amy em seu rosto, no quarto escuro.
- Estou bem.
Amy era uma criança. O que seria dela depois que ele morresse? Essa garota que mal dormia ou comia, cujo corpo não conhecia doença ou dor?
Não, ela não morreria. Isso era o pior, o mal terrível que haviam feito a ela. O tempo se dividia ao redor dela como ondas em volta de um píer, passando enquanto Amy permanecia a mesma. Noé viveu ao todo novecentos e cinqüenta anos. O que quer que tivessem feito, Amy não morreria, não podia morrer.
Desculpe, pensou. Fiz o máximo que pude, mas não foi o suficiente. Tive muito medo desde o início. Se existia um plano, não pude vê-lo. Amy, Eva, Lila, Lacey. Eu era só um homem. Desculpe, desculpe, desculpe, desculpe.
Então uma noite Wolgast acordou sozinho. Sentiu isso imediatamente: uma sensação de partida no ar, de ausência e fuga. O simples ato de levantar o cobertor exigiu toda a força que pôde juntar; o tecido era como lixa, como espetos de fogo em sua mão. Sentou-se, com esforço monumental. Seu corpo era uma coisa imensa e agonizante que a mente mal podia controlar. No entanto ainda era seu
- o mesmo corpo com o qual vivera todos os dias de sua vida. Como era estranho morrer, sentir o corpo abandoná-lo. Mas uma parte dele sempre soubera disso. Morrer, dizia seu corpo. Morrer. Épara isso que vivemos, para morrer.
- Amy - disse, e escutou a própria voz, apenas um ruído fraco, um som débil e inútil, sem forma, chamando o nome dela no quarto vazio e escuro. - Amy..
Conseguiu descer a escada até a cozinha e acender o lampião. À luz bruxuleante tudo parecia exatamente como antes, mas de algum modo o lugar parecia diferente - o mesmo cômodo onde ele e Amy tinham morado durante um ano, no entanto era um lugar totalmente novo. Não saberia dizer que horas eram, que dia, que mês. Mas Amy tinha ido embora.
Saiu cambaleando do alojamento, desceu os degraus da varanda e seguiu para a floresta escura. Uma nesga de lua pendia sobre as árvores, como um brinquedo suspenso por um fio, um rosto sorridente pendurado sobre o berço de um bebê. Sua luz se derramava sobre a paisagem de cinzas, o mundo morrendo, a ferida na terra viva revelando o cerne rochoso de tudo. Como um cenário, pensou Wolgast, um cenário criado para o fim de todas as coisas, das lembranças de tudo. Caminhou sem direção sobre a poeira branca, chamando, chamando o nome dela.
Agora estava nas árvores, na floresta, o alojamento distante atrás dele. Duvidava que pudesse encontrar o caminho de volta, mas isso não importava. Tudo havia acabado, ele estava acabado. Até mesmo chorar estava além de sua capacidade, No fim, pensou, tudo o que restava era escolher um lugar. Se você tivesse sorte, era o que deveria fazer.
Estava acima do rio em meio às árvores nuas, sem folhas, sob a lua. Tombou de joelhos, sentou-se encostado em uma das árvores e fechou os olhos cansados. Algo se movia acima dele nos galhos, mas sentiu isso apenas vagamente. Um farfalhar de corpos nas árvores. Algo sobre o que alguém lhe falara uma vez, muitas vidas atrás, sobre se moverem nas árvores à noite. Mas lembrar o significado dessas palavras exigia uma força de vontade que ele já não possuía. O pensamento o deixou sozinho.
Então um novo sentimento o tomou, frio e definitivo, como uma corrente de ar vinda de uma porta aberta para o espaço imobilizado entre as estrelas na hora mais gelada do inverno. Quando o amanhecer o encontrasse, ele não existiria mais. Amy, pensou, enquanto as estrelas começavam a cair, em toda parte e em tudo ao redor. Tentou encher a mente apenas com o nome dela, o nome de sua filha, para ajudá-lo a sair desta vida.
Amy, Amy, Amy.
PARTE 3ª
A última Cidade 2D.V.
Música, ao silenciar de vozes afáveis, Vibra na memória.
Aromas, quando as doces violetas murcham, Vivem dentro do sentido que estimulam.
Folhas de roseira, quando a rosa morre,
Ao leito do amado se destinam.
E assim, sobre seus pensamentos repousará o amor
Quando chegar o momento e você se for.
- Percy Bysshe Shelley
Música, ao Silenciar de Vozes Afáveis"
ORDEM DE EVACUAÇÃO Comando das Forças Militares dos EUA Zona de Quarentena do Leste, Filadélfia, Pensilvânia
Por ordem do general Travis Cullen, comandante interino do Exército e supremo comandante da Zona de Quarentena do Leste, e de Sua Excelência George Wilcox, prefeito da cidade da Filadélfia:
Todas as crianças entre quatro e treze anos de idade moradoras das áreas não infectadas MARCADAS DE VERDE (Zonas de Segurança) na cidade da Filadélfia e nos três condados a oeste do rio Delaware (Montgomery, Delaware e Bucks) devem se apresentar na ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA RUA 30 para embarque imediato.
Cada criança OBRIGATORIAMENTE deve trazer:
• Certidão de nascimento ou passaporte válido.
• Comprovante de residência, como conta luz, gás ou telefone em nome de um dos pais ou do responsável legal, ou registro de refugiado.
• Cartão de imunização atualizado.
Um adulto responsável para ajudar no processo de evacuação.
Cada criança PODE trazer:
• UMA bolsa ou mala com objetos pessoais, medindo não mais de 55cm x 35cm x 22cm. NÃO TRAGAM SUBSTÂNCIAS PERECÍVEIS. Comida e água serão fornecidas no trem.
• Um edredom ou saco de dormir.
Os seguintes itens NÃO serão permitidos nos trens nem dentro da ÁREA DE PROCESSAMENTO DE EVACUAÇÃO:
• Armas de fogo.
• Qualquer faca ou instrumento penetrante com mais de sete centímetros.
• Animais de estimação.
• Nenhum pai ou responsável poderá entrar na estação ferroviária.
• Qualquer pessoa que interfira com a evacuação será BALEADA.
• Qualquer pessoa que tente embarcar nos trens sem autorização será BALEADA.
Deus salve o povo dos Estados Unidos e a cidade da Filadélfia.
DEZOITO
Do diário de Ida Jaxon ("O Livro de Titia)
Apresentado na Terceira Conferência Global sobre o Período de Quarentena Norte-americano Centro de Estudos de Culturas e Conflitos Humanos Universidade de New South Wales, República Indo-australiana 16 a 21 de abril de 1003 D.V.
Começa o trecho da citação
E foi o caos. Tantos anos se passaram, mas nunca se esquece uma visão assim, Mmilhares de pessoas, todas tão apavoradas, comprimidas contra as cercas, soldados e cães tentando manter a ordem, tiros disparados no ar. E eu, que não tinha mais que 8 anos, com a pequena mala que mamãe havia arrumado na noite anterior, chorando o tempo todo porque sabia o que estava fazendo, que estava me Wmandando embora para sempre.
Os saltadores já haviam tomado Nova York, Pittsburgh, Washington. A maior parte do país, pelo que me lembro. Eu tinha parentes em todos esses lugares avia muita coisa que a gente não sabia. Como o que aconteceu na Europa, na França ou na China, mas eu tinha ouvido meu pai falar com uns vizinhos sobre como o vírus lá era diferente, que simplesmente matava todo mundo, portanto era possível que a Filadélfia fosse a última cidade no mundo com sobreviventes aquela época. Éramos uma ilha. Quando perguntei à minha mãe sobre a guerra, ela explicou que os saltadores eram pessoas como nós, só que doentes.
Já havia ficado doente, por isso morri de medo quando ela contou isso, simplesmente comecei a chorar feito uma doida, pensando que iria acordar um dia e matar meu pai, ela e meus primos, como os saltadores gostavam de fazer. Ela me abraçou com força e disse: não, não, Ida, é diferente, não é a mesma coisa, pronto, pronto, agora pare de chorar, e eu parei. Mas mesmo assim, durante um bom tempo a coisa não fez sentido para mim. Por que existia uma guerra e havia soldados em toda parte se as pessoas estavam só fungando ou com dor de garganta?
Saltadores: era assim que nós os chamávamos. Não os chamávamos de vampiros, mas ouvíamos essa palavra. Era o que meu primo Terrence dizia que eles eram. Terrence me mostrou em um gibi que ele tinha, mas quando perguntei ao meu pai sobre isso e mostrei as figuras, ele disse que não, que os vampiros eram só personagens de histórias inventadas, homens bonitos, de terno, capas e bons modos, e que isso aqui era de verdade, não uma história. Agora existem vários nomes para eles, é claro: voadores, fumaças, bebedores, virais e outros tantos, mas a gente os chamava de saltadores porque era o que eles faziam quando pegavam as pessoas: saltavam. Meu pai disse que, independentemente de como os chamássemos, eles eram uns filhos da puta cruéis. Fique dentro de casa como o Exército mandou, Ida. Fiquei chocada quando ouvi meu pai falar assim, porque ele era diácono da igreja, e eu nunca o tinha ouvido falar desse jeito, usar esse tipo de linguagem.
As noites eram piores, principalmente naquele inverno. Não tínhamos as luzes de agora. Não havia muita comida, a não ser a que o Exército distribuía, e não tínhamos aquecimento, a menos que encontrássemos alguma coisa para queimar. O sol se punha e dava para sentir aquele medo baixando como uma tampa em cima de tudo. Não sabíamos se aquela seria a noite da chegada dos saltadores. Meu pai tinha pregado tábuas nas janelas da casa e, além disso, tinha uma arma e ficava com ela a noite toda, sentado na cozinha à luz de velas, escutando o rádio, talvez bebericando um pouco. Ele havia sido oficial de comunicações da Marinha e entendia dessas coisas. Uma noite acordei e o encontrei chorando, sentado com o rosto enterrado nas mãos, tremendo e chorando, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Não sei o que tinha me acordado, a não ser, talvez, o choro dele. Meu pai era um homem forte, e senti vergonha ao vê-lo naquele estado. Perguntei: papai, o que é, por que está chorando desse jeito, alguém assustou você? E ele balançou a cabeça e disse: Deus não nos ama mais, Ida. Talvez seja alguma coisa que fizemos. Mas Ele não nos ama mais. Ele está longe, nos abandonou. Então minha mãe veio e disse a ele: fique quieto, Monroe, você está bêbado, e me levou de volta para a cama. Este era o nome do meu pai: Monroe Jaxon Terceiro. O nome da minha mãe era Anita. Na época eu não sabia, mas acho que a noite em que o vi chorando talvez tenha sido a mesma em que ficou sabendo do trem. Mas poderia ser outra coisa.
Só Deus sabe por que poupou a Filadélfia por tanto tempo. Hoje em dia, mal me lembro de lá, a não ser de pequenas coisas, de vez em quando. Lembro-me de quando saía à noite com meu pai para comprar um picolé na esquina, de meus amigos na escola Joseph Pennell, de uma menina chamada Sharise que morava na esquina e de como nós duas brincávamos durante horas e horas. Procurei por ela no trem, mas não encontrei.
Lembro do meu endereço: rua West Laveer, no 2.121. Havia uma faculdade perto, lojas, ruas movimentadas e todo tipo de gente indo e vindo o dia inteiro lembro da vez em que meu pai me levou ao centro da cidade, de ônibus, para ver as vitrines enfeitadas para o Natal. Eu não devia ter muito mais de 5 anos na época. O ônibus passou pelo hospital onde meu pai trabalhava tirando radiografias - que eram fotos dos ossos das pessoas. Ele tinha esse emprego desde que havia saído da Marinha e conhecido mamãe, e sempre dizia que era perfeito para ele, que gostava de ver as coisas por dentro. Antes ele queria ser médico, mas tirar radiografias era a segunda coisa de que mais gostava. Do lado de fora das lojas ele me mostrou as vitrines arrumadas para o Natal, com luzes, neve, uma árvore e figuras que se mexiam: duendes, renas e coisas assim. Eu nunca havia me sentido tão feliz na vida, só de ver uma coisa tão bonita, parados no frio, nós dois juntos. íamos comprar um presente para a mamãe, disse ele, sua mão grande na minha cabeça como sempre fazia. Um cachecol ou talvez um par de luvas. Todas as ruas estavam cheias de gente, muita gente, de todas as idades e tipos. Ainda gosto de pensar nisso, de mandar amente de volta para aquele dia. Ninguém se lembra mais do Natal, mas era umpouco como é a Primeira Noite agora. Não me lembro se a gente comprou o cachecol e as luvas. Provavelmente sim.
Agora tudo isso acabou. Tudo. E as estrelas. De vez em quando me pego pensando que é disso que mais sinto falta, do Tempo de Antes. Da janela do meu quarto dava para olhar por cima dos telhados dos prédios e das casas e ver aqueles pontos de luz no céu, pairando lá como se Deus o tivesse enfeitado para o Natal. Minha mãe me disse o nome de algumas estrelas e mostrou como a gente podia encontrar algumas imagens lá em cima, coisas simples, como colheres, pessoas e animais. Eu costumava pensar que a gente podia olhar para as estrelas e que aquilo era Deus, bem ali. Era como olhar direto no rosto dele. Precisava da escuridão para vê-lo direito. Talvez ele tenha se esquecido de nós, talvez não. Talvez nós é que tenhamos esquecido, quando não pudemos mais ver as estrelas. E para dizer a verdade, elas são a única coisa que eu gostaria de ver de novo antes de morrer.
Houve outros trens, eu acho. Tínhamos ouvido falar que trens haviam partido de todos os lugares, que outras cidades tinham mandado trens antes que os saltadores chegassem. Talvez fossem só rumores, pessoas apavoradas se agarrando a qualquer pedacinho de esperança. Não sei quantos conseguiram chegar a seu destino. Alguns foram mandados para a Califórnia, outros para lugares com nomes que agora não lembro. Só houve um de que tivemos notícia, logo nos primeiros dias. Antes dos Andarilhos e da Lei Única, quando o rádio ainda era permitido. O trem tinha saído de algum lugar no Novo México, eu acho. Mas aconteceu alguma coisa com as luzes deles e a gente não soube mais nada depois disso. Pelo que Peter, Theo e os outros me contaram, acho que somos os únicos que restam agora.
Mas é sobre o trem, a Filadélfia e tudo o que aconteceu naquele inverno que eu queria escrever. As pessoas estavam todas desesperadas. O Exército estava em toda parte, não apenas soldados, mas tanques e outras coisas assim. Meu pai disse que eles estavam ali para nos proteger dos saltadores, mas para mim eram só homens grandes com armas, a maioria brancos. E meu pai sempre dizia para olhar as coisas pelo lado positivo, mas para não confiar no homem branco - era assim que ele falava, como se todos eles fossem um homem só. Mas, claro, isso parece engraçado agora, com as pessoas todas misturadas como estão. Provavelmente quem está lendo isto nem sabe do que estou falando. Nós conhecemos um sujeito que foi morto só porque tentou pegar um cachorro. Acho que ele pensou que comer um cachorro era melhor do que nada. Mas o Exército atirou nele e o pendurou em um poste na avenida Olney, com uma placa grudada no peito dizendo "saqueador". Não sei o que ele estava tentando saquear, a não ser, talvez, um cachorro faminto que ia morrer de qualquer jeito.
Até que uma noite escutamos um estrondo fortíssimo, e depois outro, e mais outro, e aviões zunindo por cima da nossa cabeça, e meu pai disse que eles tinham explodido as pontes, e, durante todo o dia seguinte, vimos mais aviões, sentimos cheiro de fogo e fumaça e soubemos que os saltadores estavam perto. Bairros inteiros da cidade estavam em chamas. Fui para a cama efui acordada pelos sons de uma briga. Nossa casa tinha só quatro cômodos, e o barulho ia longe. Não dava para espirrar em um cômodo sem que alguém em outro dissesse saúde. Ouvi minha mãe chorando e chorando, e meu pai falando com ela: você tem de entender, a gente precisa fazer isso, seja forte, Anita, coisas assim. Então a porta do meu quarto se abriu e eu vi meu pai. Ele estava segurando uma vela, e eu nunca na vida tinha visto uma expressão como aquela no rosto dele. Como se tivesse visto um fantasma e o fantasma fosse ele mesmo. Ele me vestiu depressa, me agasalhou bem e disse: seja uma boa menina agora, Ida, e vá se despedir da sua mãe. E quando eu fiz isso ela me abraçou por muito, muito tempo, chorando tanto que dói só de pensar, mesmo agora, tantos anos depois. Vi a mala perto da porta e perguntei: a gente vai para algum lugar, mamãe? A gente vai embora? Mas ela não respondeu, só continuou chorando e chorando e me abraçando daquele jeito, até que meu pai fez ela me soltar. Depois fomos embora, meu pai e eu. Só nós dois.
Só quando estávamos do lado de fora vi que ainda era de madrugada. Estava frio e ventava muito. Flocos caíam e eu achei que era neve, mas quando peguei um com a mão e lambi percebi que eram cinzas. Dava para sentir o cheiro da fumaça eela ardia nos meus olhos e na boca. Tivemos de andar muito, a maior parte da noite. As únicas luzes que se moviam nas ruas eram os caminhões do Exército, alguns com alto-falantes, as vozes saindo deles mandando os moradores não roubarem, ficarem calmos, dando instruções sobre a evacuação.
Havia algumas pessoas na rua, não muitas, mas conforme fomos andando, vimos mais e mais pessoas, até que as ruas estavam apinhadas de gente, ninguém falando uma palavra, todos andando na mesma direção que nós, carregando suas coisas. Acho que na época eu não entendi que só os Pequenos iriam.
Ainda estava escuro quando chegamos à estação. Meu pai disse que queria chegar lá cedo para evitar as filas. Ele odiava filas, mas parecia que metade da cidade havia tido a mesma idéia. Esperamos um bocado de tempo, e as coisas estavam ficando feias, dava para sentir. Era como se houvesse uma tempestade a caminho, o vento soprando com ela. As pessoas estavam com muito medo. Os incêndios estavam se apagando e os saltadores se aproximavam, era o que diziam.
Dava para ouvir estrondos enormes a distância, como trovões, e aviões supersônicos voando bem acima das nossas cabeças. E cada vez que víamos um, os ouvidos estalavam e escutávamos um estrondo um segundo depois. O chão tremia embaixo de nossos pés. Algumas pessoas tinham Pequenos com elas, mas não todas. Meu pai segurava firme a minha mão. Havia uma abertura na cerca por onde os soldados faziam as pessoas entrarem e era por lá que a gente tinha de passar. O buraco era tão apertado que as pessoas se comprimiam e eu mal conseguia respirar. Alguns soldados tinham cachorros. Não solte a minha mão, Ida, disse meu pai. Não importa o que aconteça, segure firme a minha mão.
Chegamos tão perto que dava para ver o trem. Estávamos em uma ponte acima de onde passavam os trilhos. Tentei ver onde o trem terminava, mas não pude, de tão comprido que era. Parecia se esticar para sempre, com uma centena de vagões. Não parecia com nenhum trem que eu tinha visto. Os vagões não tinham janelas, e mastros compridos se projetavam dos lados com redes penduradas, como asas de um pássaro. No teto havia jaulas de metal, como gaiolas de canários, mas onde havia soldados com armas enormes. Pelo menos achei que eram soldados, já que usavam roupas prateadas e brilhantes para se protegerem do fogo.
Não lembro o que aconteceu com meu pai. Certas coisas a gente não lembra porque a mente não permite. Lembro de uma mulher que levava um gato em uma caixa e de um soldado dizendo: dona, o que a senhora acha que vai fazer com esse gato? Então, tudo aconteceu rápido: acredite se quiser, o soldado atirou nela, bem ali. E depois escutamos mais tiros, e pessoas tentando abrir caminho, empurrando e gritando, e meu pai e eu nos separamos no meio daquilo tudo. Quando tentei segurar a mão dele, ele não estava mais ali.
A multidão se movia como um rio, me arrastando junto. Foi uma coisa horrível. Pessoas gritavam que o trem não estava cheio, mas estava indo embora assim mesmo. Parece incrível, mas eu havia perdido minha mala e era nisso que estava pensando: perdi minha mala e meu pai vai ficar furioso por causa disso. Ele vivia dizendo: cuide das suas coisas, Ida, não seja descuidada. Nós trabalhamos duro para ter as coisas que temos, então não as trate como se não valessem nada. Eu estava pensando que ia levar a maior bronca da minha vida, tudo por causa da mala, quando alguma coisa me derrubou no chão e, quando levantei, vi todas as pessoas mortas em volta. E uma delas era um garoto que eu acho que conhecia da escola. O apelido dele era Vincent Chiclete. Ele vivia levando advertências na escola por mascar chiclete. Mas agora tinha um buraco bem no meio do peito e estava deitado de costas em uma poça de sangue. Mais sangue saía borbulhando do buraco, como sabão na banheira. Lembro de ter pensado: esse menino morto é o Vincent Chiclete. Uma bala atravessou o corpo dele e o matou. Ele nunca mais vai se mexer, nem falar, nem mascar chiclete, nem fazer nada; vai ficar aí para sempre, com essa expressão distraída no rosto.
Eu ainda estava na ponte acima do trem quando as pessoas começaram a pular em cima dele. Todo mundo gritava. Os soldados atiravam nelas, como se tivessem recebido ordens de atirar em qualquer coisa, não importando o que fosse. Olhei para baixo e vi os corpos empilhados, que nem troncos em uma fogueira, e sangue por toda parte, tanto sangue que parecia que o mundo inteiro tinha se derramado.
Então alguém me pegou. Pensei que era meu pai, que ele tinha me achado, afinal, mas não era ele, era só um homem. Um homem barbudo, gordo e branco. Ele me agarrou pela cintura e correu para o outro lado da ponte, onde havia um pequeno caminho descendo no meio de um mato baixo. Chegamos a um muro acima dos trilhos e o homem me segurou pelas mãos e me baixou, e eu pensei: ele vai me largar e eu vou morrer, igual ao Vincent Chiclete. Eu estava olhando direto para aquele homem e nunca vou me esquecer dos olhos dele. Eram os olhos de alguém que já se considera morto. Quando uma pessoa tem esse olhar, ela não é nova ou velha, preta ou branca, nem mesmo homem ou mulher. Ela já transcendeu todas essas coisas. O homem estava gritando: alguém pegue ela, alguém pegue essa menina aqui. E então alguém me agarrou pelas pernas, me desceu, e a próxima coisa de que me lembro é que estava no trem e o trem estava andando. E em algum momento, no meio de toda aquela confusão, eu comecei achar que nunca mais veria nenhum deles, nem minha mãe, nem meu pai, nem mguém que eu jamais conhecera na vida até aquele dia. O que lembro depois disso são mais sensações do que fatos. Lembro de começar chorando, de sentir fome, da escuridão, do calor e do cheiro de corpos apinhados. Dava para ouvir tiros lá fora e sentir o ardor dos incêndios atravessando as paredes do trem, como se o mundo inteiro estivesse em chamas. As paredes ficavam tão quentes que queimavam quem encostasse nelas. Algumas crianças não tinham mais de 4 anos, eram praticamente bebês. Havia dois vigias no vagão com a gente, um homem e uma mulher. As pessoas acham que Vigias eram do Exército, mas não eram, eram da FEMA, a agência federal que gerenciava emergências. Lembro-me disso porque estava escrito em letras amarelas grandes nas costas do casaco deles. Não lembro o que foi feito da mulher, mas o homem foi de uma Primeira Família, um Chou. Ele se casou com outra Vigia e, depois que ela morreu, teve mais duas esposas. Uma delasMazie Chou, avó do Velho Chou.
O negócio era que o trem não parava. Nunca. De vez em quando escutávamos um estrondo enorme e o vagão sacudia como uma folha ao vento, mas o trem continuava. Um dia a mulher saiu para ver outras crianças e voltou chorando. Lembro que ela disse ao homem que os outros vagões atrás de nós tinham sumido. Haviam construído o trem de tal maneira que, se os saltadores entrassem em um determinado vagão, ele era deixado para trás, e esses tinham sido os estrondos que escutamos: um vagão depois do outro ficando para trás. Eu não queria pensar naqueles vagões e nas crianças dentro, e até hoje não penso, então não vou escrever mais nada sobre isso.
O que vocês devem estar querendo saber é como foi quando chegamos aqui, e ilembro alguma coisa sobre isso, porque foi nesse dia que encontrei Terrence, meu primo. Eu não sabia que ele estava no mesmo trem que eu, porque estava em outro vagão. E foi sorte dele não estar em um dos vagões de trás, porque quando chegamos haviam restado apenas três, e dois deles estavam quase vazios. Estávamos na Califórnia, pelo que os Vigias disseram. A Califórnia não era mais um estado, eles falaram, agora era outro país. Haveria ônibus para nos levar até as montanhas, para um lugar seguro. O trem foi parando e todos estavam com medo, mas também ansiosos para sair dali, depois de tantos dias. Então a porta se abriu e a luz foi tão forte que tivemos de tapar o rosto com as mãos. Algumas crianças estavam chorando, porque achavam que eram os saltadores, que eles tinham vindo pegar a gente, e alguém disse para não serem idiotas, não eram os saltadores.
Quando abri os olhos, fiquei aliviada por ver um soldado. Estávamos em algun lugar deserto. Mandaram que descêssemos do trem, e havia um monte de soldados em volta, uma fila de ônibus parados na areia e helicópteros lá em cima, levantando poeira e fazendo barulho. Os soldados nos deram água. Água gelada. Nunca fiquei tão feliz por beber água gelada.
A luz era tão forte que os olhos doíam só de olhar em volta, mas foi então que vi Terrence. Ele estava ali, parado na poeira como todos nós, segurando uma mala e um travesseiro sujo. Eu nunca abracei ninguém com tanta força na vida, e nós dois ficamos rindo e chorando e dizendo: você está aqui! Éramos primos em segundo grau, pelo que me lembro. Meu pai era tio do dele, Carleton Jaxon. Ele trabalhava como soldador no estaleiro, e mais tarde Terrence me contou que o pai dele fora um dos homens que tinham construído o trem. Um dia antes da evacuação, Carleton tinha levado Terrence para a estação e posto ele no vagão da locomotiva, mais perto do Condutor, e o mandara ficar ali. Fique aí, Terrence. Faça o que o Condutor mandar. Efoi assim que Terrence e eu nos encontramos. Ele era apenas três anos mais velho que eu, mas na época parecia ter mais, então eu disse: você vai cuidar de mim, não vai, Terrence Diga que vai fazer isso. E ele confirmou com a cabeça e disse que sim, efoi o que ele fez, até o dia em que morreu. Foi o primeiro Jaxon a ser Guardião e, desde então, sempre houve um Jaxon entre os Guardiões.
Eles colocaram a gente nos ônibus. Para mim, tudo agora parecia diferente com Terrence ali. Ele me emprestou o travesseiro e eu caí no sono com a cabeça encostada nele. Por isso não sei quanto tempo ficamos no ônibus, mas não acho que tenha sido mais de um dia. Então, antes que eu me desse conta, Terrence estava dizendo: acorde, Ida, já chegamos, acorde, vamos, e na mesma hora eu pude sentir como o ar era diferente onde estávamos. Outros soldados nos tiraram dos ônibus, e pela primeira vez vi os muros e a iluminação acima de nós, bem altas, nos postes - mas ainda era de dia, de modo que as luzes não estavam acesas. O ar era puro e tão frio que nos fazia tremer e bater os pés. O Exército estava em toda parte, assim como caminhões da FEMA de todos os tamanhos, carregados com todo tipo de coisas, comida, armamentos, papel higiênico, roupas, e outros com animais dentro: ovelhas, cabritos, cavalos e galinhas em gaiolas, e até alguns cachorros. Os Vigias nos puseram em filas como tinham feito antes, anotaram o nome de cada criança, nos deram roupas limpas e depois nos levaram para o Abrigo. O quarto onde puseram a gente era o que quase todo mundo conhece, onde todos os Pequenos dormem até hoje. Eu escolhi uma cama perto de Terrence efiz a ele a pergunta que estava na minha cabeça desde que tínhamos chegado:
- que lugar é esse, Terrence? Seu pai deve ter dito a você, se ele construiu o trem. E Terrence pensou por um momento e disse que era ali que íamos morar. As luzes e os muros iam proteger a gente dos saltadores, de tudo, até a guerra acabar. Era que nem a história de Noé, e ali era a arca. E perguntei que arca, e o que ele estava falando, e se algum dia eu ia ver minha mãe e meu pai de novo, e ele disse: não sei, Ida, mas vou cuidar de você.
Sentada na cama do outro lado do quarto havia uma menina que devia ter a mesma idade que eu e que só fazia chorar e chorar. Terrence se aproximou e perguntou baixinho o seu nome, disse que ele podia cuidar dela se ela quisesse, e isso fez ela parar. Ela era linda, dava para ver claramente, mesmo estando suja e cansada como todos nós. O rostinho doce e um cabelo tão claro e fino que parecia de bebê. Ela ficou sacudindo a cabeça, confirmando o que ele estava dizendo, e respondeu sim, por favor, e se não for muito problema, pode cuidar do meu irmão também? E aquela garota, Lucy Fisher, virou minha melhor amiga e foi com ela que Terrence se casou mais tarde. O irmão dela se chamava Rex, uma coisa pequenininha, tão lindo quanto Lucy, só que com jeito de menino, e acho que você já deve saber que os Fisher e os Jaxon têm se misturado de um jeito ou de outro desde então.
Ninguém disse que era meu trabalho lembrar todas essas coisas, mas sinto que, se não houvesse anotado o que aconteceu, tudo teria se perdido. Não só como a gente veio para cá, mas aquele mundo, o mundo antigo do Tempo de Antes. Sair para comprar luvas e um cachecol no Natal, andar com meu pai até a esquina para tomar um picolé ou sentar na janela em uma noite de verão para ver as estrelas. Todos estão mortos agora, é claro, os Primeiros. A maioria morreu há muito tempo, ou então foi levada, e ninguém nem lembra mais o nome deles. Quando penso naqueles dias não é bem tristeza que sinto. Um pouco de tristeza, sim, por sentir falta das pessoas, como Terrence, que foi levado aos 27 anos, eLucy, que morreu durante o parto não muito depois, e Mazie Chou, que teve uma vida longa, mas morreu de um jeito que agora não lembro. Apendicite, eu acho, ou então câncer. O mais difícil é pensar nos que desistiram, como tantos fizeram no correr dos anos. Os que tiraram a própria vida, por tristeza, preocupação ou por não quererem mais carregar o peso dessa existência, é com eles que eu sonho. Como se tivessem deixado o mundo inacabado e nem soubessem que partiram. Mas acho que faz parte da velhice sentir-se assim, metade em um mundo e metade no outro, tudo misturado na mente. Não resta ninguém que saiba meu nome. As pessoas me chamam de Titia porque nunca tive filhos, e acho que o nome é adequado. Às vezes é como se eu tivesse tanta gente dentro de mim que nunca estou sozinha. E quando eu partir, elas irão comigo.
Os Vigias disseram que o Exército voltaria, trazendo mais crianças e soldados mas nunca voltou. Os ônibus e caminhões foram embora, e, à medida que a escuridão baixava, eles lacraram os portões e as luzes se acenderam, brilhantes como o dia, tão intensas que ofuscavam as estrelas. Era uma coisa impressionante de se ver. Terrence e eu havíamos saído para olhar, os dois tremendo de frio, e então entendi o que ele tinha dito. Era ali que íamos viver de agora em diante. Estávamos ali, juntos, na Primeira Noite, quando as luzes se acenderam e as estrelas se apagaram. E em todos os anos desde então, anos e anos e anos, nunca mais vi as estrelas.
PARTE 4ª
DE OLHOS ABERTOS
Primeira Colônia Montanhas San Jacinto República da Califórnia
O sono! O sono gentil!
Doce amo da natureza, como foi que te espantei, Para não pesares em minhas pálpebras E não impregnares de esquecimento meus sentidos?
WILLIAM SHAKESPEARE Henrique IV, Parte II
Slide nº 1: Reconstituição da Primeira Colônia (33°74N, 116071'0) Apresentado na Terceira Conferência Global sobre o Período de Quarentena Norte-americano. Centro de Estudos de Culturas e Conflitos Humanos Universidade de New South Wales, República Indo-australiana 16 a 21 de abril de 1003 D.V.
Primeira Colônia, (1 D.V.
DOCUMENTO DA LEI ÚNICA
TODOS OS COLONOS POR ESTE DOCUMENTO:
Nós, os GUARDIÕES, com o objetivo de salvaguardar a ORDEM DOMÉSTICA, proporcionar COTAS IGUALITÁRIAS, promover a PROTEÇÃO do ABRIGO, estabelecer a JUSTIÇA em todas as questões de TRABALHO e OFÍCIO e promover a DEFESA COMUM da COLÔNIA, de seus BENS MATERIAIS e todas as ALMAS que vivem dentro de seus MUROS, até o DIA DO RETORNO, ordenamos e estabelecemos este DOCUMENTO DA LEI ÚNICA.
OS GUARDIÕES
O núcleo dos GUARDIÕES será composto pelo membro mais velho de cada uma das PRIMEIRAS FAMÍLIAS sobreviventes (Patal, laxon, Molyneau, Fisher, Chou, Curtis, Boyes, Norris), sem excluir os que se uniram a uma segunda família pelo casamento, inclusive as FAMÍLIAS ANDARILHAS, ou, no caso de os membros mais velhos se recusarem a servir, por outro que tenha seu sobrenome.
Os GUARDIÕES agirão após consulta ao COMITÊ DE OFÍCIOS, supervisionando todas as questões de defesa, produção, iluminação e distribuição de COTAS IGUALITÁRIAS. A autoridade final será dos GUARDIÕES em todas as questões de disputas e em tempos de EMERGÊNCIA CIVIL.
Os GUARDIÕES elegerão um de seus membros para ser o GUARDIÃO-CHEFE, e somente essa pessoa servirá sem que precise ter um segundo OFÍCIO.
OS SETE OFÍCIOS
Todas as tarefas dentro da COLÔNIA e fora de seus MUROS, inclusive na USINA TRICA, nas TURBINAS, nos PASTOS e nas ARENAS, serão divididas em SETE OFÍCIOS, a saber: Vigilância, Serviço Pesado, Luz e Força, Agricultura, Pecuária, Ofícios e Manufatura, e Abrigo-Enfermaria;
Cada um dos SETE OFÍCIOS (trabalhos) deverá ser autoadministrado, e os CHEFES DE OFÍCIO formarão o COMITÊ DE OFÍCIOS, o qual prestará contas aos GUARDIÕES do modo como estes determinarem e a seu critério.
A VIGILÂNCIA
A VIGILÂNCIA, de agora em diante, será um dos SETE OFÍCIOS, de importância equivalente a todos os outros, e composta de pelo menos um PRIMEIRO CAPITÃO, três SEGUNDOS CAPITÃES, 15 VIGIAS PLENOS e um número de corredores a ser determinado.
Todas as ARMAS DE FOGO e ARMAS PERFURANTES (arcos, bestas, lâminas com mais de 10 cm) dentro dos MUROS da COLÔNIA devem ser mantidas na ARMARIA, sob proteção da VIGILÂNCIA.
O ABRIGO
Cada criança permanecerá na segurança do ABRIGO (Escola F. D. Roosevelt), jamais saindo dos limites de seus muros, até a idade de 8 anos. No advento do 8º aniversário, a criança deixará o ABRIGO, quando também escolherá um OFÍCIO, sujeito às necessidades da COLÔNIA e à aprovação dos GUARDIÕES e do COMITÊ DE OFÍCIOS.
A COTA IGUALITÁRIA dessa criança, após sua saída do ABRIGO, será retida pelos GUARDIÕES de sua família, para ser restituída a ela no dia do seu CASAMENTO.
As crianças que estiverem no ABRIGO não saberão nada sobre o mundo atual fora dos muros da COLÔNIA, incluindo qualquer menção aos virais, aos serviços da VIGILÂNCIA e ao evento conhecido como o GRANDE CATACLISMO VIRAL. Qualquer pessoa que forneça intencionalmente esse tipo de informação a qualquer CRIANÇA MENOR estará sujeita à pena de ser POSTA FORA DOS MUROS.
OS DIREITOS DOS ANDARILHOS
Os ANDARILHOS, ou almas que não pertençam às PRIMEIRAS FAMÍLIAS, têm direito integral às COTAS IGUALITÁRIAS, não podendo ser privados dessas cotas por qualquer pessoa, com exceção dos homens solteiros que optem por viver nos ALOJAMENTOS segundo as cotas de seus OFÍCIOS.
LEI DA QUARENTENA
Qualquer alma, seja ela de uma PRIMEIRA FAMÍLIA ou ANDARILHA, que entre em contato físico direto com um VIRAL deve ficar em quarentena por um período de pelo menos 30 dias.
Qualquer alma, esteja ela em quarentena ou em liberdade, que exiba sintomas de INFECÇÃO VIRAL, inclusive, mas não limitados a TREMORES, VÔMITO, AVERSÃO à LUZ, MUDANÇAS NA COR DOS OLHOS, SEDE DE SANGUE ou DESPIR-SE ESPONTANEAMENTE, deverá ser sujeita a confinamento imediato e/ou CONCUÇÃO MISERICORDIOSA por parte da VIGILÂNCIA.
Qualquer alma que abra os portões, totalmente ou em parte, por acidente ou intenção, sozinha ou na companhia de outros, entre o SEGUNDO TOQUE DA TARDE e o PRIMEIRO TOQUE DA MANHÃ, estará sujeita à penalidade de ser POSTA FORA DOS MUROS.
Qualquer alma que possua, opere ou encoraje a operação de um RÁDIO ou outro INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO estará sujeita à penalidade de ser POSTA FORA DOS MUROS.
Qualquer alma que cometa o crime de assassinar outra alma, ato definido como causar deliberadamente a morte física do outro sem motivos causados por infecção, estará sujeita à penalidade de ser POSTA FORA DOS MUROS.
ASSIM APROVADA E RATIFICADA NO ANO DE NOSSA ESPERA, 17 D.V.
Devin Dnnforth Chou
FEMA - Agência Federal de Gerenciamento de Emergências Administrador Regional Interino da Zona Central de Quarentena GUARDIÃO-CHEFE
Terretice Jaxoti Lucy Fisher Jaxon Porter Curtis Liam Molyneau Sónia Patal Levine Christian Boyes WilL Norris Darrell PRIMEIRAS FAMÍLIAS.
DEZENOVE
o fim de uma tarde de verão, nas últimas horas de sua vida antiga, Peter Jaxon - filho de Demetrius e Prudence Jaxon, Primeira Família; descendente de Terrence laxon, signatário da Lei Única; sobrinho-bisneto daquela que é conhecida como Titia, Última dos Primeiros Peter das Almas, o Homem dos Dias e Aquele que Ficou de Pé, assumiu sua posição na passarela acima do Portão Principal, esperando para matar seu irmão.
Tinha 21 anos e o ofício de Vigia Pleno. Peter era alto, apesar de não se considerar, tinha rosto estreito, testa proeminente, dentes fortes e pele cor de mel. Tinha os olhos da mãe, verdes com pintas douradas, e cabelo dos laxon, crespo e escuro, penteado para trás no estilo dos Vigias, apertado em um coque com uma tira de couro simples, parecendo uma noz na base do crânio. Uma teia de rugas finas saía do canto dos olhos, apertados por causa da luz amarelada. Na têmpora esquerda, uma única risca de cabelo grisalho assinalava uma vida difícil. Usava um jeans com vários remendos nos joelhos e na parte de trás e uma camisa de lã macia amarrada por uma faixa na cintura fina.
Por baixo da roupa, uma camada de suor e sujeira lhe pinicava a pele. Tinha comprado a calça três estações antes no Armazém, pagando com sua Cota. Walt Fisher havia lhe cobrado um quarto, um preço absurdo para uma calça jeans, mas, depois de muita barganha, ele baixara o preço para um oitavo - era assim que Walt fazia as coisas, seu preço nunca era o preço final. A calça era um pouco mais comprida que suas pernas, embolando-se ao redor dos pés enfiados nas sandálias feitas de lona e restos de pneu. Ele sempre usava sandálias na época mais quente do ano, ou então andava descalço, reservando seu único par de botas decente para o inverno. Sua arma, uma besta, estava encostada em ângulo contra a parede. Na cintura, na bainha de couro macio, trazia uma faca.
Peter Jaxon, 21 anos, armado em seu turno de Vigia Pleno. Posicionado no Muro como seu irmão havia feito, e seu pai, e o avô antes dele. Pronto para ministrar a Misericórdia.
Era o dia 63 do verão, os dias ainda longos e secos sob o amplo céu azul, e o ar fresco tinha o cheiro de zimbros e pinheiros. O sol estava a dois palmos no horizonte. O Primeiro Toque da Tarde havia soado no Abrigo, convocando o turno da noite para o Muro e chamando o rebanho do Campo de Cima. A plataforma onde ele estava - uma das 15 distribuídas ao longo da passarela sobre o Muro - era conhecida como Plataforma de Tiro 1. Geralmente era reservada para a Primeira Capitã da Vigilância, Soo Ramirez, mas não esta noite. Esta noite, como acontecera nas últimas seis noites, ela era somente de Peter. Com cinco metros quadrados, a plataforma era delimitada por uma rede de cabo de aço que pendia para fora. À esquerda de Peter, mais 30 metros acima, ficava um dos 12 conjuntos de luzes - fileiras de lâmpadas a vapor de sódio montadas sobre uma grade -, ainda pouco visíveis no fim do dia. À sua direita, suspenso acima das redes, ficava o elevador, com seu eixo, roldanas e cordas. Peter o usaria para descer até a base do Muro, caso o irmão retornasse.
Atrás dele, formando uma reconfortante nuvem de ruídos, cheiros e atividades, estava a Colônia propriamente dita: os estábulos, casas, campos, estufas e vales. Este era o lugar onde Peter vivera toda a sua vida.
Mesmo agora, de costas para a Colônia enquanto via o rebanho retornar, podia trilhar cada palmo daquele lugar em sua mente, um mapa mental em três dimensões, com acompanhamento sensorial completo: o Caminho Longo, que ia do portão até o Abrigo, passando pela Armaria com sua música de metal batendo e o calor da fornalha; os campos com as fileiras de pés de milho e feijão, as costas dos trabalhadores curvadas sobre a terra preta, lavrando e cavando e, junto ao pomar, as estufas cujo interior era velado por uma névoa úmida; o Abrigo, com suas janelas fechadas por tijolos e fileiras de fita farpada que de algum modo não suprimiam as vozes dos Pequenos brincando no pátio; o Solário, uma grande praça semicircular pavimentada de pedras aquecidas pelo sol, onde aconteciam as feiras de troca e as reuniões abertas dos Guardiões; os currais, celeiros, pastos e galinheiros, animados pelo som e cheiro dos animais; o Armazém, onde Walt Fisher gerenciava as barracas de roupas, comida, ferramentas e combustível; a leiteria, os teares, o sistema de distribuição de água e o zumbido do apiário; o velho estacionamento de trailers, onde ninguém mais morava, e, mais além, depois das últimas casas do Quarteirão Norte e do barracão de Serviço Pesado, no encontro dos muros norte e leste, numa área de eterna sombra fresca, as baterias, três enormes blocos metálicos cinza zumbindo, envoltos por tubos e rolos de fio, ainda repousando sobre as rodas murchas das carretas que as haviam puxado montanha acima no Tempo de Antes.
O rebanho havia atravessado a crista do morro; Peter olhava de cima enquanto ! se aproximava, uma massa animal se empurrando, balindo, fluindo como líquido morro acima, seguida pelos cavaleiros, seis no total, altivos em suas montarias. O rebanho se movia como um só corpo, vindo na direção dele através da abertura no arrife, os cascos levantando uma nuvem de poeira. Ao passarem sob seu posto, os cavaleiros cumprimentavam Peter com a cabeça, como tinham feito nas últimas seis noites.
Nenhuma palavra era trocada entre eles. Dava azar, Peter sabia, falar com alguém que estivesse postado na Misericórdia.
Um dos cavaleiros se separou dos demais: Sara Fisher. Sara era enfermeira; a própria mãe de Peter a havia treinado. Mas, como muitas outras pessoas, tinha mais de um ofício. E Sara fora feita para cavalgar - era magra, porém forte, com uma postura alerta na sela e um estilo rápido, ágil com as rédeas. Como todos os cavaleiros, vestia uma blusa de malha frouxa, amarrada na cintura por uma faixa, e uma calça justa feita de brim remendado. O cabelo, de um louro clareado pelo sol, cortado na altura dos ombros, estava preso, mas uma mecha balançava sobre os olhos fundos e escuros. Uma braçadeira de arqueiro, feita de couro, cobria todo o seu antebraço; o arco propriamente dito, com um metro de comprimento, estava pendurado diagonalmente nas costas, projetando-se como uma asa sem par. O cavalo, um capão de 15 anos chamado Dash, supostamente tinha uma nítida predileção por ela, retesando as orelhas e dando pinotes se qualquer outro cavaleiro tentasse montá-lo. Mas não com Sara: sob o seu comando, Dash se movia com graça e agilidade, cavalo e amazona em total harmonia, tornando-se um.
Enquanto Peter olhava, ela passou novamente pelo portão, movendo-se em direção contrária ao rebanho, voltando para o terreno aberto. Ele viu o que a havia atraído: um cordeiro nascido na primavera tinha se desviado, distraído por uma moita de capim estival logo depois do arrife. Posicionando o cavalo diretamente à frente do animal minúsculo, Sara desmontou e, com movimentos rápidos, fez o cordeiro cair de costas e deu três voltas com a corda em suas patas.
Agora os últimos animais do rebanho passavam pelo portão, um tropel de cavalos, ovelhas e cavaleiros seguindo a trilha que ladeava a curva do Muro Oeste em direção ao curral. Sara se ergueu e levantou o rosto para onde Peter estava de pé sobre a passarela. Seus olhos se cruzaram rapidamente, atravessando a distância. Em qualquer outra ocasião, pensou ele, ela teria sorrido. Enquanto Peter observava, ela levantou o cordeiro até o peito e o colocou sobre o cavalo, segurando-o com uma das mãos enquanto montava a sela com um giro hábil. Um segundo encontro dos olhos, longo o suficiente para dizer: também espero que Theo não venha. Então, antes que Peter pudesse pensar mais nisso, Sara bateu os calcanhares e cavalgou rapidamente pelo portão, deixando-o sozinho.
Por que faziam isso?, pensou Peter - como havia pensado nas seis últimas noites. Por que eles voltavam, os que tinham sido tomados? Que força gerava o misterioso impulso de retornar? Uma última lembrança melancólica da pessoa que haviam sido? Será que vinham se despedir? Os virais, pelo que diziam, eram seres sem alma. Quando Peter completara 8 anos e saíra do Abrigo, foi a Professora, cujo serviço era esse, quem explicou tudo a ele. No sangue deles havia uma criatura minúscula, chamada vírus, que lhes roubava a alma. O vírus entrava através de uma mordida, geralmente no pescoço, mas nem sempre, e assim que estivesse dentro da pessoa, a alma ia embora, condenando o corpo a vagar pela Terra para sempre; a pessoa que ela havia sido não existia mais. Esses eram os fatos do mundo, a verdade da qual derivavam todas as outras; era o mesmo que pensar no que fazia a chuva cair. No entanto, parado na passarela à luz do sol que se punha - na sétima e última noite da Misericórdia, depois da qual seu irmão seria declarado morto, teria o nome gravado na Pedra, os pertences levados de carroça até o Armazém para serem remendados, consertados e reabsorvidos pelo sistema de Cotas -, ele pensava nisso. Por que um viral voltaria para casa se não tivesse alma?
O sol agora estava a apenas um palmo do horizonte, baixando rapidamente para a linha ondulada onde os sopés dos morros desciam até o vale. Mesmo no auge do verão, os dias pareciam terminar assim, em uma espécie de mergulho. Peter pôs as mãos em concha em torno dos olhos para protegê-los da claridade. Em algum lugar lá fora - para além do arrife com suas pilhas de árvores tombadas, das pastagens do Campo de Cima, do depósito de lixo com seus fossos e monturos, do bosque esparso e dos morros mais distantes - ficavam as ruínas de Los Angeles e, mais longe ainda, o mar inimaginável. Quando Peter era um dos Pequenos e ainda morava no Abrigo, tinha aprendido sobre isso na biblioteca. Embora os Guardiões tivessem decidido, muito antes, que a maior parte dos livros deixados pelos Construtores não tinha valor e poderia confundir os Pequenos, que não deveriam saber nada sobre os virais nem sobre o que acontecera com o mundo no Tempo de Antes, a permanência de alguns fora permitida. Às vezes a Professora lia para eles - histórias sobre crianças, fadas e animais falantes que moravam em uma floresta atrás das portas de um armário ou então os deixava escolher um livro, olhar as figuras e ler como pudessem. Os oceanos ao nosso redor era o predileto de Peter, o livro que ele sempre escolhia. Um volume desbotado, com páginas fedendo a umidade e frias ao toque, e lombada rachada, remendada com pedaços de fita adesiva amarelada já descolando. A capa tinha o nome do autor, E Time-Life, e, dentro do livro, uma página maravilhosa depois da outra, com figuras, fotos e mapas. Um dos mapas, o múndi, era completo - e a maior parte dele mostrava água. Peter pedia à Professora que o ajudasse a ler os nomes:
Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico. Ele se sentava por horas a fio em sua esteira no Quarto Grande com o livro aninhado no colo e virava as páginas, os olhos grudados nos trechos azuis do mapa. O mundo, pelo que ele percebia, era redondo, uma grande bola de água - uma gota de orvalho pendurada no céu -, e todas as águas estavam conectadas. As chuvas da primavera e as neves do verão, a água que jorrava das bombas, até as nuvens no céu - tudo isso fazia parte dos oceanos. Onde ficava o oceano?, perguntou Peter um dia à Professora. Será que ele poderia vê-lo? Mas a Professora apenas sorriu, como fazia sempre que ele perguntava demais, descartando suas questões com um balançar da cabeça. Talvez exista um oceano e talvez não. Isso é só um livro, Pequeno Peter. Não se preocupe com oceanos e coisas assim.
Mas o pai de Peter tinha visto o oceano: seu pai, o grande Demetrius Jaxon, Guardião-chefe, e o tio Willem, Primeiro Capitão da Vigilância. Juntos haviam comandado as Longas Cavalgadas, indo mais longe do que ninguém jamais fora desde antes do Dia. Para o leste, em direção ao sol da manhã, e para o oeste, até a linha do horizonte, e mais além, para as cidades vazias do Tempo de Antes. Seu pai sempre retornava com histórias das grandes e terríveis coisas que vira, mas nenhuma delas era mais maravilhosa do que o oceano em um lugar que chamou de Long Beach. Imaginem, disse o pai de Peter aos dois - porque Theo também estava lá, os dois irmãos Jaxon sentados à mesa da cozinha da pequena casa logo depois do retorno do pai, ouvindo fascinados, sorvendo as palavras como água -, um lugar onde o chão simplesmente terminava e, para além dele, um azul se estendendo até o infinito, como o céu virado de cabeça para baixo. E afundadas nele, as costelas enferrujadas de grandes navios, milhares e milhares deles, como se toda uma cidade feita pelos homens tivesse sido afogada, projetando-se nas águas do oceano até onde o olho podia ver. O pai deles não era um homem de muitas palavras; comunicava-se através de frases esparsas e repartia os afetos do mesmo modo, deixando que um colocar de mão no ombro, um franzido de testa na hora certa ou, em momentos de aprovação, um assentir do queixo retesado falassem quase tudo por ele. Mas as histórias das Longas Cavalgadas traziam a voz dele para fora. Parado às margens do oceano, dissera o pai de Peter, você podia sentir a grandeza do mundo, como ele era quieto e vazio, como era solitário, sem nenhum homem ou mulher para olhá-lo ou dizer seu nome por todos esses anos.
Peter tinha 14 anos quando seu pai voltou do mar. Como todos os Jaxon, inclusive seu irmão mais velho, Theo, Peter era aprendiz da Vigilância e esperava algum dia juntar-se ao pai e ao tio nas Longas Cavalgadas. Mas isso jamais aconteceu. No verão seguinte o grupo de batedores foi emboscado em um lugar que seu pai chamava de Milagro, no coração dos desertos do leste. Três almas se perderam, inclusive o tio Willem, e depois disso não houve mais Longas Cavalgadas. As pessoas diziam que era culpa de seu pai, que ele fora longe demais, tinha se arriscado muito, e a troco de quê? Não haviam tido notícias de nenhuma das outras Colônias; a última de que sabiam, a Colônia Taos, havia caído fazia quase 80 anos. Em sua última transmissão, antes da Separação dos Ofícios e da Lei Única, quando o rádio ainda era permitido, tinham dito que a usina elétrica estava falhando, que as luzes estavam se apagando. Certamente haviam sido vencidos, como todos os outros. O que Demetrius Jaxon esperava conseguir, afastando-se da segurança das luzes por meses seguidos? O que esperava encontrar lá fora, na escuridão? Ainda havia quem falasse no Dia do Retorno, quando o Exército voltaria para encontrá-los, mas em todas as suas viagens Demetrius Jaxon nunca encontrara o Exército: ele não existia mais. Tantos homens mortos só para descobrir o que eles já sabiam.
E era verdade que, desde o dia em que o pai de Peter retornara da última Longa Cavalgada, havia algo diferente nele. Uma tristeza profunda e exausta, como se ele tivesse envelhecido subitamente. Era como se uma parte dele tivesse sido deixada no deserto com o tio Willem, que, Peter sabia, seu pai amava mais do que a qualquer outra pessoa, mais do que Peter, Theo ou mesmo a mãe deles. Seu pai havia renunciado ao seu cargo entre os Guardiões, passando-o para Theo, e começara a cavalgar sozinho, partindo com os rebanhos às primeiras luzes e retornando apenas alguns minutos antes do Segundo Toque da Tarde. Nunca revelava seu destino a ninguém, pelo que Peter soubesse. Quando este perguntou à mãe, ela disse apenas que o pai dele agora vivia em seu próprio mundo. Quando estivesse pronto, ele retornaria.
Na manhã da última saída do pai, Peter - que na época era um dos corredores-estava parado na passarela junto ao Portão Principal quando viu seu pai se preparando para sair. As luzes haviam se apagado e o Toque da Manhã estava prestes a soar. Fora uma noite calma, sem qualquer sinal dos virais e, por uma hora, a neve havia caído antes do amanhecer. O dia nascia lentamente, cinza e frio. Enquanto o rebanho se juntava perto do portão, o pai de Peter apareceu, vindo pela trilha na grande égua ruã que ele sempre montava. A égua se chamava Diamante por causa da marca na testa, um solitário borrão branco por baixo da ondulante crina comprida. Não era uma montaria particularmente veloz, o pai sempre dizia, mas era leal e incansável, e rápida quando precisava ser. Agora, vendo o pai segurar as rédeas, parado atrás do rebanho enquanto esperava que o portão fosse aberto, Peter via Diamante se agitar, batendo as patas na neve.
Nuvens de vapor saíam das suas narinas, como um sopro de fumaça envolvendo seu focinho longo e tranquilo. O pai se abaixou e acariciou o pescoço da égua. Peter viu os lábios dele se mexerem sussurrando algum encorajamento no ouvido do animal.
Quando Peter se lembrava daquela manhã, cinco anos atrás, ainda se perguntava se o pai soubera que ele estava ali, observando-o da passarela escorregadia por causa da neve. Mas ele jamais levantou os olhos para encontrá-lo, nem Peter fez coisa alguma para alertá-lo de sua presença. Vendo-o falar com Diamante, a mão tranquilizadora acariciando o pescoço da égua, Peter pensou nas palavras de sua mãe e soube que eram verdadeiras. O pai agora vivia em seu próprio mundo. Nos últimos instantes antes do Toque da Manhã, Demetrius Jaxon sempre pegava a bússola na bolsa que trazia na cintura e a abria para examiná-la, depois a fechava enquanto fazia a contagem de almas para a Vigilância: "Um, para fora!", gritava na voz profunda que brotava de seu peito amplo como um barril. "Um de volta!", respondia o porteiro. Sempre o mesmo ritual, observado meticulosamente. Mas não naquela manhã. Só depois que o portão havia se fechado e Demetrius havia passado, conduzindo Diamante pela estrada que seguia para a usina elétrica, para longe dos pastos, Peter percebeu que o pai não levara nenhum arco, que a bainha no cinto estava vazia.
Naquela noite o Segundo Toque soou sem ele. Como Peter ficaria sabendo logo depois, seu pai havia apanhado água na usina elétrica ao meio-dia e fora visto pela última vez passando sob as turbinas, em direção ao deserto. Geralmente entendia-se que uma mulher não podia ministrar a Misericórdia aos filhos nem ao marido. Ainda que nada estivesse escrito, o posto de Misericórdia naturalmente cabia a uma cadeia de pais, irmãos e filhos mais velhos, que haviam realizado esse serviço desde o Dia. Foi assim que Theo ficara a postos à espera do pai, como agora Peter aguardava Theo - assim como alguém, talvez um de seus filhos, faria a ele caso esse dia chegasse.
Porque se a pessoa não estivesse morta, se tivesse sido tomada, ela sempre voltava para casa. Podiam se passar três dias ou até uma semana, mas nunca mais do que isso. Na maioria das vezes tratava-se de Vigias, tomados enquanto participavam de expedições de coleta ou durante idas à usina elétrica, ou cavaleiros pastoreando! o rebanho, ou então as equipes de Serviço Pesado que saíam para cortar árvores, fazer reparos ou levar lixo para o depósito. Mesmo à luz do dia, colonos eram mortos ou tomados: nunca estavam realmente seguros enquanto os virais tivessem alguma sombra na qual se mover. Pelo que Peter sabia, o membro mais jovem a retornar à colônia havia sido a pequena Boyes - Sharon? Shari? -, que tinha apenas 9 anos quando foi tomada na Noite Escura. O resto de sua família havia morrido, durante o terremoto ou no ataque que se seguiu. Sem ninguém da família para ministrar a Misericórdia, fora Willem, o tio de Peter, como Primeiro Capitão, quem tivera a ingrata tarefa. Muitos, como a pequena Boyes, já estavam totalmente tomados quando retornavam. Outros apareciam no meio do processo de mutação, doentes e estremecendo, arrancando as roupas do corpo enquanto cambaleavam. Os que estavam nos estágios mais avançados eram os mais perigosos: mais de um pai, filho ou tio haviam sido mortos desse modo. Mas geralmente eles não ofereciam resistência. Em sua maioria, apenas ficavam parados junto ao portão, piscando por causa das luzes, esperando o tiro. Peter supunha que algo dentro deles ainda se lembrava o suficiente de terem sido humanos, a ponto de querer a morte.
Seu pai nunca retornou, o que significava que estava morto, morto pelos virais nas Terras Escuras, num lugar chamado Milagro. O pai alegara ter visto um Andarilho por lá, uma figura solitária correndo nas sombras enluaradas, logo antes do ataque dos virais. Mas àquela altura - depois que os Guardiões e até mesmo o Velho Chou tinham se oposto às Longas Cavalgadas, e o pai de Peter havia caído em desgraça, resignando-se às suas misteriosas expedições solitárias fora do Muro, cada vez mais distante, o que, mesmo naquela época, Peter achava ser o ensaio de algo definitivo - ninguém acreditara nele. Uma alegação tão ousada assim? Certamente o desejo de Demetrius laxon de continuar as cavalgadas é que o fizera afirmar algo tão absurdo. O último Andarilho a chegar havia sido o Coronel, quase 30 anos antes, e ele agora era um velho. Com sua grande barba branca e o rosto desgastado pelo vento, a pele grossa e marrom como couro curtido, parecia quase tão velho quanto o Velho Chou, ou mesmo a própria Titia, a Última dos Primeiros. Um Andarilho sozinho, depois de todos esses anos? Impossível.
Nem mesmo Peter sabia em que acreditar, até seis dias atrás.
Agora, parado na passarela à luz que se esvaía, se viu desejando, como acontecia com frequência, que sua mãe ainda estivesse viva para falar dessas coisas. Ela havia adoecido apenas uma estação depois da última saída de seu pai, e o surgimento da doença fora tão gradual que a princípio Peter não percebera a tosse áspera vindo do fundo do peito, nem quanto ela emagrecera. Ela era enfermeira, provavelmente sabia o que estava acontecendo - que o câncer, que já havia levado tantas almas, fizera sua morada letal dentro dela - mas decidira esconder a informação de Peter e Theo pelo maior tempo que pôde. No fim não restava muito dela, a não ser uma casca de pele e ossos, lutando a cada respiração. Uma boa morte, todos concordavam, em casa, na cama, como acontecera a Prudence Jaxon. Mas Peter ficou ao lado dela nas últimas horas e viu como havia sido terrível, como ela sofrera. Não, não existia boa morte.
Agora o sol se dobrava no horizonte, pintando sua última estrada dourada no vale abaixo. O céu havia se tornado de um profundo negro-azulado, bebendo a escuridão que se derramava do leste. Peter sentiu a temperatura cair, um resfriamento rápido e definitivo. Por um instante, tudo à sua volta pareceu tomado de uma imobilidade latejante. Os homens e mulheres do turno da noite subiam as escadas - Ian Patal, Ben Chou, Galen Strauss, Sunny Greenberg e os outros, 15 no total, com bestas e arcos longos pendurados às costas gritando uns para os outros enquanto marchavam nas passarelas até seus postos de tiro. Alicia berrava ordens lá de baixo, mandando que os corredores se apressassem. A voz de Alicia representava um pequeno conforto, porém bastante real: fora ela quem havia ficado junto dele durante todas as noites de espera, deixando-o à vontade mas nunca se afastando muito, para que ele soubesse que ela estava ali. E caso Theo retornasse, seria Alicia quem desceria o Muro com Peter, para fazer o que precisava ser feito.
Peter respirou fundo e prendeu o ar. As estrelas, ele sabia, logo sairiam. Titia falava sempre das estrelas, como seu pai - espalhadas no céu como grãos de areia reluzentes, mais numerosas do que todas as almas que já haviam vivido, impôssíveis de serem contadas. Sempre que o pai falava delas, quando contava as histórias das Longas Cavalgadas e das coisas que vira, a luz das estrelas brilhava nos olhos dele.
Mas Peter não veria estrelas esta noite. O toque começou a soar de novo, duas sequências fortes, e ele ouviu Soo Ramirez gritando de baixo:
- Desobstruir o portão! Desobstruir o portão para o Segundo Toque!
Um tremor profundo, de abalar os ossos, ressoou sob os seus pés enquanto os pesos engatavam. Com um guincho metálico, os portões de 20 metros de altura e meio metro de espessura começaram a deslizar para fora de seus compartimentos no Muro. Enquanto pegava sua besta encostada à parede, Peter desejou silenciosamente que não tivesse de dispará-la até o amanhecer. E então as luzes se acenderam.
VINTE
Diário da Vigilância
Verão 92
Dia 41: Nenhum sinal.
Dia 42: Nenhum sinal.
Dia 43:23h06: Um único viral avistado a 200m, PT 3. Não houve aproximação.
Dia 44: Nenhum sinal.
Dia 45:02h00: Bando de 3 na PT 6. Um alvo se separa e tenta avançar contra o Muro. Flechas disparadas das PT 5 e 6. Alvo recua. Nenhum outro contato.
Dia 46: Nenhum sinal.
Dia 47:01h15. Corredor Kip Darrell informa movimento no arrife noroeste, entre a PT 9 e a PT 10. Não confirmado pelo Vigia do posto, oficialmente registrado como nenhum sinal.
Dia 48:21h40: Bando de 3 na PT 1, 200m. Um dos alvos se aproxima até os 100m, mas recua sem conflito.
Dia 49: Nenhun. sinal.
Dia 50:22h15. Bando de 6 na PT 7. Caçando animais pequenos. Não houve aproximação.
23h05. Bando de 3 na PT 3. 2 machos, fêmea. Conflito armado, morto. Abate nas redes feito por Arlo Wilson, ajudante de Alicia Donadio, 2? Cap. Descarte do corpo informado ao SP. Pedido enviado à equipe de SP para conserto de rachadura que serve de apoio para subida na PT 6. Recebida por Finn Darrell em nome do SP.
Durante o período citado: 6 contatos, não confirmado, abate. Nenhuma alma morta ou tomada.
Respeitosamente submetido aos Guardiões,
S. C. Ramirez, Primeira Capitã.
Considerando que qualquer ocorrência singular possa ser significativa dentro de uma sequência de acontecimentos, o desaparecimento de Theo Jaxon, Primeira Família e Guardião, Segundo Capitão da Vigilância, poderia ter sido pro :ado 12 dias antes, na manhã 51 do verão, depois da noite em que um viral fora abatido nas redes pelo Vigia Arlo Wilson.
O ataque aconteceu no início da noite, vindo do sul, perto da Plataforma de Tiro 3. Peter, postado em sua plataforma do lado oposto não viu nada; só nas primeiras horas da manhã, enquanto o grupo de substituição se reunia junto ao portão, ouviu a narrativa completa.
O ataque foi comum em muitos sentidos, do tipo que ocorria em quase todas as estações, mas principalmente no verão. Era um bando de três, dois machos e uma fêmea grande. Soo Ramirez achou - e outros concordaram - que provavelmente fosse o mesmo bando que fora avistado duas vezes nas cinco noites anteriores, rondando perto do arrife. Frequentemente a coisa acontecia assim, em pequenos estágios, durante várias noites. Um grupo de virais aparecia no limite das luzes, como se estivessem examinando as defesas da Colônia. Por umas duas noites, então, eles sumiriam. Depois eles apareciam de novo, dessa vez mais perto, um deles talvez se afastando do grupo para atrair os disparos, mas sempre recuando. Depois, na noite seguinte, um ataque. O Muro era alto demais para que até mesmo o mais forte dos virais conseguisse chegar ao topo de um só salto. O único modo de subirem era usando as emendas entre as placas como pontos de apoio para os pés. As plataformas de tiro, com suas redes de aço penduradas, eram posicionadas acima dessas emendas. Qualquer viral que chegasse tão perto geralmente era ofuscado pelas luzes, ficando tonto e desorientado. Muitos simplesmente recuavam. Os que não recuavam se viam pendurados de cabeça para baixo nas redes, dando ao Vigia do posto a grande oportunidade de atirar no ponto frágil com uma besta ou, se não conseguisse, acertá-los com uma faca. Apenas raramente um viral conseguia atravessar a rede. Peter só vira isso acontecer uma vez em seus cinco anos no Muro - mas quando um deles conseguia, isso invariavelmente significava que o Vigia estava morto. Depois disso, era simplesmente uma questão de até que ponto o viral estivesse enfraquecido pelas luzes, quanto tempo a Vigilância levaria para derrubá-lo e quantas pessoas teriam morrido até que isso acontecesse.
Naquela noite o bando tinha ido direto para a Plataforma 6. Um golpe de sorte, ou talvez tivessem descoberto, nas duas visitas anteriores, a abertura não detectada embaixo da plataforma, uma rachadura que não poderia ter mais de meio centímetro, provocada pela inevitável movimentação das placas do Muro.
Apenas um deles, uma fêmea - detalhe que Peter sempre achou curioso notar, uma vez que as diferenças pareciam muito pequenas e não serviam a qualquer propósito, já que os virais não se reproduziam, pelo que todos sabiam - conseguira chegar ao topo. Ela era grande, uns 2m de altura, e tinha uma única mecha de cabelo branco. Era impossível dizer se isso indicava que ela já era velha quando fora tomada ou se seria sintoma de alguma mudança biológica que ocorrera depois - os virais eram supostamente imortais, ou quase -, mas ninguém jamais vira um viral com cabelo antes. Usando a emenda entre as placas, ela havia subido rapidamente até a base da rede. Depois ela se virara, saltando do Muro, e agarrara a borda externa da armação da rede. Tudo isso havia acontecido em menos de dois segundos. Uma vez suspensa, pendurada 20 metros acima do chão, ela balançara o corpo com um movimento rápido e saltara por cima da rede, segurando-se com as garras na borda da plataforma, de onde Arlo Wilson pressionara a besta de encontro ao seu peito e atirara à queima-roupa no ponto frágil. À luz do amanhecer, Arlo relatara esses acontecimentos a Peter e aos outros com detalhes rigorosamente específicos. Como todos os homens da família Wilson, Arlo gostava demais de uma boa história. Não era Capitão, mas parecia: era um homem grande de barba farta, braços fortes e modos afáveis que transmitiam força e confiança. Tinha um irmão gêmeo, Hollis, idêntico em todos os aspectos, mas sem barba. A mulher de Arlo, Leigh, era uma Jaxon, prima de Peter e Theo, o que fazia deles primos também. Às vezes, à noite, quando não estava escalado para a Vigilância, Arlo se sentava sob as luzes do Solário e tocava violão para todo mundo, antigas músicas folclóricas de um livro deixado pelos Construtores, ou ia até o Abrigo tocar para as crianças enquanto elas se preparavam para dormir. Divertido, inventava músicas sobre uma leitoa chamada Edna que gostava de chafurdar na lama e comer trevos o dia todo. Agora que Arlo tinha um Pequeno no Abrigo - um bebezinho chorão chamado Dora -, todos presumiam que ele serviria mais uns dois anos no Muro e então seria remanejado para um ofício mais seguro.
Arlo recebera o crédito pelo abate do viral por acaso, como ele próprio fora rápido em observar. Qualquer um deles poderia estar na Plataforma 6: Soo gostava tanto de mover as pessoas que os Vigias nunca sabiam onde iam ficar a cada noite. No entanto, Peter sabia que o abate não fora somente uma questão de acaso, ainda que a modéstia de Arlo o impedisse de admitir. Mais de um Vigilante já havia congelado no momento de agir, e Peter, que nunca havia visto um viral de tão perto assim - todos os seus abates tinham ocorrido em plena luz do dia, quando os virais estavam sonolentos -, não poderia afirmar com certeza que isso não lhe aconteceria. Portanto, se havia alguma sorte envolvida, era a sorte de todo mundo que Arlo Wilson estivesse lá.
Agora, depois desses acontecimentos, Arlo estava com um grupo que havia se reunido perto do portão, parte da equipe que iria até a usina elétrica, render o pessoal da manutenção e levar suprimentos. Era um grupo-padrão de seis pessoas: dois Vigias na frente e dois atrás e, no meio, montados em mulas, dois membros da equipe de Serviço Pesado - todo mundo os chamava de pés de cabra - que faziam a manutenção das turbinas eólicas que alimentavam as luzes. Uma terceira mula puxava uma carroça de suprimentos, na maior parte comida e água, mas também ferramentas e sacos de graxa. A graxa era feita de uma mistura de farinha de milho e banha de ovelha derretida. Uma nuvem de moscas já se reunia em volta da carroça, atraída pelo cheiro.
Nos últimos instantes antes do Toque da Manhã, os dois pés de cabra, Rey ! Ramirez e Finn Darrell, examinavam os suprimentos enquanto os Vigias esperavam montados. Theo, o oficial encarregado, assumiu a primeira posição perto de Peter, e atrás estavam Arlo e Mausami Patal. Mausami era de uma Primeira Família; seu pai, Sanjay, era Guardião-chefe. Mas no verão anterior ela havia se casado com Galen Strauss, o que a tornara uma Strauss. Peter ainda não conseguia entender isso. Logo Galen, um sujeito agradável, mas que, pensando bem, tinha algo de confuso, como se algo essencial dentro dele não tivesse amadurecido completamente. Como se Galen Strauss fosse uma aproximação de si mesmo, Talvez fosse o jeito como ele franzia as pálpebras quando olhava para as pessoas enquanto elas falavam (todo mundo sabia que ele não enxergava muito bem), ou seu ar sempre distraído. Mas, independentemente do que fosse, ele parecia ser a última pessoa que Mausami escolheria. Ainda que Theo nunca tivesse admitido, Peter acreditava que o irmão havia esperado, um dia, casar-se com Mausami - Theo e Mausami tinham crescido juntos no Abrigo, sendo liberados no mesmo ano, e ambos haviam imediatamente se tornado aprendizes na Vigilância -, e a notícia do casamento dela com Galen fora um golpe para Theo. Durante dias, depois do anúncio, ele ficara abatido, praticamente sem dizer uma palavra a ninguém. Quando Peter finalmente puxou o assunto, tudo o que Theo disse foi que, para ele, estava tudo bem, a culpa era dele por haver esperado demais. Queria que Maus fosse feliz, e, se Galen conseguisse fazer isso, ótimo. Theo não era de ficar falando dessas coisas, nem mesmo com o irmão, por isso Peter fora obrigado a acreditar nele, embora notasse que Theo não havia olhado para ele enquanto falava.
Theo era assim mesmo: como o pai, era um homem de poucas palavras que também se comunicava através do silêncio. E, nos dias que se seguiram, lembrando daquela manhã no portão, Peter se perguntava se não teria havido algo diferente em Theo, alguma indicação de que ele talvez soubesse, como parecia ter acontecido ao pai, que saía pela última vez. Mas Peter não percebera nada. Tudo naquela manhã acontecera como de costume, uma equipe-padrão levando suprimentos, com Theo montado em seu cavalo, manuseando as rédeas com a impaciência habitual.
Montado em seu cavalo inquieto, esperando soar o toque que indicaria a partida do grupo, Peter deixava a mente vagar nesses pensamentos - só mais tarde os entenderia por completo - quando levantou os olhos e viu Alicia vindo a pé da Armaria, movendo-se com objetividade. Achou que ela pararia diante da montaria de Theo - dois Capitães conferenciando, talvez para discutir os acontecimentos da noite anterior e a possibilidade de organizarem uma expedição de caça ao restante do bando -, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, Alicia passou direto por Theo e foi até o fim da fila.
- Esqueça, Maus - disse Alicia incisivamente. - Você não vai a lugar nenhum.
Mausami olhou em volta - um gesto de perplexidade que Peter notou imediatamente que era falso. Todo mundo dizia que Maus tinha sorte de ter puxado à mãe - o mesmo rosto oval delicado e o cabelo de um preto reluzente que, quando ela soltava, caía até os ombros em ondas fartas e negras. Ela pesava mais do que a maioria das mulheres, mas a maior parte do peso era músculo.
- O que você está dizendo? Como assim?
Parada abaixo deles, Alicia pôs as mãos nos quadris magros. Mesmo à luz fria do alvorecer, o cabelo, que ela usava preso numa trança comprida, brilhava num ruivo intenso com reflexos de mel. Como sempre, trazia três facas no cinto. Todo mundo brincava dizendo que ela ainda não havia se casado porque dormia armada.
- Porque você está grávida - declarou Alicia. - Por isso.
O grupo ficou pasmo, caindo num silêncio momentâneo. Peter não pôde evitar: virou-se rapidamente na sela e deixou o olhar cair sobre a barriga de Mausami. Bem, se ela estava grávida, isso ainda não era aparente, mas era difícil dizer por baixo do tecido frouxo da camisa de malha. Olhou para Theo, cuja expressão não traía nada.
- Ora, vejam só - disse Arlo. Seu rosto se abriu num sorriso largo dentro da barba. - Eu estava imaginando quando vocês dois iam entrar em ação.
Um vermelho profundo havia brotado nas bochechas cor de cobre de Mausami. - Quem contou? - Quem você acha?
Mausami desviou o olhar.
- Por todos os voadores! Eu vou matá-lo!
Theo havia se ajeitado na sela para encarar Mausami.
- Galen está certo, Maus. Não posso deixar você ir.
- Ah, que diferença faz o que ele pensa? Ele está tentando me tirar do Muro faz um ano. Ele não pode fazer isso.
- Não é Galen quem está tirando você - exclamou Alicia. - Sou eu. Você está fora da Vigilância, Maus. Fim de papo.
Atrás deles o rebanho vinha pela trilha. Dentro de alguns instantes o grupo seria envolto pelo som dos animais. Olhando para Mausami, Peter se esforçou ao máximo para imaginá-la mãe, mas não conseguiu. As mulheres normalmente deixavam a Vigilância quando engravidavam; mesmo alguns dos homens faziam isso quando as esposas estavam grávidas. Mas Mausami era uma Vigia no sentido completo da palavra. Atirava melhor do que muitos homens e permanecia calma durante as crises, com movimentos precisos e objetivos. Como Diamante, pensou Peter: rápida quando precisava ser.
- Você deveria estar feliz - disse Theo. - É uma ótima notícia.
Uma expressão de sofrimento absoluto surgiu no rosto dela. Peter viu os olhos de Mausami se encherem de lágrimas.
- Ora, Theo. Você consegue mesmo me ver sentada no Abrigo, tricotando sapatinhos? Acho que vou enlouquecer.
Theo estendeu a mão para ela.
- Maus, escute...
Mausami se encolheu bruscamente.
- Não, Theo.
Ela afastou o olhar para enxugar os olhos.
- Certo, pessoal. O show acabou. Está feliz, Alicia? Conseguiu o que queria. Estou indo.
E com isso ela cavalgou para longe.
Quando ela estava fora do alcance de sua voz, Theo colocou as mãos sobre o cabeçote da sela e olhou para Alicia, que limpava a lâmina de uma das facas na bainha da blusa.
- Sabe, você poderia ter esperado até a nossa volta.
Alicia deu de ombros.
- Um Pequeno é um Pequeno, Theo. Você conhece tão bem as regras como qualquer um. E, francamente, estou um pouco irritada por ela não ter me contado. Não era algo que pudesse ficar em segredo.
Alicia girou a faca rapidamente sobre o dedo indicador e a enfiou de volta na bainha.
- É para o bem dela. Ela vai entender.
Theo franziu a testa.
- Você não a conhece como eu.
- Não vou discutir com você, Theo. Já falei com Soo. Está decidido.
Agora o rebanho se comprimia contra eles. A luz do amanhecer havia adquirido um brilho uniforme. Em alguns segundos o Toque da Manhã soaria e o portão seria aberto.
- Vamos precisar de um quarto Vigia - disse Theo.
O rosto de Alicia se iluminou com um sorriso.
- Engraçado você mencionar isso.
Alicia das Facas. Ela era a última Donadio, mas todo mundo a chamava de Alicia das Facas. A Capitã mais jovem desde o Dia.
Alicia era apenas uma Pequena quando seus pais foram mortos na Noite Escura. Desde aquele dia, o Coronel a criara, colocando-a sob suas asas como se fosse filha dele. As histórias dos dois estavam intrinsecamente ligadas, porque, quem quer que fosse o Coronel - e havia uma discordância considerável quanto a isso -, ele havia transformado Alicia em uma imagem de si próprio.
A história do Coronel era vaga, mais mito que realidade. Dizia-se que um dia ele simplesmente aparecera do nada junto ao Portão Principal, com um fuzil rregado e um comprido colar de objetos brilhantes e afiados que, por acaso, eram dentes - dentes de virais. Se já tivera outro nome, ninguém sabia; ele era simplesmente o Coronel. Alguns diziam que ele era um sobrevivente dos Assentamentos de Baja; outros, que pertencera a um grupo de caçadores nômades de virais. Se Alicia conhecia a história verdadeira, jamais a contara. Ele nunca se casou e vivia sozinho na pequena cabana que havia construído com sobras de materiais sob o Muro Leste. Recusara todos os convites para se juntar à Vigilância, optando por trabalhar no apiário. Diziam que ele usava uma saída secreta para caçar, esgueirando-se para fora da Colônia pouco antes do amanhecer, para pegar os virais ao nascer do sol. Mas ninguém realmente o tinha visto fazer isso.
Havia outros como ele, homens e mulheres que, por algum motivo, jamais se casavam e acabavam ficando sozinhos, e o Coronel poderia ter caído no anonimato, levando sua vida de ermitão, não fossem os acontecimentos da Noite Escura. Na época Peter tinha apenas 6 anos. Não tinha certeza se suas lembranças eram verdadeiras ou apenas histórias que as pessoas contavam, enfeitadas por sua imaginação ao longo dos anos. Mas tinha certeza de que se lembrava do terremoto.
Terremotos aconteciam o tempo todo, mas não como o que atingira a montanha naquela noite, enquanto as crianças se preparavam para dormir: um único solavanco enorme, seguido por um minuto inteiro de tremores tão violentos a ponto de parecer que a própria terra iria se rasgar. Peter se lembrava da sensação de impotência que experimentara ao ser erguido, jogado como uma folha ao vento, e em seguida dos gritos e choros, a Professora berrando sem parar, o grande estrondo e o gosto de poeira na boca enquanto a parede oeste do Abrigo desmoronava. O terremoto acontecera logo depois do pôr do sol, danificando a rede elétrica. Quando os primeiros virais romperam o perímetro, a única coisa a fazer fora pôr fogo no arrife e recuar para o que restava do Abrigo. Muitos morreram enterrados sob os escombros de suas casas. Até o amanhecer, 162 almas haviam sido perdidas, inclusive nove famílias inteiras, além de metade do rebanho, a maioria das galinhas e todos os cachorros.
Muitos deviam suas vidas ao Coronel. Ele deixara sozinho a segurança do Abrigo para procurar por sobreviventes. Carregara muitos dos feridos nas costas e os levara para o Armazém, onde montara uma resistência final, mantendo os virais afastados a noite toda. John e Angel Donadio, os pais de Alicia, faziam parte desse grupo. Das quase duas dúzias de pessoas que ele resgatara, os dois foram os únicos que morreram. Na manhã seguinte, coberto de sangue e poeira, o Coronel entrou no que restava do Abrigo, segurando Alicia pela mão, e declarou simplesmente: "Vou cuidar desta criança", e saiu rebocando a menina. Nenhum adulto teve coragem de se opor. A noite havia deixado Alicia órfã, como fizera a tantas outras crianças, e os Donadio eram Andarilhos como ele. Se alguém teria de cuidar dela, parecia razoável que o Coronel o fizesse. Mas também era verdade, ou pelo menos as pessoas diziam na época, que aquilo havia sido obra do destino, como o pagamento de uma dívida cósmica. Alicia estava destinada a ser dele, ou pelo menos era o que parecia.
Na cabana do Coronel perto do Muro e, mais tarde, à medida que Alicia crescia, nas arenas de treino, ele ensinara a ela tudo o que havia aprendido nas Terras Escuras - não somente a lutar e matar, mas também a se abandonar. Era o que você precisava fazer: quando os virais chegavam, ensinou o Coronel, a pessoa precisava dizer a si mesma: já estou morta. A menina aprendera bem suas lições. Aos 8 anos ingressara como aprendiz na Vigilância, rapidamente superando todos os outros nas habilidades com arco e facas, e aos 14 estava na passarela, trabalhando como corredora, movendo-se de um lado para o outro entre as plataformas de tiro. Até que, uma noite, um bando de seis -, os virais sempre andavam em múltiplos de três - rompeu o perímetro do Muro Sul, justamente quando Alicia andava na direção deles. Sendo corredora, ela não deveria enfrentá-los - o que se esperava dela era que corresse e soasse o alarme. Mas em vez disso, Alicia derrubou o primeiro atirando uma faca bem no meio do ponto frágil, e, em seguida, pegou a besta e abateu o segundo no ar. O terceiro ela matou de perto, usando o peso da criatura para cravar a lâmina abaixo do esterno enquanto o viral caía sobre ela, os rostos tão próximos um do outro que ela pôde sentir o hálito noturno saturar-lhe as narinas enquanto a criatura morria. Os outros três fugiram, voltando por cima do Muro para a escuridão.
Ninguém jamais havia derrubado três virais assim, sozinho. Certamente não uma garota de 15 anos. A partir desse dia, Alicia passou a fazer parte da Vigilância. Aos 20 anos, o posto de Segunda Capitã já era dela. Todos presumiam que, quando Soo Ramirez deixasse o cargo, Lish - o apelido de Alicia - ocuparia o lugar dela como Primeira Capitã. E desde aquela noite ela carregava três facas o tempo todo.
Uma noite, bem tarde, quando os dois estavam juntos na Vigilância, ela contara tudo a Peter. Acontecera com o terceiro viral: ela finalmente abandonara a si mesma. Ainda que Alicia fosse a superior de Peter, os dois haviam criado um elo que parecia anular a questão da autoridade. De modo que ele sabia que ela não estava contando aquilo para ilustrar alguma lição, mas sim porque eram amigos. Não fora com o primeiro nem com o segundo, explicara ela, mas com o terceiro. Foi então que ela teve certeza absoluta de que estava morta. E o estranho era que, assim que se deu conta disso, desembainhar a segunda faca ficara mais fácil. Todo o medo havia sumido. Sua mão encontrara a faca como se quisesse estar ali, e enquanto a criatura caía sobre ela, tudo o que Alicia pensou foi: Bem, lá vou eu. E já que estou saindo pela porta do mundo, posso muito bem levar você na viagem. Como se fosse um fato consumado.
O rebanho já havia partido quando Alicia retornou com sua montaria, uma pequena bolsa de lona e um cantil de água pendurado na sela. Ela não tinha propriamente uma casa onde morar - havia um monte de casas vazias, mas ela preferia ficar num pequeno barracão de metal atrás da Armaria, onde mantinha uma cama e alguns poucos pertences. Pelo que Peter sabia, ela nunca dormia mais do que duas horas seguidas, e se quisesse encontrá-la, a Armaria seria o último lugar onde procurar: ela estava sempre no Muro.
Alicia carregava um arco longo, mais leve do que uma besta e mais confortável na montaria, mas não usava braçadeira; o arco era somente para fazer vista.
Theo quis lhe ceder a primeira posição, mas Alicia recusou, pegando em vez disso o lugar de Mausami, atrás.
- Não se incomode comigo. Só vou tomar um pouco de ar - disse, guiando a montaria para perto de Arlo. - Esta cavalgada é sua, Theo. Não faz sentido confundir a cadeia de comando. Além disso, eu prefiro cavalgar com o grandalhão aqui atrás. A conversa me mantém acordada.
Peter ouviu o irmão suspirar; sabia que Theo achava Alicia presunçosa demais. Ela deveria se preocupar um pouco mais, dissera a Peter mais de uma vez, e era verdade: a autoconfiança de Alicia beirava a imprudência. Theo se virou na sela, olhando para além de Finn e Rey, que haviam permanecido calados e indiferentes durante toda a situação. Quem cavalgava com quem era problema da Vigilância. Por que eles se importariam?
- Tudo bem por você, Arlo? - perguntou Theo.
- Claro, primo.
- Sabe, Arlo - disse Alicia, o humor exuberante iluminando a voz -, eu sempre me perguntei: é verdade que Hollis faz a barba para que Leigh saiba identificar vocês?
Todos sabiam que, na juventude, os dois irmãos Wilson haviam trocado de namorada mais de uma vez, supostamente sem que nenhuma percebesse.
Arlo deu um sorriso de quem sabe das coisas.
- Você vai ter de perguntar a Leigh.
O tempo de conversar havia acabado; eles já estavam atrasados. Theo deu a ordem de partida, mas quando estavam se aproximando do portão ouviram um grito vindo de trás.
- Esperem! Esperem aí no portão!
Peter se virou e viu Michael Fisher correndo em direção a eles. Michael era Primeiro Engenheiro de Luz e Força. Como Alicia, era bastante jovem para o ofício, tinha apenas 18 anos. Mas todos os homens da família Fisher eram engenheiros, e Michael fora treinado pelo pai desde que saíra do Abrigo. Ninguém entendia realmente o que eles faziam - Luz e Força era de longe o ofício mais especializado - além do fato de que mantinham as luzes acesas, as baterias funcionando e a corrente elétrica fluindo na montanha, um feito que parecia tão notável quanto mágico, e também completamente comum. Afinal de contas, as luzes se acendiam noite após noite.
- Que bom que peguei vocês. - Ele parou para respirar. - Onde está Maus? Achei que ela ia junto.
- Não se preocupe com isso, Circuito - gritou Alicia de trás.
Sua montaria, uma égua castanha chamada Ômega, estava batendo as patas na poeira, ansiosa para cavalgar.
- Theo, podemos ir, por favor?
Uma centelha de exasperação atravessou o rosto de Michael. Nesses momentos, quando seus olhos se franziam sob a franja loura, as bochechas pálidas se avermelhando, ele conseguia parecer mais novo do que era. Não disse nada. Em vez disso, levantou a mão e entregou a Theo o objeto que trouxera: um retângulo de plástico verde com pontos brilhantes de metal enfeitando a superfície.
- Certo - disse Theo, virando o objeto na mão para examiná-lo. - Desisto. Que negócio é esse?
- É uma placa-mãe.
- Ei - gritou Alicia. - Olha o palavrão! ! Michael se virou para ela.
- Sabe, não ia doer se você prestasse um pouquinho mais de atenção no que a gente precisa fazer para manter as luzes acesas.
Alicia deu de ombros. A incompatibilidade entre ela e Michael era notória: os dois brigavam como cão e gato.
- Você aperta um botão e as luzes se acendem. O que há de tão complicado nisso?
- Chega, Lish - disse Theo.
Em seguida virou os olhos para Michael.
- Ignore-a. Você precisa de uma dessas coisas?
Michael apontou para a placa.
- Está vendo isso aqui? O quadradinho preto? É o microprocessador. Não importa o que ele faz. Basta que você procure esses mesmos números, se puder, mas qualquer um que termine com nove serve. Você provavelmente encontrará um exatamente igual a esse em qualquer computador, mas as baratas comem a cola, por isso tente achar um que esteja limpo e seco, sem cocô. Pode tentar achar um nos escritórios na parte sul do shopping.
Theo examinou a placa de novo, antes de colocá-la na bolsa da sela.
- Certo. Esta não é uma expedição de coleta, mas, se pudermos, faremos isso. Mais alguma coisa?
Michael franziu a testa.
- Um reator nuclear seria bom. Ou 3 mil metros cúbicos de hidrogênio ionizado em uma membrana de troca de prótons.
- Ah, pelo amor de Deus - gemeu Alicia. - Fale na nossa língua, Circuito. Ninguém sabe que diabo você está dizendo. Theo, será que a gente pode ir, por favor?
Michael lançou um último olhar de irritação para Alicia antes de se virar novamente para Theo.
- Só a placa-mãe. Pegue mais de uma, se puder, e lembre-se do que eu falei sobre a cola. É, Peter?
A atenção de Peter havia se desviado para o portão, onde ainda se viam os últimos animais do rebanho afastando-se como uma nuvem de poeira à luz da manhã, começando a subir o morro em direção ao Campo de Cima. Mas não era no rebanho que ele estava pensando. Estava pensando em Mausami, na expressão de pânico em seu rosto quando Theo estendera a mão na direção dela, como se ela tivesse medo que ele a tocasse, como se isso fosse demais para suportar.
Afastou a imagem e voltou o olhar para Michael.
- Minha irmã pediu que eu lhe desse um recado - disse Michael.
- Sara?
- Ela só disse... você sabe - disse Michael e deu de ombros, sem jeito. - Tome cuidado.
A distância até a usina elétrica era de 40 quilômetros, quase um dia inteiro de cavalgada. Uma hora depois de partir, o grupo caiu no silêncio; até mesmo Arlo, acalentado pelo calor e a perspectiva do dia à frente. Alguns trechos da estrada que descia a montanha haviam sido destruídos pelas chuvas, e eles precisavam apear e guiar os animais. A graxa já começava a feder, e Peter se sentiu grato por estar cavalgando à frente, longe do mau cheiro. O sol estava alto e quente; o ar, difícil de ser respirado, sem a menor brisa. O chão do deserto brilhava sob eles como metal martelado.
Na metade do dia pararam para descansar. A equipe de Serviços Pesados deu água aos animais, enquanto os outros assumiram posições em um afloramento rochoso acima da carroça. Theo e Peter de um lado, Arlo e Alicia do outro, para examinar a linha das árvores.
- Está vendo ali?
Theo segurava um binóculo e apontava para a sombra das árvores. Peter protegeu os olhos da claridade com a mão.
- Não estou vendo nada.
- Seja paciente.
Então Peter viu. A 200 metros, um movimento quase imperceptível, não mais que um farfalhar nos galhos de um pinheiro alto e uma suave chuva de folhas caindo. Peter respirou fúndo, desejando que não fosse nada. Então aconteceu de novo.
- Ele está caçando, mantendo-se à sombra - disse Theo. - Esquilos, provavelmente. Não há muita coisa mais por aqui. O filho da puta deve estar faminto, para sair de dia assim.
Theo deu um longo assobio entre os dentes, para sinalizar aos outros. Alicia se virou rapidamente ao ouvir. Theo apontou dois dedos para os próprios olhos, depois um só dedo esticado na direção das árvores. Depois levantou a mão, curvando-a na forma de um ponto de interrogação: Está vendo?
Alicia respondeu com um punho fechado. Estou. - Vamos, irmão.
Os quatro desceram das pedras e se encontraram junto à carroça, onde Rey e Finn estavam esparramados sobre os sacos de graxa, comendo biscoitos e dividindo uma garrafa d'água.
- Podemos atraí-lo com uma das mulas - disse Alicia, e rapidamente começou a desenhar na terra com um graveto comprido. - Trocamos a água pela graxa e levamos o animal até uns 100 metros das árvores, para ver se ele engole a isca. Ele provavelmente já está sentindo o cheiro. Podemos estabelecer três posições, aqui, aqui e aqui - ela rabiscou na terra e então o pegamos no fogo cruzado. Assim, ao sol, vai ser fácil. Theo franziu a testa. - Isso não é uma caçada, Lish.
Pela primeira vez Rey e Finn levantaram os olhos, - Que diabo! - exclamou Rey. - Estão falando sério? Quantos são? - Não se preocupe, já estamos indo embora.
- Theo, é só um - disse Alicia. - Não podemos deixá-lo lá. O rebanho está apenas a... o que, uns 10 quilômetros?
- Não só podemos como vamos deixá-lo. E onde há um, há outros.
Theo arqueou as sobrancelhas para Rey e Finn. - Prontos para ir?
; - Quem se importa? - disse Rey, se levantando rapidamente da carroça. - Por todos os voadores! Ninguém conta nada pra gente. Vamos dar o fora daqui.
Alicia olhou para eles por mais um instante, os braços cruzados sobre o peito. Peter imaginou como devia estar com raiva. Mas como ela própria dissera junto ao portão, não se deve confundir a cadeia de comando. - Ótimo, você é o chefe, Theo - disse ela.
Continuaram pelo caminho. Chegaram ao pé da montanha no meio da tarde. Durante a última hora em que haviam descido, tinham avistado as turbinas, centenas delas espalhadas na região plana do passo de San Gorgonio, como uma floresta de árvores feitas pelo homem. Mais além, uma segunda linha de montanhas tremeluzia sob as ondulações de calor. Um vento quente e seco soprava, levando para longe as palavras no momento em que eram ditas e tornando impossível qualquer conversa. A cada metro da descida o ar ficava mais quente: era como se estivessem cavalgando em fornalha de ferreiro. A estrada terminava na antiga cidade de Banning. De lá, seguiriam para o interior ao longo da estrada do Leste, mais 10 quilômetros até a usina elétrica.
- Todos atentos - gritou Theo acima do barulho do vento, e se demorou mais um instante olhando à frente com o binóculo. - Vamos nos juntar mais. Lish vai na ponta.
Peter sentiu uma leve irritação - ele estava na segunda posição, e a ponta deveria ser dele -, mas deixou o sentimento passar sem fazer nenhum comentário. A escolha de Theo apaziguaria as coisas entre ele e Alicia, e, quando chegassem à usina, todos seriam amigos de novo.
Theo entregou o binóculo a Alicia. Ela meteu as esporas na montaria e cavalgou rapidamente adiante por 50 metros, a trança ruiva balançando ao sol. Sem se virar, levantou a mão aberta, depois abaixou a palma de modo a ficar paralela ao chão. Um assobio fino de pássaro saiu por entre seus dentes. Caminho livre. Avançar.
- Vamos - disse Theo.
Peter sentiu o coração acelerar. Seus sentidos, apáticos pela monotonia da longa cavalgada montanha abaixo, se reanimaram, e ele se tornou mais consciente do ambiente ao redor, como se estivesse vendo a cena de vários ângulos ao mesmo tempo. Seguiam em passo constante, os arcos preparados. Ninguém falava, a não ser Finn, que havia descido da carroça e puxava a mula, murmurando para ela palavras tranquilizadoras. O caminho não passava de uma trilha na areia, esburacada por anos de uso pelas carroças. Peter sentia cada movimento e cada som como um formigamento em seu corpo: o uivo suave do vento passando por uma janela quebrada; uma lona balançando em um poste meio tombado; o ranger de um letreiro de metal com as palavras apagadas havia muito tempo, movendo-se de um lado para o outro acima das bombas de gasolina de um antigo posto. Pilhas de carros enferrujados, meio enterrados e retorcidos; um quarteirão de casas cobertas de areia até quase o teto; um enorme barracão de metal descascado e cheio de buracos, de onde saíam arrulhos de pombos; e, como se moviam a favor do vento, a nuvem fétida do rastro de esterco que deixavam.
- Todos atentos - repetiu Theo. - Vamos passar por aqui.
Seguiram em silêncio até o centro da cidade. Os prédios ali eram maiores, com três ou quatro andares, embora muitos houvessem desmoronado, enchendo as ruas de escombros indistintos. Havia carros e caminhões parados em ângulos estranhos ao longo da rua, alguns com as portas abertas - o momento da fuga dos donos congelado no tempo -, mas em outros, lacrados sob o sol escaldante do deserto, viam-se os cadáveres secos conhecidos como magrelos: massas esfarrapadas de ossos dobrados por cima dos painéis ou pressionados contra as janelas, as formas encolhidas quase irreconhecíveis como seres humanos, a não ser por um tufo de cabelo ainda amarrado com uma fita, ou o metal brilhante de um relógio em um pulso sem pele que, depois de quase 100 anos, ainda se apoiava ao volante de uma picape, as rodas completamente afundadas na areia. Todo o cenário era imóvel e silencioso como um túmulo, tudo como havia ficado desde o Tempo de Antes.
- Isso me dá arrepios, primo - murmurou Arlo. - Sempre digo a mim mesmo para não olhar, mas acabo olhando.
Enquanto se aproximavam do viaduto, Alicia parou de repente. Virou-se com a mão levantada e cavalgou rapidamente até eles.
- Há três dormindo lá embaixo. Estão pendurados nas vigas na parte de trás do viaduto, acima do bueiro.
Theo absorveu a notícia indiferente. Ao contrário do viral que tinham visto na estrada da montanha, estava fora de questão atacar um bando inteiro, principalmente no fim da tarde.
- Teremos de dar a volta. Vamos precisar de uma rampa por causa da carroça. Lish? Concorda? - Sem discussão. Vamos apertar o passo.
Viraram em direção ao leste, seguindo o curso da via expressa que ficava a 100 metros. O sol estava a quatro palmos no horizonte. Tinham pouco tempo agora. Seria vagaroso ir por terreno aberto com a carroça. A próxima rampa de entrada ficava a dois quilômetros dali.
- Detesto ter de admitir - disse Theo baixinho a Peter -, mas Lish tinha razão. Quando voltarmos, teremos de organizar uma expedição de caça e acabar com esse bando.
- Se eles ainda estiverem lá.
Theo franziu a testa pensativamente. - Ah, vão estar. Um viral sozinho caçando esquilos é uma coisa. Isso aqui é outra. Eles sabem que nós usamos essa estrada.
O que os fumaças sabiam ou não sabiam sempre fora um mistério. Seriam criaturas de puro instinto ou eram capazes de pensar? Será que conseguiam planejar e montar estratégias? E se conseguiam, de algum modo ainda não seriam pessoas? As pessoas que eles haviam sido antes de serem tomados? Muita coisa simplesmente não era compreendida: por que, por exemplo, alguns se aproximavam do Muro, enquanto outros não? Por que um punhado deles, como que tinham visto na estrada, arriscava-se à luz do dia para caçar? Os ataques, quando aconteciam, eram simplesmente ocorrências aleatórias ou provocados por alguma coisa? Qual o motivo do modo característico com que se moviam, sempre em grupos de três, as ações de seus corpos coordenadas uns com os outros como versos numa estrofe? Agora mesmo, quantos havia lá fora, rondando no escuro? Era verdade que a combinação de luzes fortes e muros altos mantivera a Colônia segura por quase 100 anos. Os Construtores pareciam ter entendido bem o inimigo, ou pelo menos bem o suficiente. No entanto, quando via um bando se mover contornando as luzes, aparecendo no meio da noite para patrulhar o perímetro antes de partir para onde quer que fosse, Peter tinha a nítida impressão de estar vendo um único ser, e de que se tratava de um ser vivo com uma alma, não importava o que a Professora dissesse. A morte fazia sentido para ele, o corpo unido à alma em vida, ambos tendo fim juntos. As horas finais de sua mãe o haviam ensinado isso. Os sons de sua última respiração entrecortada, e então a imobilidade súbita: ele sabia que a mulher que ela havia sido fora embora. Como era possível que um ser continuasse vivo sem alma?
Chegaram à rampa. Ao norte, na base dos morros, Peter podia discernir, através de uma névoa de poeira, o prédio comprido e baixo do Shopping Empire Valley. Estivera lá muitas vezes com equipes de coleta. O lugar havia sido bastante desfalcado no correr dos anos, mas era tão grande que ainda era possível encontrar coisas úteis. A Gap tinha sido limpa, a J. Crew também, assim como a Williams-Sonoma, a REI e a maioria das lojas na extremidade sul, perto do saguão, mas havia uma grande Sears com janelas que ofereciam alguma proteção, e uma JC Penney com bom acesso exterior para que se pudesse sair depressa, ambas ainda contendo artigos úteis, como sapatos, ferramentas e panelas. Ocorreu-lhe que poderia procurar alguma coisa para Maus, para o bebê, e talvez Theo estivesse pensando a mesma coisa. Mas agora não haveria tempo para isso.
Acima da areia na base da rampa havia uma placa, amassada por anos de vento forte:
nteresta al 10 ste P lm ings 25 En da 55.
Nota: Pelo fato da placa estar amassada, apenas se conseguem ver algumas letras.
Fim da nota.
Alicia cavalgou de volta até eles.
- O caminho está limpo lá embaixo. É melhor irmos logo.
A pista não estava em más condições e eles voltaram a se mover em um bom ritmo. Um vento quente soprava na estrada. A pele e os olhos de Peter ardiam, como se estivessem prestes a pegar fogo. Ele percebeu que não havia urinado desde a última parada, e se lembrou de beber do cantil. Theo examinava o terreno à frente com o binóculo, a outra mão segurando frouxamente as rédeas. Agora estavam perto o suficiente para ver que algumas turbinas giravam e outras não. Peter tentou contar as que estavam funcionando, mas logo perdeu a conta.
A sombra da montanha havia começado a cair sobre o vale enquanto eles saíam da estrada do Leste. Por fim viram o lugar de destino: uma casamata de concreto guardada por uma cerca alta com energia suficiente para incendiar qualquer coisa que a tocasse, metade da construção enterrada no chão do vale. Atrás do prédio ficava a rede elétrica, um grande tubo cor de ferrugem que subia pelo lado leste da montanha, um paredão de rocha branca que formava uma barricada natural. Theo apeou e pegou a chave, pendurada ao pescoço com uma tira de couro. Ela abria um painel de metal em um poste; havia dois desses painéis, um de cada lado da cerca. Dentro do painel havia um interruptor para controlar a corrente e um para abrir o portão. Theo desligou a corrente e recuou enquanto o portão se abria. - Vamos.
Ao lado da usina ficava uma pequena cocheira coberta por um teto de metal, com uma bomba d'água e acomodações para os cavalos. Todos beberam sofregamente, deixando a água escorrer pelo queixo e molhando os cabelos encharcados de suor, depois deixaram Finn e Rey cuidando dos animais e foram até a porta de segurança. Theo pegou a chave de novo. Com um estalo surdo de metal, as trancas se abriram e todos entraram.
Foram recebidos por um sopro de ar gelado e o zumbido grave da ventilação mecânica. Peter estremeceu no frio súbito. Uma única lâmpada iluminava a escadaria metálica que descia ao subsolo. Na base dela, uma segunda porta de segurança estava semiaberta. Do outro lado ficava a sala de controle das turbinas e, mais ao fúndo, o alojamento, a cozinha e as salas de depósito e equipamentos. No fundo, acessível por uma rampa que levava ao exterior, ficava o estábulo, onde os cavalos e mulas passavam a noite.
- Tem alguém aí? - gritou Theo. Em seguida empurrou de leve a porta com o pé - Olá!
Não houve resposta.
- Theo... - disse Alicia.
- Eu sei - respondeu Theo. - É estranho.
Passaram cautelosamente pela porta. Sobre a mesa comprida no centro da sala de controle havia velas derretidas e restos de uma refeição abandonada às pressas: potes de pasta de soja, pratos de biscoito e uma panela de ferro suja onde provavelmente haviam preparado algum tipo de ensopado. Nada disso parecia ter sido tocado, pelo menos no último dia, talvez mais. Arlo passou a faca em cima da panela e uma nuvem de moscas se espalhou. Apesar do zumbido dos ventiladores, o ar estava abafado e rançoso, denso com o cheiro de homens e isolamento térmico. A única luz, um brilho amarelo pálido, vinha dos medidores do painel de controle, que monitoravam o fluxo de eletricidade que saía das turbinas eólicas. Acima deles o relógio da usina marcava a hora: 18h45.
- Onde, diabos, estão eles? - perguntou Alicia. - É impressão minha ou já está quase na hora do Segundo Toque?
Quando passaram pelo alojamento e as áreas de depósito, confirmaram o que já sabiam: o posto estava vazio. Subiram a escada e saíram para o calor do fim do dia. Rey e Finn esperavam à sombra na cocheira.
- Alguma ideia de para onde eles podem ter ido? - perguntou Theo.
Finn havia tirado a camisa e estava junto ao cocho, lavando o peito e as axilas.
- Está faltando uma carroça de ferramentas. E uma mula também. - Ele inclinou a cabeça, olhou para Rey, e depois de volta para Theo, como quem diz: eis uma teoria. - Pode ser que eles ainda estejam nas turbinas. Às vezes Zander gosta de esperar até o último minuto.
Zander Phillips era Chefe do Posto. Não era de muita conversa, e sua aparência não era das melhores, por sinal. Todo aquele tempo exposto ao sol e ao vento o deixara seco como uma passa, e os dias de isolamento o tornaram carrancudo e calado. Dizem que ninguém jamais o ouvira falar mais de cinco palavras seguidas.
- Até que horas?
Finn deu de ombros outra vez.
- Olhe, não sei. Pergunte a ele quando voltar.
- Quem mais está aqui?
- Só Caleb.
Theo saiu das sombras da cocheira para olhar o campo de turbinas. O sol havia iniciado seu mergulho atrás da montanha. Logo a sombra começaria a se estender pelo vale, até o sopé dos morros do outro lado. Quando isso acontecesse, não haveria dúvida: eles teriam de fechar a porta de segurança. Caleb Jones era só um garoto, mal fizera 15 anos; o apelido dele era Cano Longo.
- Bom, eles ainda têm meio palmo de sol - disse Theo finalmente.
Todos sabiam disso, mas mesmo assim precisava ser dito. Ele olhou para cada um dos membros do grupo, um olhar rápido para se certificar de que todos haviam entendido o que aquilo significava. - Vamos levar os animais para dentro.
Levaram os animais rampa abaixo até o estábulo e fecharam a porta. Quando voltaram, o sol já havia baixado atrás da montanha. Peter deixou Arlo e Alicia na sala de controle e foi se juntar a Theo, que esperava junto ao portão, examinando o campo de turbinas com o binóculo. Peter sentiu o primeiro arrepio da friagem da noite subir pelos braços e alcançar a pele queimada pelo sol em sua nuca. O gosto de poeira e cavalos voltou à boca e à garganta secas.
- Quanto tempo vamos esperar?
Theo não respondeu. A pergunta era retórica, apenas palavras para preencher o silêncio. Algo havia acontecido, caso contrário Zander e Caleb já estariam de volta. Peter pensava também no pai, e acreditava que Theo fazia o mesmo: Demetrius Jaxon, que sumira no campo de turbinas sem deixar rastros, indo em direção à estrada do Leste. Quanto tempo eles teriam esperado naquela noite antes de fechar a porta, deixando Demetrius Jaxon do lado de fora?
Peter ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu Alicia caminhando da porta de segurança em direção a eles. Ela parou ao lado dos dois, direcionando o olhar para o campo que começava a escurecer. Ficaram sem falar por mais um instante, olhando a noite marchar pelo vale. Enquanto a sombra da montanha tocava o sopé dos morros do outro lado, Alicia pegou uma faca e a limpou na bainha da camisa de malha.
- Odeio dizer...
! - Não precisa. - Theo se virou para encarar os dois. - Certo, já acabamos aqui. Vamos trancar a porta.
O dia a dia. Era a expressão que usavam. Não pensar no passado que era quase que apenas uma história de perda e morte, nem num futuro que poderia jamais acontecer. Noventa e quatro almas vivendo sob as luzes, no dia a dia.
Mas para Peter não era sempre assim. Quando estava só, servindo na Vigilância, quando tudo estava silencioso, ou deitado na cama esperando o sono chegar, ele frequentemente se pegava pensando nos pais. Apesar de algumas pessoas na Colônia ainda falarem no Céu - um lugar além da existência física, para onde a alma ia depois da morte -, a ideia nunca fizera sentido para ele. O mundo era o mundo, um lugar dos sentidos, que podia ser tocado, visto e experimentado, e, na opinião de Peter, se os mortos iam para algum lugar, iam para dentro dos vivos. Talvez fosse algo que a Professora houvesse dito a ele. Talvez tivesse tido a ideia sozinho. Mas, desde que podia se lembrar, desde que saíra do Abrigo e aprendera a verdade do mundo, acreditava que era assim. Enquanto pudesse manter os pais na mente, alguma parte deles continuaria existindo. E quando ele próprio morresse, essas lembranças passariam com ele para outros ainda vivos, e desse modo todos eles - não somente Peter e os pais, mas todos que existiram antes e os que viriam depois - continuariam a existir.
Não conseguia mais visualizar o rosto dos pais. Essa fora a primeira coisa a ir embora, apenas alguns dias depois da morte deles. Quando pensava neles, não havia uma imagem, mas um sentimento - um jorro de lembranças e sensações que fluía por ele como água. O som leitoso da voz da mãe e o jeito de suas mãos, pálidas, de ossos finos, mas também fortes, enquanto fazia seu trabalho na Enfermaria, tocando aqui e ali, oferecendo o conforto que podia; o estalar das botas do pai subindo a escada da passarela em uma noite em que Peter estava de serviço correndo entre os postos; o modo como passara ao lado dele sem falar nada, apenas pousando a mão em seu ombro para cumprimentá-lo; o calor e a energia da sala de estar nos dias das Longas Cavalgadas, quando seu pai, o tio e os outros homens se juntavam para planejar as rotas; e mais tarde o som das vozes deles enquanto bebiam uísque feito em casa, sentados na varanda até tarde da noite, contando as histórias de tudo o que tinham visto nas Terras Escuras.
Era isto o que Peter mais queria: sentir-se parte deles. Participar das Longas Cavalgadas. No entanto, sempre soubera que isso jamais aconteceria. Ouvindo na cama as vozes que chegavam da varanda, seu rico som masculino, ele se lembrava que conhecia a si mesmo. Sabia que lhe faltava algo. Não sabia o que era; não tinha certeza de que isso tivesse um nome. Era algo mais que coragem, mais que renunciar, ainda que tudo isso estivesse incluído. A única palavra que lhe vinha à mente era grandeza. Era o que os homens das Longas Cavalgadas possuíam. E quando chegasse a hora de um dos jovens Jaxon fazer parte delas, Peter sabia que seria Theo a escolha do pai. Ele seria deixado para trás.
Sua mãe também sabia disso. Sua mãe, que suportara resignada a desgraça do marido e, depois, a última partida, todos sabendo mas jamais ousando pronunciar a verdade. Sua mãe, que, no fim, mesmo quando o câncer havia lhe tirado tudo o que restava, não dissera uma única palavra contra o pai por tê-los deixado. Ele vive em seu próprio mundo agora. Era verão, os dias longos fervendo de calor, quando ela ficou de cama. Nessa época Theo era Vigia Pleno, ainda não havia sido nomeado Capitão, mas isso viria logo. Os cuidados da mãe ficaram por conta de Peter, que se sentava com ela dia e noite, dando-lhe de comer, vestindo-a e até mesmo lhe dando banho, uma intimidade incômoda que os dois suportavam porque era simplesmente necessária. Ela poderia ter ido para a Enfermaria - em geral, era o que acontecia -, mas sua mãe era a Primeira Enfermeira e, se Prudence Jaxon queria morrer em casa, na própria cama, ninguém lhe diria o contrário.
Sempre que Peter pensava naquele verão, nos dias longos e nas noites sem fim, parecia um período de sua vida do qual ele nunca se afastara completamente. Isso lembrava uma história contada pela Professora, sobre uma tartaruga que se aproximava de um muro. Cada vez que a tartaruga se movia, ela diminuía o tamanho do passo pela metade, garantindo que jamais chegaria ao destino. Era assim que Peter se sentia, vendo a mãe morrer. Durante três dias ela havia entrado e saído de um sono febril, praticamente sem falar nenhuma palavra, respondendo apenas às perguntas mais simples e necessárias aos seus cuidados. Tomava alguns goles de agua, mas só isso. Sandy Chou, a enfermeira de plantão, fora visitá-la naquela tarde, e aconselhara Peter a se preparar. A sala estava na penumbra, a luz dos holofotes salpicada pela sombra da árvore do outro lado da janela. Uma camada de suor brilhava na testa pálida de sua mãe. As mãos dela - as mãos que Peter havia visto fazer seu trabalho cuidadoso na Enfermaria durante horas - estavam imóveis ao lado do corpo. Desde o anoitecer, Peter não pusera os pés fora do quarto, temendo que ela acordasse sozinha. Sabia que a morte estava próxima, a apenas algumas horas de distância. Sandy havia deixado isso claro. Mas era a imobilidade das mãos repousando sobre os cobertores, tendo terminado todo o seu labor paciente, que lhe dizia isso.
Ele pensava: como se diz adeus? Será que ela ficaria com medo se me ouvisse pronunciar as palavras? E o que preencheria o silêncio em seguida? Ele não tivera a oportunidade de fazer o mesmo com o pai. Em muitos sentidos, isso fora o pior. O pai simplesmente partira para o esquecimento. O que teria dito a ele se houvesse tido a chance? Era um desejo egoísta, mas mesmo assim ele achou que teria dito: Pai, me escolha. Não a Theo. A mim. Antes de ir, me escolha. A cena era perfeitamente clara em seu pensamento - quando Peter a imaginava, o sol estava subindo, os dois sentados na varanda, o pai vestido para cavalgar, segurando sua bússola, rindo e fechando a tampa com o polegar, como era seu hábito -, e no entanto ela não se concluía. Ele jamais conseguia imaginar o que o pai responderia.
Agora sua mãe estava morrendo. Se a morte fosse um aposento onde a alma entrava, ela estava parada à porta. No entanto, Peter não conseguia encontrar as palavras para dizer a ela como se sentia: que a amava e sentiria saudades quando ela partisse. Na família deles sempre fora verdade que Peter era dela, assim como Theo era do pai. Ninguém jamais tinha dito nada sobre isso; era simplesmente um fato. Peter sabia que houvera abortos, e pelo menos um bebê nascera prematuro e morrera em poucas horas. Achava que tinha sido uma menina. Quando isso aconteceu, Peter era só um Pequeno, ainda no Abrigo, por isso não conhecia os detalhes. De modo que talvez fosse isso o que faltava - não algo dentro dele, mas dentro dela -, e talvez tenha sido a razão por que ele sempre sentira tão forte o amor da mãe. Ela decidira que cuidaria dele.
A primeira luz suave da manhã entrava pelas janelas quando Peter ouviu a respiração dela mudar, ficando presa no peito como um soluço. Por um instante terrível acreditou que o momento tivesse chegado, mas então viu os olhos dela se abrirem. Mãe?, disse, segurando a mão dela. Mãe, estou aqui.
"Theo", disse ela.
Será que ela podia vê-lo? Será que ela sabia onde estava? Mãe, é o Peter. Quer que eu chame Theo?
Ela parecia estar olhando para algum lugar profundo dentro de si mesma, infinito e sem fronteiras, um lugar de eternidade. "Cuide do seu irmão, Theo", disse ela. "Ele não é forte como você." Depois fechou os olhos e não os abriu mais.
Ele nunca contara isso ao irmão. Não parecia haver sentido. Havia ocasiões em que desejava ter ouvido errado ou poder atribuir essas últimas palavras ao delírio da doença. Mas por mais que tentasse pensar nelas de outro modo, as palavras e seu significado pareciam bastante claros. Depois de tudo, dos longos dias e noites em que havia cuidado dela, era Theo que ela pusera junto ao leito de morte, era para Theo que tinha dito as últimas palavras de sua vida.
Nada mais foi dito sobre a equipe desaparecida no posto. Eles alimentaram os animais, depois comeram e foram para o alojamento, um quarto apertado, fedorento, com camas dobráveis e colchões de palha mofada sujos. Quando Peter se deitou, Finn e Ray já estavam roncando. Peter não estava acostumado a dormir tão cedo, mas estava de pé havia 24 horas e deixou-se levar pelo sono.
Acordou desorientado, a mente ainda nadando em sonhos ansiosos. Seu relógio interno dizia que era meia-noite ou mais. Todos os homens ainda dormiam, mas a cama de Alicia estava vazia. Foi pelo corredor mal iluminado até a sala de controle, onde a encontrou sentada diante de uma mesa comprida, virando as páginas de um livro à luz do painel. O relógio marcava 2h33.
Ela ergueu os olhos para encará-lo.
- Não sei como vocês conseguem dormir, com todos aqueles roncos.
Ele ocupou uma cadeira diante dela.
- Eu não dormi, pelo menos não um sono profundo. O que você está lendo? Ela fechou o livro e esfregou os olhos.
- Não faço a mínima ideia. Encontrei no depósito. Há caixas e mais caixas de livros. Ela empurrou o livro na direção dele. - Pode olhar se quiser.
Onde vivem os monstros - dizia o título. Um volume fino, contendo principalmente figuras: um menino vestindo algum tipo de fantasia de animal, com orelhas e rabo, perseguindo um cachorrinho branco com uma forquilha. Peter virou, uma a uma, as páginas quebradiças e com cheiro de mofo. Árvores crescendo no quarto do menino, e então uma noite enluarada, e uma jornada pelo mar até uma ilha cheia de monstros. Leu:
E quando chegou ao lugar onde vivem os monstros, eles soltaram rugidos terríveis, mostraram os dentes terríveis, reviraram os olhos terríveis e exibiram as garras terríveis, até que Max disse: "PARADOS!" e os domou com o truque de olhar nos olhos amarelos sem piscar nem uma vez, e eles ficaram com medo e disseram que ele era a coisa mais monstruosa de todas...
- Esse negócio de olhar nos olhos deles - disse Alicia. E parou para bocejar nas costas da mão. - Não vejo de que isso adiantaria.
Peter fechou o livro e o colocou de lado. Não podia entender nada daquilo, mas a maioria das coisas do Tempo de Antes era assim. Como as pessoas viviam? O que comiam, usavam, pensavam? Será que andavam no escuro, como se não fosse importante? Se não existiam virais, de que elas tinham medo?
- Acho que é tudo inventado. - Ele deu de ombros. - É só uma história. Acho que o menino estava sonhando.
Alicia ergueu as sobrancelhas, como quem diz: Quem sabe? Quem pode dizer como era o mundo?
- Na verdade eu estava esperando que você acordasse - anunciou ela, levantando-se da cadeira. Em seguida pegou um lampião do chão. - Tenho uma coisa para lhe mostrar.
Ela o guiou de volta pelo corredor, passando pelo alojamento, na direção de um dos depósitos. As paredes estavam cobertas de estantes de metal cheias de suprimentos: ferramentas engorduradas, rolos de fio e solda, garrafas plásticas com ág e álcool. Alicia pôs a lanterna no chão, foi até uma das estantes e começou a esvaziá-la, colocando o conteúdo no chão.
- E então? Não fique parado.
- O que você está fazendo?
- O que você acha? E fale baixo, não quero acordar os outros.
Quando haviam tirado tudo, Alicia se posicionou em uma extremidade da estante e mandou Peter ficar do outro lado. Ele percebeu que havia uma folha de compensado escondendo a parede ao fundo. Os dois puxaram a estante.
Uma escotilha.
Alicia deu um passo e girou o volante que trancava a porta: uma área estreita, tubular, com uma escada de metal em espiral surgiu. Caixas metálicas estavam empilhadas contra a parede. A escada desaparecia na penumbra, subindo por uma distância desconhecida acima da cabeça de Peter. O lugar era abafado e cheio de poeira.
- Quando você achou isso? - perguntou ele, pasmo.
- Na última vez que viemos aqui. Uma noite fiquei entediada e comecei a xeretar tudo. Acho que é uma espécie de rota de fuga feita pelos Construtores. A escada vai direto até a laje, sob o telhado.
Peter apontou o lampião para as caixas.
- O que há dentro delas?
- Essa é a melhor parte - disse ela com um sorriso travesso.
Juntos arrastaram uma das caixas para o depósito. Era de metal, com um metro de comprimento e meio de profundidade, e tinha as palavras FUZILEIROS NAVAIS DOS ESTADOS UNIDOS impressas do lado. Alicia se ajoelhou para abrir os fechos e levantou a tampa, revelando seis objetos compridos e pretos aninhados em moldes de espuma. Peter demorou alguns segundos para entender o que estava vendo.
- Cacete, Lish.
Ela lhe entregou uma das armas: um fuzil de cano longo, frio ao toque e cheirando levemente a óleo. Era surpreendentemente leve, como se fosse feito de algum material que desafiasse a gravidade. Mesmo à luz fraca do depósito, ele podia detectar o brilho lustroso no acabamento do cano. As armas que ele havia visto até então não passavam de relíquias corroídas, fuzis e pistolas que o Exército deixara para trás. A Vigilância ainda mantinha algumas na Armaria, mas, pelo que Peter sabia, toda a munição havia sido usada anos antes. Peter nunca havia segurado algo assim antes, uma arma tão nova e limpa, tão intocada pelo tempo.
- Quantas são?
- Doze caixas, seis fuzis em cada, pouco mais de mil balas. Há mais seis caixas lá em cima.
Todo o nervosismo dele havia sumido, transformando-se num desejo incontrolável de usar esse novo e maravilhoso objeto que estava em suas mãos, de sentir seu poder.
- Como se coloca a munição?
Alicia tomou a arma de suas mãos e puxou o ferrolho e o carregador. Em seguida pegou um pente de balas na caixa, enfiou-o no lugar, na frente do guarda-mato, empurrando até travar, e deu duas pancadas fortes com a palma da mão na base.
( - Mire como se fosse uma besta - disse e se virou para demonstrar. - É basicamente a mesma coisa, só que com mais coice. E mantenha o dedo longe do gatilho, a não ser que realmente pretenda atirar. Dá vontade de experimentar, mas não faça isso.
Ela lhe devolveu o fuzil. Uma arma carregada! Peter levou-a até o ombro, procurando algo na sala que parecesse digno de sua mira, e finalmente escolheu um rolo de fio de cobre na estante mais longe. A ânsia de disparar, de experimentar a força explosiva do coice nos braços, era tão grande que Peter teve de se esforçar para controlá-la.
- Não se esqueça do que eu falei sobre o gatilho - alertou Alicia. - Há 20 balas em cada pente. Agora carregue esta aqui para eu ver se você aprendeu, Ele trocou o fuzil carregado por outro. Esforçou-se ao máximo para lembrar os passos: trava, ferrolho, carregador, pente. Quando terminou, deu duas batidas fortes no pente, como tinha visto Alicia fazer. - Que tal? - perguntou Peter.
Alicia olhou para ele com uma expressão avaliadora, a coronha de sua arma apoiada no quadril.
- Até que se saiu bem. Um pouco lento. Não aponte a arma para baixo, ou vai acabar estourando o pé.
Ele levantou rapidamente o cano. - Sabe, estou surpreso. Achei que você não levasse fé em armas de fogo. Ela deu de ombros.
- Na verdade, não levo. São lentas e fazem muito barulho, e deixam a gente confiante demais - ela replicou, passando a ele um segundo pente para colocar na bolsa do cinto. - Por outro lado, os fumaças parecem levar bastante fé nelas, se você fizer a coisa direito.
Ela bateu com o indicador no esterno, - Um tiro no ponto frágil. A menos de três metros você tem um pouco de folga, mas não conte com isso.
- Então você já usou uma dessas.
- Eu disse isso?
Peter sabia que não deveria pressioná-la. Seis caixas de fuzis do Exército. Como Alicia poderia resistir?
- E essas armas são de quem?
- Como é que eu vou saber? Pelo que parece, são dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, como diz na caixa. Pare de fazer perguntas e vamos.
Entraram novamente na escotilha e começaram a subir. Peter sentia a temperatura aumentar a cada degrau. Dez metros depois, chegaram a uma pequena plataforma com uma escada. No teto, acima de suas cabeças, havia uma segunda escotilha. Alicia pousou a lanterna na plataforma, levantou a mão, ficou na ponta dos pés e começou a girar o volante. Os dois estavam suando. O ar parecia quase denso demais para ser respirado.
- Está emperrado.
Peter levantou as mãos para ajudá-la. Com um guincho enferrujado, o mecanismo se soltou. Duas voltas, três, e a escotilha se abriu, ficando presa pelas dobradiças. O ar frio da noite jorrou pela abertura como uma corrente de água, cheirando a deserto, zimbro seco e algarobeira. Acima deles, apenas a escuridão.
- Eu vou primeiro - disse Alicia. - Já chamo você.
Ele ouviu os passos dela se afastarem da abertura. Ficou prestando atenção, mas não escutou mais nada. Tinham chegado à loja, onde não havia luzes para protegê-los. Contou até 20, 30. Seria melhor ir atrás dela?
Então o rosto de Alicia apareceu lá em cima, flutuando sobre a escotilha aberta.
- Deixe a lanterna aí. O caminho está limpo. Venha.
Ele subiu a escada e se viu em um lugar apertado, com tubos, válvulas e mais caixas empilhadas ao longo das paredes. Parou, deixando os olhos se adaptarem. Estava virado para uma porta aberta. Respirou fundo e deu um passo à frente.
Saiu no meio das estrelas.
Sentiu o impacto primeiro nos pulmões, fazendo o ar fugir do peito. O pânico tomou seu corpo, como se ele tivesse pisado no nada, no próprio céu noturno. Suas pernas bambearam, a mão livre agarrou o ar, procurando apoio, algo que lhe desse a sensação de forma e peso, as dimensões funcionais do mundo ao redor. O céu acima dele era um poço negro - e, por toda parte, estrelas!
- Peter, respire - disse Alicia.
Ela estava parada ao seu lado. Percebeu a mão dela pousada em seu ombro. Na escuridão, a voz de Alicia parecia vir de muito perto e de muito longe ao mesmo tempo. Ele obedeceu, deixando golfadas profundas do ar noturno encherem seu peito. Pouco a pouco seus olhos se adaptaram. Agora podia perceber a borda do telhado, se derramando no nada. Estavam no canto sudoeste, percebeu, perto do exaustor.
- Então, o que acha?
Por um longo momento de silêncio, ele deixou o olhar percorrer o céu. Quanto mais olhava, mais estrelas apareciam, abrindo caminho em meio ao negrume. Aquelas eram as estrelas das quais seu pai havia falado, as estrelas que seu pai tinha visto durante as Longas Caminhadas.
- Theo sabe? Alicia gargalhou.
- Theo sabe o quê?
- Sobre a escotilha, as armas. - Peter deu de ombros, sem jeito. - Isso tudo.
- Nunca mostrei a ele, se é o que você quer saber. Acho que Zander sabe, já que conhece cada centímetro deste lugar. Mas nunca me disse nada sobre isso. Os olhos de Peter examinaram o rosto de Alicia. Ela parecia diferente, de algum modo, no escuro: era a mesma Alicia que ele sempre conhecera, mas também era uma pessoa nova. Sabia o que ela havia feito. Havia guardado aquilo para ele. - Obrigado.
- Não pense que isso significa que nós somos amigos nem nada. Se Arlo tivesse acordado primeiro, ele é quem estaria aqui. Não era verdade, e ele sabia. - Mesmo assim - disse.
Ela o guiou até a beira do telhado. Estavam virados para o norte, de frente para o vale. Não havia nenhuma brisa. Do outro lado, a forma das montanhas se delineava contra o céu como uma massa escura pressionada contra uma moldura tremeluzente de estrelas. Os dois se posicionaram deitando lado a lado, a barriga encostada na laje ainda quente devido ao calor do dia.
- Pegue - disse Alicia enfiando a mão na bolsa. - Você vai precisar disso.
Uma mira de visão noturna. Ela mostrou como fixá-la em cima do fuzil e ajustar a regulagem. Peter encostou o olho no visor e percebeu uma paisagem de arbustos e pedras, tudo banhado por uma luz verde-clara, com dois traços cruzados seccionando a visão. Na parte de baixo do visor havia uma indicação: 212 METROS. Os números aumentavam ou diminuíam conforme ele movia o fuzil de um lado para o outro. Incrível. - Acha que eles ainda estão vivos? Alicia demorou um momento para responder. - Não sei. Provavelmente não. Mas não custa esperar.
Ela se calou de novo. Não havia muito mais a dizer sobre o assunto. Depois? perguntou:
- Acha que fui muito dura com a Maus hoje?
A pergunta o surpreendeu. Desde que a conhecera, Alicia nunca fora de duvidar das próprias decisões.
- Não, considerando a situação. Você fez o que era certo.
- Ela está arrasada. Não dá para negar.
- Isso não importa. Você mesma disse. Maus conhece as regras tanto quanto qualquer pessoa.
- Se eu tivesse que escolher entre ela e Galen, ficaria com ela - Alicia resmungou. - Por todos os voadores! Aquele sujeito... O que ela viu nele?
Peter levantou o rosto da mira. O céu estava tão denso de estrelas que era como se ele pudesse levantar a mão e tocá-las. Nunca tinha visto nada tão lindo. Aquilo o fez pensar nos oceanos, cujos nomes no livro pareciam palavras de uma canção - Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico -, e em seu pai, parado à beira do mar. Talvez as estrelas fossem o que Titia queria dizer quando falava de Deus. O Deus antigo, do Tempo de Antes. O Deus do Céu que vigiava o mundo.
- Você... - começou Alicia. - Não sei... você pensa nisso?
Peter se virou para encará-la. O olho de Alicia ainda estava encostado na mira.
- Em quê?
Alicia deu um risinho nervoso - um som que ele nunca ouvira antes.
- Vai me obrigar a dizer? Em se casar, Peter. Ter Pequenos.
É claro que pensava nisso. Quase todos na Colônia se casavam antes dos 20 anos. Mas trabalhar na Vigilância dificultava as coisas - ficar acordado a noite toda, dormindo a maior parte do dia, ou então andando em um torpor de exaustão. Mas quando Peter encarava o assunto, sabia que esse não era o único motivo. Algo naquilo simplesmente não parecia possível. Valia para os outros, não para ele. Tinha havido algumas garotas, e depois mulheres, cada uma delas ocupando sua mente durante alguns meses, levando-o a um estado tal que, em pouco tempo, ele praticamente não conseguia pensar em mais nada. Mas no fim ele sempre pulava fora, ou se pegava, inexplicavelmente, empurrando-as para alguém que ele achava mais adequado.
- Na verdade, não.
- E Sara?
Peter ficou na defensiva:
- O que é que tem ela?
- Ora, Peter - disse Alicia, e ele pôde ouvir a exasperação em sua voz. - Sei que ela quer casar com você. Não é segredo. Ela também é de uma Primeira Família, seria um bom casamento. Todo mundo acha. - E daí?
- Só estou falando. É óbvio.
- Bem, para mim não é nada óbvio.
Ele fez uma pausa. Os dois nunca haviam conversado sobre isso antes.
- Olhe, Lish, eu gosto de Sara, só não sei se quero me casar com ela.
- Mas você quer? Quero dizer, quer se casar um dia?
- Um dia. Talvez. Por que você está perguntando isso, Lish?
Ele virou o rosto para ela de novo. Alicia estava olhando pela mira para o outro lado do vale, varrendo lentamente o horizonte com o fuzil. - Lish?
- Espere. Há alguma coisa se mexendo. Ele rolou de volta para a posição. - Onde?
Alicia levantou o cano do fuzil, apontando. - Ali.
Ele encostou o olho na mira: uma figura solitária, correndo de um arbusto para o outro, 100 metros além da linha da cerca. Um ser humano. 1- É o Cano Longo - disse Alicia.
- Como você sabe?
- É pequeno demais para ser Zander. E não há mais ninguém lá fora.
- Está sozinho:
- Não sei - respondeu Alicia. - Espere. Não. Dez graus à direita.
Peter olhou: um clarão de verde na mira, ricocheteando como uma pedra no solo do deserto. Então viu um segundo e um terceiro, a 200 metros e se aproximando. Não se aproximando, mas cercando o garoto.
- O que eles estão fazendo? Por que não o pegam simplesmente?
- Não sei.
Então os dois ouviram.
- Ei! - A voz era de Caleb, aguda, esganiçada e cheia de pavor. Ele vinha correndo em direção à cerca, balançando os braços. - Abram o portão, abram o portão!
- Por todos os voadores! - Alicia rolou e ficou de pé. - Depressa! Saíram em disparada para a escotilha, Alicia abrindo rapidamente uma das caixas e pegando uma pistola curta, de cano grosso. Peter não teve tempo de perguntar. Correram de volta para a beira do telhado, e Alicia apontou a pistola para o alto, em direção aos geradores, e puxou o gatilho.
O sinalizador saltou para o céu, arrastando sua cauda sibilante de luz. Os instintos de Peter lhe diziam para não olhar, mas ele não conseguiu se conter e olhou mesmo assim. Sua visão foi imediatamente tomada pelo rastro incandescente do sinalizador. No ponto mais alto, o sinalizador pareceu ficar imóvel, suspenso no ar. Depois explodiu, banhando de luz o campo.
- Ganhamos um minuto para ele - disse Alicia. - Há uma escada nos fundos.
Eles penduraram as armas nos ombros. Alicia deslizou pela escada externa primeiro, os pés sequer tocando os degraus. Enquanto Peter descia, ela disparou outro sinalizador, mandando-o em um arco por cima da usina, na direção do campo. Em seguida eles correram.
Caleb estava de pé do outro lado do portão de metal. Os virais haviam se espalhado, voltando para as sombras.
- Por favor, me deixem entrar!
- Merda, não temos a chave - disse Peter.
Alicia encostou a coronha do fuzil no ombro e mirou no painel. O disparo soou como uma explosão. Uma chuva de fagulhas se derramou quando o painel despencou do poste.
- Caleb, você vai ter de pular a cerca!
- Eu vou morrer!
- Não vai, não, a corrente está desligada! - Ela olhou para Peter. - Acha que está desligada?
- Como é que eu vou saber?
Alicia deu um passo à frente e, antes que Peter pudesse dizer qualquer coisa, encostou a mão na cerca. Nada aconteceu.
- Depressa, Caleb!
Caleb enroscou os dedos entre os arames e começou a subir. As sombras voltaram a se espalhar rapidamente em volta deles quando o segundo sinalizador terminou de descer. Alicia tirou mais um sinalizador da bolsa do cinto, carregou a pistola e disparou. Ele subiu e subiu, acompanhado por uma cauda de fumaça, e explodiu acima deles numa chuva de luz.
- É o último - disse ela a Peter. - Temos uns 10 segundos até que eles percebam que a corrente está desligada.
Caleb estava montado no topo da cerca.
- Caleb! - gritou ela - Mexa esse rabo!
Ele pulou no chão, rolando ao cair. Em um instante ficou de pé. Suas bochechas estavam ensopadas de lágrimas, manchadas de terra e muco, e os pés estavam descalços. Em mais alguns segundos os três estariam no escuro de novo.
- Você está machucado? - perguntou Alicia. - Consegue correr?
O garoto fez que sim com a cabeça. Partiram na direção da usina. Peter sentiu os virais chegando antes mesmo de enxergá-los. Virou-se a tempo de ver um se lançando sobre eles do topo da cerca. Uma explosão soou perto de seu ouvido. A criatura se retorceu no ar e caiu, esparramando-se no chão duro. Peter se virou e viu Alicia, a coronha do fuzil no ombro, os olhos fixos na cerca. Ela disparou mais três tiros em rápida sucessão.
- Tire ele daqui! - gritou.
Peter correu com Caleb até a escada. Atrás deles, Alicia continuava a atirar, o som dos disparos chegando até ele como estalos abafados ecoando no pátio. Agora mais virais estavam dentro da cerca. Pendurando o fuzil no ombro, Peter subiu a escada. Quando chegou ao topo, virou-se para olhar. Alicia estava recuando para a parede da usina, atirando contra as sombras. Quando sua arma ficou em silêncio, ela a jogou de lado e começou a subir.
Peter firmou o fuzil no ombro, mirou na direção dos virais e apertou o gatilho. O cano pulou para cima, e os tiros voaram inutilmente para a escuridão. Todo o seu corpo sacudiu com a força selvagem do coice da arma.
- Preste atenção no que está fazendo! - gritou Alicia, apertando o corpo contra a escada abaixo dele. - E, pelo amor de Deus, mire!
- Estoutentando!
Agora eram três saindo das sombras em direção à base da escada. Peter deu um passo para a direita, apertando a coronha com força contra o ombro. Mire como se fosse uma besta. Tinha uma chance mínima de acertar, mas talvez pudesse afugentá-los. Apertou o gatilho, e eles pularam para longe, rolando pelo pátio e voltando rapidamente para o escuro. Havia ganhado alguns segundos, no máximo.
- Cale a boca e suba! - gritou ele.
- Vou subir se você parar de atirar em mim!
Em seguida ela estava no topo. Ele encontrou sua mão e puxou Alicia com força, fazendo-a saltar para a superfície de concreto. Caleb sinalizava para eles da entrada da escotilha.
- Atrás de vocês!
Enquanto Alicia descia pela escotilha, Peter se virou. Um viral estava de pé na beira da laje. Peter levantou a arma e atirou, mas era tarde demais. O lugar onde a criatura estivera estava vazio.
- Esqueça os fumaças! - gritou Alicia de baixo. - Venha!
Peter se jogou pela abertura, caindo em cima de Caleb, que se dobrou embaixo dele com um grunhido. Uma dor aguda atravessou seu tornozelo quando seus pés bateram na plataforma. O fuzil caiu longe, fazendo barulho. Alicia passou por cima dos dois e levantou as mãos para fechar a escotilha. Mas algo estava fazendo força para baixo do outro lado. O rosto de Alicia se contorcia com esforço. Seus pés se remexiam na escada, lutando para se firmarem.
- Não... consigo... fechar!
Peter e Caleb se levantaram e começaram a empurrar com ela. Mas a força do
outro lado era grande demais. Algo acontecera ao tornozelo de Peter na queda, mas agora a dor não importava. Examinou a plataforma abaixo, procurando o fuzil, e o encontrou caído em cima da escada.
- Deixe - disse. - Largue a escotilha. É o único jeito.
- Está maluco?
Mas então ele viu, nos olhos de Alicia, que ela entendera seu plano.
- Muito bem, faça isso.
Ela se virou para Caleb, que assentiu.
- Pronto?
- Um... dois...
- Três!
Soltaram a escotilha. Peter pulou para a plataforma, a dor explodindo no tornozelo com o impacto. Saltou para agarrar o fuzil e girou, apontando o cano da arma para cima através da abertura. Não havia tempo para mirar, e esperava que não fosse necessário.
Não foi. A ponta do cano entrou direto na boca aberta do viral, cravando nele como uma flecha, passando pelas fileiras de dentes brilhantes e se comprimindo contra o fundo da garganta. Peter olhou-o nos olhos e pensou: Paradinho aí, dando um empurrão forte no fuzil antes de atirar no cérebro de Zander Phillips.
VINTE E UM
Havia uma grande diferença entre o mundo de agora e o mundo do Tempo de Antes, pensava Michael Fisher, e não eram os virais. A diferença era a eletricidade.
Os virais eram um problema, claro - cerca de 42,5 milhões de problemas, se os velhos documentos no barracão de SP atrás da Casa de Força estivessem corretos. Michael Circuito lera toda a história das horas finais da epidemia. "Resumo Nacional e Regional de Componentes de Vigilância Selecionados CV1-CV13", Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Atlanta, Geórgia; "Protocolos de Reassentamento de Civis nos Centros Urbanos, Zonas 6-1", Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, Washington; "Eficácia da Proteção Pós-exposição Contra Febre Hemorrágica Familiar do Tipo CV em Primatas Não Humanos", Instituto de Pesquisas Médicas de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos, Fort Detrick, Maryland. E assim por diante, nessa linha. Alguns ele entendia, alguns não, mas todos diziam basicamente a mesma coisa: uma pessoa a cada 10. Para cada nove pessoas mortas, uma era tomada. Assim, presumindo uma população de 500 milhões na época do surto - a soma das populações dos Estados Unidos, do Canadá e do México -, afastando, por enquanto, a questão do restante do mundo, sobre o que se sabia muito pouco, e levando em conta alguma taxa de mortalidade entre os virais - digamos que uns modestos 15% -, ainda restavam 42,5 milhões daqueles sacanas sugadores de sangue pulando por aí entre o canal do Panamá e o estreito de Bering, engolindo tudo o que tivesse hemoglobina nas veias e temperatura entre 36 e 38 graus, isto é, 99,96% dos mamíferos, desde ratos até ursos-pardos.
Então, sim, eles eram um problema.
Mas se me dessem eletricidade suficiente, pensava Michael, eu poderia manter os virais longe para sempre.
O Tempo de Antes. Às vezes ele tremia só de pensar: a grande e vibrante energia de toda aquela eletricidade gerada pelo homem. Os milhões de quilômetros de fios, os bilhões de amperes de corrente. As enormes usinas geradoras de eletricidade transformando a força contida do próprio planeta em uma corrente elétrica que disparava pelos fios ofertando seus préstimos: Pois não? Pois não? Pois não?
E as máquinas. Aquelas máquinas maravilhosas zumbindo, reluzindo. Não somente os computadores, Blu-rays e celulares - tinham dezenas desses equipamentos jogados no barracão, coletados no passar dos anos nas viagens montanha abaixo - mas coisas simples, objetos comuns do cotidiano, como secadores de cabelo, fornos de micro-ondas e lâmpadas. Tudo funcionando, ligado na tomada, conectado à rede elétrica.
Às vezes era como se a corrente ainda estivesse lá, esperando por ele. Esperando que Michael Fisher apertasse o interruptor e ligasse a coisa toda - a própria civilização - novamente.
Passava um tempo longo demais sozinho na Casa de Força. Tinha de admitir. Só ele e Élton, o que na maior parte das vezes era o mesmo que ficar sozinho, no sentido social da coisa. No sentido de "vamos conversar sobre o tempo" e "o que tem para jantar hoje?".
E ainda havia muita coisa interessante lá fora, Michael sabia. Geradores a diesel do tamanho de cidades inteiras. Enormes usinas de gás natural, cheias de combustível e esperando para entrar em funcionamento. Hectares de painéis solares armazenando a força do sol do deserto. Reatores nucleares zunindo como gaitas atômicas, seu calor aumentando gradativamente com o passar das décadas, até que algum dia a coisa toda simplesmente iria pelos ares, explodindo em uma chuva de vapor radioativo que em algum lugar, lá no alto, um satélite esquecido, alimentado por uma minúscula célula nuclear, registraria como o último suspiro de um irmão agonizante - antes que ele também, escurecido, mergulhasse de volta na Terra, um risco de luz que ninguém reconheceria.
Que desperdício! E o tempo estava correndo.
Ferrugem, corrosão, vento, chuva. Mordidas de camundongos, acidez das fezes de insetos, a voracidade dos anos que passavam. A guerra da natureza contra as ! máquinas, das forças do planeta contra as obras do homem. O poder que a humanidade havia extraído da Terra seria inexoravelmente pego de volta, sugado como água por um ralo. Em pouco tempo, se já não houvesse acontecido, não restaria sequer um poste de alta-tensão de pé.
A humanidade tinha construído um mundo que demoraria cem anos para morrer. Um século até que as últimas luzes se apagassem.
O pior é que ele estaria presente quando isso acontecesse. As baterias estavam se desgastando. Desgastando-se mesmo. Michael podia ver isso bem diante dos seus olhos, no tubo catódico que mostrava as barras verdes latejantes. As baterias haviam sido construídas para durar quanto tempo? Trinta anos? Cinquenta? O fato de conseguirem reter alguma carga depois de quase um século era um milagre. Era possível manter as turbinas girando para sempre ao vento, mas sem as baterias para armazenar e regular a corrente, bastaria uma noite de ar parado para ser o fim.
Consertar as baterias era impossível. Elas não haviam sido feitas para serem consertadas, e sim para serem substituídas. Ele podia reforçar a vedação, limpar a corrosão, trocar os fios dos controladores quantas vezes quisesse, mas tudo isso era basicamente um trabalho inútil, porque as membranas já haviam dado tudo o que tinham. As membranas estavam ferradas, seus polímeros condutores irremediávelmente derretidos por moléculas de ácido sulfônico. Era o que o monitor lhe dizia com aqueles pequenos soluços no dia a dia. A não ser que o Exército aparecesse com um jogo de baterias novo, recém-saído da fábrica - Ei, desculpe, tínhamos esquecido de vocês! -, as luzes iriam se apagar. Um ano, dois no máximo. E quando isso acontecesse, seria ele, Michael Circuito, que teria de se levantar e dizer: Escutem pessoal, tenho uma notícia que não é lá muito agradável. Sabem qual é a previsão do tempo para esta noite? Escuridão com gritos generalizados. Foi legal ficar aqui manter as luzes acesas, mas agora preciso morrer. Assim como todos vocês. A única pessoa a quem havia contado isso era Theo. Não dissera nada a Gabertis - que, tecnicamente falando, era o chefe de Luz e Força, mas que havia praticamente se aposentado quando ficara doente, deixando para Michael e Élton a tarefa de cuidar de tudo -, a Sanjay, ao Velho Chou, nem a mais ninguém; nem mesmo a Sara, sua irmã. Por que havia escolhido Theo? Eles eram amigos. Theo era Guardião. E, claro, sempre houvera uma certa melancolia nele - Michael, mais do que ninguém, sabia disso -, e era um fardo pesado dizer a uma pessoa que ela e todos que ela conhecia estavam basicamente mortos. Talvez Michael só estivesse pensando em como seria o dia em que tivesse de explicar a situação, na esperança de que Theo desse a notícia em vez dele, ou que pelo menos o apoiasse de algum modo. Mas até mesmo Theo, que era mais bem informado que a maioria dos colonos, via as baterias como um elemento fixo da natureza, e não como algo feito pelo homem, governado por leis físicas. Como o sol, o céu e os muros, as baterias simplesmente existiam. As baterias sugavam a corrente das turbinas e cuspiam as luzes, e se algo desse errado, bem, o pessoal da Luz e Força consertaria. Certo, Michael?, perguntara Theo. Esse problema com as baterias, você pode consertar, não é? Ele repetira a pergunta algumas vezes, até que Michael, totalmente exasperado, suspirou, balançou a cabeça e expôs a situação em palavras impossíveis de serem ignoradas.
- Theo, você não está me ouvindo. Não está ouvindo o que eu estou dizendo. : A-Luz-Vai-Apagar.
Estavam sentados na varanda da pequena casa de madeira onde Michael morava com Sara, que havia saído para olhar o rebanho, checar a temperatura de alguém na Enfermaria ou visitar o Tio Walt para ter certeza de que ele estava se alimentando e tomando banho - em outras palavras, andando por toda a Colônia, como sempre fazia. Era fim de tarde. A casa ficava ao lado da campina de vegetação rasteira aonde levavam os cavalos para pastar, mas os dias secos do verão haviam chegado cedo, e o campo estava da cor de casca de pão, tão queimado pelo sol que alguns trechos descampados se enchiam de poeira quando alguém passava. Todo mundo conhecia o lugar como a casa dos Fisher.
- A luz vai apagar - repetiu Theo.
- Isso - confirmou Michael, assentindo.
- Dois anos, foi o que você disse.
Michael examinou o rosto de Theo, observando-o enquanto ele captava a informação.
- Pode ser mais do que isso, mas acho que não. Pode ser menos, também.
- E não há nada que você possa fazer para consertar.
- Ninguém pode.
Theo soltou o ar com força, como se tivesse acabado de levar um soco.
- Certo, entendi. - Ele balançou a cabeça. - Por todos os voadores, entendi. A quem mais você contou?
- A ninguém. - Michael encolheu os ombros. - Só a você.
Theo se levantou e foi até o final da varanda. Por um momento, nenhum dos dois falou.
- Teremos de deixar a Colônia - disse Michael. - Ou então encontrar outra fonte de energia.
Theo estava olhando para o campo.
- E como você sugere que a gente faça isso?
- Não sugiro. Só estou declarando um fato. Quando a capacidade das baterias chegar a menos de 20%...
- Eu sei, eu sei, não haverá luzes. Você já deixou isso claro.
- O que vamos fazer?
Theo deu um sorriso desesperançado.
- Como, diabos, vou saber?
- Quero dizer, a gente deveria dizer às pessoas? - Michael fez uma pausa, examinando o rosto do amigo. - Para que elas possam, você sabe, se preparar?
Theo pensou por um momento. Depois balançou a cabeça.
- Não.
E foi só isso. Nunca mais tocaram no assunto. Quando havia sido? Mais de um ano antes, mais ou menos na época em que Maus e Galen haviam se casado - o primeiro casamento em muito, muito tempo. Era estranho, todo mundo tão feliz e Michael sabendo o que sabia. As pessoas ficaram surpresas por ser Galen se casando com Mausami, em vez de Theo. Só Michael sabia o motivo, ou podia adivinhar. Ele vira a expressão nos olhos de Theo naquela tarde na varanda. Algo havia se esvaído dele, e para Michael não parecia o tipo de coisa que alguém pudesse recuperar.
Agora não existia nada a fazer, além de esperar. Esperar e ouvir.
Porque essa era a coisa: o rádio era proibido. O problema, pelo que Michael entendia, era o excesso de gente. Fora o rádio que havia guiado os Andarilhos até a Colônia nos primeiros tempos, e isso não era algo que os Construtores tivessem planejado, já que a Colônia não deveria durar tanto tempo assim. Então, naquele momento, no ano 17-75 anos atrás -, foi decidido que o rádio deveria ser destruído, que a antena seria retirada da montanha e teria suas partes quebradas e espalhadas no lixo.
Na época a decisão podia ter feito sentido. Michael entendia isso. O Exército sabia onde encontrá-los, e eles tinham comida e combustível para se manterem, além do abrigo sob as luzes. Mas agora, não. Principalmente com as baterias do jeito que estavam, as luzes prestes a se apagarem. Escuridão, gritos, morte, etc. Não muito depois da conversa com Theo - alguns dias, pelo que se lembrava -, Michael encontrou por acaso um velho diário. Na verdade, como se saberia depois, não foi exatamente "por acaso". Era a hora silenciosa, logo antes do amanhecer. Michael estivera sentado diante do painel na Casa de Força, cuidando dos monitores e folheando um livro que pertencia à Professora, Que nome dar ao bebê (para ver como ele estava desesperado para ler alguma coisa nova; tinha acabado de chegar à letra J). Então, por algum motivo - a inquietação, o tédio ou o estranho pensamento de que, com um pouco menos de sorte, seus pais poderiam tê-lo chamado de Ichabod (Ichabod Circuito!) -, seus olhos se desviaram para a prateleira acima do monitor. Lá estava ele. Um caderno com lombada preta e fina. Ali, no meio das coisas de sempre, enfiado entre um rolo de fio de solda e uma pilha de CDs de Élton (Billie Holiday Sings the Blues, Sticky Fingers, Superstars vol. 1, Sucessos para Dançar, um CD dos Rolling Stones e outro de um grupo chamado Yo Mama, que para Michael parecia um bando de pessoas gritando umas com as outras, não que ele entendesse alguma coisa de música).
Michael devia ter olhado para aquela prateleira mais de mil vezes, no entanto não conseguia se lembrar de ter visto o caderno antes. Foi o que chamou sua atenção: algo que ele ainda não tinha lido. (Ele havia lido tudo.) Levantou-se e pegou o caderno na estante, e, quando o abriu, a primeira coisa que notou foi um nome que ele conhecia, escrito com mão firme, mão de engenheiro: Rex Fisher, bisavó (ou trisavô) de Michael. Rex Fisher, Primeiro Engenheiro de Luz e Força, Primeira Colônia, República da Califórnia. Que diabo era aquilo? Como não tinha visto antes? Virou as páginas já quebradiças por causa da umidade e do tempo. Precisou de um instante para absorver as informações, separar seu conteúdo, analisá-lo e organizá-lo de novo de modo a entender o que era aquele volume fino todo escrito à mão. Colunas de números, com datas registradas no estilo antigo, seguidas pela hora e outra numeração, que Michael percebeu ser a frequência de transmissão. Nos espaços à direita havia anotações curtas, não mais que algumas palavras, mas todas carregadas de significado, histórias inteiras dentro delas: "sinal de socorro", ou "cinco sobreviventes", ou "militar?" ou "três a caminho, vindos de Prescott, Arizona". Havia outros nomes de lugares: Ogden, Utah. Kerriville, Texas. Las Cruces, Novo México. Ashland, Oregon. Centenas de anotações como essas, enchendo páginas e mais páginas, até que simplesmente pararam. A última linha escrita dizia apenas: "Todas as transmissões encerradas por ordem dos Guardiões."
A luz do dia estava entrando pelas janelas quando Michael terminou. Apagou a lanterna e se levantou da cadeira enquanto o Toque da Manhã soava - três badaladas longas seguidas por uma pausa de duração idêntica, depois mais três para o caso de alguém não captar a mensagem da primeira vez (amanheceu; você está vivo!). Atravessou sua sala estreita, um labirinto atulhado de ferramentas, pratos sujos (Michael não entendia por que Élton não podia simplesmente comer no alojamento; aquilo era nojento) e caixas plásticas cheias de peças. Foi até o painel do disjuntor e desligou as luzes. Uma onda de cansaço e satisfação o atravessou, como sempre acontecia ao Toque da Manhã: mais uma noite de trabalho realizado, todas as almas em segurança e prontas para enfrentar um novo dia. Queria ver se Alicia e suas facas conseguiriam fazer aquilo. (Entretanto, quando encontrou o diário, não tinha erguido o rosto do livro por estar distraído pensando em Alicia? Como às vezes - frequentemente - acontecia? E não somente em Alicia, mas na luz do sol refletindo em seu cabelo enquanto ela saía da Armaria naquele fim de tarde em que Michael a seguira, sem ser visto? Uma imagem que, ele tinha de admitir, era bastante marcante? Tudo isso apesar de Alicia Donadio ser, sem sombra de dúvida, a mulher mais irritante na face da Terra? Não que houvesse tanta concorrência assim.) Retornou ao painel e executou cada passo, colocando as baterias para carregar, ligando os ventiladores e abrindo os respiradouros. Os medidores, que marcavam 28% no painel, começaram a piscar e a subir.
Michael se virou para olhar Élton. Parecia estar cochilando na cadeira, mas às vezes era difícil dizer. Acordado ou dormindo, seus olhos eram sempre os mesmos: duas tirinhas de geleia amarela espiando atrás de pálpebras semicerradas, sempre úmidos e lacrimejantes, nunca conseguindo se fechar. Suas mãos pálidas estavam cruzadas sobre a barriga, os fones de ouvido, como sempre, grudados à cabeça escamosa, bombeando a música que ele escutava a noite toda: Beatles, Boyz-B-Ware, Art Lundgren e sua Orquestra Feminina de Polca, a única que Michael achava tolerável.
- Élton?
Não houve resposta. Michael aumentou um pouco o tom de voz. - Élton?
O velho - Élton tinha pelo menos 50 anos - estremeceu, voltando à vida. - Por todos os voadores, Michael. Que horas são?
- Relaxe. É de manhã. A noite acabou.
Élton se remexeu na cadeira, fazendo-a ranger, e apoiou os fones no pescoço.
- Então por que me acordou? Eu estava chegando à melhor parte.
Depois dos CDs, as excursões noturnas de Élton para aventuras sexuais imaginárias constituíam seu maior passatempo - sonhos com mulheres, convenientemente falecidas havia muito tempo, que ele contava a Michael com detalhes excruciantes, dizendo que eram lembranças de coisas que tinham lhe acontecido na juventude. Era tudo mentira, deduzia Michael, já que Élton praticamente nunca punha os pés fora da Casa de Força, e olhando-o agora, a cabeça cheia de caspa, a barba emaranhada e os dentes cinza com restos de uma refeição que ele comera dois dias antes, Michael não via como aquilo poderia ser ao menos remotamente possível.
- Não quer ouvir como foi? - O velho balançou sugestivamente as sobrancelhas. - Foi o sonho do feno. Sei que você gosta desse.
- Agora não, Élton. Eu... encontrei uma coisa. Um caderno. - Você me acordou porque achou um caderno?
Michael se arrastou na cadeira ao longo do painel e pôs o diário no colo do velho. Élton passou os dedos pela capa, revirando os olhos cegos, depois levou o caderno ao nariz e inspirou longamente.
- Bem, eu diria que deve ser o diário do seu bisavô. Esse negócio anda rolando por aí há anos. - Ele devolveu o caderno a Michael. - Não posso dizer que já tenha lido. Achou alguma coisa boa aí?
- Élton, o que você sabe sobre isso?
- Eu não poderia dizer. Mas as coisas têm um jeito de aparecer bem na hora em que a gente precisa.
E foi então que Michael percebeu por que não tinha visto o caderno antes. Não o tinha visto porque ele não estava lá. - Você o colocou na estante, não foi?
- Ora, Michael. O rádio é proibido. Você sabe.
- Élton, você falou com Theo?
- Que Theo?
Michael sentiu a irritação crescer. Por que o sujeito não podia simplesmente responder a uma pergunta? - Élton...
O velho o interrompeu erguendo a mão.
- Certo, não precisa ficar nervosinho. Não, não falei com Theo. Mas acho que você falou. Eu não falo com ninguém além de você. - Ele fez uma pausa. Sabe, você é mais parecido com o seu velho do que acha, Michael. Ele também não sabia mentir direito.
De algum modo, Michael não ficou surpreso. Deixou-se cair na cadeira. Em parte ele estava satisfeito.
- E aí, elas estão muito ruins? - perguntou Élton.
- Nada boas. - Ele deu de ombros. Por algum motivo, estava olhando para as próprias mãos. - A número cinco é a pior, a dois e a três estão um pouco melhores que as outras. A carga na um e na quatro é irregular. Hoje ficamos em 28%. Nunca temos mais de 55% na hora do Primeiro Toque.
Élton assentiu.
- Então, elas vão começar a falhar nos próximos seis meses. Parada total antes de 30 meses. Mais ou menos o que seu pai imaginou.
- Ele sabia?
- Seu velho entendia tudo sobre as baterias, Michael. Há muito tempo ele sabia que isso um dia ia acontecer.
Então era isso. Seu pai soubera, e provavelmente sua mãe também. Um pânico familiar cresceu dentro dele. Não queria pensar nisso. Não queria.
- Michael?
Ele respirou fundo para se acalmar. Mais um segredo nas costas. Mas faria o que sempre fizera, empurraria aquela informação para dentro de si mesmo, o mais fundo que pudesse.
- Então - perguntou Michael -, como é que se constrói um rádio?
O problema não era o rádio, explicou Élton; o problema era a montanha.
Antes o sinal partia de uma antena no pico da montanha. Dela saía um cabo que seguia por cinco quilômetros, junto com a rede elétrica, até o transmissor na Casa de Força, Mas tudo havia sido desmontado e destruído quando entrou em vigor a Lei Única. Sem a antena, eles estariam totalmente bloqueados no lado leste, e qualquer sinal que pudessem captar desapareceria por causa da interferência eletromagnética das baterias.
Isso lhes deixava duas opções: pedir permissão aos Guardiões para colocar uma antena no topo da montanha ou não dizer nada e tentar amplificar o sinal de algum modo.
No fim das contas não foi preciso escolher. Michael não podia pedir permissão sem explicar o motivo, o que significava contar aos Guardiões sobre as baterias; e isso estava simplesmente fora de questão, porque então todo mundo saberia e, assim que isso acontecesse, nada mais teria importância. Não era só das baterias que Michael estava encarregado; era de manter a esperança que sustentava a Colônia. Não podia simplesmente dizer às pessoas que não havia mais chances. A única coisa a fazer, antes de dizer qualquer palavra a quem quer que fosse, era encontrar alguém vivo lá fora - alguém com um rádio, o que significaria que essa pessoa teria energia elétrica e, portanto, luz. Se não encontrasse nada, se o mundo estivesse mesmo vazio, o que tivesse que acontecer aconteceria de qualquer modo, então era melhor ninguém saber.
Começou a trabalhar naquela manhã. No barracão, jogados em meio a monitores, CPUs, telas de plasma, celulares e Blu-rays velhos, havia um antigo rádio estéreo - só AM e FM, mas Michael podia abri-lo - e um osciloscópio. Passou um fio de cobre por dentro da chaminé para servir de antena. Para camuflar o receptor, acondicionou seu mecanismo dentro de uma CPU - a única pessoa que poderia notar um computador extra no balcão seria Gabe, e, pelo que Sara tinha dito, o coitado não iria voltar - e o conectou ao painel usando a entrada de áudio. O sistema de controle de baterias tinha um programa de mídia simples, e, com um pouco de trabalho, ele pôde configurar o equalizador para filtrar o ruído das baterias. Não poderiam enviar mensagens, porque não tinham um transmissor e Michael ainda precisava descobrir como construir um. Mas, por enquanto, com um pouco de paciência, poderiam captar qualquer sinal decente que viesse do oeste.
Não encontraram nada.
Ah, havia muita coisa para ouvir. Uma gama surpreendente de atividades, desde sinais de alta frequência até micro-ondas. Alguma torre de celular funcionando com a energia do sol. Usinas geotérmicas ainda alimentando a rede. Até uns dois satélites, que continuavam em órbita, obedientemente transmitindo seus olás cósmicos e provavelmente se perguntando para onde todos no planeta Terra teriam ido.
Todo um mundo oculto de ruídos eletrônicos. E ninguém, nem uma única pessoa, em casa.
Dia após dia Élton se sentava diante do rádio, os fones grudados no ouvido, os olhos cegos virados para cima nas órbitas. Michael isolava um sinal, removia o ruído e o mandava para o amplificador, onde era filtrado pela segunda vez e transmitido aos fones. Depois de um momento de concentração intensa, Élton assentia. Depois, passava alguns segundos esfregando pensativo a barba suja de migalhas e proclamava em sua voz gentil:
- Alguma coisa fraca, irregular. Talvez um antigo sinal de socorro.
Ou: - Sinal subterrâneo. Uma mina, talvez.
Ou então, com um rápido balanço de cabeça.
- Nada aqui. Vamos em frente.
Assim passavam os dias e noites, Michael diante do monitor, Élton com os fones grudados à cabeça, a mente aparentemente à deriva no mar dos sinais que restavam de sua espécie praticamente extinta. Sempre que encontravam um, Michael o registrava no diário, anotando a hora, a frequência e o que mais houvesse. Depois faziam tudo de novo.
Élton nascera cego, por isso Michael não sentia realmente pena dele, não nesse aspecto. A cegueira de Élton era apenas parte de quem ele era. A radiação havia feito isso: os pais de Élton eram Andarilhos, parte da Segunda Onda a chegar, cerca de 50 anos antes, logo depois que os povoados em Baja foram dominados. Os sobreviventes haviam atravessado as ruínas contaminadas do que um dia fora San Diego. Quando o grupo chegou - 28 almas -, os que ainda conseguiam ficar de pé carregavam os outros. A mãe de Élton estava grávida e delirando de febre; deu à luz logo antes de morrer. O pai dele podia ser qualquer um. Ninguém nem sequer ficou sabendo o nome dos dois.
E, de modo geral, Élton se virava bem. Tinha uma bengala que usava ao sair da Casa de Força, o que não acontecia com muita frequência, e parecia contente em passar os dias diante do painel, sendo útil do único modo que sabia. Exceto por Michael, era quem melhor conhecia as baterias - um feito e tanto, considerando que nunca as vira de verdade. Mas, segundo Élton, isso lhe dava uma vantagem, porque não era enganado pelo que as coisas meramente pareciam ser. "As baterias são como as mulheres, Michael", ele gostava de dizer. "É preciso aprender a ouvi-las."
Agora, na tarde do dia 54 do verão, minutos antes do Primeiro Toque da Tarde - quatro noites desde que um viral fora morto nas redes pelo Vigia Arlo Wilson -, Michael olhava para os monitores de corrente, uma fileira de barras para cada uma das seis baterias: 54% na dois e na três, um pouco abaixo de 50% na cinco e na quatro e exatamente 50% na um e na seis, a temperatura de todas no verde, 31°C. Lá fora, nas montanhas, o vento soprando a firmes 13km/h, com rajadas que chegavam a 20. Executou cada tarefa da lista, carregando os capacitores, testando todos os relés. O que Alicia tinha dito? Você aperta um botão e as luzes se acendem? Era incrível quão pouco as pessoas entendiam.
- Você deveria verificar de novo a dois - disse Élton de sua cadeira. Ele estava colocando colheradas de queijo de cabra na boca.
- Não há nada de errado com a dois. - Apenas faça o que falei. Confie em mim.
Michael suspirou e puxou os dados das baterias de volta à tela. Realmente. A carga na número dois estava caindo: 53%, 52%. A temperatura também subia lentamente. Quis perguntar como Élton sabia, mas a resposta dele era sempre a mesma: um movimento enigmático da cabeça, como se dissesse: eu ouvi, Michael. - Abra o relê - sugeriu Élton. - Faça o teste de novo e veja se ela se ajeita. Faltava pouco para o Segundo Toque. Bem, poderiam se virar com as outras cinco baterias se fosse necessário e depois tentariam resolver o problema. Michael abriu o relê, esperou um instante para que qualquer gás que porventura houvesse se dissipasse, depois o fechou novamente. O medidor se estabilizou em 55. - Estática é tudo - disse Élton, balançando de leve a colher enquanto o Segundo Toque começava a soar. - Mas esse relê tem andado meio teimoso. A gente deveria trocá-lo.
A porta da Casa de Força se abriu. Élton levantou o rosto. - É você, Sara?
A irmã de Michael entrou, ainda vestida para cavalgar e coberta de poeira. - Boa noite, Élton.
- Ora, que cheiro é esse que estou sentindo em você? - Ele tinha um sorriso de orelha a orelha. - Lilás da montanha? Sara tirou uma mecha de cabelo suado de trás da orelha. - Estou cheirando a ovelhas, Élton. Mas, mesmo assim, obrigada. - Em seguida ela direcionou as palavras a Michael. - Você vem para casa esta noite? Pensei em cozinhar.
Michael achou que provavelmente deveria ficar onde estava, já que uma das baterias estava com problemas. Além disso, a noite era o melhor momento para operar o rádio. Mas ele não havia comido o dia inteiro, e a imagem de um prato de comida quente fez seu estômago roncar. - Você se importa, Élton?
O velho deu de ombros. - Sei onde encontrá-lo se precisar. Pode ir, se quiser.
- Quer que eu traga alguma coisa? - ofereceu Sara, enquanto Michael se levantava da cadeira. - Temos bastante.
Mas Élton balançou a cabeça, como sempre fazia. - Esta noite não, obrigado. - Em seguida pegou os fones de ouvido no balcão e os levantou. - Tenho o mundo todo como companhia. Michael e a irmã saíram para as luzes. Depois de tantas horas na penumbra, Michael teve de parar e piscar para que os olhos se acostumassem. Os dois seguiram pelo caminho, passando pelos galpões de depósito, em direção ao curral; o ar estava denso com o cheiro dos animais. Ele podia ouvir os balidos do rebanho e, enquanto andavam, o relinchar dos cavalos no estábulo. Continuando pelo caminho estreito que passava junto ao campo, abaixo do Muro Sul, Michael podia ver os corredores movendo-se de um lado para o outro ao longo das passarelas, suas silhuetas contra os holofotes. Viu Sara olhando também, a expressão distante e preocupada, os olhos brilhando com o reflexo da luz.
- Não se preocupe - disse Michael. - Ele vai ficar bem.
Sara não respondeu. Michael se perguntou se teria escutado. Não disseram mais nada até chegarem em casa. Junto à pia da cozinha, Sara se lavou enquanto Michael acendia as velas. Ela foi até o quintal e voltou um instante depois, segurando pelas orelhas um coelho de bom tamanho.
- Uau! - disse Michael. - Onde você conseguiu isso?
O humor de Sara havia melhorado, um sorriso de orgulho estampava seu rosto. Michael podia ver onde a flecha de Sara havia atravessado a garganta do animal.
- No Campo de Cima, logo depois dos fossos. Eu vinha cavalgando e lá estava ele, bem no meio do caminho.
Quanto tempo fazia que Michael não comia coelho? Quanto tempo fazia que alguém tinha visto um coelho? A maior parte dos animais selvagens havia desaparecido - a não ser os esquilos, que pareciam se multiplicar ainda mais rápido do que os virais podiam matá-los, e os pássaros pequenos, como pardais e cambaxirras, que eles não queriam ou não conseguiam pegar.
- Quer limpá-lo? - perguntou ela.
- Nem sei se lembro como fazer isso - confessou Michael.
Sara tirou a faca do cinto com uma expressão exasperada.
- Tudo bem, então seja útil e pelo menos acenda o fogo.
Fizeram um ensopado de coelho, com cenouras e batatas trazidas do depósito no porão e fubá para engrossar o caldo. Sara dizia que se lembrava da receita do pai deles, mas Michael podia ver que ela apenas estava tentando fazer igual. Não importava. Logo o aroma delicioso de carne cozinhando borbulhava no fogão, enchendo a casa toda de um calor aconchegante que Michael não sentia fazia muito tempo. Sara havia levado a pele até o quintal para raspá-la enquanto Michael vigiava o fogão. Quando ela voltou, enxugando as mãos em um pano, ele tinha pegado tigelas e colheres.
- Sabe, sei que não vai me dar ouvidos, mas você e Élton deveriam tomar cuidado.
Sara sabia sobre o rádio. Do jeito que ela vivia entrando e saindo da Casa de Força, era impossível evitar. Mas ele escondera o resto.
- É só um receptor, Sara. Nem estamos transmitindo.
- O que vocês ficam escutando lá, afinal?
Sentado à mesa, ele deu de ombros, esperando encerrar a conversa o mais rápido possível. O que poderia dizer? Ele estava procurando o Exército. Mas o exército estava morto. Todo mundo estava morto, e as luzes iriam apagar.
- Na maioria das vezes, só ruído.
Ela o olhava com atenção, as mãos nos quadris, de costas para a pia, esperando que ele falasse. Quando Michael não disse mais nada, ela suspirou e balançou a cabeça.
- Bem, tratem de não ser pegos - disse.
Comeram sem falar, à mesa da cozinha. A carne estava um pouco dura, mas era tão deliciosa que Michael não conseguia parar de suspirar enquanto mastigava. Em geral, só ia para a cama depois do amanhecer, mas seria capaz de se acomodar ali mesmo, na mesa, aninhar a cabeça sobre os braços cruzados e cair no sono. Além disso, havia algo familiar - não somente familiar, mas também um pouco triste - naquela cena: os dois comendo coelho à mesa. Sozinhos. Levantou os olhos e viu que Sara o encarava.
- Eu sei - disse ela. - Também sinto falta deles.
Então desejou contar a ela. Sobre as baterias, o diário e o que o pai deles soubera. Só para ter mais uma pessoa com quem dividir o fardo. Mas era um desejo egoísta, Michael sabia, e isso não era algo que ele se permitiria fazer.
Sara se levantou da mesa e levou os pratos até a pia. Quando terminou de lavá-los, encheu um pote de cerâmica com o que restava do ensopado e o enrolou com um pano grosso para mantê-lo aquecido.
- Vai levar isso para Walt? - perguntou Michael.
Walter era o irmão mais velho do pai deles. Sendo Almoxarife, era encarregado das Cotas, membro do Comitê de Ofícios e também Guardião - o Fisher mais velho ainda vivo -, um tripé de responsabilidades que fazia dele um dos cidadãos mais poderosos da Colônia, abaixo apenas de Soo Ramirez e Sanjay Patal. Mas também era viúvo e morava sozinho - sua esposa, Jean, fora morta na Noite Escura -, gostava demais de uísque e frequentemente deixava de comer. Quando Walt não estava no Armazém, geralmente podia ser encontrado no alambique que mantinha no barracão atrás de sua casa ou então apagado em algum lugar dentro dela.
Sara balançou a cabeça.
- Acho que não posso encarar Walt agora. Vou levar para Élton.
Michael olhou o rosto dela. Sabia que Sara estava pensando em Peter de novo.
- Você deveria relaxar um pouco. Tenho certeza de que ele está bem.
- Eles estão demorando.
- Só um dia de atraso. Acontece sempre.
A irmã não disse nada. Era terrível o que o amor podia fazer às pessoas, pensou Michael. Não conseguia ver o sentido daquilo.
- Olhe, Lish está com eles. Tenho certeza de que estão em segurança.
Sara fez uma careta, desviando o olhar.
- É justamente com Lish que estou preocupada.
Foi primeiro ao Abrigo, como costumava fazer quando estava sem sono. Gostava de olhar as crianças aconchegadas na cama. Não sabia se isso a fazia sentir-se melhor ou pior. Mas fazia sentir alguma coisa além da dor oca da preocupação.
Gostava de se lembrar do tempo que passara ali quando era uma Pequena, quando o mundo parecia um lugar seguro, até mesmo feliz, e ela não se preocupava com nada a não ser saber quando os pais chegariam para a visita, ou se a Professora estava de bom humor naquele dia ou não, e quem era amigo de quem. Na maior parte do tempo, não lhe parecera estranho que ela e o irmão morassem no Abrigo e os pais em outro lugar - nunca havia conhecido uma existência diferente e quando eles iam lhes dar boa-noite, Sara nunca pensava em perguntar para onde iam quando a visita acabava. Precisamos ir agora, diziam eles, quando a Professora anunciava que estava na hora, e essa única palavra, ir, se transformava em uma explicação perfeitamente plausível na mente de Sara, e provavelmente na de Michael também: os pais vinham, ficavam um pouquinho e depois precisavam ir. Muitas de suas melhores lembranças dos pais vinham daquelas curtas visitas, quando eles liam uma história para Michael e ela ou simplesmente os punham na cama.
Mas uma noite, sem querer, ela estragou tudo. Onde vocês dormem?, perguntou quando a mãe se preparava para ir embora. Se não dormem aqui, com a gente, para onde vocês vão? E quando Sara perguntou isso, algo pareceu despencar por trás dos olhos de sua mãe, como uma persiana sendo fechada rapidamente em uma janela. Ah, disse a mãe, transformando a expressão em um sorriso que Sara logo detectou como sendo falso. Nós não dormimos, na verdade. Dormir é uma coisa para você, Pequena Sara, e para o seu irmão, Michael. E a expressão no rosto da mãe ao dizer essas palavras marcou a primeira vez, Sara acreditava agora, em que tinha vislumbrado a terrível verdade.
Era verdade o que todo mundo dizia: você odiava a Professora por contar. Como Sara havia amado a Professora até aquele dia! Tanto quanto amava os pais, talvez mais. Seu oitavo aniversário: ela sabia que algo iria acontecer, algo maravilhoso, sabia que as crianças que completavam 8 anos iam para um lugar especial, porém nada mais específico do que isso. Os que retornavam - para visitar um irmão mais novo ou ter Pequenos - estavam mais velhos e, tanto tempo havia se passado, que tinham se tornado pessoas totalmente diferentes, e o lugar onde haviam estado e o que tinham feito era um segredo que você não podia saber. E aquilo era tão especial justamente porque era segredo, um lugar novo que os esperava fora das paredes do Abrigo. A ansiedade se acumulava dentro dela à medida que o aniversário ia chegando. A empolgação era tanta que nunca lhe ocorrera pensar no que aconteceria a Michael sem ela; o dia dele também chegaria. A Professora orientava as crianças a não falar sobre isso, mas é claro que os Pequenos falavam quando ela não estava por perto. No banheiro, no refeitório ou à noite, no Quarto Grande, sussurros viajavam de um lado para o outro na fila de beliches, conversas cujo assunto era sempre a liberação ou quem seria o próximo da fila. Como seria o mundo fora do Abrigo? Será que as pessoas moravam em castelos, como nos livros? Que animais eles encontrariam, e será que os animais falavam? (Os camundongos na gaiola que a Professora tinha na sala de aula eram de um silêncio desencorajador, todos eles.) Que comidas maravilhosas haveria para comer, que brinquedos incríveis para brincar? Esperar o dia glorioso em que pisaria no mundo fora o momento mais empolgante na vida de Sara.
Acordou na manhã do aniversário sentindo que flutuava em uma nuvem de felicidade. No entanto, de algum modo, teria de conter esse júbilo até a hora do descanso. Só então, quando os Pequenos estivessem dormindo, a Professora a levaria até o lugar especial. Ainda que ninguém dissesse nada sobre o assunto, durante todo o café da manhã e a hora da roda ela sentiu que todos estavam felizes por ela, a não ser Michael, que, emburrado, não fazia o menor esforço para esconder a inveja e se recusava a falar com ela. Bem, Michael era assim mesmo. Se não podia ficar feliz por ela, Sara não deixaria isso estragar seu dia especial. Só depois do almoço, quando a Professora chamou todo mundo para se despedir, ela começou a imaginar se ele não saberia algo que ela não sabia. O que foi, Michael?, perguntou a Professora. Não pode dizer adeus à sua irmã, não pode ficar feliz por ela? E Michael olhou para Sara e disse: Não é o que você está pensando, Sara. Depois abraçou-a depressa e saiu correndo da sala antes que ela pudesse dizer uma palavra.
Aquilo era estranho, ela pensara na ocasião - e ainda pensava, mesmo agora, tantos anos depois. Como Michael sabia? Muito mais tarde, quando os dois estavam sozinhos de novo, ela se lembrou dessa cena e perguntou a ele. Como você sabia? Mas Michael apenas balançou a cabeça. Eu simplesmente sabia, respondeu. Não os detalhes, mas que tipo de coisa era. O modo como papai e mamãe falavam quando colocavam a gente na cama, à noite. Dava para ver nos olhos deles.
Mas naquele dia, na tarde em que foi liberada, quando Michael correu para longe e a Professora pegou sua mão, ela não ficou pensando nisso por muito tempo. Simplesmente considerou que era coisa do Michael. As últimas despedidas, os abraços, a sensação da chegada do momento: Peter estava lá e Maus Patal, Ben Chou, Galen Strauss, Wendy Ramirez e todos os outros, abraçando-a, dizendo seu nome. Lembre-se de nós, diziam eles. Ela segurava a sacola com suas coisas, as roupas, os chinelos e a pequena boneca de pano que tivera desde que era bebê - as crianças tinham permissão de levar um brinquedo. A Professora a pegou pela mão e a levou para fora do Quarto Grande, para o pequeno pátio cercado de janelas onde as crianças brincavam quando o sol estava alto no céu, onde ficavam os balanços, a gangorra e as pilhas de pneus para escalar. Então as duas passaram por outra porta, chegando a uma sala que ela nunca havia visto antes. Parecia uma sala de aula, mas estava vazia, as estantes nuas, sem figuras nas paredes.
A Professora fechou a porta depois de entrarem. Uma parada estranha e prematura: Sara havia esperado mais do que isso. Para onde ela iria?, perguntou à Professora. Seria uma viagem longa? Alguém viria buscá-la? Quanto tempo teria de esperar naquela sala? Mas a Professora pareceu não ouvir essas perguntas, Agachou-se diante dela, posicionando o rosto largo e suave perto do de Sara. Pequena Sara, perguntou ela, o que você acha que há lá fora, para além deste prédio e destes cômodos onde você vive? E o que acha dos homens que você vê algumas vezes, aqueles que vêm e vão à noite, cuidando de vocês? A Professora sorria, mas havia algo diferente naquele sorriso, pensou Sara, algo que a deixou com medo. Não queria responder, mas a Professora olhava para ela diretamente, o rosto cheio de expectativa. Sara pensou nos olhos da mãe na noite em que perguntara onde ela dormia. Um castelo?, disse, porque no nervosismo súbito essa foi a única coisa em que pôde pensar. Um castelo com um fosso? Um castelo, disse a Professora. Sei. E o que mais, Pequena Sara? O sorriso sumiu de repente. Não sei, respondeu Sara. Bem, disse a Professora, e pigarreou. Não é um castelo.
E foi então que contou a ela.
A princípio Sara não acreditou. Mas não foi exatamente isso: sentia como se sua mente tivesse se partido em duas, e uma metade, a metade que não sabia, que acreditava ainda ser uma Pequena, sentada numa roda, brincando no pátio e esperando os pais chegarem para colocá-la na cama à noite, estava dizendo adeus à metade que de algum modo sempre soubera. Como se estivesse dizendo adeus a si mesma. Isso a deixou tonta e enjoada, e então começou a chorar, e a Professora a pegou pela mão de novo e a levou por outro corredor que saía do Abrigo, onde seus pais a esperavam para levá-la para casa - a casa onde Sara e Michael ainda moravam, que até aquele dia ela não soubera que existisse. Não é verdade, dizia ela por entre as lágrimas, não é verdade. E sua mãe, que também chorava, pegou-a no colo e a apertou, dizendo: sinto muito, meu amor, sinto muito. É verdade, sim.
Essa era a lembrança que sempre lhe vinha à mente quando se aproximava do Abrigo, que agora lhe parecia muito menor do que na época, muito mais simples. Um velho prédio de tijolos com o nome Escola F. D. Roosevelt gravado em pedras acima da porta. Do caminho pôde ver a figura de um único Vigia de pé na escada da frente: Hollis Wilson. - Olá, Sara.
- Boa noite, Hollis.
Hollis equilibrava uma besta no quadril. Sara não gostava delas: eram potentes, mas lentas para recarregar, e além disso eram pesadas. Todo mundo dizia que era quase impossível distinguir Hollis do irmão, até que ele raspou a barba, mas Sara não entendia o porquê: mesmo quando eles eram Pequenos - os irmãos Wilson haviam chegado três anos antes dela -, ela sempre soubera quem era quem. Sabia por causa dos detalhes que a maioria das pessoas talvez não notasse no primeiro olhar - como o fato de que Hollis era um pouquinho mais alto, os olhos um pouco mais sérios -, mas que pareciam óbvios a ela.
Enquanto Sara subia os degraus, Hollis inclinou a cabeça na direção do pote que ela carregava, e os lábios dele se abriram em um sorriso.
- O que você trouxe para mim?
- Ensopado de coelho. Mas infelizmente não é para você.
O rosto dele demonstrou a surpresa.
- Nossa! Onde você o pegou?
- No Campo de Cima.
Ele deu um pequeno assobio, balançando a cabeça. Sara podia ver a fome em seu rosto.
- Nem posso dizer como sinto falta de ensopado de coelho. Posso cheirar?
Ela puxou o pano de lado e abriu a tampa. Hollis inclinou a cabeça em direção ao pote e inspirou profundamente.
- Será que posso convencer você a deixar isso aqui enquanto vai lá dentro?
- Nem pensar, Hollis. Vou levar para Élton.
Hollis deu de ombros.
- Eu tentei. Muito bem, agora entregue sua faca.
Ela tirou a faca e a estendeu para ele. Só os Vigias podiam portar armas no Abrigo e, mesmo assim, deveriam mantê-las fora da visão das crianças.
- Não sei se você soube - disse Hollis enquanto enfiava a faca no cinto. - Temos uma nova residente.
- Fiquei fora com o rebanho o dia todo. Quem é?
- Maus Patal. Acho que não é uma grande novidade. - Hollis fez um sinal com a besta, apontando o caminho. - Galen acabou de sair. Estou surpreso de você não o ter visto.
Sara estivera perdida demais em pensamentos. Galen poderia ter passado direto por ela sem que notasse. E Maus, grávida. Por que ela estava surpresa?
- Que bom - conseguiu dar um sorriso, imaginando o que estaria sentindo. Seria inveja? - Ótima notícia.
- Faça um favor e diga isso a ela. Você deveria ter ouvido os dois discutindo. Provavelmente acordaram metade dos Pequenos.
- Ela não está feliz?
- Era mais o Galen, eu acho. Não sei. Você é uma mulher inteligente, Sara. Deve saber.
- Não adianta ficar me bajulando, Hollis.
Ele deu um sorriso maroto. Sara gostava de Hollis, de seu jeito descontraído.
- Só estou brincando - disse ele, e apontou para a porta com a cabeça. - Se Dora estiver acordada, mande um beijinho do tio Hollis.
- Como Leigh está? Por causa do atraso de Arlo.
- Leigh já passou por isso. Eu disse a ela que havia um monte de motivos para que eles não voltassem hoje.
Quando entrou, Sara deixou o ensopado na secretaria e foi até o Quarto Grande, onde todos os Pequenos dormiam. O cômodo havia sido o ginásio de esportes da escola. A maior parte das camas estava vazia; fazia anos que o Abrigo não operava nem perto da capacidade máxima. As cortinas estavam fechadas e a única iluminação vinha de estreitas nesgas de luz que caíam sobre as silhuetas das crianças adormecidas. O ambiente cheirava a leite, suor e cabelo aquecido pelo sol: cheiro de crianças depois de um dia de atividades.
Sara se esgueirou entre as fileiras de camas e berços. Kat Curtis, Bart Fisher e Abe Phillips; Fanny Chou e suas irmãs Wanda e Susan; Timothy Molyneau e Beau Greenberg, que todo mundo chamava de "Bowow", um apelido que grudara como cola; as três "Jotas": Juliet Strauss, June Levine e Jane Ramirez, a filha mais nova de Rey.
Sara chegou a um berço no final da última fileira: Dora Wilson, filha de Leigh e Arlo. Leigh estava sentada numa cadeira de balanço ao lado dela. As mães tinham permissão de ficar no Abrigo por um ano depois que os bebês nasciam. Leigh ainda carregava um pouco do excesso de peso da gravidez. A luz pálida do cômodo, seu rosto largo parecia quase transparente, a pele pálida depois de tantos meses em um lugar fechado. Um gordo novelo de lã e um par de agulhas de tricô estavam em seu colo. Ela ergueu os olhos quando Sara se aproximou. - Oi - disse baixinho.
Sara a cumprimentou com um movimento silencioso de cabeça e foi até o berço. Dora, que estava apenas de fralda, dormia de costas, os lábios abertos em uma delicada forma de O. Ela roncava levemente, e o vento suave e úmido de sua respiração roçou no rosto de Sara como um beijo. Ver um bebê dormindo faz a gente quase esquecer como é o mundo, pensou.
- Não se preocupe, você não vai acordá-la. - Leigh cobriu um bocejo com a mão e voltou a tricotar. - Essa aí dorme como os mortos.
Sara decidira não procurar Mausami. O que quer que estivesse acontecendo entre ela e Galen, não era da sua conta. De certa forma, sentia pena de Galen. Ele sempre tivera uma queda por Maus - era como uma doença da qual não conseguia se curar - e, quando pediu a mão dela em casamento, todos disseram que ela só dissera sim porque Theo a havia rejeitado ou não chegara a tomar a iniciativa, e aquela seria uma forma de instigá-lo a agir. Não seria a primeira mulher a cometer esse erro.
Mas enquanto seguia pelo caminho, Sara pensou: Por que algumas coisas são tão difíceis? Porque acontecia o mesmo com ela e Peter. Sara o amava, sempre havia amado, mesmo quando eram Pequenos, no Abrigo. Não podia explicar, mas, desde que se lembrava, sentia esse amor, como um fio de ouro invisível que unia os dois. Era mais do que atração física: o que ela mais amava era a parte quebrada que havia dentro dele, o lugar inalcançável onde ele mantinha sua tristeza. Porque esse era o ponto de Peter Jaxon que ninguém a não ser ela conhecia, porque o amava daquele jeito: quão terrivelmente triste ele era. E não era somente no dia a dia, a tristeza comum que todo mundo carregava pelas coisas e pessoas que haviam perdido; havia algo mais. Se pudesse encontrar essa tristeza e tirá-la e Sara acreditava que Peter a amaria em troca.
Fora esse o motivo que a levara a ser enfermeira: se não podia ser da Vigilância - e absolutamente não podia -, a Enfermaria, que tinha Prudence Jaxon à sua frente, era a segunda melhor opção. Uma centena de vezes quase havia perguntado a ela: o que posso fazer? O que posso fazer para que seu filho me ame? Mas no fim Sara ficou quieta. Ela havia decidido se dedicar a aprender o ofício da melhor forma que pudesse e esperar por Peter, na esperança de que ele soubesse o que estava oferecendo, simplesmente por estar ali.
Peter a havia beijado uma vez. Ou talvez Sara o tivesse beijado. A questão de quem havia beijado quem, parecia irrelevante se comparada ao beijo propriamente dito. Eles tinham se beijado. Fora na Primeira Noite; era tarde e fazia frio. Todos tinham bebido uísque feito em casa, ouvindo Arlo tocar seu violão sob as luzes, e, enquanto o grupo se dispersava na última hora antes do alvorecer, Sara se viu andando sozinha com Peter. Estava meio tonta por causa do uísque, mas não achava que estivesse bêbada, nem que ele estivesse. Um silêncio nervoso caiu sobre os dois enquanto seguiam pelo caminho, não uma ausência de som ou fala, mas algo palpável e levemente elétrico, como os espaços entre as notas do violão de Arlo. Era nessa bolha de expectativa que eles andavam juntos sob as luzes, sem se tocar, mas mesmo assim conectados, e, quando chegaram à casa dela, nenhum dos dois tendo reconhecido que era para lá que iam - o silêncio era uma bolha mas também era um rio cuja correnteza os puxava -, parecia não haver como impedir o que veio em seguida. Estavam encostados na parede da casa dela, em um triângulo de sombra. Primeiro a boca de Peter, depois o resto dele encostado nela. Não como nas brincadeiras de que todos haviam participado no Abrigo, ou nas primeiras tentativas desajeitadas da puberdade - a sexualidade não era reprimida: podiam se envolver com qualquer um por quem se interessassem, desde que mantivessem a regra não escrita do isso e não mais que isso; tudo, no fim, parecia uma espécie de ensaio -, e sim algo mais profundo, cheio de promessas. Ela se sentiu envolvida por um calor que quase não reconheceu: o calor do contato humano, de estar realmente com alguém, não mais sozinha. Teria se entregado imediatamente, se ele quisesse.
Mas então acabou. Subitamente ele ficou distante.
"Desculpe", ele conseguira dizer, como se acreditasse que ela não havia desejado aquilo. Mas o beijo devia ter revelado que sim, ela o desejara; porém, nesse momento, algo havia mudado no ar, a bolha tinha estourado e os dois estavam sem graça demais, confusos demais para dizer qualquer outra coisa. Ele a deixou junto à porta e esse foi o fim. Desde aquela noite não tinham mais ficado juntos. Mal haviam trocado uma palavra.
Porque ela soube, soube quando ele a beijou, e depois mais e mais, à medida que os dias passavam. Peter não era seu, nunca poderia ser, porque havia outra.
Sentia isso como um fantasma entre eles, no beijo. Agora tudo fazia sentido, uma espécie de sentido sem esperanças. Enquanto ela o esperava na Enfermaria, mostrando a ele quem era, ele estava no Muro com Alicia Donadio o tempo todo.
Agora, enquanto levava o ensopado para a Casa de Força, lembrou-se de Gabe Curtis e decidiu parar na Enfermaria. Pobre Gabe - só 40 anos e já com câncer. Não havia muito que pudessem fazer por ele. Sara achava que a doença havia começado no estômago ou então no fígado. Na verdade não importava. A ermaria, localizada em frente ao Solário, do outro lado do Abrigo, era uma uena estrutura de madeira na parte da Colônia que chamavam de Cidade Velha - um quarteirão com meia dúzia de construções que um dia haviam abrigado várias lojas e oficinas. O prédio que servia de Enfermaria havia sido um armazém; quando o sol da tarde batia num certo ângulo na vitrine da frente, ainda dava para identificar o nome no vidro: Mountaintop Provisões Ltda., Comidas e Bebidas Finas, Fundado em 1996.
Um único lampião iluminava a sala externa, onde Sandy Chou - todo mundo a chamava de a Outra Sandy, já que antes havia duas Sandy Chou, sendo que a primeira era a esposa de Ben Chou, que morrera durante o parto - estava curvada sobre a mesa, amassando sementes de endro em um pilão. O ar estava quente e pesado de umidade. Atrás da mesa, uma chaleira soltava uma coluna de vapor em cima do fogão. Sara pôs o ensopado de lado e tirou a chaleira do fogo, pondo-a no descanso de metal. Retornando à mesa, inclinou a cabeça para o endro, que Sandy estava coando. - É para Gabe?
; Sandy assentiu. O endro supostamente era um analgésico, mas eles o usavam para tratar uma variedade de doenças - gripe, diarreia, artrite. Sara não sabia com certeza se a planta fazia efeito, mas, segundo Gabe, ela o ajudava a suportar a dor, e era a única coisa que ele mantinha no estômago.
- Como ele está?
Sandy estava derramando a água pelo coador em uma caneca de cerâmica com a borda lascada e as palavras NOVO PAPAI escritas com letras formadas por alfinetes de fralda.
- Estava dormindo ainda há pouco. A icterícia piorou. O filho dele acaba de sair. Mar está lá dentro com ele.
Sara pegou a caneca e atravessou a cortina. A Enfermaria tinha seis leitos, mas apenas um estava ocupado. Mar estava sentada numa cadeira ao lado da cama do marido. Era uma mulher magra, como um passarinho, e vinha cuidando de Gabe desde que ele adoecera, um fardo que podia ser visto nas olheiras causadas por uma infinidade de noites maldormidas. Eles tinham um filho, Jacob, que tinha uns 16 anos e trabalhava na leiteria com a mãe: um garoto grande e desajeitado cujo rosto possuía uma doçura vazia; que não sabia ler nem escrever e que; mais aprenderia, capaz de realizar apenas as tarefas mais básicas, e desde que alguém estivesse perto para instruí-lo. Uma vida dura, infeliz, e agora isso. Com mais de 40 anos e Jacob para cuidar, era pouco provável que Mar se casasse de novo.
Quando Sara se aproximou, Mar levantou os olhos e levou o indicador aos lábios. Sara assentiu e ocupou uma cadeira ao lado dela. Sandy estava certa: a icterícia havia piorado. Antes da doença, Gabe era um homem grande - tão grande quanto sua mulher era pequena com ombros largos, bem definidos, e braços volumosos feitos para o trabalho, além de uma barriga redonda e próspera que pendia sobre o cinto como um saco de comida: um homem vigoroso que Sara nunca vira na Enfermaria até o dia em que chegara reclamando de dor nas costas e indigestão e pedindo desculpas, como se aquilo fosse um sinal de fraqueza ou uma falha de caráter, e não o início de uma doença séria. (Quando Sara apalpou seu fígado, as pontas dos dedos percebendo instantaneamente o que crescia ali dentro, entendeu que ele devia estar sentindo dores realmente terríveis.)
Agora, meio ano depois, o homem que Gabe Curtis fora não existia mais, tendo sido substituído por uma casca que se agarrava à vida por pura força de vontade. Seu rosto, que um dia fora cheio e corado como uma maçã madura, havia se encolhido até virar uma coleção de rugas e ângulos, como um esboço feito às pressas. Mar havia aparado sua barba e unhas; os lábios rachados estavam cobertos por um unguento brilhante pego de um pote de boca larga que estava no carrinho ao lado da cama - um pequeno conforto, pequeno e inútil como o chá.
Sara se sentou por alguns instantes ao lado de Mar, as duas em silêncio. Sara sabia que a vida às vezes se prolongava demais, assim como também podia terminar mais cedo que deveria. Talvez o que mantivesse Gabe vivo fosse o medo de deixar Mar sozinha.
Até que Sara se levantou, pondo a caneca no carrinho.
- Se ele acordar, veja se bebe isso - disse ela.
Lágrimas de exaustão pendiam dos cantos dos olhos de Mar.
- Eu disse a ele que está tudo bem, que pode partir.
Sara demorou um momento.
- Que bom que você fez isso - respondeu. - Às vezes é tudo o que a pessoa precisa ouvir.
- É por causa de Jacob, sabe? Gabe não quer deixá-lo. Eu disse que ficaremos bem, que ele pode ir. Foi o que eu disse a ele.
- Sei que vão ficar bem, Mar. - As palavras dela pareciam pequenas. - Gabe também sabe.
- Ele é teimoso demais. Ouviu isso, Gabe? Por que você tem de ser tão teimoso o tempo todo?
! Então Mar cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar, Sara ficou em silêncio por algum tempo, sabendo que não podia fazer nada para aliviar a dor daquela mulher. Sabia que o sofrimento era um lugar aonde a pessoa ia sozinha. Era como um cômodo sem portas, e o que acontecia ali dentro, toda a dor e a raiva que se sentia, destinava-se a ficar ali, não era da conta de mais ninguém. - Desculpe, Sara - disse Mar finalmente, balançando a cabeça. - Você não precisava ter escutado isso.
- Tudo bem. Não faz mal.
- Se ele acordar vou dizer que você esteve aqui. - Em meio às lágrimas, ela conseguiu dar um sorriso triste. - Sei que Gabe sempre gostou de você. Você era a enfermeira predileta dele.
Era meia-noite quando Sara chegou à Casa de Força. Abriu a porta em silêncio e entrou. Élton estava sozinho, dormindo diante do painel, os fones de ouvido grudados à cabeça.
Ele acordou sobressaltado quando a porta se fechou atrás dela.
- Michael?
- É Sara.
Ele tirou os fones do ouvido e se virou na cadeira, farejando o ar.
- Que cheiro é esse?
- É só um ensopado de coelho. Mas provavelmente já está gelado.
- E daí? - Ele se ajeitou na cadeira. - Mande para cá.
Sara colocou o pote na frente dele. Élton pegou uma colher suja no balcão diante do painel. - Acenda a lâmpada, se quiser.
- Gosto do escuro. Se você não se importar.
- Para mim não faz diferença.
Durante algum tempo ela ficou assistindo enquanto ele comia à luz do painel. Havia algo quase hipnótico nos movimentos de Élton, a mão levando a colher ao pote e depois à boca, com uma precisão calma, sem que qualquer gesto fosse desperdiçado.
- Você está me olhando - disse Élton.
Ela sentiu o rubor subindo às bochechas.
- Desculpe.
Ele terminou de comer o ensopado e limpou a boca em um pano.
- Não precisa se desculpar. Para mim, você é a melhor coisa que existe por aqui. Uma garota bonita como você pode me olhar quanto quiser.
Ela riu, sem saber se de vergonha ou incredulidade.
- Você nunca me viu, Élton. Como pode saber como eu sou?
Élton deu de ombros, os olhos inúteis se revirando para cima por trás das pálpebras caídas - como se a imagem dela estivesse ali, na escuridão de sua mente, para ele ver.
- Sua voz. O modo como fala comigo, como fala com Michael. Como cuida dele. Belo é quem faz coisas belas, é o que eu sempre digo.
Ela se ouviu suspirando.
- Não me sinto assim.
- Confie no velho Élton - disse ele, com uma risadinha. - Alguém vai amar você.
Havia algo que sempre fazia com que ela se sentisse melhor quando estava perto de Élton. Ele era um paquerador inveterado, para começar, mas esse não era o verdadeiro motivo. Ele simplesmente parecia mais feliz do que todo mundo que ela conhecia. O que Michael dizia sobre Élton era verdade: a cegueira não significava que lhe faltasse alguma coisa; era só diferente.
- Acabei de vir da Enfermaria.
- Não falei? Sempre cuidando das pessoas - disse ele, assentindo. - Como vai Gabe?
- Não muito bem. Está péssimo, na verdade. E Mar está sofrendo muito. Queria poder fazer mais alguma coisa por ele.
- Algumas coisas a gente pode fazer, outras não. Chegou a hora de Gabe. Você fez tudo o que estava ao seu alcance.
- Não foi suficiente.
- Nunca é suficiente.
Élton se virou para tatear o balcão, localizando os fones de ouvido, que estendeu para ela.
- Agora, já que me trouxe um presente, tenho um para você. Uma coisinha para animá-la.
- Élton, eu não teria a mínima ideia do que deveria escutar. Para mim é tudo estática.
Havia um sorriso maroto no rosto dele.
- Faça o que eu digo. E feche os olhos.
Os fones pareciam quentes de encontro aos seus ouvidos. Ela sentiu Élton movendo as mãos sobre o painel, os dedos deslizando aqui e ali. Então escutou: música. Mas não era como qualquer outra música que ela conhecesse. A princípio pareceu-lhe um som distante, oco, como um sopro de vento, e então, surgindo ao fundo, notas agudas como o canto de pássaros pareciam dançar dentro da sua cabeça. O som crescia e crescia, parecendo vir de todas as direções, e então soube o que estava escutando: era uma tempestade. Podia visualizá-la na mente, uma grande tempestade de música varrendo sua alma. Nunca ouvira nada tão lindo na vida. Quando as últimas notas morreram, tirou os fones dos ouvidos.
- Não estou entendendo - disse atônita. - Isso veio pelo rádio? Élton deu um risinho.
- Ora, seria incrível, não?
Ele mexeu no painel de novo. Uma pequena gaveta se abriu, ejetando um disco prateado: um CD. Sara nunca havia prestado muita atenção neles, e Michael dizia que eram só barulho. Pegou o disco, segurando-o pelas bordas. Stravinsky, A sagração da primavera. Orquestra Sinfônica de Chicago, regência de Erich Leinsdorf.
- Achei que você deveria ouvir como você é - disse Élton.
VINTE E DOIS
Oque não entendo - dizia Theo - é por que vocês três não estão mortos.
O grupo estava sentado à mesa comprida na sala de controle, todos menos Finn e Rey, que haviam retornado ao alojamento para dormir. Alguém havia tirado um pedaço de gelo de um dos condensadores e Peter o pressionava agora, enrolado em um pano sujo, contra a articulação machucada. O efeito da adrenalina tinha passado, e a dor no tornozelo, que não parecia estar quebrado, se estabilizara num latejar vagaroso. O fato de ter acabado de matar Zander Phillips, um homem que ele conhecera, ainda não havia produzido qualquer emoção que Peter pudesse identificar. A informação era simplesmente estranha demais para ser processada. Mas a chave da usina ainda estava pendurada no :oço do viral, de modo que não poderia haver dúvida de quem ele era. Ele não tivera escolha, claro. Zander estava completamente tomado. Rigorosamente falando, o ser que havia tentado passar pela escotilha não era mais Zander Philips No entanto, Peter não conseguia apagar a sensação de que, no último instante antes de apertar o gatilho, havia detectado um brilho de reconhecimento nos olhos da criatura - uma expressão, talvez, mesmo de alívio.
Depois do ataque, Theo interrogara Caleb cuidadosamente. A história do garoto não fazia sentido, mas também era claro que ele estava sofrendo de exaustão e por ter ficado ao relento. Tinha a boca inchada e os lábios rachados, um hematoma grande na testa e cortes nos pés. Parecia estar sofrendo mais por causa dos tênis perdidos do que qualquer outra coisa. Era um Nike Push-Off preto, explicou ele, novinhos em folha, pegos na Footlocker, no shopping. Haviam se soltado de algum modo enquanto corria pelo vale, mas ele estava tão apavorado que nem notara.
- Podemos conseguir um par novo para você - disse Theo. - Apenas nos fale sobre Zander.
Caleb comia enquanto falava, mordiscando biscoitos duros e ajudando-os a descer com um copo d'água. Bem, tudo parecia normal, explicou Caleb, até uns seis dias atrás, quando Zander começara a agir de modo... estranho. Muito estranho. Até mesmo para Zander, o que significava muita coisa. Não queria sair da usina e não dormia. Ficava andando de um lado para o outro na sala de controle a noite toda, falando sozinho. Caleb achou que ele havia apenas passado muito tempo na usina, que quando a equipe substituta chegasse, Zander voltaria ao normal.
- Até que um dia ele anunciou que íamos para o campo e me mandou preparar a carroça. Eu estava sentado aqui, almoçando, e ele entrou e falou isso. Queria trocar um dos reguladores na seção oeste. "Tudo bem, mas por que tanta pressa? Não está meio tarde para irmos até o campo?" Mas ele estava com uma expressão estranha nos olhos e cheirava mal. Quero dizer, ele fedia. Perguntei se estava bem, e ele disse: "Vá pegar suas coisas, já estamos indo."
- Quando foi isso?
Caleb engoliu em seco.
- Há três dias.
Theo se inclinou para a frente na cadeira.
- Você ficou lá fora por três dias?
Caleb assentiu. Havia terminado o último biscoito e começado a devorar um prato de pasta de soja com os dedos.
- Então saímos com a mula, mas o negócio é o seguinte: não fomos para o campo oeste, e sim para o leste. Nada funciona lá há anos. É só um monte de postes desativados. E demora uma eternidade para chegar lá, duas horas de carroça,; pelo menos. Já era meio-dia, a gente já estava com o tempo apertado. Aí eu disse:
"Zander, o oeste é para lá, meu chapa. O que, diabos, estamos fazendo aqui? Está tentando nos matar?" Aí chegamos até a torre que ele tinha dito que queria consertar, que na verdade era só um monte de metal enferrujado. Completamente estragada. Dava para ver do chão. Trocar o regulador não ia adiantar nada, de jeito nenhum. Mas era o que ele queria fazer, por isso eu subi a porcaria da escada, montei o guincho e comecei a tirar a caixa antiga, trabalhando o mais rápido que podia. Estava pensando: certo, isso não faz muito sentido, dá para ver claramente, estamos arriscando o pescoço em troca de nada, mas talvez ele saiba alguma coisa que eu não sei. De qualquer modo, foi aí que eu ouvi o grito.
- Zander gritou? Caleb balançou a cabeça.
- A mula. Não estou brincando, foi exatamente o que pareceu. Nunca ouvi nada igual. Quando olhei para baixo ela estava tombada, caída que nem um saco de pedras. Demorei um segundo para perceber o que estava vendo. Era sangue. Muito sangue. - Ele enxugou a boca gordurosa com as costas da mão e empurrou o prato vazio. - Zander sempre dizia que este negócio tinha gosto de testículos. Aí eu perguntava: "Quando foi que você comeu testículos, Zander?" como se eu quisesse mesmo saber. Mas, depois de três dias sem comer, até que não é tão ruim. Theo suspirou, impaciente. - Caleb, por favor. O sangue...
Ele tomou um longo gole de água.
- Certo, tudo bem, pois é. O sangue. Zander estava ajoelhado perto da mula e eu gritei: "Zander, o que, diabos, aconteceu?" Quando ele levantou, vi que estava sem camisa, tinha uma faca na mão e sangue espalhado pelo corpo todo. De algum modo eu não tinha percebido os sinais. Pensei que só teria uns cinco segundos antes de ele subir e me pegar. Mas ele não subiu. Só ficou sentado na base da torre, na sombra de uma das estruturas, onde eu não podia vê-lo. Gritei: "Zander, escute. Você tem de lutar contra essa coisa." Eu estava sozinho lá em cima. Talvez, se conseguisse distraí-lo por tempo suficiente, pudesse tentar fugir.
- Não entendo - disse Alicia. - Como ele teria se infectado?
- Aí é que está - continuou Caleb. - Não consegui entender isso também. Eu ficava com ele praticamente todos os minutos do dia.
- E à noite? - perguntou Theo. - Se ele não dormia, talvez tenha saído.
- Acho que é possível, mas por que ele iria sair? Além disso, ele não parecia diferente, a não ser pelo sangue.
- E os olhos?
- Nada. Não estavam laranja, pelo que pude ver. Estou dizendo, foi esquisito.
Eu estava preso na torre, com Zander embaixo, talvez tomado e talvez não, mas, de qualquer modo, em algum momento ia escurecer. Gritei: "Zander, olhe, eu vou descer, de um jeito ou de outro." Não estava armado, só tinha uma chave inglesa, mas talvez eu pudesse arrebentar a cabeça dele e ir embora. Além disso tinha de dar um jeito de pegar a chave que estava com ele. Da escada não dava para ver, então, quando estava a uns três metros do chão, decidi: que diabos, vol pular. Era um risco grande, mas achei que já estava morto de qualquer jeito. Pulei e me levantei imediatamente, a chave inglesa pronta para bater. Mas ela tinha sumido. Fora arrancada da minha mão. Zander estava atrás de mim. Foi quando ele disse: "Volte para cima."
- "Volte para cima"? - perguntou Arlo.
Caleb assentiu.
- Não estou brincando, foi o que ele disse. E se ele estava virando, ainda não dava para saber. Mas ele tinha uma faca em uma das mãos, a chave inglesa na outra, estava coberto de sangue, e, sem a chave, eu não podia voltar para a usina. Perguntei: "O que você quer dizer com volte para cima?", e ele respondeu: "Você vai ficar seguro se voltar para cima da torre." E foi o que eu fiz. - O garoto deu de ombros. - Foi onde eu fiquei nos últimos três dias, até ver vocês na estrada do Leste.
Peter olhou para o irmão. A expressão de Theo indicava que ele também não sabia o que pensar da história de Caleb. Qual teria sido a intenção de Zander? Já teria sido tomado ou não? Havia muitos anos - e isso não fazia parte da memória de ninguém vivo - que ninguém testemunhava diretamente os efeitos dos primeiros estágios da infecção. Mas existiam muitas histórias, principalmente dos primeiros dias, do tempo dos Andarilhos, sobre comportamentos estranhos-não só a fome de sangue e o despir-se espontaneamente, que todo mundo sabia serem alguns dos sintomas. Expressões vocais estranhas, discursos em público, hiperatividade. Dizia-se que um Andarilho tinha invadido o Armazém e comido a si próprio até a morte. Outro havia matado todos os filhos enquanto dormiam antes de atear fogo ao próprio corpo. Um terceiro tinha ficado nu, subido à passarela à vista da Vigilância e recitado, a plenos pulmões, todo o Discurso de Gettysburg - existia uma cópia pendurada na parede de uma das salas de aula no Abrigo - e 25 versos de uma música infantil antes de se jogar do Muro, 20 metros abaixo.
- E os fumaças? - perguntou Theo.
- Bem, essa é a parte curiosa. Foi exatamente como Zander tinha dito. Nenhum deles apareceu. Pelo menos nenhum que chegasse perto. De vez em quando eu podia vê-los à noite, andando no vale. Mas eles me deixaram em paz. Não gostam de caçar nos campos das turbinas. Zander sempre achou que o movimento os atrapalhava, de modo que talvez esse seja um dos motivos, não sei. Caleb fez uma pausa. Peter podia ver que o peso daquela terrível experiência finalmente caía sobre o rapaz.
- Depois que me acostumei, na verdade não foi tão ruim. Depois disso não vi mais Zander. Podia escutá-lo, andando de um lado para o outro na base da torre. Mas ele não me respondia. A essa altura, achei que minha melhor chance seria esperar que a equipe substituta chegasse e tentar fugir.
- Então você viu a gente.
- Acredite, eu berrei até estourar os pulmões, mas acho que vocês estavam longe demais para me ouvir. Foi então que percebi que Zander tinha sumido. A mula também. Os virais devem tê-la arrastado para longe. Àquela altura eu só tinha um palmo de luz do dia, no máximo. Mas não tinha água, e sabia que ninguém viria me procurar no campo leste, por isso decidi descer e correr. Tinha percorrido uns mil metros quando de repente vi que os fumaças estavam por toda parte. Pensei: agora estou ferrado, então me escondi na base de uma torre, praticamente esperando a morte. Mas, por algum motivo, eles mantiveram a distância. Não sei dizer quanto tempo fiquei lá embaixo, mas quando olhei, eles tinham sumido, não havia nenhum fumaça à vista. Àquela altura eu sabia que o portão estava fechado, mas achei que talvez pudesse conseguir entrar. Arlo se virou para Theo.
- Não faz sentido. Por que eles teriam deixado você em paz, assim? - Porque estava seguindo Caleb - interveio Alicia. - Nós podíamos vê-los do telhado. Estavam usando Caleb como isca, talvez para nos atrair para fora. Desde quando eles fazem isso?
- Não fazem. - A expressão de Theo endureceu e ele se enrijeceu na cadeira. - Olhem, fico feliz por Caleb estar vivo, não me entendam mal. Mas isso foi uma idiotice de vocês dois. Se esta usina parar de funcionar, se as luzes apagarem, será o fim para todo mundo. Não sei por que tenho que explicar isso a vocês, mas parece que ainda não entenderam.
Peter e Alicia ficaram calados. Não tinham nada a dizer. Era verdade. Se Peter tivesse errado o alvo por apenas alguns centímetros, provavelmente todos estariam mortos agora. Havia sido um tiro de sorte, e ele sabia. - Nada disso explica como Zander foi contaminado - prosseguiu Theo. - Ou o que ele estava fazendo ao deixar Caleb na torre.
- Que diferença faz isso? - perguntou Arlo e deu um tapa nos joelhos. - O que eu quero saber mesmo é sobre essas armas. Quantas são?
- Doze caixotes embaixo da escada - respondeu Alicia. - Mais seis no espaço pequeno do telhado.
- E é exatamente onde elas vão ficar - disse Theo.
Alicia gargalhou.
- Você não pode estar falando sério.
- Ah, posso sim. Vejam o que quase aconteceu. Vocês podem dizer, honestamente, que teriam saído à noite se não fosse por aquelas armas?
- Talvez não. Mas Caleb está vivo por causa delas. E, não me importa o que você diga, não me arrependo de termos saído. Elas não são apenas armas, Theo. São novas em folha.
- Sei disso. Eu as vi. Sei tudo sobre elas.
- Sabe?
Ele assentiu.
- Claro que sei.
Por um momento ninguém falou. Alicia se inclinou para a frente.
- Então elas pertencem a quem?
Mas foi a Peter que Theo respondeu.
- Ao nosso pai.
Assim, Theo contou a história. Caleb, incapaz de manter os olhos abertos, tinha ido dormir, e Arlo havia apanhado o uísque, como eles faziam às vezes depois de uma noite no Muro. Serviu três copos com dois dedos da bebida e os distribuiu.
Havia uma antiga base dos fuzileiros navais a leste dali, explicou Theo, a uns dois dias de cavalgada. Um lugar chamado Twentynine Palms. A maior parte das instalações havia sumido, praticamente coberta pela areia. Mal dava para ver que existia alguma coisa ali, a não ser que se soubesse onde procurar. O pai deles havia encontrado as armas em um enorme depósito secreto, totalmente isolado, bem seco, e não eram só fuzis. Pistolas e morteiros. Metralhadoras e granadas. Uma garagem cheia de veículos, até mesmo dois tanques. Eles não tinham como transportar as armas mais pesadas, e nenhum dos veículos funcionava mais, mas o pai deles e o tio Willem começaram a levar os fuzis para a usina, uma carroça de cada vez - três viagens no total antes que Willem fosse morto.
- E por que ele não contou a ninguém? - perguntou Peter.
- Bem, ele contou. Contou à nossa mãe e a alguns outros. Ele não cavalgava sozinho, você sabe. Acho que o Coronel sabia. Provavelmente o Velho Chou. Zander tinha de saber, já que as armas estavam sendo guardadas aqui.
- Mas Sanjay, não - interveio Alicia.
Theo balançou a cabeça, franzindo a testa.
- Acredite, Sanjay era a última pessoa a quem meu pai contaria. Não me entenda mal: Sanjay é bom no que faz. Mas sempre foi completamente contra as cavalgadas, ainda mais depois que Raj foi morto.
- Isso mesmo - disse Arlo. - Ele foi um dos três. Theo assentiu.
- Acho que isso sempre foi uma ferida aberta para Sanjay, o fato de o irmão dele querer cavalgar com nosso pai. Eu nunca entendi bem, mas dava para perceber que havia algum ressentimento antigo entre eles. Depois que Raj foi morto, a coisa só piorou. Sanjay virou os Guardiões contra nosso pai, os instigou a votar para que ele fosse tirado da chefia, proibiu as cavalgadas. Foi então que ele abandonou tudo e começou a cavalgar sozinho.
Peter levou o copo de uísque ao nariz, sentiu o vapor acre queimar as narinas e o pousou na mesa. Não sabia o que era mais desanimador: o fato de seu pai ter escondido isso dele ou de Theo ter feito o mesmo.
- Então, por que esconder as armas? - perguntou. - Por que não levá-las montanha acima?
- E fazer o que com elas? Pense bem, irmão. Todos ouvimos vocês lá fora. Pela minha contagem, vocês dois deram 36 tiros para matar... o que, dois virais? No meio
de quantos? Essas armas iriam durar no máximo uma estação se fossem entregues à Vigilância. As pessoas iriam atirar na própria sombra. Diabos, na metade do tempo iriam atirar umas nas outras. Acho que era disso que ele tinha mais medo.
- Quantas armas ainda restam? - perguntou Alicia.
- Na base? Não sei. Nunca vi.
- Mas você sabe onde ela fica.
Theo tomou um gole da bebida.
- Sei aonde você quer chegar, e pode parar por aí. Nosso pai... bem, ele tinha ideias. Peter, você sabe disso tanto quanto eu. Ele simplesmente não podia aceitar o fato de sermos os únicos que restavam, que não houvesse ninguém lá fora. E se pudesse encontrar outros, e se eles tivessem armas...
A frase ficou no ar.
Alicia se ajeitou na cadeira.
- Um exército - disse ela, os olhos examinando todos eles. - É isso, não é? Ele queria formar um exército. Para combater os fumaças.
- O que é inútil - disse Theo, e Peter ouviu a amargura na voz do irmão. - Inútil e louco. O Exército tinha armas, e o que aconteceu com eles? Por acaso voltaram para nos ajudar? Com suas armas, seus foguetes e helicópteros? Não, não voltaram, e vou dizer por quê. Porque estão todos mortos.
Alicia não se abalou.
- Bom, eu gosto da ideia - disse. - Diabos, acho fantástica.
Theo deu um sorriso amargo.
- Eu sabia que você iria gostar.
- E também não acho que estejamos sozinhos - pressionou ela. - Existem outros. Lá fora, em algum lugar.
- É mesmo? Por que tem tanta certeza?
Alicia pareceu subitamente perdida.
- Por nada - respondeu. - Simplesmente tenho.
Theo olhou dentro do copo franzindo a testa e girando-o vagarosamente.
- Você pode acreditar no que quiser - disse baixinho -, mas isso não quer dizer que seja verdade.
- Nosso pai acreditava - observou Peter.
- Acreditava sim, Peter. E isso o matou. Sei que nunca falamos disso, mas esses são os fatos. Quando você fica no posto de Misericórdia, acaba pensando em algumas coisas, acredite. Nosso pai não saiu para se entregar. Quem pensa assim não sabe absolutamente nada sobre ele. Ele foi porque simplesmente não suportava mais não saber, nem mais um minuto. Foi um ato corajoso e idiota, e ele encontrou a resposta que procurava.
- Ele viu um Andarilho. Em Milagro.
- Talvez tenha visto. Se você me perguntar, acho que ele viu o que queria ver. E, de qualquer modo, não importa. Que diferença um Andarilho faria?
Peter se sentiu abalar pela falta de esperança de Theo. Ela parecia não apenas derrotista, mas também desleal.
- Onde há um, há outros - disse Peter.
- O que há, irmão, são fumaças. Todas as armas do mundo não mudariam isso.
Por um momento ninguém falou. A ideia estava no ar, não dita mas palpável.
Quanto tempo eles tinham antes que as luzes se apagassem? Antes que ninguém se lembrasse mais de como consertá-las?
- Não acredito nisso - disse Arlo. - E também não acredito que você acredite. Se isso é tudo o que existe, de que adianta qualquer coisa?
- De que adianta? - Theo olhou de novo para o copo. - Eu gostaria de saber. Acho que o objetivo é apenas ficar vivo. Manter as luzes acesas o máximo de tempo que pudermos.
Ele inclinou a bebida nos lábios e esvaziou o copo de um só gole.
- Por falar nisso, o dia já está para nascer, pessoal. Deixem Caleb dormir, mas acordem os outros. Temos de cuidar de alguns corpos.
Eram quatro. Encontraram três no pátio e um, Zander, na cobertura, deitado de rosto para cima no concreto junto à escotilha, os membros nus esparramados num X e os olhos arregalados. A bala do fuzil de Peter havia atravessado o topo de sua cabeça, rasgando o crânio, que pendia para o lado, preso apenas por um pedaço de pele. O sol da manhã já havia começado a encolher o corpo e uma fina névoa cinza subia de sua pele enegrecida.
Peter havia se acostumado com a aparência dos virais, mas ainda o incomodava ver um de perto. O modo como as feições pareciam ter sido apagadas, alisadas em uma suavidade quase infantil; o alongamento das mãos e dos pés encurvados, os dedos enrolados e as garras afiadas como navalhas; a musculatura densa dos membros e do tronco e o pescoço comprido, articulado; os dentes atulhando a boca como espetos de aço. Com botas e luvas de borracha e um pano em volta do rosto Finn usou um ancinho comprido para levantar a chave pelo cordão e jogá-la em um balde de metal. Depois encharcaram a chave com álcool e puseram fogo, e em seguida a deixaram secar ao sol. O que as chamas não tivessem matado, os raios do sol matariam. Depois rolaram Zander, cujo corpo estava rígido como madeira, para uma lona plástica, que dobraram sobre ele, fazendo um tubo. Arlo e Rey levaram o corpo até a beira da laje e o jogaram no pátio.
Quando terminaram de arrastar os quatro para além da cerca, o sol estava alto e quente. Apoiado em um tubo, Peter observava Theo derramar álcool nos corpos. Sentia-se inútil, mas, com o tornozelo como estava, não havia muito que pudesse fazer para ajudar. Alicia montava guarda, segurando um dos fuzis. Caleb finalmente havia acordado e tinha saído para olhar, junto com os outros. Peter viu que ele usava botas de couro de cano alto.
- Eram de Zander - explicou Caleb. O garoto deu de ombros, parecendo meio preocupado. - Era o par extra dele. Achei que ele não ia se incomodar.
Theo tirou uma caixa de palitos de fósforo do bolso e baixou a máscara. Na outra mão segurava uma tocha apagada. Enormes círculos de suor manchavam sua camisa, o pescoço e as axilas. A camisa era velha, do Armazém, já com o colarinho todo esfarrapado e sem as mangas. No bolso, bordado, em letras de mão, lia o nome Armando.
- Alguém quer dizer alguma coisa?
Peter achou que deveria, mas não conseguiu encontrar as palavras. Ter visto o corpo não mudava a sensação inquietante de que, no fim, Zander havia facilitado as coisas para ele - de que Zander ainda era Zander. Mas todos os corpos da pilha tinham sido alguém, um dia. Talvez um deles fosse Armando.
- Certo, eu posso fazer isso - disse Theo e pigarreou. - Zander, você era um bom engenheiro e um bom amigo. Nunca dizia uma palavra negativa a ninguém, e nós lhe agradecemos por isso. Descanse em paz.
Então riscou o palito, encostou a chama na tocha até acendê-la e a levou até a pilha.
A pele se foi rapidamente, vaporizada como papel, seguida pelo resto, os ossos se reduzindo até estourarem em nuvens de cinza. Tudo acabou em um minuto. Quando as últimas chamas haviam morrido, eles usaram pás para jogar os restos na cova rasa que Rey e Finn haviam cavado, cobrindo tudo com uma camada de terra.
Estavam batendo a terra com as pás quando Caleb falou:
- Só queria dizer que acho que ele lutou contra isso. Ele poderia ter me matado lá fora.
Theo deixou a pá de lado.
- Não me entenda mal - disse -, mas o que me preocupa é justamente o fato de ele não ter matado você.
Nos dias seguintes Peter pensou nos acontecimentos daquela noite, repassando-os na mente. Não só no que havia acontecido na laje e na estranha história de Caleb na torre, mas também no tom amargo do irmão ao falar das armas. Porque Alicia estava certa: as armas significavam alguma coisa. Durante toda a vida, Peter havia pensado no mundo do Tempo de Antes como algo que já houvesse desaparecido. Era como se uma lâmina tivesse caído sobre o próprio tempo, dividindo-o em dois: o que veio antes e o que veio depois. Não existia ponte entre essas duas metades. A guerra fora perdida, o Exército não existia mais, o mundo para além da Colônia era a sepultura aberta de uma história que ninguém ao menos lembrava. Na verdade, Peter nunca pensara muito no que seu pai procurava lá fora, na escuridão. Supunha que fosse o óbvio: pessoas, outros sobreviventes. Mas, quando segurara um dos fuzis de seu pai - e mesmo agora, deitado no alojamento enquanto o tornozelo se recuperava e lembrando-se da sensação -, havia sentido algo mais: como o passado e todo o seu poder pareciam ter fluído para dentro dele. De modo que talvez fosse isso o que o pai estivesse fazendo o tempo todo, nas Longas Caminhadas: tentando se lembrar do mundo.
Sem dúvida Theo sabia disso; era essa a grandeza que havia dentro dele, dentro de todos os homens das Longas Caminhadas. Peter havia decidido, muito antes, não usar contra Theo o que sua mãe dissera na manhã de sua morte. Cuide do seu irmão, Theo. Ele não é forte como você. A verdade era a verdade, e, à medida que os anos passavam, Peter descobriu que saber isso sobre si mesmo era suportável; às vezes era quase um alívio. O que o pai deles havia tentado era uma coisa difícil e desesperada, construída sobre uma fé que ia de encontro aos fatos, e se Theo fosse o Jaxon escolhido para carregar esse fardo - carregar pelos dois -, Peter podia aceitar isso. Mas dizer a Arlo que não adiantava, que a única coisa que restava a fazer era manter as luzes acesas pelo máximo de tempo possível - dizer isso logo a Arlo, que tinha um Pequeno no Abrigo -, esse não era o Theo que ele conhecia. Algo havia mudado em seu irmão. Tentou imaginar o que poderia ser. A equipe permaneceu cinco dias na usina. Finn e Rey passaram o primeiro dia restaurando a energia da cerca, depois foram trabalhar no campo oeste, passando graxa nas turbinas. Arlo, Theo e Alicia se revezavam escoltando-os, em turnos de dois, sempre retornando bem antes do pôr do sol para trancar o lugar. Sem ter mais nada para ocupar o tempo, Peter jogava paciência com um baralho em que faltavam três cartas e folheava livros que havia encontrado numa caixa no depósito. Um conjunto de títulos variados: A fantástica fábrica de chocolate, História do Império Otomano, O forasteiro, de Zane Grey (Clássicos da literatura do Velho Oeste). Na contracapa de cada livro havia um bolso de papelão, impresso com as palavras PROPRIEDADE DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE RIVERSIDE COUNTY e, dentro dele, um cartão com uma lista de datas escritas em tinta desbotada: 7 de setembro de 2014; 3 de abril de 2012; 21 de dezembro de 2016. - Quem trouxe isso para cá? - perguntou a Theo uma noite, depois de o grupo ter voltado do campo. Havia uma pilha de livros perto da cama de Peter.
Theo lavava o rosto na bacia. Ele se virou, enxugando as mãos na frente da camisa.
- Acho que estão aí há um bom tempo. Talvez Zander não soubesse ler muito bem, por isso os guardou. Algum deles é bom? Peter levantou o livro que estivera lendo: Moby Dick.
- Para dizer a verdade, nem sei direito se isso está no nosso idioma - respondeu Peter. - Levei quase o dia inteiro para ler uma página.
Seu irmão deu um sorriso cansado. ; - Vamos ver esse tornozelo.
Theo se sentou na beira da cama do irmão. Segurou gentilmente o tornozelo de Peter e girou seu pé. Os dois mal haviam se falado desde a noite do ataque. Na verdade nenhum deles tinha falado muito.
- Bom, parece melhor. - Theo coçou o queixo barbado. Peter viu que os olhos dele estavam fundos de exaustão. - O inchaço diminuiu. Acha que consegue cavalgar?
- Eu me arrastaria se fosse preciso, para sair daqui.
Partiram no dia seguinte, depois do café da manhã. Arlo havia concordado era ficar com Rey e Finn até que o próximo grupo substituto chegasse. Caleb disse que também queria ficar, mas Theo o convenceu a ir - com Arlo ali, e desde que ficassem dentro da cerca, seria desnecessário uma quarta pessoa. E Caleb já havia sofrido o suficiente.
A outra questão eram as armas. Theo queria deixá-las onde estavam, mas Alicia argumentou que não fazia sentido deixar todas para trás. Eles ainda não sabiam o que acontecera a Zander ou por que os fumaças não haviam matado Caleb quando tiveram a chance. No fim, chegaram a um meio-termo. O grupo partiria armado, mas esconderia as armas fora do Muro, por segurança. Os demais fuzis permaneceriam embaixo da escada.
- Duvido que eu vá precisar deles - disse Arlo, enquanto o grupo montava. - Se aparecer algum fumaça, posso matá-los de tanto falar.
Mas ele tinha um fuzil no ombro. Alicia havia lhe mostrado como carregar e limpar a arma e o deixara disparar alguns tiros no pátio para treinar.
- Minha nossa! - gritara ele com seu vozeirão e disparara outra bala, derrubando uma lata que servia de alvo em um poste. - Não é incrível?
Theo estava certo, pensou Peter, assim que você tinha uma arma, era difícil abandoná-la.
- Eu falei sério, Arlo - alertou Theo.
Depois de tantos dias sem exercício, os cavalos estavam ansiosos para ir, remexendo as patas, batendo-as na poeira.
- Alguma coisa não está certa. Fiquem dentro dos limites da cerca. Tranquem a usina toda noite antes de verem a primeira sombra. Combinado?
- Não se preocupe, primo.
Com um risinho de zombaria escondido pela barba, Arlo olhou para Finn e Rey, cujos rostos, pensou Peter, não conseguiam esconder o descontentamento. Iam ficar presos na usina com Arlo e suas histórias; provavelmente ele iria insistir em cantar para eles, com ou sem violão. Arlo tinha a chave que havia tirado do corpo de Zander pendurada no pescoço. Theo estava com a outra.
- Ah, vamos, pessoal - gritou Arlo para os pés de cabra e bateu palmas. - Animem-se. Vai ser uma festa.
Mas quando se aproximou do cavalo de Theo, sua expressão ficou séria abruptamente.
- Ponha isso na sua bolsa - disse baixinho, passando-lhe um pedaço de papel. - Para Leigh e o neném, se acontecer alguma coisa.
Theo guardou o papel sem olhar. ; - Dez dias. Fique dentro dos limites da cerca. - Dez dias, primo.
Seguiram para o vale. Sem o peso da carroça, atravessaram rapidamente o campo em direção a Banning, passando ao largo da estrada do Leste para ganhar alguns quilômetros. Ninguém falava; guardavam as energias para a longa cavalgada. Enquanto se aproximavam dos limites da cidade, Theo parou.
- Quase esqueci. - Em seguida enfiou a mão na bolsa da sela e tirou o curioso objeto que Michael havia lhe dado junto ao portão, seis dias antes. - Alguém se lembra do que é essa coisa?
Caleb aproximou sua montaria de Theo e pegou a placa para examinar.
- É uma placa-mãe. Chip Intel, série Pion. Está vendo o nove? É assim que dá para saber.
- Você entende desse tipo de coisa?
- Preciso entender. - Dando de ombros, Caleb devolveu a placa a Theo. - Os controles das turbinas usam Pions. Os nossos são militares, mais potentes, mas basicamente iguais. São fortes como uma rocha e mais rápidos que relâmpagos. Dezesseis giga-hertz sem overclock.
Peter viu que Theo também não fazia ideia do que isso significava.
- Bem, o Michael quer um.
- Você deveria ter dito. Temos um monte de placas extras na usina. Alicia gargalhou.
- Tenho de admitir que você me surpreende, Caleb. Você fala que nem o Circuito. Eu nem sabia que os pés de cabra sabiam ler.
Caleb se virou na sela para encará-la, mas, se estava ofendido, não deu sinal. - Está brincando? O que mais temos para fazer lá? Zander vivia indo à biblioteca pegar mais livros. Há caixas e mais caixas de livros empilhados no barracão de ferramentas. E não são só livros técnicos. O cara lia tudo. Dizia que os livros eram mais interessantes que as pessoas.
O silêncio caiu sobre o grupo. ( - O que foi que eu disse? - perguntou Caleb.
A biblioteca ficava perto do Shopping Empire Valley, no limite norte da cidade: uma construção baixa e quadrada com chão de terra batida e tufos de mato alto ao redor. Eles se abrigaram atrás de um posto de gasolina e apearam. Theo pegou o binóculo na bolsa da sela e examinou o prédio.
- Está bem coberto de areia. Mas as janelas continuam intactas acima do térreo. O prédio parece inteiro.
- Dá para ver lá dentro? - perguntou Peter.
- O sol está forte demais, refletindo nos vidros.
Ele entregou o binóculo a Alicia e se virou para Caleb.
- Tem certeza?
- Que Zander vinha aqui? - O garoto assentiu. - Tenho.
- Você já entrou com ele?
- Está falando sério?
Alicia havia subido por uma lixeira, indo até o teto do posto de gasolina para olhar melhor.
- Alguma coisa?
Ela baixou o binóculo.
- Você está certo, o sol está forte demais. Mas não sei como pode haver alguma coisa lá dentro, com todas aquelas janelas.
- Era o que Zander sempre dizia - acrescentou Caleb.
- Não entendo - disse Peter. - Por que ele vinha aqui sozinho?
Alicia pulou para o chão. Limpou as mãos na frente da blusa e afastou do rosto uma mecha de cabelo suada.
- Acho que a gente deveria verificar. No meio do dia, assim, não teremos chance melhor.
O rosto de Theo dizia: Por que não estou surpreso? Ele se virou para Peter.
- Qual é o seu voto?
- Desde quando votamos?
- Desde agora. Se vamos fazer isso, todo mundo tem de concordar.
Peter tentou decifrar a expressão de Theo, adivinhar o que ele queria fazer. Sentiu na pergunta o peso de um desafio. Por que isso? Por que agora?
Assentiu, concordando.
- Certo, Lish - disse Theo, levando a mão ao fuzil. - Você conseguiu sua caça aos fumaças.
Deixaram Caleb com os cavalos e se aproximaram do prédio. A areia estava alta, amontoada contra as janelas, mas a entrada da frente, no alto de um curto lance de escada, estava desobstruída. A porta se abriu com facilidade e eles entraram.
Estavam em algum tipo de recepção. Perto da porta, pendurado na parede, havia um quadro de avisos coberto de anúncios em pedaços de papel, desbotados mas ainda legíveis. VENDE-SE CARRO, NISSAN SERATA 2014, POUCOS QUILÔMETROS RODADOS. PERCA PESO AGORA, PERGUNTE-ME COMO! PRECISA-SE DE BABÁ, TARDES, ALGUMAS NOITES, CARRO PRÓPRIO. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, TERÇAS E QUINTAS, DAS 10H30 ÀS 11H30. E, maior do que os outros, numa folha de papel amarelo já meio enrolado:
PROTEJA SUA VIDA. PERMANEÇA EM AREAS BEM ILUMINADAS. INFORME QUALQUER SINAL DE INFECÇÃO. NÃO DEIXE ESTRANHOS ENTRAREM EM SUA CASA. SÓ SAIA DAS ZONAS DE SEGURANÇA QUANDO INSTRUÍDO POR UMA AUTORIDADE DO GOVERNO.
Entraram numa sala ampla iluminada por janelas altas que davam para o estacionamento. O ar era pungente e denso de calor. Sentado à mesa da recepção havia um corpo.
A mulher - Peter podia ver que era uma mulher - parecia ter atirado em si mesma. A arma, um revólver pequeno, ainda estava presa à mão caída no colo.
O cadáver era marrom como couro, a pele ressequida esticada sobre os ossos, mas o buraco da bala na lateral do crânio era claramente visível. A cabeça estava tombada de lado, como se ela tivesse deixado alguma coisa cair e parado para olhar.
- Ainda bem que Arlo não está aqui para ver isso - murmurou Alicia. Moveram-se em silêncio até o salão da biblioteca. Havia livros espalhados por todo o chão, tantos que era como andar em montes de neve. Deram a volta até a frente.
Theo fez um gesto com o cano do fuzil indicando a escada. - Fiquem de olho.
A escada levava a um cômodo grande banhado pela luz do sol que se derramava pelas janelas. Uma sensação de espaço: as estantes tinham sido empurradas de lado para dar lugar às fileiras de camas que as haviam substituído.
Cada cama tinha um corpo.
- Deve haver uns 50 - sussurrou Alicia. - É algum tipo de enfermaria? Theo penetrou mais na sala, deslizando entre duas fileiras de camas. Havia um cheiro estranho, almiscarado, no ar. Na metade do corredor Theo parou junto a uma cama e estendeu a mão para pegar um pequeno objeto. Algo mole, feito de tecido que se desintegrava. Levantou o objeto para que Peter e Alicia vissem. Uma boneca de pano.
- Acho que não é uma enfermaria.
As imagens começaram a se formar na mente de Peter, e ele identificou um padrão. O tamanho pequeno dos corpos. Os bichos de pelúcia e os brinquedos seguros por mãozinhas que agora eram apenas ossos cobertos de couro. Enquanto avançava, Peter sentiu e ouviu o som de plástico se quebrando. Uma seringa. Havia dezenas delas espalhadas pelo chão. O significado daquilo o atingiu finalmente.
- Theo, isso é... essas são... - As palavras ficaram presas em sua garganta. Seu irmão já estava correndo para a escada.
- Vamos sair daqui.
Só diminuíram o passo quando estavam do lado de fora. Pararam no degrau da frente, inspirando o ar puro com sofreguidão. A distância, Peter viu Caleb parado no teto do posto de gasolina, ainda examinando a cena com o binóculo.
- Eles deviam saber o que estava acontecendo - disse Alicia baixinho. - Decidiram que era melhor assim.
Theo pendurou o fuzil no ombro e tomou um longo gole de água. Seu rosto estava pálido e Peter viu que as mãos tremiam.
- Zander, desgraçado - disse Theo. - Por que, diabos, ele vinha aqui?
- Há uma segunda escada nos fundos - disse Alicia. - Deveríamos verificar. Theo cuspiu e balançou a cabeça com força.
- Deixe para lá, Lish - disse Peter.
- De que adianta verificar o prédio se não checarmos tudo? Theo se virou rapidamente.
- Não quero passar mais nem um segundo neste lugar. - Ele estava decidido, a última palavra seria sua. - Vamos atear fogo. Sem discussão.
Tiraram livros das estantes e fizeram uma pilha perto da mesa da recepção. O papel pegou fogo rapidamente, as chamas saltando de um livro ao outro. Recuaram pela porta e ficaram a 50 metros de distância, vendo o prédio queimar. Peter tomou um gole de água do cantil, mas nada afastava o gosto que tinha na boca: gosto de corpos, de morte. Sabia que seus olhos tinham visto algo que ficaria com ele pelo resto da vida. Zander viera ali, mas não só pelos livros. Tinha vindo ver as crianças.
E foi então que a areia encostada na base do prédio começou a se mexer.
Alicia viu primeiro. - Peter...
A areia desmoronou. virais jorraram, rastejando para fora da areia que cobrira as janelas do porão. Um bando de seis, expulsos pelas chamas para as luzes ofuscantes do meio-dia.
Os virais gritavam. Um uivo grande, agudo, que atravessou o ar com dor e fúria.
Agora a biblioteca estava totalmente tomada pelo fogo. Peter levantou o fuzil e tentou colocar o dedo no gatilho. Seus movimentos pareciam vagos, sem foco. A cena parecia quase irreal, e sua mente não conseguia se firmar em nada. Mais virais emergindo das colunas de fumaça preta e pesada que saíam das janelas de cima. Vidro explodindo em uma chuva brilhante de cacos. Carne em chamas arrastando uma cauda líquida de fogo. Parecia que horas haviam se passado desde que ele tinha levantado o fuzil na intenção de atirar.
O primeiro grupo buscara refúgio em uma nesga de sombra na base da escadaria da biblioteca, uma única massa amontoada, os rostos encostados no chão, como Pequenos brincando de esconde-esconde.
- Peter, não podemos ficar aqui!
O som da voz de Alicia o despertou do torpor. Ao lado dele, Theo parecia congelado, o cano da arma apontado inutilmente para o chão, o rosto inexpressivo com olhos arregalados e impassíveis: de que adianta? - Theo, escute - disse Alicia, sacudindo-o pelo braço.
Por um momento Peter achou que ela ia bater nele. Os virais na base da escada tinham começado a se mexer. Um tremor coletivo os atravessou, como o vento ondulando a superfície de uma poça d'água.
- Precisamos ir, agora.
Theo voltou o olhar para Peter. - Ah, irmão - disse ele. - Acho que estamos ferrados.
- Peter, me ajude - implorou Alicia.
Os dois seguraram Theo pelo braço. Quando estavam na metade do estacionamento, ele começou a correr sozinho. A sensação de irrealidade se fora, substituída apenas por um desejo: ir embora, escapar. Quando viraram a esquina do posto de gasolina, viram Caleb em seu cavalo, partindo a toda. Montaram e saíram a galope, seguindo o rapaz pelo terreno duro. Atrás deles, Peter ouviu mais vidro explodindo. Alicia apontava, gritando acima do vento: o shopping. Era para onde Caleb ia. A toda a velocidade, subiram uma encosta de areia e desceram no estacionamento vazio a tempo de ver Caleb pular do cavalo junto à ampla entrada do prédio. Ele deu um tapa no traseiro do animal e passou correndo pela abertura enquanto o cavalo ia embora.
- Para dentro! - gritou Alicia. Agora ela estava no comando. Theo não disse nada. - Rápido, deixem os cavalos!
Os animais serviriam de isca, como uma oferenda. Não havia tempo de se despedir. Apearam e correram para dentro. O melhor lugar, Peter sabia, seria o átrio. O teto de vidro fora arrancado, havia luz do sol e cobertura, eles podiam montar algum tipo de defesa.
Dispararam pelo corredor escuro. O ar era pesado e azedo, as paredes inchadas de mofo expondo vigas enferrujadas, fios pendurados, canos cheios de crostas. A maior parte das lojas estava fechada, mas outras permaneciam abertas! como rostos atordoados, os interiores mal iluminados e atulhados de escombros. Peter viu Caleb correndo adiante, os raios dourados da luz do dia caindo fartamente sobre ele.
Saíram no átrio sob um sol tão luminoso que tiveram de ajustar os olhos. O lugar parecia uma floresta. Quase toda a superfície estava coberta por trepadeiras verdes. No centro, um agrupamento de palmeiras se estendia até a abertura do teto. Do alto vinham mais trepadeiras pelas estruturas expostas, como rolos de corda viva. Eles se abrigaram atrás de uma barricada de mesas viradas na base das árvores. Haviam perdido Caleb de vista.
Peter olhou para o irmão, agachado perto dele.
- Você está bem?
Theo assentiu, incerto. Todos estavam ofegantes.
- Desculpe. O que aconteceu lá atrás. Eu só... - Ele balançou a cabeça. - Não sei. - Em seguida enxugou o suor dos olhos. - Eu pego a esquerda. Fique com Lish.
E engatinhou para longe.
Ajoelhada perto dele, Lish verificou a carga do fuzil e puxou o ferrolho. Quatro corredores do shopping desembocavam no átrio: o ataque, se acontecesse, viria do oeste.
- Acha que o sol fez eles pararem? - perguntou Peter.
- Não sei. Eles pareciam bastante furiosos. Talvez alguns, mas não todos. - Ela apertou bem a alça do fuzil no antebraço. - Preciso que você me prometa uma coisa. Eu não vou virar um deles. Se chegar a esse ponto, preciso que você cuide disso.
- Por todos os voadores, Lish. Não vou fazer isso. Nem diga uma coisa dessas.
- Só estou dizendo: se chegar a esse ponto - sua voz era firme -, não hesite.
Não havia mais tempo para palavras. Ouviram passos correndo em sua direção. ! Caleb entrou derrapando no átrio, segurando um objeto junto ao peito. Enquanto mergulhava atrás das mesas, Peter viu que era uma caixa de sapatos preta.
- Não acredito - disse Alicia. - Você foi pegar o tênis?
Caleb levantou a tampa e a jogou de lado. Um par de tênis amarelo-vivo, ainda enrolado em papel de seda. O garoto chutou longe as botas de Zander e enfiou os calçados novos nos pés.
- Droga - disse de rosto murcho. - São grandes demais. Não chegam nem perto do meu tamanho.
E então viram o primeiro viral, um borrão de movimento em cima e depois atrás deles, caindo pelo teto do átrio. Peter rolou a tempo de ver Theo ser erguido e jogado em direção ao teto, o fuzil balançando com a alça embolada no braço, mãos e pés tentando se segurar no ar. Um segundo viral, pendurado de cabeça para baixo em uma das estruturas do teto, agarrou o irmão de Peter pelo tornozelo como se ele não pesasse nada. Theo estava de cabeça para baixo. Peter viu uma expressão de pura perplexidade no rosto do irmão. Ele não fizera nenhum som. Seu fuzil despencou, girando até atingir o chão. Então o viral jogou Theo para fora pela abertura no teto e ele se foi.
Peter se levantou rapidamente, o dedo encontrando o gatilho. Escutou uma voz, sua voz, chamando o nome do irmão, e o som de Alicia disparando. Havia três virais no teto agora, lançando-se de uma estrutura para a outra. Pelo canto do olho, viu Alicia empurrando Caleb por cima do balcão de um restaurante do outro lado do átrio. Peter atirou finalmente, uma vez e depois outra. Mas os virais eram rápidos demais; depois de cada tiro, o lugar para onde ele havia mirado estava sempre vazio. Parecia uma espécie de jogo, como se as criaturas quisessem obrigá-los a gastar a munição. Desde quando eles fazem isso?, pensou, e se perguntou quando teria ouvido aquelas mesmas palavras antes.
Enquanto o primeiro se soltava, Peter visualizou a dimensão fatal do arco que ele fazia. Alicia tinha as costas apoiadas no balcão. O viral se lançou diretamente sobre ela, os braços estendidos, as pernas dobradas para absorver o impacto, um ser com garras, musculatura e dentes poderosíssimos. No instante antes de a criatura pousar, Alicia deu um passo à frente, posicionando-se exatamente abaixo dela e segurando o fuzil longe do corpo, como uma faca. Disparou.
Uma névoa vermelha, uma confusão de corpos tombando, o fuzil caindo ruidosamente. Antes de Peter perceber que Alicia não estava morta, ela já estava de pé outra vez. O viral estava caído com uma cratera de sangue na nuca. Ela o havia acertado na boca. Acima, os outros dois pararam abruptamente, enrijecendo-se, os dentes relampejando, as cabeças se virando para Alicia como que puxadas por um único fio.
- Saia daqui! - gritou ela e pulou por cima do balcão. - Corra!
Ele fez isso. Correu.
Agora se encontrava bem no interior do shopping. Parecia não haver saída. Todas estavam bloqueadas por montes de entulho: móveis, carrinhos de compras, lixeiras cheias.
E Theo, seu irmão, havia sumido.
A única opção era se esconder. Correu por uma passagem cheia de lojas fechadas, tentando puxar as grades para cima, mas nenhuma se abria; todas estavam trancadas. Através da névoa do pânico, uma única pergunta emergia: por que ainda não estava morto? Tinha fugido do átrio sem esperança de dar mais do que alguns passos. Um clarão de dor e tudo acabaria. Pelo menos um minuto inteiro havia se passado antes de ele perceber que os virais não o estavam perseguindo.
Porque estavam ocupados, pensou. Teve de agarrar uma das grades só para ficar de pé. Enfiou os dedos entre as barras e apertou a testa contra o metal, lutando para respirar. Seus amigos estavam mortos. Era a única explicação. Theo estava morto, Caleb estava morto, Alicia estava morta. E quando os virais tivessem acabado, quando tivessem bebido até se fartar, viriam atrás dele.
Caçá-lo.
Correu. Seguiu pelo corredor e entrou em outro, passando por fileiras de lojas trancadas. Agora já nem se incomodava em testar as grades, a mente tomada por um único pensamento: ir para terreno aberto. Luz do dia adiante, e uma sensação de amplitude: virou uma esquina e, escorregando nos ladrilhos, saiu em um espaço amplo que parecia uma cúpula. Um segundo átrio. A área estava livre de entulhos. A luz do sol descia em feixes enfumaçados, vindo de um círculo de janelas no alto.
No centro do espaço, imóvel, havia um rebanho de cavalos minúsculos.
Estavam agrupados em volta de uma espécie de abrigo. Peter ficou imóvel, esperando que eles se espalhassem. Como os cavalos teriam entrado no shopping? Avançou com cuidado. Agora era óbvio: os cavalos não eram de verdade. Um carrossel. Peter tinha visto a foto de um, em um dos livros do Abrigo. A base girava e música tocava, e crianças montavam os cavalos, que giravam e giravam. Subiu na plataforma. Uma grossa camada de poeira envolvia os animais, escondendo os detalhes. Chegou perto de um deles e espanou a sujeira, revelando cores brilhantes por baixo, os detalhes pintados com precisão: os cílios, as reentrâncias dos dentes, o longo focinho e as narinas abertas.
Então sentiu: uma percepção súbita nas extremidades, como um toque de metal frio. Levou um susto, levantando o rosto.
Parada diante dele estava uma garota.
Uma Andarilha.
Não podia dizer quantos anos ela teria. Treze? Dezesseis? Seu cabelo era comprido e escuro, e todo embolado. Usava uma calça jeans puída, cortada nos tornozelos, e uma camiseta endurecida de sujeira, tudo grande demais em seu corpo que parecia de menino. A calça estava amarrada à cintura por um pedaço de fio elétrico. Nos pés, tinha um par de sandálias com margaridas de plástico brotando entre os dedos.
Antes que Peter pudesse falar, ela encostou o indicador nos lábios: fique em silêncio. Em seguida se moveu rapidamente para o centro da plataforma e se virou para acenar, indicando que ele a seguisse.
Então ele os ouviu. Um som de pés se arrastando no corredor, o chacoalhar das grades metálicas nas lojas fechadas.
Os virais estavam chegando. Procurando. Caçando.
Os olhos da menina estavam arregalados. Depressa, diziam eles. Ela segurou sua mão e o puxou para o centro da plataforma. Então ela se ajoelhou e puxou uma argola de metal no piso. Um alçapão, no mesmo nível da plataforma de madeira. Ela entrou, de modo que só o seu rosto aparecia agora.
Depressa, depressa.
Peter a acompanhou pelo buraco e fechou o alçapão. Eles estavam embaixo do carrossel, em um lugar apertado. Nesgas de luz, salpicadas de poeira, entravam inclinadas pelas fendas da plataforma acima deles, revelando o volume escuro de máquinas e, no piso ao lado dele, um saco de dormir amarrotado. Havia também garrafas plásticas de água e latas de comida empilhadas em fileiras, os rótulos gastos havia muito tempo. Será que ela morava ali?
A plataforma estremeceu. A menina havia se ajoelhado. Uma sombra passou sobre eles. Ela mostrava a Peter o que fazer.
Deite-se. Fique parado.
Peter fez o que ela pedia. Depois ela deitou em cima dele. Ele podia sentir o calor do corpo da garota, o hálito dela em seu pescoço. Ela estava cobrindo seu corpo com o dela. Agora os virais estavam por todo o carrossel. Ele podia sentir suas mentes procurando, sondando, podia ouvir os estalos que vinham de suas gargantas. Quanto tempo levariam para descobrir o alçapão?
Não se mexa. Não respire.
Ele fechou os olhos com força, concentrando-se para ficar absolutamente imóvel, esperando o som do alçapão sendo arrancado das dobradiças. O fuzil estava no chão ao seu lado. Ele poderia dar um ou dois tiros, mas seria só isso.
Segundos se passaram. Mais tremores na plataforma acima deles, a respiração dos virais afiada, excitada com o cheiro de carne humana nas narinas, o gosto de sangue no ar. Mas havia algo errado: dava para sentir a hesitação deles. A garota o pressionava para baixo. Cobrindo-o. Protegendo-o. Silêncio lá em cima; será que os virais tinham ido embora? Um minuto se passou, depois outro. O foco de sua expectativa mudou dos virais para o que a garota faria em seguida. Por fim ela saiu de cima dele. Peter se ajoelhou. Seus rostos estavam a centímetros um do outro. A curvatura suave das bochechas dela era de criança, mas os olhos, não, nem um pouco. Dava para sentir o cheiro do hálito da garota. Havia algo doce nele, como mel.
- Como você...
Ela balançou a cabeça rapidamente para silenciá-lo, apontando para cima, depois apertou o dedo contra os lábios de novo.
Eles foram embora. Mas vão voltar.
Ela ficou de pé e abriu o alçapão. Uma rápida virada de cabeça para mostrar o que queria dizer.
Siga-me. Agora.
Subiram de volta à plataforma do carrossel. O átrio estava vazio, mas dava para sentir a presença dos virais que haviam partido, o ar se movendo como um redemoinho invisível nos lugares onde eles haviam estado. Com passos rápidos, a garota o guiou até uma porta do outro lado do átrio. Um bloco de concreto mantinha a porta aberta. Entraram e ela removeu o bloco, fechando a porta e lacrando-os dentro. Ele ouviu o estalo de uma fechadura.
Negrume.
Um novo pânico o dominou, um sentimento de desorientação completa. Mas então sentiu a menina segurando sua mão. Ela apertava com firmeza, procurando tranquilizá-lo. Puxou-o mais para longe.
Estou com você. Vai ficar tudo bem.
Ele tentou contar os passos, mas era inútil. Podia sentir, pelo modo como ela apertava sua mão, que a garota queria que ele fosse mais depressa, que sua incerteza os estava atrapalhando. Tropeçou em alguma coisa no caminho e o fuzil caiu, perdido na escuridão. - Espere...
Atrás deles ouviu um baque e o ruído de metal se dobrando. Os virais os haviam encontrado. Adiante ele detectou um brilho de luz; o ambiente começou a emergir em sua visão. Estavam em um corredor comprido, de teto alto; havia magrelos encostados nas paredes, um monte de esqueletos de dentes arreganhados, os membros contorcidos no que pareciam posturas de alerta. Outro estrondo atrás: a porta estava cedendo, soltando-se das dobradiças. O corredor terminava em outra porta, que estava aberta. Uma escada. De cima vinha o brilho amarelo da luz do dia, e o som e o cheiro de pombos. Na parede havia uma placa: ACESSO AO TELHADO.
Ele se virou. A menina ainda estava parada no corredor, perto da porta em frente à escada. Os olhos dos dois se encontraram brevemente. Antes que se passasse mais um segundo, a garota deu um passo à frente e, ficando nas pontas dos pés, encostou a boca fechada - como um passarinho bebendo água - no rosto dele.
Simplesmente assim: um beijo.
Peter estava perplexo demais para falar. A garota recuou para o corredor escuro. Vá agora, diziam seus olhos.
Então ela fechou a porta.
- Ei! - Ele ouviu o estalo da tranca. Agarrou a maçaneta, mas era impossível movê-la. Bateu no metal lacrado. - Ei! Não me deixe!
Mas a garota havia sumido, um espírito indo embora. Viu a placa de novo: ACESSO AO TELHADO. Era para lá que ela queria que ele fosse. Começou a subir. O ar estava extremamente abafado, quase asfixiante com o odor de pombos. Longas tiras de excremento manchavam as paredes, criando uma crosta na escada e no corrimão, como camadas de tinta. Os pássaros mal pareciam notá-lo, voando aqui e ali enquanto ele subia, como se sua presença fosse apenas uma curiosidade. Três lances, quatro. Peter ofegava de exaustão, um gosto insuportável na boca e os olhos ardendo como se atingidos por ácido.
Por fim chegou ao topo. Uma última porta e, na parede acima, fora do seu alcance, uma janela minúscula, as bordas cheias de cacos de vidro amarelados pelo tempo e a sujeira.
A porta estava trancada com um cadeado.
Era um beco sem saída. Depois de tudo, a garota o havia levado a um beco sem saída. Um estrondo furioso sacudiu o poço da escada quando o primeiro viral se chocou contra a porta lá embaixo. Pássaros voaram e se espalharam ao redor, enchendo o ar com redemoinhos de penas.
Foi então que ele viu a portinhola, tão incrustada de excrementos que havia se confundido à parede ao redor. Usou o cotovelo para quebrar o vidro, depois puxou o machado. Um segundo estrondo veio de baixo. Mais um empurrão e os virais passariam pela porta, explodindo escada acima.
Peter levantou o machado acima da cabeça e golpeou com força, mirando no cadeado. A lâmina resvalou, mas deu para ver que ele havia causado algum dano. Respirou fundo, calculando a distância, e deu outro golpe com o machado, usando toda a força que tinha. Acertou em cheio: o cadeado se despedaçou. Empurrou a porta e, com um rangido de velhice e ferrugem, ela se abriu. Peter emergiu à luz do sol.
Estava no telhado, no lado norte do shopping, virado para as montanhas. Foi rapidamente até a beirada.
Eram no mínimo 15 metros. Quebraria a perna se pulasse, ou coisa pior.
Ele se deitou e ficou imóvel no chão duro, esperando que os virais o pegassem. Não era assim que queria morrer. Seu cotovelo jorrava sangue, deixando um rastro desde a porta aberta. Apesar de não ter lembrança da dor, devia ter se cortado ao quebrar a portinhola de vidro. Mas pelo menos tinha um machado.
Estava se virando para a porta, preparando-se para usar novamente o machado, quando um grito chegou até ele, vindo de baixo.
- Pule!
Eram Alicia e Caleb, virando a esquina do prédio, cavalgando rapidamente. Alicia acenava para ele, o corpo inclinado sobre os estribos.
- Pule!
Pensou em Theo, arrebatado pelos virais. Pensou no pai, parado à beira do mar, e no oceano e nas estrelas. Pensou na menina, cobrindo seu corpo com o dela, o calor e a doçura do seu hálito no pescoço dele, e na bochecha que ela havia beijado.
Seus amigos chamavam e acenavam embaixo, os virais subiam a escada, o machado em sua mão.
Agora não, pensou, ainda não, e em seguida fechou os olhos e pulou.
VINTE E TRÊS
Era verão de novo e ela estava sozinha. Sozinha, sem nada além das vozes que escutava ao seu redor e em toda parte Lembrava-se de pessoas. Lembrava-se do Homem. Lembrava-se do outro homem, de sua mulher e do garoto, e da outra mulher. Lembrava-se de alguns mais do que de outros. Não se lembrava de nenhum. Lembrava-se de um dia ter pensado: estou sozinha. Não existe ninguém além de mim. Vivia no escuro. Aprendera a andar na luz, mas não era fácil. Durante algum tempo isso lhe causara dor, deixara-a doente.
Andava e andava. Seguia as montanhas. O Homem tinha dito a ela que seguisse as montanhas, que corresse e continuasse correndo, mas um dia as montanhas acabaram; as montanhas não existiam mais. Ela nunca pôde encontrar as mesmas montanhas novamente. Alguns dias não ia a lugar nenhum. Alguns dias eram anos. Vivia aqui e ali, com uns e outros, com o homem, a mulher e o menino, e depois a outra mulher, e finalmente ninguém. Algumas pessoas eram gentis com ela antes de morrer. Outras, nem tanto. Ela era diferente, diziam. Não era como eles, não era parte deles. Era alheia, sozinha, e não havia outros iguais a ela em todo o mundo. As pessoas a mandavam ir embora ou não, mas no fim sempre morriam.
Ela sonhava. Sonhava com vozes e com o Homem. Durante algum tempo, meses ou anos, pôde escutar a voz do Homem no uivo do vento, nas estrelas, se prestasse atenção e sentia no coração saudades dos cuidados dele. Mas, com o passar do tempo, a voz dele ficou misturada em sua mente com as vozes dos outros, os que sonhavam, ali e não ali, assim como a escuridão era uma coisa e não era uma coisa, uma presença e uma ausência ao mesmo tempo. O mundo era um mundo de almas sonhando, que não podiam morrer. Ela pensava: existe o chão sob os meus pés, o céu sobre a minha cabeça, existem construções vazias, o vento, a chuva, as estrelas, e em toda parte as vozes, as vozes e a pergunta: Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu?
Não sentia medo deles, assim como o Homem sentira, e os outros também, o homem e sua mulher e o menino, e depois a outra mulher. Ela havia tentado levar os que sonhavam para longe do Homem e tinha conseguido fazer isso. Eles a seguiam, arrastando a pergunta como uma corrente, como aquele fantasma sobre o qual lera na história, Jacob Marley. Durante um tempo pensou que podiam ser fantasmas, entretanto não eram. Não tinha nome para eles. Não tinha nome para si própria, para o que ela era. Uma noite acordou e viu todos eles à sua volta, os olhos carentes, brilhando como brasas na escuridão. Lembrava-se do lugar porque era um celeiro, estava frio e chovia lá fora. Os rostos deles se apinhavam em volta dela, rostos sonhadores, tão tristes e perdidos como o mundo solitário em que ela andava. Eles precisavam que ela lhes dissesse, que respondesse à pergunta. Ela podia sentir o hálito deles, o hálito da noite, e a pergunta, como uma corrente no sangue. Quem sou eu?, perguntavam.
quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu
Então ela correu para longe daquele lugar. Correu e continuou correndo.
As estações mudavam. Rolavam e rolavam, e rolavam um pouco mais. Fazia frio, depois não fazia. As noites eram longas e depois não eram. Ela carregava nas costas uma mochila com coisas de que precisava, além das coisas que queria ter porque eram um conforto. Elas a ajudavam a se lembrar, a segurar o tempo dos anos ; na mente, tanto os bons quanto os ruins. Coisas como a história do fantasma Jacob Marley, o medalhão da mulher - que a garota havia tirado do pescoço dela depois de ela ter morrido como todas as pessoas morriam, com grande comoção. Um osso do campo de ossos e uma pedra da praia onde vira o navio. De vez em quando comia. Algumas coisas nas latas que encontrava já não estavam boas. Ela abria uma lata com a ferramenta que tinha na mochila e um cheiro terrível subia, como as entranhas dos prédios onde as pessoas mortas estavam em fileiras ou espalhadas pelo chão. Então sabia que não podia comer aquela, mas teria de comer outra.
Durante algum tempo houvera o oceano atrás dela, enorme e cinza, e uma praia de pedras lisas, moldadas pelas ondas, e pinheiros altos que esticavam os braços compridos sobre a superfície da água. A noite olhava as estrelas girando, a lua subindo e mergulhando no mar. Era a mesma lua em todo o mundo, e ela foi feliz naquele lugar por algum tempo. Foi naquele lugar que viu o navio. Olá!, gritou, porque nunca tinha visto um navio, e ficou alegre simplesmente por vê-lo. Olá, navio! Olá, barco grandão, olá! Mas o navio não respondeu. Foi indo embora durante algum tempo de dias, passou pela beira do mar e depois retornou, movendo-se nas marés da lua à noite. Como se fosse um sonho que ninguém além dela sonhasse. Acompanhou-o no correr dos dias e noites até o lugar das pedras e da ponte cor de sangue que estava quebrada, onde sua grande proa veio descansar, em meio aos outros barcos grandes e pequenos, e foi então que ela soube que o navio, como seus companheiros sobre as rochas, estava vazio, sem gente dentro. E o mar ficou escuro e com um fedor horrível como o que vinha das latas que não estavam boas. E ela se afastou daquele lugar também.
Ah, ela podia senti-los, sentia todos eles. Podia estender as mãos, acariciar a escuridão e senti-los nela, em toda parte. Seu esquecimento triste. Seu coração partido, enorme e terrível. Sua interrogação interminável e carente. Aquilo a levava a uma tristeza que era uma espécie de amor. Como o amor que sentira pelo Homem, que cuidara dela e lhe mandara correr e continuar correndo.
O Homem. Lembrava-se dos incêndios, da luz como um sol explodindo nos olhos. Lembrava-se da tristeza dele e do sentimento do Homem. Mas não podia mais ouvi-lo. O Homem, pensou ela, tinha ido embora.
Havia outros que ela escutava, na escuridão. E sabia quem eles eram, também.
Sou Babcock.
Sou Morrison.
Sou Chávez.
Sou Baffes-Turrell-Winston-Sosa-Echols-Lambright-Martínez-Reinhardt-Carter.
Pensava nele como os Doze, e os Doze estavam em toda parte, dentro do mundo, atrás do mundo e entremeados na própria escuridão. Os Doze eram o sangue correndo por baixo da pele de todas as coisas do mundo naquele tempo.
Tudo isso, por anos e anos. Lembrava-se de um dia, o dia do campo de ossos, e de outro, o dia do pássaro e do não falar. Isso foi num lugar de árvores muito altas. Lá estava ele, apenas uma coisa pequenina tremulando no ar diante do seu rosto. Os pés dela estavam descalços na grama ao sol, sob o qual ela aprendera a andar. Um borrão de asas se movendo de um lado para o outro. Ela olhava e olhava. Parecia que estava contemplando aquela coisinha havia muitos dias. Pensou na palavra que indicava o nome daquilo, mas quando tentou dizer, percebeu que havia esquecido como. Flor. A palavra estava dentro dela, mas não havia porta por onde sair. Beija...flor. Pensou em todas as outras palavras que sabia e foi a mesma coisa. Todas as palavras estavam trancadas dentro dela.
E uma noite de luar depois de muito tempo, ela estava solitária e sem nenhum amigo no mundo para lhe fazer companhia, e pensou: venham aqui.
E eles foram. Primeiro um, depois outro e mais outro.
Venham aqui.
Eles saíram das sombras. Mergulharam do céu e dos lugares altos ao redor, e logo eram um grupo incontável, como haviam sido no celeiro, só que maior ainda. Apinharam-se em volta dela com seus rostos de sonho. Ela os tocou, os acariciou e não se sentiu sozinha. Perguntou: Só sobramos nós? Porque não vi mais ninguém, nem homem, nem mulher, em todos os anos e anos. Não há mais ninguém? Mas por mais que perguntasse, eles não tinham resposta, só a pergunta, feroz e ardente.
Agora vão, pensou, e fechou os olhos. E quando os abriu de novo, viu que estava sozinha.
Foi assim que aprendeu a fazer aquilo.
Então, através das estações de noites e dos anos de noites, chegou ao lugar da cidade enterrada, onde à luz pálida do alvorecer viu os homens em seus cavalos. Seis, em cima de cavalos escuros e fortes. Os homens tinham armas, como outros homens de quem ela se recordava do tempo depois do homem, da mulher e do menino, e depois da outra mulher; e se escondeu nas sombras, esperando a noite cair. Não sabia o que faria, mas então os que haviam se esquecido vieram a ela, como sempre faziam no escuro, e, mesmo ela tendo dito que não, eles atacaram os homens rapidamente, com grande comoção, e dessa maneira os homens começaram a morrer e depois morreram, três deles.
Foi para onde os corpos estavam, os homens e também seus cavalos, mortos e sem sangue, como acontecia com todas as coisas que morriam daquela maneira. Três dos homens não estavam em lugar nenhum, mas a alma de um deles ainda estava perto, olhando de algum lugar sem nome, sem a forma das coisas sólidas, enquanto ela se curvava para olhar o rosto dele e sua expressão. Era a mesma que vira no rosto do homem, da mulher e do menino, e depois da outra mulher. Medo, dor e entrega. Veio-lhe que o nome do homem era Willem. E os que tinham feito aquilo a Willem estavam arrependidos, arrependidos demais, e ela se levantou e disse a eles: Tudo bem, vão agora e não façam isso de novo se puderem evitar, mas sabia que eles não podiam. Não podiam evitar por causa dos Doze que enchiam a mente deles com seus terríveis sonhos de sangue e nenhuma resposta para a pergunta, além de:
Sou Babcock.
Sou Morrison. Sou Chávez.
Sou Bajfes-Turrell-Winston-Sosa-Echols-Lambright-Martínez-Reinhardt-Carter. Sou Babcock. Babcock. Babcock.
Ela os seguiu pela areia, ainda que a luz fosse um brilho enorme em seus olhos e alguns dias ela não pudesse se esconder dela. Enrolou-se num pano que havia encontrado e pôs os óculos. Os dias eram longos, o sol em seu arco rasgando um talho no céu acima e arando a terra abaixo com a lâmina comprida de sua luz. À noite o deserto ficava imóvel, apenas com o som de seus passos, a batida de seu coração e o mundo sonhador em volta.
Então um dia havia montanhas de novo. Ela nunca havia descoberto aqueles homens nos cavalos nem de onde eles tinham vindo, os que morreram na cidade enterrada diante dos seus olhos. O vale entre as montanhas era salpicado de árvores que giravam ao vento, e foi lá que ela encontrou a construção com os cavalos dentro; e quando os viu em sua imobilidade e solidão, pensou: talvez esses sejam os cavalos que eu vi. Os cavalos não estavam vivos, mas pareciam, e olhá-los lhe trouxe paz e um sentimento ligado ao Homem, aos cuidados dele por ela, que a fizeram pensar que deveria ficar ali, que o tempo de correr havia terminado. Que esse era o lugar onde viera para descansar.
Mas agora esse tempo também havia acabado. Os homens tinham finalmente retornado em seus cavalos e ela salvara um deles. Tinha coberto o corpo dele com o seu, como seu instinto ordenara no momento, e dissera aos sonhadores: vão, vão agora e não matem este, e por um tempo a insistência dela havia vencido, mas a outra voz dentro da mente deles era forte, e a fome também era forte.
Em seu espaço no escuro e na poeira embaixo dos cavalos ela pensava naquele que havia salvado, esperando que ele não estivesse morto, e tentava ouvir os sons dos homens e de seus cavalos e armas retornando. E, depois de certo tempo de dias, quando não havia detectado nenhum traço deles, partiu daquele lugar como havia partido de todos os outros antes e pisou na noite enluarada da qual fazia parte, una e indivisível.
- Onde eles estão? - perguntou à escuridão. - Onde estão os homens em seus cavalos para que eu possa ir até eles e encontrá-los? Porque estou sozinha durante todos esses anos e anos, sem ninguém além de mim.
E uma voz nova lhe veio do céu noturno, dizendo: Vá para o luar, Amy.
- Aonde? Aonde devo ir?
Traga-os a mim. O caminho vai lhe mostrar o caminho. Ela faria isso. Faria isso. Porque estivera sozinha por muito tempo, com ninguém mais além dela, e estava cheia de uma tristeza e um grande desejo de outros de sua espécie, um desejo de não ficar mais sozinha.
Vá para o luar e encontre os homens para que eu os conheça como conheço você, Amy.
- Amy? Quem é Amy? E a voz disse:
Você.
PARTE V
A GAROTA DE LUGAR NENHUM
A você que não recorda A passagem do outro mundo Digo que eu poderia falar de novo: o que quer que retorne do esquecimento retorna para encontrar uma voz.
A íris Selvagem"
VINTE E QUATRO
Diário da Vigilância Verão 92
Dia 51: Nenhum sinal. Dia 52: Nenhum sinal. Dia 53: Nenhum sinal. Dia 54: Nenhum sinal. Dia 55: Nenhum sinal. Dia 56: Nenhum sinal.
Dia 57: Peter Jaxon postado na PT 1 (Matheo Jaxon). Nenhum sinal. Dia 58: Nenhum sinal. Dia 59: Nenhum sinal. Dia 60: Nenhum sinal.
Durante o período citado: o contato. Nenhuma alma morta ou tomada. Vaga no cargo de Segundo Capitão (T. Jaxon, falecido) informada a Sanjay Patal.
Respeitosamente submetido aos Guardiões, S. C. Ramirez, Primeira Capitã
Alvorecer do oitavo dia: os olhos de Peter se abriram ao ouvir o som do rebanho vindo pela trilha.
Lembrou-se de ter pensado, em algum momento depois da meia-noite: só alguns minutos. Só alguns minutos sentado para recuperar as forças. Mas, no instante em que se permitira sentar, apoiando as costas no parapeito e descansando a cabeça nos braços cruzados, o sono o tomara depressa. - Que bom, você acordou.
Lish estava parada junto a ele. Peter esfregou os olhos e se levantou, aceitando sem comentários o cantil de água que ela lhe entregava. Seus membros estavam pesados e lentos, como se os ossos tivessem sido substituídos por tubos cheios de líquido. Tomou um gole de água tépida e olhou pela borda do parapeito. Para além do arrife, uma névoa tênue se erguia lentamente das montanhas.
- Quanto tempo eu dormi?
Ela ajeitou os ombros, virando-se para ele.
- Esqueça. Você ficou acordado sete noites seguidas. Não tinha nada que ficar aqui, desse jeito. Se alguém discordar, que venha se entender comigo.
O Toque da Manhã soou. Peter e Alicia olharam em silêncio enquanto os portões começavam a entrar em seus vãos no muro. O rebanho, inquieto e pronto para sair, começou a se mover em direção à abertura.
- Vá para casa dormir - disse Alicia, enquanto as equipes de lenhadores se preparavam para sair. - Você pode resolver a questão da Pedra depois.
- Vou esperar por ele.
Ela firmou os olhos, encarando-o.
- Peter. Já faz sete noites. Vá para casa.
Foram interrompidos pelo som de passos subindo a escada. Hollis Wilson apareceu na passarela e olhou para os dois, franzindo a testa.
- Vai descer, Peter?
- O posto é todo seu - respondeu Alicia. - Já terminamos aqui.
- Eu disse que vou ficar.
O turno do dia estava começando. Mais dois Vigias subiram a escada, Gar Phillips e Vivian Chou. Gar contava alguma história e Vivian ria, mas quando viram os três parados ali, caíram num silêncio abrupto e desceram rapidamente a passarela.
- Escute - disse Hollis -, se você quiser ficar neste posto, por mim, tudo bem. Mas eu sou o oficial do turno, por isso terei de reportar isso a Soo.
- Ele não vai ficar, não - retrucou Alicia. - Sério, Peter. Não é um pedido. Hollis não quer dizer, mas eu digo. Vá para casa.
Uma ânsia de protestar se agitou dentro dele. Mas, quando abriu a boca para falar, foi inundado por uma tristeza que o obrigou a se render, atordoado. Alicia estava certa. Era o fim. Theo se fora. Ele deveria se sentir aliviado, mas só sentia exaustão - um cansaço tão profundo nos ossos que era como se fosse arrastar aquilo pelo resto da vida, como uma corrente. Precisou reunir quase todas as suas forças para levantar a besta do chão da passarela.
- Sinto muito pelo seu irmão, Peter - disse Hollis. - Acho que posso dizer isso agora, já que as sete noites se passaram.
- Obrigado, Hollis.
- Acho que isso faz de você um Guardião, não é?
Peter mal havia pensado nisso. Achava que sim. Suas primas, Dana e Leigh, eram ambas mais velhas, mas Dana havia pedido para ser dispensada quando o pai de Peter se demitira, e ele duvidava que Leigh se interessasse pelo cargo agora, com um bebê para cuidar no Abrigo.
- Acho que sim.
- Bem... parabéns? - Hollis deu de ombros, sem jeito. - É estranho falar isso, mas você sabe o que eu quero dizer.
Não havia contado a ninguém sobre a garota, nem mesmo a Alicia, que na verdade poderia ter acreditado.
A distância do telhado do shopping até o chão fora menor do que Peter havia imaginado. Não pudera perceber, como Alicia vira claramente do chão, a altura da areia empilhada contra a base do prédio - uma duna alta, inclinada, que absorvera o impacto da queda enquanto ele descia rolando. Montara na garupa de Ômega, atrás de Alicia, ainda segurando o machado. Só quando estavam seguros do lado oposto de Banning e puderam concluir com alguma certeza que não estavam sendo perseguidos, pensou em perguntar como eles haviam escapado e por que os cavalos não estavam mortos.
Alicia e Caleb tinham fugido do átrio pela cozinha do restaurante, que se conectava por uma série de corredores a uma área de descarga. A grande porta de saída estava coberta de ferrugem, mas uma pequena fresta aberta deixava entrar um fino raio de luz do sol. Usando um pedaço de cano como alavanca, os dois haviam conseguido abrir o suficiente para passarem. Saíram à luz do sol, no lado sul do shopping. Foi então que viram dois dos cavalos, mastigando distraidamente algumas moitas de capim alto. Alicia mal pôde acreditar na sorte dos dois. Ela e Caleb estavam dando uma volta ao redor do shopping quando ouviram o estrondo da porta e viram Peter no beiral do telhado.
- Por que vocês não foram simplesmente embora quando acharam os cavalos? - perguntou Peter.
Tinham parado na estrada da usina para dar de beber aos animais, perto do lugar onde haviam visto o viral nas árvores, seis dias antes. Tinham apenas a água que restava nos cantis, mas depois de tomarem um pouco, haviam derramado o que restava nas mãos e deixado os cavalos lamberem. O cotovelo ensanguentado de Peter estava enrolado em uma tira que haviam cortado de sua camisa; o corte não era profundo, mas provavelmente precisaria de pontos.
- Não fico pensando muito nessas coisas, Peter. - Alicia respondeu irritada, e ele se perguntou se a teria ofendido. - Parecia a coisa certa a fazer, e foi.
Nesse momento ele poderia ter contado aos dois sobre a garota. No entanto, hesitou, sentindo a chance passar. Uma menina sozinha, e o que ela fizera sob o carrossel, cobrindo-o com o seu corpo. O olhar trocado entre os dois, o beijo em seu rosto e a porta batendo subitamente. Talvez, no calor do momento, ele tivesse simplesmente imaginado tudo aquilo. Dissera a eles que havia encontrado a escada que subia até o telhado e deixara a história por aí.
Quando voltaram à Colônia, encontraram uma grande agitação. Estavam quatro dias atrasados, prestes a serem declarados perdidos. Com a notícia da volta, uma multidão se reunira no portão. Leigh chegou a desmaiar antes que alguém pudesse explicar que Arlo não estava morto, que havia ficado na usina. Peter não teve ânimo de procurar Mausami no Abrigo para lhe dar a notícia sobre Theo. De qualquer modo, alguém contaria a ela. Michael estava lá, e Sara também. Ela lavou seu cotovelo e deu pontos no machucado enquanto ele permanecia sentado em uma pedra, encolhendo-se de dor e se sentindo enganado, porque o entorpecimento provocado pela perda do irmão não se aplicava àquilo, à sua pele sendo costurada com uma agulha. Sara fez um curativo no ferimento, abraçou-o rapidamente e irrompeu em lágrimas. Então, à medida que a escuridão caía, a multidão se dispersou, abrindo espaço para ele passar. Ao soar do Segundo Toque, Peter subiu ao Muro para ocupar o posto de Misericórdia para o irmão.
Peter deixara Alicia na base da escada, prometendo que iria para casa dormir. Mas a casa era o último lugar aonde queria ir. Apenas alguns homens solteiros ainda usavam o alojamento, um lugar imundo que fedia tanto quanto a usina elétrica. Mas seria lá que Peter moraria de agora em diante. Precisaria de algumas coisas de casa, só isso.
O sol da manhã já estava quente em seus ombros quando ele chegou à casa, um chalé de cinco cômodos que dava para a Clareira Leste. Era o único lar que Peter conhecera desde que saíra do Abrigo. Ele e Theo haviam feito pouco mais do que dormir lá depois da morte da mãe. Certamente não tinham se esforçado muito para manter o lugar arrumado. Peter sempre se sentira incomodado com a bagunça - pratos empilhados na pia, roupas no chão, todas as superfícies grudentas de sujeira -, no entanto, nunca conseguia se obrigar a fazer algo a respeito. A mãe deles era organizadíssima e mantinha a casa limpa - os pisos lavados e os tapetes batidos, a cinza da lareira varrida, a cozinha arrumada. Havia dois quartos no primeiro andar, onde ele e Theo dormiam, e um, o dos pais, no andar de cima. Peter foi até seu quarto e arrumou rapidamente uma mochila com roupas para alguns dias. Cuidaria dos pertences de Theo depois, decidiria com o que ficar e levaria o restante de carroça para o Armazém, onde as roupas e os sapatos do irmão seriam separados, guardados e, mais tarde, redistribuídos entre os Colonos por meio do sistema de Cotas. Theo é que cuidara dessa tarefa depois da morte da mãe, sabendo que Peter não conseguiria cumpri-la. Em um dia de inverno, quase um ano mais tarde, Peter vira uma mulher - Gloria Patal - usando um cachecol que ele reconheceu. Gloria estava em um dos quiosques do mercado, separando vidros de mel. O cachecol de sua mãe, com a longa franja, era inconfundível. Peter ficou tão perturbado que se afastou correndo, como se tivesse cometido algum crime.
Terminou de juntar as coisas e foi para o cômodo principal da casa, uma combinação de cozinha e sala de jantar, com vigas de madeira expostas. O fogão não era aceso havia meses e a pilha de lenha nos fundos provavelmente estava cheia de ratos. O cômodo inteiro estava coberto por uma camada pegajosa de poeira, como se ninguém morasse ali. Bem, pensou, acho que ninguém mora mesmo.
Um último impulso o levou até o andar de cima, ao quarto dos pais. As gavetas da pequena cômoda estavam vazias e o colchão, solto, sem lençóis. As prateleiras do velho guarda-roupa estavam nuas, exceto por uma filigrana de teias de aranha que ele viu balançando no ar ao abrir a porta. A pequena mesinha de cabeceira onde a mãe deixava um copo d'água e os óculos - a única coisa dela que Peter gostaria de ter guardado, mas não pôde: bons óculos valiam uma cota inteira - tinha círculos de manchas fantasmagóricas. Ninguém abria as janelas havia meses e o ar no quarto parecia sufocante, mais um item que Peter havia desonrado com sua negligência. Era verdade: sentia-se como se tivesse fracassado, fracassado com todos eles.
Saiu de casa carregando sua mochila no calor - já mais forte - da manhã. De todos os lados vinham os sons de atividade: as batidas dos cascos e os relinchos dos cavalos no estábulo, a música aguda de um martelo na oficina do ferreiro, os chamados do turno do dia no Muro e, enquanto entrava na Cidade Velha, os risos desinibidos das crianças brincando no pátio do Abrigo. Era o recreio da manhã, quando a Professora deixava todos correrem feito camundongos durante uma hora. Peter se lembrou de um dia de inverno ensolarado e frio, e de uma brincadeira em que, com incrível facilidade, ele havia pegado o bastão das mãos de um garoto muito mais velho e maior que ele - achava que era um dos irmãos Wilson - e conseguira segurá-lo até que a Professora, batendo palmas e acenando com as mãos enluvadas, havia chamado todos para dentro. A pungência do ar frio nos pulmões e a aparência seca, marrom, do mundo no inverno. O vapor de seu suor na testa e a pura excitação física enquanto se desviava e abria caminho entre os outros pequenos, que tentavam agarrá-lo. Como havia se sentido vivo! Peter procurou o irmão na lembrança - sem dúvida Theo estava entre eles naquela manhã de inverno, no grupo que brincava -, mas não conseguiu encontrar nenhum traço dele. O lugar onde seu irmão deveria se encontrar estava vazio.
Chegou às arenas de treino. Eram três amplas depressões na terra, com 20 metros de comprimento e muros altos de barro destinados a conter as inevitáveis lâminas e flechas perdidas. Na extremidade mais próxima da trincheira do meio, cinco treinandos estavam em posição de sentido: três garotas e dois garotos, entre 9 e 13 anos. Nas posturas rígidas e nos rostos ansiosos, Peter podia ver a mesma seriedade esforçada que sentira ao vir para as arenas, um desejo enorme de provar o próprio valor. Theo estava três níveis à frente dele. Lembrava-se da manhã em que o irmão fora escolhido como corredor, o sorriso de orgulho em seu rosto enquanto se dirigia para o Muro pela primeira vez. Vislumbrara apenas um reflexo da glória de Theo, mas também a sentira. Logo ele seguiria o irmão.
Nessa manhã a treinadora era a prima deles, Dana, filha do tio Willem. Era oito anos mais velha que Peter e deixara o Muro para se encarregar das arenas depois do nascimento da primeira filha, Ellie. A mais nova, Kat, ainda estava no Abrigo, mas Ellie saíra um ano atrás e era uma das que treinavam na arena, no primeiro nível, uma garota alta para a idade e magra como a mãe, o cabelo preto e comprido preso em uma trança no estilo das Vigias.
Dana, parada diante do grupo, examinava os treinandos com expressão pétrea, como se estivesse escolhendo um carneiro para o abate. Tudo isso fazia parte do ritual.
- Quantas chances temos de acertá-los? - perguntou ao grupo.
Eles responderam a uma só voz:
- Uma!
- De onde eles vêm?
Desta vez, mais alto:
- De cima!
Dana parou, balançando-se nos calcanhares, e viu Peter. Direcionou-lhe um sorriso triste antes de olhar de novo para os pupilos, o rosto se endurecendo em uma careta.
- Foi muito fraco. Vocês acabam de ganhar três voltas extras na pista antes do almoço. Agora quero duas filas, arcos levantados.
- O que você acha? - Era a voz de Sanjay Patal.
Peter estivera tão perdido nos próprios pensamentos que não tinha escutado quando ele se aproximara. Sanjay estava ao lado dele, os braços cruzados diante do peito e o olhar voltado para as arenas.
- Eles vão aprender.
Abaixo, os treinandos haviam começado os exercícios matinais. Um dos mais novos, o pequeno Darrell, atirou mal, enterrando a flecha na cerca atrás do alvo com um ruído surdo. Os outros começaram a rir.
- Sinto muito pelo seu irmão.
Sanjay se virou para ele, afastando a atenção de Peter para longe das arenas. Era um homem de porte pequeno, mas a impressão que dava era de ser compacto. Mantinha o rosto barbeado e o cabelo, com fios grisalhos, cortado bem rente. Tinha dentes pequenos e brancos e olhos fundos sombreados por uma sobrancelha farta, parecendo lã.
- Theo era um bom homem. Isso não deveria ter acontecido.
Peter não respondeu. O que havia para dizer?
- Estive pensando no que vocês me contaram - continuou Sanjay. - Para ser honesto, nada disso realmente faz sentido. O que aconteceu com Zander. E o que vocês foram fazer na biblioteca.
Peter sentiu o calafrio de sua mentira. Todos haviam concordado em manter a história original e não contar a ninguém sobre as armas, pelo menos por enquanto. Mas isso se revelara uma tarefa muito mais complexa do que Peter havia previsto. Sem as armas, a história deles era cheia de furos - como explicar o que estavam fazendo na laje da usina, como haviam resgatado Caleb, a morte de Zander, a presença deles na biblioteca?
- Nós contamos tudo - disse Peter. - Zander deve ter sido mordido. Achamos que poderia ter acontecido na biblioteca, por isso fomos verificar.
- Mas por que Theo correria um risco desses? Ou foi ideia de Alicia?
- Por que acha isso?
Sanjay fez uma pausa e pigarreou.
- Sei que ela é sua amiga, Peter, e não duvido da capacidade dela. Mas Alicia é imprudente, sempre pronta para uma caçada.
- Não foi culpa de Alicia. Não foi culpa de ninguém. Foi só azar. Nós decidimos em grupo.
Sanjay parou de novo, lançando um olhar pensativo para as arenas. Peter não disse nada, esperando que seu silêncio pusesse um fim à conversa.
- Mesmo assim, não consigo entender. Não era o estilo de seu irmão se arriscar assim. Acho que nunca saberemos. - Sanjay balançou a cabeça, preocupado, e se virou para encarar Peter de novo, a expressão se suavizando. - Sinto muito, não deveria estar interrogando você dessa forma. Tenho certeza de que está cansado. Mas, já que estamos aqui, há outra coisa que queria discutir com você. É sobre os Guardiões. O cargo do seu irmão.
O pensamento deixou Peter subitamente exausto. Mas o dever era seu.
- Diga o que querem que eu faça.
- É sobre isso que gostaria de falar, Peter. Acho que seu pai errou ao passar o lugar para seu irmão. Por direito, o lugar dele pertencia a Dana. Ela era, e ainda é, a mais velha dos Jaxon.
- Mas ela recusou o cargo.
- É verdade. Mas, cá entre nós, nem sempre nos sentimos... confortáveis com o modo como isso aconteceu. Dana estava abalada. O pai dela, como você se lembra, tinha acabado de ser morto. Muitos de nós achamos que ela teria ficado feliz em servir, se seu pai não a tivesse pressionado a recusar.
O que Sanjay estava dizendo? Que o cargo era de Dana?
- Não sei do que está falando. Theo nunca me disse nada sobre isso.
- Bem, duvido que ele dissesse. - Sanjay deixou um momento passar. - Seu pai e eu nem sempre concordávamos. Tenho certeza de que você sabe disso. Eu me opus às Longas Cavalgadas desde o início. Mas seu pai nunca pôde abandonar a ideia, mesmo depois de ter perdido tantos homens. Era intenção dele que seu irmão retomasse as cavalgadas. Por isso queria Theo como Guardião.
Agora os treinandos haviam saído da arena e começavam a correr na pista. O que Theo tinha dito naquela noite na sala de controle? Que Sanjay era bom no que fazia? Tudo isso só servia para que Peter, naquele momento, decidisse proteger ferozmente um cargo que, minutos antes, teria dado de boa vontade à primeira pessoa que visse.
- Não sei, Sanjay.
- Você não precisa saber, Peter. Os Guardiões se reuniram. Todos concordamos. A vaga é de Dana, por direito.
- E ela aceitou?
- Quando expliquei tudo a ela, sim. - Sanjay pôs a mão no ombro de Peter, um gesto que pretendia ser de consolo, supôs, mas que não era, nem um pouco. - Por favor, não entenda mal. Isso não reflete nada negativo a seu respeito. Na época, todos nós nos dispusemos a passar por cima dessa irregularidade porque tínhamos muita consideração por Theo.
Assim, pensou Peter, Theo já era assunto encerrado. Suas camisas ainda estavam dobradas nas gavetas, suas botas de reserva permaneciam embaixo da cama, mas era como se ele nunca tivesse existido.
Sanjay levantou o rosto, olhando para além das arenas.
- Bem. Aí está Soo.
Peter se virou e viu Soo Ramirez vindo do portão até eles. Jimmy Molyneau estava com ela. Soo era uma mulher alta de 40 e poucos anos e cabelo cor de areia. Tinha sido promovida ao posto de Primeira Capitã depois da morte de Willem - era uma mulher de extrema competência, porém geniosa. Explodia a qualquer momento, seus acessos de fúria faziam até o Vigia mais endurecido se encolher de medo.
- Peter, estive procurando você. Tire alguns dias de licença do Muro, se quiser. Avise-nos quando for gravar o nome de Theo na Pedra. Eu gostaria de dizer algumas palavras.
- Eu estava pensando a mesma coisa - exclamou Sanjay. - Não deixe de nos avisar. E, é claro, tire alguns dias de folga. Não há pressa.
A chegada de Soo exatamente naquele momento não havia sido um acidente, percebeu Peter; ele estava sendo manipulado.
- Certo - conseguiu dizer. - Acho que farei isso.
- Eu gostava muito de seu irmão - disse Jimmy, evidentemente achando que precisava fazer algum comentário, já que estava ali. - E Karen também.
- Obrigado. Tenho ouvido muito isso.
A observação saiu um pouco amarga demais, e Peter arrependeu-se imediatamente, vendo a expressão no rosto de Jimmy. Ele havia sido amigo de Theo e também era Segundo Capitão; além disso, sabia o que significava perder um irmão. Connor Molyneau fora morto cinco anos antes, numa caçada aos fumaças organizada para acabar com um bando no Campo de Cima. Depois de Soo, Jimmy era o oficial mais velho. Tinha cerca de 35 anos, mulher e duas filhas. Poderia ter deixado o posto anos antes, sem que ninguém pensasse mal dele, mas escolhera permanecer. Às vezes sua mulher, Karen, lhe trazia comida no Muro, um gesto que o deixava envergonhado e garantia piadas intermináveis dos Vigias, mas todo mundo sabia que ele gostava disso.
- Desculpe, Jimmy.
Ele deu de ombros.
- Tudo bem. Já passei por isso, acredite.
- O que ele está dizendo é verdade, Peter. Seu irmão era uma pessoa muito importante para todos nós.
Tendo feito sua declaração final, Sanjay ergueu o queixo na direção de Soo.
- Capitã, pode me dar um minuto?
Soo confirmou com a cabeça, os olhos ainda fixos no rosto de Peter.
- Estou falando sério - disse ela, segurando o braço dele. - Tire o tempo que precisar.
Peter esperou alguns minutos para se distanciar dos três. Sentia-se particularmente agitado; alerta, mas sem foco. O que havia acontecido era apenas conversa, nada que, no fim das contas, devesse tê-lo surpreendido tanto assim: as condolências desajeitadas de sempre, que ele conhecia tão bem, e depois a notícia de que não seria Guardião, afinal - fato que ele deveria ter recebido de bom grado, já que não queria se envolver com os deveres cotidianos de organizar as coisas. No entanto, sentira algo mais profundo disfarçado naquela conversa. Tinha a nítida impressão de estar sendo manipulado, de que todo mundo sabia algo que ele ignorava.
Pendurando a mochila no ombro - ela estava praticamente vazia, por que ele havia se incomodado? -, decidiu não ir diretamente para o alojamento. Em vez disso, pegou o caminho na direção oposta.
A Pedra da Noite Escura ficava na outra extremidade da praça: era um pedaço de granito em forma de pêra com o dobro da altura de um homem, de um branco cinzento com pontos rosa que pareciam jóias. Em sua superfície estavam gravados os nomes dos mortos e desaparecidos. Era por isso que tinha vindo. Cento e sessenta e dois nomes: haviam demorado meses para gravar todos. Duas famílias inteiras, os Levine e os Darrell. Todo o clã dos Boyes, nove almas no total. Alguns dos Greenberg, Patal, Chou, Molyneau, Strauss, Fisher e dois Donadio: os pais de Lish, John e Angel. Os primeiros Jaxon a terem os nomes postos na pedra haviam sido Daria e Taylor Jaxon, avós de Peter, que morreram sob os escombros de sua casa, junto ao Muro Norte. Para Peter, era fácil pensar neles como sendo velhos, já que estavam mortos havia 15 anos, toda a vida deles relegada a um tempo anterior à sua lembrança, uma região da existência em que Peter pensava simplesmente como "antes". Mas, de fato, seu avô, Taylor, não teria muito mais de 40 anos, e Daria, a segunda esposa dele, tinha apenas 35 na época do terremoto.
Originalmente, a Pedra se destinara às vítimas da Noite Escura, mas a partir de então parecera natural manter o costume e registrar os mortos e os que haviam sido tomados. Peter viu que o nome de Zander já fora gravado. Não estava sozinho: vinha abaixo dos nomes de seu pai, de sua irmã e da mulher com quem fora casado. Parecia tão estranho que Zander, um homem que raramente abria a boca para falar com alguém, tivesse se casado, que Peter havia se esquecido completamente dela. A mulher, cujo nome era Janelle, tinha morrido durante o parto, juntamente com o bebê, apenas alguns meses depois da Noite Escura. A criança ainda não tinha nome, de modo que não havia o que escrever, e sua breve estadia na Terra passara sem registro.
- Se quiser, posso gravar o nome de Theo.
Peter se virou e viu Caleb parado atrás dele, usando os tênis amarelos espalhafatosos. Eram grandes demais para ele e faziam seus pés parecerem largos como pés de pato. Olhando-os, Peter sentiu uma pontada de culpa. Os tênis gigantescos e ridículos de Caleb eram prova - na verdade, a única prova - de todo o malfadado episódio do shopping. Mas de algum modo Peter também sabia que Theo teria olhado para os tênis de Caleb e caído na gargalhada.
- Você gravou o nome de Zander?
Caleb deu de ombros.
- Sou bastante bom com o cinzel. Não havia mais ninguém para cuidar disso, eu acho. Ele deveria ter tentado fazer mais amigos.
O garoto fez uma pausa, olhando para além dos ombros de Peter. Por um segundo, os olhos dele ficaram marejados.
- Foi bom você ter atirado nele. Zander odiava os virais. Achava que ser tomado seria a pior coisa do mundo para ele. Fico feliz por ele não ter precisado ser um deles por muito tempo.
Então Peter decidiu. Não escreveria o nome de Theo na pedra enquanto não tivesse certeza, e ninguém mais o faria.
- Onde você tem dormido esses dias? - perguntou a Caleb.
- No alojamento. Onde mais poderia ser?
Peter levantou o ombro, indicando a mochila.
- Posso ficar com você?
- Se quiser...
Só mais tarde, depois de esvaziar a mochila e deitar no colchão fundo e mole demais, Peter entendeu o que os olhos de Caleb haviam procurado quando o garoto olhara para além dos seus ombros. Não era o nome de Zander, mas, acima dele, um grupo de três: Richard e Marilyn Jones, e, embaixo, Nancy Jones, a irmã mais velha de Caleb. Seu pai, um pé de cabra, havia morrido numa queda enquanto tentava consertar as luzes durante a agitação das primeiras horas da Noite Escura. A mãe e a irmã tinham morrido no Abrigo, esmagadas pelo teto que desmoronara. Caleb era bebê, tinha apenas algumas semanas de vida.
Foi então que Peter percebeu por que Alicia o havia levado para a laje da usina. Não tinha nada a ver com as estrelas. Caleb Jones era um órfão da Noite Escura, assim como Lish. Não havia ninguém além dela para esperar por ele.
Ela havia levado Peter para a laje para esperar Caleb Jones.
VINTE E CINCO
Michael Fisher, Primeiro Engenheiro de Luz e Força, estava sentado na Casa de Força, ouvindo um fantasma.
Era como Michael o chamava: sinal fantasma. Espreitando da névoa de ruídos no ponto mais alto do espectro audível - onde, segundo ele, nada deveria existir. O fragmento de um fragmento, que estava lá e ao mesmo tempo não estava. O manual do operador de rádio que ele havia encontrado no barracão do depósito listava a frequência como não autorizada.
- Eu poderia ter lhe dito isso - observou Élton.
Os dois haviam ouvido o sinal pela primeira vez no terceiro dia depois do retorno da equipe de suprimentos. Michael ainda não podia acreditar que Theo se fora. Alicia lhe garantira que não havia sido culpa dele, que a placa-mãe não tinha nada a ver com a morte de Theo, mas mesmo assim Michael se sentia responsável, parte de uma sequência de eventos que levara à perda do amigo. E a placa-mãe... o pior era que Michael havia praticamente se esquecido dela um dia depois da partida de Theo e dos outros para a usina. Michael havia adaptado uma peça antiga do controle de fluxo de bateria para o que precisava. Não era uma placa Pion, mas tinha capacidade suficiente para processar qualquer sinal na extremidade superior do espectro de ondas.
E mesmo que não tivesse conseguido, o que era um processador a mais? Nada que valesse a morte de Theo.
Mas este sinal, 1.432 mega-hertz, era fraco como um sussurro, mas dizia alguma coisa. E o fato de o significado daquilo parecer sempre lhe escapar o incomodava. Era uma sequência digital repetitiva que surgia e sumia misteriosamente, ou pelo menos era o que parecera até ele perceber - bem, até Élton perceber - que chegava a cada 90 minutos, sendo transmitida por exatos 242 segundos antes de ficar em silêncio de novo.
Deveria ter deduzido isso sozinho. Realmente não havia desculpa.
E estava ficando mais forte. Hora a hora, a cada ciclo, se bem que mais à noite. Era como se o sinal estivesse subindo a montanha. Ele havia parado de procurar qualquer outra coisa - simplesmente ficava sentado diante do painel e contava os minutos enquanto esperava que o sinal retornasse.
Não era nada que viesse de um elemento natural, ou não manteria um ciclo de 90 minutos. Não era um satélite. Não era nada causado pelas baterias. Não era um monte de coisas. Michael não sabia o que era.
O humor de Élton também havia mudado. O Élton descontraído a que Michael estava acostumado depois de tantos anos na Casa de Força - aquele Élton sumira. Em seu lugar estava um homem rabugento cheio de caspa que mal dizia olá. Grudava os fones nos ouvidos, escutando o sinal quando vinha, franzindo os lábios e balançando a cabeça, e talvez dizendo uma ou duas palavras sobre precisar dormir mais. Mal se incomodava em acender as luzes ao ouvir o Segundo Toque. Michael tinha a sensação de que poderia ter deixado acumular gás suficiente nas baterias para causar uma explosão que mandaria todos para a Lua, e Élton, nem assim, teria dito uma palavra a respeito.
Além disso, seria bom se ele tomasse um banho. Diabos, seria bom se os dois tomassem um banho.
Por que isso? Por causa da morte de Theo? Desde a volta da equipe de suprimentos, um silêncio ansioso havia baixado sobre toda a Colônia. O que acontecera a Zander não fazia sentido para ninguém. Deixar Caleb preso na torre daquele jeito. Sanjay e os outros haviam tentado manter isso em sigilo, mas os boatos corriam depressa. As pessoas diziam que sempre souberam que havia algo esquisito com o sujeito, que todos aqueles meses do outro lado da montanha tinham feito alguma coisa com o cérebro dele. Que ele não estivera bem desde que a esposa e o bebê haviam morrido.
E depois daquele incidente com Sanjay. Michael não sabia o que pensar. Duas noites antes, estava sentado diante do painel quando de repente a porta se abriu e lá estava Sanjay, parado com olhos arregalados que pareciam dizer: Aha! É isso, pensou Michael, os fones ainda grudados nos ouvidos - seu crime não poderia ser mais óbvio -, agora estou morto. De algum modo, Sanjay descobriu sobre o rádio. Vou ser posto para fora, sem dúvida.
Mas então aconteceu uma coisa estranha. Sanjay não disse nada. Só ficou parado junto à porta, olhando para Michael, e, enquanto os segundos silenciosos se passavam, Michael percebeu que a expressão do sujeito não era exatamente o que ele havia pensado ao primeiro olhar: não era uma justa indignação contra crimes descobertos na calada da noite, e sim uma perplexidade quase animal, um espanto vazio diante do nada. Sanjay vestia um pijama e tinha os pés descalços: estava tendo um episódio de sonambulismo. Muitos tinham. Em certas ocasiões, parecia que metade da Colônia estava de pé andando sem rumo. Isso tinha algo a ver com as luzes, com o modo como nunca ficava suficientemente escuro para as pessoas descansarem de verdade. Isso havia acontecido a Michael uma ou duas vezes também. Numa delas, tinha acordado na cozinha, esfregando mel no rosto. Mas Sanjay? Sanjay Patal, o Guardião-chefe? Não era algo que se esperaria acontecer a ele.
A mente de Michael trabalhava rápido. Precisava tirar Sanjay da Casa de Força sem acordá-lo. Michael estava pensando em diversas estratégias - queria ter um pouco de mel para oferecer a ele - quando de repente Sanjay franziu a testa, inclinou a cabeça de lado como se estivesse processando algum som distante e passou rigidamente por ele, arrastando os pés.
- Sanjay? O que você está fazendo?
O homem havia parado em frente ao painel de disjuntores. Sua mão direita, que estava pendurada ao seu lado, estremeceu um pouco.
- Não... sei.
- Não há... - disse Michael -, não sei, outro lugar onde você deveria estar?
Sanjay não disse nada. Levantou a mão diante do rosto, virando-a lentamente para um lado e para o outro enquanto a olhava com a mesma perplexidade muda, como se não pudesse decidir a quem ela pertencia.
- Bab... cock?
Mais passos do lado de fora e de repente Gloria estava ali. Ela também usava roupas de dormir. O cabelo, que ficava preso durante o dia, caía até a metade das costas. Parecia meio ofegante. Evidentemente havia saído correndo de casa atrás dele. Ignorou Michael - que a essa altura se sentia menos alarmado do que sem graça, como uma testemunha casual de algum drama doméstico particular - e marchou direto para perto do marido, pegando-o firmemente pelo cotovelo.
- Sanjay, venha para a cama.
- Esta mão é minha, não é?
- E - respondeu ela, impaciente. - É a sua mão. - Ainda segurando o marido pelo cotovelo, Gloria olhou para Michael e disse baixinho: - Sonambulismo.
- E, sem dúvida, sem dúvida é minha.
Ela deu um suspiro.
- Sanjay, agora venha. Já chega.
Um lampejo de consciência surgiu no rosto do sujeito. Ele se virou para olhar em volta, os olhos se fixando em Michael.
- Michael. Olá.
Os fones de ouvido tinham desaparecido, ocultos sob o balcão.
- Oi, Sanjay.
- Parece que eu... saí para dar uma volta.
Michael conteve o riso. Mas o que Sanjay fazia perto da caixa de disjuntores?, pensou.
- Glória foi muito gentil em vir atrás de mim para me levar para casa. Portanto é para lá que vou agora.
- Certo.
- Obrigado, Michael. Desculpe ter atrapalhado seu importante trabalho.
- Tudo bem.
E com isso Gloria Patal levou o marido para fora, presumivelmente de volta para a cama, para terminar o sonho que havia se iniciado em sua mente inquieta.
O que pensar disso? Quando Michael contou a Élton na manhã seguinte, tudo o que ele disse foi: "Acho que a coisa está pegando Sanjay, como tem acontecido a todos nós." E então Michael perguntou: "Que coisa? O que você quer dizer com coisa?", mas Élton não disse nada. Parecia não ter resposta.
Preocupação, preocupação, preocupação - Sara estava certa: ele passava tempo em excesso com a cabeça enfiada no buraco da preocupação. Estavam entre dois ciclos do sinal: Michael teria de esperar mais 40 minutos para ouvi-lo de novo. Sem mais nada para ocupar a mente, trouxe à tela os monitores das baterias, esperando uma boa notícia, mas sem encontrar. Um dia inteiro de ventos fortes e, duas horas depois do Toque, as baterias já estavam abaixo de 50%.
Deixou Élton e foi dar uma volta, arejar a cabeça O sinal: 1.432 mega-hertz. Significava alguma coisa, mas o quê? Havia o óbvio, ou seja, o fato de serem os quatro primeiros números inteiros positivos num padrão que se repetia: 1432143214321432 e assim por diante, o 1 fechando a sequência, que reiniciava com o 4. Interessante, mas provavelmente apenas coincidência, mas esta era a questão a respeito do sinal fantasma: nada nele parecia coincidência.
Chegou ao Solário, onde com frequência as pessoas se reuniam até bem tarde da noite. Piscou diante da luz. Uma única figura estava sentada na base da Pedra, o cabelo escuro cobrindo os braços cruzados sobre os joelhos. Mausami.
Michael pigarreou para alertá-la de sua aproximação. Mas enquanto ele se aproximava, ela olhou para ele apenas com uma curiosidade passageira. O significado era claro: estava sozinha e queria continuar assim. Porém Michael estivera na Casa de Força durante horas - Élton praticamente não contava - caçando fantasmas no escuro e estava mais do que disposto a se arriscar a um pouco de rejeição em troca de algumas migalhas de companhia.
- Oi - tentou, parando junto dela. - Tudo bem se eu me sentar?
Então ela levantou o rosto. Michael viu que as bochechas de Mausami estavam riscadas de lágrimas.
- Desculpe - disse ele. - Posso ir embora. Mas ela balançou a cabeça.
- Tudo bem. Sente-se, se quiser.
E ele se sentou. Era incômodo, porque a única maneira de se sentar direito era ocupando um lugar ao lado dela, os ombros dos dois praticamente se tocando, com as costas apoiadas na Pedra, como as dela. Michael começava a pensar que não havia sido uma boa ideia, afinal, sobretudo porque o silêncio se estendeu. Percebeu que, ao ficar, tinha concordado tacitamente em perguntar o que a estava incomodando - até mesmo, talvez, em encontrar as palavras certas para confortá-la. Sabia que a gravidez podia tornar o humor das mulheres instável, não que elas normalmente não tivessem mudanças de humor, já que eram tão inconstantes quanto os quatro ventos. O comportamento de Sara fazia sentido para ele na maior parte do tempo, mas isso acontecia só porque era sua irmã e ele estava acostumado com ela.
- Soube da notícia. Acho que... parabéns?
Ela enxugou os olhos com as pontas dos dedos. Seu nariz estava escorrendo, mas ele não tinha um pano para lhe oferecer.
- Obrigada.
- Galen sabe que você está aqui fora?
Ela deu um sorriso sem graça.
- Não. Galen não sabe.
Isso o fez pensar que o que a estava incomodando não era apenas uma questão de mudança de humor. Ela viera visitar a Pedra por causa de Theo. As lágrimas eram por ele.
- Eu só... - Mas ele não conseguiu encontrar as palavras. - Não sei. - E deu de ombros. - Sinto muito. Nós éramos amigos também.
Então Mausami fez algo que o surpreendeu. Pôs a mão sobre a dele, cruzando os dedos dos dois, em cima do joelho de Michael.
- Obrigada, Michael. Acho que as pessoas não dão crédito suficiente a você. Esta era exatamente a coisa certa a dizer.
Durante algum tempo ficaram parados em silêncio. Mausami não tirou a mão, deixou-a onde estava. Era estranho - até aquele momento Michael não havia sentido realmente a ausência de Theo. Sentiu-se triste, mas outra coisa, também. Sentiu-se sozinho. Queria dizer alguma coisa, colocar o sentimento em palavras. Mas, antes que pudesse, duas outras figuras apareceram na extremidade oposta da praça, andando em direção a eles. Galen e, atrás, Sanjay.
- Escute - disse Mausami -, meu conselho é: não deixe nenhuma merda da Lish incomodar você. E o modo como ela vê as coisas. Ela vai se restabelecer.
Lish? Por que ela estava falando sobre Lish? Mas não havia tempo para pensar nisso: Galen e Sanjay haviam se aproximado subitamente deles. Galen estava suado e ofegante, como se tivesse dado várias voltas correndo no Muro. Quanto a Sanjay, o sonâmbulo de duas noites atrás não estava mais ali. No lugar dele havia uma figura com uma expressão grave de pura indignação paternal.
- O que você pensa que está fazendo? - Os olhos de Galen estavam franzidos de raiva, como se tentasse colocar a imagem dela em foco. - Você não deveria estar fora do Abrigo, Maus. Não deveria.
- Eu estou bem, Galen. - Ela o afastou com um aceno. - Vá para casa.
Sanjay esticou o corpo, de modo a ficar acima dos dois, uma presença imperiosa, banhada pelas luzes. Seu rosto parecia refletir o desapontamento paterno. Olhou uma vez para Michael, dispensando-o com um rápido franzir das sobrancelhas fartas - um gesto simples que matou qualquer esperança que o rapaz pudesse ter de algum comentário bem-humorado sobre os eventos da outra noite.
- Mausami, tenho sido paciente, mas isso já é demais. Não entendo por que você dificulta tanto as coisas. Você sabe onde deveria estar.
- Eu vou ficar aqui com Michael. Qualquer um que pensar de outra forma terá de se entender com ele.
Michael sentiu o estômago afundar.
- Escute...
- Fique fora disso, Circuito - disse Galen rispidamente. - E, já que estamos falando nisso, o que você acha que está fazendo aqui com a minha mulher?
- O que eu estou fazendo?
- É. Isso foi ideia sua?
- Pelo amor de Deus, Galen. - Mausami suspirou. - Sabe o que você está parecendo? Não, não foi ideia de Michael.
Michael percebeu que todos estavam olhando para ele. Ter acabado no meio dessa cena, quando tudo o que queria era um pouco de companhia e ar puro, parecia o truque mais cruel do destino. A expressão de Galen era da mais pura e ardente humilhação, e Michael se perguntou se o sujeito seria capaz de agredi-lo. Havia certa ineficácia no modo como Galen se portava, sua atenção sempre parecendo estar um passo atrás do que acontecia à sua volta, mas Michael não se deixava enganar: o rapaz era uns 15 quilos mais pesado do que ele. Além disso, Galen estaria defendendo sua honra. Os conhecimentos de Michael a respeito de lutas masculinas se resumiam a algumas brigas tolas na infância, mas havia trocado socos o suficiente para saber que o envolvimento emocional ajudava. E Michael certamente não estava envolvido emocionalmente. Se Galen conseguisse acertar um soco nele, tudo acabaria depressa.
- Escute, Galen - começou de novo. - Eu só estava dando uma volta...
Porém Mausami não o deixou terminar.
- Está tudo bem, Michael. Ele sabe. - Ela virou o rosto para encará-lo; seus olhos estavam inchados, as pálpebras pesadas de tanto chorar. - Todos temos uma tarefa a cumprir, não é?
Ela segurou sua mão de novo e a apertou, como se selasse um acordo entre os dois.
- A minha aparentemente é obedecer e não dificultar as coisas. Assim, por ora, é o que vou fazer.
Galen estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, mas Mausami o ignorou, ficando de pé sozinha. Ainda furioso, Sanjay tinha dado um passo atrás, as mãos nos quadris.
- Não vejo por que isso tem de ser tão difícil, Maus - disse Galen.
Porém Mausami agiu como se não o tivesse escutado, dando as costas para os dois e encarando Michael, que ainda estava sentado com as costas apoiadas na Pedra. No olhar trocado entre os dois, Michael pôde perceber como ela se sentia diminuída pela rendição, a vergonha de marchar para cumprir ordens.
- Obrigada por me fazer companhia, Michael. - E lhe deu um sorriso triste. - O que você disse foi muito gentil.
Na enfermaria, Sara esperava Gabe Curtis morrer.
Havia chegado de uma cavalgada quando Mar aparecera à sua porta. Estava acontecendo, ela contou. Disse que Gabe estava agitado, gemendo, lutando para respirar. Sandy não sabia o que fazer. Será que ela poderia vir? Pelo Gabe?
Sara pegou seu kit médico e acompanhou Mar até a enfermaria. Enquanto passava pela cortina do quarto, a primeira coisa que viu foi Jacob, inclinado desajeitadamente sobre a cama onde o pai estava deitado, encostando uma xícara de chá nos lábios dele. Gabe parecia estar engasgando, cuspindo sangue.
Sara foi depressa para o lado dele e tirou gentilmente a xícara da mão de Jacob. Em seguida, virou Gabe de lado - o coitado não pesava quase nada, era só pele e osso - e pegou uma bacia de metal no carrinho com a mão livre, colocando-a embaixo do queixo dele. Gabe arfou e tossiu novamente: o sangue era de um vermelho intenso, com pequenos pedaços de tecido morto.
A Outra Sandy saiu de uma sombra atrás da porta.
- Desculpe, Sara - disse ela e sacudiu as mãos, nervosa. - Ele começou a tossir desse jeito e eu achei que talvez o chá...
- Você deixou Jacob fazer isso sozinho? Qual é o seu problema?
- O que é que o meu pai tem? - gemeu o garoto. Estava sentado perto da cama, o rosto expressando um desamparo confuso.
- Seu pai está muito doente, Jacob - disse Sara. - Ninguém está com raiva de você. Você fez a coisa certa, tentou ajudar.
Jacob havia começado a se coçar, cravando as unhas da mão direita na pele áspera do antebraço.
Gabe estava com hemorragia interna, Sara sabia. O tumor havia rompido alguma coisa. Ela passou a mão sobre a barriga dele e sentiu o volume quente do sangue. Pegou um estetoscópio em seu kit, prendeu-o aos ouvidos, puxou a camisa de Gabe de lado e auscultou os pulmões. Um chacoalhar úmido, como água dentro de uma lata. Faltava pouco, mas ainda poderia demorar horas. Ergueu os olhos para Mar, que assentiu. Entendia o significado das palavras de Mar quando dissera que Sara era a predileta de Gabe, sabia o que estava pedindo que ela fizesse agora.
- Sandy, leve Jacob para fora.
- O que você quer que eu faça com ele?
Por todos os voadores, o que havia de errado com aquela mulher?
- Qualquer coisa. - Sara parou e respirou fundo; não era hora de ficar com raiva. - Jacob, preciso que você vá com Sandy agora. Pode fazer isso por mim?
Sara não viu nenhum sinal de compreensão nos olhos do garoto - apenas medo e um antigo hábito de obedecer às decisões que os outros tomavam por ele. Ele iria se lhe pedissem, Sara sabia.
Um aceno relutante de cabeça.
- Está bem, eu acho.
- Obrigada, Jacob.
Sandy levou o garoto para fora do quarto. Sara ouviu a porta da Enfermaria se abrir e fechar. Sentada do outro lado da cama, Mar segurava a mão do marido.
- Sara, você... tem alguma coisa?
Não era algo que se discutisse abertamente. Todas as ervas eram mantidas no porão, em um velho freezer, guardadas em vidros empilhados em prateleiras de metal. Sara pediu licença, desceu, pegou o que seria necessário - dedaleira para diminuir o ritmo da respiração; pequenas sementes pretas de trombeteira para acelerar os batimentos cardíacos; raspa de raiz de cicuta, marrom e amarga, para entorpecer a consciência - e colocou sobre a mesa. Amassou as ervas no pilão até formar um fino pó marrom, colocado então em um pedaço de papel que ela inclinou sobre uma xícara, jogando a mistura dentro. Guardou tudo, limpou a mesa e subiu a escada.
Na cozinha, pôs água para ferver. A chaleira já estava quente, e logo a bebida ficou pronta. Tinha um tom levemente esverdeado, como o de algas, e um cheiro amargo, terroso. Levou o chá para o quarto.
- Acho que isso vai ajudar.
Mar assentiu, pegando a xícara da mão de Sara. Parte do acordo implícito entre as duas era que Sara apenas forneceria os meios, não poderia fazer o resto.
Mar olhou para o interior da xícara.
- Quanto?
- Tudo, se puder.
Sara se posicionou na cabeceira da cama e apoiou Gabe pelos ombros. Mar levou a borda da xícara à boca do marido, pedindo que tomasse o líquido. Os olhos dele ainda estavam fechados, e ele parecia totalmente alheio à presença delas. Sara ficou preocupada, pensando que ele não conseguiria beber, que talvez tivessem esperado demais. Mas então ele tomou um primeiro gole pequeno, depois outro, bebericando como um passarinho em uma poça. Quando a xícara se esvaziou, Sara o acomodou de volta no travesseiro.
- Quanto tempo? - disse Mar, sem olhar para ela.
- Não muito. É rápido.
- E você vai ficar. Até que termine.
Sara assentiu.
- Jacob jamais pode saber. - Mar olhou para ela, implorando. - Ele não entenderia.
- Eu prometo.
Então as duas esperaram, sozinhas.
Peter estava sonhando com a garota. Estavam embaixo do carrossel, naquela prisão empoeirada de teto baixo, e a menina estava sobre suas costas, exalando o hálito de mel em seu pescoço. Quem é você?, pensava ele, quem é você? Mas as palavras pareciam presas em sua boca, emboladas como um trapo de lã. Ele estava com sede, muita sede. Queria rolar para ver o rosto dela, mas não podia se mexer, e agora não era mais a garota em cima dele, era um viral, os dentes se cravando na carne de sua nuca. Ele tentava gritar pelo irmão, mas nenhum som saía, e Peter começava a morrer, uma parte dele pensando: que estranho, nunca morri antes. Então é assim que é.
Acordou assustado, o coração martelando e o sonho se dissipando de uma só vez, deixando uma impressão vaga mas pungente de pânico, como o eco de um grito. Ficou deitado, imóvel, tentando recobrar a noção de onde estava. Arqueou o pescoço para olhar pela janela acima da cama e viu as luzes acesas. Sua boca estava totalmente seca, a língua inchada cheia de sulcos: tinha sonhado que estava com sede porque realmente estava. Pegou o cantil no chão ao lado da cama, levou-o à boca e bebeu.
Caleb dormia na cama ao lado. Peter contou mais quatro homens no quarto, embrulhos que roncavam nas sombras. Todos haviam chegado sem que ele acordasse. Quanto tempo fazia que estava dormindo assim?
Agora, deitado no escuro, sentia o borbulhar de uma inquietação, um zumbido grave de impaciência que parecia ter feito morada em seu peito desde que regressara à Colônia. Normalmente a essa hora ele estaria se apresentando para o serviço na passarela. Mas Soo havia deixado claro que ele não deveria retornar à Vigilância até que pelo menos alguns dias tivessem se passado.
Decidiu ir ver a Titia. Ainda não tinha contado a ela sobre Theo. Provavelmente ela já sabia, mas, mesmo assim, queria que escutasse dele a notícia.
Às vezes era possível esquecê-la, em sua casinha na clareira. Ah, a Titia, diziam as pessoas quando o nome dela era citado, como se só então se lembrassem de sua existência. A verdade era que a velhinha se virava surpreendentemente bem, praticamente sem precisar de ajuda. Às vezes Peter ou Theo cortavam lenha para ela, ou faziam pequenos consertos na casa, e Sara a ajudava com as compras no Armazém. Mas suas necessidades eram poucas, já que ela mantinha uma grande horta de legumes e ervas no terreno ensolarado atrás da casa, da qual ainda cuidava praticamente sozinha. Com exceção do trabalho na horta, que ela fazia sentada num banquinho, Titia passava a maior parte dos dias dentro de casa, em meio aos papéis e objetos que guardava de recordação, a mente pairando no passado. De acordo com a tarefa que estivesse realizando, escolhia um dos três óculos diferentes que sempre trazia pendurados em cordões no pescoço e, a não ser no inverno, andava descalça aonde quer que fosse. Segundo todos os relatos, Titia tinha quase 100 anos. Havia se casado - pelo menos era o que diziam - duas vezes, mas, como nunca pudera ter filhos, seu tempo de vida parecia uma maravilha da natureza sem propósito, como um cavalo capaz de contar batendo o casco. Ninguém conseguia entender como sobrevivera à Noite Escura. Sua casa suportara o terremoto praticamente sem danos, e de manhã haviam-na encontrado sentada na cozinha tomando uma xícara de seu notoriamente medonho chá, como se nada tivesse acontecido. "Talvez eles simplesmente não quisessem meu sangue velho", foi tudo que disse.
A noite havia esfriado e uma luz débil brilhava nas janelas da casinha de Titia quando Peter se aproximou. Ela afirmava que nunca dormia, que para ela dia e noite eram a mesma coisa, e de fato Peter não se lembrava de jamais tê-la encontrado a não ser de pé e trabalhando. Ele bateu à porta e a empurrou levemente.
- Titia? É o Peter.
De dentro da casa ouviu um farfalhar de papéis e uma cadeira sendo arrastada no velho chão de madeira.
- Peter, entre, entre.
Ele entrou na sala. A única luz vinha de um lampião na cozinha, um barracão nos fundos da casa. O espaço era densamente apinhado, mas bem ordenado. Os móveis e outros objetos - enormes pilhas de livros, inúmeros vidros com pedras e moedas antigas, e diversos bricabraques que ele nem conseguia identificar - pareciam não ter sido simplesmente dispostos ali, mas possuir um lugar intrínseco ocupado durante décadas, como árvores numa floresta. A velha apareceu à porta da cozinha, chamando-o com um aceno.
- Chegou bem na hora. Acabei de fazer um chá.
Titia sempre parecia ter "acabado de fazer um chá". Ela o preparava com uma mistura de ervas, algumas das quais plantava e outras que apenas catava pelo caminho. Quando andava, era comum vê-la dobrar-se lentamente até o chão para arrancar um mato indistinto e colocá-lo direto na boca. Mas tomar o chá de Titia era simplesmente o preço que se tinha de pagar por sua companhia.
- Obrigado - disse Peter. - Vou aceitar uma xícara.
Ela estava mexendo nos óculos, escolhendo na confusão de cordões o que seria adequado. Encontrou o que queria e o colocou no rosto marrom-escuro, gasto pelo tempo - sua cabeça era um pouco pequena, como se a redução física da velhice avançasse nela de cima para baixo. Localizando Peter, abriu um sorriso desdentado, como se só então se convencesse de que ele era realmente quem ela pensava. Como sempre, usava um vestido largo de decote redondo feito de pedaços de pano tirados dos incontáveis outros vestidos que tivera no correr dos anos. O que restava de seu cabelo formava um emaranhado branco que mais parecia flutuar ao redor de sua cabeça do que crescer dela, e as bochechas eram salpicadas de manchas que pareciam algo intermediário entre sardas e verrugas.
- Vamos até a cozinha.
Peter acompanhou os pés descalços se arrastando pelo corredor estreito até os fundos da casa. A pequena cozinha era quase totalmente tomada por uma mesa de carvalho - mal havia espaço para andar -, o ambiente opressivo com o calor do fogão e o vapor que subia de um velho bule de alumínio em cima dele. Peter sentiu os poros se abrindo com o suor. Enquanto Titia servia o chá, ele abriu a única janela do cômodo, deixando entrar uma leve brisa, e pegou uma cadeira. Titia levou o bule até a mesa, apoiando-o num descanso de ferro, depois lavou duas xícaras e as colocou também na mesa.
- E a que devo a visita, Peter?
- Infelizmente tenho más notícias. Sobre Theo.
A senhora cortou sua fala com um aceno.
- Ah - disse. - Eu já soube.
Titia se sentou diante dele, ajeitando o vestido nos ombros ossudos enquanto esticava as pernas, e coou o chá sobre as xícaras. A bebida tinha uma cor pálida, amarelada, deixando no coador pedacinhos verdes e marrons de aparência perturbadora, que lembravam insetos esmagados.
- Como aconteceu?
Peter suspirou.
- É uma longa história.
- O que mais tenho é tempo para histórias, Peter. Desde que você queira contar, eu tenho ouvidos para escutar. Ande, beba o chá. Não é bom deixar que esfrie.
Tomou um gole escaldante. O gosto era vagamente terroso, deixando um resíduo amargo quase intragável. Conseguiu engolir respeitosamente. Sobre a mesa, junto ao cotovelo de Peter, estava o caderno em que Titia vivia escrevendo. Seu livro de memórias, como ela dizia: um volume gordo, costurado a mão e enrolado em pele de cordeiro, as páginas cobertas de sua letra minúscula, escrita com uma pena de corvo e tinta feita em casa. Ela também fazia seu próprio papel, fervendo serragem até formar uma polpa e secando as folhas em velhas telas de janela. Peter sabia que ela estava trabalhando duro quando via páginas daquele material secando em um varal atrás da casa dela.
- Como vai a escrita, Titia?
- Nunca termina. - Ela deu um sorriso enrugado. - É muita coisa para anotar, e eu não tenho nada além de tempo nas mãos. Com tudo o que aconteceu. O mundo de antes. O trem que nos trouxe para cá no incêndio. Terrence, Mazie e todos os outros. Vou escrevendo tudo à medida que me lembro. Já que não há ninguém a não ser uma velha para fazer isso, eu continuo. Um dia alguém vai querer saber o que aconteceu neste lugar.
- A senhora acha?
- Peter, eu sei. - Ela tomou um gole, estalando os lábios sem cor, e franziu a testa. - Deveria ter posto mais dente-de-leão.
Ela apontou os olhos para Peter de novo, franzindo-os por trás dos óculos.
- Mas não foi isso o que você perguntou, foi? O que eu escrevo no caderno.
A mente dela era assim: dobrava-se para trás, formando conexões estranhas, mergulhando no passado. Falava frequentemente em Terrence, que tinha viajado com ela no trem. Às vezes ele parecia ser irmão dela, às vezes primo. Havia outros. Mazie Chou. Um menino chamado Vincent Chiclete, uma garota chamada Sharise. Lucy e Rex Fisher. Mas a qualquer momento suas viagens pelo tempo podiam ser interrompidas por intervalos de lucidez espantosa.
- A senhora escreveu sobre o Theo?
- Theo?
- Meu irmão.
Os olhos dela ficaram à deriva por um momento.
- Ele me disse que ia à usina. Quando vai voltar?
Então ela não sabia. Ou talvez tivesse simplesmente esquecido, a notícia se fundindo na mente dela com outras histórias parecidas.
- Acho que não vai voltar. Foi isso o que vim lhe dizer. Desculpe.
- Ah, não se desculpe. As coisas que você não sabe dariam para encher um caderno. Isso é uma piada, não é? Um caderno. Ande. Tome seu chá.
Peter decidiu não pressioná-la. De que adiantaria a velha ficar sabendo da morte de mais uma pessoa? Tomou outro gole do líquido amargo. No mínimo o gosto estava pior. Sentiu uma ponta de náusea.
- É a casca de bétula que você está sentindo. É para a digestão.
- Nossa, é bom!
- Não é não. Mas dá resultado assim mesmo. Limpa você por dentro como um tornado.
Então Peter se lembrou da outra notícia.
- Eu queria lhe contar, Titia. Eu vi as estrelas.
Diante disso a velha se animou.
- Ora, ora. - Ela tocou rapidamente as costas da mão dele com a ponta do indicador enrugado. - Esse é um bom assunto para se falar. Agora me conte, o que você achou?
Os pensamentos dele voltaram àquele momento na usina, deitado na laje de concreto perto de Lish. As estrelas tão densas lá em cima que ele quase podia tocá-las. Parecia algo que acontecera anos antes, os últimos minutos de uma vida que ele havia deixado para trás.
- É difícil colocar em palavras, Titia. Eu nunca havia imaginado que seria tão...
- Incrível, não? - Os olhos dela, apontados para a parede atrás da cabeça dele, pareceram brilhar, como se refletissem a memória da luz das estrelas. - Não vejo as estrelas desde que era menina. Seu pai costumava vir até aqui e me contar tudo sobre elas, como você está fazendo agora. Ele dizia: "Eu vi, Titia", e eu perguntava a ele: "Como vão elas, Demetrius? Como vão as minhas estrelas?", e nós dois tínhamos uma boa conversa sobre elas, como a que estamos tendo agora.
Ela tomou um gole de chá e pousou a xícara de volta na mesa.
- Por que você parece surpreso?
- Ele fazia isso?
Titia franziu rapidamente a testa, parecendo censurá-lo, mas os olhos dela, ainda iluminados por um brilho interior, pareciam rir dele.
- Por que não faria?
- Não sei - conseguiu dizer Peter.
E era verdade, ele não sabia, mas quando tentou imaginar a cena - seu pai, o grande Demetrius Jaxon, tomando chá com Titia em sua cozinha quente demais, falando das Longas Cavalgadas -, por algum motivo não conseguiu.
- Acho que nunca pensei que ele contasse a ninguém.
Ela deu um risinho.
- Ah, seu pai e eu, a gente conversava. Sobre um monte de coisas. Sobre as estrelas.
Era tudo confuso demais. Mais do que confuso: era como se, no espaço de apenas alguns dias - desde a noite em que o viral fora morto nas redes por Arlo Wilson -, algum preceito fundamental do mundo tivesse sido alterado, só que ninguém dissera a Peter que mudança seria essa.
- Alguma vez ele lhe falou... sobre um Andarilho, Titia?
A velha pareceu surpresa.
- Um Andarilho? Bem, não me lembro de nada sobre isso. Theo viu um Andarilho?
Ele se pegou suspirando.
- Theo, não. Meu pai.
Mas ela havia desistido de ouvir. Seus olhos, apontados para a parede atrás de Peter, tinham fugido para longe de novo.
- Bom, acho que Terrence me disse alguma coisa sobre um Andarilho. Terrence e Lucy. Ela sempre foi uma coisa pequenina. Sabe, foi Terrence quem a fez parar de chorar. Ele sempre conseguia fazer isso.
Não adiantava. Quando Titia embarcava nesse tipo de conversa, podiam-se passar horas, até mesmo dias, antes que retornasse ao presente. Ele quase a invejou, desejando ter essa capacidade.
- O que era mesmo que você queria me perguntar?
- Tudo bem, Titia. Isso pode ficar para depois.
Ela sacudiu os ombros ossudos.
- Você é quem sabe.
Depois de um momento de silêncio, ela disparou:
- Diga-me uma coisa. Você acredita em Deus Todo-poderoso, Peter?
A pergunta o pegou desprevenido. Apesar de ela falar em Deus com frequência, nunca havia perguntado a Peter se acreditava Nele. E era verdade que, olhando as estrelas da laje da usina, ele sentira alguma coisa - uma presença por trás delas, de sua vasta imensidão. Como se as estrelas o estivessem vigiando. Mas aquele momento e as sensações que ele provocara haviam passado. Seria bom acreditar em algo assim, mas, no final das contas, ele simplesmente não conseguia.
- Na verdade, não - admitiu e escutou a tristeza na própria voz. - Acho que é só uma palavra que as pessoas usam.
- Ora, isso é uma pena. Uma pena. Porque o Deus que eu conheço não nos deixaria sem uma esperança. - Titia tomou um último gole, estalando os lábios. - Agora pense um pouco nisso e depois me fale de Theo e do lugar para onde ele foi.
Parecia ser o fim da conversa. Peter se levantou para ir embora. Abaixou-se para beijar o topo da cabeça dela.
- Obrigado pelo chá, Titia.
- Venha quando quiser. Volte com sua resposta quando ela vier a você. Então vamos falar sobre Theo. Vamos ter uma boa conversa. E, Peter?
Ele se virou junto à porta da cozinha.
- Só para que você saiba. Ela está vindo.
Ele ficou pasmo.
- Quem está vindo, Titia?
Ela franziu a testa com a autoridade de um professor.
- Você sabe quem, garoto. Sabe desde o dia em que Deus o fez.
Por um momento Peter não disse nada, parado junto à porta.
- É só isso o que vou dizer agora. - A velha acenou dispensando-o, como se espantasse uma mosca. - Vá e volte quando estiver pronto.
- Não escreva a noite toda, Titia - Peter conseguiu dizer. - Tente dormir um pouco.
Um sorriso franziu o rosto da velha.
- Eu tenho a eternidade para isso.
Um sopro do ar frio da noite roçou o rosto de Peter quando ele saiu, gelando o suor que havia se juntado sob sua camisa na cozinha quente demais. Seu estômago ainda estava revirado por causa do chá. Ficou parado um momento, piscando sob as luzes. Era estranho o que Titia dissera. Mas ela não podia saber sobre a garota. Pelo modo como a mente da velha funcionava, as histórias empilhadas umas em cima das outras, passado e presente misturados, ela poderia estar falando de qualquer pessoa. Poderia estar falando de alguém que havia morrido anos antes.
E foi então que Peter ouviu os gritos vindos do Portão Principal, e o inferno começou a se abrir.
VINTE E SEIS
Tudo havia começado com o Coronel. Isso todo mundo pôde confirmar nas primeiras horas.
Ninguém se lembrava de ter visto o Coronel havia dias, nem no apiário, nem no estábulo ou nas passarelas, aonde às vezes ele ia à noite. Peter certamente não o vira nas sete noites de espera, mas não havia estranhado a ausência dele - o Coronel ia e vinha segundo seus próprios desígnios misteriosos e às vezes não dava as caras durante dias.
O que as pessoas sabiam, e isso fora informado por Hollis e confirmado por outros, era que o Coronel aparecera na passarela pouco depois da meia-noite, perto da Plataforma de Tiro 3. Era uma noite calma, sem qualquer sinal. A lua estava baixa e o campo do lado de fora dos muros, banhado pelo brilho dos holofotes. Apenas algumas pessoas o notaram ali parado, e ninguém pensou nada a respeito. Ei, ali está o Coronel, alguém poderia ter dito. O sujeito não consegue se afastar do front. É uma pena que nada esteja acontecendo esta noite.
Ele se demorou alguns minutos, passando os dedos no colar de dentes, olhando o campo vazio abaixo. Hollis achou que ele viera falar com Alicia, mas Hollis não sabia onde ela estava, e, de qualquer modo, o Coronel não fizera menção de procurá-la. Não estava armado e não falara com ninguém. Quando Hollis olhou de novo, ele havia sumido. Um dos corredores, Kip Darrell, disse mais tarde que o vira descendo a escada e seguindo pela trilha em direção aos currais.
Na próxima vez que alguém o viu, ele estava correndo pelo campo.
- Sinal! - gritou um dos corredores. - Temos sinal!
Hollis os viu no campo, um bando de três, saltando na luz.
O Coronel estava correndo diretamente para eles.
O bando caiu sobre ele rapidamente, engolindo-o como uma onda, mordendo, rosnando, enquanto no alto da passarela uma dúzia de arcos disparavam suas flechas. Mas a distância era grande demais; só por um golpe de sorte teriam conseguido acertar algum tiro.
Eles viram o Coronel morrer.
Então viram a menina. Estava no limite do campo, uma figura solitária saindo das sombras. A princípio, disse Hollis, eles haviam pensado que era um viral - além disso, todos estavam loucos para atirar, prontos para disparar contra qualquer coisa que se mexesse. Enquanto ela atravessava o campo em direção ao Portão Principal, sob uma chuva de flechas, uma a acertou no ombro, fazendo-a girar como um pião, e Hollis escutou o som da haste penetrando em sua carne. Mesmo assim ela continuou andando em direção a eles.
- Não sei - admitiu Hollis mais tarde. - Talvez eu a tenha acertado.
Àquela altura, Alicia começara a correr pela passarela, gritando para que todos cessassem fogo, que era uma pessoa, um ser humano, droga, e pegassem as cordas, peguem a porra das cordas agora! Um momento de confusão: Soo não estava em lugar nenhum, e a ordem de cruzar o Muro só poderia vir dela. Aparentemente, nada disso fez Alicia parar. Antes que alguém pudesse dizer mais uma palavra, ela subiu até o parapeito com a corda na mão e pulou para fora.
Segundo Hollis, foi a coisa mais incrível que ele já vira.
Alicia desceu pela face do Muro depressa, os pés mal tocando a superfície em uma corrida aérea, a corda zunindo na roldana enquanto três pares de mãos tentavam avidamente acionar o freio antes que ela batesse no chão. Quando o mecanismo travou com um gemido metálico, Alicia aterrissou, rolando na poeira, e se levantou correndo. Os virais estavam a 20 metros, ainda amontoados sobre o corpo do Coronel. Ao som do impacto de Alicia, eles todos se contorceram, girando o corpo e rosnando, sentindo o cheiro no ar.
Sangue fresco.
Agora a garota estava na base do Muro, uma forma escura encolhida contra ele. Carregava algo nas costas - uma mochila, agora presa ao corpo pela flecha cravada no ombro, tudo isso brilhando, empapado de sangue. Alicia a agarrou como um saco, jogou-a sobre os ombros e se esforçou ao máximo para correr. A corda agora era inútil, esquecida atrás dela. Sua única chance era o portão.
Todos ficaram imóveis. Independentemente do que acontecesse, ninguém podia abrir o portão. Não à noite. Para ninguém, nem mesmo para Alicia.
Foi nesse momento que Peter chegou. Viera correndo da varanda de Titia em direção ao tumulto. Caleb também chegara correndo do alojamento, parando no Portão Principal um instante antes dele. Peter não sabia o que estava acontecendo do outro lado, apenas ouvira Hollis gritando da passarela.
- É Lish!
- O quê?
- É Lish! - gritou Hollis. - Ela está lá fora!
Caleb alcançou a roda primeiro, um fato que seria usado mais tarde para implicá-lo no ocorrido, ao mesmo tempo que isentaria Peter de qualquer culpa. Quando Alicia chegou ao portão, ele estava aberto apenas o suficiente para ela passar com a menina. Se tivessem conseguido fechá-lo naquele momento, provavelmente nada do que se seguiu teria acontecido. Mas Caleb havia soltado o freio. Os pesos estavam caindo, ganhando velocidade enquanto desciam pelas correntes; agora a abertura do portão era controlada apenas pela força da gravidade. Peter segurou a roda. Atrás e acima dele podia ouvir os gritos, as saraivadas de flechas atiradas pelas bestas, os passos dos Vigias descendo pelas escadas para a entrada. Mais mãos apareceram, agarrando a roda - Ben Chou, Ian Patal e Dale Levine. Com uma lentidão insuportável, ela começou a girar na direção oposta.
Mas era tarde demais. Dos três virais, apenas um conseguira passar pela porta. Mas foi o suficiente.
Ele foi direto para o Abrigo.
Hollis foi o primeiro a chegar ao prédio, assim que o viral saltou para o telhado. A criatura pipocou ao longo da cumeeira como uma pedra ricocheteando na água e pulou no pátio interno. Enquanto atravessava a porta da frente, Hollis ouviu um estrondo de vidro se quebrando lá dentro.
Chegou ao Quarto Grande no mesmo instante que Mausami, os dois vindo por corredores diferentes e aparecendo em lados opostos da sala. Mausami estava desarmada. Hollis tinha sua besta. Um silêncio inesperado os recebeu. Hollis havia esperado encontrar gritos e caos, as crianças correndo por toda parte. Mas quase todas continuavam deitadas, os olhos arregalados de terror e incompreensão. Algumas haviam conseguido se enfiar sob as camas. Quando Hollis passou pela porta, detectou movimento na fileira mais próxima, enquanto uma das três "Jotas" - June, Jane ou Juliet - rolava para debaixo da cama. A única luz vinha da janela quebrada, a cortina arrancada e pendurada de um lado, ainda balançando.
O viral estava parado junto ao berço de Dora.
- Ei! - gritou Mausami, balançando os braços. - Ei, olhe para cá!
Onde estava Leigh? Onde estava a Professora? O viral girou a cabeça bruscamente em direção à voz de Mausami. Piscou os olhos, inclinando a cabeça no pescoço comprido. Um som úmido e estalado saiu de algum lugar na curva retesada de sua garganta.
- Aqui! - gritou Hollis, imitando Mausami e acenando para atrair a atenção da criatura. - Isso mesmo, olhe para cá!
O viral girou na direção dele, encarando-o. Algo brilhava na base do seu pescoço, algum tipo de joia. Mas não havia tempo para pensar nisso; Hollis tinha o ângulo, a abertura. Então Leigh entrou na sala. Estivera dormindo no escritório e não tinha ouvido nada. Junto com o grito de Leigh veio o disparo de Hollis.
Um bom tiro, um tiro limpo, bem no centro do ponto frágil: ele sentiu a retidão, a perfeição do disparo, no instante em que a flecha saltou do arco. E, na fração de segundo que durou seu voo, a uma distância de menos de cinco metros, ele soube: a chave brilhando no barbante pendurado, a expressão de gratidão lamentosa nos olhos do viral. O pensamento chegou à mente de Hollis totalmente formado, uma única palavra que veio aos seus lábios no mesmo instante em que a flecha - misericordiosa, assustadora, impossível de ser chamada de volta - acertava o centro do peito do viral.
- Arlo.
Hollis acabava de matar o irmão.
Mesmo que não se lembrasse disso - e nunca se lembraria -, a primeira vez que Sara soube da Andarilha fora em um sonho: um sonho confuso e aterrorizante em que ela era menina de novo. Estava fazendo um bolo de milho. A cozinha onde trabalhava - ela estava de pé numa banqueta, batendo a massa pesada numa grande tigela de madeira - era ao mesmo tempo a cozinha da casa onde morava e a do Abrigo, e nevava - uma neve suave que não caía do céu, porque não havia céu, mas parecia surgir no ar diante do seu rosto. Estranha, a neve; quase nunca nevava, e certamente não dentro de casa, pelo que Sara lembrasse, mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Era o dia de sua liberação. A Professora logo viria chamá-la, mas, sem o bolo de milho, ela não teria nada para comer no mundo lá fora. No mundo lá fora, explicara a Professora, essa era a única coisa que as pessoas comiam.
Então aparecia um homem. Era Gabe Curtis. Estava sentado à mesa da cozinha diante de um prato vazio.
"Está pronto?", perguntou ele a Sara. Depois, virando-se para a garota sentada ao lado, disse: "Sempre gostei de bolo de milho."
Sara se perguntou, ligeiramente alarmada, quem seria aquela garota. Tentou olhar para ela, mas por algum motivo não conseguia vê-la. Sempre que olhava para o lugar onde estivera a garota, ela havia acabado de sair. E então percebeu, inicialmente aos poucos, mas depois subitamente, que agora estava em outro lugar. Estava na sala aonde a Professora a havia levado, o lugar onde ela havia lhe contado, e seus pais estavam ali, esperando, parados junto à porta.
"Vá com eles, Sara", disse Gabe. "É hora de você ir. Corra e continue correndo."
"Mas você está morto", disse Sara e, quando olhou para os pais, viu que, onde o rosto deles deveria estar, havia um vazio, como se ela estivesse olhando para eles através de uma corrente de água, e havia algo errado com o pescoço deles. Agora ela ouvia um som latejante fora da sala, e uma voz chamando seu nome. "Vocês estão todos mortos."
Então acordou. Havia caído no sono numa cadeira perto da lareira apagada. O barulho da porta a tinha acordado. Alguém estava lá fora, chamando seu nome. Onde estava Michael? Que horas seriam?
- Sara! Abra!
Caleb Jones? Sara abriu a porta enquanto ele levantava a mão para bater de novo, o punho se imobilizando no ar.
- Precisamos de uma enfermeira. - O garoto estava ofegante. - Alguém levou uma flechada.
Ela acordou imediatamente, pegando o kit médico na mesa perto da porta.
- Quem?
- Lish a trouxe.
- Lish? Lish levou uma flechada?
Caleb balançou a cabeça, ainda tentando recuperar o fôlego.
- Ela, não. A garota.
- Que garota?
Os olhos dele estavam arregalados.
- É uma Andarilha, Sara.
Quando chegaram à Enfermaria, o céu para além das luzes tinha começado a empalidecer. Sara não viu ninguém, o que lhe pareceu estranho. Pelo que Caleb tinha dito, ela esperava uma multidão. Subiu os degraus e entrou correndo no quarto.
Uma menina estava deitada na cama mais próxima.
Ela estava virada para cima, a flecha ainda cravada no ombro. Algo escuro estava preso às suas costas. Alicia estava de pé, junto a ela, a blusa de malha empapada de sangue.
- Sara, faça alguma coisa - disse Alicia.
Sara avançou rapidamente e passou a mão por trás do pescoço da menina, para garantir que as vias aéreas estivessem desobstruídas. Os olhos dela estavam fechados. A respiração estava acelerada e superficial, a pele fria e úmida. Procurou uma pulsação no pescoço: o coração batia rápido como o de um pássaro.
- Ela está em choque. Ajudem-me a virá-la.
A flecha havia entrado pelo ombro esquerdo da garota, logo abaixo da clavícula. Alicia enfiou a mão sob os ombros da garota enquanto Caleb segurava os pés, e juntos a viraram de lado. Sara pegou uma tesoura e se sentou atrás dela para cortar a mochila ensanguentada, depois a camiseta frágil, dando um picote no pescoço e rasgando o resto, revelando a forma magra de uma garota no início da adolescência, os seios pequenos e curvos, a pele clara. A ponta farpada da flecha se projetava através de um ferimento em forma de estrela logo acima da linha da escápula.
- Vou precisar cortar isso. Preciso de alguma coisa maior do que essa tesoura.
Caleb assentiu e saiu correndo. Enquanto ele passava pela cortina, Soo Ramirez
entrou rapidamente. O cabelo dela estava solto e o rosto, sujo de terra. Ela parou abruptamente ao pé da cama.
- Minha nossa. Ela é só uma criança.
- Onde, diabos, está a Outra Sandy? - perguntou Sara.
A mulher parecia atordoada.
- De onde, afinal, ela veio?
- Soo, eu estou sozinha aqui. Cadê a Sandy?
Soo levantou o rosto, olhando para Sara.
- Está... no Abrigo, eu acho.
Passos e vozes, uma agitação lá fora: curiosos chegando à Enfermaria.
- Soo, tire essa gente daqui. - Sara levantou a voz em direção à cortina. - Todo mundo, para fora! Quero que esvaziem este lugar agora!
Soo assentiu e foi rapidamente para fora. Sara verificou de novo a pulsação da garota. A pele dela havia empalidecido, como um céu de inverno logo antes de a neve cair. Quantos anos ela teria? Quatorze? O que uma garota de 14 anos estaria fazendo lá fora no escuro?
Sara se virou para Alicia.
- Você a trouxe?
Alicia confirmou com a cabeça.
- Ela disse alguma coisa? Estava sozinha?
- Meu Deus, Sara. - Os olhos dela pareciam flutuar. - Não sei. Sim, acho que estava sozinha.
- Esse sangue na sua roupa é dela ou seu?
Alicia baixou os olhos para a blusa, parecendo ver o sangue pela primeira vez.
- Acho que é dela.
Mais agitação vinda de fora do quarto, e a voz de Caleb gritando:
- Licença!
Ele passou pela cortina trazendo um grande alicate de poda, e o enfiou nas mãos de Sara.
Era uma ferramenta velha e suja de graxa, mas serviria. Sara jogou álcool nas lâminas e em seguida nas mãos, enxugando-as em um pano. Com a garota ainda deitada de lado, usou o alicate para cortar a ponta da flecha e derramou mais álcool em cima de tudo. Depois mandou Caleb lavar as mãos como ela havia feito, ao mesmo tempo que pegava um rolo de gaze na prateleira e cortava um pedaço comprido, enrolando-o para fazer uma compressa.
- Cano Longo, quando eu puxar a flecha, quero que você segure isto contra o ferimento de entrada. Não seja gentil, aperte com força. Eu vou suturar o outro lado para tentar diminuir o sangramento.
Ele assentiu, inseguro. Estava assustado, Sara sabia, mas a verdade era que não havia mais ninguém para ajudar. A sobrevivência da garota nas próximas horas dependeria da extensão do ferimento, de quanto a flecha a havia machucado por dentro. Colocaram a menina de costas de novo. Enquanto Caleb e Alicia firmavam os ombros dela, Sara segurou a flecha e começou a puxar, sentindo a haste de metal mover as fibras do tecido destruído, o estalo de ossos fraturados. Não havia como ser gentil; era melhor fazer tudo depressa. Com um puxão forte, a flecha saiu com um jorro de sangue.
- Em nome dos voadores, é ela.
Sara virou a cabeça e viu Peter parado junto à porta. O que ele teria querido dizer com é ela? Como se a conhecesse, como se soubesse quem era a garota. Mas, é claro, isso era impossível.
- Virem-na de lado. Peter, ajude.
Sara se posicionou atrás da garota, pegando uma agulha e um carretel de linha, e começou a costurar o ferimento. Agora havia sangue por toda parte, empoçado no colchão, pingando no chão.
- Sara, o que eu faço?
A compressa de Caleb já estava encharcada.
- Continue apertando.
Ela atravessou a agulha pela pele da garota, dando um ponto apertado.
- Preciso de mais luz aqui!
Três pontos, quatro, cinco, cada um juntando mais as bordas do ferimento. Mas não adiantava, ela sabia. A flecha devia ter atingido a artéria subclávia. Era de lá que vinha todo aquele sangue. A garota estaria morta em alguns minutos. Quatorze anos, pensou Sara. De onde você veio?
- Acho que está parando - disse Caleb.
Sara estava dando o último ponto.
- Não pode ser. Continue a fazer pressão.
- Não, é verdade. Olhe.
Puseram a garota de costas de novo, e Sara afastou a compressa encharcada. Era verdade: o sangramento havia diminuído. O ferimento de entrada parecia menor, rosa e franzido nas bordas. O rosto da menina agora tinha uma expressão suave, como se ela estivesse dormindo. Sara encostou os dedos na garganta da menina: uma batida firme, regular. O que significava aquilo?
- Peter, segure esse lampião aqui em cima.
Peter manteve o lampião acima da cabeça da garota. Sara levantou gentilmente a pálpebra esquerda dela - a órbita estava escura, úmida, a pupila se contraindo para revelar a íris estriada, cor de terra. Mas havia algo diferente, havia algo ali.
- Aproxime mais a luz.
Quando Peter mudou a posição do lampião, inundando o olho da garota de luz, aconteceu: Sara teve a sensação de estar caindo, como se a terra se abrisse sob seus pés - pior do que morrer, pior do que a morte. Uma escuridão terrível ao seu redor enquanto ela caía, caía para sempre lá dentro.
- Sara, o que houve?
Ela estava de pé, recuando. Seu coração saltava no peito, as mãos tremendo como folhas ao vento. Todos olhavam para ela. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O que havia visto? Mas não era algo que tivesse visto, mas que sentira. Pensou na palavra: sozinha. Sozinha! Era assim que ela estava, era assim que todos eles estavam. E como estavam seus pais, almas caindo para sempre na escuridão. Sozinhos!
Percebeu que havia outras pessoas na Enfermaria. Sanjay e, ao lado dele, Soo Ramirez. Havia mais dois Vigias atrás deles. Todos esperando que Sara dissesse alguma coisa: ela podia sentir a pressão de todos os olhares sobre ela.
Sanjay se adiantou.
- Ela vai sobreviver?
Sara respirou fundo, tentando se acalmar.
- Não sei. - Sua voz era fraca. - É um ferimento feio, Sanjay. Ela perdeu muito sangue.
Sanjay olhou a garota por um momento. Parecia estar decidindo o que pensar sobre ela, como explicar sua presença impossível. Depois se virou para Caleb, que estava parado junto à cama com a compressa ensanguentada na mão. O ar ficou pesado, e os Vigias que estavam junto à porta avançaram com as mãos nas facas.
- Venha conosco, Caleb.
Os dois homens - Jimmy Molyneau e Ben Chou - seguraram o garoto pelos braços. Ele estava surpreso demais para resistir.
- Sanjay, o que você está fazendo? - perguntou Alicia. - Soo, o que, diabos, é isso?
Foi Sanjay que respondeu.
- Caleb está sendo preso.
- Preso? - grunhiu o garoto. - Por quê?
- Caleb abriu o portão. Ele conhece a lei tão bem quanto qualquer um. Jimmy, leve-o daqui.
Jimmy e Ben começaram a puxar o garoto em direção à cortina. Caleb resistia.
- Lish! - gritou ele.
Ela bloqueou rapidamente o caminho deles, posicionando-se diante da porta.
- Soo, diga a eles - pediu Alicia. - Fui eu. Fui eu quem pulou o muro. Se querem prender alguém, prendam a mim.
Parada ao lado de Sanjay, Soo ficou quieta.
- Soo?
Mas a mulher balançou a cabeça.
- Não posso, Lish.
- Como assim, não pode?
- Porque isso não depende dela - respondeu Sanjay. - A Professora está morta. Caleb está sendo preso por assassinato.
VINTE E SETE
De manhã, todos os moradores da Colônia já haviam escutado a história da noite anterior ou alguma versão dela: uma Andarilha aparecera do lado de fora do Muro; Caleb tinha aberto o portão, deixando um viral entrar; a Andarilha, uma menina, estava à beira da morte na Enfermaria, atingida no ombro pela flecha de um Vigia; o Coronel aparentemente se suicidara, embora ninguém soubesse ao certo como ele havia passado pelo portão; Arlo havia sido morto pelo próprio irmão no Abrigo.
Mas o pior de tudo era a Professora.
Encontraram-na sob a janela do Quarto Grande. O campo de visão de Hollis fora obscurecido por uma fileira de camas vazias. Provavelmente ela havia escutado o viral descendo do teto e tentara enfrentá-lo. Havia uma faca em sua mão.
Houvera muitas Professoras, é claro. Mas podia-se dizer que houvera apenas uma. Cada mulher que assumira o cargo no correr dos anos se transformara naquela pessoa. A Professora que morrera naquela noite era uma Darrell - April Darrell. Era a mulher de quem Peter se lembrava rindo de suas perguntas sobre o oceano, embora na época ela fosse jovem - não muito mais velha do que ele agora - e bonita, de uma beleza suave e pálida, como uma irmã mais velha que fosse mantida dentro de casa por causa de alguma doença; era a mulher de quem Sara se recordava na manhã de sua liberação, guiando-a por uma série de perguntas, como um lance de escadas que levava a um porão escuro onde estava a verdade terrível, e depois entregando-a aos braços da mãe para chorar pelo mundo e pelo que ele era. Ser Professora era um trabalho difícil, todo mundo sabia, um trabalho sem reconhecimento. Viver trancada com os Pequenos, praticamente sem companhia adulta a não ser de mulheres grávidas ou lactantes que não tinham nada na mente a não ser bebês. Além disso, como era ela quem revelava a verdade - a todo mundo -, a Professora carregava esse trauma coletivo. A não ser pela Primeira Noite, quando podia aparecer brevemente no Solário, a Professora raramente punha os pés fora do Abrigo e, quando fazia isso, era como se andasse em um invólucro invisível de traição. Peter sentia pena dela, mas ao mesmo tempo mal conseguia olhá-la nos olhos.
Os Guardiões, que se reuniram às primeiras luzes do dia, haviam declarado estado de emergência civil. Corredores foram enviados de casa em casa com a notícia. Até que se soubesse mais, todas as atividades fora do Muro seriam suspensas: o rebanho permaneceria na Colônia, assim como as equipes de Serviço Pesado, e o portão ficaria trancado. Caleb fora preso. Por enquanto - com tantas almas perdidas, o medo e uma confusão generalizada dominando a Colônia -, todos concordavam que nenhuma sentença seria dada.
E havia a questão da garota.
Nas primeiras horas da manhã, Sanjay levara os Guardiões à Enfermaria para examiná-la. Obviamente o ferimento no ombro era sério; ela ainda não tinha recobrado a consciência. Não havia qualquer sinal de infecção viral, mas mesmo assim seu aparecimento era completamente inexplicável. Por que os virais não a haviam atacado? Como ela havia sobrevivido sozinha no escuro? Sanjay ordenou que todos que tivessem tido contato com a Andarilha se despissem e tomassem banho, e que as roupas fossem queimadas, assim como a mochila e a roupa da garota. Ela foi posta sob quarentena rigorosa: ninguém além de Sara poderia entrar na Enfermaria até que houvesse mais informações.
O inquérito foi realizado em uma antiga sala de aula do Abrigo - a mesma sala, notou Peter, para onde a Professora o havia levado no dia de sua liberação. Um inquérito: foi o que disse Sanjay, uma expressão que Peter nunca ouvira. Parecia um nome pomposo para a procura de algum culpado. Sanjay havia instruído os quatro - Peter, Alicia, Hollis e Soo - a não falarem uns com os outros até que cada um fosse interrogado separadamente. Eles ficaram do lado de fora, no corredor, enfiados em carteiras minúsculas alinhadas junto à parede, com um único Vigia - Ian, sobrinho de Sanjay - esperando com eles. Ao redor, o prédio estava estranhamente silencioso: todos os Pequenos haviam sido levados para o andar de cima enquanto o Quarto Grande era limpo. Quem sabia o que eles pensariam dos acontecimentos da noite - o que Sandy Chou, que havia substituído a Professora, contaria a eles? Possivelmente ela diria que tudo fora apenas um sonho, o que podia funcionar com as crianças menores. Quanto às maiores, Peter não fazia ideia. Talvez tivessem de ser liberadas antes do tempo.
Soo fora a primeira a ser chamada, saindo da sala pouco depois e andando pelo corredor com o rosto tenso. Em seguida foi a vez de Hollis. Enquanto desdobrava as pernas compridas sob a carteira, parecia completamente desprovido de energia, como se alguma parte essencial dele tivesse sido arrancada. Ian segurava a porta aberta, olhando para o grupo com uma expressão de impaciência. A um passo da entrada, Hollis parou e se virou para os outros, pronunciando as primeiras palavras que qualquer um deles dizia em mais de uma hora.
- Só espero que isso tudo não tenha sido em vão.
Eles esperaram. Peter escutava o murmúrio de vozes através da porta da sala de aula. Quis perguntar a Ian se ele sabia de alguma coisa, mas a expressão no rosto do sujeito lhe dizia que era melhor nem tentar. Ian tinha a idade de Theo e fazia parte do grupo que crescera com o irmão de Peter. Ele e a mulher, Hannah, tinham uma filha pequena, Kira, no Abrigo. Isso explicava a expressão no rosto de Ian, pensou Peter: era a expressão de um pai.
Hollis saiu, encarando Peter brevemente e assentindo para ele antes de seguir pelo corredor. Peter fez menção de se levantar, mas Ian disse:
- Você, não, Jaxon. Lish primeiro.
Jaxon? Desde quando alguém o chamava de Jaxon, sobretudo alguém da Vigilância? E por que isso soou subitamente diferente para ele, vindo da boca de Ian?
- Tudo bem - disse Lish, levantando-se cansada. Ele nunca a havia visto com uma expressão tão derrotada. - Prefiro acabar logo com isso.
Então ela se foi, deixando Peter e Ian sozinhos. Ian havia fixado o olhar na parede acima da cabeça de Peter.
- Não foi mesmo culpa dela, Ian. Não foi culpa de ninguém.
Ian se enrijeceu, mas não disse nada.
- Se você estivesse lá, certamente teria feito a mesma coisa.
- Olhe, é melhor guardar isso para Sanjay. Eu não deveria falar com você.
Quando Lish apareceu, Peter se deu conta de que havia cochilado. Ela saiu da sala e lhe lançou um olhar que ele conhecia: encontro você depois.
No momento em que entrou na sala, Peter sentiu que os Guardiões já haviam chegado a uma decisão. O que quer que ele dissesse, faria pouca diferença. Tinham pedido a Soo que se abstivesse do inquérito, deixando apenas cinco membros dos Guardiões: Sanjay - que estava sentado ao centro de uma mesa comprida o Velho Chou, Jimmy Molyneau, Walter Fisher e Dana, a prima de Peter, que agora ocupava a cadeira dos Jaxon. Ele notou o número ímpar. A ausência de Soo evitava a possibilidade de um empate. Uma mesa vazia fora posta diante da mesa grande. A tensão na sala era palpável: ninguém falava, e só o Velho Chou parecia disposto a encarar Peter - todos os outros desviavam o olhar, até mesmo Dana. Sentado languidamente em sua cadeira, Walter Fisher parecia mal saber onde estava, alheio ao que acontecia. Suas roupas pareciam mais sujas e amarrotadas do que de costume, e Peter podia sentir o cheiro do uísque que ele exalava.
- Sente-se, Peter - disse Sanjay.
- Prefiro ficar de pé, se não se importa.
Ele sentiu o ligeiro prazer do desacato, como se marcasse um ponto a seu favor. Mas Sanjay não reagiu.
- Acho que podemos ir direto ao assunto. - Ele pigarreou antes de continuar. - Ainda que haja alguma confusão quanto a esse ponto, segundo o que Caleb nos contou, a opinião geral dos Guardiões é que você não foi responsável pela abertura do portão, que isso teria sido feito inteiramente por ele. Esta também seria a sua versão?
- Minha versão?
- Sim, Peter - disse Sanjay. E suspirou sem disfarçar a impaciência. - Sua versão dos fatos. O que você acredita ter acontecido.
- Eu não acredito em nada. O que o Cano Longo contou a vocês?
O Velho Chou levantou a mão e se inclinou para a frente, em um gesto de comando. Seu rosto enrugado era suave, e os olhos úmidos lhe davam uma aparência de seriedade absoluta. Ele fora Guardião-chefe durante muitos anos antes de ceder o cargo ao pai de Theo, fato esse que ainda o revestia de uma autoridade considerável, caso quisesse usá-la. Entretanto, na maior parte do tempo ele não fazia isso; depois da morte da primeira esposa na Noite Escura, ele se casara com uma mulher muito mais jovem e agora passava a maior parte dos dias no apiário, entre as abelhas que tanto amava.
- Peter, ninguém duvida que Caleb achasse que estava fazendo a coisa certa. Não estamos questionando a intenção de ninguém aqui. Você abriu o portão ou não?
- O que vocês vão fazer com ele?
- Isso ainda não foi decidido. Por favor, responda à pergunta.
Peter tentou encarar Dana, mas não pôde. Ela continuava olhando para a mesa.
- Eu o teria aberto, se tivesse chegado primeiro.
Sanjay se empertigou, indignado, na cadeira.
- Estão vendo? É disso que estou falando.
Mas o Velho Chou não ligou para a interrupção, mantendo os olhos fixos no rosto de Peter.
- Então estou correto ao deduzir que sua resposta é não? Você teria aberto o portão, mas na verdade não fez isso. - Ele cruzou as mãos sobre a mesa. - Pense um pouco antes de responder.
Peter teve a impressão de que o Velho Chou estava tentando protegê-lo. Mas contar o que havia acontecido seria o mesmo que colocar toda a culpa em Caleb, que simplesmente fizera o que Peter teria feito se tivesse chegado primeiro.
- Ninguém duvida de sua lealdade para com seus amigos - continuou o Velho Chou. - Eu não esperaria nada menos de você. Mas nossa maior lealdade deve ser para com a segurança de todos na Colônia. Vou perguntar mais uma vez: você ajudou Caleb a abrir o portão? Ou na verdade tentou fechá-lo quando viu o que estava acontecendo?
Peter tinha a sensação de estar parado à beira de um grande abismo: o que dissesse em seguida seria definitivo. Mas tudo o que tinha era a verdade.
Ele balançou a cabeça.
- Não.
- Não o quê?
Ele respirou fundo.
- Não, eu não abri o portão.
O Velho Chou relaxou visivelmente.
- Obrigado, Peter. - Seu olhar pairou sobre o grupo. - Se ninguém tem mais nada...
- Bem - interrompeu Sanjay.
Peter sentiu o ar ficar tenso na sala. Até Walter pareceu subitamente alerta. É agora, pensou Peter.
- Todos aqui estão cientes de sua amizade com Alicia - disse Sanjay. - Seria justo dizer que ela confia em você, certo?
Peter assentiu, cauteloso.
- Acho que sim.
- Ela indicou, de algum modo, que conhecia a garota, que talvez a tivesse visto antes?
Um nó se apertou no estômago dele.
- Por que o senhor pensaria isso?
Sanjay olhou para os outros antes de se voltar novamente para Peter.
- Veja bem, estamos diante de uma curiosa coincidência. Vocês três foram os últimos a retornar da usina elétrica. E a história que contaram, primeiro sobre Zander e depois sobre Theo... bem, você tem de admitir que é bem estranha.
Peter deu vazão à raiva que estivera contendo.
- Vocês acham que nós planejamos isso? Eu perdi meu irmão lá. Tivemos sorte de voltarmos vivos.
A sala ficou novamente em silêncio. Até Dana olhava para Peter com uma expressão de dúvida.
- Então você está declarando oficialmente que não conhecia a Andarilha, que nunca a havia visto antes? - perguntou Sanjay.
De repente a pergunta não era mais sobre Alicia, percebeu Peter. Era sobre ele.
- Não faço ideia de quem ela seja - respondeu.
Sanjay sustentou o olhar de Peter por um instante que pareceu longo demais. Depois assentiu.
- Obrigado, Peter. Agradecemos sua honestidade. Está liberado.
Assim, de repente, tudo estava terminado.
- É só isso?
Sanjay já havia se ocupado com os papéis à sua frente. Levantou os olhos, franzindo a testa, como se estivesse surpreso ao ver Peter ainda na sala.
- Sim. Por ora.
- Vocês não vão... fazer nada comigo?
Sanjay deu de ombros; sua mente já havia se afastado.
- O que você quer que façamos?
Peter se sentiu inesperadamente desapontado. Sentado no corredor com Alicia e Hollis, ele havia sentido uma ligação, como se compartilhassem as consequências que estavam por vir. O que quer que fosse acontecer, afetaria a todos. Agora tinham sido separados.
- Se seu relato for verdadeiro, você não tem culpa de nada. A culpa é de Caleb. Soo disse, e Jimmy concorda, que a tensão de ficar no posto de Misericórdia para o seu irmão deveria ser levada em conta neste caso. Tire mais alguns dias de licença antes de retornar à passarela. Depois disso, veremos.
- E os outros?
Sanjay hesitou.
- Acho que não há motivo para esconder, já que todos logo saberão. Soo Ramirez pediu demissão do posto de Primeira Capitã, o que os Guardiões, com relutância, aceitaram. Mas ela estava fora da posição no momento do ataque e, por isso, é em parte responsável. Jimmy será promovido a Primeiro Capitão. Hollis ficará fora do Muro por enquanto. Ele poderá retornar quando estiver pronto.
- E Lish?
- Alicia recebeu ordem de abandonar a Vigilância. Foi transferida para o Serviço Pesado.
De tudo o que acontecera, esse era o acontecimento mais difícil de processar. Alicia trabalhando como pé de cabra: Peter simplesmente não podia imaginar uma coisa dessas.
- Você está brincando.
Sanjay ergueu as sobrancelhas grossas, com uma expressão de censura.
- Não, Peter. Garanto que não estou brincando.
Peter trocou um olhar rápido com Dana. Você sabia disso? Os olhos dela disseram que sim.
- Bem, se é só isso... - disse Sanjay.
Peter se encaminhou para a porta. Mas quando chegou, uma pergunta lhe ocorreu subitamente. Virou-se para o grupo de novo.
- E a usina?
Sanjay deu um suspiro cansado.
- O que tem a usina, Peter?
- Se Arlo está morto, não deveríamos mandar alguém para lá?
Ao ver a expressão de espanto nos olhos de todos, a primeira impressão de Peter foi de que tinha dito algo que o comprometia. Mas então entendeu: eles não haviam pensado nisso.
- Vocês não mandaram ninguém para lá assim que o dia amanheceu?
Sanjay se virou para Jimmy, que deu de ombros, nervoso, evidentemente apanhado de surpresa.
- Agora é tarde demais - disse ele baixinho. - Nunca chegariam lá antes do anoitecer. Teremos de esperar até amanhã.
- Em nome de todos os voadores, Jimmy!
- Olhe, eu esqueci, certo? Havia muita coisa acontecendo. E pode ser que Finn e Rey ainda estejam bem.
Sanjay pareceu demorar um momento para respirar e se recompor. Mas Peter podia ver que ele estava furioso.
- Obrigado, Peter. Vamos cuidar disso.
Não havia mais nada a dizer. Peter saiu da sala. Ian estava no mesmo lugar, encostado à parede com os braços cruzados diante do peito.
- Acho que você sabia sobre a Lish, não é?
- Ouvi dizer. - Ian deu de ombros, já não tão rígido quanto antes. - Olhe, Peter, eu sei que ela é sua amiga. Mas você não pode dizer que ela não mereceu isso, pulando o muro daquele jeito.
- E a garota?
Ian respondeu com uma chama de raiva nos olhos.
- Por todos os voadores, Peter! A garota? Eu tenho uma filha. O que me importa uma Andarilha?
Peter não disse nada. Ele sabia que Ian tinha todo motivo para sentir raiva.
- Você está certo - disse finalmente. - Foi idiotice.
Então a expressão de Ian se suavizou.
- Olhe, Peter - disse ele -, as pessoas estão perturbadas, só isso. Desculpe se fiquei com raiva. Ninguém acha que foi culpa sua.
Mas foi, pensou Peter. Foi.
A resposta ocorrera a Michael logo depois do alvorecer: 1.432 mega-hertz - claro.
A frequência aparecia como não autorizada porque na verdade já havia sido autorizada - para uso dos militares. Um sinal digital de curto alcance, emitido a cada 90 minutos, procurando o mainframe.
E durante toda a noite o sinal vinha ficando cada vez mais forte. Estava praticamente às portas da Colônia.
A criptografia seria a parte fácil. O problema seria encontrar o handshake, a única resposta que faria o transmissor do sinal - o que quer que fosse e onde quer que estivesse - se conectar ao mainframe. Se conseguisse fazer isso, o restante seria apenas questão de carregar os dados.
Mas o que o sinal estava procurando? Qual seria a resposta digital para a pergunta que ele fazia a cada 90 minutos?
Algo que Élton dissera antes de ir para a cama: Alguém está chamando a gente.
Foi assim que deduzira.
Sabia do que precisava. A Casa de Força estava cheia de geringonças guardadas em caixas nas estantes. Michael sabia que havia pelo menos um palmtop do Exército ali. Esses aparelhos possuíam antigas baterias de lítio que ainda tinham alguma carga - o suficiente apenas para alguns minutos, mas era só disso que ele precisava. Trabalhou depressa, mantendo os olhos no relógio, esperando que o próximo intervalo de 90 minutos se completasse para poder pegar o sinal. Escutou de longe algum tipo de agitação lá fora, mas quem saberia o que era? Podia conectar o palmtop ao computador, captar o sinal quando este chegasse, descobrir sua identidade e programar o palmtop a partir do painel.
Élton roncava em um colchão esburacado nos fundos da Casa de Força. Michael não sabia o que fazer se o velho não tomasse um banho logo. O lugar inteiro fedia a meia suja.
Quando terminou, era quase meio-dia. Há quanto tempo estava trabalhando, sem se levantar da cadeira? Depois do episódio com Mausami, ficara inquieto demais para dormir e decidira voltar para a Casa de Força. Há quantas horas teria sido isso? Michael estivera com o traseiro sentado pelo menos por todo esse tempo. De repente ele percebeu que precisava desesperadamente ir ao banheiro.
Saiu depressa demais, despreparado para o clarão de luz do dia que invadiu seus olhos.
- Michael!
Era Jacob Curtis, o filho de Gabe. Michael o viu correndo pelo caminho com passos pesados, balançando os braços. Michael respirou fundo. Não era culpa do garoto, mas conversar com Jacob podia ser uma tarefa difícil. Antes de adoecer, Gabe às vezes trazia Jacob à Casa de Força, perguntando a Michael se não podia arranjar algo para o garoto fazer. Michael se esforçava, mas Jacob realmente não conseguia entender muita coisa. Dias inteiros podiam ser engolidos explicando a ele as tarefas mais simples.
Ele parou diante de Michael, colocando as mãos nos joelhos e arfando. Apesar do tamanho, tinha a coordenação motora de uma criança, as partes do corpo jamais parecendo totalmente sincronizadas.
- Michael - ele engoliu em seco. - Michael...
- Calma, Jacob. Devagar.
O garoto abanava a mão diante do rosto, como se tentasse empurrar mais oxigênio para dentro dos pulmões. Michael não sabia se ele estava perturbado ou simplesmente empolgado.
- Preciso falar com... Sara - disse ele ofegante. Michael disse ao garoto que ela não estava ali.
- Você já procurou lá em casa?
- Ela também não está lá.
Jacob levantou o rosto. Seus olhos estavam muito arregalados.
- Eu a vi, Michael.
- Pensei que você tinha dito que não encontrara Sara.
- Não ela. A outra. Eu estava dormindo e a vi!
Jacob nem sempre dizia coisa com coisa, mas Michael nunca vira o garoto assim. Seu rosto tinha uma expressão de pânico absoluto.
- Aconteceu alguma coisa com o seu pai, Jacob? Ele está bem? Uma ruga surgiu na testa úmida do garoto.
- Ah. Ele morreu.
- Gabe morreu?
O tom de Jacob era de uma casualidade perturbadora. Era como se estivesse fazendo algum comentário sobre o tempo.
- Ele morreu e não vai mais acordar.
- Por todos os voadores, Jacob. Sinto muito.
Foi então que Michael viu Mar chegando. Sentiu uma onda de alívio.
- Jacob, onde você estava? - A mulher parou diante deles. - Quantas vezes preciso dizer? Você não pode sair correndo assim, não pode.
O garoto recuou, balançando os braços compridos.
- Preciso encontrar Sara!
- Jacob!
A voz da mãe pareceu acertá-lo como uma flecha: ele ficou imóvel, mas o rosto continuava animado por um pavor estranho, desconhecido. Sua boca estava aberta e ele respirava depressa. Mar se aproximou dele com cautela, como se estivesse chegando perto de algum animal imprevisível.
- Jacob, olhe para mim.
- Mamãe...
- Quieto, agora. Chega de falar. Olhe para mim. Ela levou a mão ao rosto dele.
- Eu a vi, mamãe.
- Sei que viu. Mas foi só um sonho, Jacob, só isso. Não lembra? Nós voltamos para casa, eu o coloquei na cama e você dormiu.
- Dormi?
- Dormiu, querido. Não foi nada, só um sonho.
Agora Jacob respirava com mais calma, o corpo se aquietando ao toque da mãe.
- Agora quero que você volte para casa e me espere lá. Chega de procurar Sara. Pode fazer isso para mim?
- Mas, mamãe...
- Já chega, Jacob. Pode fazer o que estou pedindo?
Relutante, Jacob assentiu.
- Este é o meu menino. - Mar deu um passo para trás, soltando-o. - Agora vá direto para casa.
O garoto lançou um olhar rápido e furtivo para Michael e saiu correndo.
- Isso sempre funciona quando ele fica assim - disse Mar, dando de ombros, cansada. - É a única coisa que funciona.
- Fiquei sabendo sobre Gabe. Sinto muito.
Os olhos de Mar pareciam ter chorado tanto que não lhe restavam lágrimas.
- Obrigada, Michael. Acho que Jacob queria ver Sara porque ela ficou com Gabe até o fim. Ela foi uma amiga e tanto. Para todos nós. - Mar parou um momento, uma expressão de dor atravessando rapidamente seu rosto. Depois balançou a cabeça, como se tentasse afastar o pensamento. - Se puder, diga que estamos pensando nela. Acho que não tive a oportunidade de agradecer direito. Pode fazer isso?
- Tenho certeza de que ela está por aí. Você olhou na Enfermaria?
- É claro que ela está lá. Foi o primeiro lugar aonde Jacob a procurou.
- Não entendo. Se Sara está na Enfermaria, por que ele não a encontrou?
Mar olhou para Michael com uma expressão de estranheza.
- Por causa da quarentena, ora.
- Quarentena?
O rosto de Mar ficou perplexo.
- Michael, onde você estava?
VINTE E OITO
licia não o encontrou, afinal; foi o contrário. Peter sabia onde ela estaria.
Estava sentada numa nesga de sombra do lado de fora da cabana do Coronel, as costas apoiadas em uma pilha de lenha e os joelhos dobrados junto ao peito. Quando ouviu Peter se aproximar, levantou os olhos e os enxugou com as costas da mão.
- Droga, droga - disse ela.
Peter se sentou ao lado dela, no chão.
- Está tudo bem.
Alicia deu um suspiro amargo.
- Não está, não. Se disser a alguém que me viu assim, eu mato você, Peter.
Ficaram sentados em silêncio por um tempo. O dia estava nublado e uma luz
pálida e enfumaçada trazia um odor forte, pungente - eram os cadáveres sendo queimados do lado de fora do Muro.
- Sabe, eu sempre me perguntei por que o chamávamos de Coronel - disse Peter.
- Porque esse era o nome dele. Ele não tinha outro.
- Por que você acha que ele foi lá para fora? Ele não parecia desse tipo. Do tipo que, você sabe, se entrega assim.
Mas Alicia não respondeu. Seu relacionamento com o Coronel era algo do qual raramente falava, e jamais em detalhes. Era uma parte de sua vida, talvez a única, que mantinha fora do alcance de Peter, mas que ele no entanto sabia estar sempre presente. Não acreditava que ela pensasse no Coronel como pai - Peter jamais havia detectado qualquer indício desse tipo de afeto entre os dois. Nas raras ocasiões em que o nome dele vinha à tona, ou se ele aparecesse na passarela à noite, Peter sentia uma rigidez se apoderar dela, uma distância fria. Não era algo explícito, e ele provavelmente era a única pessoa que percebia. Mas, independentemente do que o Coronel representasse para ela, existia uma ligação entre os dois. Peter sabia que as lágrimas eram por ele.
- Dá para acreditar? - disse Alicia, arrasada. - Eles me demitiram.
- Sanjay vai cair em si. Ele não é idiota. Vai acabar vendo que isso foi um erro.
Mas Alicia mal parecia escutá-lo.
- Não, Sanjay está certo. Eu nunca deveria ter pulado o muro daquele jeito.
Perdi totalmente a noção quando vi a garota lá fora. - Ela balançou a cabeça, desolada. - Não que isso importe agora. Você viu o ferimento dela.
A garota, pensou Peter. Não havia descoberto nada sobre ela. Quem seria? Como havia sobrevivido? Haveria outros como ela? Como teria se livrado dos virais? Mas agora ela parecia estar morrendo - e levando junto as respostas.
- Você precisava tentar. Acho que fez a coisa certa. Caleb também acha.
- Sabia que Sanjay está pensando em colocá-lo para fora? Colocar o Cano Longo para fora, tem cabimento?
Ser posto para fora era a pior punição que se poderia imaginar.
- Não pode ser verdade.
- É sério, Peter. Garanto que estão discutindo isso agora mesmo.
- Os outros jamais apoiariam uma decisão dessas.
- Desde quando a opinião deles é levada em consideração? Você esteve naquela sala. As pessoas estão com medo. Alguém tem de levar a culpa pela morte da Professora. Caleb não tem família. É fácil colocar a culpa nele.
Peter prendeu o fôlego.
- Olhe, eu conheço Sanjay. Ele pode ser cheio de si, mas realmente não acho que seja assim. E todo mundo gosta de Caleb.
- Todo mundo gostava de Arlo. Todo mundo gostava do seu irmão. O que não significa que a história não termine mal.
- Você está começando a falar como Theo.
- Talvez. - Ela olhava para a frente, as pálpebras franzidas por causa da luz. - Só sei que Caleb me salvou ontem à noite. Se Sanjay acha que vai colocá-lo para fora, vai ter de se ver comigo.
- Lish. - Ele fez uma pausa. - Tenha cuidado. Pense no que está dizendo.
- Já pensei. Não vou deixar que ninguém o coloque para fora.
- Você sabe que eu estou do seu lado.
- Talvez seja melhor não estar.
Um silêncio fantasmagórico havia caído sobre a Colônia, todos atordoados com os acontecimentos da madrugada. Peter se perguntou se esse era o tipo de silêncio que vem antes ou depois de alguma coisa, se era o silêncio da culpa sendo posta em alguém. Alicia não estava errada: as pessoas estavam com medo.
- Quanto à garota - disse Peter há uma coisa que eu deveria ter contado a você.
A cadeia era um antigo banheiro público no estacionamento de trailers no lado leste da Colônia. Enquanto se aproximavam, Peter e Alicia ouviram o som de vozes crescendo no ar. Apressaram o passo à medida que seguiam pelo labirinto de trailers meio tombados - a maioria fora depenada havia muito tempo -, e ao chegar encontraram uma pequena multidão junto à entrada, cerca de uma dúzia de homens e mulheres aglomerados em volta de um único Vigia, Dale Levine.
- O que, diabos, está acontecendo? - sussurrou Peter.
O rosto de Alicia estava sério.
- Já começou - disse ela. - É isso o que está acontecendo.
Dale não era um homem pequeno, mas estava encolhido naquele momento. Parecia um animal acuado diante da turba. Como sua audição não era muito boa, costumava virar a cabeça um pouco para a direita, tentando apontar o ouvido bom para quem estivesse falando, um gesto que lhe dava um ar ligeiramente distraído. Mas agora não parecia distraído.
- Desculpe, Sam - dizia Dale. - Sei tanto quanto você.
Ele estava falando com Sam Chou, sobrinho do Velho Chou - um homem totalmente despretensioso que Peter só ouvira falar umas duas vezes na vida. Era casado com a Outra Sandy e tinham cinco filhos, três deles no Abrigo. Enquanto Peter e Alicia se moviam em direção ao grupo, ele percebeu do que se tratava: eram os pais dos Pequenos. Como Ian, todos os que estavam reunidos diante da cadeia tinham filhos pequenos. Patrick e Emily Phillips, Hodd e Lisa Greenberg, Grace Molyneau, Belle Ramirez e Hannah Fisher Patal.
- O garoto abriu o portão.
- E o que você quer que eu faça? Pergunte ao seu tio, se quiser saber mais.
Sam dirigiu a voz para as janelas altas da cadeia.
- Está me ouvindo, Caleb Jones? Nós todos sabemos o que você fez!
- Ora, Sam. Deixe o coitado em paz.
Outro homem avançou: Milo Darrell. Como seu irmão, Finn, Milo era um pé de cabra de corpo sólido e expressão taciturna; um homem alto, de ombros caídos, barba lanosa e cabelos emaranhados caindo sobre os olhos. Perto dele, sua mulher, Penny, parecia uma anã.
- Você tem um filho também, Dale - disse Milo. - Como pode ficar aí parado?
Uma das três "Jotas", lembrou Peter. A pequena June Levine. Peter viu o rosto de Dale empalidecer.
- Acha que não sei disso? - Qualquer resquício de autoridade que o destacasse da multidão estava se dissolvendo. - E não estou simplesmente aqui parado. Deixem os Guardiões cuidarem disso.
- Ele deveria ser posto para fora.
A voz feminina viera do centro do grupo. Era Belle Ramirez, a esposa de Rey.
Sua filhinha se chamava Jane. Peter viu que as mãos da mulher estavam tremendo. Ela parecia à beira das lágrimas. Sam passou o braço em volta dos ombros dela.
- Está vendo, Dale? Está vendo o que aquele garoto fez?
Nesse momento Alicia abriu caminho entre o grupo. Sem olhar para Belle, nem para mais ninguém, foi até Dale, que encarava Belle com uma expressão de impotência absoluta.
- Dale, me entregue sua besta.
- Lish, não posso fazer isso. Jimmy nos deu ordens estritas.
- Não importa, me dê sua besta.
Alicia não esperou: tomou a arma de Dale. Ela se virou para o grupo, a besta pendendo ao lado do corpo - uma postura deliberadamente não ameaçadora, mas Alicia era Alicia. Sua presença significava alguma coisa.
- Pessoal, sei que vocês estão chateados, e têm direito de estar. Mas Caleb Jones é um de nós, tanto quanto qualquer um de vocês.
- Para você é fácil falar. - Milo estava parado ao lado de Sam e Belle. - Você é quem estava lá fora.
Um murmúrio de concordância perpassou o grupo. Alicia encarou o homem com frieza, deixando o momento passar.
- Você tem certa razão, Milo. Se não fosse o Cano Longo, eu estaria morta. Então, se estão pensando em fazer alguma coisa contra ele, é melhor pensarem muito bem.
- O que você vai fazer? - zombou Sam. - Atirar em todos nós com essa besta?
- Não. - Alicia franziu a testa, sarcástica. - Só em você, Sam. Pensei em acertar Milo com a faca.
Um riso nervoso brotou de alguns homens, mas morreu com igual rapidez. Milo tinha dado um passo para trás. Peter, ainda junto à multidão, percebeu que havia levado a mão até sua faca. Tudo parecia depender do que aconteceria em seguida.
- Acho que você está blefando - disse Sam, os olhos fixos no rosto de Alicia.
- É mesmo? Você não deve me conhecer muito bem.
- Os Guardiões vão colocá-lo para fora. Você vai ver.
- Pode ser que você esteja certo. Mas não cabe a nós decidir isso. Por enquanto, a única certeza é o fato de vocês estarem incomodando um monte de gente sem motivo. Não vou admitir isso.
O grupo havia caído num silêncio súbito. Peter sentiu a incerteza no olhar das pessoas. Com exceção de Sam - e talvez de Milo -, a raiva delas não se materializaria. Estavam simplesmente com medo.
- Ela está certa, Sam - disse Milo. - Vamos sair daqui.
Os olhos de Sam, ardendo de raiva e indignação, ainda estavam fixos no rosto de Alicia. Ela não tinha apontado a besta para ninguém, mas isso não seria necessário. Parado atrás dos dois homens, Peter mantinha a mão na faca. Todas as outras pessoas haviam se afastado.
- Sam - disse Dale, encontrando a voz de novo -, por favor, vá para casa.
Então Milo estendeu a mão para Sam, tentando segurá-lo pelo cotovelo, mas Sam puxou o braço com força. Parecia alterado, como se o gesto de Milo o tivesse arrancado de um transe.
- Tudo bem, tudo bem. Eu vou.
Só quando os dois homens haviam desaparecido no labirinto de trailers, Peter se permitiu soltar o ar que percebera estar segurando no peito. Apenas um dia antes, nunca teria imaginado a possibilidade de uma coisa assim, de que o medo pudesse transformar aquelas pessoas - que ele conhecia, que faziam seu trabalho, viviam suas vidas e visitavam os filhos no Abrigo - numa turba furiosa. E Sam Chou: nunca tinha visto o sujeito com tanta raiva. Nunca o vira com um pingo de raiva sequer.
- Que diabos, Dale - disse Alicia. - Quando isso começou?
- Praticamente no momento em que trouxeram Caleb para cá.
Agora que estavam sozinhos, toda a magnitude do que acontecera, ou quase acontecera, podia ser lida no rosto de Dale. Ele parecia alguém que tivesse caído de uma grande altura e descoberto que, milagrosamente, não havia se machucado.
- Por todos os voadores, achei que teria de deixá-los entrar. Vocês precisavam ter ouvido o que eles disseram antes de vocês chegarem.
De dentro da cadeia eles escutaram a voz de Caleb.
- Lish? E você?
Alicia dirigiu a voz para as janelas.
- Aguente firme, Cano Longo!
Em seguida fixou o olhar em Dale de novo.
- Vá chamar mais Vigias. Não sei o que Jimmy estava pensando, mas precisamos de pelo menos três pessoas aqui. Peter e eu podemos montar guarda até você voltar.
- Lish, você sabe que não posso deixá-los aqui. Sanjay vai arrancar meu couro. Você nem é mais Vigia.
- Talvez não, mas Peter é. E desde quando você começou a receber ordens de Sanjay?
- Desde hoje de manhã. - Ele lhes lançou um olhar de perplexidade. - Foi o que Jimmy falou. Ele disse que Sanjay declarou... como é mesmo o nome? Estado de emergência civil.
- Nós sabemos. Mas isso não significa que agora Sanjay dê as ordens.
- É melhor dizerem isso ao Jimmy. Ele parece achar que sim. Galen também.
- Galen? O que Galen tem a ver com isso?
- Não ficaram sabendo? - Dale examinou o rosto deles rapidamente. - Acho que não ouviram. Galen foi promovido a Segundo Capitão.
- Galen Sírauss?
Dale deu de ombros.
- Também não faz sentido para mim. Jimmy acabou de reunir todo mundo e disse que Galen ficou com o cargo dele, e Ian, com o de Theo.
- E Jimmy? Se ele foi promovido a Primeiro Capitão, quem ficou com o posto dele, de segundo?
- Ben Chou.
Ben e Ian. Fazia sentido. Os dois estavam na fila para o cargo de Segundo Capitão. Mas Galen?
- Me dê a chave - disse Alicia. - Traga mais dois Vigias que não sejam capitães. Encontre Soo, se puder, e diga a ela o que eu lhe disse.
- Não sei quem eu poderia chamar...
- É sério, Dale - insistiu Alicia. - Faça o que eu disse.
Os dois abriram a cadeia e entraram. O lugar era uma caixa de concreto praticamente vazia, sem nada especial. Ao longo de uma das paredes viam-se velhos cubículos sanitários já há muito tempo sem as louças. Do lado oposto havia uma longa fileira de canos e, acima, um grande espelho embaçado, cheio de rachaduras minúsculas.
Caleb estava sentado no chão sob as janelas. Tinham deixado uma jarra de água e um balde para ele, mas só isso. Lish encostou a besta em um dos cubículos e se agachou diante dele.
- Eles foram embora?
Alicia assentiu. Peter pôde ver que o garoto estava apavorado. Parecia ter chorado.
- Eu estou completamente ferrado, Lish. Sanjay vai me colocar para fora, com certeza.
- Isso não vai acontecer, eu prometo.
Ele limpou o nariz com as costas da mão. O rosto e as mãos estavam imundos, e as unhas tinham uma crosta de sujeira.
- O que você pode fazer?
- Deixe que eu me preocupe com isso. - Ela tirou uma faca da cintura. - Você sabe usar isso?
- Em nome dos voadores, Lish. O que vou fazer com uma faca?
- É só para garantir. Sabe usá-la?
- Posso me virar um pouco. Não sou muito bom.
Ela colocou a arma na mão dele.
- Esconda-a.
- Lish - disse Peter baixinho -, acha que isso é uma boa ideia?
- Não vou deixá-lo desarmado - respondeu, encerrando a discussão. Ela fixou o olhar em Caleb novamente. - Fique firme e esteja preparado. Se acontecer alguma coisa e você tiver chance de fugir, não hesite. Corra feito o diabo para o recorte do Muro. Você pode se esconder lá. Eu encontro você.
- Por que lá?
Escutaram vozes do lado de fora.
- Não dá tempo para explicar. Combinados?
Dale entrou no cômodo seguido por uma só Vigia, Sunny Greenberg. A garota tinha apenas 16 anos, era uma corredora. Não completara nem mesmo uma estação no Muro.
- Lish, não estou de brincadeira - disse Dale. - Você precisa sair daqui.
- Relaxe. Estamos indo - respondeu Alicia, mas quando se levantou e viu Sunny junto à porta, parou. Seus olhos chamejaram de raiva. - Isso foi o melhor que você conseguiu? Uma corredora?
- Todos os outros estão no Muro.
Doze horas antes, pensou Peter, Alicia poderia ter conseguido quem ela quisesse, até uma equipe inteira de Vigias. Agora precisava implorar por migalhas.
- E Soo? - insistiu Alicia. - Você a viu?
- Não sei onde ela está. Provavelmente também está lá. - Dale se virou para Peter. - Poderia tirá-la daqui?
Sunny, que até agora não tinha dito nada, adentrou mais o cômodo.
- Dale, o que você está fazendo? Pensei que você tinha dito que Jimmy remanejou todo o comando da Vigilância. Por que está recebendo ordens dela?
- Lish só estava ajudando.
- Dale, ela não é mais Capitã. Ela não é nem Vigia. - A garota olhou para Alicia e deu de ombros, um pouco sem graça. - Sem ofensas, Lish.
- Você não me ofendeu.
Alicia fez um gesto para a besta que a garota segurava ao lado do corpo.
- Diga uma coisa. Você é boa com isso?
A garota deu de ombros novamente, com expressão de falsa modéstia.
- Fui a melhor da minha turma.
- Que bom, espero que seja verdade. Porque parece que você acaba de ser promovida.
Alicia se virou para Caleb de novo.
- Você vai ficar bem?
O garoto assentiu.
- Apenas se lembre do que falei. Não estarei longe.
Com isso, Alicia se virou para Dale e Sunny uma última vez, os olhos comunicando o que queria dizer - Não se enganem, isso é pessoal -, e saiu da cadeia com Peter.
VINTE E NOVE
Sanjay Patal, o Guardião-chefe, poderia dizer que tudo começara anos antes.
Tinha começado com os sonhos.
Não sobre a garota: nunca havia sonhado com ela, disso tinha certeza. Ou quase. A Garota de Lugar Nenhum - era como todo mundo a chamava agora, até mesmo o Velho Chou; antes que a manhã terminasse, a expressão havia se tornado o nome dela: a menina havia chegado do nada, como uma aparição, um ser de carne e osso que nascesse da escuridão. Uma impossibilidade absoluta refutada pelo fato de sua existência. Ele havia examinado a mente, mas não conseguia encontrar a garota em lugar nenhum, nem na parte que ele conhecia como ele próprio, Sanjay Patal, nem na outra: a parte secreta, onírica.
Porque o sentimento estivera dentro de Sanjay desde quando ele podia se lembrar, como se outra pessoa, uma alma inteiramente separada dele, morasse dentro da sua. Uma alma com um nome e uma voz que cantava dentro dele. Seja meu. Eu sou seu e você é meu, e juntos somos maiores do que a soma, a soma de nossas partes.
Desde que era um Pequeno no Abrigo, tivera esse sonho: o sonho de um mundo que se fora havia muito tempo e uma voz que cantava dentro dele. De certa forma, parecia ser um sonho como outro qualquer, feito de som, luz e sensação. Uma mulher gorda em sua cozinha, respirando fumaça. A mulher empurrando comida na boca larga, frouxa, que parecia uma caverna, falando ao telefone, um objeto curioso com um lugar para falar e outro para escutar. De algum modo ele sabia o que era aquilo, que era um telefone, e assim Sanjay entendera que não era somente um sonho que estava tendo. Era uma visão. Uma visão do Tempo de Antes. E a voz dentro dele cantava um nome misterioso. Sou Babcock.
Sou Babcock. Somos Babcock.
Babcock. Babcock. Babcock.
Na época, Sanjay pensava em Babcock como uma espécie de amigo imaginário - na verdade não era diferente de uma brincadeira de faz de conta, só que a brincadeira não terminava. Babcock estava sempre com ele, no Quarto Grande, no pátio, durante as refeições e quando ia para a cama, à noite. As cenas do sonho não pareciam diferentes de outros sonhos, coisas corriqueiras, bobas e infantis, como tomar banho, brincar nos pneus ou ver um esquilo roendo nozes. Às vezes sonhava com essas coisas e outras vezes via a mulher gorda do Tempo de Antes, os sonhos se alternando aleatoriamente.
Lembrou-se de um dia, muito tempo antes, em que estava sentado na roda no Quarto Grande quando a Professora disse: "Vamos falar do que significa ser amigo." As crianças tinham acabado de almoçar, e ele estava com a sensação cálida e sonolenta que se tem depois de comer. Os outros Pequenos riam e brincavam, mas ele não. Ele não era assim, ele fazia o que mandavam, e então a Professora bateu palmas pedindo silêncio, e como era um bom menino, o único, ela se virou para ele, a expressão gentil de quem estava prestes a lhe dar um presente, o presente maravilhoso de sua atenção, e disse: "Diga, Pequeno Sanjay, quem são os seus amigos?"
"Babcock", respondeu ele.
Ele não pensou antes de falar. A palavra simplesmente saltou de sua boca. Sanjay percebeu imediatamente a gravidade do seu erro, revelando o nome secreto. O nome pareceu se encolher no ar, diminuído pela exposição. A Professora franziu a testa, insegura. Aquela palavra não significava nada para ela. "Babcock?", repetiu ela. Teria ouvido direito? E Sanjay entendeu que nem todos conheciam o amigo. É claro que não conheciam, por que ele teria pensado o contrário? Babcock era alguém especial e particular, só dele, e dizer seu nome como havia feito, de modo tão impensado, desejando apenas agradar e ser um bom menino, fora um erro. Mais do que um erro: uma violação. Dizer o nome era remover o que havia de especial nele. "Quem é Babcock, Pequeno Sanjay?"
No silêncio medonho que veio em seguida - as crianças tinham parado de falar, a atenção delas voltada apenas para aquela palavra desconhecida ele ouviu um colega dar um risinho - se não lhe falhava a memória, era Demetrius Jaxon, que ele já odiava naquela época -, e depois outro e mais outro, os sons da zombaria saltando no círculo de crianças sentadas como fagulhas ao redor de uma fogueira. Demetrius Jaxon: claro que tinha de ser ele. Sanjay também pertencia a uma Primeira Família, mas pelo modo como Demetrius agia, com seu sorriso espontâneo e a facilidade de angariar seguidores, era como se houvesse uma segunda categoria, mais exclusiva - Primeiro dos Primeiros -, e ele, Demetrius Jaxon, fosse o único a fazer parte dela.
Porém quem mais o magoou foi Raj. O pequeno Raj, dois anos mais novo que Sanjay - que deveria respeitá-lo, que devia ter se contido -, também tinha rido. Estava sentado de pernas cruzadas à esquerda de Sanjay, que olhou horrorizado quando o irmão lançou um olhar rápido e interrogativo para Demetrius, buscando a aprovação dele. Está vendo?, diziam os olhos de Raj. Está vendo como eu também consigo zombar do Sanjay? A Professora bateu palmas de novo, tentando restaurar a ordem. Sanjay sabia que, se não fizesse alguma coisa rápido, aquilo nunca mais terminaria. O coro agudo iria ressoar em seus ouvidos, nas refeições, depois do apagar das luzes e no pátio, quando a Professora não estivesse perto. Babcock! Babcock! Babcock! Como um palavrão, ou coisa pior. Sanjay tem um Babcock pequenininho!
Ele sabia o que precisava dizer.
"Desculpe, Professora. Eu quis dizer Demetrius. Meu amigo é Demetrius."
E deu o sorriso mais sincero para o garoto sentado à sua frente de cabelos crespos e escuros - cabelo dos Jaxon -, de dentes perfeitos como pérolas e olhos inquietos, sempre em movimento. Se Raj podia fingir, ele também podia.
"Demetrius Jaxon é o meu melhor amigo."
Era estranho lembrar aquele dia depois de tantos anos. Demetrius Jaxon se fora para sempre, Willem e Raj também; metade das crianças sentadas na roda naquela tarde já havia morrido ou sido tomada. A Noite Escura levara a maior parte delas; os outros desapareceriam de outras maneiras, cada um a seu tempo. Era como se o grupo tivesse sido devorado lentamente, mordiscado aos poucos. Era a vida. Tantos anos haviam se passado - a própria passagem do tempo uma espécie de maravilha -, e Babcock fizera parte de tudo. Como uma voz dentro dele, instigando-o de modo sutil, sendo seu amigo quando outros não podiam ser, mas nem sempre se comunicando com palavras. Babcock era um sentimento que ele tinha sobre o mundo. Desde aquele dia no Abrigo, nunca mais falara de Babcock.
E era verdade que, com o passar do tempo, o sentimento e os sonhos haviam se tornado outra coisa. Sanjay não sonhava mais com a mulher gorda do Tempo de Antes, se bem que isso ainda acontecesse de vez em quando. (Pensando bem, o que ele fora fazer na Casa de Força naquela noite estranha? Não se lembrava mais.) Seu sentimento já não dizia respeito ao passado, mas ao seu lugar, o lugar de Sanjay em um futuro prestes a se desenrolar. Algo estava para acontecer, algo grande. Ele não sabia exatamente o que era. A Colônia não podia durar para sempre, Demetrius estivera certo quanto a isso, assim como Joe Fisher: um dia as luzes iriam se apagar. A vida deles era uma grande bomba-relógio, e ninguém sabia quanto tempo restava. O Exército não existia mais, estava morto e jamais iria voltar. Algumas pessoas ainda se agarravam a essa ideia, mas não Sanjay Patal. O que quer que estivesse por vir, não era o Exército.
É claro que Sanjay sabia tudo sobre as armas - elas não eram exatamente um segredo. Não soubera por intermédio de Raj. Embora Sanjay já esperasse isso, ficara desapontado por Raj ter escolhido Demetrius em vez dele. Mas Raj havia contado a Mimi, que contara a Gloria - a esposa fofoqueira de Raj era incapaz de guardar um segredo por mais de cinco segundos; afinal, ela era uma Ramirez. Um dia, durante o café da manhã, logo depois de Demetrius Jaxon ter desaparecido pelo portão enquanto ninguém estava olhando, sem ao menos uma faca na cintura, ela havia deixado escapar toda a história, iniciando o relato por "não sei se você deveria saber".
Eram 12 caixotes, dissera Gloria, num sussurro confidencial, o rosto irradiando o zelo de um discípulo dedicado. Os fuzis estavam na usina, atrás de uma estante de fundo falso. Armas novas e brilhantes, armas militares que Demetrius, Raj e outros haviam encontrado em um depósito secreto de uma antiga base militar. "Isso era importante?", perguntara Gloria. Teria feito a coisa certa contando a ele? Sua ansiedade era fingimento: a voz dizia uma coisa, mas os olhos traíam a verdade. Ela sabia o que as armas significavam. "Sim", disse ele, assentindo. "Acho que pode ser. Acho melhor não contarmos a ninguém. Obrigado, Gloria, por me avisar."
Sanjay não acreditava que fosse o único a saber. Fora direto a Mimi na manhã seguinte, explicando com palavras firmes que ela não deveria contar a mais ninguém. Mas sem dúvida um segredo assim seria impossível de ser guardado. Zander devia saber, a usina era seu domínio. Provavelmente o Velho Chou também, já que Demetrius lhe contava tudo. Sanjay achava que Soo não sabia, nem Jimmy ou Dana, a filha de Willem. Sanjay havia sondado e jamais detectara qualquer indício de que soubessem. Mas certamente haveria outros - Theo Jaxon, por exemplo. E a quem eles teriam contado? A quem teriam sussurrado, confidencialmente, como Gloria fizera naquela manhã: "Preciso lhe contar um segredo"? Portanto a questão não era se as armas iriam aparecer, e sim quando e em que circunstâncias e - uma lição que ele aprendera naquela manhã no Abrigo - quem era amigo de quem.
E era esse o motivo pelo qual Sanjay quisera Mausami fora da Vigilância, longe de Theo Jaxon.
Sanjay soube no dia em que a filha nascera: ela era tudo. Era verdade que houvera ocasiões, mesmo recentemente, em que Sanjay se pegara desejando ter um filho homem, sentindo que isso imbuiria sua vida de um sentido de plenitude que de outro modo ele não alcançaria. Mas Gloria simplesmente não podia: os abortos e alarmes falsos e sangramentos de sempre os haviam roubado o sonho de um segundo filho. E então decidiram parar depois de Mausami. Ela mesma nascera depois de uma gravidez que inicialmente parecera o prenúncio de mais um desastre - Gloria tivera sangramentos quase o tempo todo. O trabalho de parto havia sido tortuoso: dois dias que pareceram a Sanjay - forçado a ouvir os gemidos agonizantes da mulher da sala de espera na Enfermaria - algo que ninguém poderia suportar.
No entanto, Gloria havia conseguido. Fora Prudence Jaxon quem levara a criança até Sanjay, que estava sentado com a cabeça enfiada nas mãos, a mente exausta pelas horas de espera e pelos sons medonhos que vinham do quarto. Àquela altura ele havia se resignado à ideia de que a criança morreria, assim como Gloria, deixando-o sozinho. Foi com incompreensão total que ele recebeu o embrulho, acreditando por um momento que Prudence lhe entregava seu bebê morto. É uma menina, dizia Prudence, uma menina saudável. E mesmo então ele demorara um instante para captar a ideia, para ligar as palavras àquela coisa nova e estranha que segurava no colo. Você tem uma filha, Sanjay. E quando puxou o pano de lado e viu o rosto dela, tão espantoso em sua humanidade, a boca minúscula, a coroa de cabelos escuros e os olhos meigos e grandes, ele soube que o que estava sentindo, pela primeira e única vez na vida, era amor.
E então ele quase a perdeu. Uma ironia amarga, ela se apaixonar por Theo Jaxon, o filho tão parecido com o pai. Mausami fizera o máximo para esconder dele, e Gloria também, tentando protegê-lo. Mas Sanjay podia ver o que estava acontecendo. Assim, sentira um grande alívio quando, no momento em que esperava ouvir que ela e Theo haviam decidido se casar, Gloria lhe deu a notícia. Depois de tudo, Galen Strauss! Não que Galen fosse a escolha dele para a filha - longe disso. Teria preferido alguém mais forte, como Hollis Wilson ou Ben Chou, mas Galen não era Theo Jaxon, e isso era o que importava. Não era nenhum dos Jaxon, e era óbvio para todo mundo que ele amava Mausami. Se, no fundo, esse amor tinha certa fraqueza, até mesmo desespero, era algo que Sanjay podia aceitar.
Tudo isso estava em sua mente enquanto permanecia parado na Enfermaria, ao meio-dia, olhando a garota. A Garota de Lugar Nenhum. Como se todos os fios da vida de Sanjay - Mausami, Babcock, Gloria, as armas e todo o resto - estivessem trançados juntos naquela pessoa impossível, no mistério que ela era.
A menina parecia estar dormindo. Ou algo como dormir. Sanjay havia pedido a Sara que saísse do aposento e esperasse do lado de fora com Jimmy. Ben e Galen estavam guardando a porta. Não poderia dizer por que fizera isso, mas algo lhe dizia para examinar a garota sozinho. O ferimento era obviamente sério. Tudo o que Sara tinha dito o levava a acreditar que a garota não sobreviveria. No entanto, vendo-a deitada ali, os olhos fechados e o corpo imóvel, sem qualquer traço de luta ou perturbação no rosto ou na subida e descida suaves de sua respiração, Sanjay não conseguia afastar a impressão de que ela era mais resistente do que aparentava. Acertada pela flecha de um Vigia: um ferimento daqueles mataria um homem adulto, quanto mais uma garota daquela idade. Quantos anos teria ela? Dezesseis? Treze? Seria uma adolescente ou uma criança? Sara fizera o melhor para limpá-la e a vestira com uma camisola de algodão aberta na frente, o tecido desbotado até um cinza quase transparente depois de tantos anos de lavagem. Estava presa ao corpo dela apenas pela manga direita; a esquerda pendendo com um vazio perturbador, como se abrigasse um membro invisível. A camisola fora deixada aberta, expondo a grossa bandagem que envolvia o peito e um ombro magro da menina, subindo até a base do pescoço pálido. O corpo não era de mulher, os quadris e o peito compactos como os de um garoto. Sob a bainha esgarçada da camisola, viam-se as pernas roliças como as de um potro e os joelhos salientes de adolescente. Era surpreendente que não houvesse uma ou duas cicatrizes em joelhos como aqueles, evidência de algum acidente na infância - uma queda de balanço, uma brincadeira perigosa no pátio.
E a pele, pensou Sanjay, ao ver os joelhos dela, depois os braços, e finalmente o rosto, o olhar percorrendo-a de baixo para cima até captá-la por inteiro, não era branca nem pálida; nenhuma dessas palavras parecia capturar sua discreta radiância. Era como se a clareza do tom de sua pele não fosse uma ausência de cor, mas algo em si mesmo. Uma clareza, decidiu Sanjay; era o que ele via na pele dela, uma clareza. Mas, na verdade, ele podia ver alguma cor onde o sol a havia tocado, nas mãos, nos braços e no rosto, deixando uma camada de sardas desbotadas nas bochechas e no nariz. Isso o levou a um sentimento de ternura paternal enterrado na memória: Mausami, quando era apenas uma menininha, tinha sardas assim.
As roupas e a mochila da garota tinham sido queimadas, mas não antes que os Guardiões, usando luvas grossas, examinassem seu conteúdo escasso, encharcado de sangue. Sanjay não sabia o que esperar, mas não foi o que encontrou. A mochila era de lona verde comum, talvez militar, mas quem poderia dizer? Alguns itens, todos haviam concordado, eram realmente úteis - um canivete, um abridor de latas, um rolo de barbante grosso -, mas a maioria parecia ter sido escolhida arbitrariamente, com significado inimaginável: uma pedra bem lisa e perfeitamente arredondada, um pedaço de osso desbotado pelo sol, um cordão com um relicário e um livro com um título misterioso: Um conto de Natal, de Charles Dickens, edição ilustrada. A flecha o havia atravessado, espetando-o como um alvo. As páginas estavam encharcadas com o sangue da garota. O Velho Chou lembrou que o Natal era uma espécie de reunião do Tempo de Antes, como a Primeira Noite. Mas ninguém sabia exatamente do que se tratava.
Com isso, restava apenas a garota para contar sua história. Essa Garota de Lugar Nenhum, lacrada em sua bolha de silêncio. O significado de seu surgimento era óbvio: ainda havia gente viva lá fora. Quem quer que fossem essas pessoas, e onde quer que estivessem, haviam enviado um dos seus, uma garota indefesa, que de algum modo tinha chegado até ali - um fato que, agora Sanjay ponderava, deveria ter sido uma boa notícia, causa de comemoração imediata; no entanto, nas horas desde sua chegada, não havia produzido nada além de um silêncio ansioso. Ainda não havia escutado ninguém dizer sequer uma vez Não estamos sós. É isso o que a chegada dela significa. O mundo não é um lugar morto, afinal.
Por causa da Professora, pensou. E não só porque estava morta, mas pelo que ela havia contado a cada um deles no dia em que saíram do Abrigo. Era comum as pessoas rirem daquilo ao relembrarem a história de sua liberação. Não acredito no estardalhaço que fiz. Você deveria ter visto como eu chorei!, diziam. Como se não estivessem falando de si mesmas na infância, de criaturas inocentes que deveriam ser vistas com compaixão e compreensão, mas de um ser totalmente distinto, visto à distância e ligeiramente ridículo. E era verdade: assim que se ficava sabendo que o mundo era um lugar assolado pela morte, a criança que você havia sido não parecia mais ser você. Ver a dor no rosto de Mausami no dia em que ela saíra do Abrigo tinha sido uma das piores experiências da vida de Sanjay. Algumas pessoas jamais superavam o trauma - eram as que acabavam se entregando -, mas a maior parte delas de algum modo conseguia seguir adiante. Encontrava-se um jeito de pôr a esperança de lado, engarrafá-la e colocá-la em alguma prateleira, e de tocar a vida. Como o próprio Sanjay fizera, e Gloria, e até mesmo Mausami. Como todos haviam feito.
Mas agora havia esta menina. Tudo a respeito dela contrariava os fatos. Uma pessoa - uma criança indefesa - se materializar no escuro era tão fundamentalmente perturbador quanto neve caindo no auge do verão. Sanjay tinha visto nos olhos dos outros, do Velho Chou, de Walter Fisher, de Soo, de Jimmy e de todos os demais Havia algo errado, aquilo não fazia sentido. A esperança era algo que causava dor, e aquela menina era isso. Uma espécie de esperança dolorosa.
Pigarreou - há quanto tempo estava ali, observando a Andarilha? - e disse:
- Acorde.
Não houve resposta. No entanto acreditou ter detectado, por trás das pálpebras da menina, um involuntário tremor de consciência. Falou de novo, dessa vez mais alto.
- Se puder me ouvir, acorde agora.
Seus pensamentos foram interrompidos por um movimento vindo de trás. Sara passou pela cortina, e Jimmy veio logo em seguida.
- Por favor, Sanjay. Deixe-a descansar.
- Esta garota é uma prisioneira, Sara. Há coisas que precisamos saber.
- Ela não é uma prisioneira, é uma paciente.
Sanjay olhou para a garota de novo.
- Ela não parece estar morrendo.
- Não sei se está morrendo ou não. É um milagre ainda estar viva, com todo o sangue que perdeu. Agora, por favor, pode sair? Também é um milagre eu conseguir manter este lugar limpo com todos vocês entrando e saindo.
Sanjay podia ver como Sara estava exausta, o cabelo suado e desalinhado, os olhos vermelhos de cansaço. Fora uma noite longa para todo mundo, e o dia se revelava mais longo ainda. No entanto, o rosto dela irradiava autoridade. Ali era ela quem ditava as regras.
- Você me avisa se ela acordar?
- Aviso. Eu já disse.
Sanjay se virou para Jimmy, parado junto à cortina.
- Certo. Vamos.
Mas o sujeito não reagiu. Estava olhando a garota. Olhando-a fixamente.
- Jimmy?
O olhar dele se afastou.
- O que você disse?
- Eu disse que devemos ir andando. Vamos deixar Sara fazer o trabalho dela.
Jimmy balançou a cabeça vagamente.
- Desculpe. Acho que me distraí.
- Você precisa dormir um pouco. Você também, Sanjay - sugeriu Sara.
Os dois saíram até a varanda, onde Ben e Galen montavam guarda, suando no calor. Uma multidão havia se formado, pessoas ansiosas para ver a Andarilha, mas Ben e Galen tinham mandado todos embora. Passava do meio-dia e apenas algumas pessoas estavam na rua. Do outro lado da rua, Sanjay viu uma equipe de Serviços Pesados. Os SPs usavam máscaras, botas e baldes. Iam para o Abrigo, para lavar novamente o Quarto Grande.
- Não sei o que é - disse Jimmy. - Mas alguma coisa naquela garota... Você viu os olhos dela?
Sanjay levou um susto.
- Os olhos dela estavam fechados, Jimmy.
Jimmy franziu os olhos observando o chão da varanda, como se procurasse alguma coisa.
- Pensando bem, acho que eles estavam mesmo fechados - disse. - Então por que tenho a impressão de que ela estava olhando para mim?
Sanjay não disse nada. A pergunta não fazia sentido. No entanto, algo no que Jimmy dissera tocara um ponto sensível. Olhando para a garota, ele também tivera a nítida impressão de estar sendo observado.
Olhou para os outros dois homens.
- Algum de vocês sabe do que ele está falando?
Ben deu de ombros.
- Não faço ideia. Talvez ela tenha uma queda por você, Jimmy.
Jimmy se virou rapidamente. Seu rosto brilhava de suor e tinha uma expressão de pânico.
- Estou falando sério. Entrem lá e vejam vocês mesmos. E esquisito, estou dizendo.
Ben virou os olhos rapidamente para Galen, que apenas deu de ombros com um ar de impotência.
- Por todos os voadores, Jimmy - disse Ben -, foi só uma brincadeira. Por que ficou tão irritado?
- Não teve graça, droga. E do que você está rindo, Galen?
- Eu? Eu não disse nada.
Sanjay sentiu a impaciência fervilhar.
- Chega, vocês três. Jimmy, ninguém entra aí. Entendido?
Jimmy assentiu, submisso.
- Claro. Como você mandar.
- Estou falando sério. Não me importa quem seja.
Sanjay cravou os olhos no rosto de Jimmy, sustentando o olhar por mais um instante. Aquele sujeito não era nenhuma Soo Ramirez, isso era óbvio. Também não chegava aos pés de Alicia. Sanjay se perguntou se não teria sido por isso, afinal, que o escolhera para o cargo.
- O que você quer que façamos em relação ao Cano Longo? - perguntou Jimmy. - Quero dizer, nós não vamos mesmo colocá-lo para fora, vamos?
O garoto, pensou Sanjay, cansado. De repente, a última coisa em que queria pensar era Caleb Jones. Caleb proporcionara uma clareza necessária às primeiras horas da crise; as pessoas precisavam de alguém em quem descontar a raiva. Mas, com o raiar do dia, colocar o garoto para fora começara a parecer pura crueldade, um gesto inútil que todos lamentariam depois. E o garoto tinha coragem. Quando as acusações foram lidas, ele se apresentou diante dos Guardiões e assumiu toda a culpa sem hesitar. Às vezes a coragem era encontrada nos lugares mais estranhos, e Sanjay a vira no pé de cabra Caleb Jones.
- Apenas o mantenha sob guarda.
- E Sam Chou?
- O que tem ele?
Jimmy hesitou.
- Andam falando, Sanjay. Sam, Milo e alguns outros. Estão falando em colocá-lo para fora.
- Onde você ouviu isso?
- Não fui eu quem ouviu. Foi Galen.
- Foi o que eu fiquei sabendo - disse Galen. - Na verdade, foi Kip quem me contou. Ele estava na casa dos pais e ouviu um grupo conversando.
Kip era um corredor, o filho mais velho de Milo.
- Bem, e o que ele disse?
Galen deu de ombros, inseguro, como se quisesse se distanciar da própria história.
- Que Sam jurou que, se nós não o colocarmos para fora, ele coloca.
Eu deveria ter imaginado que isso ia acontecer, pensou Sanjay. Era a última coisa de que precisava, pessoas tomando as rédeas da situação. Mas Sam Chou... Agir de modo tão descontrolado parecia totalmente estranho, considerando o temperamento do sujeito, um dos mais afáveis que Sanjay conhecia. Sam cuidava das estufas; os Chou sempre foram responsáveis por isso. Diziam que ele tratava as fileiras de ervilhas e cenouras como se fossem bichinhos de estimação. Sanjay achava que aquilo tinha a ver com toda aquela prole. Parecia que toda vez que Sanjay ia visitá-lo Sam estava servindo um uísque para comemorar mais uma gravidez da Outra Sandy.
- Ben, ele é seu primo. Você ouviu algo assim?
- Quando poderia ter ouvido qualquer coisa? Fiquei aqui a manhã inteira.
Sanjay mandou reforçarem a guarda na cadeia e desceu pelo caminho.
Realmente havia um silêncio pavoroso, pensou. Nem os pássaros cantavam. Isso o fez pensar de novo na garota, na sensação de estar sendo observado. Era como se, por trás daquele rosto doce e adormecido - e havia algo doce nele, pensou, uma espécie de doçura de bebê, que o lembrava de quando Mausami era uma Pequena, subindo na cama no Quarto Grande e esperando Sanjay se curvar e lhe dar um beijo de boa-noite -, por trás de suas pálpebras, daquele véu de carne macia, a mente dela o estivesse procurando no quarto. Jimmy não estava errado: havia algo nela. Algo em seus olhos.
Ele percebeu que seus pensamentos estavam à deriva, levados para longe pela correnteza. Girou e encontrou Jimmy parado no degrau, os olhos franzidos e o corpo inclinado para a frente, em expectativa, as palavras de alguma declaração não dita congeladas nos lábios.
- O que foi? - perguntou Sanjay, a boca subitamente seca.
Jimmy fez menção de falar, mas nenhuma palavra saiu. O esforço pareceu inútil.
- Nada - disse Jimmy finalmente, desviando o olhar. - Sara está certa. Eu preciso mesmo dormir um pouco.
TRINTA
Chegaria um tempo, muitos anos depois, em que Peter pensaria nos acontecimentos ligados à chegada da garota como uma série de movimentos de dança: corpos se aproximando e se afastando, lançados por breves períodos em órbitas mais distantes e atraídos de novo sob a influência de algum poder desconhecido, uma força calma e inevitável como a gravidade.
Quando chegara à Enfermaria na noite anterior e vira a garota - tanto sangue, sangue por toda parte, Sara tentando freneticamente fechar o ferimento e Caleb com a compressa encharcada nas mãos não sentira horror nem surpresa, e sim uma explosão de puro reconhecimento. Ali estava a garota do carrossel; ali estava a garota do corredor do shopping e da fuga louca no escuro; ali estava a garota do beijo e da porta se fechando.
O beijo. Durante as longas horas na passarela, enquanto ocupara o posto de Misericórdia esperando por Theo, a mente de Peter havia voltado repetidamente a ele - ao enigma do seu significado, do tipo de beijo que era: não um beijo como o de Sara, naquela noite sob as luzes, nem o beijo de uma amiga ou mesmo, falando estritamente, o beijo inocente de uma criança, ainda que tivesse algo de infantil, a pressa furtiva e a rapidez constrangida, terminando quase antes de ter começado - e à partida abrupta da garota, recuando para o corredor antes que ele pudesse dizer uma palavra e trancando a porta. Era tudo isso e nada disso, e só quando chegou à Enfermaria e a viu deitada ali entendeu o que era: uma promessa. Uma promessa tão clara quanto as palavras de uma menina que não dissera palavra alguma. Um beijo que dizia: vou encontrar você.
Agora, escondidos atrás de alguns arbustos de zimbro junto à parede do Abrigo, Peter e Alicia viam Sanjay partir. Jimmy saiu um instante depois - havia algo estranho nos movimentos dele, pensou Peter, um torpor descoordenado, como se não soubesse para onde ir ou o que fazer consigo mesmo -, deixando Ben e Galen montando guarda à sombra da varanda.
Alicia balançou a cabeça.
- Acho que não vamos conseguir convencê-los a nos deixar entrar.
- Venha - disse ele.
Guiou-a pelos fundos do prédio, para um beco escondido que passava entre a Enfermaria e as estufas. A porta dos fundos e todas as janelas haviam sido fechadas com tijolos, mas atrás de uma pilha de caixotes vazios havia um alçapão de metal. Dentro ficava um velho duto que levava ao porão. Às vezes, à noite, quando sua mãe estava trabalhando sozinha e ele ainda era suficientemente jovem para se divertir com coisas assim, ela o deixava entrar pelo duto.
Ele abriu a porta de metal.
- Entre aí.
Ouviu o corpo dela batendo nas laterais do tubo, depois a voz chegando de baixo:
- Pode vir.
Segurando as laterais da porta, ele entrou e fechou o alçapão atrás de si. Um negrume súbito o envolveu - fazia parte da emoção, Peter se lembrou, escorregar pelo duto no escuro -, e ele se soltou.
Um mergulho rápido e Peter caiu de pé. O porão continuava exatamente como ele recordava, cheio de caixotes e outros suprimentos, à direita o velho freezer com as prateleiras cheias de vidros, e no centro a mesa larga, com a balança, os instrumentos e as velas gastas. Alicia estava parada na base da escada que levava ao saguão da Enfermaria, a cabeça inclinada na direção da luz que vinha de cima. Quando chegassem ao topo da escada, entrariam no campo visual dos Vigias na varanda. Passar pelas janelas seria a parte mais complicada.
Peter subiu primeiro. Quando estava quase no fim da escada, ergueu a cabeça acima do último degrau e espiou. Não tinha um bom ângulo de visão, estava baixo demais, mas pôde ouvir o som abafado da voz dos dois homens. Estavam voltados para o outro lado, então Peter se virou para Alicia, sinalizando para que o acompanhasse. Depois se levantou depressa, movendo-se furtivamente pela sala e indo pelo corredor em direção ao quarto.
A garota estava acordada e sentada. Foi a primeira coisa que viu. As roupas ensanguentadas haviam sumido, substituídas por uma camisola fina que revelava um enorme curativo branco. Sara, posicionada na beira da cama estreita, olhava para o outro lado, segurando o pulso da Andarilha.
Os olhos da menina se ergueram rapidamente, encontrando os dele. Em uma explosão súbita, ela puxou a mão e se encolheu rapidamente junto à cabeceira da cama, enquanto Sara, sentindo a presença dele, levantou-se de um pulo e se virou para encará-lo.
- Por todos os voadores, Peter. - Todo o seu corpo parecia retesado, sua voz era um sussurro áspero. - Como, diabos, entrou aqui?
- Pelo porão.
A voz veio de trás dele: Alicia. A garota havia se enrolado como uma bola, os joelhos comprimidos defensivamente junto ao peito como se formassem um escudo, o tecido frouxo da camisola caído sobre as pernas, que ela abraçava.
- O que aconteceu? - perguntou Alicia. - Aquele ombro estava destroçado há algumas horas.
Só então Sara relaxou e, com um suspiro cansado, se sentou em outra cama.
- Não faço a mínima ideia. Pelo que parece, ela está perfeitamente bem. O ferimento está praticamente curado.
- Como pode ser?
Sara balançou a cabeça.
- Não consigo explicar. Mas acho que ela não quer que os outros saibam. Sanjay esteve aqui com Jimmy. Qualquer um que entre, ela finge estar dormindo. - Sara deu de ombros. - Talvez fale com você. Eu não consegui arrancar uma palavra dela.
Peter ouvia a conversa apenas a distância, as vozes de Sara e Alicia parecendo vir de outro cômodo. Ele tinha se movido em direção à cama. A menina o olhava cautelosamente por cima dos joelhos, os olhos escondidos atrás do emaranhado de cabelos. Ele tinha a sensação de estar se aproximando de um animal arredio. Sentou-se na beira da cama, virado para ela.
- Peter, o que você está... fazendo? - perguntou Sara.
Peter se dirigiu à garota.
- Você veio atrás de mim. Não foi?
Um movimento quase imperceptível com a cabeça. É. Eu vim atrás de você.
- Ela me salvou - explicou Peter, virando o rosto para Sara. - No shopping, quando os virais atacaram. Ela me protegeu.
Ele se dirigiu novamente à garota. - Foi isso mesmo, não foi? Você me protegeu. Você os mandou embora.
É. Eu os mandei embora.
- Você a conhece? - perguntou Sara, incrédula.
Peter hesitou, lutando para montar a história na mente.
- Nós estávamos embaixo de um carrossel. Theo tinha sumido. Os fumaças estavam chegando, eu pensei que era o fim. Então ela... subiu em cima de mim.
- Ela subiu em cima de você.
Ele assentiu.
- É, nas minhas costas. Como se o corpo dela fosse um escudo. Sei que não estou contando direito, mas foi o que aconteceu. Alguns instantes depois, vi que os fumaças tinham ido embora. Ela me guiou por um corredor e mostrou uma escada que levava ao telhado. Foi assim que eu consegui sair.
Sara ficou calada por um momento.
- Sei que parece estranho.
- Peter, por que não contou a ninguém?
Ele deu de ombros, sem saber o que responder. Não tinha nenhuma desculpa, pelo menos nenhuma que fosse convincente.
- Eu deveria ter contado. Não tinha nem certeza de que aquilo houvesse realmente acontecido. E depois que não falei nada, foi ficando cada vez mais difícil contar.
- E se Sanjay descobrir?
A menina havia levantado a cabeça ligeiramente acima dos joelhos. Parecia estar estudando Peter, sondando seu rosto com uma sombria expressão de reconhecimento. A sensação de algo selvagem permanecia, o jeito de animal arisco no modo como ela se movia e se comportava. Mas, nos poucos minutos desde que haviam entrado no quarto, uma mudança acontecera, uma diminuição perceptível do medo.
- Ele não vai descobrir - disse Peter.
- Ah, meu Deus - disse uma voz atrás deles. - É verdade.
Todos se viraram para ver Michael parado junto à cortina.
- Circuito, como você entrou? - perguntou Alicia sussurrando. - E fale baixo.
- Do mesmo jeito que vocês. Vi vocês dois entrando no beco.
Michael foi andando cautelosamente em direção à cama, os olhos fixos na garota. Estava segurando alguma coisa.
- Sério, quem é essa menina?
- Não sabemos - disse Sara. - Uma Andarilha.
Por um momento o irmão de Sara ficou em silêncio, com uma expressão indecifrável no rosto. Mas Peter podia ver que sua mente estava trabalhando, realizando cálculos rápidos. De repente Michael pareceu se lembrar do objeto que tinha na mão.
- Puta merda. Puta merda. É exatamente o que Élton disse.
- Do que você está falando?
- O sinal. O sinal fantasma. - Ele os silenciou com um gesto. - Não, esperem... esperem aí. Não acredito. Todo mundo preparado?
Seu rosto se iluminou com um sorriso de triunfo.
- Aí vem.
E nesse instante o aparelho começou a zumbir.
- Circuito - disse Alicia -, o que, diabos, é isso?
Ele levantou o palmtop para mostrá-lo aos demais.
- Foi isso o que vim contar a vocês - disse Michael. - Sabe, essa garota, a Andarilha? Ela está nos chamando.
O transmissor tinha de estar em algum lugar nela, explicou Michael. Não sabia exatamente como ele seria. Devia ser grande o suficiente para ter uma fonte de energia, mas era só o que podia concluir.
A mochila da garota e todo o seu conteúdo tinham sido queimados, o que levava à conclusão de que a fonte do sinal devia estar na própria garota. Sara se sentou ao lado dela, na cama, e explicou o que queria fazer, pedindo à menina que ficasse imóvel. Começando pelos pés, Sara revistou o corpo da Andarilha, tocando gentilmente cada centímetro de sua pele, examinando as pernas, os braços, as mãos e o pescoço. Quando terminou, levantou-se e foi para trás dela, posicionando-se na cabeceira da cama, e passou os dedos lentamente pelo ninho embaraçado de seus cabelos. Durante todo esse tempo, a menina permaneceu imóvel, levantando os braços e as pernas quando Sara pedia, o olhar flutuando pela sala com uma expressão neutra de indagação, como se não tivesse certeza do que pensar sobre aquilo.
- Se estiver nela, está bem escondido. - Sara parou para afastar um fio de cabelo do próprio rosto. - Tem certeza disso, Michael?
- Tenho. Então tem de estar dentro dela.
- Dentro do corpo dela?
- Deve estar logo abaixo da pele. Procure uma cicatriz.
Sara pensou por um instante.
- Bem, não vou fazer isso na frente de um monte de gente. Peter e Michael, virem para o outro lado. Lish, venha até aqui. Talvez eu precise de sua ajuda.
Peter aproveitou o momento para ir até a cortina e espiar. Ben e Galen ainda estavam do lado de fora, duas figuras turvas viradas para o outro lado. Imaginou quanto tempo teriam. Certamente alguém apareceria a qualquer momento - Sanjay, o Velho Chou ou Jimmy.
- Certo, podem olhar agora.
A garota estava sentada na beira da cama, o pescoço dobrado para a frente.
- Michael estava certo. Não foi preciso procurar muito.
Sara levantou o emaranhado de cabelos da menina para mostrar uma nítida linha branca na base do pescoço, com apenas alguns milímetros de comprimento. Acima dela via-se o volume revelador de algum objeto estranho.
- Dá para sentir as bordas. - Sara apertou os dedos contra o objeto para demonstrar. - A não ser que seja mais complicado do que parece, acho que deve sair sem problemas.
- Vai doer? - Peter perguntou.
Sara assentiu.
- Mas vai ser rápido. Comparado com ontem à noite, não deve ser nada. Como tirar uma farpa grande.
Peter se sentou na cama e falou com a garota.
- Sara precisa tirar uma coisa que está debaixo da sua pele. Uma espécie de rádio. Tudo bem?
Ele viu um tremor de apreensão no rosto dela. Depois ela assentiu.
- Tenha cuidado - disse Peter.
Sara foi até o armário e retornou com uma bacia de instrumentos, um bisturi e um frasco de álcool. Molhou um pano e limpou a área. Depois, posicionando-se novamente atrás da menina e afastando seus cabelos, pegou o bisturi.
- Isso vai arder.
O movimento da lâmina acompanhou a linha da cicatriz. Se a menina sentiu alguma dor, não deu qualquer indicação disso. Uma única gota de sangue apareceu no corte, escorrendo pela linha comprida do pescoço da garota e desaparecendo na camisola. Sara limpou o ferimento com um pano e inclinou a cabeça na direção da bacia.
- Alguém me passe essa pinça. Não toquem nas pontas.
Foi Alicia quem fez isso. Sara enfiou as pontas da pinça na abertura da pele da garota, mantendo o pano sujo de sangue abaixo do corte. A concentração de Peter era tão intensa que ele pôde sentir o momento em que a pinça agarrou o objeto. Puxando lentamente, Sara removeu o transmissor, colocou-o no pano e o levantou para que Michael pudesse ver.
- É isso o que você está procurando?
Sobre o pano havia um pequeno disco oblongo feito de um metal brilhante. Fios finos como pelos, com esferas minúsculas nas extremidades, se projetavam da borda. Peter achou que o objeto parecia uma aranha achatada.
- Isso é um rádio? - perguntou Alicia.
Michael franziu a testa.
- Não tenho certeza - confessou.
- Não tem certeza? Como é que você sabia que estava ali e não sabe o que é?
Michael esfregou o objeto com um pano limpo e o levantou contra a luz.
- Bem, é algum tipo de transmissor. Provavelmente esses fios são para isso.
- E o que estava fazendo dentro dela? - perguntou Alicia. - Quem poderia ter feito algo assim?
- Talvez devêssemos perguntar a ela o que é - disse Michael.
Mas quando tirou o objeto do pano ensanguentado para mostrá-lo à menina, ela reagiu com uma expressão de perplexidade. A existência daquilo em seu pescoço parecia tão misteriosa para ela quanto para eles.
- Acha que o Exército pôs isso nela? - perguntou Peter.
- Pode ser - respondeu Michael. - Estava transmitindo em frequência militar.
- E não dá para saber?
- Peter, eu nem sei o que isso está transmitindo. Pode estar recitando as letras do alfabeto.
Alicia franziu a testa.
- Por que ele recitaria o alfabeto?
Michael deixou a pergunta se dissipar sem nenhum comentário. Olhou para Peter de novo.
- É só o que posso dizer. Se quiser saber mais, terei de abri-lo.
- Então abra - disse Peter.
TRINTA E UM
Ao sair da Enfermaria, Sanjay Patal pretendia encontrar o Velho Chou. Eles precisavam discutir algumas coisas, tomar decisões. Para começar, Sam e Milo - essa era uma dificuldade que Sanjay não havia previsto - e também o que fazer com relação a Caleb e à garota.
A garota. Havia algo nos olhos dela.
Mas enquanto se afastava da Enfermaria no início da tarde, sentiu um peso inesperado baixar sobre ele. Achou que era natural - ficara acordado metade da noite, depois tivera uma manhã daquelas, com tantas coisas para fazer, tantas preocupações e problemas a considerar. As pessoas costumavam fazer piadas sobre os Guardiões, dizendo que não tinham trabalho de verdade, como a Vigilância, a Agricultura ou a equipe de SP - Theo Jaxon havia cunhado o termo "comitê de encanamento", uma piada que, cruelmente, tinha pegado -, mas isso era porque as pessoas não conheciam seu trabalho, não entendiam a responsabilidade que ficava sobre eles. Ela pesava, era uma carga de que nunca se livravam. Sanjay tinha 45 anos, não era exatamente jovem, mas enquanto seguia pelo caminho de cascalho sentiu-se muito mais velho.
Àquela hora do dia o Velho Chou devia estar no apiário - os portões estavam fechados, mas as abelhas não se importavam. Mas ao pensar na longa caminhada até lá, sob o sol do meio-dia, e em quem ele poderia encontrar no caminho e com quem seria obrigado a conversar, Sanjay sentiu um cansaço súbito que pareceu envolver sua mente como uma névoa cinza. Então decidiu: precisava descansar. O Velho Chou teria de esperar. E antes mesmo que se desse conta, Sanjay estava se arrastando à sombra na clareira que levava à sua casa, depois passou pela porta (ouviu os sons de Gloria em algum lugar, mas ela não notou sua presença), subiu pela escada de madeira que rangia sob os caibros do telhado cheios de teias de aranha, e se deitou na cama. Estava cansado, cansado demais. Quando fora a última vez que se permitira tirar um cochilo no meio do dia?
Dormiu praticamente antes de terminar a pergunta.
Acordou algum tempo depois com um gosto extremamente azedo na boca e um zumbido nos ouvidos. Não sentia exatamente que havia acordado - era como se seu corpo tivesse sido expulso do sono. Sua mente parecia ter sido esvaziada.
Por todos os voadores, como havia dormido! Ficou deitado sem se mover, saboreando a sensação, flutuando nela. Escutou vozes embaixo, a de Gloria e de outra pessoa, uma voz mais profunda, de homem. Pensou que poderia ser Jimmy, Ian ou talvez Galen, mas enquanto permanecia deitado ouvindo, percebeu que mais tempo havia se passado e as vozes tinham ido embora. Como era bom simplesmente ficar ali, deitado. Bom e um tanto estranho, porque na verdade achava que deveria ter se levantado muito antes. A noite estava caindo, dava para ver pela janela, a brancura do céu de verão se tornando rósea com o crepúsculo, e havia coisas a fazer. Jimmy provavelmente queria saber sobre a usina, sobre quem deveria enviar para lá de manhã (mas no momento Sanjay não conseguia se lembrar exatamente de por que isso precisava ser feito), e ainda havia a questão do garoto, Caleb, que todo mundo chamava de Cano Longo por algum motivo, algo relacionado com os tênis. Tanta coisa. No entanto, quanto mais tempo permanecia ali deitado, mais essas preocupações pareciam distantes e indistintas, como se dissessem respeito a outra pessoa.
- Sanjay?
Gloria estava parada junto à porta. Sanjay percebeu sua presença menos como uma pessoa do que uma voz: uma voz incorpórea, chamando seu nome no escuro.
- Por que está na cama?
Ele pensou: não sei. Que estranho não saber por que estou deitado nessa cama!
- É tarde, Sanjay. As pessoas estão procurando você.
- Eu estava... cochilando.
- Cochilando?
- É, Gloria. Cochilando. Tirando um cochilo.
A esposa apareceu acima dele, a imagem do rosto liso e redondo flutuando sem corpo no mar cinza de sua visão.
- Por que está segurando o lençol assim?
- Assim, como? Como estou segurando?
- Não sei. Veja você mesmo.
Só de imaginar o esforço necessário para fazer aquilo, quase desistiu. No entanto, de algum modo conseguiu, inclinando a cabeça para a frente e erguendo-a do travesseiro umedecido de suor para vislumbrar toda a extensão de seu corpo. Parecia que, durante o sono, ele havia tirado o lençol da cama e o enrolado na forma de uma corda, que agora segurava sobre a cintura, agarrando com força.
- Sanjay, qual é o problema? Por que está falando assim?
O rosto dela ainda estava acima dele, no entanto ele não parecia capaz de focalizá-lo, de enquadrá-lo totalmente em seu campo visual.
- Estou bem. Só estava cansado.
- Mas não está mais.
- Não. Acho que não. Mas talvez eu durma um pouco mais.
- Jimmy esteve aqui. Queria saber o que fazer com relação à usina.
A usina. O que tem a usina?
- O que devo dizer, se ele voltar?
Então ele se lembrou. Alguém tinha de ir à usina protegê-la do que quer que estivesse acontecendo lá.
- Galen - disse ele.
- Galen? O que tem Galen?
Mas havia escutado a pergunta apenas vagamente. Seus olhos haviam se fechado de novo, a imagem do rosto de Gloria mudando diante dele, sendo alterada, substituída por outra: o rosto de uma menina, tão pequena. Os olhos dela. Havia algo naqueles olhos.
- O que tem Galen, Sanjay?
- Seria bom para ele, não acha? - escutou uma voz dizer, porque uma parte dele ainda estava no quarto, enquanto a outra, a parte sonhadora, não estava mais ali. - Diga a ele que mande Galen.
TRINTA E DOIS
As Horas passaram e a noite chegou.
Ainda não tinham qualquer notícia de progressos de Michael. O grupo havia se separado depois que os três saíram pelos fundos da Enfermaria: Michael foi para a Casa de Força e Alicia e Peter seguiram para as imediações da cadeia, de onde poderiam vigiar Caleb de um dos trailers vazios, para o caso de Sam e Milo retornarem. Sara ficara com a garota. Por enquanto, a única coisa a fazer era esperar.
O trailer onde se esconderam era longe o suficiente da cadeia para não serem notados, mas perto o bastante para verem a porta. Diziam que os trailers haviam sido deixados ali pelos Construtores e que tinham sido usados para alojar os trabalhadores que ergueram os muros e instalaram as luzes. Que Peter soubesse, ninguém mais vivera neles. O trailer onde estavam havia sido depenado: o forro fora quase totalmente arrancado para que se retirassem canos e fios, assim como todos os outros materiais hidráulicos e elétricos. No fundo havia uma área isolada por uma porta de correr - onde se via uma base que antes acomodara um colchão de casal - e mais dois cubículos que haviam servido de quartos. Do outro lado do cômodo ficava uma mesa minúscula com um banco comprido de cada lado. O vinil que forrava os assentos estava quebradiço, suas fendas soltando uma espuma seca que virava pó quando tocada.
Alicia trouxera um baralho para passar o tempo. Entre uma partida e outra, ela se remexia inquieta no banco, olhando pela janela em direção à cadeia. Dale e Sunny tinham ido embora, substituídos por Gar Phillips e Hollis Wilson, que evidentemente decidira não se afastar do cargo, afinal. Em algum momento no fim da tarde, Kip Darrell havia aparecido com uma bandeja de comida. Fora isso, não tinham visto mais ninguém.
Peter distribuiu as cartas de novo. Alicia deu as costas para a janela, pegou suas cartas na mesa e as olhou rapidamente, franzindo a testa.
- Em nome dos voadores, Peter. Por que me deu um lixo desses?
Ela organizou as cartas na mão, enquanto Peter fazia o mesmo, e jogou um valete de copas. Peter igualou o naipe com um oito. Alicia jogou um oito de espadas.
- Compro.
Ele puxou uma carta. Alicia olhava pela janela de novo.
- Pare com isso, está bem? - disse ele. - Você está me deixando nervoso.
Alicia não disse nada. Peter precisou comprar quatro vezes para conseguir uma carta que servisse - agora sua mão estava cheia. Finalmente conseguiu um dois de espadas, mas Alicia virou o jogo com um dois de copas. Depois de quatro rodadas, ela mudou novamente o naipe com uma dama de espadas.
Ele comprou do baralho de novo. Ela estava cheia de espadas, dava para saber, mas Peter não podia fazer nada. Ela o havia encurralado. Peter finalmente conseguiu trocar o naipe, só para vê-la jogar sua última carta, um nove de ouros.
- Você sempre faz isso, não é? - disse ela, enquanto recolhia as cartas. - Põe seu naipe mais forte primeiro.
Peter continuava olhando para as cartas em sua mão, como se o jogo fosse continuar.
- Eu nem percebi.
- Pois é.
Faltavam instantes para o Primeiro Toque. Como seria estranho, pensou Peter, não passar a noite na passarela.
- O que você vai fazer se Sam voltar? - perguntou Peter.
- Realmente não sei. Tentar convencê-lo a parar com isso, acho.
- E se não conseguir?
Ela deu de ombros, franzindo a testa.
- Então vou cuidar da situação.
Ouviram o Primeiro Toque.
- Você sabe que não precisa se meter nisso - disse Alicia.
Ele queria dizer "nem você", mas sabia que não era assim.
- Acredite - disse Alicia. - Nada vai acontecer depois do Segundo Toque. Depois de ontem à noite, provavelmente todos estão escondidos em casa. Você deveria ir dar uma olhada em Sara. No Circuito também. Para ver se ele descobriu alguma coisa.
- O que você acha que ela é?
Alicia deu de ombros.
- Pelo que pude ver, é só uma garota amedrontada. Isso não explica aquele transmissor no pescoço ou como sobreviveu lá fora. Talvez a gente nunca saiba. Vamos ver o que Michael descobre.
- Mas você acredita em mim? No que aconteceu no shopping?
- Claro que acredito, Peter. - Alicia franziu a testa. - Por que não acreditaria?
- É uma história bem maluca.
- Se você diz que foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Nunca duvidei de você antes e não vou começar agora. - Ela o examinou cuidadosamente por um momento. - Mas não é isso o que você está perguntando, é?
Ele ficou calado por um momento. Depois perguntou:
- Quando você olha para ela, o que vê?
- Não sei, Peter. O que deveria ver?
O Segundo Toque começou a soar. Alicia ainda o examinava, esperando a resposta. Mas ele não tinha palavras para descrever o que sentia, pelo menos nada que fizesse sentido.
Um clarão lá fora: as luzes estavam acesas. Peter puxou as pernas, tirando-as de sob a mesa, e se levantou.
- Você teria mesmo acertado Sam com a besta? - perguntou.
Alicia agora estava abaixo dele, iluminada por trás, o rosto afundado em sombras.
- Honestamente? Não sei. Talvez. Tenho certeza de que me arrependeria se tivesse feito isso.
Ele esperou sem dizer nada. A mochila de Alicia estava no chão, com comida, água e um saco de dormir, a besta encostada ao lado.
- Ande - instigou ela, inclinando a cabeça para a porta. - Saia daqui.
- Tem certeza de que vai ficar bem?
- Peter - disse ela, gargalhando -, quando foi que eu não fiquei bem?
Na Casa de Força, Michael Fisher estava tendo mais problemas do que de costume. Mas o pior de tudo era o cheiro.
Havia piorado, estava insuportável. Um fedor azedo de suor, sujeira e meias velhas. Uma mistura de queijo e cebola mofados. O ar fedia tanto que Michael mal conseguia se concentrar.
- Que diabos, Élton, saia daqui, pelo amor de Deus. Você está fazendo o lugar inteiro feder.
O velho estava sentado em seu posto de sempre, diante do painel, à direita de Michael, as mãos pousadas nos braços da velha cadeira com rodinhas, o rosto virado ligeiramente para o outro lado. Depois de acionar as luzes para a noite - todos os níveis estavam verdes; independentemente do que tivesse acontecido lá, a usina continuava enviando a corrente elétrica montanha acima -, Michael retomara o trabalho com o transmissor, que agora estava desmontado sobre a bancada, as peças ampliadas pela lente que ele havia encontrado no barracão. Tinha ficado nervoso, prevendo uma visita de Sanjay querendo saber sobre as baterias; ficara pronto para, a qualquer minuto, jogar tudo dentro de uma gaveta. Mas a única visita oficial à Casa de Força fora a de Jimmy, no fim da tarde. Ele não parecia muito bem, estava meio pálido e desligado, como se estivesse doente, e indagara sobre as baterias com timidez, como se houvesse se esquecido totalmente delas e estivesse quase sem graça demais para puxar o assunto. Não adentrara mais que um metro além da porta - embora o fedor de Élton mantivesse qualquer um longe, uma barricada de odor humano - e não parecera perceber a lente que se encontrava bem ali, às vistas de qualquer um, nem os cabos coloridos, os circuitos expostos ou o ferro de solda no balcão.
- Sério, Élton, se você quer dormir, vá para os fundos.
O velho estremeceu, os dedos apertando os braços da cadeira. Ele virou o rosto cego e rígido para Michael.
- Tudo bem. Desculpe. - Ele passou a mão no rosto. - Já soldou?
- Vou soldar agora. Sério, Élton. Você não está sozinho aqui. Quando foi a última vez que tomou um banho?
O velho não disse nada. Pensando bem, Michael também não estava lá essas coisas, não que isso fosse incomodar Élton, cujos padrões afinal não eram tão altos. Michael estava suado e exausto. Sabia que precisava de um banho. Enquanto ele olhava, Élton passou lentamente a mão sobre a superfície da bancada, os dedos procurando algo, até encontrar os fones de ouvido, mas não os pegou.
- Você está bem? -Hein?
- Só estou dizendo que você não parece muito bem.
- As luzes acenderam?
- Há uma hora. Você estava dormindo?
Élton lambeu os lábios com a língua pesada. Por todos os voadores, o que era aquilo? Alguma coisa nos dentes?
- Talvez você esteja certo. Acho que vou me deitar.
O velho se levantou com dificuldade e foi se arrastando pelo corredor estreito que ligava a área de trabalho aos fundos do barracão. Michael ouviu o ranger das molas do colchão quando seu corpanzil bateu na cama.
Bom, pelo menos ele não estava mais tão perto.
Michael voltou a atenção para o trabalho. Estivera certo quanto ao pequeno objeto no pescoço da garota. O transmissor era conectado a um chip de memória, mas não de qualquer tipo que ele já tivesse visto: era muito menor e sem nenhuma porta aparente, a não ser por um par de pinos dourados muito finos. Um deles era ligado ao transmissor, o outro à filigrana de fios minúsculos. Ou os fios eram uma antena conjugada e a transmissão partia do chip - o que era pouco provável - ou eram sensores de algum tipo, a fonte dos dados que o chip gravava.
A única forma de descobrir era ler os dados contidos no chip. E o único modo de fazer isso era soldá-lo à placa-mãe do computador principal.
Era arriscado. Michael estaria soldando uma peça estranha ao painel de controle. Talvez o sistema não a reconhecesse. Talvez o sistema caísse e as luzes se apagassem. Provavelmente seria mais sensato esperar até de manhã. Mas a essa altura Michael estava sendo movido pelo ímpeto, a mente presa ao problema como um esquilo com uma noz entre os dentes. Não poderia esperar, nem se quisesse.
Primeiro teria de desconectar o computador principal. Isso significava desligar os controles, deixando as luzes funcionarem diretamente através das baterias. Era possível fazer isso por algum tempo, mas não muito. Sem o sistema para monitorar a corrente, qualquer oscilação poderia desarmar um disjuntor. Então, uma vez que o computador principal estivesse desconectado, ele teria de trabalhar rápido.
Respirou fundo e pôs na tela o menu do sistema.
Desligar?
Clicou no S.
O disco rígido começou a diminuir a velocidade de rotação. Michael saiu correndo da cadeira e atravessou a sala até a caixa de disjuntores.
Nenhum deles havia se mexido.
Pôs-se a trabalhar rapidamente, soltando a placa-mãe, colocando-a na bancada sob a lente, pegando com uma das mãos o ferro e o arame de solda com a outra. Encostou-o na ponta do ferro - uma espiral de fumaça se retorceu no ar - e viu uma única gota cair no canal aberto da placa.
Perfeito.
Pegou o chip com uma pinça; teria só uma chance para acertar. Segurando o pulso direito para mantê-lo firme, baixou lentamente os contatos expostos do chip até a placa-mãe. Segurou-o lá e contou até 10 enquanto a solda esfriava e enrijecia.
Só então se permitiu respirar. Colocou a placa de novo no painel, prendeu-a no lugar e reiniciou o computador.
No longo minuto que se seguiu, enquanto o sistema voltava a funcionar, o disco rígido estalando e chiando, Michael Fisher fechou os olhos e pensou: por favor.
E ali estava. Quando abriu os olhos, viu, na tela: DRIVE DESCONHECIDO. Clicou e viu a janela se abrir. Duas partições, A e B. A primeira era minúscula, só alguns kilobytes. Mas não a B.
A partição B era gigantesca.
Continha dois arquivos de tamanho idêntico: provavelmente um era o backup do outro, arquivos tão grandes que chegavam a atordoar. Era como se o mundo inteiro estivesse gravado no chip. Quem quer que tivesse feito aquilo e colocado o chip dentro da garota não era como ninguém que ele conhecesse, não parecia pertencer ao mesmo mundo de que ele fazia parte. Imaginou se deveria chamar Élton para perguntar o que ele achava. Mas os roncos que ouvia diziam que isso seria em vão.
Quando abriu o arquivo - o que acabou fazendo afinal - foi de maneira quase furtiva, levantando uma das mãos diante dos olhos e espiando entre os dedos.
TRINTA E TRÊS
Um golpe de sorte: enquanto se aproximava da Enfermaria, Peter viu que um único Vigia montava guarda. Atreveu-se a subir os degraus.
- Boa noite, Dale.
Uma besta pendia ao lado do corpo de Dale. Ele suspirou exasperado, inclinando um pouco a cabeça, virando o ouvido bom para Peter.
- Você sabe que não posso deixá-lo entrar.
Peter inclinou o pescoço e olhou para além de Dale, pela janela da frente. Havia um lampião aceso na mesa.
- Sara está aí?
- Saiu ainda há pouco. Disse que ia comer alguma coisa.
Peter ficou parado, sem dizer nada. Era um jogo de espera, ele sabia. Podia ver a indecisão no rosto de Dale. Por fim este bufou, rendendo-se, e deu passagem.
- Por todos os voadores. Por favor, seja rápido.
Peter passou pela porta e foi até o quarto. A garota estava encolhida na cama, virada para o outro lado, os joelhos encostados no peito. Não fez qualquer movimento quando ele entrou. Peter deduziu que estivesse dormindo.
Pôs uma cadeira perto da cama e se sentou com o queixo nas mãos. Sob o emaranhado dos cabelos dela podia ver a marca na nuca onde Sara havia cortado a pele para tirar o transmissor - uma linha quase imperceptível, o corte praticamente cicatrizado.
Então ela despertou, como se para corresponder aos pensamentos dele, e se ergueu na cama para encará-lo. O branco dos olhos dela era úmido e brilhante à luz do lampião que vazava pela cortina.
- Oi - disse ele. Sentiu a própria voz densa na garganta. - Como está se sentindo?
As mãos dela estavam apertadas uma contra a outra, enfiadas até os punhos finos entre os joelhos. Tudo na sua postura a fazia parecer menor do que era.
- Vim agradecer por você ter me salvado.
Um rápido encolher de ombros sob a camisola. De nada.
Que estranho conversar assim! Estranho porque não era tão estranho. Ele nunca ouvira o som da voz da garota, entretanto não achava que algo estivesse faltando. Havia uma sensação de calma nisso, como se ela tivesse posto de lado o ruído das palavras.
- Acho que você não está com vontade de falar - tentou Peter. - Não gostaria, por exemplo, de me dizer seu nome? Você poderia começar assim, se quisesse.
A garota não disse nada e nem se mexeu. Por que eu diria meu nome a você?
- Tudo bem - disse Peter. - Não faz mal. Podemos simplesmente ficar aqui sentados.
E foi o que fez: ficou sentado com ela no escuro. Depois de um tempo, o rosto da menina pareceu relaxar. Mais alguns minutos se passaram e, sem qualquer outro reconhecimento de sua presença, ela fechou os olhos de novo.
Enquanto Peter esperava em silêncio, um cansaço súbito o dominou, e com ele a recordação de uma noite, muito tempo antes, em que havia entrado na Enfermaria e visto a mãe à cabeceira de um dos doentes - como ele fazia agora. Não conseguia identificar o paciente ou se a lembrança, na verdade, seriam várias lembranças sobrepostas. Poderia ter sido uma noite ou muitas. Mas na noite que lhe vinha à memória, ele havia passado pela cortina e encontrado a mãe sentada em uma cadeira perto de uma das camas, a cabeça inclinada para o lado. Estava dormindo. A pessoa no leito era uma criança, uma forma pequena escondida na escuridão. A única luz vinha de uma vela na mesinha próxima à cama. Ele avançou, sem falar; não havia mais ninguém no quarto. Sua mãe se mexeu, inclinando o rosto para ele. Ela era jovem, saudável, e ele ficou feliz, muito feliz, ao vê-la de novo.
"Cuide do seu irmão, Theo."
"Mamãe, eu sou Peter."
"Ele não é forte como você."
Foi sacudido por vozes do lado de fora e o barulho da porta se abrindo. Sara entrou no quarto, o lampião balançando na mão.
- Peter? Está tudo bem?
Ele piscou na claridade súbita. Demorou um momento para se dar conta de onde estava. Havia dormido apenas um minuto, no entanto parecia mais tempo. A lembrança e o sonho que ela produzira já haviam sumido.
- Eu só... não sei. - Por que estava se desculpando? - Acho que devo ter cochilado.
Sara estava empurrando uma mesa com rodinhas para perto da cama, onde a garota estava sentada com uma expressão alerta no rosto.
- Como conseguiu convencer Dale a deixá-lo entrar?
- Ah. Dale é legal.
Sara se sentou no leito e tirou a tampa do prato, revelando o que havia trazido: pão, uma maçã e um pedaço de queijo.
- Está com fome?
A garota comeu depressa, devorando tudo com mordidas rápidas: primeiro o pão, depois o queijo, que ela antes cheirou com um ar de suspeita, e finalmente a maçã, até o miolo. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão, o sumo da fruta se espalhando nas bochechas.
- Bem, acho que isso responde à pergunta - declarou Sara. - Não são os melhores modos à mesa que já vi, mas seu apetite é bastante normal. Vou verificar o curativo, está bem?
Sara desamarrou a camisola. Puxou-a ligeiramente de lado para expor a bandagem do ombro, deixando o restante do corpo coberto. Com uma tesoura, cortou a gaze. No lugar onde a flecha havia entrado - rasgando pele, músculo e osso -, restava apenas uma pequena depressão rosada. O aspecto do ombro da Andarilha lembrou a Peter a pele de um bebê, tão nova e macia.
- Quem dera todos os meus pacientes se recuperassem depressa assim. Acho que não faz sentido deixar os pontos. Vire-se para eu ver as costas.
A garota obedeceu, girando na cama. Sara pegou uma pinça e começou a puxar os pontos, largando-os um a um em uma bacia de metal.
- Mais alguém sabe disso? - perguntou Peter.
- Sobre como ela se cura? Acho que não.
- Então, ninguém mais veio vê-la desde ontem à tarde.
Sara tirou o último ponto.
- Só Jimmy.
Ela cobriu novamente o ombro da garota com a camisola.
- Muito bem, terminamos.
- Jimmy? O que ele queria?
- Não sei, imagino que Sanjay o tenha mandado - respondeu Sara, virando-se para Peter. - Foi meio estranho. Eu não ouvi quando ele entrou, só levantei os olhos e ele estava ali, parado junto à porta com uma... expressão estranha no rosto.
- Uma expressão estranha?
- Não sei como descrever. Eu disse que ela não havia falado nada, e então ele saiu. Mas isso foi há horas.
De repente Peter se sentiu agitado. O que ela queria dizer com expressão estranha? O que Jimmy tinha visto?
Sara pegou a pinça de novo.
- Bem, agora é a sua vez.
Peter já ia perguntar "minha vez de quê?" quando se lembrou: o cotovelo. A bandagem havia se transformado em um trapo imundo. Ele achou que o ferimento já devia estar curado; fazia dias que não o olhava.
- Você não se preocupou ao menos em manter a ferida limpa?
- Acho que esqueci.
Ela segurou o braço de Peter, aproximando-se dele com a pinça na mão. Peter percebeu os olhos da garota observando tudo atentamente.
- Alguma notícia de Michael? - Ele sentiu uma pontada de dor quando ela puxou o primeiro ponto. - Ai, cuidado!
- Ajudaria se você ficasse quieto. - Sara reposicionou o braço de Peter sem olhar para ele e voltou ao trabalho. - Passei pela Casa de Força quando vim de casa. Ele ainda está trabalhando. Élton o está ajudando.
- Élton? Isso é uma boa ideia?
- Não se preocupe, ele é de confiança. - Ela revirou os olhos com um ar de preocupação. - É engraçado como de repente todos nós estamos falando sobre quem pode confiar em quem.
Sara deu um tapinha no braço de Peter.
- Pronto, agora mexa-o um pouco.
Fechando o punho, ele moveu o braço de um lado para o outro.
- Novinho em folha.
Sara havia ido até a pia lavar os instrumentos. Virou-se e o encarou, enxugando as mãos em um pano.
- Honestamente, Peter. Às vezes me preocupo com você.
Ele percebeu que o braço ainda estava levantado. Sem jeito, baixou-o.
- Eu estou bem.
Ela ergueu as sobrancelhas com um olhar cético, mas não disse nada.
Naquela noite depois da música, de Arlo e seu violão e de todo mundo bebendo uísque, algo o havia dominado, uma solidão súbita, quase física, mas então, no momento em que beijou Sara, sentiu uma pontada de culpa. Não que não gostasse dela, não que o interesse dela por ele não fosse óbvio. O que Alicia dissera na laje da usina elétrica era verdade. Sara era a escolha óbvia para ele. Mas Peter não podia se obrigar a sentir algo que não sentia. Uma parte dele simplesmente não se sentia vivo o suficiente para merecê-la, para corresponder ao que ela oferecia a ele.
- Já que você está aqui - disse Sara -, vou visitar o Cano Longo. Ver se alguém se lembrou de dar comida a ele.
- Você soube de alguma coisa?
- Fiquei aqui dentro o dia todo. Você provavelmente sabe mais do que eu.
Como Peter não dissesse nada, Sara deu de ombros.
- Acho que as pessoas estão divididas. Há um bocado de raiva no ar por causa de ontem à noite. O melhor seria deixar o tempo passar.
- É melhor Sanjay pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa com ele. Lish nunca iria admitir.
Sara pareceu se enrijecer. Pegou o kit médico no chão e o pendurou no ombro sem olhar para Peter.
- O que foi que eu disse?
Mas ela só balançou a cabeça.
- Deixe para lá, Peter. Lish não é problema meu.
Então ela saiu, e a cortina se fechou. Peter se perguntou o que deveria achar disso. Era verdade que Alicia e Sara não poderiam ser mais diferentes, e não havia nenhuma regra dizendo que as duas tinham que se dar bem. Talvez Sara simplesmente culpasse Alicia pela morte da Professora, um golpe que provavelmente fora maior para Sara do que para a maioria das pessoas. Era meio óbvio, pensando bem. Não sabia por que não tinha pensado nisso antes.
A garota estava olhando para ele de novo, erguendo as sobrancelhas com expressão intrigada: Qual o problema?
- Ela só está chateada - respondeu ele. - Preocupada.
Pensou outra vez em como aquilo era estranho. Era como se pudesse ouvir as palavras dela na cabeça. Qualquer um que o visse falando assim acharia que ele estava louco.
Então a garota fez algo inesperado. Instigada por algum propósito desconhecido, levantou-se da cama e foi até a pia. Abriu a torneira e encheu uma bacia com água. Trouxe a bacia de volta para a cama onde Peter estava sentado. Colocou-a no chão empoeirado aos pés dele, pegou um pano no carrinho e se sentou ao lado dele, abaixando para mergulhar o pano na água. Depois pegou o braço dele e começou a passar o pano úmido no lugar onde os pontos haviam estado.
Peter podia sentir a respiração dela soprando sobre a carne úmida. Ela havia desdobrado o pano na mão aberta para aumentar a área de sua superfície. Agora os movimentos da menina eram mais diretos, não apenas encostando o pano de leve, mas movendo-o de forma contínua, firme, limpando a sujeira e a pele morta de seu cotovelo. Um gesto comum, lavar sua pele, no entanto era completamente surpreendente: era cheio de sensações, de lembranças. Seus sentidos pareciam ter sido tomados por aquele momento, a sensação do pano no braço, a respiração dela em sua pele, como mariposas ao redor de uma chama. Como se ele fosse um menino de novo, um menino que havia caído, ralado o cotovelo e corrido para dentro de casa, e ela o estivesse lavando.
Ela sente sua falta.
Cada nervo do seu corpo pareceu pular. A garota segurava seu braço com firmeza, sem deixar que ele se mexesse. Não havia palavras, não palavras faladas. Elas estavam em sua mente. Ela segurava o seu braço, os rostos separados por poucos centímetros.
- O que você...?
Ela sente sua falta ela sente sua falta ela sente sua falta.
Ele ficou de pé, afastando-se. Seu coração batia forte no peito como um grande animal enjaulado. Havia batido de costas, com toda a força, em algum tipo de armário de vidro, derrubando o conteúdo das prateleiras. Alguém tinha passado pela cortina, uma figura na periferia de sua visão. Por um instante sua mente entrou misericordiosamente em um foco mais amplo. Era Dale Levine.
- O que, diabos, está acontecendo aqui?
Peter engoliu em seco, tentando responder. Dale estava parado junto à cortina com uma expressão confusa, incapaz de se fixar em qualquer ponto da cena. Virou o rosto para a garota, que ainda estava sentada na cama com a bacia aos seus pés, depois olhou para Peter de novo.
- Ela acordou? Eu achei que ela estivesse morrendo.
Peter finalmente encontrou a voz.
- Você não pode... contar isso a ninguém.
- Em nome de todos os voadores, Peter. Jimmy sabe disso?
- Estou falando sério. Não pode contar a ninguém.
De repente ele soube que, se não saísse do quarto imediatamente, iria desmoronar. Em seguida se virou, passando por Dale, praticamente o golpeando. Atravessou a cortina, saiu pela porta e desceu atabalhoadamente os degraus até o pátio iluminado pelos holofotes - ela sente sua falta ela sente sua falta. Sua visão estava afogada nas lágrimas que lhe inundavam os olhos.
TRINTA E QUATRO
Para Mausami Patal, a noite começara no Abrigo.
Estava sentada sozinha no Quarto Grande, tentando aprender a tricotar. Todas as camas e berços haviam sido retirados; as crianças estavam dormindo no andar de cima. A janela quebrada havia sido coberta com tábuas, os cacos de vidro foram varridos e todas as superfícies do quarto tinham sido lavadas com um desinfetante à base de álcool. O cheiro permaneceria durante dias.
Ela não deveria estar ali. O odor era tão forte que fazia seus olhos lacrimejarem. Pobre Arlo, pensou Maus. E Hollis, tendo de matar o irmão assim, se bem que fora sorte ele ter feito isso. Não queria pensar no que teria acontecido se ele tivesse errado. E, claro, Arlo não era mais Arlo, do mesmo modo que Theo, se ainda estivesse vivo lá fora, não era mais Theo. O vírus levava embora a alma, a pessoa que você amava.
Estava sentada numa velha cadeira de balanço que havia encontrado no depósito. Tinha posicionado uma mesinha ao lado e colocado sobre ela um lampião que iluminava o suficiente para que ela pudesse trabalhar. Leigh havia lhe ensinado os pontos básicos, que pareceram bastante fáceis no começo, mas que em algum momento ela errara. Os pontos não pareciam uniformes, de jeito nenhum, e quando tentava passar o fio em volta da agulha, como Leigh havia demonstrado, seu polegar esquerdo ficava no meio do caminho atrapalhando. Ali estava ela, uma mulher capaz de carregar uma besta em um piscar de olhos, disparar meia dúzia de flechas em menos de cinco segundos e cravar uma faca no ponto frágil de um viral a seis metros de distância, tudo isso correndo, em um dia ruim - no entanto, tricotar um par de sapatinhos de bebê parecia completamente fora do seu alcance. Havia se distraído tanto que por duas vezes o novelo de lã que tinha no colo caíra rolando no chão, e, depois de enrolá-lo de volta, tinha esquecido em que ponto parara e precisara começar tudo de novo.
Parte dela simplesmente não conseguia absorver a ideia de que Theo se fora. Tinha planejado contar a ele sobre o bebê durante a cavalgada, na primeira noite na usina. Naquele labirinto de cômodos, paredes grossas e portas, era fácil encontrar uma ocasião para ficar a sós. Fato esse que, aliás, já que estava sendo honesta consigo mesma, era exatamente o motivo de toda aquela situação.
Por que havia se casado com Galen? Isso era cruel, de certa forma, porque ele não era má pessoa. Não era culpa dele, por exemplo, o fato de ela não amá-lo, de já nem mesmo gostar dele. Um blefe, era o que tinha sido. Para arrancar Theo de sua inércia. E quando ela disse a ele, naquela noite no Muro, Talvez eu me case com Galen Strauss, e Theo respondeu Tudo bem, seéo que você quer, só quero que você seja feliz, o blefe se cristalizou e virou outra coisa, algo que ela precisava fazer para provar que ele estava errado. Errado com relação a ela, com relação a ele próprio, com relação a tudo. Era preciso tentar. Era preciso agir, continuar a vida e seguir em frente. Casar-se com Galen Strauss fora um ato de teimosia, e tudo isso por Theo Jaxon.
Por um tempo, a maior parte daquele verão e o começo do outono, ela havia feito o possível para que o casamento desse certo. Esperara ser capaz de se forçar a ter as emoções certas, e de início quase conseguira, simplesmente porque o puro fato de sua existência parecia deixar Galen feliz. Os dois eram Vigias, de modo que não tinham um horário fixo nem se viam com tanta frequência. Na verdade, era bastante fácil evitá-lo, já que na maioria das vezes ele trabalhava no turno do dia - uma alusão sutil mas inconfundível ao fato de que ele havia sido o último de sua turma e, com os problemas de visão que tinha, não servia para trabalhar no escuro. Às vezes, quando ele a olhava, franzindo os olhos daquele jeito, ela se perguntava se era mesmo a garota que ele amava. Talvez a mulher que ele visse fosse outra, uma mulher criada em sua mente.
Mausami havia encontrado um modo de quase nunca deixá-lo chegar perto dela. Quase: porque não era possível não dormir com o marido. Ele é carinhoso com você?, perguntara sua mãe. É gentil? Ele se importa com o que acontece com você? É só o que eu quero saber. Mas Galen estava feliz demais para ser carinhoso. Não acredito!, diziam seu rosto e seu corpo. Não acredito que você seja minha! E não era. Enquanto Galen arfava e bufava em cima dela no escuro, Mausami estava a quilômetros dali. Quanto mais ele tentava ser seu marido, menos ela se sentia sua esposa, até que - e essa era a parte ruim, a parte que não lhe parecia justa - ela se pegou desgostando dele. Na época da primeira nevasca, ela se viu imaginando que poderia fechar os olhos e simplesmente fazê-lo sumir da face da Terra. O que só levava Galen a se esforçar ainda mais e a fazê-la gostar menos dele.
Como Galen podia não saber que o bebê não era dele? Será que o sujeito era incapaz de fazer contas?
Certo, ela havia alterado os números. Na manhã em que ele a pegara vomitando o café da manhã na pilha de adubo, ela dissera que a menstruação estava atrasada havia três meses, apesar de na verdade serem dois. Três meses e o bebê seria de Galen; dois meses e isso seria impossível. Galen a havia procurado apenas uma vez no mês em que ela engravidara. Mausami o havia rejeitado inventando alguma coisa, nem podia lembrar o quê. Não: Mausami sabia exatamente quando e quem. Ela estava na usina. Theo também estava lá, assim como Alicia e Dale Levine. Os quatro haviam ficado acordados até tarde jogando cartas na sala de controle, e então Alicia e Dale foram dormir, e de repente ela estava sozinha com Theo, a primeira vez desde o casamento. Ela começara a chorar, surpresa com a intensidade do próprio pranto e o volume das lágrimas. Theo a tomara nos braços para consolá-la, algo que ela também queria, os dois dizendo como lamentavam, e não demorara 30 segundos para tudo acontecer. Os dois não tiveram a mínima chance de resistir.
Depois disso, ela mal o viu. Haviam cavalgado de volta na manhã seguinte e a vida retornara ao normal - ainda que não fosse normal, nem um pouco. Mausami carregava um segredo. Como uma pedra quente dentro dela, uma felicidade particular, reluzente. Até Galen pareceu detectar a mudança, dizendo "bem, fico feliz que seu humor tenha melhorado. É bom ver você sorrindo". (O primeiro impulso dela, totalmente absurdo e impossível, foi um desejo de lhe contar, de compartilhar com ele a boa notícia.) Não sabia o que aconteceria, simplesmente não pensava a respeito. Quando a menstruação não veio, não deu muita importância. Seu ciclo não era muito regular, sempre fora assim, ia e voltava quando queria. Só conseguia pensar na próxima viagem para a usina, quando poderia fazer amor com Theo Jaxon de novo. Via-o na passarela, claro, e nas reuniões nos fins de tarde, mas não era a mesma coisa, não era a hora nem o lugar para se tocarem ou mesmo conversarem. Teria de esperar. Mas até isso, a espera, o arrastar tortuoso dos dias - a data da próxima partida para a usina estava afixada na lista de serviço, para quem quisesse ver -, fazia parte da sua felicidade, do seu amor ofuscante.
Então outra menstruação deixou de vir e Galen a pegou vomitando na pilha de adubo.
Claro que ela estava grávida. Por que não havia previsto isso? Como isso podia ter lhe escapado? Porque um bebê era a última coisa que Theo Jaxon iria querer. Talvez, nas circunstâncias certas, ela pudesse tentar convencê-lo a aceitar a ideia. Mas não assim.
Então outro pensamento lhe viera com uma clareza simples: um bebê. Ia ter um bebê. Seu bebê. O bebê de Theo, o bebê dos dois. Um bebê não era uma ideia; o amor era uma ideia. Um bebê era um fato. Era um ser com mente e natureza, e você podia sentir o que quisesse com relação a ele, mas um bebê não se importava com isso. O simples fato de sua existência exigia que você acreditasse no futuro: no futuro em que ele engatinharia, andaria, viveria. Um bebê era um pedaço do próprio tempo, era uma promessa que você fazia e que o mundo lhe fazia de volta. Um bebê era o compromisso mais antigo que existia, o compromisso de continuar vivendo.
Talvez o que Theo Jaxon mais precisasse fosse de um bebê.
Era o que Mausami lhe diria na usina, na salinha cheia de estantes que agora era o lugar deles. Havia imaginado a cena se desdobrando de vários modos, alguns bons e outros não tão bons, o pior de todos sendo aquele em que ela perdia a coragem e não dizia nada. (O segundo pior: Theo adivinhava que ela estava grávida, a coragem a abandonava e ela dizia que o filho era de Galen.) A esperança de Mausami era enxergar uma luz nos olhos dele. A luz que havia sumido muito tempo antes. "Um bebê", diria ele. "Nosso bebê. O que vamos fazer?" "O que as pessoas sempre fazem", responderia ela, e então ele a tomaria nos braços de novo, e nessa zona de segurança e abrigo ela saberia que tudo ia ficar bem, e juntos eles cavalgariam de volta para enfrentar Galen - enfrentar o mundo todo - juntos.
Mas agora isso jamais aconteceria. A história que havia contado a si mesma era apenas isso: uma história.
Ouviu passos vindos do corredor atrás dela. Um andar pesado, de membros frouxos, que ela conhecia. O que precisaria fazer para ter um momento de paz? Mas não era culpa dele, lembrou-se de novo, nada era culpa de Galen.
- O que está fazendo aqui embaixo, Maus? Procurei você em todo canto.
Ele estava parado junto a ela. Mausami deu de ombros, os olhos ainda fixos no tricô medonho.
- Você não deveria estar aqui.
- Foi tudo lavado, Galen.
- Quero dizer que não deveria estar aqui sozinha.
Mausami não disse nada. O que ela estava fazendo ali? Apenas um dia antes sentia-se tão sufocada pelo lugar que pensara estar enlouquecendo. O que a fizera pensar que algum dia aprenderia a fazer tricô?
- Tudo bem, Galen. Estou perfeitamente bem aqui.
Ela se perguntou se a própria culpa seria o motivo de atormentá-lo desse jeito. Mas achava que não. Era algo mais parecido com raiva - raiva diante da fraqueza dele, raiva por ele amá-la daquele jeito quando ela obviamente não fizera nada para merecer isso, raiva porque ela teria de olhá-lo nos olhos quando o bebê nascesse - um bebê que, a vida sendo irônica do jeito que era, certamente seria a cara de Theo Jaxon - e explicar a verdade.
- Bem. - Ele fez uma pausa, pigarreando. - Eu parto pela manhã. Só vim lhe dizer.
Ela pousou as agulhas para olhá-lo. Ele franzia os olhos à luz fraca, o que dava ao seu rosto uma aparência infantil.
- Como assim, parto?
- Jimmy quer que eu vá garantir a segurança da usina. Sem Arlo, não sabemos o que está acontecendo lá embaixo.
- Em nome dos voadores, Galen. Por que ele mandou você?
- Você acha que não posso cuidar disso?
- Não foi o que eu disse. - Ela se ouviu suspirando. - Só estou perguntando por que você, afinal. Você nunca esteve lá.
- Alguém tem de ir. Talvez ele ache que sou o melhor para o serviço. Ela fez o máximo para parecer amável.
- Tenha cuidado, está bem? Fique atento.
- Como se você realmente se importasse.
Mausami não soube o que responder. De repente sentia-se cansada.
- Claro que me importo, Galen.
- Porque, se não se importa, acho que deveria dizer. Conte, pensou ela. Por que não contava logo a ele?
- Pode ir, está tudo bem. - Ela retomou o tricô. - Estarei aqui quando você voltar. Vá à usina.
- Você acha mesmo que eu sou tão idiota?
Galen estava parado com as mãos nos quadris, olhando-a irritado. A mão direita, a mais próxima da faca, tremeu involuntariamente.
- Eu não... disse isso.
- Bom, não sou.
Passou-se um momento de silêncio. Ele levou a mão até o cinto, junto ao cabo da faca.
- Galen? - perguntou ela suavemente. - O que você está fazendo? A pergunta pareceu sacudi-lo.
- Por que está dizendo isso?
- O modo como você está me olhando. O que está fazendo com a mão.
Ele baixou o olhar. Um pequeno murmúrio soou do fundo de sua garganta.
- Não sei - respondeu ele, franzindo a testa. - Acho que agora você me pegou.
- Não vão procurar você na passarela? Você não deveria estar lá?
Havia algo estranho na expressão dele, como se estivesse imerso em um mundo próprio e não pudesse vê-la direito.
- É melhor eu ir andando - disse ele, mas mesmo assim não fez qualquer menção de partir, nem afastou a mão da faca.
- Então, vejo você dentro de uns dias.
- Como assim?
- Você vai para a usina amanhã, Galen. Não foi isso o que disse?
Um brilho de reconhecimento iluminou o seu rosto.
- Ah é, vou para lá amanhã.
- Então se cuide, viu? É sério. Mantenha os olhos abertos.
- Certo. Olhos abertos.
Ela ouviu os passos dele se afastando pelo corredor, o som abruptamente abafado quando a porta do Quarto Grande se fechou. Só então Mausami percebeu que estava agarrando uma das agulhas de tricô com o punho fechado. Olhou o quarto ao redor, que subitamente parecia grande demais, um lugar abandonado, extirpado de berços e camas. Sem nenhum dos Pequenos.
Então veio a sensação, um tremor frio surgindo do seu interior: algo estava para acontecer.
PARTE VI
A NOITE DE FACAS E ESTRELAS
Veloz como uma sombra, fugaz como um sonho Breve como o raio na noite escura Que, num átimo, rasga o céu e a terra, E antes que alguém possa dizer: "Veja!" Pela escuridão é devorado.
Tudo o que com tamanha rapidez brilha em ruína se vai.
- WILLIAM SHAKESPEARE Sonho de uma noite de verão
TRINTA E CINCO
Durante 92 anos, oito meses e 26 dias, desde que o último ônibus havia subido a montanha, as almas da Primeira Colônia tinham vivido assim:
Sob as luzes.
Sob a Lei Única.
Segundo os costumes.
Segundo o instinto.
No dia a dia.
Tendo como companhia apenas elas próprias e os que elas haviam gerado.
Sob a proteção da Vigilância.
Sob a autoridade dos Guardiões.
Sem o Exército.
Sem memória.
Sem o mundo.
Sem as estrelas.
Para Titia, sozinha em sua casa na clareira, aquela noite - a Noite de Facas e Estrelas - começara como tantas noites anteriores: ela estava sentada à mesa em sua cozinha enevoada pelo vapor, escrevendo no caderno. Naquela tarde havia tirado do varal um lote de folhas de papel enrijecidas pelo sol - para ela pareciam quadrados de luz - e tinha passado o resto do dia preparando o caderno: aparando as bordas das folhas em sua tábua de corte, desmanchando a costura que prendia as páginas, removendo a capa de pele de cordeiro e pegando agulha e linha para costurar novamente o caderno com as folhas novas. Era um trabalho vagaroso mas satisfatório, como todas as coisas que exigem tempo e esmero. Quando terminara, as luzes estavam se acendendo.
Era curioso como todo mundo pensava que ela possuía apenas um caderno.
O volume em que vinha escrevendo, pelo que ela lembrava, era o 27º. Parecia sempre encontrar mais um quando abria uma gaveta ou empilhava copos num armário. Achava que este era o motivo pelo qual os guardava daquele jeito, aqui e ali, e não enfileirados em uma prateleira: sempre que achava um, era como esbarrar em um velho amigo.
A maioria dos cadernos contava as mesmas histórias. Histórias que ela recordava do mundo e de como ele era. De vez em quando um pedacinho de alguma coisa surgia do nada, uma lembrança esquecida, coisas como a televisão e os programas idiotas a que costumava assistir (o brilho azul-esverdeado e a voz de seu pai: "Ida, desligue essa porcaria, não sabe que isso estraga o cérebro?"); ou algo a instigava, o modo como um raio de sol iluminava uma folha ou como uma brisa soprava com um determinado cheiro, e os sentimentos começavam a percorrê-la, fantasmas do passado: um dia no parque no outono e uma fonte espirrando água, a luz da tarde parecendo se agarrar ao esguicho, como uma enorme flor luminosa; sua amiga Sharise, a menina da esquina, sentada ao seu lado num degrau para mostrar o dente que havia caído, um cotoco sangrento na palma de sua mão ("Eu sei que a fada dos dentes não existe, mas ela sempre me traz um dólar."); sua mãe dobrando roupas na cozinha, usando o vestido de verão predileto, verde-claro, e o cheiro da toalha que ela sacudia e dobrava junto ao peito. Quando isso acontecia, Titia sabia que seria uma boa noite para escrever, as lembranças se abrindo em outras lembranças, como um corredor cheio de portas por onde a mente podia andar, mantendo-se ocupada até que o sol da manhã subisse nas janelas.
Mas essa noite, não, pensou Titia, mergulhando a pena na tinta e alisando a página com a mão. Essa noite não era para coisas antigas. Era sobre Peter que queria escrever. Achava que ele viria vê-la de novo em breve, esse garoto que tinha estrelas por dentro.
As recordações lhe vinham de modo aleatório. Ela achava que era porque tinha vivido tanto, como se ela própria fosse um livro e o livro fosse feito de anos. Lembrou-se da noite em que Prudence Jaxon havia aparecido à sua porta. A mulher estava com câncer, a doença já bem avançada, muito antes do seu tempo de morrer. Prudence estava parada junto à porta de Titia com uma caixa apertada contra o peito. Estava tão frágil e magra que dava a impressão de que poderia ser levada pelo vento. Titia vira isso muitas vezes na vida, aquela coisa ruim nos ossos, e nunca havia nada a fazer, senão ouvir e fazer o que a pessoa pedia, e foi o que Titia fez por Prudence Jaxon naquela noite. Pegou a caixa e a manteve em segurança, e menos de um mês depois, Prudence Jaxon estava morta.
"Ele precisa encontrar isso quando estiver pronto." Essas foram as palavras que Prudence dissera a Titia, palavras verdadeiras, porque esse era o caminho de todas as coisas. As coisas da vida chegavam no tempo certo, como um trem que precisamos pegar. Às vezes isso era fácil, você só precisava entrar, o trem era luxuoso e confortável, cheio de gente sorrindo e um condutor que recebia sua passagem e afagava sua cabeça dizendo: "Que coisa mais linda, você é uma gracinha, uma garota de sorte, fazendo uma viagem de trem com seu pai", enquanto você afundava na maciez onírica do banco, tomava um refrigerante e olhava o mundo flutuar num silêncio mágico pelas janelas, os prédios altos da cidade à luz transparente do outono, e depois os quintais das casas com roupas balançando nos varais, e um cruzamento com cancela onde um garoto acenava da bicicleta, e depois a mata, os campos e uma vaca sozinha comendo capim.
Peter, pensou ela. Não era sobre o trem, e sim sobre Peter que queria escrever. (Mas para onde é que eles estavam indo?, se perguntou Titia. Para onde haviam pegado um trem naquele dia, os dois juntos, ela e o pai, Monroe Jaxon? Iam visitar sua avó e os primos, lembrou Titia, em um lugar chamado Lá no Sul.) Peter e o trem. Porque às vezes o caminho era fácil, mas outras vezes não era tão simples assim, as coisas da vida chegavam rugindo e você mal conseguia se segurar e ficar de pé. Sua vida antiga acabava e o trem o levava para outra, e quando você percebia estava parado na poeira com helicópteros e soldados por todo lado, e só conseguia se lembrar das pessoas por causa de uma foto que achara no bolso do casaco, que sua mãe, que você nunca mais veria pelo resto da vida, havia enfiado ali quando abraçara você junto à porta.
Quando Titia ouviu a batida, a porta de tela se abrindo e uma pessoa pedindo permissão para entrar, já estava quase parando seu choro velho e idiota. Tinha jurado a si mesma que não faria mais isso. Ida, tinha dito a si mesma, chega de chorar por coisas que você não pode mudar. Mas ali estava: depois de todos esses anos, ela ainda ficava naquele estado sempre que pensava na mãe enfiando aquela foto em seu bolso certa de que, quando Ida a encontrasse, ela e o marido estariam mortos.
- Titia?
Ela esperava que fosse Peter, com suas perguntas sobre a garota, mas não era. Não reconheceu o rosto, flutuando na névoa de sua visão. Um rosto de homem, estreito e comprido, como se tivesse sido espremido pela porta.
- Sou eu, Jimmy, Titia. Jimmy Molyneau.
Jimmy Molyneau? Não parecia certo. Jimmy Molyneau não estava morto?
- Titia, a senhora está chorando.
- Claro que estou chorando. Entrou uma coisa no meu olho, só isso.
Ele se sentou na cadeira diante dela. Agora que ela encontrara o par certo de óculos entre os cordões que tinha em volta do pescoço, viu que ele era realmente um Molyneau. O nariz dele era o nariz de um Molyneau.
- O que você quer? Veio por causa da Andarilha?
- A senhora sabe sobre ela, Titia?
- Um corredor esteve aqui de manhã. Disse que encontraram uma menina.
Ela não sabia exatamente o que Jimmy queria. Havia algo triste nele, parecia derrotado. Em geral, Titia teria gostado de um pouco de companhia, mas começou a ficar impaciente à medida que o silêncio continuava, esse homem estranho e carrancudo que ela só reconhecia vagamente sentado diante dela com um ar de cachorro espancado. As pessoas não deviam entrar desse jeito em nossa casa, sem ter nada na mente.
- Na verdade não sei por que vim aqui. Acho que havia algo que eu deveria lhe dizer. - Ele deu um suspiro pesado, esfregando o rosto com as mãos. - Eu deveria estar no Muro, sabe.
- Você é quem está dizendo.
- E, bem. É onde o Primeiro Capitão deve estar, não é? No Muro?
Jimmy não olhava para ela; seus olhos estavam vidrados nas próprias mãos. Balançou a cabeça como se o Muro fosse o último lugar na Terra onde desejaria estar.
- É incrível, não é? Eu, Primeiro Capitão.
Titia não tinha nada a dizer. O que quer que estivesse na mente daquele homem, não tinha nada a ver com ela. Havia ocasiões em que não se podia consertar com palavras o que estava errado, e essa parecia uma delas.
- Acha que posso tomar uma xícara de chá, Titia?
- Se você quiser, eu faço uma.
- Se não for dar trabalho.
Ia, mas pelo jeito não havia como escapar. Ela se levantou e pôs água na chaleira para ferver. O homem ficara o tempo todo sentado em silêncio à mesa, olhando para as mãos. Quando a água começou a borbulhar na chaleira, ela a derramou pelo coador em um par de xícaras e as levou até a sala.
- Cuidado. Está quente.
Ele tomou um gole cauteloso. Parecia ter perdido todo o interesse em falar. O que para ela estava bem. De vez em quando as pessoas vinham falar de algum problema, coisas particulares, provavelmente achando que, como ela vivia sozinha daquele jeito e quase não via ninguém, não teria a quem contar. Geralmente eram mulheres que vinham falar dos maridos, mas nem sempre. Talvez esse tal de Jimmy Molyneau estivesse com problemas no casamento.
- Sabe o que as pessoas dizem sobre a senhora, Titia?
Ele olhava para a xícara com a testa franzida, como se a resposta que procurava pudesse estar ali.
- O quê?
- Que esse chá é o motivo de a senhora ter vivido tanto.
Mais alguns minutos se passaram, o silêncio pesando sobre eles. Por fim, ele tomou um último gole do chá, fazendo uma careta por causa do gosto, e recolocou a xícara na mesa.
- Obrigado, Titia. - Ele se levantou cansado. - Acho melhor ir andando. Foi bom conversar com a senhora.
- Não há de quê.
Ele parou junto à porta, uma das mãos se apoiando no portal.
- Meu nome é Jimmy - disse ele. - Jimmy Molyneau.
- Sei quem você é.
- Só para garantir. Caso alguém pergunte.
Os eventos que tiveram início com a visita de Jimmy à casa de Titia estavam destinados a ser lembrados de forma errada, a começar pelo nome. A Noite de Facas e Estrelas, na realidade, foram três noites, com dois dias entre elas. Mas, como acontece a coisas assim - as que são destinadas a serem contadas não somente logo depois, mas por muitos e muitos anos -, o tempo pareceu se comprimir. É um erro comum da memória impor a esses eventos a coerência de uma narrativa concentrada, começando por determinar um tempo específico. Naquela estação. Naquele ano. Na Noite de Facas e Estrelas.
O erro foi aumentado porque os acontecimentos da noite do dia 65 do verão, os quais suscitaram todos os demais, desdobraram-se numa série de pequenos eventos com cronologias sobrepostas, sem que nenhum deles tivesse total consciência dos outros. Coisas estavam acontecendo em toda parte. Por exemplo: enquanto o Velho Chou se levantava da cama que dividia com sua jovem esposa, Constance, impelido por uma misteriosa necessidade de ir ao Armazém, do outro lado da Colônia, Walter Fisher estava pensando a mesma coisa. Mas o fato de estar bêbado demais para sair da cama e amarrar as botas atrasaria em 24 horas sua ida ao Armazém, e a descoberta do que havia lá. O que esses dois homens tinham em comum era que ambos haviam visto a menina, a Garota de Lugar Nenhum, quando os Guardiões visitaram a Enfermaria naquela manhã.
Mas nem todos os que a viram tiveram esse tipo de reação. Dana Curtis, por exemplo, não foi afetada em nada, assim como Michael Fisher. A garota não era propriamente uma fonte, mas sim um canal, o caminho pelo qual um certo sentimento - um sentimento de almas perdidas - penetrava na mente das pessoas mais suscetíveis, embora houvesse algumas, como Alicia, que jamais fossem afetadas. O mesmo não se aplicava a Sara Fisher e Peter Jaxon, que haviam experimentado suas próprias versões do poder da menina. Mas nesses dois casos, os encontros haviam assumido uma forma mais benigna, ainda que perturbadora: um momento de comunhão com os entes queridos já falecidos.
Enquanto espreitava nas sombras do lado de fora de sua casa no limiar da clareira, o Primeiro Capitão Jimmy Molyneau - ele ainda não aparecera na passarela, motivo que levara a uma confusão considerável na Vigilância e à apressada promoção de Ian, sobrinho de Sanjay, ao cargo de Primeiro Capitão interino - estava tentando decidir se iria ou não à Casa de Força matar quem estivesse lá e apagar as luzes. Ainda que o impulso de realizar um ato tão grave e definitivo viesse crescendo dentro dele o dia inteiro, a ideia só se cristalizou de uma forma específica em sua mente quando olhou dentro da xícara de chá na cozinha enevoada de Titia. Se alguém o tivesse encontrado ali parado e perguntasse o que estava fazendo, ele não saberia o que responder. Não poderia explicar esse desejo, que parecia se originar em um lugar profundo dentro dele e ao mesmo tempo não ser totalmente seu. Suas filhas, Alice e Avery, e a esposa, Karen, dormiam dentro da casa. No decorrer de seu casamento, durante anos inteiros, houvera ocasiões em que Jimmy não amara Karen como deveria (ele era secretamente apaixonado por Soo Ramirez), mas nunca duvidara do amor dela por ele, que parecia ilimitado e inabalável, encontrando sua expressão física nas duas meninas que pareciam exatamente com ela. Alice tinha 11 anos, e Avery, 9. Os olhos meigos e os rostos ternos de suas filhas, seu humor docemente melancólico - as duas eram famosas por irromperem em lágrimas à menor provocação - sempre faziam Jimmy sentir a força tranquilizadora de uma continuação histórica. Quando os sentimentos obscuros chegavam, como às vezes acontecia, uma maré de trevas que parecia afogá-lo por dentro, era pensar nas filhas o que o resgatava.
No entanto, quanto mais tempo passava ali, mal-humorado nas sombras, mais o impulso de apagar as luzes parecia não ter qualquer relação com sua família adormecida e mais distante ficava do pensamento que o resgataria. Sentia-se estranho, muito estranho, como se sua visão estivesse desmoronando. Afastou-se de casa e, quando chegou à base do Muro, soube o que tinha de fazer. Sentiu um alívio gigantesco, tranquilizador como um banho, enquanto subia a escada que levava à Plataforma de Tiro 9.
Por causa de sua localização acima do recorte do Muro, uma irregularidade feita em sua estrutura para acomodar a rede elétrica, a Plataforma de Tiro 9 era conhecida como posto avançado. Não era visível de nenhuma das plataformas adjacentes e era o pior serviço, o mais solitário. Jimmy sabia que Soo Ramirez estaria ali naquela noite.
Ainda que suas emoções não pudessem ser traduzidas como nada mais específico do que um pavor sem nome, Soo também estivera perturbada durante toda a noite. Mas a vaga percepção de que algo estava errado era diluída por sentimentos e recriminações mais pessoais, como a decepção de ter sido rebaixada do cargo de Primeira Capitã. Como Soo descobrira nas horas que se seguiram ao rebaixamento, isso não era algo totalmente desagradável - as responsabilidades haviam começado a pesar, e ela acabaria tendo de deixar o posto mais cedo ou mais tarde. Mas ser demitida não era o modo como queria que isso acontecesse. Fora direto para casa, sentara-se na cozinha e chorara por umas duas horas. Tinha 43 anos e nenhuma perspectiva a não ser as noites na passarela e uma ou outra refeição obrigatória com Cort, que, apesar de bem-intencionado, não tinha mais nada a lhe dizer havia uns mil anos. A Vigilância era tudo o que ela tinha. Cort estava no estábulo, como sempre, e por um ou dois minutos ela desejou que ele estivesse em casa, mas era bom que não estivesse, já que provavelmente teria ficado ali, imóvel, com aquela expressão de impotência, sem fazer absolutamente nada para consolá-la, já que tais gestos estavam completamente fora de sua capacidade de expressão. (Três bebês mortos dentro dela - três! - e ele nunca soubera o que dizer, mesmo então. Mas isso havia sido anos atrás.)
Não podia culpar ninguém a não ser a si mesma. Isso era o pior de tudo. Aqueles livros idiotas! Soo os havia encontrado no Armazém, enquanto remexia preguiçosamente as caixas onde Walter mantinha as coisas que ninguém queria. Tudo por causa daqueles livros imbecis! Porque assim que abrira o primeiro - na verdade havia se sentado no chão para ler, cruzando as pernas como um Pequeno numa roda -, sentira-se sugada por ele, como água escorrendo por um ralo. ("Ora, se não é o Sr. Talbot Carver", exclamou Charlene DeFleur, descendo a escada com seu vestido de baile comprido e farfalhante, os olhos arregalados numa expressão de franco alarme ao ver o homem alto, de ombros largos, parado no corredor com sua empoeirada calça de montaria, o tecido esticado e liso contra sua forma viril. "O que o senhor pretende, vindo aqui enquanto meu pai está fora?" A bela do baile, de Jordana Mixon, Editora Paixão, Irvington, Nova York, 2014.) Havia uma foto da autora na contracapa: uma mulher sorridente de cabelos revoltos, reclinada em uma cama sobre travesseiros de renda. Os braços e o pescoço estavam nus e ela usava um chapéu curioso, em forma de disco, tão pequeno que não poderia sequer proteger da chuva.
Quando Walter Fisher apareceu, Soo havia lido três capítulos; o som da voz dele foi tão intrusivo, tão estranho ao que ela experimentara naquelas páginas, que ela deu um pulo. "Alguma coisa boa?", perguntara Walter, as sobrancelhas se erguendo interrogativamente. "Você parece bem interessada. O que você acha?", continuara. "Posso fazer a caixa toda por um oitavo." Soo deveria ter pechinchado, era o que as pessoas faziam com Walter Fisher. O preço nunca era o preço. Mas em seu coração ela já os havia comprado. "Certo", disse, levantando a caixa do chão. "Negócio fechado."
A amante do tenente, Filha do Sul, A noiva refém, Finalmente uma dama: jamais, em toda a sua vida, Soo havia lido algo como esses livros. Sempre que imaginava o Tempo de Antes, o pensamento evocava máquinas - carros, motores, televisores, fogões e outras coisas de metal e fios que tinha visto em Banning, mas cujo propósito não conhecia. Achava que também havia sido um mundo de pessoas, todo tipo de pessoas, cuidando do dia a dia. Mas como essas pessoas tinham sumido, deixando para trás apenas as máquinas arruinadas que haviam feito, era nas máquinas que ela pensava. No entanto, o mundo que encontrou entre as capas daqueles livros não parecia tão diferente do seu. As pessoas montavam cavalos, usavam lenha para aquecer as casas e velas para iluminar os cômodos, e essa semelhança a surpreendera, ao mesmo tempo que abrira sua mente para as histórias de amor com finais felizes. Havia sexo também, muito sexo, e não era nem um pouco como o sexo que ela conhecia com Cort. Era feroz e apaixonado, e às vezes ela se pegava com vontade de pular as páginas para chegar a uma daquelas cenas, mas não fazia isso, porque não queria que o livro acabasse.
Nunca deveria ter levado um daqueles livros para o Muro naquela noite, a noite em que a garota havia aparecido. Esse fora seu grande erro. Na verdade, Soo não planejara levá-lo. Ele havia ficado em sua bolsa o dia inteiro. Tinha esquecido dele. Bem, talvez não tivesse esquecido, não exatamente; mas sem dúvida não fora intenção de Soo fazer uma visita rápida à Armaria, onde, sozinha, no silêncio, sem ninguém ver, havia tirado o volume da bolsa e começado a ler. O livro era A bela do baile (era a segunda vez que o lia), e, ao devorar novamente as primeiras passagens - a impetuosa Charlene descendo a escada para encontrar o inimigo de seu pai, o arrogante Talbot Carver, com suas costeletas fartas, a quem ela amava e odiava ao mesmo tempo -, Soo reviveu instantaneamente os prazeres de sua primeira leitura, um sentimento amplificado pelo fato de agora saber que Charlene e Talbot, depois de muitas idas e vindas, acabariam juntos no final. Essa era a melhor coisa naqueles romances: eles sempre terminavam bem.
Era nisso que Soo Ramirez pensava quando, 24 horas depois, demitida do posto de Primeira Capitã e tendo A bela do baile ainda na bolsa (por que não conseguia deixar aquela porcaria em casa?), ouviu passos subindo os degraus, virou-se e viu Jimmy Molyneau se aproximando da Plataforma de Tiro 9. É claro que tinha de ser Jimmy. Provavelmente viera contar vantagem, ou pedir desculpas, ou alguma estranha combinação das duas coisas. Ainda que ele não fosse de falar, pensou Soo com amargura, nem de aparecer ao Primeiro Toque.
- Jimmy? - disse ela. - Onde, diabos, você esteve?
A noite foi habitada por sonhos. Nas casas e nos alojamentos, no Abrigo e na Enfermaria, os sonhos se moviam pelas almas adormecidas da Primeira Colônia, pousando aqui e ali como espíritos flutuantes.
Alguns - como Sanjay Patal - tinham um sonho secreto, um sonho que vinham tendo durante toda a vida. Às vezes eram conscientes desse sonho e outras vezes, não: o sonho era como um rio subterrâneo que, fluindo constantemente, de vez em quando podia subir à superfície, banhando brevemente as horas diurnas com sua presença, como se as pessoas andassem em dois mundos ao mesmo tempo. Alguns sonhavam com uma mulher na cozinha exalando fumaça. Outros, como o Coronel, sonhavam com uma menina sozinha no escuro. Alguns desses sonhos viravam pesadelos - o que Sanjay não lembrava, jamais, era a parte do sonho que envolvia a faca - e às vezes o sonho não parecia sonho, era mais real do que a própria realidade, e fazia o sonhador sair cambaleando impotente pela noite.
De onde eles vinham? De que eram feitos? Seriam sonhos ou algo mais - percepções de uma outra realidade, um plano de existência oculto que só se revelava à noite? Por que pareciam lembranças, e não somente lembranças, mas lembranças de outra pessoa? E por que naquela noite toda a população da Primeira Colônia parecera entrar no mundo desse sonhador?
No Abrigo, uma das três "Jotas", a Pequena Jane Ramirez, filha de Belle e Rey Ramirez - o mesmo Rey Ramirez que, tendo se encontrado súbita e assustadoramente sozinho na usina, perturbado por ânsias sombrias que não podia conter nem expressar, naquele momento estava fritando a si mesmo na cerca elétrica -, sonhava com um urso. Jane havia acabado de fazer 4 anos. Ela conhecia apenas os ursos dos livros e das histórias contadas pela Professora - criaturas grandes e afáveis da floresta, cujo corpo peludo e rosto gentil eram moradia de uma benigna sabedoria animal, e isso também valia para o urso em seu sonho, pelo menos no início. Jane nunca tinha visto um urso de verdade, mas tinha visto um viral. Ela estava entre os Pequenos do Abrigo que haviam vislumbrado o viral Arlo Wilson. Ela havia se levantado da cama - que ficava na última fileira, a mais longe da porta - com sede e ia pedir um copo d'água à Professora quando ele atravessou a janela com um grande estrondo de vidro, metal e madeira se estilhaçando, pousando praticamente em cima dela. A princípio Jane pensou que era um homem: o jeito de se deslocar e a presença pareciam humanos. Mas ele não usava roupas e havia algo diferente, principalmente nos olhos e na boca, além do modo como parecia luzir. A criatura olhou para ela com um rosto triste - o que a fez se lembrar do urso - e Jane já ia lhe perguntar o que havia de errado e por que ele reluzia daquele jeito quando ouviu um grito, virou-se e viu a Professora correndo em direção a eles. Ela passou por Jane como um raio, segurando a faca que mantinha escondida na bainha sob a saia, o braço erguido sobre a cabeça para golpeá-lo. Jane não viu o que aconteceu a seguir - ela se jogara no chão e começara a se arrastar para longe -, mas ouviu um grito débil, o som de algo sendo rasgado e o baque de alguma coisa caindo. Isso seguido por outro grito - "Ei!", bradava alguém, "olhe para cá!" -, e em seguida mais gritos e uma comoção geral dos adultos, de mães e pais entrando e saindo, e no momento seguinte Jane viu que estava sendo puxada de sob a cama e levada com todos os outros Pequenos escada acima por uma mulher que chorava. (Só mais tarde percebeu que a mulher era sua mãe.)
Ninguém havia explicado aqueles acontecimentos confusos, nem Jane contara a qualquer pessoa o que tinha visto. A Professora não estava em lugar nenhum, e alguns Pequenos - Fanny Chou, Bowow Greenberg e Bart Fisher - diziam baixinho que ela havia morrido. Mas Jane achava que não. Morrer era deitar e dormir para sempre, e a mulher cujo salto ela havia testemunhado não parecia nem um pouco cansada. Pelo contrário: naquele momento a Professora parecera maravilhosa, poderosamente viva, animada por uma graça e uma força que Jane jamais tinha visto - algo que mesmo agora, uma noite depois, a deixava empolgada e um tanto sem graça. A Professora vivia uma existência compacta de movimentos compactos, em um lugar de ordem, segurança e rotina silenciosa. Havia as brigas e mágoas usuais, e dias em que ela parecia irritada do começo ao fim, mas em geral o mundo que Jane conhecia era feito de amenidade. A Professora era a fonte desse sentimento: ele se irradiava dela na forma de um calor maternal, como os raios do sol aqueciam o ar e a terra. Mas agora, no rastro confuso dos acontecimentos da noite, Jane sentia ter vislumbrado algo secreto sobre aquela mulher que cuidava deles com tanta dedicação.
Foi então que ocorreu a Jane que o que ela havia visto era amor. Nada menos que a força do amor poderia ter levantado a Professora no ar, para os braços do homem-urso luminoso que a esperavam, um ser cuja luz era o brilho da realeza.
Ele era um príncipe urso que viera levá-la para seu castelo na floresta. Assim, talvez fosse esse o lugar para onde a Professora tivesse ido, e o motivo por que todos os Pequenos tinham sido levados para o andar de cima: para esperá-la. Quando ela retornasse, sua verdadeira identidade de rainha da floresta seria revelada, e eles seriam trazidos de volta para baixo, para o Quarto Grande, para lhe dar as boas-vindas e celebrar em uma grande festa para ela.
Jane estava contando essas histórias a si mesma quando adormeceu em um cômodo com 15 outros Pequenos, cada um com seus sonhos diversos. No sonho de Jane, que começara como uma recapitulação dos acontecimentos da noite anterior, ela estava pulando na cama do Quarto Grande quando viu o urso entrar. Dessa vez ele não entrava pela janela, e sim pela porta, que parecia pequena e distante, e sua aparência era diferente da noite anterior: era gordo e felpudo como os ursos dos livros, com seu jeito sábio e amigável, as quatro patas bamboleando na direção dela. Quando chegou ao pé da cama de Jane, sentou-se sobre as patas traseiras e gradualmente ficou de pé, revelando o tapete farto da grande barriga lisa, com a imensa cabeça de urso, os olhos úmidos e as gigantescas mãos almofadadas. Era algo maravilhoso de se ver, estranho e ao mesmo tempo esperado, como um presente que Jane sempre acreditara que iria chegar, e seu coração inocente explodiu de admiração por aquele ser grande e nobre. Ele permaneceu nessa posição por um momento, olhando-a com expressão pensativa, depois falou com Jane, que continuava pulando feliz na cama, dirigindo-se a ela com a voz aveludada e grave de um ser da floresta: "Olá, Pequena Jane. Sou o senhor Urso. Vim comer você."
Aquilo soou engraçado - Jane sentiu cócegas na barriga, o início de uma gargalhada -, mas o urso não reagiu, e, enquanto o momento se prolongava, ela notou que havia outros aspectos nele, aspectos perturbadores: suas garras, que emergiam em curvas brancas das patas que pareciam meias-luvas; as mandíbulas grandes e poderosas; os olhos, que já não pareciam amigáveis nem sábios, e sim sombrios, a intenção por trás deles impossível de ser descoberta. Onde estavam os outros Pequenos? Por que Jane estava sozinha no Quarto Grande? Mas ela não estava sozinha: agora a Professora também aparecia no sonho, parada junto à cama. Sua aparência era a de sempre, mas havia algo vago em suas feições, como se estivesse usando uma máscara de renda. "Venha agora, Jane", instigou a Professora. "Ele já comeu todos os outros Pequenos. Seja boazinha e pare de pular para que o senhor Urso possa comer você." "Eu... não... quero", respondeu Jane, ainda pulando, porque não queria ser comida - uma ameaça que parecera mais boba do que amedrontadora, mas mesmo assim merecia resposta. "Eu... não... quero." "Estou falando sério", alertou a Professora, aumentando o volume da voz. "Estou pedindo por bem, Pequena Jane. Vou contar até três." "Eu... não... quero", repetiu Jane, aplicando o maior vigor possível aos pulos desafiadores. "Eu... não... quero." "Está vendo?", perguntou a Professora, virando-se para o urso, que continuava de pé junto à cama. E levantou as mãos pálidas em uma atitude exasperada. "Está vendo? Era isso o que eu tinha de aguentar o dia todo. É de enlouquecer qualquer um. Certo, Jane. Se é assim que você prefere. Não diga que não avisei."
E foi então que o sonho deu sua última guinada sinistra para o reino do pesadelo. A Professora segurou Jane pelos pulsos, forçando-a a se deitar. De perto, Jane viu que um pedaço do pescoço da Professora estava faltando, como uma maçã mordida, e que havia coisas compridas penduradas ali, um monte de tiras e tubos molhados, brilhantes e nojentos. Só então Jane entendeu que todos os Pequenos tinham sido mesmo comidos, como a Professora tinha dito. Todos tinham sido comidos pelo senhor Urso, um a um, mas ele não era mais o senhor Urso, era o homem luminoso. "Eu não quero!", gritava Jane. "Eu não quero!" Mas não tinha força para resistir e ficou olhando com um terror impotente enquanto primeiro seu pé, depois o tornozelo e em seguida a perna inteira eram engolidos pela caverna escura da boca do homem luminoso.
Os sonhos falavam de uma variedade de preocupações, influências, gostos. Eram tão diversos quanto os sonhadores. Gloria Patal sonhou com um gigantesco enxame de abelhas cobrindo seu corpo. Parte dela sabia que as abelhas eram simbólicas: cada um dos insetos que se arrastava sobre sua pele era uma preocupação que ela havia carregado na vida. Pequenas preocupações, como a possibilidade de que chovesse em um dia em que havia planejado trabalhar ao ar livre, ou de Mimi, viúva de Raj e sua única amiga de verdade, estar com raiva por ela não ter ido visitá-la; mas preocupações maiores, também. Preocupações com Sanjay e Mausami. A preocupação de que a dor nas costas ou a tosse que às vezes a mantinham acordada à noite fossem prenúncios de algo pior. Incluídos nesse rol de apreensões estavam o amor angustiado que sentia pelos bebês cuja gestação não conseguira levar a termo, o nó de pavor que se apertava dentro dela todos os dias ao Primeiro Toque e a sensação de que ela e todos os outros já estavam praticamente mortos, considerando as chances que tinham. Porque era impossível não pensar nisso. As pessoas faziam o máximo para seguir adiante (fora o que Gloria dissera à filha quando esta anunciara sua intenção de casar com Galen, chorando o tempo todo por causa de Theo Jaxon: precisamos seguir adiante), mas os fatos eram os fatos: algum dia as luzes iriam se apagar. De modo que, talvez, a maior preocupação de todas fosse um dia perceber que todas as preocupações da vida se resumiam a uma só: o desejo de simplesmente parar de se preocupar.
As abelhas eram isso: preocupações grandes e pequenas, e no sonho elas se moviam sobre seu corpo, sobre os braços, as pernas, o rosto e os olhos, até dentro dos ouvidos. O cenário do sonho equivalia ao último momento de consciência de Gloria: depois de tentar, sem sucesso, acordar o marido e havendo dispensado Jimmy, Ian, Ben e os outros que foram à sua casa procurar o conselho dele - a questão do garoto Caleb ainda precisava ser resolvida -, contradizendo todos os seus instintos, Gloria cochilou à mesa da cozinha, a cabeça tombada para trás, a boca aberta e pequenos roncos brotando do fundo de sua garganta. Tudo isso estava no sonho - o som de seu ronco era o som das abelhas -, com o acréscimo singular do enxame, que, por motivos que não eram totalmente claros, havia entrado na cozinha e pousado como uma única massa sobre ela, como um grande cobertor trêmulo. Agora parecia óbvio que esse era o tipo de coisa que as abelhas faziam. Por que ela não conseguira se proteger contra essa eventualidade? Gloria sentia as patas minúsculas pinicando sua pele, escutava o zumbido das asas. Caso se movesse, mesmo se apenas respirasse, sabia que provocaria uma fúria mortal de picadas simultâneas. Ela permaneceu nesta insuportável condição de imobilidade - era um sonho de paralisia - até que ouviu o som dos passos de Sanjay descendo a escada e sentiu sua presença no cômodo, e logo depois sua partida sem palavras e o bater da porta de tela enquanto ele saía de casa. Então a mente de Gloria se iluminou com um grito silencioso que a trouxe de volta à consciência, ao mesmo tempo que apagava qualquer lembrança do que acontecera: quando acordou, tinha se esquecido não somente das abelhas, mas também de Sanjay.
Do outro lado da Colônia, deitado em sua cama sob a nuvem do próprio cheiro, o homem conhecido como Élton, que durante toda a vida fantasiara sobre voos esplendidamente ornamentados e eróticos, estava tendo um bom sonho: o sonho do feno, o predileto de Élton, já que era baseado em fatos reais. Embora Michael não acreditasse - e Élton tinha de admitir que não havia nenhuma razão para que o amigo lhe desse crédito - houvera um tempo, muito antes, em que Élton, um homem de 20 anos, tinha desfrutado os favores de uma mulher desconhecida que o escolhera, ou pelo menos assim parecia, porque a cegueira de Élton garantiria seu silêncio. Se ele não soubesse quem ela era - e a mulher jamais lhe disse -, não poderia contar a ninguém, o que sugeria que era casada. Talvez ela quisesse ter um filho e o marido não pudesse, ou simplesmente desejasse algo diferente na vida. (Nos momentos em que sentia pena de si mesmo, Élton se perguntava se ela não estaria apenas cumprindo algum tipo de aposta.) Na verdade, não importava.
Ele gostava dos sonhos, que sempre aconteciam à noite. Às vezes simplesmente acordava no meio da experiência, as sensações ainda nítidas, como se a realidade viesse de um sonho para em seguida retornar a ele, alimentando as futuras noites vazias. Em outras ocasiões, a mulher vinha até ele, pegava-o silenciosamente pela mão e o levava para outro lugar. Essa era a circunstância do sonho do feno, que se passava no celeiro, Élton e a amante rodeados pelo relinchar dos cavalos e o cheiro doce e seco do capim recém-cortado. A mulher não falava - os únicos sons que fazia eram os sons do amor - e tudo terminava depressa demais, com um gemido e um estremecimento e um monte de cabelos roçando no rosto dele enquanto ela se levantava sem dizer uma palavra. O sonho sempre retratava os acontecimentos exatamente como haviam ocorrido, com todos os contornos táteis, até o momento em que, deitado sozinho no chão do celeiro, desejando apenas ter visto a mulher, ou mesmo ouvi-la dizer o nome dele, Élton sentia o gosto de sal nos lábios e sabia que estava chorando.
Mas não esta noite. Esta noite, quando o sonho estava quase terminando, a mulher se curvou junto ao seu rosto e sussurrou em seu ouvido:
"Há alguém na Casa de Força, Élton."
Na Enfermaria, Sara Fisher não estava sonhando, mas a menina parecia estar. Sentada em uma das camas vazias, sentindo-se plenamente, quase dolorosamente desperta, Sara via os olhos da garota tremularem sob as pálpebras, como se corressem por uma paisagem invisível. Sara havia convencido Dale a manter a boca fechada, prometendo que ela mesma contaria tudo aos Guardiões de manhã, porque a garota precisava dormir. Como se confirmasse isso, era exatamente o que a garota fazia agora, enroscada na cama em posição autoprotetora enquanto Sara olhava, imaginando o que seria aquele pequeno objeto que estivera alojado na nuca dela, o que Michael teria descoberto e por que, olhando a garota, acreditava que ela estivesse sonhando com neve.
Havia outros, muitos, que também não estavam dormindo. A noite pulsava com almas despertas. Galen Strauss, por exemplo, parado em seu posto no Muro Norte, na Plataforma de Tiro 10, com os olhos franzidos sob o brilho forte das luzes, dizia a si mesmo, pela centésima vez naquele dia, que não era um completo idiota. É claro que a mera necessidade de falar isso - ele se pegara murmurando as palavras baixinho - significava que, na verdade, sim, era um idiota. Sabia disso. Era um idiota. Era um idiota por ter acreditado que poderia fazer Mausami amá-lo como ele a amava; era um idiota por haver se casado com ela quando todo mundo sabia que era apaixonada por Theo Jaxon; era um idiota porque, quando ela lhe contara sobre o bebê, inventando aquela mentira imbecil sobre quantos meses tinha de gravidez, ele havia engolido o orgulho e dado um sorriso idiota, dizendo apenas: "Um bebê. Uau! Quem diria!"
Sabia muito bem de quem era o bebê. Um dos pés de cabra, Finn Darrell, havia lhe contado sobre aquela noite na usina. Finn tinha se levantado para ir ao banheiro e, ao ouvir barulhos em um dos depósitos, tinha ido verificar. A porta estava fechada, explicou Finn, mas não era preciso abri-la para saber o que acontecia do outro lado. Finn era o tipo de sujeito que adorava dar notícias que achava que a pessoa precisava saber. Pelo modo como contou a história, Galen achou que ele provavelmente tinha mantido o ouvido encostado à porta muito mais tempo do que o necessário. "Nossa", comentara Finn, "ela sempre faz todo aquele barulho?"
Maldito Finn Darrell. Maldito Theo Jaxon.
No entanto, num lampejo de esperança, Galen havia alimentado a ideia de que talvez o bebê melhorasse as coisas entre os dois. Uma ideia idiota, mas que mesmo assim ele alimentara por algum tempo. Porém o bebê só os fizera brigar mais, é claro. Se Theo tivesse voltado daquela cavalgada, provavelmente Mausami e ele lhe teriam contado tudo assim que chegassem. Galen podia imaginar a cena. "Nós lamentamos muito, Galen. Deveríamos ter contado a você. A coisa simplesmente... aconteceu." Teria sido humilhante, mas pelo menos a essa altura tudo estaria acabado. Na atual circunstância, ele e Maus teriam de viver com essa mentira para sempre. Provavelmente terminariam desprezando um ao outro, se é que já não se desprezavam.
Estava pensando nessas coisas e ao mesmo tempo morrendo de medo da manhã seguinte, quando deveria cavalgar até a usina. A ordem viera de Ian, mas Galen achava que a ideia não era dele, que partira de outra pessoa - de Jimmy ou talvez de Sanjay. Poderia levar um corredor junto, mas só isso. Não podiam abrir mão de mais nenhum Vigia. "Feche tudo e espere a próxima equipe", dissera Ian. "No máximo três dias. Certo, Galen? Você pode cuidar disso?" E ele, é claro, tinha dito que sim, que não havia problema. Chegara a se sentir lisonjeado. Mas, com o passar das horas, ele se viu lamentando o fato de ter concordado tão depressa. Ele havia descido a montanha apenas duas vezes, e tinha sido assustador - as construções vazias e todos aqueles magrelos cozinhando nos carros -, mas isso nem era o pior. O problema era que Galen sentia medo. Agora tinha medo o tempo todo, cada vez mais, à medida que os dias passavam e o mundo ao seu redor continuava sua dissolução lenta e nebulosa. As pessoas não tinham ideia de como sua visão realmente era ruim, nem mesmo Maus. Elas sabiam, mas não sabiam de verdade, não conheciam a extensão do problema, que parecia pior a cada dia. Àquela altura, seu campo de visão já estava limitado a um raio de menos de dois metros. Além disso, o mundo ao seu redor se desvanecia rapidamente em uma brancura enevoada, e tudo o que Galen enxergava eram silhuetas à espreita, cores e halos de luz disformes. Havia experimentado um sem-número de óculos do Armazém, mas nada parecia ajudar. Tudo o que conseguira foram dores de cabeça lancinantes, como se alguém estivesse cravando uma faca em sua têmpora, e, por isso, tinha desistido havia muito tempo. Galen distinguia bem as vozes, e, em geral, conseguia apontar o rosto na direção certa, mas perdia um monte de coisas e sabia que isso o fazia parecer lento e idiota, coisa que não era. Só estava ficando cego.
E ali estava ele agora, Segundo Capitão da Vigilância e de manhã teria de descer a montanha para garantir a segurança da usina. Uma missão que, considerando o que acontecera a Zander e Arlo, lhe parecia suicídio. Esperava ter oportunidade de falar com Jimmy a respeito disso, tentar fazê-lo entender, mas até agora o sujeito não havia aparecido.
E, pensando bem, onde estaria Jimmy? Soo estava por perto, em algum lugar, e Dana Curtis - sem Arlo e Theo, e com Alicia banida definitivamente da Vigilância, Dana saíra das arenas para guardar o Muro, como todos os outros. Galen era amigo de Dana, e, já que ela agora era Guardiã, talvez pudesse ajudá-lo a convencer Jimmy. Talvez ele devesse conversar com ela sobre a ida à usina. Soo estava na Plataforma de Tiro 9; Dana, na 8. Se ele agisse rápido, poderia estar de volta ao posto em apenas alguns minutos. E esse som que estava escutando - um som de vozes próximas, embora os ruídos se propagassem mais à noite -, não era Soo Ramirez? E a outra voz, não era Jimmy? Se Galen pudesse convencer Dana a defendê-lo, talvez Jimmy aceitasse. Talvez Soo ou Dana dissessem a ele: "Eu posso muito bem ir até a usina, não vejo por que temos de mandar o Galen."
Só alguns minutos, pensou Galen e, pegando sua besta, começou a andar pela passarela.
Ao mesmo tempo, escondidos no velho trailer da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, Peter e Alicia jogavam cartas. Tendo somente a luz dos holofotes como iluminação, os dois não estavam muito concentrados no jogo, e havia um bom tempo que nenhum deles se importava mais em ganhar. Peter tentava decidir como descrever o que acontecera na Enfermaria, como contar a Alicia sobre a voz que ouvira na mente, mas a cada minuto que se passava ficava mais difícil imaginar como poderia se explicar. Tinha ouvido palavras na cabeça. Sua mãe sentia falta dele. Devo estar sonhando, dizia a si mesmo, e quando Alicia interrompeu seus pensamentos apontando as cartas com impaciência, ele apenas balançou a cabeça. Não é nada, disse, pode jogar.
Quem também ainda estava acordado - já havia se passado cerca de uma hora desde a meia-noite, de acordo com o controle da Vigilância - era Sam Chou. Sam ansiava apenas pelo conforto da cama e os braços afetuosos da esposa, mas, com Sandy dormindo no Abrigo - ela havia se oferecido para substituir April até que uma nova Professora fosse encontrada -, sua rotina fora interrompida, deixando-o a olhar para o teto. Além disso, sentia-se perturbado por um sentimento que, enquanto a noite se esvaía, ele reconhecera como sendo vergonha. Não podia explicar seu comportamento estranho à porta da cadeia na tarde anterior. No calor do momento acreditara honestamente que algo precisava ser feito. Mas nas horas seguintes, e depois de ter ido ao Abrigo visitar os filhos - que pareciam bem apesar de tudo -, Sam descobrira que seus sentimentos com relação a Caleb haviam apaziguado consideravelmente. Afinal, Caleb era só um garoto, e agora Sam podia ver que colocá-lo para fora resolveria muito pouco. Sentia muita culpa por ter manipulado Belle - com Rey na usina, ela devia estar preocupadíssima - e, ainda que ele não tivesse o menor apreço por Alicia, que era muito cheia de si, precisava admitir que, dadas as circunstâncias e com o idiota do Milo o instigando, a presença dela havia sido essencial. Quem sabe o que poderia ter acontecido se ela não estivesse lá? Quando Sam falou com Milo mais tarde - depois dos boatos que haviam corrido pela Colônia durante o dia, a maior parte deles pressupondo que, se os Guardiões não fizessem nada, ele e Milo colocariam o garoto para fora pessoalmente - e sugeriu que talvez eles devessem repensar a situação, ver como as coisas ficariam no dia seguinte, depois de uma boa noite de sono, ele pareceu genuinamente aliviado. "Certo, claro", disse Milo Darrell. "Talvez você tenha razão. Vejamos como ficam as coisas amanhã de manhã."
De modo que agora Sam se sentia um pouco mal com relação a tudo isso, porque não era do seu feitio ficar com tanta raiva assim. Nem um pouco. Por um segundo, do lado de fora da cadeia, ele realmente havia acreditado que alguém precisava pagar. O fato de Caleb ser apenas um garoto indefeso, que provavelmente achara que alguém na passarela o havia mandado abrir o portão, não parecia ter a menor importância. E a coisa mais extraordinária, realmente, era que, durante todo esse tempo, Sam praticamente não havia pensado na garota, na Andarilha, que era o motivo de tudo ter acontecido.
Enquanto observava as luzes dos holofotes brincarem nas empenas do telhado acima do seu rosto, Sam se perguntava como aquilo era possível. Como, meu Deus, depois de todos esses anos, uma Andarilha pode ter aparecido? E não somente uma Andarilha: uma menina. Sam não era uma daquelas pessoas que achavam que o Exército ainda viria - só um idiota pensaria isso, depois de tantos anos mas uma garota assim... significava alguma coisa. Significava que ainda havia gente viva lá fora. Talvez um monte de gente. E quando Sam pensou nisso, percebeu que a ideia o fazia sentir-se estranhamente... desconfortável. Não podia dizer exatamente por quê, mas aquela garota, a Garota de Lugar Nenhum, parecia uma peça que não se encaixava. E se toda aquela gente simplesmente aparecesse do nada? E se ela fosse o início de uma nova onda de Andarilhos procurando a segurança das luzes?
Havia apenas uma quantidade limitada de comida e combustível. Claro, nos primeiros dias provavelmente parecera cruel demais não acolher os Andarilhos. Mas agora a situação não era um pouco diferente? Depois de tantos anos, de as coisas terem chegado a uma espécie de equilíbrio? Porque o fato era que Sam Chou gostava de sua vida. Ele não era do tipo que se preocupava, que alimentava pensamentos ruins. Conhecia gente assim - Milo, para começar -, mas não via sentido naquilo. Coisas ruins podiam acontecer, claro, mas isso sempre fora verdade, e, nesse meio-tempo, ele tinha sua cama, sua casa, sua mulher e seus filhos, eles tinham comida para se alimentarem, roupas para vestir e as luzes para mantê-los em segurança, e será que isso não bastava? Quanto mais Sam pensava, mais convencido ficava de que não era com relação a Caleb que algo precisava ser feito, mas sim com relação à garota. Talvez dissesse isso a Milo quando o dia amanhecesse. Algo precisa ser feito com relação a essa Garota de Lugar Nenhum.
Michael Fisher também estava acordado. Em geral, Michael considerava dormir perda de tempo, apenas mais uma das exigências pouco razoáveis que o corpo fazia à mente. Além disso, seus sonhos, os poucos de que conseguia se lembrar, pareciam versões ligeiramente alteradas de seu cotidiano -, eram cheios de circuitos, disjuntores e relés, mil problemas a serem resolvidos -, e quando ele acordava não se sentia restaurado, e sim violentamente empurrado para a frente no tempo, sem qualquer feito concreto que justificasse aquelas horas perdidas.
Mas essa noite não dormiria. Essa noite Michael Fisher estava mais acordado do que nunca. O conteúdo do chip, descarregado no computador principal - uma verdadeira torrente de dados - não era nada mais nada menos do que uma reescrita do mundo. Entender isso levara Michael a se dispor a correr risco agora, conectando uma antena ao topo do Muro. Havia começado no telhado da Casa de Força, ligando um rolo de 20 metros de fio de cobre de 8mm à antena que tinham enfiado na chaminé meses antes. Com mais dois rolos, chegou até a base do Muro, mas era todo o cobre que tinha. Para o resto, decidiu então usar um cabo de alta voltagem que teria de desencapar a mão. A maior dificuldade agora seria chegar ao topo do Muro sem ser visto pela Vigilância. Pegou mais dois rolos no barracão e parou na sombra abaixo de uma das estruturas de suporte, avaliando suas opções. A escada mais próxima, 20 metros à esquerda, levava direto à Plataforma 9. Seria impossível subir sem ser notado. Havia uma segunda escada, situada a meio caminho entre as Plataformas 8 e 7, que seria ideal - exceto pelos corredores, que às vezes a usavam como atalho entre a 7 e a 10, ela era muito pouco transitada -, mas ele não possuía cabo suficiente para ir tão longe.
Com isso restava apenas uma opção. Subir a escada mais distante com o cabo, seguir pela passarela até ficar acima do recorte do Muro, prender uma ponta do cabo e jogá-lo lá embaixo, descendo em seguida para conectá-lo ao fio de cobre. Tudo isso sem ser visto.
Michael se ajoelhou na terra, tirou o alicate da velha mochila de lona que usava para carregar ferramentas e começou a trabalhar, puxando o fio do rolo e arrancando-lhe a capa plástica. Ao mesmo tempo prestava atenção aos barulhos, para saber se algum corredor estava passando. Durante o tempo que levou para desencapar o fio e enrolá-lo de volta, ouviu corredores passarem duas vezes. Tinha quase certeza de que teria alguns minutos até que o próximo viesse. Colocando tudo na mochila, correu até a escada, respirou fundo e começou a subir.
Michael sempre tivera medo de altura - não gostava nem mesmo de ficar de pé em cima de uma cadeira -, fato que esquecera de levar em consideração, e antes mesmo de chegar ao topo da escada, uma subida de 20 metros que parecia 10 vezes maior, ele começou a questionar a sensatez daquele empreendimento. Seu coração galopava em pânico. Braços e pernas tinham virado gelatina. Andar pela passarela, uma grade estreita aparentemente suspensa sobre o nada, exigiria toda a sua força de vontade. O suor começava a incomodar seus olhos quando saiu do último degrau, pisando na passarela. Sob a claridade das luzes e sem o chão e o céu como ponto de referência, tudo parecia maior e mais próximo, com uma nitidez volumosa. Mas pelo menos ninguém o havia notado. Levantou o rosto cautelosamente. Cem metros à esquerda, a Plataforma 8 parecia abandonada: não havia nenhum Vigia no posto. Michael não sabia o motivo disso, mas se sentiu encorajado pela descoberta. Se agisse depressa, poderia voltar à Casa de Força sem que ninguém soubesse.
Começou a andar pela passarela e, ao chegar ao local desejado, já começava a se sentir melhor - muito melhor. Seu medo havia sumido, substituído pela revigorante sensação da possibilidade. Seu plano daria certo. A Plataforma 8 continuava vazia. Quem quer que devesse estar lá com certeza levaria uma bronca daquelas, mas isso dava a Michael a oportunidade de que precisava. Ajoelhou-se na passarela e tirou o rolo de fio da mochila. Feita de liga de titânio, a passarela seria um bom condutor, passando para o fio suas atraentes propriedades eletromagnéticas. Na verdade, o que Michael estava fazendo era transformar todo o perímetro em uma antena gigante. Usou uma chave de boca para soltar um dos parafusos que prendiam o piso da passarela à estrutura, enroscou a ponta do fio desencapado sob a cabeça do parafuso e o apertou novamente. Depois jogou o carretel no chão lá embaixo, ouvindo o som distante do impacto.
Amy, pensou. Quem imaginaria que a Garota de Lugar Nenhum se chamava Amy?
O que Michael não sabia era que a Plataforma de Tiro 8 estava vazia porque a Vigia do posto, Dana Curtis, descendente de uma Primeira Família e Guardiã, já estava morta, caída na base do Muro. Jimmy a havia matado logo depois de assassinar Soo Ramirez, que ele honestamente não pretendera matar; só queria lhe dizer algo. Adeus? Sinto muito? Sempre amei você? Mas uma coisa levara a outra no decorrer estranhamente inevitável daquela noite, a Noite de Facas e Estrelas, e agora os três estavam mortos.
Aproximando-se pela direção oposta, Galen Strauss testemunhou esses acontecimentos como se olhasse pelo lado errado de um telescópio, vendo apenas um borrão distante de cor e movimento, muito além do alcance de sua visão. Se outro Vigia estivesse postado na Plataforma 10 naquela noite, alguém com uma visão melhor, alguém que não estivesse ficando cego por causa do glaucoma como Galen Strauss, uma imagem mais clara dos acontecimentos poderia ter surgido. Mas os acontecimentos daquela noite na Plataforma de Tiro 9 jamais seriam inteiramente conhecidos, a não ser pelas pessoas diretamente envolvidas, e nem mesmo elas puderam entendê-los.
O que aconteceu foi o seguinte:
A Vigia Soo Ramirez - cujos pensamentos ainda navegavam nas correntes de A bela do baile e, em particular, em uma cena passada dentro de uma carruagem em movimento durante uma tempestade, narrada de modo tão vívido que ela praticamente a havia memorizado palavra por palavra (Enquanto os céus se abriam, Talbot tomou Charlene nos braços poderosos, a boca juntando-se à dela com uma paixão ardente, os dedos dele encontrando a curva sedosa de seus seios, as ondas de ardor rolando sobre ela...) - havia se virado e visto Jimmy subindo até a plataforma. Em meio à irritação que sentira (ele a estava interrompendo e estava atrasado), sua primeira impressão tinha sido a de que estava errado. Ele não parece ele mesmo, pensou ela. Este não é o Jimmy que eu conheço. Ele ficara parado um momento, o corpo estranhamente frouxo, os olhos perplexos apertados contra a luz. Parecia alguém que tivesse vindo anunciar algo, mas esquecera o quê. Soo achou que talvez soubesse o que seria essa declaração não dita - ela sentia há algum tempo que Jimmy pensava nos dois como mais do que amigos -, e em circunstâncias diferentes poderia ter ficado feliz em ouvi-la. Mas não agora. Não essa noite, na Plataforma de Tiro 9.
- São os olhos dela - disse ele finalmente, parecendo estar falando consigo mesmo. - Pelo menos pensei que eram os olhos dela.
Soo se aproximou dele. O rosto de Jimmy estava virado para o outro lado, como se não conseguisse olhá-la.
- Jimmy? Os olhos de quem?
Mas ele não respondeu. Uma das mãos baixou para a bainha da blusa de malha e começou a puxá-la, como um menino nervoso mexendo na roupa.
- Você está sentindo, Soo?
- Jimmy, do que você está falando?
Então ele começou a piscar. Lágrimas gordas, parecendo jóias, corriam por suas bochechas.
- Eles são todos tão tristes, porra!
Algo estava acontecendo com ele, percebeu Soo, algo ruim. Em um movimento rápido, ele tirou a blusa e a jogou pela borda da plataforma. Seu peito vítreo de suor brilhava sob as luzes.
- São essas roupas - resmungou ele. - Não suporto essas roupas.
Ela havia deixado a besta encostada no parapeito. Virou-se para pegá-la, mas tinha esperado demais. Jimmy a agarrou por trás, as mãos dele deslizando sob seus braços, envolvendo-lhe a nuca, e, com um súbito movimento de torção o pescoço dela estalou. Em um instante seu corpo se foi, seu corpo havia ido para longe, seu corpo não era mais. Tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Pontos de luz pairavam em seus olhos, como lascas de prata. ("Oh, Talbot", gemeu Charlene enquanto ele a penetrava, sua virilidade uma invasão doce que ela não mais podia negar. "Oh, Talbot, sim, vamos acabar com esse jogo absurdo...") Ela percebeu que alguém vinha em sua direção. Ouviu o som de passos na passarela onde estava caída, impotente, e em seguida o disparo de uma besta e um grito rouco e abafado. Agora estava no ar, Jimmy a estava erguendo. Ia jogá-la de cima do Muro. Soo desejou ter tido uma vida diferente, mas sua vida era aquela, e não queria deixá-la por enquanto, e então estava caindo, caindo, caindo e caindo.
Ainda estava viva quando bateu no chão. O tempo ficou mais lento, reverteu-se, recomeçou. Os holofotes brilhavam em seus olhos. Em sua boca, um gosto de sangue. Acima, viu Jimmy parado nas redes, nu e brilhando, e em seguida ele também sumiu.
E no último segundo, antes que todos os pensamentos a abandonassem, escutou a voz do corredor Kip Darrell gritando do parapeito lá em cima.
- Sinal! Temos sinal! Puta que o pariu, eles estão em toda parte!
Mas essas palavras vieram da escuridão. Todas as luzes haviam se apagado.
TRINTA E SEIS
A reunião foi convocada para o meio-dia, sob um céu inchado de uma chuva que não queria cair. Todas as almas haviam se reunido no Solário, para onde fora levada a mesa comprida do Abrigo. Sentados diante de todos estavam apenas dois homens: Walter Fisher e Ian Patal. Walter tinha a aparência desarrumada de sempre: os cabelos desgrenhados e oleosos, os olhos remelentos e as roupas manchadas que ele usara durante toda a estação. O fato de estar atuando como Chefe dos Guardiões, ou do que restava deles, pensou Peter, era um dos pontos menos promissores do dia.
Ian tinha uma aparência bem melhor, mas, mesmo ele, depois dos acontecimentos da noite, parecia hesitante e inseguro, com dificuldade até de dar início à reunião. Peter não entendia exatamente qual era o papel dele - estava ali como um Patal ou como Primeiro Capitão? -, mas essa parecia uma preocupação pequena, técnica demais para incomodar. Por ora, bastava saber que Ian estava no comando.
Parado junto à multidão, ao lado de Alicia, Peter examinava as pessoas. Titia não estava à vista, mas isso não o surpreendeu. Fazia muitos anos que ela não comparecia às reuniões convocadas pelos Guardiões. Os dois outros rostos de que sentiu falta foram o de Michael, que havia retornado à Casa de Força, e o de Sara, que ainda estava na Enfermaria. Viu Gloria junto à mesa, mas não Sanjay, cujo paradeiro, assim como o do Velho Chou, era fonte de boa parte dos murmúrios ao redor, um rumor de preocupação vindo de pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo. Pelo menos era isso o que ele escutava até agora: preocupação. O pânico generalizado ainda não havia se instalado, mas Peter sabia que seria apenas questão de tempo - a noite cairia de novo.
Os outros rostos que via, embora não desejasse ver, eram daqueles que tinham perdido um ente querido, um cônjuge, filho, pai ou mãe no ataque. Nesse grupo estavam Cort Ramirez e Russell Curtis, marido de Dana, que estava parado junto às filhas Ellie e Kat, todos parecendo entorpecidos; Karen Molyneau com as duas meninas, Alice e Avery, os rostos com a sombra do sofrimento; Milo e Penny Darrell, cujo filho Kip, um corredor de apenas 15 anos, fora o mais jovem a ser morto; Hodd e Lisa Greenberg, pais de Sunny; Addy Phillips e Tracey Strauss, que parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite, toda a vitalidade drenada de seu corpo; Constance Chou, a jovem esposa do Velho Chou, que segurava ferozmente a filha, Daria, como se ela também pudesse sumir. E foi a esse corpo de sobreviventes sofredores - porque se portavam como um só, a perda formando um elo de coesão entre eles ao mesmo tempo que os separava dos outros, como uma força magnética que simultaneamente atraía e repelia - que Ian pareceu dirigir as palavras quando a multidão se aquietou e ele finalmente pôde dar início à reunião.
Ian começou relatando os fatos, que Peter já conhecia, ou pelo menos conhecia a maior parte deles. Pouco depois da meia-noite, sem explicação, as luzes haviam falhado. Isso aparentemente fora causado por um pico de energia que desarmara o disjuntor principal. A única pessoa na Casa de Força no momento do incidente era Élton, que dormia nos fundos. O engenheiro encarregado, Michael Fisher, havia saído por alguns minutos para executar um reajuste manual em uma das válvulas das baterias, deixando o painel sozinho. Por isso, disse Ian à multidão, Michael não tinha culpa. Deixar a Casa de Força para ajustar as baterias era inteiramente apropriado, e Michael não poderia ter previsto o pico que desarmaria o disjuntor. As luzes tinham ficado apagadas menos de três minutos - o tempo que Michael levara para correr de volta à Casa de Força e religar o sistema -, mas nesse breve intervalo o Muro fora transposto. O último informe era de que um grande bando estivera à espreita perto do arrife. Quando a energia foi restaurada, três almas tinham sido tomadas: Jimmy Molyneau, Soo Ramirez e Dana Curtis. Os três foram vistos na base do Muro, os corpos sendo arrastados para longe.
Essa tinha sido a primeira onda do ataque. Era evidentemente difícil para Ian manter a compostura enquanto relatava o que ocorrera em seguida. Ainda que o primeiro bando, o maior, tivesse se dispersado, um segundo, composto de três virais, havia se aproximado pelo sul, atacando o Muro perto da Plataforma 6 - a mesma plataforma onde, seis dias antes, uma grande fêmea com uma estranha mecha de cabelo branco tinha sido morta por Arlo Wilson. A fenda que havia permitido sua subida já havia sido consertada, de modo que os três não estavam conseguindo escalar o Muro, mas aparentemente essa não era a intenção deles. A essa altura os Vigias haviam saído correndo desesperadamente, todos em direção à Plataforma 6. Sob uma tempestade de flechas, os três virais haviam tentado subir repetidamente. Enquanto isso, na Plataforma 9, agora vazia, um terceiro bando - talvez uma subdivisão do segundo, talvez um bando diferente - conseguira passar pelo Muro.
Eles vieram diretamente pela passarela.
Foi um caos. Não havia outra palavra. Mais três Vigias foram mortos antes que o bando fosse repelido: Gar Phillips, Aidan Strauss e Kip Darrell, o corredor que tinha dado o alerta sobre o bando reunido junto ao arrife. Uma quarta Vigia, Sunny Greenberg, que deixara seu posto na cadeia para se unir à luta, havia desaparecido e foi considerada perdida. Entre aqueles cujo paradeiro era desconhecido - nesse momento Ian parou com uma expressão profundamente perturbada - estava também o Velho Chou. Ao acordar de madrugada, Constance descobrira que ele havia sumido, e desde então ninguém o tinha visto. Assim, embora não houvesse provas, era provável que ele tivesse saído de casa no meio da noite para ir ao Muro, onde fora tomado junto com os outros. Nenhum viral foi morto.
- Isso é tudo - disse Ian. - É o que sabemos.
Algo estava acontecendo, pensou Peter, e a multidão também podia sentir. Ninguém nunca testemunhara um ataque como aquele, tão estratégico. O mais próximo disso havia ocorrido na Noite Escura, mas mesmo naquela ocasião os virais não tinham dado qualquer demonstração de haver um ataque organizado. Peter correra com Alicia até o Muro para lutar junto aos outros quando as luzes se apagaram, mas Ian pediu que fossem para o Abrigo, que fora deixado indefeso na confusão. Assim, o que eles viram e ouviram foi ao mesmo tempo suavizado pela distância e piorado por ela. Peter sabia que deveria ter estado lá. Deveria ter estado no Muro.
Uma voz se destacou entre os murmúrios da multidão.
- E a usina?
Quem falava era Milo Darrell. Ele estava abraçado à esposa, Penny.
- Pelo que sabemos, continua segura, Milo - disse Ian. - Michael disse que a corrente elétrica continua fluindo.
- Mas você falou que houve um pico de energia! Alguém deveria ir até lá verificar. E onde, diabos, está Sanjay?
Ian hesitou.
- Eu já ia chegar a esse ponto, Milo. Sanjay adoeceu. Por enquanto, Walter vai assumir a chefia dos Guardiões.
- Walter? Você não pode estar falando sério.
Walter pareceu recuperar o foco, enrijecendo-se na cadeira e erguendo o rosto remelento em direção ao grupo.
- Espere aí...
Mas Milo interrompeu de novo:
- Walter é um bêbado - bradou com ousadia. - Um bêbado trapaceiro. Todo mundo sabe disso. Quem está realmente no comando, Ian? Você? Porque, pelo visto, não há ninguém. Acho que a Armaria deveria ser aberta para todos que queiram ficar no Muro. E vamos mandar alguém para a usina agora mesmo.
Um rumor de aprovação agitou a multidão. O que Milo estava tentando fazer?, pensou Peter. Começar um tumulto? Olhou para Alicia, que mantinha uma postura de alerta, os olhos em Milo e os braços ao lado do corpo.
- Sinto muito pelo seu filho - disse Ian -, mas não é hora de perder a cabeça. Deixe que os Vigias cuidem disso.
Mas Milo não lhe deu ouvidos. Correu os olhos pelo grupo.
- Vocês ouviram. Ian disse que eles pareciam organizados. Bem, talvez precisemos nos organizar também. Se a Vigilância não faz nada, acho que nós deveríamos fazer.
- Por todos os voadores, Milo, calma! As pessoas estão com medo e você não está ajudando.
Sam Chou, avançando, falou em seguida:
- Elas devem estar com medo mesmo. Caleb deixou aquela garota entrar e o que aconteceu depois? Onze pessoas morreram! Ela é o motivo de eles estarem aqui.
- Não sabemos disso, Sam.
- Eu sei. E todo mundo sabe. Caleb e a garota, eles começaram tudo. Acho que deve terminar com eles também.
Então Peter escutou vozes pipocando aqui e ali: "a garota, a garota", diziam as pessoas. "Ele está certo. Foi a garota."
- O que você quer que façamos?
- O que eu quero que vocês façam? - disse Sam. - O que já deveriam ter feito. Ponham os dois para fora. - Ele se virou para a multidão. - Escutem, todos vocês! Os Vigias não vão dizer, mas eu digo. As bestas não podem nos proteger, não contra isso. Vamos colocá-los para fora agora mesmo!
E com isso uma primeira voz ecoou na multidão, depois outra e mais outra, formando um coro:
"Ponham os dois para fora! Ponham os dois para fora! Ponham os dois para fora!"
Era como se toda uma vida de preocupações tivesse transbordado de repente, pensou Peter. Na frente das pessoas, Ian balançava os braços, gritando e pedindo silêncio. A turba parecia estar à beira da violência, de algum ato terrível. Nada poderia impedi-los agora, toda a ordem aparente havia sido destruída.
Peter se virou para Alicia, mas ela havia sumido.
Então ele a viu. Tinha aberto caminho pela massa de pessoas. Com um salto ágil, Alicia subiu na mesa e girou para encarar a assembleia.
- Pessoal! - gritou ela. - Escutem!
Peter sentiu a multidão ficar tensa ao seu redor. Uma sensação de pânico circulou em suas veias. Lish, o que você está fazendo?
- A garota não é o motivo de eles estarem aqui - disse Alicia. - A culpa é minha.
Sam dirigiu a voz a ela.
- Desça, Lish! Isso não é da sua conta!
- Escutem, todos vocês. A culpa é minha. Não é a garota que eles querem. Sou eu. Fui eu quem incendiou a biblioteca. Foi o incêndio que começou tudo isso. A biblioteca era o ninho deles, e eu os atraí para cá. Se vão colocar alguém para fora, que seja eu. Eu sou o motivo de essas pessoas estarem mortas.
Milo Darrell foi o primeiro a se manifestar, saltando em direção à mesa. Não estava claro se ele pretendia atacar Alicia, Ian ou mesmo Walter; mas com essa provocação, uma onda de violência foi subitamente liberada sob a forma de empurrões, a multidão avançando, uma massa descontrolada impelida apenas por si mesma. A mesa foi derrubada. Peter viu Alicia tombar para trás e ser cercada pela turba. As pessoas gritavam enlouquecidas. Os que tinham filhos pareciam estar tentando sair dali, mas os outros queriam chegar mais perto da mesa. Peter só pensava em alcançar Alicia. Mas enquanto se esforçava para avançar, ele também foi dominado pela multidão que se comprimia. Sentiu os pés se enroscando - achou que estava pisando em alguém - e quando tropeçou notou que Jacob Curtis estava caído de joelhos, tentando proteger a cabeça com as mãos. Os dois se chocaram com um grunhido mútuo. Peter deu uma cambalhota por cima das costas largas do garoto, conseguiu se ajoelhar e foi empurrado para a frente, levantando-se em meio a uma massa de braços e pernas, lançando-se como um nadador em um mar de gente, empurrando corpos para os lados. Então algo o acertou - um golpe atrás da cabeça que pareceu um soco - e com a visão turva ele se virou, golpeando, e seu punho foi de encontro a um rosto barbudo, de testa larga, que só mais tarde ele reconheceu como sendo de Hodd Greenberg, pai de Sunny. A essa altura ele já se encontrava na frente da multidão. Alicia estava caída, e ele pôde vê-la por um instante entre as pessoas que a cercavam. Como Jacob, ela havia levado as mãos à cabeça, enroscando o corpo enquanto uma tempestade de mãos e pés caía sobre ela.
Peter não teve qualquer dúvida. Desembainhou a faca.
O que aconteceu depois, Peter não saberia dizer. Uma segunda explosão humana surgiu da direção do portão: a Vigilância. Ben, Galen, Dale Levine, Vivian Chou, Hollis Wilson e os outros. Empunhando as armas, o grupo formou rapidamente um cordão entre a mesa e a turba, e sua presença fez a multidão recuar.
- Vão para as suas casas! - gritou Ian.
Seu cabelo estava encharcado de sangue, que escorria pelo rosto até a gola da blusa de malha. As bochechas estavam vermelhas de fúria. Enquanto falava, pingos luminosos de saliva voavam de seus lábios. Ele apontou a besta para a multidão, girando-a de um lado para o outro, como se estivesse tentando decidir em quem atirar primeiro.
- A reunião está suspensa! Estou declarando lei marcial! Toque de recolher imediato!
A cena pareceu congelar em um silêncio áspero. A multidão havia se dispersado em volta de Alicia, deixando-a exposta. Enquanto Peter se ajoelhava ao seu lado, ela virou o rosto sujo para ele, os olhos arregalados.
Alicia murmurou uma única palavra:
- Vá.
Ele se levantou e recuou, misturando-se à multidão que se desfazia - alguns de pé, alguns ainda no chão, sendo levantados por outros. Todos estavam cobertos de terra, e Peter então percebeu que sua boca estava cheia de poeira. Walter Fisher permanecia sentado junto à mesa virada, as mãos na cabeça. Sam e Milo não estavam à vista: como Peter, haviam sumido.
Dois Vigias, Galen e Hollis, se aproximaram de Alicia e a levantaram. Ela não ofereceu resistência enquanto Ian tomava suas facas. Peter pôde ver que ela estava ferida, mas não sabia onde - o corpo dela parecia frouxo e rígido ao mesmo tempo, como se tentasse controlar a dor. Havia uma mancha de sangue em sua bochecha e outra no cotovelo. A trança tinha sido desfeita. A blusa estava rasgada, a manga aos farrapos. Ian e Galen a seguravam agora, um de cada lado, como uma prisioneira. Foi então que Peter entendeu: ao atrair a fúria da multidão para si mesma, Alicia a havia afastado da menina, ganhando algum tempo para eles. Ian precisaria colocá-la na cadeia, nem que fosse para manter o controle da multidão. Esteja preparado, disseram os olhos dela.
- Alicia Donadio - disse Ian, alto o suficiente para todos ouvirem. - Você está presa. A acusação é de traição.
- Ponham essa vaca para fora agora! - gritou alguém.
- Quietos! - Mas a voz de Ian estava fraca, trêmula. - Estou falando sério. Vão para casa agora. Os portões permanecerão fechados até segunda ordem. Quem for visto circulando será preso. A Vigilância está autorizada a atirar em qualquer um que esteja portando uma arma. Não pensem que não farei isso.
E enquanto Peter olhava, impotente, em um mundo que se tornara completamente estranho para ele, entre pessoas que achava que não conhecia mais, a Vigilância levou Alicia.
TRINTA E SETE
Tendo passado uma noite inquieta e uma manhã mais inquieta ainda na sala de aulas do segundo andar no Abrigo, em meio aos Pequenos - escutara a história dos acontecimentos terríveis da noite anterior através da Outra Sandy, cujo marido, Sam, viera vê-la ao nascer do sol -, Mausami Patal tinha tomado uma decisão.
A ideia lhe viera súbita e calmamente, nem se dera conta de que estava pensando nisso. Mas tinha acordado com a impressão nítida de que algo mudara dentro dela. A decisão surgira de modo simples, quase aritmético. Ela ia ter um bebê. O bebê era de Theo Jaxon. Já que o bebê era de Theo Jaxon, Theo não poderia estar morto.
Mausami iria encontrá-lo e lhe contaria sobre o bebê.
Sairia pouco antes do Toque da Manhã, na troca de turnos. Isso lhe daria a cobertura de que precisava e um dia inteiro de luz para descer a montanha a pé. De lá, decidiria o que fazer. O melhor lugar para sair seria junto ao recorte do Muro, onde a visão das plataformas era limitada. Assim que a Outra Sandy e os Pequenos tivessem ido dormir, ela se esgueiraria até o Armazém e se equiparia para a jornada: uma corda resistente para descer o Muro, comida e água, uma besta e uma faca, botas, uma muda de roupa e uma mochila para carregar tudo.
Com o toque de recolher, ninguém estaria pelas ruas. Ela se esgueiraria pelas sombras até o recorte e esperaria a chegada do alvorecer.
Enquanto concebia o plano, montando os detalhes em sua mente, Mausami pôde ver o que estava fazendo: estava encenando a própria morte. Na verdade vinha fazendo isso havia dias. Desde que a equipe de suprimentos retornara à Colônia, ela vinha manifestando todos os sintomas de perturbação mental - violando o toque de recolher, lamentando-se como uma louca, fazendo todos andarem de um lado para o outro preocupados com sua segurança. Não poderia ter arquitetado um plano mais convincente, nem se quisesse. Até aquela cena lacrimosa no Portão Principal, quando Lish a fizera deixar o posto, teria seu papel na narrativa que as pessoas construiriam para explicar seu desaparecimento. "Como pudemos deixar de ver que isso estava acontecendo?", diriam todos, balançando a cabeça e se lamentando. Ela dera todos os sinais. Porque de manhã, quando a Outra Sandy acordasse e descobrisse que a cama de Mausami estava vazia - talvez levando algumas horas para notar a estranheza desse fato, e informá-lo - e quando outros fossem procurá-la, a corda sobre o Muro seria descoberta. Uma corda com apenas um significado possível: um caminho para o nada e lugar nenhum. Não haveria outra conclusão: ela, a Vigia Mausami Patal Strauss, esposa de Galen Strauss, filha de Sanjay e Gloria Patal, descendente de uma Primeira Família, grávida e assustada, havia desistido de viver.
No entanto, o dia estava apenas começando. Ali estava ela, tricotando sapatinhos de bebê no Abrigo - não fizera praticamente nenhum progresso ouvindo a Outra Sandy tagarelar, tentando manter os Pequenos ocupados com jogos, histórias e músicas, enquanto a notícia da morte de Mausami era um fato em potencial - como uma flecha que, disparada do arco, seguia em direção ao alvo para revelar seu destino. Sentia-se um fantasma. Sentia como se já tivesse morrido. Pensou em visitar os pais pela última vez, mas o que poderia dizer? Como poderia se despedir sem dizer adeus? Havia Galen a considerar, mas depois da noite anterior ela não queria vê-lo nunca mais. Ele não fora para a usina, afinal, dissera a Outra Sandy, pensando estar lhe dando uma notícia boa. Galen estava entre os Vigias que tinham prendido Alicia. Mausami se perguntou se Galen seria a primeira, segunda ou terceira pessoa a quem contariam. Será que ele ficaria triste? Choraria? Será que, ao imaginá-la deslizando pelo Muro, ele se sentiria aliviado?
Suas mãos haviam parado de tricotar. Imaginou se poderia estar mesmo louca. Provavelmente estava. Seria preciso estar louca para acreditar que Theo não havia morrido. Mas não se importava.
Mausami pediu licença à Outra Sandy, que acenou distraidamente - ela havia aberto um espaço para os Pequenos se sentarem em roda e estava tentando acalmá-los para começar as lições do dia - e saiu pelo corredor, fechando a porta e deixando para trás as vozes das crianças. O silêncio agora parecia um ruído, e ela ficou algum tempo parada no corredor silencioso. Em momentos assim, era quase possível imaginar que o mundo não era o mundo - que existia algum outro mundo em que os virais não existiam, assim como não existiam para os Pequenos, que viviam em um sonho do passado. E provavelmente fora por isso que o Abrigo havia sido construído: para que ainda existisse um lugar assim. Seguiu pelo corredor, as sandálias estalando no linóleo rachado, passou pelas portas das salas vazias e desceu a escada. O cheiro de álcool ainda era forte o suficiente no Quarto Grande para trazer lágrimas aos olhos, no entanto, enquanto se acomodava com o tricô, Mausami soube que permaneceria ali pelo resto do dia. Ela ficaria sentada em silêncio e terminaria de tricotar os sapatinhos para levá-los.
TRINTA E OITO
e pedissem que ele apontasse o pior momento de sua vida, Michael Fisher não hesitaria em dar a resposta: quando as luzes se apagaram.
Michael tinha acabado de jogar o rolo para fora da passarela quando aconteceu: um mergulho na escuridão tão absoluto, tão devorador em seu vazio tridimensional, que por um momento seu coração pareceu parar e ele se perguntou se não teria, sem perceber, caído junto com o cabo, se aquela não seria a escuridão da morte. Mas então escutou a voz de Kip Darrell: "Sinal! Temos sinal! Puta que o pariu, eles estão em toda parte!", e em seu cérebro disparou a informação de que não somente estava vivo, mas que as luzes, de fato, haviam se apagado.
As luzes estavam apagadas!
O fato de ter conseguido voltar pela passarela e descer a escada em uma corrida louca, na escuridão absoluta, era um feito que, em retrospecto, parecia totalmente incrível. Michael pulou do meio da escada, a bolsa de ferramentas balançando, os joelhos dobrados para absorver o impacto, e correu para a Casa de Força.
- Élton! - gritava ele enquanto virava derrapando a esquina, subia pela varanda e passava a toda a velocidade pela porta. - Élton, acorde!
Esperava encontrar o sistema desligado, mas quando chegou ao painel - ao mesmo tempo que Élton vinha cambaleando para a sala pelo outro lado, como um grande cavalo cego - e viu o brilho nos monitores e todos os medidores no verde, congelou.
Por que, diabos, as luzes haviam apagado?
Correu para o outro lado da sala e encontrou o problema. O disjuntor principal estava desarmado. Só precisou armá-lo novamente e as luzes se acenderam de novo.
Michael fez seu relato a Ian assim que o dia clareou. A história do pico de energia foi a melhor que pôde inventar para mantê-lo fora da Casa de Força. E supunha que um pico realmente poderia ter causado o apagão, se bem que algo assim teria sido registrado pelo sistema, e não havia nada no arquivo. O problema poderia ter sido um curto em algum lugar, mas se isso fosse verdade, o disjuntor não teria aguentado: o circuito se interromperia de novo no momento em que ele movesse o interruptor. Tinha passado a manhã verificando cada conexão, ajustando e reajustando as válvulas, carregando os capacitores. Simplesmente não havia nada de errado.
"Alguém esteve aqui?", perguntou a Élton. "Você ouviu alguma coisa?" Mas Élton apenas balançou a cabeça. "Eu estava dormindo, Michael. Estava dormindo como uma pedra nos fundos. Não ouvi nada até você entrar gritando."
Já passava do meio-dia quando ele conseguiu se recompor o suficiente para voltar a trabalhar no rádio. Com toda a agitação, quase havia se esquecido disso, mas quando saiu da Casa de Força procurando o rolo de cabo que havia largado na noite anterior e o encontrou intacto na terra, o fio comprido subindo até o topo do Muro, ficou mais convencido do que nunca da importância daquele empreendimento. Prendeu o cabo ao fio de cobre que tinha deixado no lugar, voltou à Casa de Força, pegou o diário na prateleira para verificar a frequência e pôs os fones no ouvido.
Duas horas depois, com o rosto iluminado pela adrenalina e o cabelo e a blusa encharcados de suor, encontrou Peter no alojamento. Peter estava sentado na cama, girando a ponta de uma faca sobre o indicador. Não havia mais ninguém no cômodo e, ao som da entrada de Michael, Peter ergueu os olhos apenas com um leve interesse. Parecia que algo horrível havia acontecido, pensou Michael.
Como se ele quisesse usar a faca, mas não pudesse decidir em quem. E, pensando bem, onde estava todo mundo? A Colônia não estava imersa em um silêncio assustador? Ninguém havia lhe dito nada.
- O que foi? - perguntou Peter e retomou os giros melancólicos. - Porque, o que quer que seja, espero que seja uma boa notícia.
- Peter - disse Michael, lutando para pôr as palavras para fora. - Você precisa ouvir isso.
- Michael, você faz alguma ideia do que está acontecendo nesse lugar? O que é que eu preciso ouvir?
- Amy - disse ele. - Você precisa ouvir Amy.
TRINTA E nove
Na Casa de Força, Michael ocupou uma cadeira diante do terminal. Os pedaços do objeto que tinham retirado do pescoço da garota estavam sobre uma almofada de couro ao lado do monitor.
- A fonte de energia é interessante. Muito interessante - disse Michael, usando uma pinça para levantar uma minúscula cápsula de metal de dentro do transmissor. - É uma bateria, mas não se parece com nada que eu tenha visto antes. Levando em conta o tempo de funcionamento, acho que é nuclear.
Peter levou um susto.
- Isso não é perigoso?
- Pelo visto, não era perigoso para ela. E está dentro dela há muito tempo.
- Muito tempo, quanto? - disse Peter, olhando para o amigo, cujo rosto brilhava de empolgação e até agora só tinha dado respostas vagas às suas perguntas. - Alguns meses? Um ano? Dois?
Michael riu misteriosamente.
- Você não sabe nem a metade. Espere só um minuto.
Ele direcionou novamente a atenção de Peter para o objeto na bancada, usando a pinça para mostrar as partes.
- Aqui temos um transmissor, uma bateria e... o resto. Minha primeira suposição foi de que isso seria um chip de memória, mas era pequeno demais para se encaixar em qualquer uma das portas do computador, por isso tive de soldá-lo. - Apertando algumas teclas, Michael trouxe uma página de informações à tela. - O conteúdo do chip está dividido em duas partições, uma muito menor que a outra. Você está vendo a primeira.
Peter viu uma única linha de texto, um aglomerado de letras e números.
- Não consigo ler isso - confessou.
- É porque os espaços foram retirados. Por algum motivo, uma parte do texto está fora do lugar, também. Acho que um dos setores do chip deve estar comprometido. Talvez tenha acontecido alguma coisa quando o soldei à placa. De qualquer modo, parece que uma boa parte do texto sumiu. Mas o que há aqui já diz muita coisa.
Michael abriu uma segunda tela. Peter viu as mesmas figuras, mas os números e as letras haviam se reorganizado.
AMY, SD
COB 13
PROJ NOÉ
I PESQ MED EX EUA
S: F P: 23K
- Amy, SD. - Peter levantou os olhos da tela. - Amy?
Michael assentiu.
- É a nossa garota. Não sei exatamente o que quer dizer "SD", mas acho que significa "sobrenome desconhecido". Depois eu falo sobre os itens do meio, mas a última linha é bastante clara. Sexo: feminino. Peso: 23kg. É mais ou menos quanto pesa uma criança de uns 5 ou 6 anos. Por isso acho que ela devia ter mais ou menos essa idade quando o transmissor foi inserido em seu pescoço.
Aquilo parecia estranho para Peter, no entanto Michael falava com tanta convicção que ele teve de aceitar as palavras do amigo.
- Então ele ficou lá, digamos, uns 10 anos?
- Bem - disse Michael, ainda sorrindo -, não exatamente. É melhor irmos por partes, ainda tenho muito para mostrar. Não vamos precipitar as coisas. Isso foi tudo o que consegui descobrir na primeira partição, e não é muito, além de não ser a parte mais interessante. A segunda partição é onde a coisa começa a ficar boa. Quase 16 terabytes, ou seja, 16 trilhões de bytes de dados.
Apertou outra tecla. Densas colunas de números começaram a correr pela tela.
- Incrível, não? A princípio achei que era algum tipo de criptografia, mas não é.
Está tudo aí, só que os números estão todos aglomerados, sem espaços, como na primeira partição.
Michael fez alguma coisa para congelar o fluxo de colunas e encostou o dedo no monitor.
- A chave era este número aqui, o primeiro da sequência, repetido diversas vezes coluna abaixo.
Peter se aproximou da tela.
- Que número, 370?
- Quase. Na verdade, 37,0. Lembra alguma coisa?
Peter balançou cabeça.
- Não.
- Trinta e sete Celsius é a temperatura normal de um ser humano. Agora olhe o resto da linha. O 72 provavelmente se refere ao número de batimentos cardíacos. Depois vêm a respiração e a pressão arterial. Acho que o resto tem a ver com atividade cerebral, função renal, esse tipo de coisa. Sara provavelmente entenderia esses dados melhor do que eu. Isso ficou mais claro quando eu encontrei novamente o primeiro número e vi que ali a sequência recomeçava. Acho que se trata de uma espécie de monitor fisiológico que transmitia dados para um computador central. Imagino que ela tenha sido algum tipo de paciente.
- Paciente? Como na Enfermaria? - Peter franziu a testa. - Ninguém teria condições de fazer isso.
- Ninguém teria condições hoje. E é aí que a história fica ainda mais interessante. No total, há 545.406 sequências no chip. O transmissor foi programado para registrar os dados a cada 90 minutos. O resto é só uma questão de aritmética. Dezesseis ciclos por dia, 365 dias por ano.
Peter se sentiu como se estivesse tentando tomar um gole d'água em uma mangueira de alta pressão.
- Desculpe, Michael. Não estou entendendo.
Michael se virou para ele.
- Estou dizendo que esse objeto no pescoço da menina esteve medindo a temperatura dela a cada 90 minutos durante pouco mais de 93 anos. Para ser mais exato, 93 anos, quatro meses e 21 dias. Amy Sobrenome Desconhecido tem aproximadamente 100 anos.
Quando sua mente conseguiu focalizar de novo o rosto de Michael, Peter percebeu que havia despencado em uma cadeira.
- É impossível.
Michael deu de ombros.
- Certo. Mas também é impossível explicar isso de outra forma. Você se lembra da primeira partição? Daquela sequência, IPESQ MED EX EUA? Eu a reconheci imediatamente: Instituto de Pesquisas Médicas do Exército dos Estados Unidos. No barracão há um monte de coisas deles, documentos sobre a epidemia, toneladas de material técnico.
Ele se virou na cadeira e direcionou a atenção de Peter para o topo da tela.
- Está vendo isso aqui? Essa longa sequência de números na primeira linha? É a assinatura digital do computador principal.
- Como assim?
- Pense nisso como o endereço do sistema que esse pequeno transmissor está procurando. Pode parecer apenas algo ininteligível, mas, se você olhar bem, verá que os números revelam mais. O transmissor tinha que estar vinculado a algum tipo de sistema de localização, provavelmente conectado a um satélite. Antiga tecnologia militar. Na verdade, o que você está vendo são coordenadas numa grade, e não é nada muito complicado. Trata-se apenas de latitude e longitude: 37°56norte e 107°49oeste. Com isso, basta darmos uma olhada no mapa...
Michael começou a digitar rapidamente e uma nova imagem surgiu na tela. Peter demorou um momento para entender o que estava vendo: um mapa do continente norte-americano.
- Agora é só digitar as coordenadas, assim...
Uma grade de linhas pretas apareceu sobre o mapa, dividindo-o em quadrantes. Michael levantou um dos dedos do teclado e, com um floreio, apertou o ENTER. Um ponto amarelo brilhante apareceu.
- E aí está. Sudoeste do Colorado. Uma cidade chamada Telluride.
O nome não significava nada para Peter.
- E daí?
- Colorado, Peter. O coração da ZCQ.
- O que é ZCQ?
Michael suspirou com impaciência.
- Você realmente precisa estudar um pouco de história. A Zona Central de Quarentena. Foi onde a epidemia começou. Todos os primeiros virais vieram do Colorado.
Peter se sentiu como se estivesse sendo arrastado por um cavalo.
- Espere um segundo, Michael. Está querendo dizer que ela veio de lá?
Michael assentiu.
- Basicamente, sim. O transmissor é de curto alcance, por isso ela teria de estar relativamente perto do computador principal quando o colocaram. A questão é por quê.
- Como se eu soubesse...
Michael examinou o rosto de Peter por um longo momento.
- Deixe-me perguntar uma coisa. Você já parou para pensar no que os virais são? Não somente o que eles fazem, Peter, mas o que são.
- Seres sem alma?
Michael assentiu.
- Certo, é o que todo mundo diz. Mas e se houver mais? Essa garota, Amy, não é um viral. Se fosse, estaríamos todos mortos a essa altura. Mas você viu o modo como ela se regenera, e ela sobreviveu lá fora. Você mesmo disse: ela protegeu você. E como explica o fato de ela ter quase 100 anos e não aparentar mais do que... sei lá... 14? O Exército fez alguma coisa com ela. Não sei como, mas fez. O transmissor estava utilizando uma frequência militar. Talvez ela tenha sido infectada e eles tenham feito alguma coisa que a tornou normal de novo.
Michael fez uma pausa, os olhos fixos no rosto de Peter.
- Talvez ela seja a cura.
- Isso já é... ir um passo além.
- Não tenho tanta certeza.
Michael se levantou da cadeira para tirar um livro da prateleira acima do terminal.
- Por isso examinei o velho diário para ver se algum dia tínhamos captado algum sinal daquelas coordenadas. Era só uma intuição. E acertei na mosca. Há 80 anos captamos um sinal do mesmo lugar. A transmissão foi feita em código Morse numa antiga frequência militar de emergência. O conteúdo da mensagem está registrado aqui.
Michael abriu o caderno na página marcada e o colocou no colo de Peter, apontando para as palavras.
Se você encontrou a menina, traga-a para cá.
- Agora é que vem a melhor parte - continuou Michael. - O sistema ainda está transmitindo. Foi por isso que demorei tanto. Tive de esticar um cabo até o topo do Muro para conseguir um sinal decente.
Peter ergueu os olhos do caderno. Michael olhava para ele com expectativa.
- Transmitindo o quê?
- A mesma mensagem. Se você encontrou a menina, traga-a para cá.
Peter se sentia zonzo.
- Como pode ainda estar transmitindo?
- Porque há alguém lá, Peter. Não entendeu? - Michael deu um sorriso vitorioso. - Noventa e três anos. Esse é o ano zero, o início do surto. É o que estou dizendo. Há 93 anos, na primavera do ano zero, em Telluride, no Colorado, alguém pôs um transmissor movido a energia nuclear no pescoço de uma garota de 6 anos. Que ainda está viva, lá na Enfermaria, como se tivesse vindo diretamente do Tempo de Antes. E, por 93 anos, quem quer que tenha feito isso com ela vem pedindo que a levem de volta.
QUARENTA
Era quase meia-noite e não havia ninguém à vista: todos, com exceção dos Vigias, estavam dentro de casa por causa do toque de recolher. Tudo parecia calmo no Muro. Durante a tarde, Peter fizera o melhor possível para lidar com a situação. Não havia se apresentado para o serviço e ninguém fora atrás dele, mas provavelmente não teriam pensado em procurá-lo na Casa de Força ou no trailer da FEMA, de onde ele ficara vigiando a cadeia. Com a chegada da noite e a Vigilância tão reduzida, Ian havia posicionado apenas um guarda ali, Galen Strauss. Mas Peter duvidava que Sam e os outros fossem tentar alguma coisa antes do amanhecer. Até lá, planejava estar longe.
A Enfermaria estava sendo guardada por dois Vigias, um na frente e outro nos fundos. Dale fora transferido para o Muro, de modo que Peter não teria como entrar, mas Sara ainda era livre para ir e vir. Ele havia se escondido nos arbustos junto ao muro do pátio, esperando que ela aparecesse. Depois de um bom tempo, a porta finalmente se abriu e ela surgiu na varanda. Sara falou brevemente com o Vigia de plantão, Ben Chou, antes de descer a escada e seguir pelo caminho. Provavelmente estava indo para casa comer alguma coisa. Peter a seguiu, mantendo alguma distância, e, quando teve certeza de que não podiam mais ser vistos, se aproximou rapidamente.
- Venha comigo agora - disse.
Ele levou Sara até a Casa de Força, onde Michael e Élton estavam esperando. Michael contou a Sara o mesmo que contara a Peter. Quando chegou à parte sobre o sinal e mostrou a ela o diário com a mensagem da transmissão, Sara o pegou de suas mãos e o examinou.
- Certo.
Michael franziu a testa.
- Como assim, "certo"?
- Michael, não é que eu duvide. Eu confio em você. Mas o que acha que devemos fazer com essa informação? O Colorado fica a... quem sabe? Mil quilômetros daqui?
- Cerca de 1.600 - respondeu Michael.
- Então como vamos chegar até lá?
Michael fez uma pausa. Olhou para Élton, que estava do outro lado de sua irmã. Élton assentiu.
- O verdadeiro problema é o que vai acontecer se não formos.
E foi então que contou a eles sobre as baterias.
Peter recebeu a notícia com um estranho distanciamento, um sentimento de inevitabilidade. É claro que as baterias estavam falhando, vinham falhando fazia muito tempo. Ele sentira isso em todos os acontecimentos recentes, sentira em seu âmago, como se conhecesse a verdade desde sempre. Como a garota. Essa garota, Amy, a Garota de Lugar Nenhum. O fato de ela ter chegado quando as baterias estavam prestes a falhar era mais do que coincidência. Tudo o que lhes restava era agirem com base nisso.
Percebeu que todos estavam calados havia algum tempo.
- Quem mais sabe? - perguntou ele a Michael.
- Só nós - ele hesitou - e seu irmão.
- Você contou a Theo?
Michael assentiu.
- Depois me arrependi. Foi ele quem me pediu para não dizer a ninguém. E eu não tinha dito, até agora.
Claro, pensou Peter. Claro que Theo sabia.
- Acho que ele não queria que as pessoas ficassem com medo, já que não havia nada que pudéssemos fazer - explicou Michael.
- Mas agora você acha que há.
Michael parou para esfregar os olhos com as pontas dos dedos. Peter podia ver que as longas horas que ele passara acordado pesavam sobre o seu rosto. Nenhum deles tinha dormido nada.
- Você sabe o que eu faria, Peter. O mais provável é que o sinal esteja sendo transmitido automaticamente. Mas se o Exército ainda estiver lá, não vejo como podemos ficar aqui parados sem fazer nada. Se ela fez o que você disse lá no shopping, talvez possa nos proteger.
Peter se virou para Sara. Depois do que Michael havia contado, ficou surpreso ao encontrá-la tão calma, o rosto sem revelar qualquer emoção. Mas ela era enfermeira, e Peter conhecia aquela atitude.
- Sara, você não disse nada.
- O que vocês querem que eu diga?
- Você ficou com ela todo esse tempo. O que acha que ela é?
Sara deu um suspiro cansado.
- Só sei o que ela não é. Não é um viral, isso é óbvio. Mas também não é um ser humano comum. Principalmente pelo modo como se regenera.
- Existe alguma coisa que a impeça de falar?
- Nada que eu possa ver. Se ela é tão velha quanto Michael diz, talvez tenha se esquecido de como.
- E ninguém foi vê-la.
- Não desde ontem. - Ela hesitou. - Acho que todos estão... com um pouco de medo dela.
- E você?
Sara franziu a testa.
- Por que eu teria medo dela, Peter?
Peter não soube responder. A pergunta parecera estranha no momento era que saíra dos seus lábios.
Sara se levantou.
- Preciso voltar. Ben vai começar a estranhar minha demora.
Ela pôs a mão no ombro de Michael.
- Tente descansar um pouco. Você também, Élton. Vocês dois estão um horror.
Ela já estava quase na porta quando parou e se virou para Peter.
- Vocês não estão falando sério, estão? Sobre ir até o Colorado.
A pergunta era bastante direta. Afinal, tudo o que haviam dito apontava para essa conclusão. Peter sentiu algo parecido com o que sentira do lado de fora da biblioteca, quando Theo lhe perguntara qual era seu voto.
- Porque, se estão - disse Sara pelo jeito como as coisas têm andado, eu não esperaria muito para tirá-la daqui.
E então ela se foi.
Na ausência de Sara, um silêncio profundo se instalou. Peter sabia que ela estava certa. No entanto, sua mente não conseguia captar a dimensão dos acontecimentos que se passavam ao seu redor: a garota, Amy, e a voz dela em sua cabeça dizendo que a mãe sentia sua falta; as baterias falhando, fato do qual Theo tinha pleno conhecimento; o sinal captado pelo rádio de Michael, como uma mensagem que houvesse cruzado não somente o espaço, mas também o tempo, vindo do passado para falar com eles. Tudo isso parecia ser parte do mesmo quebra-cabeça, no entanto a imagem final lhe fugia ao entendimento, como se uma peça essencial estivesse faltando.
Peter olhou para Élton. O velho não tinha dito uma palavra, talvez ele tivesse pegado no sono. -Élton? - Hum?
- Você está muito quieto.
- Não tenho nada a dizer - respondeu ele, os olhos vazios virando-se para cima. - Você sabe com quem precisa falar. Vocês, os Jaxon, são todos iguais. Não preciso dizer.
Peter se levantou.
- Aonde você vai? - perguntou Michael.
- Buscar a resposta.
Sanjay Patal não conseguia dormir. Deitado na cama, não podia nem ao menos fechar os olhos.
Era a garota. Essa Garota de Lugar Nenhum. Ela havia penetrado nele de algum jeito, em sua mente. A garota estava lá, com Babcock e os Outros. Que Outros? Por que estava pensando nos Outros? E era como se ele agora fosse outra pessoa, uma pessoa nova e estranha para si mesmo. Ele havia desejado... o quê? Um pouco de paz. Um pouco de ordem. Havia desejado acabar com o sentimento de que nada era o que parecia, que o mundo não era o mundo. O que Jimmy tinha dito sobre os olhos da garota? Mas os olhos dela estavam fechados, Sanjay vira isso claramente. Seus olhos estavam fechados, ela jamais os abrira. Aqueles olhos estavam dentro dele, como se ele visse tudo de dois ângulos ao mesmo tempo, de dentro e de fora, Sanjay e não Sanjay, e o que ele via era uma corda.
Por que estava pensando em uma corda?
Tinha pensado em encontrar o Velho Chou. Por isso havia saído de casa na noite anterior, deixando Gloria dormindo na cozinha. Fora a necessidade de encontrar o Velho Chou que o tirara da cama, impulsionando-o a descer a escada e sair pela porta. As luzes, lembrou Sanjay. Assim que pisara no pátio elas explodiram em seus olhos como uma bomba, a claridade inundando as retinas, rasgando-lhe a mente com uma dor que não era uma dor, propriamente, mas sim uma lembrança da dor, lavando-o de qualquer pensamento sobre o Velho Chou, o Armazém ou o que pretendera fazer lá. O que ele fizera em seguida parecia ter sido alheio à própria vontade. As imagens em sua memória não tinham qualquer coerência, como um baralho espalhado no chão. Foi Gloria que o encontrou depois, deitado no chão junto aos arbustos no jardim da casa, gemendo como uma criança. "Sanjay", chamou ela, "o que você fez? O que você fez, o que você fez?" Ele não soube responder - àquela altura, honestamente não fazia ideia -, mas pelo rosto e pela voz da mulher, soube que tinha sido algo horrível, impensável, como se tivesse matado alguém, e a deixara levá-lo de volta para a cama. Só quando o sol estava nascendo ele se lembrou do que havia feito.
Estava ficando louco.
Assim o dia passou. Somente mantendo-se acordado - não meramente acordado, mas deitado, completamente imóvel, usando toda a força de vontade que tinha - ele acreditava ser capaz de restaurar um pouco de coerência à sua mente perturbada e evitar uma repetição dos acontecimentos da noite anterior. Esta era sua nova vigília. Durante algum tempo, pouco depois do amanhecer e também mais tarde, quando o sol estava se pondo, Sanjay ouvira as vozes de Ian, Ben e Gloria no andar de baixo (ele se perguntou o que teria acontecido com Jimmy). Mas isso também havia terminado. Era como se estivesse numa espécie de bolha, como se tudo se desdobrasse à distância, fora de seu alcance. Às vezes percebia a presença de Gloria no quarto, seu rosto preocupado pairando acima dele, fazendo perguntas que ele não podia responder. "Devo contar a eles sobre as armas, Sanjay? Devo? Não sei o que fazer. Por que não fala comigo, Sanjay?" Mas ele não se atrevia a dizer nada. Até mesmo falar seria perigoso.
Agora ela se fora. Gloria se fora, Mausami se fora, todos se foram. Sua Mausami. Era a imagem dela que ele tinha na mente agora - não a mulher adulta que ela havia se tornado, mas o bebezinho de antes, a minúscula trouxa de vida que Prudence Jaxon havia posto em seus braços -, e à medida que essa imagem foi sumindo, Sanjay fechou os olhos. Por fim escutou a voz, a voz de Babcock vindo da escuridão.
Sanjay. Seja meu.
Agora estava na cozinha. A cozinha do Tempo de Antes. Parte dele dizia: você fechou os olhos, Sanjay. Você não deve fechar os olhos em hipótese alguma. Mas era tarde demais, estava sonhando de novo, o sonho da mulher, com o telefone e a boca cheia de fumaça, gargalhando, e depois a faca; a faca estava em sua mão. Uma grande faca de cabo pesado que ele usaria para cortar as palavras, as palavras que gargalhavam, a garganta dela. E a voz cresceu dentro dele, vindo da escuridão.
Traga-os para mim, Sanjay. Traga-os um por um. Traga-os para mim e você viverá deste modo e de nenhum outro.
A mulher estava sentada à mesa, o rosto gordo olhando para ele, a fumaça saindo dos lábios como minúsculas nuvens cinza. "O que você está fazendo com essa faca, hein? É para me meter medo?"
Faça isso. Mate-a. Mate-a e fique livre.
Sanjay pulou sobre a mulher e baixou violentamente a faca, empurrando-a contra ela com toda a força.
Mas algo estava errado. A faca estava parada, seu brilho reluzente congelado no meio do mergulho. Alguma força havia entrado no sonho e prendido sua mão. A mulher dava gargalhadas. Ele lutava e empurrava, esforçando-se para baixar a faca, mas não adiantava. A fumaça brotava da boca da mulher e ela ria dele, ria, ria, ria...
Acordou estremecendo. Seu coração saltava no peito. Cada nervo do seu corpo parecia disparar ao mesmo tempo. Sentiu que seu coração ia explodir.
- Sanjay? - Gloria havia entrado no quarto com um lampião. - Sanjay, o que houve?
- Chame o Jimmy!
O rosto dela, quase colado ao seu, estava contorcido de medo.
- Ele morreu, Sanjay. Não se lembra? Jimmy está morto!
Sanjay jogou as cobertas para longe e agora estava de pé, no meio do quarto, uma força selvagem correndo em suas veias. Este mundo, com suas coisinhas. Esta cama, esta penteadeira, esta mulher chamada Gloria, sua esposa. O que ele estava fazendo? Aonde queria ir? Por que estivera chamando Jimmy? Mas Jimmy estava morto. O Velho Chou estava morto. Walter Fisher, Soo Ramirez, o Coronel, Theo Jaxon, Gloria, Mausami e até ele próprio - todos estavam mortos! Porque o mundo não era o mundo, essa era a terrível verdade que tinha descoberto. Era um mundo sonhado - um véu de luz, som e matéria atrás do qual o mundo verdadeiro se escondia. Andarilhos em um sonho de morte, era o que eles eram, e a sonhadora era a Garota, a Garota de Lugar Nenhum. O mundo era um sonho e ela estava sonhando todos eles!
- Gloria - grasnou Sanjay -, me ajude.
Um lampião ainda estava aceso na cozinha de Titia, derramando feixes de luz amarela no chão. Peter bateu à porta primeiro, depois entrou em silêncio.
Encontrou a velha sentada à mesa da cozinha. Titia não estava escrevendo nem tomando chá e ergueu o rosto na direção de Peter quando ele entrou, levando a mão ao emaranhado de óculos pendurados no pescoço. O par correto encontrou seu rosto.
- Peter. Tinha certeza de que você viria.
Ele se sentou diante dela.
- Como sabia sobre ela, Titia?
- Sobre quem?
- A senhora sabe, Titia. Por favor.
Ela sorriu.
- Está falando da Andarilha? Ah, alguém deve ter vindo até aqui e me contado. Acho que foi aquele tal de Molyneau.
- Estou falando de duas noites atrás. A senhora disse que ela viria. Que eu sabia quem ela era.
- Eu disse isso?
- Sim, Titia. Disse.
A velha franziu a testa.
- Não posso imaginar o que estava na minha cabeça. Há duas noites, você disse?
Peter suspirou, exasperado.
- Titia...
Ela levantou a mão para silenciá-lo.
- Está bem, não precisa ficar nervoso. Eu só estava me divertindo um pouco. Não fazia isso há tanto tempo que não pude resistir. Os jovens de hoje não sabem mais se divertir. - Ela o encarou sem piscar. - Então me diga uma coisa, antes que eu dê minha opinião. O que você acha que ela é? Essa garota?
- Amy.
- Não sei o nome dela. Se quer chamá-la de Amy, vá em frente.
- Não sei, Titia.
Os olhos dela se arregalaram de repente.
- Claro que não sabe!
Ela deu um risinho, depois teve um acesso de tosse. Peter se levantou para oferecer ajuda, mas ela a recusou com um aceno.
- Ande, sente-se - grasnou ela. - Minha voz só está enferrujada, só isso.
Ela demorou um instante para se acomodar, pigarreando.
- Você terá que descobrir isso sozinho. Todo mundo tem uma missão na vida, e essa é a sua.
- Michael diz que ela tem 100 anos.
A velha assentiu.
- Então é melhor ter cuidado. Uma mulher mais velha. Cuidado para que essa tal de Amy não fique mandando em você.
Ele não estava chegando a lugar nenhum. Conversar com a Titia sempre fora um desafio, mas ele nunca a vira assim, tão misteriosa. Ela nem havia lhe oferecido chá.
- Titia, naquela noite a senhora disse outra coisa - pressionou ele. - Algo sobre termos uma esperança.
- Pode ser. Parece algo que eu teria dito.
- Amy é essa esperança?
Os lábios pálidos da velha se franziram.
- Eu diria que depende.
- De quê?
- De você. - Antes que Peter pudesse falar, a mulher continuou: - Ah, não fique me olhando assim, todo acabrunhado desse jeito. Sentir-se perdido faz parte da vida. - Titia se afastou da mesa e se levantou rigidamente. - Venha comigo. Quero lhe mostrar uma coisa. Talvez isso o ajude a tomar uma decisão.
Ele a acompanhou pelo corredor até o quarto. Como o restante da casa, o espaço era atulhado mas limpo, tudo parecendo ter seu lugar. Uma velha cama estava encostada à parede, com um colchão de palha bastante afundado e, ao lado, uma cadeira com um lampião. Peter viu que a parte de cima da cômoda, o único outro móvel do quarto, estava coberta de objetos aparentemente escolhidos de forma aleatória: uma velha garrafa de vidro com o nome Coca-Cola escrito em letras elaboradas e desbotadas; uma latinha de metal que, quando chacoalhada, fazia um som que sugeria alfinetes; o maxilar de um pequeno animal; pedras lisas e achatadas empilhadas em forma de pirâmide.
- São minhas coisinhas - disse Titia.
Agora que a velha estava de pé ao seu lado no quarto atulhado, Peter viu como ela era pequena, o topo da cabeça branca mal chegando à altura dos seus ombros.
- E como minha mãe sempre dizia: "Mantenha suas coisinhas sempre por perto." - Ela apontou na direção da cômoda. - Não me lembro de onde a maioria dessas coisas veio, a não ser a foto, é claro. Eu a trouxe comigo no trem.
A fotografia estava no centro da cômoda. Peter pegou a foto e a virou em direção à luz dos holofotes que penetrava pela janela. Era pequena demais para a moldura, que estava toda manchada e amassada; Peter supôs que a moldura tivesse chegado depois. Duas figuras estavam de pé em um pequeno lance de degraus em frente à porta de uma casa de tijolos, o homem atrás e acima da mulher, os braços envolvendo a cintura dela enquanto ela apoiava o peso nele. Estavam com roupas de inverno: casacos grossos. No primeiro plano, Peter podia ver uma camada de neve na calçada. As cores tinham sido desbotadas pelos anos, de modo que a imagem era de um castanho amarelado, mas dava para perceber que os dois tinham pele escura, como Titia, e o cabelo dos Jaxon; o da mulher era quase tão curto quanto o do marido. Ela usava um longo cachecol e estava sorrindo diretamente para a câmera. O homem olhava para o lado com uma expressão que parecia uma gargalhada - uma gargalhada que a câmera havia interrompido. Era uma imagem marcante, cheia de esperanças e promessas, e Peter sentiu, na expressão do homem, no sorriso da mulher e no modo como os braços dele a envolviam, apertando-a contra o corpo, a presença de um segredo que os dois compartilhavam; e então, à medida que seus olhos focalizavam mais detalhes - as curvas amplas no corpo da mulher e o volume embaixo do casaco dela -, ele percebeu qual era o segredo. Não era uma foto de duas pessoas, mas de três: a mulher estava grávida.
- Monroe e Anita - disse Titia. - Eram os nomes deles. Essa era a nossa casa, na West Laveer, no 2.121.
Peter tocou o vidro sobre a barriga da mulher.
- Essa aqui embaixo do casaco era a senhora, não era?
- É claro que era eu. Quem você achou que fosse?
Peter colocou a foto de volta na cômoda. Desejou ter algo assim, algo que o ajudasse a lembrar os pais. Com Theo era diferente: ainda podia ver o rosto do irmão e ouvir sua voz, e quando pensava em Theo agora, a imagem que lhe vinha à mente era do tempo que tinham passado juntos na usina elétrica, no dia antes de saírem. Os olhos cansados e preocupados de Theo quando se sentou na cama de Peter para examinar seu tornozelo, e depois, quando levantou o olhar, com um sorriso de expectativa e desafio. O inchaço diminuiu. Acha que consegue cavalgar? Mas Peter sabia que, com o tempo, em apenas alguns meses, essa lembrança se desbotaria como todas as outras - como as cores da foto de Titia. Primeiro sumiria o som da voz de Theo, e depois a própria imagem, os detalhes se dissolvendo, transformando-se em estática visual, até que tudo o que restaria seria um espaço vazio onde seu irmão estivera.
- Eu sei que está aqui embaixo, em algum lugar - disse Titia.
Ela havia se ajoelhado, levantando a colcha para olhar embaixo da cama. Com um grunhido, enfiou a mão e puxou uma caixa, deslizando-a no chão.
- Ajude-me a levantar, Peter.
Ele a segurou pelo cotovelo, ajudando a velha a ficar de pé, depois pegou a caixa no chão. Era uma caixa de sapatos comum, com uma tampa.
- Vamos, abra.
Titia estava sentada na beira da cama, os pés descalços pendendo como os de um Pequeno, roçando o chão.
Peter abriu a caixa, que estava cheia de papéis dobrados. Mas não eram somente papéis. Eram mapas.
A caixa estava cheia de mapas.
Tirou o primeiro com cuidado. Estava gasto e amassado, tão quebradiço nas dobras que ele temeu que o papel se dissolvesse em suas mãos. No topo, Peter leu BACIA DE LOS ANGELES E SUL DA CALIFÓRNIA.
- Os mapas que meu pai usava nas Longas Cavalgadas.
Tirou os outros cuidadosamente, colocando um por um em cima da cômoda. FLORESTA NACIONAL DE SAN BERNARDINO; GUIA DE RUAS DE LAS VEGAS; SUL DE NEVADA E ARREDORES; Long Beach, SAN PEDRO E PORTO DE LOS ANGELES; REGIÃO DO DESERTO DA CALIFÓRNIA; RESERVA NACIONAL DO MOJAVE. E, no fundo, com as bordas espremidas contra as laterais da caixa, um último mapa: AGÊNCIA FEDERAL DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS, MAPA DA ZONA CENTRAL DE QUARENTENA.
- Não estou entendendo - disse ele. - Onde a senhora conseguiu isso?
- Sua mãe os trouxe para mim. Antes de morrer.
Titia continuava olhando para ele da cama, as mãos pousadas no colo.
- Aquela mulher conhecia você melhor do que você mesmo. "Ele precisa encontrar isso quando estiver pronto", ela disse.
Uma tristeza familiar o dominou.
- Desculpe, Titia - disse depois de um momento. - A senhora se enganou. Ela devia estar falando de Theo.
Mas ela balançou a cabeça.
- Não, Peter - respondeu, dando um sorriso desdentado.
A nuvem vaporosa de cabelos brancos, iluminados por trás pela luz da janela, parecia reluzir em volta do rosto de Titia: um halo de cabelos e luz.
- Ela estava falando de você, Peter. Ela me pediu que os entregasse a você.
Mais tarde Peter pensaria em como tudo fora estranho. Como, parado no silêncio do quarto de Titia, em meio às coisas do passado dela, sentira o tempo se abrir à sua frente feito páginas de um livro. Pensou nas horas finais de sua mãe - nas mãos dela, no calor abafado do quarto onde Peter havia cuidado dela, em sua súbita luta para respirar e nas últimas palavras que lhe dissera, implorando.
Cuide do seu irmão, Theo. Ele não é forte como você. A intenção dela parecera tão clara! No entanto, naquele momento, a lembrança começou a mudar, as palavras da mãe tomando uma nova forma e uma nova ênfase e, com isso, um significado totalmente diferente.
Cuide do seu irmão Theo.
Seus pensamentos foram interrompidos por batidas à porta.
- Titia, a senhora está esperando alguém?
A velha franziu a testa.
- A essa hora?
Peter colocou rapidamente os mapas de volta na caixa, enfiando-a embaixo da cama. Quando chegou à porta da frente e viu Michael parado atrás da tela, se perguntou por que havia feito isso. Michael entrou e dirigiu o olhar para a velha que estava atrás de Peter, os braços cruzados sobre o peito com ar de desaprovação.
- E aí, Titia - disse ele, ofegante.
- E aí não, garoto mal-educado. Se vai bater à minha porta no meio da noite, é melhor me cumprimentar direito.
- Desculpe. - As bochechas dele ficaram vermelhas de vergonha. - Boa noite, Titia. Como vai a senhora?
Ela assentiu.
- Espero estar bem.
Michael voltou a atenção para Peter, baixando a voz em tom confidencial.
- Posso falar com você? Lá fora?
Peter foi até a varanda atrás de Michael e viu Dale Levine saindo das sombras.
- Diga a ele o que você me contou - pediu Michael.
- Dale? O que foi?
- Olhe - disse o sujeito, olhando nervoso ao redor. - Eu provavelmente não deveria dizer isso a vocês, e preciso voltar para o Muro. Mas se estão planejando tirar Alicia e Caleb daqui, deveriam fazer isso assim que o dia clarear. Posso ajudar no portão.
- Por quê? O que aconteceu?
A resposta foi dada por Michael.
- As armas, Peter. Eles vão pegar as armas.
QUARENTA E UM
Na Enfermaria, Sara Fisher, Primeira Enfermeira, esperava junto à menina.
Amy, pensou Sara. O nome dela era Amy. Essa garota impossível, essa garota de 100 anos, se chamava Amy. Amy?, perguntara Sara. Seu nome é Amy?
É, disseram os olhos dela. Um movimento em seu rosto pareceu um sorriso. Quanto tempo fazia que não escutava o som de seu nome? Eu me chamo Amy.
Sara desejou ter alguma roupa para a menina, em vez da camisola. Não parecia certo uma garota com um nome não ter uma muda de roupas e um par de sapatos. Devia ter pensado nisso antes de voltar à Enfermaria. A garota era mais baixa que ela, de estrutura óssea menor e quadril mais estreito, mas Sara tinha uma calça justa com a qual gostava de cavalgar que serviria em Amy se ela colocasse um cinto. Além disso, a menina precisava de um banho e um corte de cabelo.
Sara não duvidou do que Michael tinha dito. Michael era Michael, era o que todos diziam. Ele era muito inteligente - até demais. A única coisa que ele não sabia fazer, jamais, era errar. Mas um dia, pensou Sara, isso ia acontecer - ninguém podia estar certo o tempo todo -, e ela se perguntava o que seria do irmão nesse dia. Todo o empenho que Michael aplicava em acertar, em consertar cada problema, desabaria subitamente dentro dele. Isso lembrava a Sara um jogo com o qual costumavam brincar quando eram Pequenos, construindo torres e depois puxando os blocos de baixo, um de cada vez, desafiando-as a cair - e, quando caíam, era rápido, de uma vez só. Imaginou se isso aconteceria a Michael, se alguma parte dele permaneceria de pé. Então ele precisaria dela, como havia precisado naquela manhã no barracão, quando encontraram os pais - no dia em que Sara havia falhado com ele.
Sara estava falando sério quando dissera a Peter que não sentia medo da garota. A princípio sentira. Mas à medida que as horas - e depois os dias - passaram, as duas trancadas juntas na Enfermaria, ela começara a sentir algo novo. Na presença atenta e misteriosa da garota - silenciosa e imóvel, e ao mesmo tempo se fazendo ouvir e sentir -, uma sensação de segurança, até mesmo de esperança, se apossara dela. Um sentimento de que não estava sozinha, de que o mundo não estava sozinho. Como se todos estivessem prestes a acordar de uma longa noite de pesadelos terríveis para retornar à vida.
O dia amanheceria logo. O ataque da noite anterior evidentemente não se repetira, do contrário Sara teria escutado os gritos. Era como se a noite estivesse prendendo o fôlego, esperando o que viria em seguida. Porque Sara não tinha dito a Peter, nem a ninguém, o que ocorrera na Enfermaria pouco antes de as luzes se apagarem. Subitamente, a garota havia se sentado, rígida, na cama. Sara, exausta, havia acabado de cair no sono, mas foi acordada por um som que percebeu estar vindo de Amy. Um gemido grave, uma única nota contínua, saindo do fundo de sua garganta. "O que foi?", perguntou Sara, levantando-se rapidamente para ir até ela. "O que há de errado? Está sentindo dor? Alguma coisa machucou você?" Mas a garota não respondia. Seus olhos estavam arregalados, no entanto ela não parecia ver Sara. Sara sentiu que algo acontecia lá fora - o quarto estava estranhamente escuro, e ela escutou os sons de uma comoção, gritos vindo do Muro, vozes gritando e pés correndo -, mas ainda que isso parecesse merecer sua atenção, não conseguia desviar os olhos da garota. O que quer que estivesse acontecendo lá fora também estava ocorrendo ali, naquele quarto, no vazio dos olhos da menina, na rigidez do seu rosto e na melodia lamentosa que saía de sua garganta. Aquilo continuou por alguns minutos - dois minutos e 50 segundos, de acordo com o que Michael dissera - que pareceram uma eternidade, e então terminou de repente, da mesma forma súbita e alarmante com que havia começado: a menina se deitou na cama e encolheu novamente os joelhos junto ao peito, aquietando-se.
Sentada à escrivaninha na recepção da Enfermaria, Sara se lembrava disso, perguntando a si mesma se deveria ter relatado o episódio a Peter, quando seus pensamentos foram interrompidos pelo som de vozes na varanda. Virou o rosto em direção à janela. Ben ainda estava sentado na varanda, virado para fora - Sara havia levado uma cadeira para ele -, a ponta da besta se projetando visivelmente do seu colo. A pessoa com quem conversava estava de pé alguns degraus abaixo, e Sara não conseguiu reconhecê-la. "O que vocês estão fazendo aqui?", ouviu Ben dizer, um tom de alerta na voz. "Não sabem que há um toque de recolher?"
E enquanto Sara se levantava para verificar com quem Ben estava falando, ela o viu levantar-se também, a besta empunhada na frente do corpo.
Peter e Michael se esgueiraram pelo estacionamento de trailers. Correndo de uma sombra à outra, até se aproximarem da cadeia, esconderam-se atrás de arbustos.
Não havia nenhum guarda.
Peter empurrou suavemente a porta, que estava entreaberta. Quando entrou, viu alguém no chão junto à parede dos fundos, as mãos e os pés amarrados, ao mesmo tempo que Alicia aparecia do seu lado esquerdo e baixava a besta que tinha apontada para as suas costas.
- Por onde, diabos, você andou? - perguntou ela.
Caleb estava atrás dela, segurando uma faca.
- É uma longa história. Eu conto no caminho.
Peter fez um gesto para o homem no chão, que agora reconhecia como sendo Galen Strauss.
- Estou vendo que você decidiu não me esperar. O que fez com ele?
- Nada de que ele vá se lembrar quando acordar.
- Ian sabe sobre as armas - disse Michael.
Alicia assentiu.
- Foi o que imaginei.
Peter explicou o plano. Primeiro passariam pela Enfermaria para buscar Sara e a garota, depois iriam até o estábulo pegar quantos cavalos pudessem. Pouco antes do Primeiro Toque, Dale gritaria do Muro, dizendo ter avistado um sinal. No meio da confusão, talvez eles conseguissem sair pelo portão e iniciar a jornada até a usina logo que o sol nascesse. De lá, poderiam planejar o que fazer depois.
- Sabe, acho que julguei mal o Dale - disse Alicia. - Ele é mais corajoso do que eu pensava.
Ela olhou para Michael.
- Você também, Circuito. Não pensava em você como alguém capaz de invadir uma cadeia.
Os quatro saíram. O dia estava quase amanhecendo. Peter sabia que eles tinham só alguns minutos. Em silêncio, dirigiram-se rapidamente para a Enfermaria, dando a volta até chegarem ao Muro Oeste do Abrigo, que lhes daria cobertura e ofereceria uma boa visão do outro prédio.
Não havia ninguém na varanda, e a porta estava aberta. Pela janela da frente viram a luz tremeluzente de um lampião. Então ouviram um grito.
Sara.
Peter chegou primeiro. A recepção também estava vazia. Tudo parecia normal, a não ser pela cadeira da escrivaninha, que estava caída. Peter ouviu um gemido vindo do quarto. Deixando os companheiros para trás, disparou pelo corredor e entrou pela cortina a toda a velocidade.
Amy estava encolhida no chão junto à parede dos fundos, os braços cobrindo a cabeça como se quisesse evitar um golpe. Sara estava ajoelhada, o rosto coberto de sangue.
A sala estava cheia de corpos.
Os outros entraram às pressas logo atrás. Michael correu para o lado da irmã.
- Sara!
Ela tentou falar, abrindo os lábios ensanguentados, mas nenhum som saiu. Peter se ajoelhou ao lado de Amy. Ela não parecia ferida, mas se encolheu ao seu toque, afastando-se dele, agitando os braços para se proteger.
- Está tudo bem, Amy - disse ele, tentando confortá-la. - Tudo bem.
Mas não estava tudo bem. O que havia acontecido ali? Quem havia matado aqueles homens? Teriam se trucidado uns aos outros?
- E Ben Chou - disse Alicia, ajoelhada perto de um dos corpos. - Aqueles dois são Milo e Sam. O outro é Jacob Curtis.
Ben havia levado uma facada. Milo, cujo rosto estava caído sobre uma poça de sangue, tinha sido morto com um golpe na cabeça. Sam parecia ter morrido do mesmo modo, a lateral do crânio afundada.
Jacob estava deitado ao pé da cama de Amy, a flecha da besta de Ben se projetando da sua garganta. Um pouco de sangue ainda borbulhava em sua boca, e os olhos estavam abertos, com uma expressão de surpresa. A mão estendida segurava um pedaço de cano de ferro manchado de sangue e miolos, pedacinhos brancos e salpicos vermelhos grudados à superfície.
- Puta merda! - disse Caleb. - Puta merda! Estão todos mortos!
A cena havia assumido uma nitidez horripilante. Os corpos no chão, as poças de sangue, Jacob com o cano na mão. Michael ajudou Sara a se levantar. Amy ainda estava encolhida junto à parede.
- Foram Sam e Milo - murmurou Sara.
Michael havia levado a irmã até uma das camas. As palavras saíam dela com dificuldade, através dos lábios rachados e inchados, os dentes emoldurados de vermelho.
- Ben e eu tentamos impedi-los. Foi isso... Eu acho. Sam estava batendo em mim. Então outra pessoa entrou.
- Jacob? - perguntou Peter. - Ele também está morto, bem ali, Sara.
- Não sei, não sei!
Alicia segurou Peter pelo cotovelo.
- Não importa o que aconteceu - disse ela com tom de urgência. - Ninguém vai acreditar em nós. Temos de ir agora.
Não podiam se arriscar a sair pelo portão. Alicia explicou o que queria que todos fizessem. O importante era ficarem fora do campo de visão da Vigilância.
Peter e Caleb iriam até o Armazém pegar sapatos para Amy, cordas e mochilas. Alicia levaria os outros ao ponto de encontro.
Esgueiraram-se para fora da Enfermaria e se espalharam. A porta principal do Armazém estava escancarada, o cadeado aberto pendendo da fechadura - um detalhe estranho, mas não tinham tempo para se preocuparem com aquilo. Caleb e Peter entraram no interior escuro do Armazém, com suas compridas fileiras de mercadoria. Foi lá que encontraram o Velho Chou e, ao lado dele, Walter Fisher. Estavam lado a lado, pendurados pelo pescoço em cordas que pendiam dos caibros expostos do telhado, os pés descalços suspensos sobre caixotes, a língua para fora da boca. A pele deles havia adquirido um tom acinzentado. Haviam empilhado os caixotes, usando-os como uma espécie de escada, e os chutado assim que os nós estavam no lugar. Por um momento Peter e Caleb ficaram parados, contemplando em silêncio a imagem inesperada.
- Ca... ra... lho! - disse Caleb.
Alicia estava certa, pensou Peter. Precisavam ir agora. O que quer que estivesse acontecendo ali era uma coisa grande e terrível, uma força capaz de varrer todos eles.
Juntaram os suprimentos e saíram. Então Peter se lembrou dos mapas.
- Vá na frente - disse a Caleb. - Eu alcanço vocês.
- Eles já devem estar lá.
- Pode ir. Eu encontro vocês.
O garoto saiu correndo. Quando chegou à casa de Titia, Peter não se deu o trabalho de bater, entrou e foi direto para o quarto. A velha estava dormindo. Ele parou por um momento junto à porta, vendo-a respirar. Os mapas estavam sob a cama, exatamente onde ele os havia deixado. Abaixou-se para pegar a caixa e a colocou na mochila.
- Peter?
Ele parou. Os olhos de Titia continuavam fechados, os braços ainda estendidos ao lado do corpo.
- Só deitei aqui para descansar um pouco.
- Titia...
- Não há tempo para despedidas - interrompeu a velha. - Ande logo, Peter. Você está pronto agora.
Quando chegou ao recorte, raios cor-de-rosa surgiam do leste. Os outros já estavam lá. Batendo a poeira dos ombros, Alicia emergiu do túnel da rede elétrica.
- Todos prontos? - conferiu ela.
Peter ouviu passos atrás deles e girou imediatamente, pegando a faca. Mas então viu Mausami Patal surgindo entre os arbustos. Trazia uma besta pendurada no ombro e uma mochila às costas.
- Segui vocês desde o Armazém. É melhor a gente correr.
- Maus... - começou Alicia.
- Não adianta, Alicia. Eu também vou. - disse logo e, olhando nos olhos de Peter: - Só quero saber uma coisa. Você acredita mesmo que seu irmão esteja morto?
Ele foi pego de surpresa, como se já não esperasse essa pergunta.
- Não.
- Nem eu.
Com um movimento quase involuntário, ela colocou a mão na barriga. O significado do gesto se descortinou claramente diante de Peter, como se ele estivesse apenas sendo lembrado de algo que sempre soubera.
- Ainda não contei a ele - explicou Mausami. - Preciso fazer isso.
Peter se virou para Alicia, que examinava os dois com um ar de exasperação.
- Ela vem conosco - declarou Peter.
- Não é uma boa ideia. Pense nos riscos que iremos correr.
- Mausami agora faz parte da família. Isso não está em discussão.
Por um momento Alicia não disse nada; parecia não ter palavras.
- Que se dane, então - respondeu ela, finalmente. - Não temos tempo para discutir.
Alicia foi à frente, mostrando o caminho. Sara a seguiu, depois Michael, Caleb e Mausami, um a um, se enfiando no túnel. Peter vigiava a retaguarda.
Amy foi a última a entrar antes dele. Tinham encontrado uma blusa de malha, uma calça jeans e um par de sandálias para a ela. Enquanto entrava no túnel, a garota encarou Peter, uma pergunta ardendo no olhar: aonde estamos indo?
Para o Colorado, pensou ele. Para a ZCQ. Eram apenas lugares em um mapa, pontos de luz colorida na tela do monitor de Michael. Peter não podia imaginar a realidade por trás daqueles nomes, nem o mundo oculto do qual faziam parte. Enquanto falavam da viagem no início da noite, os quatro apinhados na Casa de Força (mal podia acreditar que tudo aquilo havia se passado em apenas uma noite), Peter visualizara uma expedição de verdade, com uma rota meticulosamente planejada. Seu pai costumava passar estações inteiras planejando as Longas Cavalgadas. Entretanto ali estavam eles, fugindo a pé, com pouco mais do que uma pilha de mapas velhos e as facas em seus cintos. Como podiam ter qualquer esperança de chegar a um lugar daqueles?
- Na verdade, não sei - respondeu finalmente. - Mas se não formos agora, acho que todos nós vamos morrer aqui.
Ela se enfiou no túnel. Peter apertou as tiras da mochila e desceu atrás, fechando a portinhola e lacrando-os na escuridão. As paredes eram frias e cheiravam a terra. O túnel provavelmente havia sido cavado muito tempo atrás, pelos Construtores, para facilitar o trabalho na rede elétrica. Com exceção do Coronel, ninguém o usava havia anos. Era a rota secreta dele, explicara Alicia, a que ele usava para caçar. Assim, pelo menos um mistério estava solucionado.
Vinte e cinco metros depois, Peter emergiu em um bosque de algarobeiras. Os outros estavam esperando. As luzes da Colônia haviam se apagado, revelando o céu cinza do alvorecer. Acima deles, a face da montanha se erguia como uma única laje de pedra, testemunha silenciosa de tudo o que ocorrera. Peter ouviu os chamados da Vigilância no topo do Muro, anunciando de seus postos o Toque da Manhã e a troca de turno. Dale estaria se perguntando o que acontecera a eles, se é que já não sabia. Certamente não demoraria muito até que os corpos fossem encontrados.
Alicia fechou a pequena porta atrás dele e girou o volante para trancá-la, depois se ajoelhou e a cobriu com terra.
- Eles virão atrás de nós - sussurrou Peter, agachado perto dela. - Estarão a cavalo. Não conseguiremos correr mais que eles.
- Eu sei - disse ela com uma expressão de determinação no rosto. - É uma questão de quem pegará as armas primeiro.
E com isso Alicia se levantou e começou a guiá-los montanha abaixo.
PARTE VII
AS TERRAS ESCURA
Numa noite dessas vi a eternidade
Como um grande círculo de luz pura e interminável,
Tão calma quanto brilhante,
E girando sob ela o tempo em horas, dias, anos,
Impelido pelas esferas,
Movia-se como uma sombra vasta, em que o mundo E tudo o que nele vinha eram lançados.
HENRY VAUGHAN "O Mundo"
QUARENTA E DOIS
Chegaram ao pé da montanha antes do meio-dia.
O caminho que descia em zigue-zague pela face leste da colina era íngreme demais para cavalos - em alguns lugares não chegava sequer a ser propriamente um caminho. Cem metros acima da usina, parte da montanha parecia ter sido escavada, e uma pilha de cascalho se amontoava.
Chegaram a um local acima de um desfiladeiro estreito. Um vento quente e seco soprava. A usina ficava ao norte, atrás de um paredão rochoso. Decidiram subir de novo e procurar outra rota, o tempo correndo contra eles. Por fim encontraram um jeito de chegar até a usina e desceram cuidadosamente o desfiladeiro.
Aproximaram-se da usina por trás. Dentro da área cercada não detectaram qualquer sinal de movimento.
- Ouviram? - perguntou Alicia.
Peter parou para escutar.
- Não estou ouvindo nada.
- É porque a cerca está desligada.
O portão estava aberto. Foi então que viram um volume escuro no chão, sob o toldo da cocheira. Quando chegaram mais perto, o calombo pareceu se desfazer em uma nuvem.
Era uma mula. As moscas se espalharam quando eles chegaram perto. O chão ao redor estava escurecido por uma mancha de sangue.
Sara se ajoelhou ao lado do animal morto. A mula estava caída de lado, expondo a curvatura da barriga, inchada com o gás putrefeito. Uma multidão de vermes se contorcia sobre o talho comprido que acompanhava a linha do pescoço.
- Acho que deve estar morta há uns dois dias.
O cheiro fez Sara franzir o rosto machucado. Uma linha de sangue delineava seus dentes por causa do corte no lábio inferior. Seu olho esquerdo estava inchado, com uma enorme mancha roxa.
- Parece que usaram uma faca.
Peter se virou para Caleb. Os olhos dele estavam arregalados, fixos no pescoço do animal. O garoto tinha puxado a gola da camisa de malha sobre a metade inferior do rosto, uma máscara improvisada contra o fedor.
- Foi assim que encontrou a mula de Zander no campo?
Caleb assentiu.
- Peter...
Alicia apontou para a cerca. Havia uma segunda forma escura no chão.
- Outra mula?
- Acho que não.
Era Rey Ramirez. Não restava muita coisa dele além dos ossos e da pele chamuscada, que ainda soltava um leve cheiro de carne queimada. Ele estava ajoelhado junto à cerca, os dedos rígidos agarrados no arame. Os ossos expostos do rosto davam a impressão de que ele estava sorrindo.
- Isso explica muita coisa - disse Michael um momento depois. Ele parecia estar a ponto de vomitar. - Deve ter provocado um curto, agarrando-se à cerca desse jeito.
A porta de ferro estava aberta: desceram para a usina, passando pelos cômodos escurecidos, um a um. Nada parecia fora do normal. As luzes do painel estavam acesas, e a corrente ainda fluía montanha acima. Mas Finn não estava em parte alguma.
Alicia levou o grupo até os fundos. A estante que escondia a escotilha ainda estava no lugar. Quando ela abriu a porta e Peter viu as armas ainda nas caixas, percebeu que temera que elas tivessem sumido. Alicia puxou um dos caixotes e o abriu.
Michael deu um assobio de admiração.
- Vocês não estavam brincando. Parecem novas em folha.
- Há mais no lugar de onde essas vieram - disse Alicia e olhou para Peter. - Acha que consegue achar o depósito com esses mapas?
Foram interrompidos pelo som de passos descendo a escada. Era Caleb.
- Alguém está vindo.
- Quantos?
- Parece que só um.
Alicia pegou algumas armas, e subiram para o pátio. Peter pôde ver um único cavaleiro a distância, cercado por uma nuvem de poeira. Caleb entregou o binóculo a Alicia.
- Cacete! - disse ela.
Instantes depois, Hollis Wilson entrou pelo portão e apeou. O rosto e os braços estavam cobertos de pó.
- É melhor corrermos. - Ele parou para tomar um longo gole do cantil. - Há um grupo de pelo menos seis vindo atrás de mim. Se quisermos chegar ao depósito antes do pôr do sol, temos de sair agora mesmo.
- Como você sabia para onde a gente vai? - perguntou Peter.
Hollis enxugou a boca com as costas da mão.
- Você esquece que eu cavalguei com seu pai, Peter.
O grupo estava reunido na sala de controle. Tinham coletado o máximo de equipamento que puderam, tudo o que achavam que poderiam carregar. Comida, água, armas. Peter abrira os mapas sobre a mesa para Hollis examinar. Ele encontrou o que queria: BACIA DE LOS ANGELES E SUL DA CALIFÓRNIA.
- Segundo Theo, o depósito fica a dois dias de cavalgada - disse Peter.
Hollis franziu a testa enquanto examinava o mapa. Pela primeira vez, Peter notou que ele havia deixado a barba crescer. Por um segundo, foi como se Arlo estivesse parado ali.
- Se não me falha a memória, levamos três dias, mas nós estávamos puxando as carroças. A pé, diria que poderemos fazer a viagem em dois.
Ele se curvou sobre o mapa, apontando.
- Estamos aqui, no passo de San Gorgonio. Na época em que cavalguei com seu pai, pegamos a 1-10 e depois seguimos rumo ao norte pela rota 62. O terremoto interrompeu a passagem em alguns pontos, mas a pé isso não deve ser problema para nós. Passamos a noite aqui - ele apontou de novo -, em Joshua Valley. Uns 20 quilômetros, talvez 25. Demetrius fez um forte no prédio de um antigo corpo de bombeiros e o encheu de suprimentos. É bastante seguro e tem uma bomba funcionando, de modo que podemos nos abastecer de água, se precisarmos, e vamos precisar. De Joshua Valley são mais uns 30 quilômetros para o leste até a rodovia de Twentynine Palms, depois mais 10 para o norte em terreno aberto até o depósito. Uma caminhada dos infernos, mas dá para ser feita em mais um dia.
- Se o depósito é secreto, como vamos encontrá-lo?
- Eu consigo, sem problemas. E, acreditem, vocês precisam ver aquele lugar. Seu velho o chamava de baú de guerra. Há veículos, também, e combustível. Nunca conseguimos fazer nenhum dos veículos funcionar, mas talvez Caleb e Circuito consigam.
- E os fumaças?
- Nunca vimos muitos nesse trecho. O que não significa que não estejam por lá. Mas o lugar é um deserto, e os virais não gostam desse tipo de terreno. É quente demais, quase sem sombra, e nenhuma caça de verdade que pudéssemos ver. Demetrius chamava esse trecho de zona dourada.
- E mais para o leste?
Hollis deu de ombros.
- Não faço a mínima ideia. Só fui até o depósito. Se vocês estão falando sério com relação ao Colorado, eu diria que nossa melhor chance é ficarmos fora da 1-40 e seguirmos em direção ao norte pela 1-15. Há um segundo depósito de suprimentos em Kelso, numa antiga estação ferroviária. O terreno é muito acidentado, mas sei que seu pai chegou pelo menos até lá.
Alicia cavalgaria na frente. O restante do grupo seguiria a pé. Caleb ainda vigiava o terreno do teto da usina quando eles juntaram o equipamento à sombra da cocheira. A mula não estava mais lá; Hollis e Michael a haviam arrastado até a cerca.
- Eles já deveriam estar à vista - disse Hollis. - Achei que estavam apenas alguns quilômetros atrás de mim.
Peter se virou para Alicia. Será que deveriam procurá-los? Ela balançou a cabeça.
- Não importa - disse. - Eles agora estão por conta própria. Assim como nós.
Caleb desceu a escada nos fundos da usina e se juntou ao grupo. Agora eram oito. De repente Peter se deu conta de como todos estavam exauridos. Nenhum deles dormira nada.
Amy estava parada perto de Sara. Trazia uma mochila nas costas, como os demais, e usava um boné velho que alguém encontrara na sala de suprimentos, mas assim mesmo franzia dolorosamente os olhos ao sol. Uma coisa era certa a seu respeito: ela não estava acostumada à claridade. Mas agora ele não podia fazer nada com relação a isso.
Peter saiu de sob o toldo e mediu em palmos a distância entre o sol e o horizonte: faltavam sete horas para a escuridão cair. Sete horas para cobrirem 25 quilômetros a pé, através do vale aberto. Assim que começassem, não haveria retorno. Com o fuzil pendurado no ombro, Alicia montou a égua de Hollis, um belo animal cor de areia que parecia tão grande como uma casa. Caleb lhe entregou o binóculo.
- Todos prontos?
- Sabem - disse Michael -, tecnicamente falando, não é tarde demais para se render.
Ele estava parado junto à irmã, segurando desajeitadamente o fuzil diante do peito. Michael olhou para o rosto silencioso dos outros.
- Ei, foi só uma piada.
- Na verdade, acho que o Circuito tem certa razão - declarou Alicia de cima de sua montaria. - Não há vergonha nenhuma em ficar. Quem quiser deve falar agora.
Ninguém disse nada.
- Muito bem, então - disse Alicia. - Olhos abertos.
Ele decididamente não fora feito para aquilo, pensara Galen. Simplesmente não fora. Aquela história toda havia sido um grande erro desde o início.
O calor o estava matando, o sol parecia uma explosão nos olhos. Seu traseiro estava tão dolorido da cavalgada, que ele provavelmente ficaria sem andar por uma semana inteira. Além disso, sentia uma dor lancinante na cabeça, no lugar onde Alicia o havia acertado com a besta. E os outros Vigias se recusavam a ouvi-lo. Ninguém fazia nada do que ele dizia. Ei, pessoal, será que não deveríamos descansar um pouco? Por que não podemos ir mais devagar? Por que tanta pressa?
"Mate todos eles", dissera Gloria Patal.
Galen achava que aquela mulherzinha parecia um camundongo, com medo da própria sombra. Mas pelo jeito havia outro lado de Gloria Patal que ele nunca vira antes. Parada junto ao portão, a mulher fumegava de raiva.
"Tragam minha filha de volta, mas matem os outros. Quero todos mortos."
A garota fizera isso, era o que todos estavam dizendo. A garota, Alicia, Caleb, Peter, Michael e... Jacob Curtis. Jacob Curtis! Como um garoto retardado como Jacob Curtis podia ser responsável por alguma coisa? Não fazia sentido para Galen, mas nada naquela situação fazia sentido, e pelo jeito não precisava fazer. Principalmente ali, no portão, onde todos haviam se reunido, gritando e balançando os braços. Era como se naquela manhã metade da Colônia quisesse matar alguém, qualquer um.
Se Sanjay estivesse lá, poderia convencer aquelas pessoas a terem um pouco de bom senso, poderia acalmá-las, fazê-las parar para pensar. Mas ele não estava ali. Estava na enfermaria, dissera Ian, balbuciando e chorando como um bebê.
Foi mais ou menos nessa hora que a multidão pegou Mar Curtis, arrastando-a até o portão. Ela não era a pessoa que eles queriam de fato, mas não havia nada a fazer. A multidão estava enlouquecida. Uma cena lamentável: a coitada, que jamais tivera nem sequer um pingo de sorte na vida, que não tinha um grama de força para resistir, empurrada escada acima por uma centena de mãos e jogada do Muro enquanto todos irrompiam em uma comemoração.
A coisa poderia ter terminado ali, mas a turba estava apenas começando, Galen podia sentir. A primeira vítima servira apenas para aumentar o apetite de todos por vingança. Foi quando Hodd Greenberg gritou: "Élton! Élton estava com eles na Casa de Força!"
E no minuto seguinte a multidão estava correndo para a Casa de Força, e então, sob uma tempestade de gritos de júbilo, arrastando o velho cego para o Muro. E o jogaram também.
Galen decidira manter a boca fechada. Quanto tempo se passaria até que alguém dissesse: "Ei, Galen, onde está sua mulher? Mausami não estava com o resto do grupo? Vamos colocar Galen para fora também!"
Por fim Ian dera a ordem. Galen não via sentido em ir atrás deles, mas agora ocupava sozinho a posição de Segundo Capitão, já que todos os outros estavam mortos, e era evidente que Ian queria manter pelo menos a ilusão de que a Vigilância continuava no comando. Algo tinha de ser feito, caso contrário a multidão acabaria jogando todo mundo pelo Muro.
Foi então que Ian o chamou à parte e falou sobre as armas. Doze caixotes escondidos atrás de uma estante no depósito da usina. "Pessoalmente não me importo nem um pouco com a Andarilha", dissera Ian. "Quanto à sua mulher, você é quem sabe. Só quero que me traga a porra daquelas armas."
Eram um grupo de cinco: Galen cavalgava à frente do grupo, Emily Darrell e Dale Levine vinham em seguida, com Hodd Greenberg e Cort Ramirez na retaguarda. Era a primeira vez que comandava uma expedição fora do Muro, e que tipo de equipe haviam lhe dado? Aquele idiota do Dale, uma corredora de 16 anos e dois homens que nem eram da Vigilância.
Uma missão suicida, isso sim. Deu um suspiro pesado - alto o suficiente para que a corredora Emily Darrell, que cavalgava ao seu lado, perguntasse a ele qual era o problema. Ela fora a primeira a se oferecer como voluntária para a cavalgada, a única que fazia parte da Vigilância, além de Dale. Uma garota que tinha algo a provar. Galen respondeu apenas que não era nada.
Agora estavam quase terminando de atravessar Banning. Galen ficou feliz por não conseguir identificar os detalhes, mas os vislumbres que teve enquanto cruzavam as ruas da cidade - era impossível não olhar - deixaram-no arrepiado até os ossos. Prédios em ruínas e magrelos assando nos carros como peças de carne-seca, isso para não falar nos fumaças, que provavelmente estavam entocados em algum lugar. Uma chance. Eles vêm de cima. A Vigilância enfiava essas palavras na cabeça dos aprendizes desde que tinham 8 anos, sem jamais lhes revelar a grande verdade, o absurdo de tudo aquilo.
Se um fumaça pulasse em cima de Galen Strauss, ele não teria a menor chance. Imaginou quanto doeria. Provavelmente muito.
A verdade era que, pelo jeito, seu casamento com Mausami havia finalmente desmoronado. Perguntou-se por que não tinha visto os sinais antes. Bem, talvez tivesse, mas se recusara a aceitá-los.
Ele não sentia raiva dela. Claro, ele a havia amado. Provavelmente ainda amava. Mausami e o bebê sempre teriam um lugar em seu coração. O bebê não era seu, mas mesmo assim ele desejava que fosse. Um bebê podia fazer a pessoa se sentir melhor com relação a quase tudo, até mesmo quando se estava ficando cego. Imaginou se Maus e o bebê estariam bem. Se ele a encontrasse, esperava ser homem o bastante para dizer isso. Espero que você esteja bem.
Aproximaram-se da rampa da estrada do Leste, cavalgando em duas fileiras. Sua cabeça estava latejando. Talvez fosse só a pancada que levara de Alicia, mas achava que não. Sua visão parecia estar indo embora. Pontos de luz estranhos tinham começado a dançar em seus olhos. Sentia-se meio enjoado.
Estava tão absorto nos próprios pensamentos que não percebeu onde se encontrava, que havia chegado ao topo da rampa. Parou para tomar um gole do cantil. As turbinas ficavam em algum lugar logo adiante, girando ao vento que batia em seu rosto. Só queria chegar à usina, deitar-se no escuro e fechar os olhos. Os pontos dançantes estavam ficando cada vez piores, descendo sobre seu estreito campo de visão como uma nevasca de luz. Algo estava realmente errado. Não sabia como poderia continuar. Outra pessoa teria de tomar a frente do grupo. Dirigiu a voz a Dale, que havia subido atrás dele, e disse:
- Escute, você acha...
Quando Galen girou na sela, viu que o espaço atrás dele estava vazio. Nenhum cavaleiro. Era como se uma mão gigante os tivesse removido, montarias e tudo, da face da Terra.
Sentiu a bile subindo por sua garganta.
- Pessoal?
Foi então que ouviu o som, vindo de sob o viaduto: um rasgar macio, molhado, como papel úmido sendo rasgado ao meio ou a casca de uma laranja suculenta sendo arrancada.
QUARENTA E TRÊS
Tinham apenas alguns minutos mais quando chegaram a Joshua Valley. Ao alcançarem o corpo de bombeiros, quase não havia mais luz. O prédio ficava na extremidade oeste da cidade, uma estrutura atarracada, quadrada, com portas duplas em arco, lacradas com blocos de concreto, viradas para a rua. Hollis os guiou até os fundos, onde ficava o tanque de água, em meio a um matagal alto. A água que jorrou da bomba estava quente e tinha gosto de ferrugem e terra. Todos beberam sofregamente, encharcando também a cabeça. O gosto da água nunca fora tão bom, pensou Peter.
Reuniram-se à sombra do prédio enquanto Hollis e Caleb soltavam as tábuas que cobriam a entrada dos fundos. Com um empurrão, a porta se abriu, liberando um sopro de ar denso e quente. Hollis pegou seu fuzil de novo.
- Esperem aqui.
Peter ouviu os passos de Hollis ecoando na escuridão lá dentro. Sentia-se estranhamente despreocupado. Se tinham chegado até ali, parecia impossível que o corpo de bombeiros não fosse um abrigo seguro para a noite. Então Hollis retornou.
- Tudo limpo - disse. - Está quente, mas vai servir.
Seguiram-no até um cômodo grande de teto alto. As janelas também estavam lacradas com blocos de concreto, com fendas estreitas no topo para ventilação, por onde entrava o brilho amarelado da luz do dia que se esvaía. O ar cheirava a poeira e animais. Havia uma variedade de ferramentas e materiais de construção encostados às paredes: sacos de areia, baldes de plástico e enxadas com crostas de cimento, um carrinho de mão, rolos de corda e correntes. O lugar onde antes os carros de bombeiro ficavam estacionados agora estava vazio, servindo de estábulo, com arreios pendurados e algumas baias. Ao longo da parede mais distante, uma escada de madeira seguia em direção ao nada - o segundo andar havia sumido.
- Há camas dobráveis no fundo - explicou Hollis, que havia se ajoelhado para encher um lampião com um líquido que jorrava de uma garrafa de plástico; não era álcool, e sim gasolina. - Todos os confortos de um lar. Temos uma cozinha e um banheiro também, mas não há água corrente, e a chaminé foi lacrada.
- E essa porta? - perguntou Alicia, enquanto levava o cavalo para dentro.
Hollis acendeu o lampião com um fósforo, parou para ajeitar o pavio e o entregou a Mausami, que estava parada junto a ele.
- Cano Longo, me dê uma ajuda.
Hollis pegou duas chaves de fenda e entregou uma a Caleb. Espessas placas de metal em molduras de madeira maciça pendiam dos caibros acima da entrada da frente, suspensas por correntes que se moviam com um par de roldanas. Eles as baixaram até posicioná-las em frente à porta e as aparafusaram aos umbrais, lacrando-a por dentro.
- E agora? - perguntou Peter.
Hollis deu de ombros.
- Agora esperamos até o amanhecer. Eu fico no primeiro turno de vigília. Você e os outros deveriam tentar dormir.
As acomodações de que Hollis havia falado ficavam no cômodo dos fundos: algumas camas dobráveis com colchões de mola quebrados. Uma segunda porta dava para a cozinha e o banheiro - quatro cabines para vasos sanitários e uma fileira de pias enferrujadas dispostas sob um grande espelho rachado. Todas as janelas estavam lacradas. Um dos sanitários tinha sido arrancado e agora jazia caído em um canto do banheiro. Em seu lugar havia um balde plástico e, no chão ao lado, uma pilha de revistas velhas. Peter pegou a de cima: Newsweek. Na capa via-se a foto desfocada de um viral. A imagem parecia estranhamente achatada, como se a fotografia tivesse sido tirada de uma grande distância e de muito perto ao mesmo tempo. A criatura estava de pé em uma espécie de alcova, diante de um aparelho onde se lia CAIXA ELETRÔNICO. Peter não sabia o que era, mas tinha visto um daqueles no shopping. No chão, atrás do viral, havia um sapato. A legenda se resumia a uma única palavra: ACREDITE.
Peter voltou com Alicia para o cômodo maior.
- Onde estão os outros suprimentos? - perguntou ele a Hollis.
Hollis o levou até um local onde as tábuas do chão podiam ser levantadas, revelando uma reentrância com cerca de um metro de profundidade, o conteúdo coberto por uma pesada lona plástica. Peter se abaixou e ergueu a lona. Mais garrafas de combustível e água e, apertados uns contra os outros, caixotes como os que tinham encontrado na usina elétrica.
- Mais fuzis - disse Hollis, apontando. - As pistolas estão ali. Trouxemos as armas menores, mas nenhum explosivo. Demetrius achava que eles podiam detonar sozinhos, destruindo o lugar, por isso resolveu deixá-los no depósito da base militar.
Alicia havia aberto um dos caixotes e tirado uma pistola preta. Puxou o transportador, olhou pela alça de mira e apertou o gatilho. Ouviram o estalo agudo do martelo batendo na câmara vazia.
- Que tipo de explosivos?
- Principalmente granadas - respondeu Hollis, batendo em um dos caixotes com o bico da bota. - Mas a verdadeira surpresa está aqui. Alicia, me dê uma mãozinha.
Os outros haviam se juntado ao redor do buraco. Hollis e Alicia puxaram um baú até a altura do piso. Hollis se ajoelhou e o abriu. Peter esperava que dali surgissem mais armas, então ficou surpreso ao ver uma coleção de pequenos pacotes prateados. Hollis entregou um a ele. A embalagem pesava menos de um quilo e tinha uma etiqueta branca com dizeres em minúsculas letras pretas.
- É uma refeição pronta para consumo - explicou Hollis. - Comida do Exército. Há milhares dessas no depósito. Essa que você escolheu... vejamos. - Ele pegou o pacote da mão de Peter, forçando a vista para ler. - Carne de soja com molho. Nunca comi dessa.
Alicia pegou um dos pacotes, franzindo a testa.
- Essas refeições foram empacotadas há uns 90 anos. Não podem estar boas.
Hollis deu de ombros e distribuiu os pacotes.
- Muitas não estão. Mas se permaneceram sem contato com o ar, algumas ainda podem ser consumidas. Acreditem, vocês vão saber quando abrirem. A maioria delas ainda está boa, mas cuidado com o estrogonofe de carne.
Estavam relutantes, porém famintos demais para recusar. Peter comeu dois: a carne de soja e um doce grudento intitulado "torta de manga". Amy se sentou na beirada da cama e, com um ar de suspeita no rosto, mordiscou um punhado de biscoitos e um pedaço de algo que parecia queijo. De vez em quando ela levantava os olhos, cautelosa, depois voltava a comer furtivamente. A torta de manga era tão doce que Peter ficou enjoado, mas quando se deitou, sentiu a fadiga se desenrolar no peito de tal forma que soube que seria tomado pelo sono depressa. O último pensamento em sua mente na verdade foi uma imagem: Amy mordiscando os biscoitos, os olhos disparando pelo cômodo. Era como se ela estivesse esperando algo acontecer. Mas o pensamento era como uma corda que ele não podia segurar, e logo suas mãos estavam vazias. A imagem se fora.
A próxima visão que teve foi do rosto de Hollis flutuando acima dele no escuro. Piscou para afastar a névoa de desorientação. Fazia um calor sufocante, e a camisa e os cabelos de Peter estavam encharcados de suor. Quando ia abrir a boca para falar, Hollis o silenciou, levando o indicador aos lábios.
- Pegue seu fuzil e venha.
Hollis o guiou até a garagem. Sara estava encostada nos blocos de concreto, onde antes ficavam as portas de saída dos caminhões. Uma pequena abertura em uma das portas servia de posto de observação: uma placa metálica que corria em um trilho chumbado ao concreto.
Sara se afastou.
- Dê uma olhada - sussurrou ela.
Peter aproximou os olhos. Podia sentir o cheiro do vento nas narinas, a noite do deserto esfriando. A abertura dava para a rua principal da cidade, a rota 62. Em frente ao corpo de bombeiros havia um quarteirão de prédios em ruínas e, por trás, a silhueta levemente ondulada de morros banhados pela luz azul da lua.
Um único viral estava agachado na rua.
Peter nunca vira um viral tão imóvel, pelo menos à noite. Estava de frente para eles, apoiado nos calcanhares cinzelados, observando. Enquanto Peter olhava, mais duas criaturas surgiram, movendo-se na escuridão e parando para assumir a mesma postura vigilante, os três agora virados para o corpo de bombeiros. Um bando de três.
- O que eles estão fazendo? - perguntou Peter.
- Só ficam ali parados - respondeu Hollis. - Às vezes se mexem um pouco, mas nunca chegam mais perto.
Peter afastou o rosto da abertura.
- Acha que eles sabem que estamos aqui?
- O lugar está lacrado, mas nem tanto. Eles podem sentir o cheiro da égua, com certeza.
- Sara, vá acordar Alicia - disse Peter. - Em silêncio. É melhor que os outros fiquem dormindo.
Peter se aproximou novamente do posto de observação. Depois de um momento, perguntou:
- Quantos você disse que eram?
- Três - respondeu Hollis.
Peter se afastou para que Hollis pudesse olhar.
- Bom, agora são seis.
- Isso é... ruim - disse Hollis.
- Quais são os nossos pontos fracos?
Alicia agora estava ao lado deles. Ela soltou a trava do fuzil e, tentando não fazer barulho, puxou o transportador. Então ouviram um ruído surdo vindo de cima.
- Estão no teto.
Michael veio cambaleando do quarto dos fundos e olhou para eles, a testa franzida, os olhos turvos de sono.
- O que está acontecendo? - perguntou alto demais. Alicia encostou o indicador nos lábios e depois apontou para o teto com um gesto de urgência.
Mais sons de impacto vieram de cima. Peter sentiu as entranhas explodindo. Os virais estavam procurando um modo de entrar.
Algo estava raspando a porta.
Um baque de carne contra metal, de ossos batendo no aço. Era como se os virais estivessem testando a porta, pensou Peter. Avaliando a força do obstáculo antes de fazerem uma investida final. Enquanto ele apertava a coronha contra o ombro, pronto para disparar, Amy entrou em seu campo de visão. Mais tarde ele se perguntaria se ela estivera na sala o tempo todo, escondida num canto, observando em silêncio. Ela foi até a porta.
- Amy, volte...
Ela se ajoelhou, colocando as mãos espalmadas na porta. Sua cabeça estava inclinada, a testa tocando o metal. Outra batida do lado oposto, porém mais fraca desta vez. Os ombros de Amy tremiam.
- O que ela está fazendo?
Foi Sara quem respondeu:
- Acho que está... chorando.
Ninguém se mexeu. Os sons do outro lado da porta cessaram. Por fim Amy se levantou e ficou de pé, virada para eles. Seus olhos pareciam distantes, desfocados; ela não parecia ver ninguém.
Peter levantou a mão.
- Não a acordem.
Enquanto olhavam em silêncio, ela se virou e foi andando até a porta do quarto com o mesmo ar distante. Mausami, a última a acordar, saía do cômodo naquele momento. Amy passou por ela sem parecer notá-la. No instante seguinte, ouviram o ranger de molas enferrujadas enquanto ela se deitava na cama.
- O que está acontecendo? - perguntou Mausami. - Por que vocês estão me olhando assim?
Peter levou os olhos até a fenda novamente. Era como ele esperava. Nada se movia lá fora. A rua enluarada estava vazia.
- Acho que foram embora.
Alicia franziu a testa.
- Não podem simplesmente ter ido embora assim.
Peter se sentiu estranhamente calmo. Sabia que o pior havia passado.
- Veja você mesma.
Alicia pendurou o fuzil no ombro e encostou o rosto na pequena abertura, esticando o pescoço na tentativa de aumentar o campo de visão.
- Você tem razão - informou. - Não há nada lá fora - completou, afastando o rosto e se virando para Peter com as sobrancelhas franzidas. - Como se fossem... bichos de estimação?
- Alguém poderia, por favor, me contar o que está acontecendo? - pediu Mausami.
- Eu adoraria explicar, se pudesse - respondeu Peter.
Desfizeram a barricada logo depois do amanhecer. Ao redor viram os rastros das criaturas na poeira. Nenhum deles havia dormido muito, mas mesmo assim Peter se sentia tomado por uma nova energia. Perguntou-se o que seria aquilo e então compreendeu. Tinham sobrevivido à primeira noite nas Terras Escuras.
Hollis revisou a rota, apontando para o mapa aberto sobre uma pedra.
- Depois de Twentynine Palms, é tudo deserto até esse ponto aqui. Não há estradas de verdade. A chave para encontrarmos o depósito é essa cordilheira a leste. Há dois picos distintos na extremidade sul e um terceiro atrás. Quando o terceiro se enquadrar bem no meio dos outros dois, viramos para o leste e estaremos na direção certa.
- E se não chegarmos antes do pôr do sol? - perguntou Peter.
- Podemos buscar abrigo em Twentynine Palms, se precisarmos. Algumas estruturas ainda estão de pé. Mas, pelo que me lembro, são bem precárias, nada parecido com o corpo de bombeiros.
Peter olhou para Amy, que estava parada junto aos outros. Ainda usava o boné, e Sara também havia lhe dado uma camisa masculina - as mangas compridas e a gola esgarçada - e óculos escuros que tinha encontrado no corpo de bombeiros. Mechas negras emaranhadas balançavam sob a aba do boné.
- Você acha mesmo que ela fez aquilo? - perguntou Hollis. - Que os mandou embora?
Peter se virou para o amigo. Pensou na revista que vira no banheiro, a mensagem nítida na capa.
- Para falar a verdade, Hollis, não sei.
- Bem, espero que sim. Depois de Kelso, o terreno é aberto até a fronteira de Nevada - confidenciou, pegando a faca e limpando-a na bainha da blusa. Depois continuou em um sussurro: - Antes de sair da Colônia, ouvi as pessoas dizendo coisas sobre ela. A Garota de Lugar Nenhum, a última Andarilha. Elas estavam dizendo que Amy era um sinal.
- De quê?
Hollis franziu a testa.
- Do fim, Peter. Do fim da Colônia, do fim da guerra. Da raça humana, ou do que resta dela. Não estou dizendo que elas estivessem certas. Provavelmente não passava de mais uma das baboseiras de Sam e Milo.
Sara se juntou a eles. O inchaço em seu rosto tinha diminuído durante a noite, e os hematomas estavam mais suaves, com um tom lilás esverdeado.
- Deveríamos deixar o cavalo para Maus - disse ela.
- Ela está bem? - perguntou Peter.
- Um pouco desidratada. No estado dela, é preciso tomar cuidado. Acho que Mausami não deveria andar a pé no calor. E estou preocupada com Amy também.
- O que há de errado com ela?
Sara deu de ombros.
- O sol. Acho que não está acostumada a se expor assim. Ela já está com uma queimadura feia. Os óculos e a camisa vão ajudar, mas ela não pode ficar muito tempo debaixo desse sol, mesmo coberta.
Sara inclinou a cabeça e olhou para Hollis.
- Que história é essa que Michael me contou sobre uns veículos?
O grupo seguiu caminho.
As montanhas ficaram para trás. Ao meio-dia haviam penetrado o coração do deserto. Mal dava para ver a estrada, mas ainda era possível seguir seu curso, acompanhando a linha traçada por ela no chão duro, em meio a uma paisagem de pedras e árvores estranhas e retorcidas, sob um sol escaldante e um céu sem fim e desprovido de qualquer cor. Não havia uma brisa sequer: o ar estava tão parado que parecia zunir, o calor vibrava como asas de inseto. Tudo na paisagem parecia perto e longe ao mesmo tempo, a perspectiva distorcida pelo horizonte imensurável.
Peter pensou em como seria fácil se perder num lugar assim, andar sem direção até que a escuridão baixasse. Depois da cidade de Mojave Junction - que não era propriamente uma cidade, apenas alguns alicerces vazios e um nome no mapa -, subiram uma pequena encosta e viram duas longas fileiras de veículos abandonados, virados em direção ao lugar de onde eles estavam vindo. Em sua maioria eram carros, mas também havia alguns caminhões, as latarias enferrujadas e sem brilho afundando na areia. Era como se tivessem se deparado com uma sepultura aberta, um cemitério de automóveis. Muitos dos tetos haviam sido rasgados, as portas arrancadas das dobradiças. Os interiores pareciam derretidos. Se um dia havia existido corpos ali, tinham desaparecido fazia muito tempo, espalhados ao vento do deserto. Aqui e ali, no meio dos escombros, Peter detectava um item reconhecível: uma armação de óculos, uma mala aberta, uma boneca de plástico. Passaram por ali em silêncio, ninguém ousava falar. Peter contou mais de mil veículos enfileirados, antes de terminarem em um amontoado final de destroços, as areias indiferentes do deserto voltando a dominar a paisagem.
No meio da tarde Hollis anunciou que teriam de sair da estrada e virar para o norte. Peter havia começado a duvidar de que conseguiriam chegar ao depósito. O calor era simplesmente insuportável. Um vento quente soprava do leste, jogando areia em seus olhos. Desde o cemitério de carros, ninguém dissera muita coisa. O estado de Michael parecia ser o pior: o rapaz tinha começado nitidamente a mancar. Quando Peter perguntou o que havia de errado, ele tirou a bota em silêncio e mostrou uma grande bolha de sangue no calcanhar.
Pararam para descansar à sombra esparsa de um bosque de iúcas.
- Quanto falta? - perguntou Michael.
Ele havia tirado a bota para que Sara tratasse da bolha. Encolheu-se quando ela a furou com um pequeno bisturi tirado do kit médico que havia encontrado na usina. Uma única gota de sangue saiu da incisão.
- Mais uns 15 quilómetros - respondeu Hollis, um pouco afastado dos outros. - Estão vendo aquelas montanhas? E o que estávamos procurando.
Caleb e Mausami haviam pegado no sono, as cabeças apoiadas nas mochilas. Sara enrolou o pé de Michael com uma bandagem, e ele calçou novamente a bota, fazendo uma careta de dor. Só Amy parecia mal. Estava sentada longe dos outros, as pernas magras dobradas sob o corpo, olhando cautelosamente por trás dos óculos escuros.
Peter foi até Hollis.
- Acha que vamos conseguir? - perguntou baixinho.
- Vai ser por pouco.
- Vamos deixar o pessoal descansar meia hora.
- Eu não demoraria mais que isso.
O primeiro cantil de Peter havia se esvaziado. Ele se permitiu um gole do segundo, prometendo a si mesmo guardar o resto. Deitou-se com os outros à sombra. Parecia ter acabado de fechar os olhos quando ouviu seu nome e os abriu de novo, o rosto de Alicia acima dele.
- Você disse meia hora.
Ele se levantou.
- Certo. Hora de partir.
Mais uma hora se passou antes que vissem a placa surgir em meio ao calor tremulante. Primeiro uma cerca alta e longa com arame farpado em cima, e depois, 100 metros além do portão aberto, uma pequena guarita e a placa ao lado.
VOCÊ ESTÁ ENTRANDO NO CENTRO DE COMBATE TERRA-AR TWENTYNINE PALMS DOS FUZILEIROS NAVAIS. PERIGO.
MATERIAL EXPLOSIVO NÃO DETONADO.
NÃO SAIA DA ESTRADA.
- Material explosivo não detonado. - Michael franzia os olhos para ler a placa. - O que isso significa?
- Significa que você deve olhar onde pisa, Circuito - respondeu Alicia e depois direcionou a voz para o restante do grupo: - Podem ser bombas, talvez minas. Vamos formar uma fila. Cada um deve tentar pisar nas pegadas da pessoa à sua frente.
( - O que é aquilo? - Mausami apontava com uma das mãos enquanto cobria os olhos com a outra para se proteger da claridade. - São prédios?
Eram ônibus - 32, estacionados em duas fileiras pouco espaçadas, a tinta amarela quase totalmente desbotada. Peter caminhou até o ônibus mais próximo, no fim da fila. Nenhuma brisa soprava, e o único som vinha dos passos deles no chão pedregoso. Abaixo das janelas cobertas com telas de arame grosso liam-se as palavras DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DESERT CENTER. Peter subiu na duna de areia encostada à porta do veículo e espiou dentro dele. A areia encobria os bancos, formando uma silhueta ondulada. Havia ninhos de pássaros no teto, as paredes manchadas com a tinta branca de seu esterco.
- Ei! Olhem isso! - gritou Caleb.
Seguiram a voz dele até o lado oposto, onde uma espécie de aeronave estava tombada de lado.
- É um helicóptero - disse Michael.
Caleb estava em cima da fuselagem. Antes que Peter pudesse falar, ele havia aberto a porta, como se fosse uma escotilha, e pulado dentro.
- Cano Longo - gritou Alicia -, tome cuidado!
- Tudo bem! Está vazio!
Ouviram-no remexendo no interior e, um instante depois, sua cabeça se projetou pela porta.
- Não há nada aqui, só dois magrelos - anunciou Caleb, escorregando pela fuselagem e mostrando aos outros o que havia encontrado. - Eles estavam usando isso.
Dois cordões oxidados pelo tempo. Uma pequena placa prateada pendia de cada um deles. Peter usou um pouco de sua água para lavar as placas.
Sullivan, Joseph D. 0+ 098879254 Corpo de Fuzileiros Navais Católico romano
Gomez, Manuel R. AB - 859720152 Corpo de Fuzileiros Navais Não declarada
- São fuzileiros navais - disse Hollis. - Você deveria pôr isso de volta onde achou, Caleb.
Caleb pegou os cordões da mão de Peter, apertando-os contra o peito em um gesto defensivo.
- De jeito nenhum. Eles agora são meus. Eu os achei, é justo.
- Cano Longo, eles eram soldados.
A voz de Caleb se elevou subitamente.
- E daí? Eles nunca voltaram, voltaram? Os soldados deveriam voltar para ajudar a gente, mas nunca voltaram.
Por um momento ninguém falou.
- É isso o que esse lugar é, não? - disse Sara. - Titia costumava contar histórias sobre ele. Como os Primeiros vieram das cidades para subir a montanha de ônibus.
Peter também tinha ouvido as histórias. Sempre havia pensado que eram apenas isso: histórias. Mas Sara estava certa: esse era o lugar. O silêncio comprovava isso, mais do que os ônibus ou o helicóptero caído com os soldados mortos dentro. Era mais do que uma simples ausência de som: era o silêncio de algo interrompido.
Um sentimento o fez estremecer, uma sensação de alerta. Havia algo errado.
- Onde está Amy?
O grupo se espalhou pela fileira de ônibus, chamando o nome dela. Peter já estava louco quando Michael a encontrou. Ninguém havia pensado que ela poderia se afastar assim.
Michael estava parado junto a um dos ônibus soterrados, olhando por uma janela aberta.
- O que ela está fazendo? - perguntou Sara.
- Acho que só está sentada - respondeu Michael.
Peter entrou no ônibus. O vento havia empurrado a areia para o fundo do veículo, e os primeiros bancos estavam expostos. Amy estava sentada no banco logo atrás do assento do motorista, segurando a mochila no colo. Havia tirado os óculos e o boné.
- Amy, vai escurecer logo. Precisamos ir embora.
Mas a garota não fez menção de sair. Parecia estar esperando alguma coisa. Olhou ao redor, franzindo os olhos, como se notasse pela primeira vez que o ônibus estava vazio, que era ferro-velho. Então se levantou, colocou a mochila nas costas e saiu pela janela.
O depósito estava exatamente onde Hollis havia prometido.
Ele os guiou até o lugar onde a terceira montanha ficava entre as outras duas. Dali eles dobraram em direção ao leste de novo e pararam meio quilômetro depois.
- É aqui - anunciou.
Estavam diante de um paredão rochoso. Atrás deles o sol poente traçava uma última fatia de luz no horizonte. - Não estou vendo nada - disse Alicia.
- Não é para ver mesmo.
Hollis pendurou o fuzil no ombro e começou a escalar o paredão. Peter o observava com uma das mãos acima dos olhos por causa da claridade. Depois de subir 10 metros, ele desapareceu. - Aonde ele foi? - perguntou Michael.
A face da montanha começou a se mexer. Era uma porta dupla, percebeu Peter, feita para se confundir com a superfície, uma espécie de camuflagem. A porta recuou para dentro da colina, revelando uma caverna escura e a silhueta de Hollis diante deles.
Peter demorou um momento para absorver a dimensão do que estava vendo: um espaço enorme, escavado na montanha. Fileiras de estantes se estendiam para dentro do vão escuro, as prateleiras repletas de estrados de madeira com caixotes empilhados até o teto. Havia uma empilhadeira parada na entrada, perto de onde Hollis tinha aberto um painel de metal. Enquanto o grupo entrava, ele ligou um interruptor e de repente o espaço foi iluminado por carreiras de filamentos reluzentes nas paredes e no teto. Peter ouviu o zunido da ventilação mecânica começando a funcionar.
- Hollis, isso aí é fibra ótica - disse Michael, a voz cheia de espanto. - Qual é a fonte de energia?
Hollis ligou um segundo interruptor. Uma luz amarela de alerta se acendeu, piscando acima da porta. Com um estalo de engrenagens, ela começou a deslizar para fora de seus compartimentos, arrastando nesgas de sombra pelo chão.
- Não dá para ver pelo caminho de onde a gente veio - explicou Hollis, erguendo a voz acima do ruído -, mas há uma grande área de painéis solares na face sul da montanha. Foi assim que Demetrius encontrou o lugar.
As portas se fecharam com um estrondo que ecoou até o fundo do enorme galpão. Agora estavam lacrados em segurança.
- As baterias já não retêm muita carga, mas o sistema pode funcionar diretamente dos painéis solares por algumas horas. Há alguns geradores portáteis também, e um depósito de combustível alguns metros ao norte daqui. Gasolina, diesel, querosene. Sabendo tirar, dá para usá-los, e há bastante.
Peter avançou pela caverna. Independentemente de quem a tivesse construído, havia sido feita para durar. O espaço o fazia pensar em uma biblioteca, só que em vez de livros havia caixotes, e eles não continham palavras, e sim armas: os restos da última guerra perdida, armazenados para a guerra que estava por vir.
Foi até a estante mais próxima, onde Alicia estava parada junto a Amy. Desde o incidente nos ônibus, a menina havia ficado perto deles, jamais se aventurando por mais do que alguns metros.
Alicia havia usado a ponta da manga da blusa para limpar uma camada de poeira da lateral de um dos caixotes.
- O que é um lançador-propelente de granadas? - perguntou Peter.
- Não faço ideia - respondeu Alicia. Ela se virou para ele sorrindo. - Mas acho que quero um.
QUARENTA E QUATRO
Do diário de Sara Fisher ("O livro de Sara")
Apresentado na Terceira Conferência Global sobre o Período de Quarentena Norte-americano Centro de Estudos de Culturas e Conflitos Humanos Universidade de New South Wales, República Indo-australiana 16 a 21 de abril de 1003 D.V.
Começa o trecho da citação
Dia 4
Bem, acho que vou começar. Olá. Meu nome é Sara Fisher, Primeira Família. Estou escrevendo de um depósito secreto do Exército em algum lugar ao norte da cidade de Twentynine Palms, na Califórnia. Sou uma das oito almas que viajam das montanhas San Jacinto até a cidade de Telluride, no Colorado. É estranho dizer essas coisas a pessoas que não conheço, que talvez ainda nem tenham nascido. Mas Peter diz que um de nós deve registrar o que acontece conosco. Talvez um dia, segundo ele, alguém queira saber.
Estamos no depósito há dois dias. Pensando bem, o lugar é bastante confortável, com eletricidade, água encanada e até um chuveiro que funciona, se você não se incomodar em tomar banho frio (eu não me incomodo). Sem contar o alojamento, o depósito tem três câmaras principais: uma que parece conter basicamente armas (o "arsenal"), outra com veículos (a "garagem"), e uma terceira câmara, menor, com comida, roupas e suprimentos médicos (ainda não encontramos um nome para ela, então a chamamos simplesmente de "terceira sala"). Foi onde encontrei os cadernos e os lápis. Hollis diz que aqui há material suficiente para equipar um pequeno exército, do que não duvido.
Michael e Caleb vão tentar reparar um dos Humvees, que são um tipo de veículo grande blindado. Peter acha que, com dois deles, será possível carregar todos nós, além dos suprimentos e combustível extra, mas Michael não tem certeza se as peças que temos serão suficientes para consertar mais de um. Alicia está ajudando, mas, pelo jeito, tudo o que ela faz é entregar as ferramentas que eles pedem. É bom vê-la fazer outra coisa que não seja mandar em todo mundo, para variar.
Tudo isso pertencia aos fuzileiros navais, mas eles estão todos mortos agora. Um dos motivos de estarmos aqui é Amy, uma garota que, segundo Michael, tem 100 anos. Mas se você a visse, nunca desconfiaria disso. Pensaria que ela é só uma garota. Havia uma espécie de rádio implantado na nuca dela, e com isso ficamos sabendo que ela veio do Colorado, de um lugar chamado ZCQ. É uma longa história, e não sei bem como contar. Ela não fala, mas achamos que pode haver outros como ela, porque Michael disse que alguém está enviando uma mensagem pelo rádio. E é por isso que estamos indo para o Colorado.
Todo mundo aqui tem um trabalho a fazer, e o meu é ajudar Hollis e Peter a descobrir o que há nas dezenas de caixotes empilhados nas prateleiras. Peter diz que, já que temos de esperar o Humvee ser consertado, é melhor usarmos o tempo para catalogar os suprimentos, caso precisemos voltar algum dia. Além disso, talvez possamos encontrar outras coisas úteis, como os walkie-talkies. Michael acha que pode fazer os dois Humvees funcionarem se conseguir restaurar as baterias. Perto do arsenal há uma salinha que chamamos de escritório, cheia de escrivaninhas, computadores que não funcionam e estantes repletas de fichários e manuais, efoi lá que encontramos uma lista na qual estava escrito "almoxarifado" - páginas e mais páginas com tudo o que há no depósito, desde fuzis e morteiros até roupas e sabonetes. (Espero que encontremos os sabonetes logo.) Cada item é seguido por um código que corresponde aos números e letras nas estantes, mas nem sempre isso funciona. Às vezes abrimos um caixote pensando que vamos encontrar cobertores ou baterias e, em vez disso, há pás ou mais armas. Amy está ajudando e, mesmo que ela ainda não tenha dito nada, hoje percebi que é capaz de ler as listas tão bem quanto qualquer um de nós. Não sei por que, mas isso me surpreendeu.
Dia 6
Michael e Caleb ainda estão trabalhando nos Humvees. Michael diz que talvez possa consertar os dois, mas ainda não tem certeza. Diz que o problema são as peças de borracha - quase todas estão rachadas ou esfarelando. Mas nunca vi Michael tão feliz, e todos nós achamos que ele vai dar um jeito.
Ontem fiz a listagem dos suprimentos médicos. Boa parte não serve mais, mas há algumas coisas que acho que posso usar, como bandagens de verdade, talas e até um medidor de pressão. Verifiquei a pressão de Maus, que estava 12/8. Disse a ela que me lembrasse de fazer isso todos os dias e que não deixasse de beber bastante água. Ela concordou, mas isso a obriga a ir ao banheiro de cinco em cinco minutos.
Hoje de manhã Hollis nos levou até o deserto, para nos ensinar a atirar e a lançar granadas. Temos tanta munição que ele disse que não havia problema em usá-la para os treinos e que todos precisavam aprender. Assim, todos nós passamos algum tempo atirando contra pilhas de pedras e jogando granadas na areia, e agora meus ouvidos estão zumbindo com o estrondo das explosões. Hollis disse que a área ao sul do depósito está cheia de minas e que ninguém deve se aventurar por lá. Acho que ele estava se dirigindo principalmente a Alicia, porque ela tem saído a cavalo para caçar de manhã cedo, antes de o sol esquentar, mas até agora só pegou dois coelhos, que cozinhamos ontem à noite. Peter encontrou um baralho no alojamento e, depois do jantar, todos nós jogamos cartas - até Amy, que ganhou mais partidas do que todo mundo, embora ninguém tenha explicado a ela como jogar. Acho que aprendeu só de observar os outros.
Todos estamos usando botas de couro de verdade, menos Caleb, que preferiu continuar com seus tênis. São grandes demais, mas ele diz que não se importa, que gosta deles e acha que dão sorte, já que não morreu até agora, desde que os calçou. Será que vamos encontrar um caixote cheio desses tênis da sorte?
Dia 7
Ainda não houve progresso com os Humvees. Todos estão começando a se preocupar com a ideia de termos de sair daqui a pé.
Fora as botas, a melhor coisa que achamos até agora são as barras de luz. São tubos de plástico que emitem uma luz verde pálida quando você bate com eles no joelho e os sacode com força. Ontem à noite, Caleb quebrou um e espalhou seu conteúdo brilhante no rosto, dizendo: "Olhem, agora eu sou um fumaça!" Peter disse que aquilo não era engraçado, mas eu achei que era, e a maioria de nós caiu na gargalhada. Fico feliz por Caleb estar aqui.
Amanhã vou ferver água para tomar um banho de verdade. Quero aproveitar para cortar o cabelo de Amy, tentar fazer alguma coisa para melhorar aquele ninho desgrenhado. Talvez eu consiga convencê-la a tomar um banho também.
Dia 9
Michael disse que hoje ia tentar ligar um dos Humvees, por isso todos nos reunimos ao redor dele e de Caleb enquanto os dois conectavam o veículo a um dos geradores, mas quando tentaram ligar o motor, ouvimos um estrondo alto e o capô se encheu de fumaça. Michael disse que teriam de recomeçar do zero, que provavelmente o combustível estava ruim, mas dá para ver que na verdade ele não sabe qual foi o problema. Para piorar a situação, os vasos sanitários entupiram no alojamento. Hollis disse: "Como é que o Exército dos Estados Unidos faz uma comida que dura 100 anos, mas não consegue fazer uma privada decente?"
Hollis pediu que eu cortasse o cabelo dele também, e devo dizer que, com um pouco de trato, ele não fica nada mal. Talvez eu consiga persuadi-lo a raspar a barba, mas acho que ela significa muito para ele, agora que Arlo se foi. Pobre Arlo. Pobre Hollis.
Dia 11
A égua foi morta hoje. A culpa foi toda minha. Durante o dia nós a mantínhamos presa do lado de fora, onde há um pouco de mato para ela pastar. Decidi levá-la até um pasto mais adiante, mas algo a assustou e ela saiu em disparada. Hollis e eu corremos atrás, mas é claro que não conseguimos pegá-la, e então ela seguiu para o campo minado. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ouvimos um estrondo terrível, e quando a poeira baixou, ela estava caída no chão. Eu ia atrás dela, mas Hollis me impediu, aí eu disse que não podíamos deixá-la daquele jeito, e ele concordou. Em seguida voltou ao alojamento para buscar o fuzil e a colocou para dormir. Nós dois ficamos chorando depois, e eu perguntei como ela se chamava. Ele disse que o nome dela era Docinho.
Estamos aqui há apenas nove dias, mas parece muito mais, e começo a me perguntar se algum dia conseguiremos sair desse lugar.
Dia 12
O corpo da égua foi levado durante a noite. Portanto agora sabemos que há fumaças por perto. Peter decidiu fechar a porta uma hora antes do pôr do sol, só por garantia. Estou um pouco preocupada com Mausami. Provavelmente ninguém mais notou, mas a barriga dela começou a aparecer. O que todos sabem mas não querem dizer é que as chances de Theo estar morto são enormes. Ela é uma mulher forte, mas tenho certeza de que, à medida que os dias se arrastam, as coisas vão ficando mais difíceis para ela. Eu não gostaria de ter um bebê aqui.
Dia 13
Boas notícias: Michael disse que amanhã podemos tentar ligar um dos Humvees. Todos nós estamos mantendo os dedos cruzados, ansiosos para ir embora.
Encontrei um caixote na terceira sala com uma etiqueta que dizia "Sacos para Restos Humanos". Quando o abri, percebi que eram sacos que o Exército usava para colocar soldados mortos. Guardei o caixote de volta e espero que ninguém pergunte nada sobre ele.
Dia 16
Não escrevi nos últimos dois dias porque estive aprendendo a dirigir.
Michael e Caleb finalmente conseguiram fazer o Humvee funcionar. Todo mundo ficou gritando e rindo, de tanta felicidade. Michael disse que queria tentar primeiro e, depois de alguns arranhões, ele conseguiu tirar o veículo do depósito. Todos nos revezamos ao volante enquanto Michael nos dizia o que fazer, mas nenhum de nós é muito bom nisso.
O segundo Humvee começou a rodar hoje de manhã. Caleb diz que teremos apenas esses dois, mas não precisamos de mais que isso. Se um deles quebrar, temos o outro de reserva. Michael acha que o diesel que podemos levar será suficiente para chegar a Las Vegas, talvez mais longe. Depois disso, teremos de encontrar mais.
De manhã fomos até o depósito de combustível.
Dia 17
Abastecidos e prontos para partir. Passamos a manhã indo e voltando do depósito, colocando combustível nos Humvees e em latas de diesel.
Todos estão exaustos, mas também empolgados. É como se a jornada finalmente tivesse começado de verdade. Viajaremos em dois grupos de quatro. Peter vai dirigir um dos Humvees e eu, o outro. Hollis e Alicia vão ficar na parte de cima, responsáveis por usar as armas - metralhadoras calibre 50 que montamos esta tarde. Michael encontrou algumas baterias que ainda seguram carga. Vamos usá-las nos walkie-talkies, assim poderemos nos comunicar uns com os outros, pelo menos enquanto elas durarem. Peter achava que devíamos evitar passar por Las Vegas, que seria melhor ir pelas áreas rurais, mas Hollis disse que a cidade é o caminho mais rápido para chegar ao Colorado, e que as rodovias interestaduais são melhores, porque o terreno é mais regular. Alicia concordou com Hollis, e Peter finalmente cedeu, de modo que acho que iremos atravessar Las Vegas. Estamos todos imaginando o que haverá lá.
Agora sinto que estamos em uma expedição de verdade. Jogamos fora as roupas velhas e estamos usando roupas do Exército - até Caleb, embora tenham ficado grandes demais nele. (Maus está fazendo bainha em uma calça para ele.) Depois do jantar, Peter reuniu o grupo, mostrou a rota no mapa e depois disse que achava que devíamos comemorar. Hollis concordou e foi pegar uma garrafa de uísque que havia encontrado em uma das mesas do escritório. O gosto é parecido com o uísque que fazíamos na Colônia, e a sensação foi a mesma, e em pouco tempo todos estávamos rindo e cantando, o que foi bom, mas meio triste também, porque nos lembramos de Arlo com seu violão. Até Amy bebeu um pouco, e Hollis disse que talvez assim ela falasse alguma coisa, o que a fez sorrir, acho que pela primeira vez. Agora ela realmente parece ser uma de nós.
É tarde e preciso ir para a cama. Partiremos assim que o dia clarear. Mal posso esperar, mas acho que também vou sentir falta daqui. Nenhum de nós sabe o que encontraremos pela frente ou se algum dia teremos um lar de novo. Acho que, sem perceber, viramos uma família.
Dia 18
Chegamos a Kelso com tempo de sobra. A paisagem parece totalmente morta - as únicas criaturas vivas parecem ser os lagartos, que estão em toda parte, e as aranhas, enormes e peludas, do tamanho da minha mão. Não há outros prédios além da estação de trem. Comparado ao depósito da base militar, parece que estamos desabrigados, totalmente expostos, apesar de todas as portas e janelas estarem revestidas de tábuas. Há uma bomba, mas não há água, e por isso estamos usando a que trouxemos. Se continuar quente assim, é melhor encontrarmos mais água logo. Dá para ver que ninguém vai dormir muito por aqui. Como diz Peter, espero que Amy consiga manter as criaturas longe.
Dia 19
Fomos atacados ontem, um bando de três. Entraram pelo teto, rasgando a madeira como se fosse papel. Quando acabou, dois estavam mortos e o terceiro tinha fugido. Mas Hollis levou um tiro. Alicia diz que acha que atirou nele sem querer, mas Hollis disse que atirou em si mesmo quando tentava carregar uma das pistolas. Provavelmente disse isso para que ela se sentisse melhor. A bala passou de raspão na parte superior do braço, mas qualquer ferimento pode ser sério, principalmente agora. Hollis é durão demais para reclamar, mas dá para ver que está sentindo muita dor.
Estou escrevendo isso de madrugada, logo antes do amanhecer. Ninguém vai voltar a dormir. Estamos esperando apenas o sol nascer para sairmos daqui. Nosso objetivo é chegar a Las Vegas com tempo suficiente para encontrar abrigo para a noite. O que todos estão pensando mas ninguém quer dizer é que, daqui para a frente, não estaremos mais seguros de verdade.
O engraçado é que isso não me incomoda muito. É claro que espero que a gente não morra na viagem, mas acho que prefiro estar aqui, com essas pessoas, do que em qualquer outro lugar. Sentir medo é diferente quando há esperança de que isso vá resultar em alguma coisa. Não sei o que iremos encontrar no Colorado, se é que conseguiremos chegar até lá, nem sei se isso importa. Todos aqueles anos esperando o Exército e, no final das contas, o exército somos nós.
QUARENTA E CINCO
Vindo pelo sul, com o dia já quase se esvaindo, penetraram em uma visão de ruínas.
Peter dirigia o primeiro Humvee. Alicia estava em cima, examinando o terreno com o binóculo, enquanto Caleb acompanhava o trajeto sentado no banco do carona com o mapa no colo. A estrada havia praticamente desaparecido, encoberta por ondas de terra pálida e rachada.
- Caleb, onde, diabos, estamos?
Caleb virava o mapa de um lado para o outro. Ele inclinou o pescoço e gritou para Alicia:
- Está vendo a 215?
- O que é a 215?
- Outra estrada, igual a essa! A gente devia estar passando por ela!
- Eu nem sabia que estávamos numa estrada!
Peter parou o veículo e pegou o walkie-talkie no chão.
- Sara, como está o seu marcador de combustível?
Um ruído de estática, e então a voz de Sara chegou:
- Um quarto de tanque. Talvez um pouco mais.
- Deixe-me falar com Hollis.
Pelo retrovisor, Peter viu Hollis descer do posto de tiro e pegar o rádio com Sara, o braço ferido apoiado em uma tipóia.
- Acho que talvez tenhamos perdido a estrada - disse Peter. - Além disso, precisamos de combustível.
- Há algum aeroporto por aqui?
Peter pegou o mapa com Caleb.
- Sim. Se ainda estivermos seguindo pela rodovia 15, ele deve estar um pouco mais adiante, a leste - respondeu, gritando depois para Alicia: - Está vendo alguma coisa que se pareça com um aeroporto?
- Como, diabos, vou saber como é um aeroporto?
Pelo rádio, Hollis ajudou:
- Diga a ela para procurar tanques de combustível. Grandes.
- Lish! Está vendo algum tanque de combustível?
Alicia desceu para a cabine. Seu rosto estava coberto de poeira. Ela lavou a boca com um gole d'água do cantil e cuspiu pela janela.
- Bem em frente, uns cinco quilômetros.
- Tem certeza?
Ela assentiu.
- Há um viaduto adiante. Acho que pode ser o da rodovia 215. Se eu estiver certa, o aeroporto fica logo do outro lado.
Peter pegou o rádio de novo.
- Lish acha que viu o aeroporto. Vamos em frente.
- Olhos abertos, primo.
Peter engrenou o veículo e avançou. Estavam nos arredores da cidade, ao sul, em uma planície aberta cheia de tufos de mato. A oeste, montanhas se elevavam contra o céu arroxeado do deserto, como grandes animais se erguendo da terra. Do outro lado do para-brisa, Peter viu o agrupamento de prédios do centro de Las Vegas começar a tomar forma, uma silhueta indefinida de construções banhadas numa luz dourada. Era impossível dizer o tamanho delas ou a que distância estavam. No banco de trás, Amy havia tirado os óculos e espiava a paisagem pela janela. Sara fizera um bom trabalho cortando seu cabelo: o emaranhado selvagem se transformara em um capacete bem aparado e escuro que acompanhava o contorno da face.
Chegaram ao viaduto, mas tudo o que restava dele eram placas de concreto partidas, com um amontoado de carros e entulho na estrada abaixo. Seria impossível passar. Não havia nada a fazer a não ser dar a volta. Peter seguiu pelo leste, acompanhando a estrada sob eles. Alguns minutos depois, chegaram a outro viaduto, que parecia intacto. Era arriscado, mas o tempo estava se esgotando.
Peter se comunicou com Sara pelo walkie-talkie.
- Vou tentar atravessar. Espere até chegarmos ao outro lado.
A sorte ajudou, e passaram sem nenhum problema. Enquanto estava parado do outro lado esperando Sara atravessar, Peter pegou o mapa outra vez. Se estivesse correto, estavam na extremidade sul do Las Vegas Boulevard e o aeroporto e os tanques de combustível deviam estar logo adiante, a leste.
Seguiram em frente. A paisagem começava a mudar, a quantidade de prédios e de carros abandonados se multiplicando. A maioria dos veículos apontava para o sul, para longe da cidade.
- São caminhões do Exército - disse Caleb.
Um minuto depois viram o primeiro tanque de guerra. Estava virado no meio da estrada, como uma enorme tartaruga de cabeça para baixo. As duas esteiras tinham sido arrancadas.
Alicia se agachou para enfiar a cabeça na cabine.
- Siga em frente - disse ela. - Devagar.
Peter girou o volante para contornar o tanque. Passavam agora por uma vasta área coberta do que restara de tanques e outros veículos. Estava claro que o perímetro de defesa da cidade começava adiante. Peter podia ver pilhas de sacos de areia encostadas a uma barreira de concreto com arame farpado no topo.
- O que você quer fazer agora? - perguntou Sara pelo walkie-talkie.
- Temos de encontrar um jeito de dar a volta - respondeu, depois se dirigindo a Alicia, que olhava pelo binóculo. - Lish! Leste ou oeste?
Ela se abaixou de novo.
- Oeste. Acho que há uma abertura no muro.
Estava ficando tarde, e o ataque da noite anterior deixara todos abalados. Os últimos raios de luz do dia eram como um funil, arrastando-os para a noite. A cada minuto que passava, as decisões que tomavam eram mais irrevogáveis.
- Alicia acha que devemos seguir para o oeste - informou Peter pelo rádio.
- Isso vai nos afastar do aeroporto.
- Eu sei. Chame Hollis de novo - pediu. Esperou escutar a voz de Hollis, depois continuou: - Acho que teremos de usar o combustível que temos para procurar um abrigo para a noite. Com todos aqueles prédios lá na frente, deve haver algum lugar que possamos usar. Podemos voltar para o aeroporto de manhã.
A voz de Hollis parecia calma, mas Peter sabia que ele estava preocupado.
- Você é quem manda.
Ele olhou para Alicia pelo retrovisor, e ela assentiu.
- Vamos dar a volta - disse Peter.
A abertura na barreira de concreto era um buraco de 20 metros de largura. Os restos de um caminhão-tanque queimado estavam tombados perto da passagem. O motorista provavelmente havia tentado romper o bloqueio, pensou Peter.
Continuaram. A paisagem estava mudando de novo, as construções se avolumando à medida que adentravam a cidade. Ninguém falava. Os únicos sons eram o ronco grave do motor e o roçar do mato embaixo do Humvee. De algum modo, estavam de volta ao Las Vegas Boulevard; uma placa presa por cabos no alto da rua rangia, balançada pelo vento. Os prédios agora eram muito maiores, estruturas de proporções monumentais que se erguiam sobre a estrada, as fachadas completamente em ruínas. Alguns estavam queimados, gaiolas vazias feitas de vigas de aço, outros haviam praticamente desmoronado e, sem as paredes da frente, mostravam a colmeia de seu interior adornada por emaranhados de cabos e fios elétricos. Muitos haviam sido tomados por florestas de trepadeiras, enquanto outros permaneciam nus e estéreis, os letreiros ainda intactos mostrando nomes misteriosos: Mandalay Bay; The Luxor; New York, New York. Os espaços entre as construções estavam cobertos de todo tipo de entulho, forçando o Humvee a se arrastar. Mais caminhões, tanques e barricadas de sacos de areia: aquele fora o palco de uma batalha. Por duas vezes Peter foi obrigado a parar totalmente e procurar uma rota alternativa para contornar algum obstáculo.
- O caminho está atulhado demais - disse ele finalmente. - Não vamos atravessar nunca. Caleb, encontre um jeito de sairmos daqui.
Caleb sugeriu que virassem para oeste, em direção ao Tropicana, mas 100 metros depois a rua desapareceu, tomada novamente por uma montanha de entulho. Peter deu meia-volta, retornou ao cruzamento e tentou ir para o norte de novo. Dessa vez foram impedidos de seguir por um segundo perímetro de barricadas de concreto.
- Isso aqui parece um labirinto.
Tentou seguir pelo lado leste, mas o caminho também estava intransponível. As sombras começavam a se alongar: tinham aproximadamente meia hora de luz. Ir para o coração da cidade havia sido um erro, Peter sabia. Agora estavam presos.
Pegou o walkie-talkie no painel.
- Alguma ideia, Sara?
- Podemos tentar voltar.
- Quando conseguirmos sair daqui, o sol já terá ido embora. Não queremos ser apanhados do lado de fora no escuro, principalmente com todos esses pontos altos.
Alicia desceu até a cabine novamente.
- Há um prédio que parece seguro - disse. - Uns 100 metros atrás. Passamos por ele quando entramos.
- Acho que não temos outra opção - Peter transmitiu a informação ao segundo Humvee.
Foi Hollis quem respondeu.
- Vamos nessa.
Deram meia-volta. Olhando pelo para-brisa, Peter identificou a construção de que Alicia havia falado: uma torre branca e estreita, incrivelmente alta, erguia-se das sombras em direção ao sol. Parecia segura, mas ele não podia ver o outro lado, e a parte de trás do prédio podia estar totalmente destruída. A estrutura em si era separada da rua por um muro alto de alvenaria e um aglomerado de vegetação que, quando eles se aproximaram, viram ser uma piscina coberta de plantas. Peter estava preocupado, achando que teria de atravessá-la de algum modo, quando percebeu, no mesmo instante em que Alicia, uma passagem no mato baixo.
- Vire aqui! - gritou ela.
Peter conseguiu levar o Humvee até a base da torre, parando sob uma espécie de pórtico envolto em trepadeiras. Sara estacionou atrás. Na frente do prédio, as janelas haviam sido lacradas com tábuas, a entrada protegida por uma barricada de sacos de areia. Ao sair do veículo, Peter sentiu um frio súbito: a temperatura estava baixando.
Alicia abriu o compartimento de trás do Humvee e tirou rapidamente as bolsas e os fuzis.
- Peguem apenas o necessário para esta noite - ordenou. - O que der para carregar. Tragam o máximo de água que puderem.
- E os Humvees? - perguntou Sara.
- Eles não vão a lugar nenhum sozinhos.
Depois de passar um cinto de granadas pela cabeça, Alicia verificou a carga do fuzil.
- Cano Longo, já arranjou um modo de entrarmos? Estamos ficando sem luz.
Caleb e Michael trabalhavam furiosamente para soltar as tábuas de uma janela. A madeira se desprendeu com um estalo, revelando o vidro coberto de sujeira. Um golpe de pé de cabra e o vidro se despedaçou.
- Por todos os voadores! - exclamou Caleb, franzindo o nariz. - Que fedor é esse?
- Acho que já vamos descobrir - respondeu Alicia. - Muito bem, pessoal, vamos lá.
Peter e Alicia pularam pela janela primeiro. Hollis ficou na retaguarda, com Amy e os outros no meio. Quando caiu do outro lado, Peter se viu num corredor escuro paralelo à frente do prédio. A direita havia uma porta metálica dupla, as maçanetas presas por uma corrente. Recuou até a janela aberta.
- Caleb, me passe um martelo. E o pé de cabra também.
Usou a ponta do pé de cabra para arrebentar a corrente. A porta se abriu, revelando um amplo espaço aberto, um grande salão surpreendentemente intacto. Exceto pelo cheiro - um odor químico e ácido, vagamente biológico - e uma grossa camada de poeira que cobria todas as superfícies, a impressão que se tinha era a de que o lugar fora abandonado fazia pouco tempo, como se as pessoas tivessem partido apenas alguns dias antes, e não havia décadas. No centro havia uma grande estrutura de pedra, uma espécie de fonte, e em uma plataforma elevada no canto, um piano coberto de teias de aranha. Um balcão comprido ficava à esquerda e, atrás dele, uma fileira de janelas altas dava para um pátio cujos detalhes estavam perdidos sob um tapete de vegetação luxuriante, o que dava à luz do salão um tom nitidamente esverdeado. Peter ergueu os olhos para o teto, que era adornado por frisos cuidadosamente esculpidos, formando painéis convexos: figuras aladas de olhos tristes e rostos bochechudos pintadas sobre um céu azul entremeado de nuvens que pareciam de algodão.
- Isso é... algum tipo de igreja? - sussurrou Caleb.
Peter não respondeu. Ele não sabia. Havia algo de inquietante, até mesmo agourento, nas figuras aladas do teto. Ele se virou e viu Amy parada junto ao piano coberto de teias de aranha. Ela olhava para cima, como os outros.
Então Hollis se aproximou e disse:
- E melhor irmos para um lugar mais alto.
Dava para ver que ele também sentia uma presença fantasmagórica pairando no ar.
- Vamos tentar achar a escada.
Avançaram pelo interior do prédio por um segundo corredor, mais largo, com lojas de ambos os lados. Prada, Tutto, La Scarpa, Tesorini - os nomes não significavam nada, mas eram estranhamente sonoros. Havia mais danos ali - vitrines despedaçadas, cacos de vidro brilhantes pelo chão de pedra que se partiam sob as solas das botas. Muitas das lojas pareciam ter sido saqueadas, os balcões quebrados e tudo revirado, enquanto outras estavam intactas, com suas mercadorias peculiares e inúteis - sapatos com os quais ninguém podia andar, bolsas pequenas demais para carregar qualquer coisa - ainda nas vitrines. Passaram por placas que diziam SPA e PISCINA, com setas apontando para outros corredores adjacentes, e por fileiras de elevadores com as portas brilhantes fechadas, mas nada que indicasse ESCADA.
O corredor terminava em um segundo salão, tão grande quanto o primeiro, que se estendia até a escuridão. Havia algo de subterrâneo naquele lugar, como se tivessem encontrado a entrada de uma imensa caverna. O cheiro ali era mais forte. Eles acionaram suas barras luminosas e avançaram, varrendo a área com os fuzis. O salão era cheio de longas fileiras de máquinas, diferentes de qualquer coisa que Peter já vira antes, com telas de vídeo e diversos botões e alavancas. Diante de cada uma delas havia uma banqueta, onde presumiram que os operadores das máquinas se sentavam para cumprirem sua função desconhecida.
Então viram os magrelos.
Primeiro um, depois outro, e então dezenas deles, as figuras congeladas surgindo na penumbra. A maioria estava sentada ao redor de uma série de mesas altas, as posturas de uma comicidade sinistra, como se tivessem sido dominados em meio a algum ato de desespero e particular.
- Que diabo de lugar é esse?
Peter se aproximou de uma das mesas. Havia três figuras sentadas e uma quarta no chão ao lado do banco caído. Com a barra luminosa em punho, Peter se abaixou junto ao corpo de uma mulher. Ela havia tombado para a frente, e a cabeça estava de lado, com o rosto sobre a mesa. O cabelo, totalmente descolorido, formava uma moldura de fibras secas em volta do crânio. Uma dentadura ocupava o lugar dos dentes, as gengivas de plástico mantendo ainda um tom de rosa vivo incompatível com a situação. Em volta do pescoço dela viam-se diversos cordões de metal dourado e os dedos estavam cheios de anéis, com pedras gordas e brilhantes de todas as cores. Na mesa diante dela havia um par de cartas viradas para cima - um seis e um valete. Peter percebeu que o mesmo acontecia com os outros: cada jogador tinha duas cartas. Havia mais cartas espalhadas na mesa. Era algum tipo de jogo, como o que eles jogavam. No meio havia um amontoado de jóias - anéis, relógios e pulseiras -, além de uma pistola e um punhado de balas.
- É melhor seguirmos em frente - disse Alicia, surgindo ao lado dele.
Havia algo ali, pensou Peter. Algo que ele devia encontrar.
- Vai escurecer logo, Peter. Precisamos achar a escada.
Afastou os olhos, assentindo.
Saíram num átrio com cúpula de vidro. O céu estava esfriando, a noite caía. Escadas rolantes levavam a outro andar escuro abaixo deles. A direita, viram uma fileira de elevadores e mais um corredor cheio de lojas.
- Será que estamos andando em círculos? - disse Michael. - Juro que já passamos por aqui.
O rosto de Alicia estava sério.
- Peter...
- Eu sei, eu sei.
Precisavam decidir se iriam continuar procurando a escada ou se buscariam abrigo no térreo. Ele se virou para encarar o grupo, que de repente pareceu pequeno demais.
- Droga, essa não.
Mausami apontou para as vitrines da loja mais próxima.
- Ela está ali.
EMPÓRIO DOS PRESENTES, dizia o letreiro. Peter abriu a porta e entrou. Amy estava virada para uma das prateleiras perto do balcão, onde havia uma fileira de esferas de vidro. Ela havia apanhado uma e a estava sacudindo com força, enchendo seu interior com um jorro de movimento.
- Amy, o que é isso?
A menina se virou com o rosto iluminado. Encontrei uma coisa, seus olhos pareciam dizer, uma coisa maravilhosa, e estendeu o objeto para ele. Um peso inesperado encheu a mão de Peter: a esfera estava cheia de líquido, onde pequenos flocos, brancos e brilhantes como neve, boiavam sobre uma paisagem de prédios minúsculos. Erguendo-se no centro daquela cidade em miniatura havia uma torre branca - a mesma torre onde estavam agora, percebeu Peter.
O restante do grupo havia se amontoado em volta deles.
- O que é isso? - perguntou Michael.
Peter entregou a esfera a Sara, que a mostrou aos outros.
- Uma espécie de miniatura, eu acho.
O rosto de Amy tinha um ar de felicidade reluzente.
- Por que ela queria que víssemos isso?
Foi Alicia quem respondeu.
- Peter - disse ela -, acho melhor você olhar.
Ela havia virado o globo de cabeça para baixo, revelando as palavras impressas na base.
JíoteCe Cassino 9/liíagro Las Vegas
O cheiro não tinha nada a ver com os magrelos, explicou Michael. Era gás metano, que fazia o lugar feder como uma latrina. Em algum ponto abaixo do hotel havia um mar de esgoto - os excrementos de toda uma cidade armazenados por quase 100 anos, presos em um gigantesco tanque de fermentação.
- Não vamos querer estar aqui quando isso estourar - avisou ele. - Vai ser o maior peido da história. Este lugar vai se incendiar como uma tocha.
Estavam no 15º andar do hotel, olhando a noite chegar. Durante alguns minutos de pânico eles chegaram a pensar que teriam de se refugiar nos andares mais baixos do prédio. A única escada que haviam encontrado, do outro lado do cassino, estava coberta de entulho - cadeiras, mesas, colchões, malas, tudo quebrado e amassado, como se tivesse sido jogado de uma grande altura. Foi Hollis quem sugeriu forçar a abertura de um dos elevadores. Presumindo que o cabo estivesse intacto, explicou, poderiam escalar uns dois andares, o bastante para ultrapassarem a barricada, e subir o restante do caminho pela escada.
Deu certo. Então, no 16º andar, encontraram uma segunda barricada. Os degraus estavam cobertos de cartuchos de balas. Saíram e se viram em um corredor escuro. Alicia acionou outra barra luminosa. O corredor tinha portas dos dois lados, e uma placa na parede tinha uma seta e os dizeres SUÍTE EMBAIXADOR.
Peter apontou o fuzil para a primeira porta.
- Caleb, faça sua mágica.
No quarto, encontraram os corpos de um homem e uma mulher deitados. Os dois usavam roupão de banho e chinelos. Sobre a mesinha junto à cama havia uma garrafa de uísque aberta - o conteúdo havia evaporado, deixando apenas uma mancha marrom no fundo - e uma seringa de plástico. Verbalizando o que todos pensaram, Caleb declarou que não iria passar a noite com dois magrelos que haviam se matado.
Só depois de tentarem seis diferentes portas encontraram um apartamento vazio. Eram três cômodos, dois deles com duas camas cada, e um terceiro, maior, com janelas que davam para a cidade. Peter se aproximou do vidro. Os últimos resquícios de luz solar estavam sumindo, banhando a paisagem com um brilho laranja. Peter desejou que estivessem em um local mais alto, até mesmo no telhado, mas isso teria de servir.
- O que é aquilo? - perguntou Mausami.
Ela estava apontando para o outro lado da rua, onde uma enorme estrutura - uma torre de aço edificada sobre quatro pernas que se afunilavam até uma ponta estreita no alto - erguia-se entre os prédios.
- Acho que é a Torre Eiffel - disse Caleb. - Vi uma foto num livro uma vez.
Mausami franziu a testa.
- Ela não ficava na Europa?
- Em Paris - completou Michael, que estava ajoelhado no chão, desempacotando o equipamento. - Na França.
- Então o que está fazendo aqui?
- Como é que eu vou saber? - Michael deu de ombros. - Talvez a tenham transportado para cá.
Ficaram juntos vendo a noite cair - primeiro a rua, depois os prédios, depois as montanhas distantes, tudo afundando na escuridão, como corpos numa banheira. As estrelas estavam saindo. Ninguém tinha coragem de dizer nada - a situação precária em que se encontravam era óbvia. Sentada no sofá, Sara trocava o curativo do braço de Hollis. Peter podia discernir - não tanto por algo que ela tivesse dito, mas pelo que não dizia e pela gravidade com que realizava a tarefa - que estava preocupada com o rapaz.
Distribuíram as refeições do Exército e se deitaram para descansar. Alicia e Sara se ofereceram para montar guarda no primeiro turno. Peter estava exausto demais para contestar. "Me acordem quando precisarem", disse. "Provavelmente nem vou dormir."
E não dormiu. Ficou deitado no chão, olhando para o teto, com a cabeça apoiada na mochila. Milagro, pensava. Então Milagro era isso. Amy estava sentada em um canto, de costas para a parede, segurando o globo de vidro. De vez em quando ela o levantava do colo e o sacudia, segurando-o perto do rosto enquanto observava a neve cair e se acomodar. Peter se perguntava o que ela pensaria dele, de todos eles. Tinha explicado a ela aonde iam e por quê. Mas se ela sabia o que havia no Colorado, ou quem enviara o sinal, não tinha dado qualquer indicação disso.
Por fim desistiu de tentar dormir e voltou ao quarto principal. Uma lasca de lua havia subido acima dos prédios. Alicia estava parada junto à janela, observando a rua. Sara estava sentada junto a uma pequena mesa, jogando uma partida de paciência, o fuzil descansando no colo.
- Algum sinal lá fora?
Sara franziu a testa.
- Eu estaria jogando cartas?
Ele pegou uma cadeira. Durante algum tempo não disse nada, olhando-a jogar.
- Onde conseguiu o baralho?
As cartas tinham um nome gravado atrás: MILAGRO.
- Lish o encontrou em uma gaveta.
- Você deveria descansar, Sara. Eu fico no seu lugar.
- Estou bem - respondeu, franzindo a testa. Juntou as cartas em uma pilha e as distribuiu de novo. - Volte para a cama.
Peter não disse mais nada. Tinha a sensação de que havia feito algo errado, mas não sabia o quê.
Alicia se virou da janela.
- Sabe, acho que vou aceitar a oferta e descansar a cabeça por alguns minutos. Se você não se importar, Sara.
Ela deu de ombros.
- Tudo bem.
Alicia deixou os dois a sós. Peter se levantou e foi até a janela, usando o visor noturno do fuzil para examinar a rua - carros abandonados, montes de entulho e lixo, os prédios vazios. Era um mundo congelado no tempo, apanhado no momento de seu abandono, nas últimas horas violentas do Tempo de Antes.
- Você não precisa fingir, sabe?
Ele se virou. Sara o encarava friamente, o rosto banhado pela luz do luar.
- Fingir o quê?
- Peter, por favor. Não comece.
Peter podia sentir a amargura na voz de Sara. Ela havia decidido alguma coisa.
- Você fez o melhor que pôde. Sei disso. - Ela riu baixinho, desviando o olhar. Então continuou: - Eu poderia dizer que estou agradecida, mas não estaria sendo sincera, por isso não vou dizer. Se todos morrermos aqui, pelo menos queria que você soubesse que está tudo bem.
- Ninguém vai morrer.
Era tudo em que ele podia pensar para falar.
- Bom. Espero que seja verdade. - Ela fez uma pausa, depois prosseguiu. - Mesmo assim, naquela noite...
- Olhe, sinto muito, Sara. - Ele respirou fundo. - Eu deveria ter dito antes. A culpa foi minha.
- Não precisa se desculpar, Peter. Como eu disse, você tentou. E foi uma boa tentativa. Mas vocês dois são feitos um para o outro. Acho que eu sempre soube disso. Foi idiotice minha não aceitar a verdade.
Ele estava completamente perplexo.
- Sara, de quem você está falando?
Sara não respondeu. Seus olhos se arregalaram de repente. Estava olhando para além dele, pela janela.
Peter se virou rapidamente. Sara se levantou e chegou perto dele.
- O que você viu?
Ela apontou.
- Do outro lado da rua. Na torre.
Ele encostou o olho no visor noturno.
- Não estou vendo nada.
- Estava lá, eu sei.
Então Amy apareceu na sala, o globo apertado junto ao peito. Com a outra mão, ela segurou Peter pelo braço e começou a puxá-lo para longe da janela.
- Amy, o que está havendo?
O vidro da janela atrás deles explodiu em uma chuva de cacos brilhantes. Peter sentiu todo o ar sair do seu corpo enquanto era jogado para o outro lado do quarto. Só mais tarde ele compreenderia que o viral tinha vindo direto para cima deles. Ouviu Sara gritar - nenhuma palavra, apenas um grito de terror. Ele bateu no chão, rolando, os membros embolados aos de Amy, a tempo de ver a criatura saltando de volta pela janela.
Sara se fora.
Agora Alicia e Hollis estavam no quarto, todos estavam lá. Hollis havia tirado a tipóia e pego o fuzil. Estava parado junto à janela, mirando para baixo, varrendo a cena com o cano da arma. Não deu nenhum tiro.
- Merda!
Alicia ajudou Peter a se levantar.
- Você está cortado? Ele arranhou você?
As entranhas de Peter borbulhavam. Balançou a cabeça, indicando que não.
- O que aconteceu? - gritou Michael. - Cadê minha irmã?
Peter encontrou a própria voz.
- Ele a levou.
Michael havia agarrado Amy com força pelos braços. Ela ainda estava segurando o globo, que de algum modo não se quebrara.
- Onde está ela? Onde está ela?
- Pare, Michael! - gritou Peter. - Você está assustando a garota!
O globo caiu no chão com um estrondo enquanto Alicia puxava Michael para longe, jogando-o no sofá. Amy cambaleou para trás, os olhos arregalados de medo.
- Circuito! - disse Alicia. - Você precisa se acalmar.
Os olhos dele estavam cheios de lágrimas.
- Não me chame assim, porra!
- Calem a boca, todos vocês! - ordenou uma voz de trovão.
Quando se viraram, viram Hollis parado junto à janela aberta, a arma apoiada no quadril.
- Já basta. Calem a boca - repetiu. Em seguida olhou para todos. - Vou buscar sua irmã, Michael.
Hollis se ajoelhou e começou a remexer na mochila para pegar pentes extras, enchendo os bolsos do colete.
- Vi para onde eles a levaram. Eram três.
- Hollis - interrompeu Peter.
- Não estou pedindo. - Ele encarou Peter. - Você, mais do que ninguém, sabe que eu preciso ir.
Michael deu um passo à frente.
- Eu vou junto.
- Eu também - disse Caleb. Em seguida levantou os olhos para o grupo, o rosto subitamente inseguro. - Quero dizer, todos nós vamos, certo?
Peter olhou para Amy. Ela estava sentada no sofá, os joelhos apertados contra o peito. Ele pediu a pistola de Alicia.
- Para quê? - perguntou ela.
- Se vamos sair daqui, Amy precisa de uma arma.
Ela sacou a pistola da cintura. Peter tirou o pente para verificar a carga, depois o enfiou de volta e puxou o transportador para colocar uma bala na câmara. Em seguida estendeu a arma para Amy.
- Um tiro - disse ele, batendo com o indicador no próprio esterno. - Você tem apenas uma chance. Bem aqui. Sabe como fazer isso?
Amy ergueu os olhos da pistola que estava segurando e assentiu.
Estavam juntando o equipamento quando Alicia puxou Peter para um canto.
- Não que eu queira ser do contra - disse baixinho -, mas pode ser uma armadilha.
- Eu sei que é uma armadilha - respondeu Peter, pegando o fuzil e a mochila. - Acho que eu já sabia disso desde que entramos nesse lugar. Todas aquelas ruas bloqueadas, eles nos guiaram direto para cá. Mas Hollis está certo. Eu não deveria ter abandonado Theo e não vou abandonar Sara.
Acionaram as barras luminosas e saíram para o corredor. Alicia se aproximou do topo da escada e olhou para baixo, varrendo a área com o cano do fuzil, e então deu sinal para que os outros avançassem.
Desceram assim, lance por lance, Alicia e Peter na frente, Mausami e Hollis na retaguarda. Quando chegaram ao terceiro andar, saíram da escada e seguiram pelo corredor em direção aos elevadores.
A porta do elevador do meio estava aberta, como a haviam deixado. Espiando pela borda, Peter pôde ver o alçapão do teto do carro aberto lá embaixo. Pendurou-se no cabo com o fuzil no ombro, desceu cuidadosamente e pulou dentro.
O carro estava parado em um saguão da altura de dois andares, com teto de vidro. A parede à frente do elevador era espelhada, dando uma visão panorâmica da área externa. Peter estendeu lentamente o cano do fuzil para fora, prendendo o fôlego. Mas o espaço enluarado estava vazio. Assobiou para que os outros descessem.
O restante do grupo veio atrás, passando os fuzis pelo alçapão e pulando no carro. A última a descer foi Mausami. Peter viu que ela trazia duas mochilas, uma em cada ombro.
- É de Sara - explicou ela. - Achei que ela pudesse precisar dela.
O cassino ficava à esquerda; à direita, o corredor escuro com as lojas vazias. A entrada principal e os Humvees estavam mais adiante. Hollis tinha visto o bando levar Sara para a torre do outro lado da rua. O plano era atravessar nos Humvees o terreno aberto diante do hotel, usando as armas pesadas para dar cobertura. Depois disso, Peter não sabia.
Chegaram ao saguão com o piano silencioso. O local estava quieto, sem qualquer mudança aparente. A luz das barras luminosas, as figuras aladas do teto pareciam flutuar livremente, suspensas acima da cabeça deles sem qualquer conexão com o plano físico. Quando Peter as vira pela primeira vez, tinham parecido um tanto ameaçadoras, mas esse sentimento não existia mais. Aqueles olhos úmidos e os rostos redondos e macios, percebia agora, eram imagens de Pequenos.
Chegaram à entrada e se agacharam perto da janela aberta.
- Eu vou primeiro - disse Alicia, tomando um gole do cantil. - Se o caminho estiver livre, entramos nos Humvees e damos partida. Não quero ficar perto da base do prédio mais do que dois segundos. Michael, você dirige o segundo Humvee. Hollis e Mausami, quero vocês em cima com as metralhadoras. Caleb, corra como o diabo e entre, e se certifique de que Amy está com você. Eu cubro vocês enquanto entram nos veículos.
- E você? - perguntou Peter.
- Não se preocupe, não vou deixar vocês saírem daqui sem mim.
Em seguida ela pulou pela janela e correu até o veículo mais próximo. A escuridão lá fora era total, a lua obscurecida pelo teto do pórtico.
Peter se posicionou. Ouviu um impacto suave quando Alicia deu um salto e se agachou perto da base de um dos Humvees. Apertou a coronha da arma contra o ombro, desejando que Alicia assobiasse indicando que o caminho estava livre.
- Por que, diabos, ela está demorando tanto? - sussurrou Hollis.
A falta de luz era tão absoluta que parecia viva - não uma ausência, mas uma presença pulsando ao redor. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Peter. Ele inspirou e encostou o dedo no gatilho do fuzil, pronto para atirar.
Uma figura disparou na direção deles, vinda da escuridão.
- Corram!
Enquanto Alicia mergulhava de cabeça pela janela, Peter percebeu o que estava vendo: uma massa de luz verde-clara avançando a toda contra o prédio, como uma onda prestes a arrebentar.
Virais. A rua estava cheia de virais.
Hollis estava atirando. Peter apoiou a arma no ombro e conseguiu disparar apenas duas vezes, antes que Alicia o puxasse pela manga e o arrastasse de perto da janela.
- Eles estão por toda parte! Saia daqui!
Tinham atravessado menos da metade do saguão quando ouviram um estrondo e o som de madeira rachando. A porta da frente estava cedendo: os virais entrariam a qualquer instante. Caleb e Mausami corriam em direção ao cassino. Alicia disparava rajadas rápidas para cobrir a retaguarda, os cartuchos vazios retinindo no chão de ladrilhos. A luz do clarão dos disparos, Peter viu Amy de quatro perto do piano, tateando o chão como se tivesse perdido alguma coisa. A arma. Mas não havia sentido em procurá-la agora. Ele a agarrou pelo braço e a puxou pelo corredor, correndo atrás dos outros. Estamos mortos, estamos todos mortos, pensava.
Ouviram outro estrondo de vidro se despedaçando dentro do prédio. Estavam sendo flanqueados. Logo estariam cercados, perdidos no escuro. Como no shopping, só que pior, pensou Peter, porque não havia luz do dia para onde correr. Agora Hollis estava ao lado dele. Adiante, viu a luz de uma barra luminosa e Michael se enfiando pela vitrine estilhaçada de um restaurante. Quando chegou, viu que Caleb e Mausami já estavam lá. Gritou para Alicia: ? - Por aqui! Depressa!
Empurrou Amy para dentro a tempo de ver Michael desaparecer por uma segunda porta nos fundos.
- Vá atrás deles - gritou. - Rápido!
Então Alicia o alcançou e entrou pela vitrine. Sem deixar de correr, ela enfiou a mão na bolsa e pegou outra barra luminosa, batendo-a no joelho. Dispararam pela loja até a porta dos fundos, que ainda balançava com a força da saída de Michael.
Outro corredor estreito e baixo como um túnel. Peter viu Hollis e os outros adiante, acenando para eles, gritando seus nomes. O cheiro de gás havia se tornado subitamente mais forte, quase atordoante. Peter e Alicia giraram o corpo quando os primeiros virais passaram pela porta atrás deles. A luz dos disparos eram flashes no corredor. Peter atirava às cegas na direção da porta. Um primeiro viral caiu, depois outro e mais outro. Mas eles continuavam vindo.
De repente ele apertou o gatilho e viu que nada acontecia. Sua arma estava descarregada. Ele tinha dado o último tiro. Alicia o estava puxando de novo. Um lance de escadas, depois outro corredor. Ele trombou na parede e quase caiu, mas de algum modo seguiu em frente.
O corredor terminava em portas de vaivém que davam na cozinha. A escada os havia levado a um nível subterrâneo, nas entranhas do hotel. Fileiras de panelas de cobre pendiam do teto acima de uma enorme mesa de aço que refletia a luz do bastão de Alicia. Peter sentia dificuldade em respirar: o cheiro era quase insuportável. Ele largou o fuzil vazio e pegou uma das panelas penduradas no teto, uma frigideira de cobre pesada.
Uma das criaturas os havia seguido pela porta.
Peter girou no ar, brandindo a frigideira enquanto saltava de costas contra o fogão - um gesto que pareceria cômico, não fosse por seu desespero -, protegendo Alicia com o corpo enquanto o viral saltava de cócoras sobre a mesa de aço. Era uma fêmea: os dedos estavam cobertos de anéis como os que ele havia visto na magrela à mesa do cassino. Os braços estavam esticados, com os dedos flexionados como garras e os ombros oscilando em um movimento fluido de um lado para o outro. Peter segurou a frigideira como um escudo, com Alicia encolhida atrás dele.
- Ela pode se ver! - disse Alicia.
O que o viral estaria esperando? Por que não havia atacado?
- O reflexo dela! - sussurrou Alicia. - Ela está vendo o próprio reflexo na frigideira!
Peter percebeu um novo som vindo do viral - um lamento anasalado, como um cão ganindo. Como se a imagem do seu rosto, refletida no fundo de cobre da frigideira, evocasse algum reconhecimento profundo e melancólico. Peter moveu cautelosamente a frigideira de um lado para o outro. Os olhos do viral acompanhavam o movimento, em transe. Quanto tempo ele poderia mantê-la assim, antes que outros virais passassem pela porta? Suas mãos estavam escorregadias de suor, o ar tão carregado de metano que ele mal conseguia respirar.
Este lugar vai se incendiar como uma tocha.
- Lish, está vendo alguma saída?
Alicia girou a cabeça rapidamente.
- Uma porta, cinco metros à sua direita.
- Está trancada?
- Como é que eu vou saber?
Ele falou com os dentes trincados, em um esforço para continuar imóvel, mantendo os olhos do viral fixos na frigideira.
- Está vendo alguma tranca?
A criatura se assustou, os músculos se retesando. Seu queixo baixou, os lábios recuando para revelar as fileiras de dentes brilhantes. Ela havia parado de gemer e começara a emitir estalos com a garganta.
- Não, nenhuma.
- Pegue uma granada.
- Não há espaço suficiente aqui!
- Faça o que estou dizendo. O lugar está cheio de gás. Jogue a granada atrás dela e corra feito o diabo em direção à porta.
Alicia levou a mão à cintura, soltando uma granada do cinto. Peter escutou-a puxar o pino. - Aí vai - disse ela.
A granada passou como um arco por cima da cabeça do viral. Foi como Peter havia esperado: os olhos da criatura se afastaram, a cabeça girando para seguir o voo parabólico do projétil pela cozinha. Peter e Alicia correram para a porta. Alicia chegou primeiro, batendo na barra de metal. Ar puro e uma sensação de amplitude - estavam numa área para descarga de caminhões.
Peter contou mentalmente os segundos: um, dois, três... Ouviu o primeiro estrondo, o impacto da detonação da granada, e depois uma segunda explosão, mais forte, quando o gás na cozinha entrou em combustão.
Alicia e ele rolaram para a lateral da plataforma de descarga quando a porta voou por cima de suas cabeças, trazendo uma onda de pressão e fogo. Peter sentiu o ar sendo arrancado dos pulmões. Apertou o rosto contra o chão, as mãos cobrindo a cabeça. Mais estrondos à medida que bolsões de gás explodiam, o fogo avançando para os andares superiores do prédio. Escombros começaram a jorrar sobre deles, vidro se espalhando por toda parte, explodindo em uma chuva de cacos brilhantes. Peter inalou fumaça e poeira.
- Temos que ir! - gritou Alicia, puxando-o pelo braço. - Isso tudo vai voar pelos ares!
Peter sentiu as mãos e o rosto molhados, mas não sabia de quê. Estavam em frente a uma saída no lado sul do prédio. Atravessaram a rua correndo sob a luz do hotel em chamas e se refugiaram atrás da lataria enferrujada de um carro virado.
Os dois estavam ofegantes, tossindo por causa da fumaça, os rostos cobertos de fuligem. Peter olhou para Alicia e viu uma mancha grande em sua coxa, encharcando o tecido da calça. viral, - Você está sangrando.
Ela apontou para a cabeça dele.
- Você também.
Acima deles, uma segunda série de explosões sacudiu o ar. Uma bola de fogo gigantesca subiu pelo hotel, banhando a cena com uma furiosa luz laranja e lançando mais uma cascata de destroços em chamas sobre a rua.
- Acha que os outros conseguiram sair? - perguntou ele.
- Não sei. - Alicia tossiu de novo, depois tomou um gole de água do cantil e cuspiu no chão. - Fique aqui.
Ela deu uma volta agachada ao redor do carro, voltando um instante depois.
- Contei 12 fumaças. - Ela fez um gesto vago para longe. - Há mais na torre do outro lado da rua. O incêndio os afastou, mas isso não vai durar muito tempo.
Peter sentia que era o fim. Estavam no escuro, sem armas, presos entre um prédio em chamas e os virais. Os dois estavam de cócoras, os ombros se tocando, as costas apoiadas no carro.
Alicia girou a cabeça para olhá-lo.
- Foi uma boa ideia. Usar a frigideira. Como sabia que ia dar certo?
- Não sabia.
Ela balançou a cabeça.
- Mesmo assim foi um truque legal. - Ela fez uma pausa enquanto uma expressão de dor atravessou o seu rosto. Fechou os olhos e respirou fundo. E então perguntou: - Pronto?
- Os Humvees?
- É a nossa melhor chance, eu acho. Fique perto do fogo, use-o como cobertura.
Com ou sem fogo, provavelmente não andariam 10 metros antes que os virais
os vissem. Pela aparência da perna de Alicia, duvidava que ela fosse capaz de andar. Tudo o que tinham eram as facas e as cinco granadas no cinto de Alicia. Mas talvez Amy e os outros ainda estivessem vivos, em algum lugar. Precisavam ao menos tentar.
Ela soltou duas granadas do cinto e as colocou nas mãos de Peter.
- Lembre-se do nosso trato - disse ela, querendo dizer que ele deveria matá-la, se a coisa chegasse a esse ponto.
A resposta saiu tão facilmente dos lábios de Peter que ele se surpreendeu.
- Vale pra mim também. Não quero ser um deles.
Alicia assentiu. Tinha removido o pino de uma granada e estava pronta para lançá-la.
- Antes de fazer isso, só queria dizer que fico feliz por ter você aqui.
- Eu também, por ter você.
Ela limpou os olhos com a manga da blusa.
- Que merda, Peter! Agora você me viu chorar duas vezes. Não pode contar isso a ninguém, de jeito nenhum.
- Não vou contar. Prometo.
Um clarão encheu os olhos deles. Por um instante achou que Alicia tivesse soltado acidentalmente a granada - será que a morte, no fim das contas, era apenas uma questão de luz e silêncio? Mas então escutou o rugido de um motor e percebeu que um veículo estava vindo na direção deles. E - Entrem! - berrou uma voz. - Entrem no carro!
Eles congelaram.
Alicia arregalou os olhos na direção da granada sem pino que segurava.
- E agora, o que faço com isso?
- Arremesse!
Ela atirou a granada por cima do carro. Peter a segurou junto ao piso para protegê-la da explosão. As luzes agora estavam mais perto. Eles começaram a correr cambaleantes, o braço de Peter em torno da cintura de Alicia. Um veículo quadrado surgiu da escuridão. Tinha uma espécie de proteção de aço enorme se projetando na frente como um sorriso insano, o para-brisa coberto por uma grade e uma pessoa posicionada atrás de uma arma no teto. Peter viu uma língua de fogo jorrar da arma por cima da cabeça deles.
Foram ao chão. Peter sentiu o calor ardendo na nuca. - Fiquem abaixados! - gritou a voz de novo, e só então Peter percebeu que o som era amplificado, vindo de um alto-falante no teto do veículo. - Mexam esse rabo!
- Bem, qual dos dois? - gritou Alicia, o corpo grudado no chão. - Não dá para ficar abaixado e correr ao mesmo tempo!
O caminhão parou a poucos metros deles. Peter ergueu Alicia enquanto a figura no teto baixava uma escada. Uma pesada máscara de arame escondia seu rosto, e o corpo estava coberto por placas, formando uma espécie de armadura. Uma espingarda de cano curto estava grudada à perna em um coldre de couro. Na lateral do caminhão, lia-se DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE NEVADA.
- Entrem pela traseira! Rápido!
A voz era de mulher.
- Nossos amigos ainda estão aqui fora! - gritou Peter. - Nós somos oito!
Mas a mulher pareceu não ouvi-lo ou, se ouviu, não se importou. Empurrou-os
em direção à traseira do caminhão, os movimentos surpreendentemente ágeis apesar da armadura pesada. Ela virou uma maçaneta e abriu a porta.
- Lish! Entre!
A voz era de Caleb. Estavam todos ali, esparramados no chão do compartimento escuro. Peter e Alicia subiram. A porta se fechou com um baque, lacrando-os na escuridão.
Com um solavanco, o caminhão começou a se mexer.
QUARENTA E SEIS
Aquela mulher medonha. Aquela mulher medonha e gorda na cozinha, sua silhueta flácida e redonda se derramando na cadeira. O cômodo quente e abafado, o gosto de fumaça na boca e no nariz dele, e o cheiro do corpo da mulher, o suor e as migalhas nas reentrâncias de sua carne volumosa. As espirais de fumaça ao redor, saindo em baforadas dos lábios dela enquanto falava, como se as palavras se solidificassem no ar, e a mente dele dizendo: Acorde. Você está dormindo e sonhando. Acorde, Theo. Mas o sonho era forte demais. Quanto mais ele lutava, mais era arrastado para dentro dele. Como se a mente fosse um poço e ele estivesse caindo, caindo na escuridão da própria mente.
O que você está olhando, hein? Seu merdinha que não presta para nada. A mulher olhava para ele e ria. Menino, você não é só burro. É um verdadeiro idiota!
Acordou com um tremor para a fria realidade da cela. Sua pele estava coberta de um suor fedorento. O suor de um pesadelo que ele não conseguia mais lembrar. Tudo o que restava era a sensação do sonho, como uma mancha escura na consciência.
Levantou-se da cama e arrastou os pés até o buraco. Tentou mirar o melhor que pôde, ouvindo o som da urina embaixo. Tinha começado a ansiar por aquele som com a expectativa de quem aguarda a visita de um amigo. Por dias ele esperara pelo próximo acontecimento. Esperara que alguém viesse falar com ele, dizer por que estava ali e o que queriam, confirmar que não estava morto. Com o passar dos dias vazios, percebeu que o que ele esperava na verdade era a dor. A porta iria se abrir, homens iam entrar, e então a dor começaria. Mas as botas iam e vinham - ele podia ouvir os pés se arrastando, vê-los através da fenda na parte inferior da porta -, trazendo-lhe as refeições e levando as tigelas embora, sem nenhuma palavra. Ele havia batido repetidamente na porta, uma placa de metal frio. O que vocês querem de mim, o que querem de mim? Mas seus apelos só encontravam o silêncio.
Não sabia há quantos dias estava ali. No alto, fora de seu alcance, uma janela suja dava para o nada. Apenas um trecho de céu branco durante o dia e, à noite, as estrelas. A última imagem que tinha na lembrança era a dos virais pulando do teto e tudo virando de cabeça para baixo. Lembrou-se do rosto de Peter, da voz dele chamando seu nome e do pescoço estalando quando foi jogado para cima, em direção ao teto. Uma última sensação do vento e do sol no rosto e a arma caindo, girando lentamente até o chão.
E então nada. O resto era um espaço em branco na memória.
Estava sentado na beira da cama quando ouviu passos se aproximando. A abertura na base da porta foi destampada e uma tigela foi posta no chão. A mesma sopa aguada de sempre. Às vezes tinha um pedacinho de carne, às vezes só um osso com tutano para ele chupar. Inicialmente, havia decidido não comer para testar a reação de quem quer que fossem seus captores. Mas isso havia durado apenas um dia, até que a fome falara mais alto. - Como está se sentindo?
A língua de Theo estava seca.
- Foda-se.
Um risinho sarcástico. Botas se arrastando no chão. Não dava para saber, pela voz, se a pessoa era jovem ou velha.
- É assim que se fala, Theo.
Ao ouvir o próprio nome, sentiu um arrepio na espinha. Não disse nada.
- Está confortável aí dentro?
- Como sabe quem eu sou?
- Não se lembra? - Uma pausa. - Acho que não. Você me contou. Quando chegou aqui. Ah, nós tivemos uma bela conversa.
Ele forçou a mente a lembrar, mas era tudo um negrume. Perguntou a si mesmo se a voz estava realmente ali. A voz que parecia conhecê-lo. Talvez ele a estivesse imaginando. Sabia que isso podia acontecer num lugar como aquele. A mente fazia dessas coisas.
- Não está com vontade de falar agora, não é? Tudo bem.
- Seja lá o que queiram fazer comigo, façam logo.
- Ah, nós já fizemos, Theo. Estamos fazendo agora mesmo. Olhe em volta. O que está vendo?
Ele não pôde evitar: olhou ao redor da cela: a cama, o buraco, a janela suja. As paredes estavam cheias de rabiscos que ele tentara decifrar por vários dias. A maior parte deles se tratava de figuras sem sentido; não eram palavras nem qualquer tipo de imagem que reconhecesse. Mas um pouco acima do buraco havia uma frase que ele podia ler claramente: RUBEN ESTEVE AQUI.
- Quem é Ruben?
- Ruben? Ah, acho que não conheço nenhum Ruben.
- Não brinque comigo.
- Ah, você quis dizer Ru-ben.
Outro risinho abafado. Theo teria dado a vida para enfiar a mão do outro lado da parede e dar um soco na cara daquele sujeito.
- Esqueça o Ru-ben, Theo. As coisas não deram muito certo para Ru-ben. Podemos dizer que Ru-ben já era. - Uma pausa. - Deixe-me perguntar uma coisa, Theo: como você tem dormido?
- O quê?
- Você me ouviu. Gosta daquela dona gorda?
A respiração dele ficou presa no peito.
- O que você disse?
- A porra daquela mulher gorda, Theo. Vamos, colabore comigo. Todos nós já passamos por isso. A dona gorda dentro da sua cabeça.
A recordação explodiu no seu cérebro como um pedaço de fruta podre. Os sonhos. A mulher gorda na cozinha. A voz do outro lado da porta conhecia seus sonhos.
- Devo dizer que nunca gostei muito dela - disse a voz. - Aquela vaca falando, falando, falando sem parar. E o fedor? O que, diabos, era aquilo?
Theo engoliu em seco, tentando se acalmar. As paredes ao redor pareciam mais próximas, como se de algum modo fossem espremê-lo. Levou as mãos à cabeça.
- Não conheço nenhuma mulher gorda - conseguiu responder.
- Ah, claro que não. Todos nós já passamos por isso. Você não é o único. Deixe-me perguntar outra coisa. - A voz agora sussurrava. - Já furou ela, Theo? Com a faca? Já chegou a essa parte?
Theo sentiu um embrulho no estômago. O ar ficou sufocado no peito. A faca, a faca.
- Acho que ainda não chegou. Mas vai chegar. Tudo em seu devido tempo. Pode acreditar: quando chegar a essa parte, vai se sentir muito melhor. Pode-se dizer que é uma espécie de virada.
Theo ergueu o rosto. A abertura na base da porta ainda estava descoberta, mostrando o bico de uma única bota, o couro esbranquiçado de tão gasto.
- Está me ouvindo, Theo?
Seus olhos se fixaram na bota, uma ideia se formando em sua mente.
Levantou-se silenciosamente da cama e foi andando até a porta, rodeando a tigela de sopa. Agachou-se.
- Está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque estou falando de um tremendo alívio.
Theo mergulhou a mão pela abertura, mas só encontrou o ar. Uma explosão de dor: o calcanhar da bota desceu com toda a força sobre seu punho. Theo sentiu os ossos sendo achatados, a mão esmigalhada contra o chão. Seu rosto foi empurrado contra o aço frio da porta.
- Desgraçado!
- Dói, não dói?
Ele viu estrelas. Tentou puxar a mão, mas a força que o segurava era grande demais. Agora estava preso, a mão grudada no chão do outro lado da fenda. Mas a dor significava alguma coisa. Significava que a voz era real.
- Vá... para... o... inferno.
O calcanhar girou de novo. Theo gritou de dor.
- Essa é boa, Theo. Onde você acha que está? O inferno é o seu novo endereço, meu amigo.
- Não sou... seu amigo - respondeu ele, a respiração ofegante.
- Ah, talvez não. Ainda não. Mas será. Mais cedo ou mais tarde, será.
E então, de repente, a pressão na mão de Theo cessou - uma ausência de tormento tão abrupta que parecia prazer. Theo puxou o braço e se deixou cair contra a parede, arfando, aninhando o punho no colo.
- Porque, acredite se quiser, há coisas muito piores que eu - disse a voz. - Durma bem, Theo.
E então a abertura foi trancada com força.
PARTE VIII
O REFÚGIO
A ilha é cheia de ruídos,
Sons e doces árias, que deliciam e não causam dor. Às vezes mil instrumentos retinindo Chegam a meus ouvidos; e às vezes vozes. E, se acordei depois de um longo sono, Fazem-me dormir de novo.
WILLIAM SHAKESPEARE.
QUARENTA E SETE
Estavam na estrada havia horas. Era praticamente impossível dormir naquele piso de metal duro. Cada vez que Michael fechava os olhos, parecia que o caminhão passava em um buraco ou fazia uma curva fechada, levando alguma parte do seu corpo a bater com força.
Levantou a cabeça e viu a luz da aurora penetrar pela única janela do compartimento, uma pequena escotilha de vidro reforçado. Sua boca estava totalmente seca e cada milímetro do corpo parecia doer, como se alguém tivesse batido nele com um martelo a noite toda. Sentou-se, encostando na lataria que não parava de chacoalhar, e esfregou os olhos. Os outros estavam apoiados nas mochilas em posições desconfortáveis. Apesar de todos estarem bastante abalados, o estado de Alicia parecia pior. Estava virada para ele, as costas contra a lateral do veículo, o rosto pálido e úmido, os olhos abertos mas desprovidos de qualquer vigor. Durante a noite Mausami fizera o melhor possível para limpar e pôr um curativo na perna de Alicia, mas Michael podia ver que o ferimento era sério. Só Amy parecia dormir de verdade. Estava deitada no chão ao lado dele, os joelhos puxados junto ao peito. Uma mecha de cabelo escuro era empurrada de um lado para o outro sobre sua bochecha pelos sacolejos do caminhão.
A lembrança o acertou como um tapa.
Os virais haviam levado Sara.
Lembrava-se de ter corrido como um louco, passado pela cozinha e saído na área de descarga e depois na rua com os outros. Lembrava-se de estar cercado - havia fumaças por toda parte-, era como se houvesse uma porra de festa de fumaças - e do caminhão com a imensa proteção de aço que apareceu diante deles com uma língua de fogo. Entre, entre, a mulher gritava do alto do veículo. E foi bom ela ter feito isso, porque, naquele momento, Michael estava paralisado de medo, pregado no chão. Hollis e os outros gritavam "venha, venha", mas ele não conseguia mover nem um músculo. Como se tivesse esquecido como.
O caminhão estava a menos de 10 metros, mas era como se fossem mil. Virou-se e viu que um dos virais o encarava, a cabeça inclinada daquele jeito curioso que eles faziam, e tudo pareceu diminuir de velocidade, de um jeito que não era nada bom. Ai, caramba, dizia uma voz na cabeça de Michael, caramba caramba caramba caramba, e então a mulher acertou o viral com o lança-chamas, cobrindo-o com um jato de fogo líquido. A criatura fritou como um bolinho na gordura quente. Michael chegou a ouvir o chiado. Então sentiu alguém puxá-lo para dentro do caminhão: era Amy - a força da menina era surpreendentemente maior do que ele poderia imaginar, levando em conta seu corpo franzino.
O dia havia amanhecido. Michael sentiu o corpo ser jogado para a frente enquanto o veículo desacelerava. Ao lado dele, os olhos de Amy se abriram. Ela se sentou, os joelhos novamente puxados contra o peito, o olhar fixo na porta.
o caminhão parou. Caleb foi até a janela espiar. - O que você está vendo? - perguntou Peter. Estava agachado, o cabelo coberto por uma crosta de sangue.
- É algum tipo de construção, mas está longe demais.
Ouviram passos no teto, o som da porta do motorista se abrindo e fechando de novo.
Hollis pegou o fuzil. Peter estendeu a mão para impedi-lo. -Espere.
- Aí vêm eles - disse Caleb.
A porta se abriu, a claridade ofuscando seus olhos. Duas figuras estavam diante deles, os rostos iluminados por trás, ambas segurando espingardas. A mulher era jovem, de cabelos escuros cortados bem curtos. O homem, muito mais velho, tinha o rosto largo e suave, um nariz que parecia ter levado um soco e a barba por fazer. Ambos continuavam enfiados na volumosa armadura que fazia as mãos deles parecerem curiosamente pequenas.
- Entreguem suas armas.
- Quem, diabos, são vocês? - perguntou Peter.
A mulher engatilhou a espingarda.
- Tudo. As facas também.
Eles colocaram os fuzis e as facas no piso do caminhão, empurrando-as em direção à porta. Michael tinha apenas uma chave de fenda - o fuzil, que não havia disparado uma única vez, ele perdera durante a corrida dentro do hotel -, mas a entregou assim mesmo. Não queria levar um tiro por causa de uma ferramenta. Enquanto a mulher recolhia as armas, o homem, que ainda não tinha dito uma única palavra, mantinha a espingarda apontada para eles. A distância, Michael pôde vislumbrar a silhueta de um prédio baixo e comprido contra um agrupamento de morros áridos.
- Para onde vão levar a gente? - perguntou Peter.
A mulher pegou um balde de metal do chão e o pousou na carroceria.
- Se tiverem de mijar, usem isso.
Em seguida bateu a porta.
Peter esmurrou a lataria do caminhão.
- Merda!
O veículo seguiu viagem. A temperatura se elevava gradativamente. Diminuíram a velocidade de novo, virando à esquerda. O caminhão chacoalhou com violência por um bom tempo. Depois começaram a subir. A essa altura a temperatura no compartimento traseiro havia se tornado insuportável. Beberam o restante da água. Ninguém havia usado o balde.
Peter bateu na parede que os separava da cabine.
- Ei, nós estamos assando aqui!
O tempo passou, e passou um pouco mais. Ninguém falava. O simples ato de respirar exigia um esforço enorme. Parecia que alguém havia pregado uma peça terrível neles. Tinham sido salvos dos virais só para serem cozidos até a morte na traseira de um caminhão.
Michael começava a se sentir entorpecido - como se estivesse com sono, mas não era bem isso. Estava com calor, muito calor. Em um determinado momento, percebeu que estavam descendo, mas esse detalhe lhe pareceu distante, como se aquilo estivesse acontecendo a outra pessoa. Gradualmente ele se deu conta de que o veículo havia parado. Estivera perdido em pensamentos. Imaginava água, água fria. Ela brotava por toda parte ao seu redor. E sua irmã estava ali, e Élton também, com aquele sorriso torto. Todos estavam ali - Peter, Mausami, Alicia e até seus pais -, nadando juntos naquele azul restaurador, e, por um momento, Michael tentou forçar a mente a voltar para aquele lindo sonho de água.
- Meu Deus! - disse uma voz.
Quando Michael abriu os olhos, viu uma luz branca muito intensa e sentiu um cheiro inconfundível de esterco. Virou o rosto em direção à porta e avistou duas figuras - achava que as tinha visto antes, mas não sabia dizer onde - e, parado entre elas, um homem alto de cabelo prateado e macacão laranja, iluminado por trás de tal forma que parecia flutuar.
- Meu Deus, meu Deus! - dizia o homem. - São sete. É inacreditável! Não fiquem aí parados. Precisamos de macas. Depressa.
Os dois saíram correndo. Michael teve a sensação de que algo estava muito errado. Era como se ele estivesse na extremidade de um túnel, e tudo estivesse acontecendo na extremidade oposta. Não podia dizer onde estava nem por que estava ali, um conhecimento que parecia tê-lo abandonado apenas recentemente, como um déjà vu ao contrário. Era uma espécie de piada, mas não tinha graça, nem um pouco. Havia um objeto grande e seco em sua boca, largo como um punho, e ele percebeu que era sua própria língua, sufocando-o. Escutou a voz de Peter, um grasnido longínquo.
- Quem... é... você?
- Meu nome é Olson. Olson Hand.
Um sorriso iluminou o rosto enrugado, só que não era mais o homem de cabelo prateado, era Theo: o rosto na outra extremidade do túnel era de Theo. Foi a última coisa que Michael viu antes que o túnel desmoronasse, expulsando seus pensamentos.
Estava no limiar da consciência, subindo através de camadas de escuridão por um período que pareceu ao mesmo tempo curto e longo, uma hora se transformando em um dia, um dia virando um ano. A escuridão cedia lugar a uma claridade cada vez maior acima dele, seus pensamentos gradualmente se reorganizando, distinguindo-se do ambiente ao redor. Seus olhos estavam abertos, piscando. Não parecia ser capaz de mover nenhuma outra parte do corpo a não ser os olhos, o abrir e fechar úmido das pálpebras. Ouviu o som de vozes acima dele, como pássaros cantando ao longe, chamando uns aos outros na vastidão do céu. Estava frio. Maravilhosamente, incrivelmente frio.
Dormiu e, quando abriu os olhos de novo, outro intervalo de tempo obscuro havia se passado. Sabia que estava em uma cama, que a cama ficava num quarto e que não estava sozinho. Levantar a cabeça estava fora de questão: seus ossos pareciam pesados como ferro. Estava em algum tipo de enfermaria: paredes e teto brancos, feixes de luz branca caindo em ângulo sobre o lençol branco que cobria seu corpo - sob o qual, aparentemente, ele estava nu. O ar era fresco e úmido. De algum lugar acima e atrás dele ouvia o latejar rítmico de máquinas e o som de água pingando numa panela de metal.
- Michael? Michael, está me ouvindo?
Uma mulher estava sentada junto à sua cama - ele achou que era uma mulher -, o cabelo escuro curto como de um homem, a testa e as bochechas lisas e a boca pequena, de lábios finos. Ela olhava para ele com uma expressão que parecia ser de preocupação intensa. Michael achava que já a havia visto antes, mas a sensação de reconhecimento parava aí. A forma esguia da mulher estava envolta por uma roupa frouxa, laranja, que também parecia vagamente familiar. Atrás dela havia uma espécie de anteparo que o impedia de ver mais.
- Como está se sentindo?
Ele tentou falar, mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. A mulher pegou um copo de plástico na mesa perto da cama e segurou o canudinho junto aos lábios dele: água, pura e fria, de gosto nitidamente metálico.
- Pronto. Beba devagar.
Ele bebeu e bebeu. Como o gosto da água era maravilhoso! Quando terminou, ela pôs o copo de volta na mesa.
- A febre está cedendo. Com certeza quer ver seus amigos.
A língua dele parecia grossa e pesada na boca.
- Onde estou?
Ela sorriu.
- Por que não deixa que eles expliquem?
A mulher desapareceu atrás do anteparo, deixando-o sozinho. Quem era ela? Que lugar era aquele? Michael se sentia como se tivesse dormido dias, a mente pairando em uma corrente de sonhos perturbadores. Tentou se lembrar. Uma mulher gorda. Uma mulher gorda inalando fumaça.
Seus pensamentos foram interrompidos por vozes e sons de passos. Peter apareceu ao pé da cama. Tinha um sorriso reluzente no rosto.
- Vejam só quem acordou! Como está se sentindo?
- O que... aconteceu? - grasnou Michael.
Peter se sentou junto à cama. Encheu o copo de novo e estendeu o canudinho para os lábios de Michael.
- Acho que você não se lembra. Você teve insolação. Apagou durante a viagem - respondeu. Depois inclinou a cabeça em direção à mulher que estava parada ao seu lado, observando em silêncio. - Acho que você já conheceu Billie. Desculpe por não estar aqui quando você acordou. Nós estávamos nos revezando.
Ele se aproximou mais de Michael.
- Você precisa ver esse lugar. É fantástico.
Esse lugar, pensou Michael. Onde estavam? Olhou novamente para a mulher, que tinha um sorriso sereno no rosto. Em um instante a lembrança voltou à sua mente. A mulher do caminhão.
Encolheu-se, derrubando o copo da mão de Peter, a água se derramando em cima dele.
- Por todos os voadores, Michael. O que houve?
- Ela tentou nos matar!
- Isso é um exagero, não acha? - exclamou Peter, olhando para a mulher com um sorrisinho de cumplicidade. - Michael, Billie nos salvou. Não se lembra?
Havia algo perturbador no bom humor de Peter, pensou Michael. Aquilo parecia não se encaixar aos fatos. Obviamente ele estivera muito doente, poderia ter morrido.
- E a perna de Lish? Ela está bem?
- Está tudo bem. Estamos todos bem, só esperando você melhorar. - Peter o acalmou. Depois se aproximou dele de novo. - Eles chamam este lugar de Refúgio, Michael. Na verdade é uma antiga prisão. Você agora está na enfermaria.
- Uma prisão. Como uma cadeia?
- Mais ou menos. Eles não usam mais a prisão propriamente dita. Você deveria ver o tamanho do lugar. Quase 300 Andarilhos. Mas acho que poderíamos dizer que nós é que somos os Andarilhos agora. E o melhor de tudo, Michael. Está preparado? Não há fumaças.
As palavras dele não faziam sentido. - Peter, o que você está dizendo?
Peter deu de ombros, como se a pergunta não merecesse uma resposta de verdade.
- Não sei. Simplesmente não há. Escute - continuou -, quando sair dessa cama, poderá ver por si mesmo. Você deveria ver o tamanho do rebanho. Eles têm gado de verdade.
Ele olhava para Michael com um sorriso vazio.
- Então, o que me diz? Acha que consegue se levantar?
Achava que não, mas algo no tom de Peter o fez sentir que deveria ao menos tentar. Michael se apoiou nos cotovelos. O quarto começou a rodar. Seu cérebro parecia chacoalhar dolorosamente no crânio. Deitou-se novamente.
- Ai. Isso dói.
- Tudo bem, tudo bem. Vá com calma. Billie disse que é perfeitamente normal sentir dores de cabeça depois de uma convulsão. Você estará de pé em um instante.
- Eu tive uma convulsão?
- Você não se lembra de nada, não é?
- Acho que não. - Michael respirou fundo, tentando se acalmar. - Quanto tempo fiquei apagado?
- Contando hoje? Três dias. - Peter olhou para a mulher. - Não, quatro.
- Quatro dias?
Peter deu de ombros.
- É uma pena que você tenha perdido a festa. Mas o que importa é que está se sentindo melhor.
Michael sentiu o sangue ferver.
- Festa? Peter, o que há de errado com você? Nós estamos no meio de lugar nenhum. Perdemos todo o nosso equipamento. Essa mulher tentou nos matar. E você está falando como se estivesse tudo bem.
Foram interrompidos pela porta se abrindo e o som de risos alegres. Alicia, de muletas, apareceu diante do anteparo. Atrás dela havia um homem que Michael não reconheceu, de olhos azuis intensos e um queixo que parecia esculpido em pedra. Seria uma alucinação ou os dois estavam mesmo brincando de pega-pega, como se fossem Pequenos?
Ela parou abruptamente ao pé da sua cama.
- Circuito, você acordou!
- Ora, vejam só! - exclamou o homem de olhos azuis. - Lázaro voltou dos mortos. Como vai, parceiro?
Michael estava espantado demais para responder. Quem era Lázaro?
Alicia se virou para Peter.
- Você já contou a ele?
- Estava chegando lá - respondeu Peter.
- Contou o quê?
- É a sua irmã, Michael. - Peter sorriu. - Ela está aqui.
Lágrimas brotaram nos olhos de Michael.
- Isso não tem graça.
- Não estou brincando, Michael. Sara está aqui. E está perfeitamente bem.
- Simplesmente não me lembro.
Havia seis pessoas ao redor da cama de Michael: Sara, Peter, Hollis, Alicia, a mulher que eles chamavam de Billie e o homem de olhos azuis, que havia se apresentado como Jude Cripp. Depois que Peter contou a novidade a Michael, Alicia saiu para buscar a irmã dele. Momentos depois, Sara entrou no quarto e se jogou em cima dele, chorando e rindo. Era tudo tão completamente inexplicável que Michael não sabia por onde começar, que perguntas fazer. Mas Sara estava viva. Por enquanto, era só o que importava.
Hollis explicou como a haviam encontrado. No dia depois de chegarem, ele e Billie tinham voltado a Las Vegas para procurar os Humvees. Ao chegarem ao hotel, encontraram um cenário de destruição total, um monte de escombros fumegantes e vigas retorcidas. Toda a ala leste do prédio tinha desmoronado e havia uma pilha de entulho na rua. Os Humvees estavam em algum lugar embaixo disso tudo, despedaçados. O ar estava cheio de fuligem e poeira, e uma camada de cinzas cobria tudo. O incêndio havia se espalhado para um hotel adjacente, que ainda estava em chamas. Mas a construção a leste, para onde Hollis tinha visto o viral levar Sara, estava intacta. O lugar era um restaurante e se chamava Eiffel Tower. Para chegar lá, seguiram uma escada que os levou até o topo, a uma grande sala redonda cercada de janelas, muitas delas quebradas, que davam para o hotel demolido.
Sara estava encolhida sob uma das mesas, inconsciente. Acordou quando Hollis tocou nela, mas seus olhos estavam vidrados, desfocados. Ela parecia não ter ideia de onde estava nem do que havia acontecido. Seu rosto e os braços tinham arranhões e, pelo modo como ela segurava o punho, aninhando-o na outra mão, parecia estar quebrado. Hollis a pegou no colo e desceu os 11 andares no escuro. Só quando estavam na metade do caminho de volta ao Refúgio ela começou a recobrar inteiramente a consciência.
- Foi isso mesmo o que aconteceu? - perguntou Michael.
- Segundo Hollis, sim. Honestamente, Michael, a última lembrança que tenho é de estar jogando cartas sozinha na mesa do hotel. Depois disso, só lembro de estar no caminhão com Hollis. O resto é um grande vazio.
- E você está bem mesmo?
Sara deu de ombros. Era verdade: fora os arranhões e o punho - que, no final, tinha apenas sofrido uma luxação e agora estava enrolado numa tala -, ela não tinha nenhum ferimento visível.
- Estou me sentindo bem. Só não consigo explicar o que houve.
Jude se virou na cadeira, em direção a Alicia.
- Preciso admitir, Lish, que você sabe botar para quebrar. Queria ter visto a cara deles quando você jogou aquela granada.
- Michael também merece parte do crédito. Foi ele quem falou sobre o gás. E Peter também, por ter usado a frigideira.
- Ainda não consegui entender muito bem essa parte - disse Billie, franzindo a testa. - Você disse que o viral viu o próprio reflexo?
Peter deu de ombros.
- Só sei que funcionou.
- Talvez os virais não gostem da sua comida - sugeriu Hollis.
Todo mundo riu.
Era tudo estranho demais, pensou Michael. Não somente a história, mas o modo como todos estavam agindo, como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo.
- O que não entendo é o que vocês estavam fazendo lá - disse Michael. - Fico agradecido por isso, mas parece uma tremenda coincidência.
Foi Jude quem respondeu:
- Nós costumamos mandar patrulhas regularmente à cidade para coletar suprimentos. Quando o hotel explodiu, estávamos a apenas três quarteirões. Temos um abrigo fortificado no porão de um dos antigos cassinos. Ouvimos a explosão e fomos direto para lá. - O homem abriu um leve sorriso. - Foi pura sorte termos visto vocês naquela hora.
Michael parou para pensar por alguns instantes.
- Não, não pode ter sido isso - disse ele finalmente. - Lembro nitidamente. O hotel explodiu depois que nós saímos. Vocês já estavam lá.
Jude balançou a cabeça.
- Acho que não.
- Pergunte a ela. Ela viu tudo.
Michael virou a cabeça para Billie, que o observava friamente, a mesma expressão neutra de preocupação no rosto.
- Eu me lembro claramente. Você usou o lança-chamas em um deles e Amy me puxou para o caminhão. Então ouvimos a explosão - continuou Michael.
Mas antes que Billie pudesse responder, Hollis interveio.
- Acho que você está misturando um pouco as coisas, Michael. Fui eu quem puxou você para o caminhão. O hotel já estava em chamas. Provavelmente é isso que você estava pensando.
- Eu poderia jurar... - Michael fixou novamente os olhos no rosto esculpido de Jude. - E você disse que estavam em um abrigo?
- Isso mesmo.
- A três quarteirões do hotel.
- Mais ou menos - respondeu ele com um sorriso largo. - Se eu fosse você, não questionaria um golpe de sorte como esse.
Michael sentiu a pressão dos olhares de todos sobre ele. A história de Jude não fazia sentido, era óbvio. Quem deixaria a segurança de um abrigo fortificado à noite para dirigir em direção a um prédio em chamas? E por que todos estavam concordando? Três dos caminhos que levavam ao hotel estavam totalmente bloqueados por escombros. Isso significava que Billie só poderia ter vindo do leste. Tentou se lembrar de que lado do prédio haviam saído. Do lado sul, pensou.
- Ah, droga, não sei - disse finalmente. - Talvez eu não esteja lembrando direito. Para falar a verdade, está tudo meio misturado na minha cabeça.
Billie assentiu.
- Isso é muito comum depois de um longo período de inconsciência. Tenho certeza de que você vai começar a lembrar melhor dentro de alguns dias.
- Billie está certa - disse Peter. - Acho que devemos deixar o paciente descansar um pouco. - Ele se voltou para Hollis: - Olson ficou de nos levar para visitar as pastagens e os campos. Ver como eles fazem as coisas.
- Quem é Olson? - perguntou Michael.
- Olson Hand. É o líder aqui. Você vai conhecê-lo em breve. E então? O que acha, Hollis?
O grandalhão deu um sorriso.
- Parece ótimo.
Com isso, todos se levantaram para sair. Michael já havia se resignado a ficar sozinho, pensando naquelas circunstâncias novas e estranhas, quando no último instante Sara voltou correndo para junto da cama. Jude ficou observando perto do anteparo. Ela segurou a mão do irmão e o beijou rapidamente na testa; era a primeira vez que fazia isso em anos.
- Fico feliz que você esteja bem - disse Sara. - Agora se concentre apenas em recuperar as forças, certo? É o que todos estamos aguardando.
Michael viu os dois desaparecerem por trás do anteparo. Ouviu passos, depois o som de uma porta pesada se abrindo e fechando de novo. Esperou mais um minuto para ter certeza de que estava sozinho. Depois abriu a mão para examinar o pedacinho de papel que Sara havia colocado ali.
Não conte nada a eles.
QUARENTA E OITO
A festa da qual Peter falara tinha acontecido na noite anterior, a terceira depois da chegada deles. Fora sua única chance de ver todos os habitantes do Refúgio juntos. E o que viram não pareceu genuíno.
Nada parecia verdade, a começar pela afirmação de Olson de que ali não havia virais. Las Vegas, apenas 200 quilômetros ao sul, estava infestada. Eles tinham viajado pelo menos essa distância de Joshua Valley até Kelso, através de terreno semelhante, e os virais os haviam acompanhado durante todo o percurso. Alicia observou que o cheiro daquele rebanho viajaria longe com o vento. No entanto, o único perímetro de defesa montado parecia ser uma cerca de metal, fraca demais para protegê-los contra um ataque. Olson havia confessado que, exceto pelos lança-chamas dos caminhões, não tinham nenhum outro armamento. As espingardas serviam apenas para fazer vista, já que toda a munição fora usada décadas antes.
- Levamos uma vida absolutamente pacífica aqui - dissera ele.
Peter jamais havia encontrado um líder como Olson Hand, que aparentemente encarava a própria autoridade de modo tão informal. À exceção de Billie e do homem conhecido como Jude, que pareciam atuar como seus auxiliares, e do motorista que os trouxera de Las Vegas - Gus, que parecia ser uma espécie de engenheiro, encarregado do que eles chamavam de "assuntos técnicos" -, Peter não percebera nenhum outro tipo de hierarquia. Olson não tinha título; simplesmente estava no comando. No entanto exercia a função com certa timidez, comunicando suas intenções com frases gentis, quase como se pedisse desculpas. Era um homem alto de cabelos prateados - como a maioria dos homens, Olson tinha o cabelo preso num rabo de cavalo comprido, enquanto as mulheres e as crianças tinham cortes bem rentes -, com um corpo encurvado que mal parecia encher o macacão laranja e o hábito de juntar as pontas dos dedos enquanto falava, mais parecendo uma benevolente figura paterna do que o responsável pela vida de 300 almas.
Foi Olson quem lhes contou a história do Refúgio, nas primeiras horas depois de terem chegado. Estavam na enfermaria, onde Michael era atendido pela filha de Olson, Mira - uma adolescente etérea de membros finos e cabelo tão claro e ralo que era quase transparente -, que olhava para eles com um ar de nervosismo. Depois de terem sido carregados para fora do furgão, os sete foram despidos e lavados e tiveram os pertences confiscados. Tudo seria devolvido, garantira Olson, menos as armas. Se optassem por ir embora - e nesse ponto Olson havia parado para observar, com a afabilidade costumeira, que esperava que ficassem -, suas armas seriam devolvidas. Mas por ora ficariam trancadas.
Quanto ao Refúgio, muita coisa era simplesmente desconhecida, explicou Olson, já que as histórias tinham evoluído e mudado tanto com o passar do tempo que a verdade não era clara. Mas alguns pontos eram geralmente aceitos como verdadeiros. O primeiro grupo a chegar ali, nos últimos dias da guerra, era formado de pessoas vindas de Las Vegas. Se haviam planejado se instalar ali - na esperança de que a prisão, com suas barras, muros e cercas, pudesse oferecer alguma segurança - ou se inicialmente o local havia sido apenas uma parada a caminho de outro lugar, ninguém sabia. Mas, assim que perceberam que não havia virais por perto, já que o ambiente ao redor era demasiadamente inóspito e formava uma espécie de barreira natural, optaram por ficar e tentar a sobrevivência no deserto.
Originalmente, o complexo penitenciário consistia, na verdade, em duas instalações separadas: a Penitenciária Estadual Desert Wells, onde os primeiros habitantes haviam se abrigado, e o Centro de Reabilitação adjacente, um campo de trabalho agrícola para menores infratores. Era onde todos moravam agora. Uma fonte fornecia água para irrigação, além de manter um fluxo constante usado para a refrigeração de alguns prédios, incluindo a enfermaria. A prisão havia fornecido boa parte do que precisavam, até os macacões laranja que quase todos ainda usavam; o resto eles coletavam nas cidades ao sul. Não era uma vida fácil, e havia muitas coisas de que careciam, mas pelo menos ali eles estavam livres da ameaça dos virais. Durante vários anos tinham enviado equipes de busca para procurar mais sobreviventes, esperando trazê-los para a segurança do Refúgio. Tinham encontrado alguns, na verdade bem poucos, mas havia muito tempo que isso não acontecia, e tinham perdido a esperança de encontrar mais alguém. "Por isso", dissera Olson, com um sorriso benigno, "o fato de vocês estarem aqui não é nada menos do que um milagre." Os olhos dele chegaram a ficar marejados. "Todos vocês. Um milagre."
Tinham passado a primeira noite na enfermaria com Michael, e no dia seguinte foram transferidos para dois pequenos alojamentos feitos de concreto nos arredores do campo agrícola, de frente para uma praça poeirenta cercada de barris e com pilhas de pneus no centro. Era onde ficariam em isolamento pelos três dias seguintes, uma quarentena obrigatória. Do lado oposto havia outras construções do mesmo tipo que pareciam desocupadas. As instalações eram extremamente simples, resumindo-se apenas a uma sala com uma mesa e algumas cadeiras e um quarto no fundo com beliches. O ar era quente e abafado e o chão sujo de areia estalava sob os pés.
Hollis havia partido com Billie na manhã seguinte à chegada deles para procurar os Humvees. Havia poucos veículos no Refúgio, dissera Olson, e se os Humvees tivessem sobrevivido à explosão, os riscos da viagem valeriam a pena. Olson não havia deixado claro se pretendia ficar com eles ou devolvê-los, e Peter decidira não pressioná-lo por uma resposta. Depois da experiência no caminhão, onde os sete haviam quase cozinhado até a morte, e com Michael ainda inconsciente, achava que o mais sensato era dizer o mínimo possível. Olson os havia interrogado sobre a Colônia e o objetivo da viagem, e fora impossível não dar alguma explicação. Mas Peter dissera apenas que viviam num assentamento na Califórnia e que tinham saído em uma expedição para procurar sobreviventes.
Não mencionou nada sobre o depósito da base militar, o que fizera parecer que o lugar de onde vinham era bem armado. Em algum momento, pensou Peter, provavelmente teriam de contar a verdade, ou pelo menos fornecer mais detalhes. Mas esse momento ainda não chegara, e por ora Olson parecera aceitar sua explicação.
Nos dois dias seguintes tiveram apenas rápidos vislumbres dos outros moradores. Atrás dos alojamentos ficavam as plantações, com longos tubos de irrigação conectados a uma bomba central. Mais além, ficava o rebanho - centenas de cabeças de gado criadas em grandes currais à sombra. De vez em quando viam a poeira de algum veículo se movendo junto à distante cerca. Mas, fora isso e algumas figuras nos campos, não tinham visto praticamente ninguém. Onde estavam as outras pessoas? As portas dos alojamentos não estavam trancadas, mas havia sempre dois homens do outro lado da praça, vestidos em macacões laranja. Eram eles que traziam a comida, às vezes acompanhados por Billie ou Olson, que vinham dar notícias de Michael; ele parecia ter caído em um sono profundo - não um coma, garantiu Olson, mas algo parecido. Eles afirmaram ter visto isso antes: era um dos efeitos da insolação. Mas a febre havia baixado, o que era um bom sinal.
Então, na manhã do terceiro dia, Sara fora devolvida ao grupo. Não tinha qualquer lembrança do que havia lhe acontecido. O que relataram a Michael no dia seguinte, quando ele acordou, não era mentira, assim como a narrativa de Hollis sobre como a havia encontrado. Ficaram muito felizes e aliviados: Sara parecia bem, ainda que aparentasse certa dificuldade em entender a nova situação em que se encontravam - mas era verdade que tanto sua captura como seu retorno pareciam bastante atordoantes. Assim como a ausência de luzes e muros no Refúgio, simplesmente não faziam sentido.
A essa altura, qualquer alegria que poderiam ter sentido pelo fato de encontrar outro assentamento fora substituído por uma profunda inquietação. Ainda não tinham visto quase ninguém além de Olson, Billie, Jude e os dois homens de macacão laranja que os vigiavam, cujos nomes eram Hap e Leon. O único outro sinal de vida era um grupo de quatro Pequenos com roupas esfarrapadas que aparecia todas as tardes para brincar com os pneus na praça, embora, estranhamente, nenhum adulto jamais os supervisionasse: eles simplesmente vinham, brincavam e iam embora quando a brincadeira acabava.
A verdade era que muitas perguntas ainda não haviam sido respondidas: se não eram prisioneiros, por que estavam sendo vigiados? Se eram, por que todo aquele fingimento? Onde estava todo mundo? O que havia de errado com Michael, e por que ainda estava inconsciente?
Como prometera Olson, suas mochilas haviam sido devolvidas - os conteúdos obviamente foram examinados, e vários itens, como o bisturi no kit médico de Sara, tinham sido confiscados. Mas os mapas, que Caleb enfiara num compartimento interno, aparentemente haviam passado despercebidos. A prisão propriamente dita não aparecia no mapa de Nevada, mas eles encontraram a cidade de Desert Wells ao norte de Las Vegas, na rodovia 95. Era delimitada a leste por uma vasta área cinza sem estradas ou cidades, onde se lia FORÇA AÉREA - COMPLEXO DE NELLIS. A oeste dessa região, a apenas alguns quilômetros da cidade de Desert Wells, havia um pequeno quadrado vermelho cuja legenda dizia DEPÓSITO NUCLEAR DA MONTANHA YUCCA. Se Peter estava certo a respeito da localização deles, podiam vê-la claramente: uma serra formando uma barreira ao norte.
A viagem com Billie e Gus tinha dado a Hollis a oportunidade de observar melhor a paisagem. A cerca era mais robusta do que parecia - duas barricadas de aço grosso distantes aproximadamente 10 metros uma da outra, ambas com arame farpado no topo. Hollis tinha visto apenas duas saídas. Uma ficava ao sul, na outra extremidade do campo agrícola, e parecia conectar-se à estrada que circundava o complexo; a segunda, o portão principal, ligava o complexo à rodovia. Havia torres de observação de ambos os lados do portão - não sabia se eram ocupadas por vigias ou não -, além de uma pequena guarita onde um dos homens de roupa laranja ficava postado. Foi ele quem abriu o portão para Hollis e Billie passarem.
O Refúgio situava-se a poucos quilômetros da estrada que os conduzira para o norte. A prisão original, um enorme prédio cinza de pedra, ficava na extremidade leste do complexo, cercado de construções menores. Segundo Hollis, entre o portão e a rodovia, haviam atravessado uma linha de trem que parecia ir em direção à serra ao norte - o que era estranho, observou Hollis, porque quem colocaria trilhos indo direto para as montanhas? Quando, no primeiro encontro entre eles, Peter perguntara sobre onde conseguiam combustível para os veículos, Olson havia mencionado uma estação ferroviária. Mas Hollis observara que não haviam feito nenhuma parada na viagem até Las Vegas, por isso não era possível dizer se a tal estação existia ou não. Mas era óbvio que eles conseguiam o combustível em algum lugar. Foi durante essa conversa que Peter percebeu que a ideia de irem embora já estava tomando forma em sua mente, e que implicaria roubar um veículo e conseguir combustível para abastecê-lo.
O calor era intenso, e os dias de isolamento haviam começado a afetá-los. Todos estavam irritados e preocupados com Michael. Nos alojamentos sufocantes, ninguém dormia. Amy era a mais desperta de todos - Peter achava que não tinha visto a garota fechar os olhos uma só vez. Ela ficava sentada na cama a noite inteira, a expressão em seu rosto parecendo denotar uma concentração intensa. Era como se estivesse tentando resolver algum problema na mente.
Na terceira noite, Olson veio procurá-los, acompanhado por Billie e Jude. Com o passar dos dias, Peter começara a suspeitar que Jude era mais do que parecera a princípio. Não podia dizer exatamente o que ele era, mas havia algo desconcertante a seu respeito. Seus dentes eram extremamente brancos e retos - era impossível não olhar para eles - e os olhos irradiavam uma intensidade penetrante, dando ao seu rosto um ar atemporal, como se ele de algum modo tivesse conseguido ludibriar o tempo. Olhar para ele dava a Peter a impressão de estar observando um vendaval. Peter percebera que ainda não o ouvira receber nenhuma ordem de Olson - que se dirigia somente a Billie, Gus e aos vários homens de macacão laranja que entravam e saíam do alojamento - e começara a desconfiar de que Jude possuía certo grau de autoridade. Diversas vezes tinha observado o sujeito falando com os homens que os vigiavam.
Olson, Billie e Jude apareceram do outro lado da praça no crepúsculo, caminhando em direção ao alojamento. O calor do dia havia passado, e os Pequenos brincavam com os pneus, mas quando os três passaram, eles se espalharam abruptamente, como um bando de pássaros assustados.
- É hora de conhecerem o lugar onde estão - disse Olson ao chegar à porta.
Ele tinha no rosto um enorme sorriso, que no entanto começara a parecer falso. Era uma expressão vazia. Ao seu lado, Jude mostrava as fileiras de dentes perfeitos, os olhos azuis vasculhando o alojamento na penumbra. Só Billie parecia impassível, sem qualquer emoção estampada no rosto.
- Por favor, venham - instigou Olson. - A espera acabou. Todos estão ansiosos para conhecê-los.
Eles guiaram os sete pela praça vazia. Apoiando-se em muletas, Alicia mantinha Amy ao seu lado. Depois de caminharem por alguns minutos em silêncio, as mentes e os olhos em alerta máximo, chegaram a um labirinto de pequenas casas dispostas em fileiras separadas por becos. As construções eram obviamente habitadas, já que as janelas estavam iluminadas por lampiões e havia roupas estendidas nos varais. O prédio da antiga prisão surgia ao fundo, uma silhueta recortada contra o céu. Estavam andando ao ar livre, no escuro, sem nenhuma luz ou sequer uma faca para protegê-los - Peter nunca havia se sentido tão estranho. Sentiram o cheiro de fumaça e comida sendo preparada e ouviram um burburinho de vozes que crescia à medida que eles se aproximavam.
Viraram uma esquina e viram uma grande multidão em uma área ampla sem paredes cuja cobertura era sustentada por grossas vigas de aço. As chamas que vinham dos barris ao redor serviam de iluminação. Havia compridas mesas com cadeiras enfileiradas, e pessoas de macacão traziam panelas de comida de uma estrutura adjacente.
De repente, todos ficaram imóveis.
Então, do mar de rostos que olhava para eles, surgiu primeiro uma voz, depois outra, em meio ao burburinho festivo. São eles! Os viajantes! Os que vieram de longe!
À medida que a multidão os envolvia, Peter teve a sensação de estar sendo engolido. E por um momento, levado por uma onda de humanidade, esqueceu todas as preocupações. Ali estavam pessoas, centenas de pessoas, homens, mulheres e crianças, todos aparentemente tão jubilosos com a presença deles que Peter quase se sentiu realmente como o milagre de que Olson tinha falado. Os homens lhe davam tapinhas amistosos nas costas e apertavam sua mão. Algumas mulheres levavam seus bebês até ele, erguendo-os como se fossem oferendas. Outros meramente tocavam-no depressa e se afastavam correndo, por timidez, medo, ou simplesmente dominados pela emoção. Na periferia do seu campo de visão, Peter pôde perceber que Olson instruía as pessoas a ficarem calmas, a não correrem, mas esses avisos pareciam desnecessários. Estamos tão felizes em ver vocês, diziam todos. Estamos contentes demais por vocês terem vindo.
Isso continuou por alguns minutos, tempo suficiente para Peter começar a se sentir exausto com todos aqueles sorrisos e toques e cumprimentos repetitivos. A ideia de conhecer pessoas, ainda mais uma multidão de centenas, era tão nova e estranha que sua mente mal conseguia abarcá-la. Havia algo infantil neles, pensou Peter, naqueles homens e mulheres com seus macacões laranja puídos, os rostos cansados e os olhos arregalados com uma expressão de inocência quase subserviente. A recepção era inegavelmente calorosa, no entanto a coisa toda parecia ensaiada, não uma reação espontânea, e sim algo destinado a provocar exatamente a resposta que havia produzido em Peter: um completo baixar da guarda.
Todos esses pensamentos giravam em sua mente enquanto parte dele lutava para manter contato com os outros, o que provou ser difícil. O avanço da multidão os havia separado, e ele tinha apenas rápidos vislumbres dos companheiros: o cabelo louro de Sara surgindo acima da cabeça de uma mulher com um bebê no colo, o riso de Caleb vindo de algum lugar fora do alcance da sua vista. A sua direita, um pequeno grupo de mulheres havia cercado Mausami, emitindo murmúrios generalizados de aprovação. Peter chegou a ver uma delas levar a mão à barriga de Maus.
Então Olson estava ao seu lado. E com ele a filha, Mira.
- A garota, Amy - disse Olson, a única vez em que Peter vira o sujeito franzir a testa. - Ela não fala?
Amy estava perto de Alicia, as duas cercadas por um grupo de menininhas que apontavam para Amy e cobriam a boca com a mão, rindo. Enquanto Peter olhava, Alicia levantou uma das muletas para afastá-las, um gesto meio de brincadeira e meio sério, o que as fez se espalhar. Seu olhar encontrou brevemente o de Peter. Socorro, parecia dizer. Mas até ela estava sorrindo.
Ele se virou para Olson de novo.
- Não.
- Que estranho. Nunca ouvi falar nisso - comentou. Ele olhou para a filha antes de voltar novamente a atenção para Peter, parecendo preocupado. - Mas, fora isso, ela está... bem?
- Como assim?
Ele fez uma pausa.
- Por favor, me perdoe por ser tão direto. Mas uma mulher capaz de procriar é algo muito valioso. Nada é mais importante, com tão poucos de nós restando. E vejo que uma de suas fêmeas parece estar grávida. Todos estão curiosos.
Suas fêmeas, pensou Peter. Uma estranha escolha de palavras. Olhou para Mausami, que ainda estava cercada por mulheres. Percebeu que muitas delas também estavam grávidas.
- Acho que sim.
- E as outras? Sara e a ruiva, Lish. Estão todas bem?
A linha de interrogatório era tão estranha, tão fora de contexto, que Peter hesitou, sem saber o que dizer. Mas Olson olhava intensamente para ele, parecendo exigir algum tipo de resposta.
- Creio que sim.
Isso pareceu satisfazê-lo. Olson concluiu a conversa com um rápido movimento de cabeça, o sorriso retornando aos lábios.
- Que bom.
Fêmeas, pensou Peter de novo. Como se Olson estivesse falando de gado. Tinha a sensação inquietante de ter falado demais, de ter sido manipulado para entregar alguma informação importante. Parada junto ao pai, Mira olhava para a multidão, que começava a se dispersar. Peter percebeu que a garota não tinha dito uma palavra.
Todos estavam se reunindo em volta das mesas. O volume das vozes se estabilizou em um murmúrio enquanto a comida era servida: cestas de pão, potes de manteiga, jarras de leite, tigelas de ensopado vindo de panelas gigantes. Enquanto examinava a cena - todos falando e se servindo, algumas pessoas ajudando as crianças, mulheres com bebês pulando no colo ou mamando num seio exposto -, Peter percebeu que o que estava vendo era mais do que um grupo de sobreviventes: era uma família. Pela primeira vez desde que tinham deixado a Colônia, sentiu uma pontada de saudade de casa. Perguntou-se se estivera errado em suspeitar tanto. Talvez estivessem mesmo seguros ali.
No entanto havia algo errado - sentia isso também. A multidão parecia incompleta, faltava alguma coisa. Não podia dizer o que era, apenas que aquela ausência que mordiscava sua consciência parecia se tornar mais profunda quanto mais ele observava. Viu que Alicia e Amy agora estavam com Jude, que lhes mostrava onde se sentar. Alto em suas botas de couro - quase todos os outros estavam descalços -, o sujeito parecia erguer-se acima delas. Enquanto Peter olhava, Jude se aproximou de Alicia, tocando-a no braço, e disse algo rapidamente em seu ouvido. Ela respondeu gargalhando.
Esses pensamentos foram interrompidos quando sentiu Olson pousar a mão em seu ombro.
- Espero que vocês decidam ficar conosco - disse. - Todos nós esperamos. A união faz a força.
- Teremos de conversar sobre isso entre nós - Peter conseguiu dizer.
- Claro - respondeu Olson, deixando a mão onde estava. - Não há pressa. Levem o tempo que precisarem.
QUARENTA E Nnove
Era óbvio Não havia meninos.
Ou havia muito poucos. Alicia e Hollis disseram ter visto alguns, mas quando Peter os interrogou mais detalhadamente, ambos foram obrigados a confessar que não tinham certeza. Como todos os Pequenos tinham cabelo curto, era difícil dizer. Além disso, não tinham visto nenhuma criança mais velha.
Era a tarde do quarto dia e Michael finalmente estava acordado. Mausami e Amy estavam no alojamento menor, enquanto os outros cinco haviam se reunido no outro. Peter e Hollis tinham acabado de retornar de sua visita ao campo com Olson. O verdadeiro motivo do passeio fora dar uma segunda olhada no perímetro, já que haviam decidido ir embora assim que Michael estivesse em condições. Entretanto, dizer isso a Olson estava fora de questão. Ainda que Peter tivesse de admitir que gostava dele e não conseguisse encontrar nenhum motivo aparente para desconfiar do sujeito, muita coisa no Refúgio simplesmente não batia, e os acontecimentos da noite anterior tinham deixado Peter mais inseguro do que nunca com relação às intenções daquelas pessoas.
Olson fizera um breve discurso de boas-vindas, mas à medida que a noite se desenrolara, Peter começara a se sentir oprimido, até mesmo perturbado, pelo calor vazio da multidão. Havia uma mesmice essencial em todo mundo, e de manhã Peter percebeu que não conseguia se lembrar de ninguém em particular; todos os rostos e vozes parecendo se fundir em sua mente. Percebeu também que nenhum deles havia feito sequer uma pergunta sobre a Colônia ou sobre como haviam chegado - um fato que, quanto mais ele pensava, menos sentido fazia. Não seria a coisa mais natural do mundo que eles tivessem perguntado sobre o outro assentamento? Que os tivessem interrogado sobre a viagem e o que tinham visto? Mas era como se Peter e os outros tivessem se materializado do ar. Ninguém sequer perguntara o nome deles.
Teriam de roubar um veículo - quanto a isso, todos concordavam. A próxima questão seria o abastecimento. Seguiriam a linha de trem em direção ao sul, procurando a estação ferroviária, ou, se tivessem combustível suficiente, iriam até o aeroporto de Las Vegas, de onde virariam para o norte de novo na rodovia 15. Provavelmente seriam seguidos - Peter duvidava de que Olson fosse simplesmente abrir mão de um dos furgões; certamente tentaria recuperá-lo. Para evitar isso, poderiam ir direto para o leste, atravessando o complexo da Força Aérea, mas, sem estradas ou cidades, Peter duvidava que conseguissem. Além disso, se o terreno fosse parecido com a área que circundava o Refúgio, não seria o melhor lugar para correrem o risco de ficar presos.
Ainda restava a questão das armas. Alicia achava que devia haver uma armaria em algum lugar - ao contrário do que Olson dissera, ela afirmara desde o início que as armas que tinham visto estavam carregadas - e, na noite anterior, se esforçara ao máximo para extrair de Jude qualquer informação a respeito do assunto. O sujeito tinha ficado perto dela durante toda a festa - Olson havia ficado perto de Peter - e de manhã ele a havia levado numa picape para mostrar o restante do complexo. Peter não gostara disso, mas precisavam aproveitar qualquer chance de conseguir mais informações sem serem percebidos.
Mas, se existia uma armaria, Jude não dera qualquer indicação de onde poderia ser. Talvez Olson estivesse dizendo a verdade, mas não podiam arriscar. E mesmo que esse fosse o caso, as armas que haviam trazido tinham de estar em algum lugar - segundo as contas de Peter, eram três fuzis, nove facas, pelo menos seis pentes de munição e um par de granadas.
- E a prisão? - sugeriu Caleb.
Peter já havia pensado nisso. Com suas paredes fortificadas, parecia o lugar ideal para guardar alguma coisa. Mas até então nenhum deles havia estado perto o suficiente daquele prédio para procurar um meio de entrar. Para todos os efeitos, o lugar parecia abandonado, como Olson dissera.
- Acho que devíamos esperar até o anoitecer para dar uma olhada - disse Hollis. - É a única maneira de sabermos ao certo o que teremos de enfrentar.
Peter se virou para Sara.
- Em quanto tempo você acha que Michael estará em condições de viajar?
Sara franziu a testa, com ar de dúvida.
- Eu nem sei o que há de errado com ele. Talvez tenha sido mesmo insolação, mas não creio.
Ela havia expressado essa suspeita antes. Uma insolação grave o suficiente para causar uma convulsão, dissera ela, certamente o teria matado, porque significaria que o cérebro havia inchado. O longo estado de inconsciência poderia resultar disso, mas agora que ele estava acordado, ela não detectava qualquer sinal de lesão cerebral. A fala e a coordenação motora estavam ótimas e as pupilas, normais. Era como se ele tivesse caído num sono profundo e simplesmente houvesse acordado.
- Ele ainda está bem fraco - continuou Sara -, em parte por causa da desidratação. Pode ser que demore uns dois dias até que possamos transportá-lo, talvez mais.
Alicia se jogou na cama com um gemido.
- Acho que não consigo aguentar tanto tempo.
- Qual é o problema? - perguntou Peter.
- Jude é o problema. Sei que precisamos continuar encenando, mas tenho imaginado até que ponto terei de levar isso.
O significado era claro.
- Você acha que pode... não sei, mantê-lo afastado?
- Não se preocupe comigo. Posso cuidar de mim mesma. Mas ele não vai gostar - emendou. Então fez uma pausa, parecendo subitamente insegura. - Há outra questão, que não tem nada a ver com Jude. Nem sei se deveria tocar no assunto. Alguém se lembra de Liza Chou?
Peter se lembrava, pelo menos do nome. Era sobrinha do Velho Chou. A família dela - Liza, um irmão e os pais - tinha desaparecido na Noite Escura. Ninguém sabia ao certo se eles haviam sido mortos ou tomados. Peter se lembrava vagamente de Liza, da época em que ambos viviam no Abrigo. Ela era uma das crianças mais velhas, praticamente uma adulta aos olhos dele.
- O que tem ela? - perguntou Hollis.
Alicia hesitou.
- Acho que eu a vi hoje.
- Impossível - zombou Sara.
- Eu sei que é impossível. Tudo nesse lugar é impossível. Mas Liza tinha uma cicatriz no rosto, eu me lembro bem disso. Acho que foi por causa de um acidente, não tenho certeza. Mas ela estava lá, a mesma cicatriz.
Peter se inclinou para a frente. Algo nessa nova informação parecia importante. Parte de um padrão que surgia, mas que ele não conseguia discernir por completo.
- Onde foi isso?
- No curral onde ordenham as vacas. Tenho quase certeza de que ela me viu também. Jude estava comigo, por isso não pude me aproximar dela. Quando olhei de novo, ela havia sumido.
Era possível, pensou Peter, que ela tivesse escapado e de algum modo vindo parar ali. Mas como uma menina - o que Liza era na época - teria conseguido viajar uma distância tão grande?
- Não sei, Lish. Tem certeza?
- Não, não tenho certeza. Não deu para ter certeza. Só estou dizendo que ela se parecia bastante com Liza Chou.
- Ela estava grávida? - perguntou Sara.
Alicia refletiu por um momento.
- Pensando bem, estava.
- Há um monte de mulheres grávidas - sugeriu Hollis. - Faz sentido, não é? Um Pequeno é um Pequeno.
- Mas por que não há garotos? - continuou Sara. - E se há tantas grávidas, não deveria haver mais crianças?
- E não há? - perguntou Alicia.
- Bom, foi o que eu pensei, também. Mas não consegui contar mais do que umas 20 ontem à noite. E todas as crianças que eu vejo parecem ser as mesmas.
- Hollis, você disse que havia algumas crianças lá fora - disse Peter.
O grandalhão assentiu.
- Estão brincando naquela pilha de pneus.
- Cano Longo, dê uma olhada.
Caleb se levantou da sua cama, foi até a porta e abriu uma fresta.
- Deixe-me adivinhar - disse Sara. - A de dentes tortos e uma lourinha. Caleb se virou novamente para o grupo.
- Isso mesmo.
- É o que estou dizendo - insistiu Sara. - São sempre as mesmas crianças. É como se estivessem lá para dar a impressão de que são mais do que são.
- O que estamos falando aqui? - perguntou Alicia. - Certo, concordo que a ausência de meninos é estranha. Mas isso... não sei, Sara.
Sara se virou para encarar Alicia, os ombros em postura levemente hostil. -Você mesma disse que viu uma garota que morreu há 15 anos. Ela teria o quê, uns 25 anos agora? Como você saberia que era Liza Chou?
- Eu já disse. A cicatriz. E acho que sei identificar alguém da família Chou.
- E isso significa que devemos aceitar sua palavra? O tom de desafio de Sara pareceu irritar Alicia.
- Não me importa se você acredita ou não. Eu vi o que vi. Peter não queria ouvir mais brigas.
- Chega, vocês duas.
As duas mulheres se olhavam de cara feia.
- Isso não vai resolver nada. Qual é o problema de vocês?
Nenhuma delas respondeu. A tensão era palpável. Então Alicia suspirou e se deixou cair na cama de novo.
- Esqueça. Só estou cansada de esperar. Não consigo dormir aqui. É quente demais e tenho pesadelos a noite toda.
Por um momento ninguém falou nada.
- A mulher gorda? - perguntou Hollis, quebrando o silêncio. Alicia se empertigou depressa.
- O que você disse?
- Na cozinha. No Tempo de Antes. - O rosto de Caleb estava sério. Ele se afastou da porta e foi andando em direção aos outros. - Menino, você não é só burro...
Sara terminou para ele:
- É um verdadeiro idiota! - O rosto dela estava atônito. - Estou tendo pesadelos com ela também!
Agora todos estavam olhando para Peter. Que mulher gorda? Do que estavam falando?
Ele balançou a cabeça.
- Não tenho ideia do que vocês estão falando.
- Mas todos os outros de nós estão tendo o mesmo sonho - disse Sara.
Hollis coçou a barba, assentindo.
- É o que parece.
Michael estivera entrando e saindo de um sono irrequieto quando ouviu a porta se abrir. Uma garota apareceu diante dele. Era mais nova que Billie, mas usava a mesma roupa laranja desajeitada e o mesmo corte de cabelo curto. Ela segurava uma bandeja.
- Achei que você devia estar com fome.
Enquanto ela se aproximava da cama, o cheiro de comida quente despertou os sentidos de Michael como um choque elétrico. De repente estava morrendo de fome. A garota pôs a bandeja em seu colo: carne ensopada, verduras e, o mais maravilhoso de tudo, uma generosa fatia de pão com manteiga. Havia utensílios de metal ao lado, enrolados em um pano áspero.
- Meu nome é Michael - disse ele.
A menina assentiu, sorrindo. Por que aquelas pessoas sorriam o tempo todo?
- O meu é Mira.
Michael percebeu que o rosto dela estava enrubescendo. Seu cabelo ralo era de um louro claríssimo, praticamente branco, como o de um Pequeno.
- Fui eu quem cuidou de você.
Michael se perguntou o que isso significava exatamente. Nas horas desde que acordara, algumas lembranças haviam flutuado até ele: o som de vozes, formas e corpos se movendo ao redor, água sobre sua pele e alguém umedecendo seus lábios.
- Acho que eu deveria dizer obrigado.
- Ah, não há de quê. - Ela ficou em silêncio, examinando-o por um momento, depois prosseguiu: - Você é mesmo de fora, não é?
- De fora?
Ela deu de ombros.
- Existem as pessoas daqui e as de fora - explicou, virando o rosto em direção à bandeja. - Não vai comer?
Ele começou pelo pão, que se desmanchava deliciosamente na boca, depois passou para a carne e finalmente comeu a verdura, um tanto fibrosa e amarga, mas ainda assim satisfatória. Enquanto Michael comia, a garota, que havia ocupado uma cadeira perto da cama, mantinha os olhos fixos nele, o rosto fascinado, como se cada mordida lhe trouxesse prazer também. Aquelas pessoas eram muito estranhas.
- Obrigado - disse ele, quando tudo o que restava era uma mancha de gordura no prato.
Quantos anos ela teria? Dezesseis?
- Estava fantástico.
- Posso pegar mais se você quiser.
- Não, obrigado. Eu não poderia comer nem mais uma garfada.
Ela pegou a bandeja do colo dele e a colocou de lado. Michael achou que ela estivesse se preparando para sair, mas em vez disso ela veio andando novamente em sua direção, parando perto da cama.
- Gosto de... olhar para você, Michael.
Ele sentiu o rosto ficar quente.
- Mira? É Mira, não é?
Assentindo, ela segurou a mão dele.
- Gosto de como você diz o meu nome. - E, bem, ah...
Mas não pôde continuar: de repente Mira o beijou. Uma onda de maciez adocicada preencheu sua boca e seus sentidos desmoronaram. Sendo beijado! Ele estava sendo beijado! Eles estavam se beijando!
- Papai diz que eu posso ter um neném - dizia ela, o hálito quente em seu rosto. - Se eu tiver um neném, não terei de ir para o anel. Papai diz que eu posso escolher quem eu quiser. Posso escolher você, Michael? Posso?
Ele estava tentando pensar, processar o que ela dizia e o que estava acontecendo, sentir o gosto dela, que agora havia subido em cima dele, montando sobre suas pernas, a boca ainda encostada à sua - um borbulhar de impulsos e sensações que o deixou em um estado de obediência muda. Um neném? Ela queria ter um neném? Se tivesse um neném não precisaria usar um anel?
- Mira!
De repente Michael ficou totalmente desorientado. A garota havia sumido, arrebatada de perto dele. No instante seguinte o quarto estava atulhado de homens grandes vestindo macacões laranja. Um deles agarrou Mira pelo braço. Michael viu que não era um homem: era Billie.
- Vou fingir que não vi isso - disse ela à garota.
- Escute - disse Michael, encontrando a própria voz. - A culpa foi minha, não importa o que você tenha visto...
Billie lhe lançou um olhar frio. Atrás dela, um dos homens deu um risinho.
- Nem pense em fingir que isso foi ideia sua - disse Billie rispidamente. Então voltou o olhar para Mira de novo. - Vá para casa. Vá para casa agora mesmo.
- Ele é meu! Ele é meu!
- Mira, já chega. Quero que vá direto para casa e espere lá. Não fale com ninguém. Estamos entendidas?
- Ele não vai para o anel! - gritou Mira. - Papai me prometeu!
Aquela palavra de novo, pensou Michael. Anel. O que seria o anel?
- Vai, se você não sair já daqui. Agora ande.
As últimas palavras de Billie pareceram surtir efeito. Mira ficou quieta e, sem olhar para Michael, sumiu correndo por trás do anteparo. Os sentimentos dos últimos minutos - desejo, confusão, vergonha - ainda giravam dentro dele ao mesmo tempo em que ele pensava: que azar! Agora ela não volta nunca mais.
- Danny, traga o caminhão para os fundos. Tip, fique aqui.
- O que vão fazer comigo?
Billie havia tirado de algum lugar uma pequena lata de metal. Ela a abriu, pegou uma pitada de pó, jogou-a em um copo com água e entregou a mistura a ele.
- Beba tudo.
- Não vou beber isso.
Ela suspirou, impaciente.
- Tip, uma ajudinha aqui?
O homem avançou, erguendo-se acima da cama de Michael.
- Confie em mim - disse Billie. - Você não vai gostar nada do sabor, mas vai se sentir melhor bem depressa. E não vai mais sonhar com a mulher gorda.
A mulher gorda, pensou Michael. A mulher gorda na cozinha no Tempo de Antes.
- Como é que você...?
- Beba. Vamos explicar tudo no caminho.
Não parecia haver outra saída. Michael levou o copo aos lábios e engoliu depressa. O gosto era simplesmente horrível.
- O que, diabos, é isso?
- Você não vai querer saber - ela respondeu, pegando o copo da mão dele. - Já está sentindo alguma coisa?
Estava. Era como se alguém tivesse esticado um fio comprido dentro dele. Ondas de energia luminosa pareciam irradiar do seu interior. Ele havia aberto a boca para declarar essa descoberta quando um forte espasmo sacudiu todo o seu corpo, e Michael deu um soluço gigantesco.
- Isso acontece nas primeiras vezes - disse Billie. - Tente respirar fundo.
Um novo soluço. As cores no quarto adquiriram uma nitidez incomum, como se todas as superfícies ao redor fossem parte dessa nova energia.
- É melhor ele calar a boca - alertou Tip.
- É fantástico - Michael conseguiu dizer, engolindo em seco na tentativa de controlar um novo soluço.
O segundo homem havia retornado do corredor. - Temos pouco tempo de luz - disse ele em tom de urgência. - É melhor irmos andando.
- Pegue as roupas dele - Billie ordenou, voltando a fixar os olhos em Michael. - Peter disse que você é engenheiro. Que consegue consertar qualquer coisa. É verdade?
Ele pensou na mensagem que Sara havia escrito no papel - não conte nada a eles -, e por um momento não respondeu.
- E então?
- Acho que sim.
- Só achar não é suficiente. Isso é importante. Ou você consegue ou não consegue.
Ele olhou para os dois homens, que o observavam cheios de expectativa, como se tudo dependesse da resposta dele.
- Sim, consigo.
Billie assentiu.
- Então vista sua roupa e faça tudo o que dissermos.
ausami estava no escuro, sonhando com pássaros. Acordou com uma palpitação intensa e rápida sob o coração, como um par de asas batendo dentro dela.
O bebê, pensou. O bebê está se mexendo.
A sensação veio de novo - uma nítida pressão aquática, rítmica, como círculos se alargando na superfície de um lago. Como se alguém estivesse batendo em uma janela de vidro dentro dela. Ei, você aí fora! Olá!
Suas mãos traçaram a curva da barriga embaixo da blusa, úmida de suor, e ela foi inundada por um sentimento de ternura. Ei, você aí dentro! Olá!
CINQUENTA
O bebê era um menino. Sabia desde o início que era um menino, desde o dia em que havia vomitado o café da manhã na pilha de adubo. Não queria escolher um nome para ele por enquanto. Todo mundo dizia que a perda de um bebê era mais dolorosa quando ele tinha nome, mas não era esse o motivo principal para ela, uma vez que sabia que o bebê nasceria. Não era apenas uma esperança ou uma crença: Mausami tinha certeza. E quando o bebê nascesse, quando tivesse feito sua entrada barulhenta e dolorida no mundo, Theo estaria presente, e os dois dariam um nome ao filho juntos.
Este lugar, o Refúgio, a deixava cansada demais. Tudo o que ela queria fazer era dormir. E comer. Era o bebê, claro. O bebê fazia com que pensasse em comida o tempo todo. Depois de anos e anos comendo biscoitos duros e pasta de soja e daquela comida estranha que tinham encontrado no depósito da base militar - uma mistura de 100 anos de idade embalada a vácuo em um plástico que, só mesmo por um milagre, não os havia envenenado -, era inacreditável que tivessem comida de verdade. Carne e leite. Pão e queijo. Uma manteiga tão cremosa que fazia a parte de cima da garganta coçar. Mausami se empanturrava e depois lambia os dedos. Poderia ficar nesse lugar para sempre, só pela comida.
Todos tinham sentido imediatamente que havia algo errado. Na noite anterior, todas aquelas mulheres apinhadas em volta dela, grávidas ou com bebês no colo - algumas se enquadrando em ambas as categorias -, os rostos reluzindo com um brilho fraternal ao descobrir que ela também estava grávida. Um bebê! Que maravilha! É para quando? É o seu primeiro? Alguma outra mulher do grupo também está grávida? Na hora não lhe ocorreu perguntar como elas sabiam - afinal a barriga mal estava aparecendo - ou por que nenhuma delas havia perguntado quem era o pai nem mencionado os pais de seus filhos.
O sol havia baixado. A última lembrança de Mausami era de ter se deitado para um cochilo. Peter e os demais provavelmente estavam no outro alojamento, decidindo o que fazer. O bebê estava se mexendo de novo, dando cambalhotas dentro dela. Ficou deitada de olhos fechados e deixou a sensação preenchê-la. Lembrou-se de quando ficava no posto de Vigilância: aquilo parecia ter sido há anos. Em outra vida. Era o que acontecia quando se tinha um bebê, pensou. Esse estranho ser novo crescia dentro de sua barriga e, no fim, você também se tornava uma pessoa diferente.
De repente percebeu que não estava sozinha.
Amy estava sentada na cama ao lado da sua. Era estranho como a garota conseguia se fazer invisível. Mausami se virou para encará-la, apertando os joelhos junto ao peito enquanto o bebê pulava dentro dela.
- Oi - disse Maus bocejando. - Acho que dormi um pouquinho.
Pensou em como era curioso que todos falassem desse jeito perto de Amy, declarando o óbvio, tentando preencher o silêncio dela. Era um tanto intimidador o modo como a garota olhava para as pessoas, com aquela expressão intensa, como se estivesse lendo seus pensamentos. Foi então que Mausami percebeu para onde a menina estava olhando de verdade.
- Ah, entendi - disse ela. - Quer sentir o bebê?
Amy inclinou a cabeça, insegura.
- Pode colocar a mão, se quiser. Venha, vou lhe mostrar.
Amy se sentou na beira da cama de Mausami, que pegou a mão dela e a guiou para a barriga. A mão da menina era quente e um pouco úmida e os dedos eram surpreendentemente macios, não como os de Mausami, cheios de calos provocados por anos empunhando a besta.
- Espere só um minuto. Ele estava dando cambalhotas agorinha mesmo.
Uma vibração rápida. Amy afastou a mão, espantada.
- Sentiu isso?
Os olhos de Amy estavam arregalados, como se tivesse levado um choque agradável.
- Tudo bem, é isso mesmo que eles fazem. Veja...
Ela pegou a mão de Amy e a encostou na barriga de novo. Imediatamente o bebê deu uma cambalhota e chutou.
- Uau, esse foi forte.
Agora Amy também estava sorrindo. Como era estranho e maravilhoso, pensou Mausami, no meio de tudo o que acontecera, sentir um bebê se mexendo dentro dela. Uma nova vida, uma nova pessoa vindo para o mundo.
Então Mausami ouviu. Três palavras.
Ele está aqui.
Encolheu-se instintivamente, arrastando-se na cama até ficar sentada com as costas grudadas na parede. A menina olhava para ela com uma expressão penetrante, os olhos brilhando como dois faróis luminosos.
- Como você fez isso? - balbuciou Mausami. Estava tremendo, talvez estivesse doente.
Ele está no sonho. Com Babcock. Com os Muitos.
- Quem está aqui, Amy?
Theo. Theo está aqui.
CINQUENTA E UM
Ele era Babcock e era para sempre. Era um dos Doze e também o Outro, o que estava acima e atrás, o Zero. Ele era a noite das noites; ele fora Babcock antes de se tornar o que era. Antes da grande fome que era como o próprio tempo dentro dele, uma corrente no sangue, uma compulsão interminável, infinita e sem fronteiras, uma asa escura se espalhando sobre o mundo.
Era feito de Muitos. Milhares de milhares espalhados como as estrelas pelo céu noturno. Era um dos Doze e também o Outro, o Zero, mas seus filhos também estavam com ele, os que carregavam a semente do seu sangue, uma semente de Doze. Moviam-se como ele se movia, pensavam como ele pensava, em suas mentes havia um espaço vazio de esquecimento onde ele estava, em cada um deles, dizendo: Você não vai morrer. Você é parte de mim, como eu sou parte de você. Você beberá o sangue do mundo para me preencher.
Ele os comandava. Quando comiam, ele comia. Quando dormiam, ele dormia. Eles eram o Nós, o Babcock, e eram para sempre, assim como ele era para sempre, todos eles parte dos Doze e do Outro, o Zero. Sonhavam seu sonho sombrio com ele.
Lembrava-se de um tempo, antes do Tornar-se. O tempo da casinha, no lugar chamado Desert Wells. O tempo da dor e do silêncio e da mulher, sua mãe, a mãe de Babcock. Lembrava-se de pequenas coisas - texturas, sensações, visões. Um quadrado de luz dourada do sol caindo sobre o carpete. Um ponto gasto nos degraus da varanda onde seu pé calçado no tênis se encaixava perfeitamente e o corrimão enferrujado que arranhava sua mão. Lembrava-se dos dedos. Lembrava-se do cheiro dos cigarros da mãe na cozinha enquanto ela falava e assistia às suas novelas, e das pessoas na televisão, os rostos enormes e próximos, os olhos arregalados e marejados, as mulheres com lábios pintados e brilhantes como pedaços lustrosos de frutas. E a voz dela, sempre a voz dela:
Fique quieto, menino! Não está vendo que eu estou tentando ver isso? Você faz um barulho tão grande que não sei como não fico louca.
Ele se lembrava que ficava quieto, quieto demais.
Lembrava-se das mãos dela, das mãos da mãe de Babcock, e das ondas de dor, de como via estrelas quando ela batia nele, batia e batia mais ainda. Lembrava-se de quando era jogado longe, o corpo levantando numa nuvem de dor, de cair contra os móveis, dos tapas e das queimaduras. Sempre as queimaduras. E não chore. Seja homem. Se chorar aí mesmo é que eu vou lhe dar motivo para chorar mais ainda e vai ser pior pra você, Giles Babcock. Lembrava-se do bafo de fumaça perto de seu rosto. Da ponta incandescente do cigarro que ela pressionava contra a pele de sua mão e do som molhado e estalado das queimaduras, os mesmos estalos que o cereal fazia na tigela quando ele jogava o leite. Do cheiro da pele queimada se misturando aos jatos de fumaça que brotavam das narinas dela. E do modo como o choro ficava preso dentro dele, para que a dor pudesse terminar logo - para que ele pudesse ser um homem, como ela dizia.
Acima de tudo lembrava-se da voz dela. A voz da mãe de Babcock. Seu amor pela mãe era como uma sala sem portas, cheia do som áspero das palavras dela, daquele blá-blá-blá constante, provocando-o, rasgando-o, como a faca que ele pegou na gaveta naquele dia em que ela estava sentada à mesa na cozinha da pequena casa em um lugar chamado Desert Wells, falando e rindo, rindo e falando e engolindo seus bocados de fumaça.
Menino, você não é só burro. É um verdadeiro idiota!
Ficou feliz, muito feliz, mais feliz do que nunca quando a faca entrou nela, na pele branca da sua garganta, na camada exterior macia e na cartilagem mais dura embaixo. E enquanto ele enterrava a lâmina e cortava, o amor que sentira por ela deixava sua mente, de modo que agora ele podia ver o que ela realmente era - que era só um ser de carne, sangue e osso. Todas as palavras dela - o blá-blá-blá se movendo dentro dele, enchendo-o até explodir - tinham gosto de sangue em sua boca, de coisas vivas e doces.
Eles o mandaram para longe. Afinal, ele não era mais uma criança, era um homem. Era um homem com uma mente e uma faca, e disseram que ele devia morrer. Morra, Babcock, pelo que você fez. Ele não queria morrer, não naquela hora, nem nunca. E então o homem, Wolgast, veio até ele, uma obra do destino. Depois os médicos, a doença e o Tornar-se, para que ele fosse um dos Doze - o Babcock-Morrison-Chaves-Baffes-Turrell-Winston-Sosa-Echols-Lambright- Martinez-Reinhardt-Carter -, um dos Doze e também o Outro, o Zero. Ele tomara os outros do mesmo modo, bebendo as palavras deles, os gritos agonizantes como bocados macios em sua boca. E os que ele não matava mas simplesmente sorvia, um em cada 10, como ditava a corrente em seu sangue, se tornavam seus, juntando-se a ele em sua mente. Seus filhos. Sua grande e temível companhia. Os Muitos. Os Nós de Babcock.
E Este Lugar. Ele chegara a ele com um sentimento de retorno, de algo sendo restaurado. Tinha bebido o mundo até se fartar e viera até aqui descansar, sonhar seus sonhos no escuro, até que acordou e estava com fome de novo e escutou o Zero, que se chamava Fanning, dizendo: Irmãos, estamos morrendo. Morrendo! Porque não restava praticamente mais ninguém no mundo - nem pessoas, nem mesmo animais. E Babcock soube que chegara o tempo de trazer aqueles que restavam, para que o conhecessem, conhecessem Babcock e também o Zero, assumissem seu lugar dentro dele. Havia direcionado a mente aos Muitos, seus filhos e dito: Tragam-me o resto da humanidade; não os matem: tragam-nos e suas palavras, para que eles sonhem o sonho e se tornem um de nós, o Nós de Babcock. E primeiro viera um e depois outro, e mais outro, e eles sonhavam o sonho com ele, e ele lhes dizia, quando o sonho terminava: Agora vocês também são meus, como os Muitos. Vocês são meus Neste Lugar, e quando eu tiver fome vocês vão me alimentar, alimentar minha alma inquieta com o seu sangue. Vão me trazer outros de fora Deste Lugar para que façam o mesmo, e deixarei que vivam deste modo e não de outro. E os que não se dobravam à vontade dele, os que não tomavam a faca quando chegava a hora no lugar escuro do sonho onde a mente de Babcock encontra a deles, eram levados à morte, para que os outros vissem e soubessem e não se recusassem mais.
E assim a cidade foi construída. A Cidade de Babcock, a primeira em todo o mundo.
Mas agora havia a Outra. Não era Zero nem um dos Doze, mas a Outra. Igual e não igual. Uma sombra atrás de uma sombra, espiando-o como um pássaro que saltava para longe sempre que ele tentava fixar o olhar de sua mente nela. E os Muitos, seus filhos, sua grande e temível companhia, também a ouviam. Ele a sentia atraindo-os. Uma força enorme, arrastando-os para longe. Como o amor impotente que ele sentira tanto tempo antes, quando era só um garoto, olhando a ponta incandescente do cigarro girando, girando e queimando sua carne.
Quem sou eu?, perguntavam eles à Outra. Quem sou eu?
Ela fazia com que eles quisessem se lembrar. Ela fazia com que eles quisessem morrer.
Agora ela estava perto, muito perto. Babcock podia sentir. Ela era uma ondulação na mente dos Muitos, um rasgo no tecido da noite. Ele sabia que, por meio dela, tudo que tinham feito poderia ser desfeito, tudo que tinham criado poderia ser destruído.
Irmãos, irmãos. Ela está vindo. Irmãos, ela já está aqui.
CINQUENTA E DOIS
Sinto muito, Peter - disse Olson Hand. - Não tenho como saber onde todos os seus amigos estão o tempo todo.
Pouco antes do pôr do sol, Peter ficara sabendo que Michael havia desaparecido. Sara tinha ido até a enfermaria visitá-lo e encontrara a cama vazia. O prédio todo estava vazio.
Haviam se dividido em dois grupos: Sara, Hollis e Caleb foram vasculhar os arredores. Alicia e Peter saíram para procurar Olson. A casa dele - que, segundo Olson explicara, havia sido a residência do diretor da prisão - era uma pequena estrutura de dois andares situada em um trecho de terreno ressecado entre o campo de trabalho agrícola e a antiga prisão. Ele estava saindo quando os dois chegaram.
- Vou falar com Billie - continuou Olson. - Talvez ela saiba para onde ele foi.
Ele parecia incomodado, como se a visita deles o tivesse apanhado no meio de alguma tarefa importante. Mesmo assim, o rosto trazia um dos seus sorrisos tranquilizadores.
- Tenho certeza de que ele está bem. Mira o viu na enfermaria apenas algumas horas atrás. Ele disse que estava se sentindo melhor e queria dar uma olhada por aí. Achei que estivesse com vocês.
- Ele mal conseguia andar - disse Peter.
- Nesse caso, não pode ter ido longe, não é?
- Sara disse que a enfermaria estava completamente vazia. Vocês não mantêm uma equipe lá?
- Em geral, não. Se Michael optou por sair, não haveria motivos para ninguém mais ficar. - Uma expressão sombria surgiu no rosto dele, que então fixou o olhar em Peter. - Tenho certeza de que ele vai aparecer. Eu os aconselharia a retornar aos alojamentos e esperar que ele volte.
- Não sei...
Olson ergueu a mão para interrompê-lo.
- Como eu disse, esse é o meu conselho. Sugiro que aceitem. E tentem não perder mais nenhum amigo.
Alicia ficara em silêncio o tempo todo. Apoiada nas muletas, cutucou Peter com o ombro.
- Vamos.
- Mas...
- Tudo bem - disse ela. E depois, voltando-se para Olson: - Tenho certeza de que ele está bem. Se precisar de nós, sabe onde nos encontrar.
Voltaram pelo labirinto de casas. Tudo estava estranhamente silencioso e não havia ninguém à vista. Passaram pelo lugar onde a festa havia acontecido e viram que estava deserto. Todas as construções estavam escuras. Peter sentiu um arrepio enquanto a noite fria caía no deserto, mas sabia que a sensação era causada por algo mais do que uma simples queda de temperatura. Podia sentir olhos observando-os das janelas.
- Não olhe - disse Alicia. - Também estou sentindo. Continue andando.
Chegaram ao alojamento quase no mesmo instante que Hollis e os outros.
Sara estava transtornada de preocupação. Peter relatou a conversa com Olson.
- Eles o levaram para algum lugar, não foi? - desabafou Lish.
Era o que parecia. Mas para onde? E com que propósito? Era óbvio que Olson estava mentindo, mas o mais estranho era que ele parecia querer que eles percebessem.
- Quem está aí fora, Cano Longo?
Caleb havia assumido sua posição perto da porta.
- Os dois caras de sempre. Continuam em pé do outro lado da praça, fingindo que não estão vigiando a gente.
- Mais alguém?
- Não. Está um silêncio sepulcral lá fora. Também não há nenhum Pequeno.
- Vá acordar Maus - pediu Peter. - Não conte nada a ela. Apenas traga Maus e Amy para cá. As mochilas delas também.
- Estamos indo embora? - Caleb virou os olhos para Sara, depois novamente para Peter. - E Circuito?
- Não vamos a lugar nenhum sem ele. Só faça o que eu disse.
Caleb saiu rapidamente pela porta. Peter e Alicia trocaram olhares: algo estava acontecendo. Teriam de agir depressa.
Um instante depois, Caleb retornou.
- Elas sumiram.
- Como assim, sumiram?
O rosto do garoto estava totalmente lívido.
- O alojamento está vazio. Não há ninguém lá, Peter.
A culpa era toda dele. Na pressa de encontrar Michael, havia deixado as duas sozinhas. Tinha deixado Amy sozinha. Como podia ter sido tão estúpido?
Alicia tinha colocado as muletas de lado e começara a desenrolar a faixa da perna. Havia uma faca dentro, que ela escondera na noite da chegada. A muleta era um disfarce: o ferimento estava quase curado. Ela se levantou.
- Está na hora de acharmos aquelas armas - disse.
O que quer que Billie tivesse posto em sua bebida, o efeito ainda não havia passado.
Michael estava deitado na carroceria de uma picape, coberto por uma lona plástica. A carroceria estava cheia de canos que chacoalhavam ao seu redor. Billie tinha dito a ele que ficasse parado e em silêncio, mas ele se sentia quase insuportavelmente agitado. Como podiam esperar que ele bebesse um negócio daqueles e ficasse totalmente imóvel? Aquilo causava uma espécie de brilho interior, como se cada célula do corpo estivesse cantando uma única nota. Era como se a mente passasse por algum tipo de filtro e cada pensamento ganhasse uma clareza vibrante.
Não teria mais sonhos, dissera ela. Com aquela mulher gorda, sua fumaça, seu cheiro horrível e a voz áspera. Como Billie podia saber o que ele estava sonhando?
Tinham parado uma vez, apenas alguns instantes depois de saírem da enfermaria pelos fundos. Algum tipo de posto de verificação. Michael escutou uma voz que não reconheceu perguntar a Billie aonde ela estava indo. Embaixo da lona, Michael se esforçara para ouvir a conversa.
- Há um duto quebrado no campo leste - explicou ela. - Olson pediu que eu levasse esses tubos para a equipe de amanhã.
- E lua nova. Você não deveria estar aqui fora.
Lua nova, pensara Michael. O que havia de tão importante nisso?
- Olhe, são ordens de Olson. Pergunte a ele, se quiser.
- Não sei como você vai conseguir voltar a tempo.
- Deixe isso comigo. Vai me deixar passar ou não?
Um silêncio tenso e então:
- Só não se esqueça de que precisa voltar antes de escurecer.
Algum tempo depois, Michael sentiu a picape diminuir a velocidade de novo. Empurrou a lona de lado e pôde ver o céu arroxeado do fim de tarde e, atrás deles, uma grossa nuvem de poeira. As montanhas se erguiam ao longe contra o horizonte.
- Pode sair agora.
Billie estava parada junto à traseira do veículo. Michael desceu da picape, feliz por poder se mexer novamente. Tinham parado perto de um galpão de metal gigantesco, com pelo menos 200 metros de comprimento e um enorme teto convexo. Viu a silhueta de tanques de combustível enferrujados atrás. O chão estava coberto de trilhos que saíam em todas as direções.
Uma pequena porta se abriu na lateral do prédio e um homem saiu andando em direção a eles. Sua pele estava tão suja de graxa e óleo que o rosto era praticamente preto. Trazia na mão algo que esfregava com um trapo imundo. No coldre na perna, tinha uma espingarda de cano curto. Parou diante deles e olhou Michael de cima a baixo, que o reconheceu: era o motorista do caminhão que os trouxera de Las Vegas.
- É esse?
Billie confirmou com a cabeça.
O homem avançou até que os rostos dos dois estivessem quase colados e olhou bem nos olhos de Michael, movendo a cabeça lentamente de um lado para o outro. Ele tinha um hálito azedo, como leite estragado, e dentes muito escuros. Michael precisou fazer força para não se afastar.
- Quanto você deu a ele?
- O bastante - respondeu Billie.
O homem olhou com incredulidade para Michael, depois recuou e lançou um jato de cuspe marrom no chão duro.
- Meu nome é Gus.
- Michael.
- Sei quem você é - respondeu rispidamente. Então ergueu o objeto que carregava, mostrando-o a Michael. - Sabe o que é isso?
Michael o pegou.
- Um solenoide, 24 volts. Eu diria que é parte de uma bomba de combustível. Das grandes.
- E o que há de errado com ele?
Michael devolveu o objeto, dando de ombros.
- Que eu possa ver, nada.
Gus olhou para Billie, franzindo a testa.
- Ele está certo.
- Não falei?
- Ela disse que você entende de elétrica. Fiação, geradores, unidades de controle.
Michael deu de ombros novamente. Ainda estava relutante, com medo de falar demais, mas algo, algum instinto, dizia que podia confiar naqueles dois. Eles não o haviam trazido tão longe por nada.
- Deixe-me ver o que vocês têm aí.
Atravessaram o pátio até o galpão. Michael podia ouvir, vindo lá de dentro, o zumbido de geradores portáteis, o retinir de ferramentas. Entraram pela mesma porta de onde o homem havia saído. O interior do galpão era amplo, o espaço iluminado por refletores no teto. Mais homens usando macacões sujos de graxa se moviam de um lado para o outro.
O que Michael viu fez com que ele parasse.
Era um trem. Uma locomotiva a diesel. E não era uma coisa enferrujada e velha. Era uma máquina aparentemente capaz de funcionar, coberta de placas de aço de pelo menos dois centímetros de espessura. Uma espécie de limpa-trilhos gigantesco se projetava na frente da locomotiva e seu vidro frontal também estava coberto de placas de aço, deixando apenas uma estreita fenda exposta por onde o maquinista podia enxergar. Três vagões fechados vinham atrás.
- A parte mecânica e pneumática está funcionando - disse Gus. - Nós carregamos as unidades de oito volts usando os geradores portáteis. O problema deve ser na fiação. Não estamos conseguindo enviar a corrente das baterias para a bomba.
O sangue corria rápido nas veias de Michael. Ele respirou fundo para se acalmar.
- Você tem o esquema da parte elétrica?
Gus o levou até uma mesa improvisada onde havia posto os desenhos, grandes folhas de papel quebradiço coberto de tinta azul. Michael os examinou.
- Isso aqui é um ninho de ratos - disse ele depois de um momento. - Pode levar semanas para eu achar o problema.
- Não temos semanas - disse Billie.
Michael ergueu o rosto para encará-los.
- Há quanto tempo vocês estão trabalhando nisso?
- Quatro anos - respondeu Gus. - Mais ou menos.
- E quanto tempo eu tenho?
Billie e Gus trocaram um olhar de preocupação.
- Umas três horas - disse Billie.
CINQUENTA E TRÊS
Theo.
Ele estava na cozinha de novo. A gaveta estava aberta. A faca brilhava, aninhada ali como uma criança no berço.
- Vamos lá, Theo. Estou dizendo: tudo o que precisa fazer é pegar a faca e acabar com ela. Enfie a faca nela e tudo vai acabar.
A voz. A voz que sabia seu nome, que parecia rastejar dentro de sua cabeça, acordando e voltando a dormir. Uma parte de sua mente estava na cozinha, enquanto a outra permanecia na cela - a cela onde estava havia dias e dias, lutando contra o sono, lutando contra aquele sonho.
- É tão difícil assim, porra? Não estou sendo absolutamente claro?
Ele abriu os olhos. A cozinha desapareceu. Estava sentado na beira da cama. A cela com sua porta e o buraco fedorento que comia seu mijo e sua merda. Quem sabia que horas eram, que dia, que mês, que ano? Estava nesse lugar desde sempre.
- Theo? Está me ouvindo?
Ele lambeu os lábios e sentiu gosto de sangue. Teria mordido a língua?
- O que você quer?
Um suspiro do outro lado da porta.
- Tenho de admitir, Theo, que você me impressiona. Ninguém aguenta tanto tempo. Acho que está batendo o recorde.
Theo não disse nada. De que adiantava? A voz nunca respondia às suas perguntas. Se é que existia uma voz. Às vezes achava que aquilo tudo estava só em sua cabeça.
- Quer dizer, alguns tentam, é claro - continuou a voz. - Podemos dizer que, em alguns casos, furar aquela vaca velha vai contra a índole da pessoa.
Um risinho sombrio, como algo vindo do fundo de um poço.
- Acredite, já vi gente fazendo as merdas mais incríveis.
Era horrível o que não dormir podia fazer à mente de uma pessoa, pensou Theo. Se você ficasse acordado por um tempo excessivo, obrigando o cérebro a permanecer alerta durante dias e dias, por mais cansado que estivesse - Theo fazia flexões e abdominais no chão de pedra fria até os músculos queimarem, se coçava e dava tapas no próprio rosto, cravava as unhas na carne até sangrar para não cair no sono -, em pouco tempo não saberia se estava acordado ou dormindo, o que era o quê. Tudo se embaralhava. Uma sensação parecida com dor, só que pior, porque não era uma dor no corpo - a dor estava na mente e a mente era você. Você era a própria dor.
- Escute o que eu estou dizendo, Theo. Você não está fazendo uma boa escolha. Esse caminho não tem um final feliz.
Ele sentiu os olhos começarem a se fechar novamente. Cravou as unhas na palma da mão. Fique acordado. Theo. Porque havia algo pior do que ficar acordado, ele sabia.
- Cedo ou tarde todo mundo cede, Theo.
- Por que fica repetindo meu nome?
- O que foi, Theo? Você perguntou alguma coisa?
Ele engoliu em seco, sentindo de novo o gosto de sangue, a imundície da própria boca. Tinha colocado a cabeça entre as mãos.
- Meu nome. Você fica repetindo meu nome o tempo todo.
- Só estou tentando atrair sua atenção. Você não parece o mesmo nos últimos dias, se me permite dizer.
Theo permaneceu em silêncio.
- Tudo bem - continuou a voz. - Você não quer que eu diga seu nome. Acho isso uma besteira, mas posso aceitar. Vamos mudar de assunto. O que você acha de Alicia? Porque, para mim, aquela garota é especial.
Alicia? A voz estava falando de Alicia? Simplesmente não era possível. Mas nada era impossível naquele lugar, pensou Theo. Esse era o problema. A voz vivia dizendo coisas impossíveis.
- Bem, eu achava que preferiria Mausami, pelo modo como você a descreveu - continuou a voz, animada. - Quando tivemos nossa conversinha. Tinha certeza de que Mausami faria mais o meu tipo. Mas há algo nas ruivas que simplesmente faz meu sangue ferver.
- Não sei de quem você está falando. Já disse. Não conheço ninguém com esses nomes.
- Theo, seu safado, está tentando dizer que comeu Alicia também? Com Mausami na condição em que está?
A cela pareceu desabar.
- O que você disse?
- Ah, desculpe. Você não sabia? Ora, estou surpreso por ela não ter lhe contado. Sua Mausami, Theo. - A voz continuou em tom de deboche. - Está com um pãozinho no forno.
Theo tentou se concentrar, ordenar as palavras que ouvia para poder captar seu significado. Mas seu cérebro estava pesado, pesado demais, como uma enorme pedra escorregadia onde as palavras ficavam deslizando.
- Eu sei, eu sei - continuou a voz. - Foi um choque para mim também. Mas, voltando a Lish. Se não se importa que eu pergunte, como ela gosta da coisa? Acho que ela é do tipo que prefere ficar de quatro e uivar para a lua. O que acha, Theo? Corrija-me se eu estiver errado.
- Não... sei. Pare de repetir meu nome.
Uma pausa.
- Muito bem. Se é o que você quer. Vamos tentar um novo nome, o que acha? Que tal Babcock?
Sua mente pareceu explodir. Pensou que ia vomitar. Teria vomitado se houvesse algo em seu estômago.
- Agora estamos chegando a algum lugar. Você sabe quem é Babcock, não sabe, Theo?
- O que... ele é?
- Ora, você é um cara inteligente. Não sabe mesmo? - A voz fez uma pausa, enchendo o ar de expectativa. - Babcock é... você.
Eu sou Theo Jaxon, pensou, dizendo as palavras na mente como uma oração. Sou Theo Jaxon. Sou Theo Jaxon. Filho de Demetrius Jaxon e Prudence Jaxon. De uma Primeira Família. Sou Theo Jaxon.
- Ele é você. Ele sou eu. É todo mundo, pelo menos por aqui. Gosto de pensar que ele é como nosso deus local. Não como os deuses antigos, mas um novo deus. Um sonho de deus que todos sonhamos juntos. Repita comigo, Theo. Eu. Sou. Babcock.
Eu sou Theo Jaxon. Eu sou Theo Jaxon. Não estou na cozinha. Não estou na cozinha com a faca.
- Cale a boca, cale a boca - implorou Theo. - Isso não faz sentido.
- Lá vem você de novo, querendo que as coisas façam sentido. Você precisa relaxar, Theo. Esse seu mundo velho já não faz sentido há 100 anos, droga. Babcock não tem nada a ver com sentido. Babcock simplesmente é. Como o Nós. Como os Muitos.
As palavras encontraram os lábios de Theo.
- Os Muitos.
Agora a voz era mais suave. Flutuava até ele de trás da porta em ondas de suavidade, convidando-o a dormir. Simplesmente relaxar e dormir.
- Isso mesmo, Theo. Os Muitos. O Nós. O Nós de Babcock. Você tem de fazer isso, Theo. Tem de ser um bom menino, fechar os olhos e furar aquela vaca velha.
Ele estava cansado, cansado demais. Era como se estivesse derretendo de fora para dentro, o corpo se liquefazendo ao redor de uma única necessidade avassaladora: fechar os olhos e dormir. Queria chorar, mas não restavam lágrimas. Queria implorar, mas não sabia pelo quê. Tentou pensar no rosto de Mausami, mas seus olhos haviam se fechado de novo. Tinha deixado as pálpebras baixarem e estava caindo, caindo no sonho.
- Não é tão ruim quanto você pensa. Um pouco de agitação no início. A gordona consegue brigar um pouco, isso eu preciso admitir. Mas no fim você vai conseguir.
A voz agora vinha de algum lugar acima dele, flutuando através da luz amarela e quente da cozinha. A gaveta, a faca. O calor, o cheiro e o aperto no peito, o silêncio fechando sua garganta. O lugar macio no pescoço da mulher de onde sua voz borbulhava em camadas de carne. Menino, você não é só burro. É um verdadeiro idiota! Theo estendeu a mão e pegou a faca.
Mas dessa vez havia outra pessoa no sonho. Uma garotinha. Ela estava sentada à mesa, segurando um objeto pequeno no colo: um bichinho de pelúcia.
- Esse é o Peter - disse ela em sua voz de criança, sem olhar para ele. - É o meu coelhinho.
- Esse não é o Peter. Eu conheço o Peter.
Mas ela não era uma menininha: era uma mulher linda e alta, com tranças pretas que se curvavam como mãos em concha ao redor do rosto, e Theo não estava mais na cozinha. Estava na biblioteca, naquela sala terrível que cheirava a morte, as camas enfileiradas sob as janelas, cada uma delas com o corpo de uma criança, e os virais estavam subindo a escada.
- Não faça isso - disse a menina, que agora era uma mulher.
A mesa da cozinha, junto à qual ela estava sentada, tinha sido transportada de algum modo para a biblioteca, e Theo viu que ela já não era linda; em seu lugar estava uma velha, encolhida e sem dentes, o cabelo de um branco fantasmagórico.
- Não a mate, Theo.
Não.
Acordou assustado, o sonho estourando como uma bolha.
- Não vou... fazer isso.
A voz explodiu em um rugido.
- Você acha que isso é brincadeira, porra? Acha que pode escolher?
Theo não disse nada. Por que eles simplesmente não o matavam?
- Então está certo, parceiro. Como você quiser. - A voz deu um último suspiro de desapontamento. - Tenho novidades. Você não é o único hóspede deste hotel. Acho que você não vai gostar muito da próxima parte.
Theo ouviu as botas raspando o chão, virando-se para ir embora.
- Eu tinha esperanças em você. Mas não tem problema. Porque todos serão nossos, Theo. Maus, Alicia e o resto. De um jeito ou de outro, serão todos nossos.
CINQUENTA E QUATRO
Era lua nova, percebeu Peter, enquanto andavam no escuro. Lua nova, e nenhuma alma à vista.
Passar pelos guardas tinha sido fácil. Sara havia bolado o plano. "Queria ver Lish fazer isso", dissera ela, e em seguida marchara direto pela porta, cruzando a praça até onde os dois homens, Hap e Leon, estavam parados perto de um barril observando-a enquanto se aproximava. Ela se posicionou entre eles e a porta do alojamento. Seguiu-se uma negociação rápida. Um dos homens, Hap, o menor dos dois, virou-se e foi andando. Sara passou a mão no cabelo - o sinal que haviam combinado. Hollis se esgueirou para fora, agachando-se na sombra, depois Peter. Eles deram a volta pelo lado norte da praça e se esconderam no beco. Um instante depois Sara apareceu, chamando o outro guarda, que a seguiu com passadas rápidas que davam a entender o que ela havia prometido. Enquanto ela passava por eles, Hollis se levantou do esconderijo atrás de um dos barris de metal, empunhando a perna de uma cadeira.
- Ei - disse Hollis e acertou Leon com tanta força que ele simplesmente desmoronou.
Arrastaram o corpo frouxo para dentro do beco. Hollis o revistou; ele tinha uma arma presa à perna em um coldre de couro escondido sob o macacão. Caleb apareceu com uma corda. Amarraram as mãos e os pés do sujeito e enfiaram um pano embolado em sua boca.
- Está carregada? - perguntou Peter.
Hollis havia aberto o tambor.
- Três balas.
Hollis fechou o tambor com um movimento rápido do pulso e passou a arma para Alicia.
- Peter, acho que essas casas estão vazias - disse ela.
Era verdade. Não havia luz em lugar nenhum.
- É melhor a gente se apressar.
Aproximaram-se da prisão pelo lado sul, atravessando um campo vazio. Hollis achava que a entrada do prédio ficava do lado oposto, virada para o portão principal do complexo. Havia uma espécie de túnel, dissera ele, cuja entrada era um arco de pedra na parede. Eles podiam entrar por ali se precisassem, mas o arco ficava bem à vista das torres de observação. O plano era procurar uma entrada menos arriscada. As picapes e os furgões ficavam em uma garagem na extremidade sul do prédio. Era provável que Olson e seus homens mantivessem todos os bens valiosos no mesmo local, e, de qualquer modo, eles precisavam procurar em algum lugar primeiro.
A garagem estava fechada, a porta trancada com um cadeado grande. Peter olhou por uma janela, mas não viu nada. Atrás da garagem, uma comprida rampa de concreto levava a uma plataforma coberta que dava para uma porta na parede da prisão. Havia uma mancha escura no meio da rampa. Peter se ajoelhou e tocou o chão; seus dedos ficaram molhados. Levou os dedos ao nariz: óleo lubrificante.
A porta não tinha maçaneta nem qualquer outro mecanismo de abertura visível. Os cinco colocaram as mãos espalmadas na superfície lisa e fizeram força para empurrá-la para cima. Sentiram que a porta estava destrancada, mas era pesada demais para que eles conseguissem subi-la sem terem onde segurar. Caleb desceu a rampa de volta até a garagem. Depois de um barulho de vidro se quebrando, ele retornou, trazendo uma chave de roda.
Forçaram a porta de novo, conseguindo subi-la o suficiente para que Caleb enfiasse um pedaço da chave de roda embaixo. Uma nesga de luz apareceu no concreto. Empurraram a porta mais um pouco e passaram por baixo dela, um a um, deixando que se fechasse em seguida.
Estavam numa espécie de área de carga. Havia elos de correntes no chão e peças velhas de motor. Ouviram o ruído ritmado de água pingando em algum lugar próximo; o ar cheirava a óleo e pedra. Uma única fonte de luz estava à frente, seu brilho fraco e bruxuleante. Enquanto avançavam, uma forma familiar surgiu na penumbra.
Um Humvee.
Caleb abriu a porta traseira.
- Eles retiraram tudo, menos a metralhadora e três caixas de balas.
- Então onde estão as outras armas? - perguntou Alicia. - E quem trouxe isso para cá?
- Nós.
Giraram e viram uma única figura saindo das sombras: Olson Hand. Outros homens começaram a surgir, cercando-os. Seis sujeitos de macacão laranja, todos armados com fuzis.
Alicia havia sacado o revólver do cinto e o estava apontando para Olson.
- Mande eles recuarem.
- Façam o que ela disse - ordenou Olson. - Sério. Abaixem as armas, agora. Um a um os homens baixaram as armas. Alicia foi a última, mas Peter notou
que ela não pôs o revólver de volta no cinto, mantendo-o ao lado do corpo.
- Onde elas estão? - perguntou Peter. - Para onde levaram Amy e Mausami?
- Achei que Michael fosse o único.
- Elas sumiram.
Ele hesitou, parecendo perplexo.
- Sinto muito. Não era isso o que eu pretendia. Não sei onde elas estão. Mas seu amigo Michael está conosco.
- Conosco, quem? - perguntou Alicia. - O que está acontecendo? Por que todos nós estamos tendo o mesmo sonho?
Olson balançou a cabeça.
- A mulher gorda.
- Seu filho da puta, o que fez com Michael?
Com isso ela levantou a arma de novo, usando as duas mãos para firmá-la e a apontar para a cabeça de Olson. Ao redor, os seis responderam erguendo seus fuzis. Peter sentiu o estômago revirar.
- Tudo bem - respondeu Olson baixinho, os olhos fixos no cano do revólver.
- Diga a ele, Peter - pediu Alicia. - Diga que eu vou meter uma bala nele aqui mesmo, se não começar a falar.
Olson balançava as mãos suavemente ao lado do corpo.
- Rapazes, fiquem calmos. Eles não sabem. Eles não entendem. Alicia engatilhou o revólver.
- Não sabemos o quê?
A luz fraca do lampião, Olson parecia menor, pensou Peter. Nem parecia a mesma pessoa. Era como se uma máscara tivesse caído e Peter estivesse vendo o Olson verdadeiro pela primeira vez: um velho cansado, assolado pela dúvida e a preocupação.
- Babcock - respondeu ele. - Vocês não sabem sobre Babcock.
Michael estava deitado de costas, a cabeça enterrada debaixo do painel de controle. Um emaranhado de fios e conectores plásticos pendia acima dele.
- Tente agora.
Gus virou a chave, reconectando o painel às baterias. Eles ouviram o gerador principal engrenar.
- Funcionou?
- Espere um segundo - disse Gus. E depois: - Não. O disjuntor de partida desarmou de novo.
Tinha de haver um curto em algum lugar. Talvez fosse a bebida que Billie havia lhe dado ou o fato de ter passado tanto tempo perto de Élton, mas era como se Michael conseguisse sentir o cheiro do curto - um odor sutil de metal quente e plástico derretido vindo de algum lugar no emaranhado de fios acima de sua cabeça. Com uma das mãos, testou a corrente de toda a superfície da placa com o multímetro; com a outra, deu um puxão suave em cada conexão. Tudo parecia estar em ordem.
Michael se arrastou para fora e se sentou. Estava ensopado de suor. Parada ao seu lado, Billie lhe lançou um olhar de ansiedade.
- Michael...
- Eu sei, eu sei.
Ele tomou um longo gole da água de um cantil e enxugou o rosto com a manga da camisa. Precisava pensar. Tinha passado mais de uma hora testando circuitos, puxando fios, examinando cada conexão até o painel, e ainda não havia encontrado nada.
Perguntou-se o que Élton faria.
A resposta era óbvia. Talvez maluca, mas mesmo assim óbvia. E de qualquer modo, ele já tinha tentado todas as outras possibilidades. Levantou-se e foi andando pela passarela estreita que ligava a cabine da locomotiva ao compartimento do motor. Gus estava parado perto do painel de controle, com uma pequena lanterna na boca.
- Desligue e religue o relê - disse Michael.
Gus cuspiu a lanterna na mão.
- Já tentamos isso. Estamos esgotando as baterias. Se fizermos isso muitas vezes teremos de recarregá-las com os geradores portáteis. Leva, no mínimo, seis horas.
- Faça o que falei.
Gus deu de ombros e enfiou a mão no ninho de tubos que ficava atrás do painel, tateando às cegas.
- Certo, tudo bem, já religuei.
Michael voltou ao painel de disjuntores.
- Quero que todo mundo fique em silêncio absoluto agora.
Se Élton podia fazer isso, ele também conseguiria. Respirou fundo e soltou devagar o ar enquanto fechava os olhos, tentando esvaziar a mente.
Então religou o sistema.
No instante seguinte - uma fração de segundo -, ouviu o giro das baterias e o fluxo da corrente passando pelo painel, um som que parecia água correndo em um tubo. Mas algo estava errado: o tubo era pequeno demais. A água fazia força contra as paredes do tubo e então a corrente começava a fluir para o lado errado, causando uma turbulência violenta, metade indo numa direção e metade na outra, cancelando-se mutuamente, e de repente tudo parou: o circuito havia sido interrompido.
Michael abriu os olhos e viu que Gus o encarava, boquiaberto, mostrando os dentes escuros.
- É o disjuntor - disse Michael.
Em seguida pegou uma chave de fenda em seu cinto de ferramentas e desaparafusou o disjuntor do painel.
- É de 15 amperes - disse. - Esse negócio não serviria para um fogareiro elétrico. Por que, diabos, estariam usando um disjuntor de 15 amperes? - Ele olhou para a caixa e suas centenas de circuitos. - Para onde vai esse aqui, ao lado, o número 26?
Gus examinou o diagrama aberto na mesa minúscula da cabine da locomotiva. Olhou para o painel, depois para o desenho novamente.
- Luzes internas.
- Por todos os voadores, ninguém precisa de 30 amperes para isso.
Michael desaparafusou o segundo disjuntor e o substituiu pelo primeiro.
Esperou para ver se ia desarmar. Quando isso não aconteceu, disse:
- E isso aí.
Gus franziu a testa, em dúvida.
- Só isso?
- Eles devem ter sido trocados. Não tem nada a ver com a fiação. Desligue e religue o relê de novo, que eu vou lhe mostrar.
Michael foi em direção à cabine, onde Billie esperava em uma das duas cadeiras giratórias. Os outros haviam ido embora logo depois do pôr do sol, na picape de Billie, para esperá-los no ponto de encontro.
Michael ocupou a outra cadeira. Girou a chave do painel ao lado da válvula reguladora. Ouviram as baterias começarem a trabalhar. Os mostradores do painel se acenderam com uma luz azul. Pela fenda estreita no vidro frontal, Michael podia ver uma cortina de estrelas do outro lado das portas abertas do galpão. Bem, pensou, é agora ou nunca. Ou a corrente estava passando para o motor ou não estava. Tinha resolvido um problema, mas quem sabia quantos outros poderia haver? Ele tinha levado 12 dias para consertar um Humvee. Tudo que fizera aqui, fizera em pouco menos de três horas.
Michael gritou para o fundo da locomotiva, onde Gus estava limpando as mangueiras de combustível, tirando algum ar que porventura estivesse nelas.
- Vá em frente!
Gus acionou o motor. Ouviram um grande rugido vindo de baixo e sentiram o almejado cheiro de óleo diesel. Com uma guinada brusca, as engrenagens foram acionadas e começaram a fazer força contra os freios.
- E então - disse Michael, virando-se para Billie -, como se dirige essa coisa?
CINQUENTA E CINCO
No fim, tiveram de acreditar na palavra de Olson. Simplesmente não havia outra opção.
Dividiram as armas e se separaram em dois grupos. Olson e seus homens invadiriam pelo térreo, enquanto Peter e os outros entrariam por cima. O lugar que eles chamavam de anel era o antigo pátio central da prisão. Parte da cúpula que o cobria havia caído, deixando-o exposto ao tempo, mas as vigas da estrutura original permaneciam intactas. Essas vigas sustentavam uma série de passarelas 20 metros acima do chão dispostas como os raios de uma roda, de onde os guardas monitoravam os prisioneiros. Acima das passarelas corriam dutos de ventilação suficientemente largos para uma pessoa se arrastar dentro deles.
Partindo das passarelas, Peter e os outros desceriam por escadas nas extremidades norte e sul do pátio. Dali chegariam às três fileiras de arquibancadas que davam para o pátio central e eram isoladas dele por uma enorme grade de ferro. Era onde estaria a maior parte da multidão, explicou Olson, e talvez uma dúzia de pessoas vigiando a barreira de fogo.
O viral, Babcock, entraria pela abertura no teto, no lado leste da arena. Quatro bois seriam soltos na extremidade oposta e entrariam por uma abertura na linha de fogo, seguidos pelas duas almas escolhidas para o sacrifício.
Quatro bois e duas almas a cada lua nova, dissera Olson. Em troca ele mantém os Muitos longe.
Os Muitos: era assim que Olson havia chamado os outros virais. Os de Babcock, explicou ele. Os de seu sangue. Ele os controla?, Peter havia perguntado, ainda descrente. Era tudo incrível demais. Assim que fez a pergunta, entretanto, sentiu seu ceticismo ruir. Se o que Olson dizia era verdade, muita coisa faria sentido. O próprio Refúgio, sua existência impossível; o estranho comportamento dos moradores, como se carregassem um segredo terrível; até os próprios virais e o que Peter havia sentido a respeito deles a vida toda: que eram mais do que a soma de suas partes. Ele não os controla simplesmente, dissera Olson, um peso parecendo baixar sobre ele, como se tivesse esperado anos para contar aquilo. Ele é eles, Peter.
- Desculpe ter mentido para vocês antes, mas não podia evitar. As primeiras pessoas que vieram para cá não eram refugiadas. Eram crianças. O trem as trouxe para cá, não sabemos exatamente de onde. Iam se esconder nos túneis da montanha Yucca, mas Babcock já estava aqui. Foi quando o sonho começou. Dizem que é uma lembrança de quando ele ainda era homem, antes de se transformar em um viral. Mas, assim que a pessoa mata a mulher do sonho, passa a pertencer a ele. Passa a pertencer ao anel.
- O hotel, com as ruas bloqueadas, é uma armadilha, não é? - perguntou Hollis.
Olson confirmou com a cabeça.
- Durante muitos anos mandamos patrulhas para trazer o máximo de gente possível. Alguns simplesmente chegavam andando. Outros eram deixados pelos virais, para que nós encontrássemos. Como você, Sara.
Sara balançou a cabeça.
- Ainda não me lembro do que aconteceu.
- Ninguém nunca lembra. O trauma é simplesmente grande demais. - Olson olhou novamente para Peter com uma expressão de súplica. - Tentem entender. Nós sempre vivemos assim. Era nosso único modo de sobreviver. Para a maioria, o anel parece um preço pequeno a pagar.
- E um trato nojento, se você me perguntar - interveio Alicia. Seu rosto estava endurecido de raiva. - Já ouvi o bastante - ela continuou. - Essas pessoas são colaboradoras. São como bichos de estimação.
Algo escureceu na expressão de Olson, mas sua voz ainda era de uma calma assustadora.
- Chame-nos como quiser. Você não conseguirá dizer nada que eu não tenha dito a mim mesmo milhares de vezes. Mira não foi minha única filha. Eu tinha um filho também. Ele teria a sua idade, se estivesse vivo. Quando ele foi escolhido, a mãe foi contra. No fim, Jude mandou-a para o anel com ele.
O próprio filho, pensou Peter. Olson havia mandado o próprio filho para a morte.
- Por que Jude?
Olson deu de ombros.
- É ele quem decide tudo. Jude sempre esteve no comando. - Ele balançou a cabeça. - Eu explicaria melhor se pudesse. Mas nada disso importa agora. O que passou, passou, ou pelo menos é o que digo a mim mesmo. Alguns de nós estamos nos preparando há anos para esse dia. Para ir embora, levar uma vida de gente. Mas, a não ser que matemos Babcock, ele vai chamar os Muitos. Com essas armas nós temos uma chance.
- E quem será colocado no anel?
- Não sabemos. Jude nunca nos diz.
- E quanto a Maus e Amy?
- Como eu disse, não sabemos onde estão.
Peter se virou para Alicia.
- São elas.
- Não sabemos - reagiu Olson. - E Mausami está grávida. Jude não a escolheria.
Peter não estava convencido. O que era pior: tudo o que Olson dissera o fazia acreditar que Maus e Amy estariam no anel.
- Há outro modo de entrar?
Foi então que Olson explicou sobre os dutos acima das passarelas, ajoelhando-se no chão da garagem para desenhar na poeira.
- Teremos de atravessar o primeiro trecho em escuridão total - alertou ele, enquanto seus homens apanhavam os fuzis e as pistolas que haviam tirado do Humvee. - Mas basta acompanharmos o som da multidão.
- Quantos homens você vai ter lá dentro? - perguntou Hollis, enquanto enchia os bolsos com pentes de balas.
Caleb e Sara estavam carregando fuzis, ajoelhados junto a um caixote aberto.
- Nós sete, mais outros quatro nas arquibancadas.
- Só isso? - perguntou Peter.
As circunstâncias, que para começar não eram boas, subitamente pareceram muito piores do que ele havia pensado.
- Quantos vão estar do lado de Jude?
Olson franziu a testa.
- Pensei que você tinha entendido. Todos os demais.
Como Peter não dissesse nada, Olson continuou:
- Babcock é mais forte do que qualquer viral que vocês já viram, e a multidão não vai estar do nosso lado. Matá-lo não será fácil.
- Alguém já tentou?
- Uma vez. - Ele hesitou. - Um pequeno grupo, como nós. Muitos anos atrás. Peter estava prestes a perguntar o que havia acontecido, mas obteve a resposta no silêncio de Olson.
- Você deveria ter nos contado.
A expressão no rosto de Olson era uma mistura de resignação e desânimo. Peter percebeu que o sujeito carregava um fardo muito mais pesado que a tristeza ou o sofrimento. Era culpa.
- Peter, o que você teria dito?
Peter não respondeu. Não sabia. Provavelmente não teria acreditado. Não estava certo a respeito de em que acreditava agora. Mas Amy estava dentro do anel, ele tinha certeza; sentia isso nos ossos. Colocou o pente na arma e puxou o transportador. Olhou para Alicia, que assentiu. Todos pareciam estar prontos.
- Estamos aqui para resgatar nossos amigos - disse ele a Olson. - O resto é com vocês.
Mas Olson balançou a cabeça.
- Não se engane. Assim que estivermos no anel, nossa luta será uma só. Babcock tem que morrer. A menos que o matemos, ele chamará os Muitos. O trem não fará diferença.
Lua nova: Babcock sentia a fome brotando por dentro. Ele direcionou a mente para o Lugar do Retorno, dizendo: Chegou a hora. Chegou a hora, Jude.
Babcock estava no ar. Babcock estava voando. Saltando e planando acima do deserto, a grande fome jubilosa fervilhando em suas veias.
Tragam-nos para mim. Tragam-me um e depois outro. Tragam-nos para que eu os deixe viver deste modo e não de outro.
Havia sangue no ar. Ele sentia o cheiro, o gosto, a essência percorrê-lo. Primeiro viria o sangue dos animais, uma doçura viva. E depois seu Melhor, seu Especial, seu Jude, que havia sonhado o sonho melhor do que todos os outros desde o Tempo do Tornar-se. Aquele cuja mente vivia o sonho com ele como um irmão, e que lhe traria as almas de sangue que Babcock beberia e com as quais se encheria. Subiu até o topo do muro de um único salto. Estou aqui. Sou Babcock. Somos Babcock.
Desceu. Ouviu o murmúrio ofegante da multidão. O fogo ardia ao redor da arena. Atrás das chamas estavam os homens e mulheres que tinham vindo assistir e saber. E através da abertura viu os animais se aproximando, impelidos pelo chicote, os olhos sem medo, sem saber, e a fome o levantou em uma onda e então ele estava descendo sobre eles, rasgando e lacerando, primeiro um e depois outro, um de cada vez, uma plenitude gloriosa.
Somos Babcock.
Agora podia escutar as vozes. Os gritos da multidão atrás das grades de ferro, por trás do anel de fogo, e a voz de seu Melhor, seu Jude, parado na passarela acima, comandando a turba como um maestro.
- Tragam-nos para mim! Tragam-me um e depois outro! Tragam-nos para que possamos viver...
E uma parede de som se ergueu em um uníssono feroz:
- ... deste modo e não de outro!
Um par de figuras cambaleantes entrou na arena pela abertura, empurradas por homens que se afastaram rapidamente. As chamas subiram atrás deles, uma porta de fogo, lacrando-as dentro do anel para serem tomadas.
A multidão rugia, batendo ferozmente os pés no chão.
- Anel! Anel! Anel!
O ar estremeceu.
- Anel! Anel! Anel!
Foi então que ele sentiu. Como uma explosão luminosa e terrível, Babcock sentiu a presença dela. A sombra atrás da sombra, o rasgo no tecido da noite. A que levava a semente da eternidade mas não era do seu sangue, não era dos Doze nem do Zero.
A que se chamava Amy.
De dentro do duto de ventilação, Peter podia ouvir tudo: os gritos, os mugidos apavorados dos bois, e depois o silêncio - a respiração contida da multidão, prestes a presenciar um espetáculo terrível -, e então a explosão de júbilo. O calor subia em ondas até sua barriga e, com ele, a fumaça sufocante do óleo diesel. O duto era largo o suficiente apenas para que uma pessoa passasse de cada vez, arrastando-se apoiada nos cotovelos. Os homens de Olson estavam em algum lugar lá embaixo, reunidos no túnel que ligava o anel à entrada principal da prisão. Não havia como coordenar a chegada nem se comunicar com os outros, que estavam no meio da multidão. Eles teriam de tentar a sorte.
Peter viu uma abertura adiante: uma grade de metal na parte inferior do duto. Encostou o rosto nela, olhando para baixo. Podia ver as passarelas e, mais abaixo, a arena, envolta por um anel de fogo.
O chão estava coberto de sangue.
Nas arquibancadas, o público voltara a entoar Anel! Anel! Anel! Anel! Peter achou que ele e os outros deviam estar na extremidade leste do pátio. Para chegar à escada que descia até a arena, teriam de atravessar a passarela à vista da multidão. Olhou para Hollis, que assentiu.
Peter soltou a grade, colocando-a de lado. Depois engatou a pistola e se arrastou mais um pouco, de modo a ficar com os pés sobre a abertura. Amy, pensou, o que está acontecendo lá embaixo não é nada bom. Faça o que você sabe fazer, caso contrário todos nós seremos mortos.
Desceu o corpo pela abertura, passando os pés primeiro.
Caiu e caiu, por tempo suficiente para se perguntar: por que será que estou sempre caindo? A distância até a passarela era maior do que ele havia calculado - não apenas dois metros, mas quatro ou cinco -, e Peter bateu no metal com um estrondo. Rolou. A pistola havia se soltado de sua mão. E enquanto rolava vislumbrou, pelo canto do olho, uma figura embaixo: um corpo frouxo, resignado, com os pulsos amarrados e vestindo uma camisa sem manga que Peter reconheceu. Sua mente agarrou a imagem, que evocou uma lembrança - o cheiro da fumaça no dia em que haviam queimado o corpo de Zander Phillips, parados ao sol do lado de fora da usina elétrica, a camisa com o nome bordado no bolso. Armando.
Theo.
O homem no anel era Theo.
Seu irmão não estava sozinho. Havia outro homem ajoelhado a seu lado, nu da cintura para cima, inclinado para a frente no chão, o rosto escondido. E enquanto a visão de Peter se ampliava, percebeu que o que estava vendo no chão da arena eram os bois, ou o que havia restado deles, os pedaços espalhados por toda parte, como se os animais tivessem explodido. E ali, agachado no centro dessa massa de sangue, carne e ossos, o rosto enterrado nos restos, o corpo se retorcendo violentamente enquanto bebia, estava um viral - como nenhum outro que Peter houvesse encontrado antes. Era o maior que já vira, que qualquer um já vira, o corpo encurvado tão imenso que dava a impressão de ser outra criatura, não um viral.
- Peter! Chegou a tempo de assistir ao espetáculo!
Ele havia caído de costas, impotente como uma tartaruga. Jude estava de pé junto dele, com uma expressão que não tinha nome, um prazer obscuro que ia além das palavras, apontando uma espingarda para sua cabeça. Peter sentiu o tremor de passos vindo em direção a eles: mais homens de roupa laranja estavam correndo pelas passarelas, vindo de todas as direções.
Jude estava parado diretamente abaixo da abertura no duto.
- Vá em frente - disse Peter.
Jude sorriu.
- Que nobreza!
- Você, não - disse Peter, virando os olhos rapidamente para cima. - Hollis.
Jude ergueu o rosto a tempo de ver a bala do fuzil de Hollis acertando-o logo acima do ouvido direito. Peter sentiu o ar se umedecer com uma névoa rosada. Por um momento nada aconteceu. Então a espingarda se soltou das mãos de Jude e caiu na passarela. Jude tateou às cegas, tentando pegar uma pistola de cabo grande que tinha enfiada na cintura. Então o sangue começou a jorrar de seus olhos, um choro de sangue, e ele tombou de joelhos, balançando o corpo para a frente, o rosto congelado em uma expressão de perplexidade eterna que parecia dizer: não acredito que estou morto.
Foi Mausami quem matou o operador da bomba de combustível.
Ela e Amy haviam entrado pelo túnel principal logo antes da chegada da multidão e se esconderam sob a escada que levava às arquibancadas. As duas esperaram durante um bom tempo, encolhidas, até que ouviram o som dos bois sendo trazidos e os gritos loucos de júbilo. O ar parecia estar fervendo, tomado de uma fumaça sufocante.
Algo assustador acontecia por trás das chamas.
Quando o viral rasgou os animais, a arena pareceu explodir, a multidão brandindo os punhos, gritando e batendo os pés no chão, como um único ser arrebatado por um êxtase terrível. Alguns seguravam crianças nos ombros para que elas pudessem ver. Os bois agora mugiam, dando pinotes, correndo em direção às chamas e recuando confusos, em uma dança louca entre dois polos de morte. Enquanto Mausami olhava, o viral deu um salto e agarrou um dos animais pelas patas traseiras, levantando-as e as torcendo com um estalo longo, até que elas se soltassem, depois as jogando para o alto, os pedaços batendo contra as grades com um jorro de sangue. A criatura deixou o primeiro boi onde estava - as patas da frente estremecendo na terra, lutando para arrastar o corpo destroçado -, pegou o outro pelos chifres, quebrando o pescoço do animal com o mesmo movimento de torção. Depois enterrou os dentes na carne imobilizada da garganta do animal, o tronco do viral parecendo se inflar por completo enquanto ele bebia, o boi murchando a cada gole da criatura, encolhendo-se diante dos olhos de Mausami enquanto o sangue era sugado de seu corpo.
Ela não viu o resto. Tinha virado o rosto.
- Tragam-nos para mim! - gritava uma voz. - Tragam-me um e depois outro! Tragam-nos para que possamos viver...
- ... deste modo e não de outro!
Foi então que viu Theo.
Naquele instante Mausami experimentou um choque de alegria e terror tão violento que era como se estivesse pisando fora do próprio corpo. Sua respiração ficou presa. Sentiu-se tonta e enjoada. Dois homens de macacão empurravam Theo, impelindo-o através de uma abertura entre as chamas. Os olhos dele tinham uma expressão vazia, quase catatônica. Ele não parecia ter ideia do que estava acontecendo. Ergueu o rosto para a multidão, piscando, os olhos vidrados.
Ela tentou chamá-lo, mas seu grito se afogou no mar de vozes à sua volta. Procurou Amy, esperando que a menina soubesse o que fazer, mas não a viu em lugar nenhum. Acima e ao redor, a multidão entoava de novo:
- Anel! Anel! Anel!
E então o segundo homem foi trazido, com dois guardas segurando-o pelos cotovelos. Sua cabeça estava baixa, os pés mal parecendo tocar o chão enquanto os homens, sustentando seu peso, o arrastavam. Jogaram-no no chão e se afastaram logo rapidamente. Os gritos da multidão agora eram ensurdecedores, uma parede de som. Cambaleante, Theo deu um passo à frente, examinando a turba, como se procurasse alguém ali que pudesse ajudá-lo. O segundo homem havia se colocado de joelhos.
O segundo homem era Finn Darrell.
De repente uma mulher se colocou diante dela. Tinha um rosto familiar, com uma comprida cicatriz rosada na maçã do rosto. Seu macacão se avolumava com a barriga da gravidez.
- Eu conheço você - disse a mulher.
Mausami recuou, mas a mulher a segurou pelo braço, cravando os olhos em seu rosto com uma intensidade feroz.
- Eu conheço você, eu conheço você!
- Me solte!
Mausami se afastou. A mulher apontava para ela, gritando freneticamente.
- Eu conheço aquela mulher! Eu a conheço!
Mausami correu. Todos os pensamentos a haviam abandonado, menos um:
precisava alcançar Theo. Mas não havia como passar pelas chamas. O viral estava quase terminando com os bois; o último se retorcia sob suas mandíbulas. Em poucos segundos ele se levantaria e veria os dois homens - veria Theo. Seria o fim.
Então Mausami viu a bomba. Um volume enorme e sujo de óleo, ligado por mangueiras compridas a dois tanques enferrujados. O operador tinha uma espingarda atravessada diante do peito e uma faca presa ao cinto, numa bainha de couro. Como todos ali, estava olhando para o outro lado, prestando atenção no espetáculo que se desdobrava para além do paredão de fogo.
Sentiu um tremor de dúvida - nunca havia matado uma pessoa -, mas isso não foi suficiente para impedi-la. Com um único movimento, se aproximou do guarda por trás, levantou a faca e a cravou com toda a força na parte inferior das costas. Sentiu os músculos dele se retesarem como um arco. Do fundo da garganta do homem, um suspiro de surpresa escapou.
Mausami sentiu-o morrer.
Em meio à balbúrdia, uma voz surgiu de cima. Seria Peter?
- Theo, corra!
A bomba era uma confusão de alavancas e botões. Onde estavam Michael e Caleb quando se precisava deles? Mausami tinha de tentar a sorte. Pegou a alavanca maior, do tamanho do seu antebraço, agarrou-a com força e puxou.
- Peguem aquela mulher! - gritou alguém. - Segurem ela!
Quando sentiu o tiro penetrando na parte superior da coxa - uma dor estranhamente trivial, como a picada de uma abelha - Mausami percebeu que tinha conseguido. As chamas estavam morrendo, diminuindo ao redor do círculo. De repente a multidão começou a recuar para longe das grades, todo mundo gritando, o caos irrompendo.
O viral havia se afastado do último boi e estava se pondo de pé - era todo luz pulsante, olhos, garras e dentes. O rosto liso, o pescoço longo e o peito enorme estavam cobertos de sangue. O corpo parecia inchado como o de um carrapato. Tinha pelo menos três metros, talvez mais. Com um movimento rápido da cabeça, os olhos da criatura encontraram Finn: o viral jogou o pescoço para o lado, o corpo se retesando enquanto mirava, preparando-se para pular, e então saltou. Pareceu atravessar o ar entre eles com a velocidade do pensamento, invisível como uma bala, chegando de repente aonde Finn estava parado, impotente. Mausami não viu com clareza o que aconteceu em seguida, e ficou feliz por isso, porque dessa vez se tratava de uma pessoa. O sangue jorrou, parte de Finn indo para um lado, parte para o outro.
Theo, pensou ela, a dor em sua perna aumentando abruptamente - uma onda de calor e luz que a fez se encolher. Sua perna falhou, fazendo-a tombar para a frente. Theo, estou aqui. Vim salvar você. Nós vamos ter um filho, Theo. Nosso filho é um menino.
Enquanto caía, viu alguém correndo pelo anel. Era Amy. Seu cabelo estava envolto por uma nuvem de fumaça - o fogo lambia suas roupas. Agora o viral tinha voltado a atenção para Theo. Amy pulou entre eles, protegendo Theo como um escudo. Diante da forma imensa e inchada da criatura, parecia minúscula, como uma criança.
E, naquele instante, que pareceu suspenso no ar - o mundo inteiro congelado enquanto o viral olhava para a pequena figura à sua frente Mausami pensou: aquela garota quer dizer alguma coisa. Aquela garota vai abrir a boca e falar.
Vinte metros acima, Hollis havia pulado pela abertura segurando o fuzil, seguido por Alicia, que empunhava o lançador de granadas. Ela o girou, apontando o cano para onde Amy e Babcock estavam.
- Estou sem ângulo!
Caleb e Sara pularam atrás deles. Peter agarrou a espingarda de Jude e disparou na direção dos dois homens que vinham pela passarela. Um deles soltou um grito estrangulado e tombou, despencando de cabeça em direção ao chão lá embaixo.
- Atire! - gritou ele para Alicia.
Hollis disparou o fuzil e o segundo homem caiu, o rosto batendo no chão da passarela.
- Ela está perto demais! - disse Alicia.
- Amy - gritou Peter saia daí!
A garota se manteve onde estava. Quanto tempo ela poderia segurar o viral assim? E onde estava Olson? O fogo havia se apagado. A multidão se comprimia, tentando descer as escadas, uma avalanche de macacões laranja. Theo estava de quatro, afastando-se do viral, mas seu coração parecia não estar ali; havia aceitado o destino, não tinha forças para lutar. Caleb e Sara já estavam na escada, descendo em direção à confusão nas arquibancadas. Peter ouviu mulheres gritando, crianças chorando e uma voz que parecia a de Olson erguendo-se acima da balbúrdia:
- O túnel! Corram todos para o túnel!
Mausami se lançou no anel.
- Aqui! - gritou ela, firmando-se com as mãos enquanto caía no chão. Sua calça estava encharcada de sangue. Tentou se levantar. Estava acenando, gritando: - Olhe para cá!
Maus, pensou Peter, saia daí.
Tarde demais. O feitiço fora quebrado.
O viral girou o rosto e se agachou, o corpo parecendo armazenar energia como uma mola comprimida, e logo estava voando, saltando no ar. Subiu em direção a eles com uma inevitabilidade implacável, traçando um arco no espaço acima deles e se agarrando a uma das vigas do teto. Balançou o corpo como uma criança pendurada no galho de uma árvore - uma imagem estranhamente cativante, até mesmo alegre - e pousou na passarela com um estrondo aterrador.
Sou Babcock.
Somos Babcock.
- Lish...
Peter sentiu a granada passar junto ao rosto, o gás quente escaldando sua bochecha, e entendeu o que iria acontecer.
A granada explodiu. Um soco de som e calor lançou Peter para trás, contra Alicia, os dois tombando na passarela. Só que a passarela não estava lá: estava caindo, mas, no instante seguinte, ficou presa em alguma coisa, e eles bateram com força contra o piso. Por um momento esperançoso, tudo parou. Então a estrutura estremeceu de novo e, com um ruído estalado de rebites se soltando e um gemido metálico, a passarela se desprendeu do teto, dobrando-se para o chão, caindo.
Leon estava no beco, de cara no chão. Diabos, pensou. Para onde foi aquela garota?
Havia algum tipo de mordaça em sua boca e suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Tentou mexer os pés, mas eles também estavam presos por uma corda. Tinha sido atacado pelo sujeito grandalhão, lembrava-se agora. Hollis havia saído das sombras, brandindo algum objeto, e, depois disso Leon acordara sozinho no escuro, sem conseguir se mexer.
Seu nariz estava cheio de muco e sangue. Provavelmente o filho da puta o havia quebrado. Era só disso que precisava, de um nariz quebrado. Pensou que provavelmente também tinha uns dois dentes partidos, mas, com a mordaça enfiada na boca, não tinha como saber.
Estava tão escuro que ele não conseguia enxergar um palmo à sua frente. Sentia um fedor de lixo vindo de algum lugar. As pessoas viviam colocando o lixo nos becos em vez de levá-lo até o monturo. Quantas vezes tinha ouvido Jude dizer: "Joguem a porra do lixo no monturo! Não somos porcos, somos?" Era uma piada, de certa forma, já que eles não eram porcos, mas qual era a diferença? Jude vivia fazendo piadas assim, para incomodar as pessoas. Durante algum tempo haviam criado porcos - Babcock gostava de porcos quase tanto quanto de bois - mas uma doença os havia dizimado em um inverno. Ou talvez eles simplesmente tivessem pressentido o que estava por vir e decidido que era preferível desistir e morrer na lama.
Ninguém viria procurar Leon, isso era certo. Ele mesmo teria de dar um jeito para ficar em pé. Puxou os joelhos em direção ao peito, mas a tentativa fez os ombros doerem terrivelmente, torcidos para trás do jeito que estavam, e seu rosto, com o nariz e os dentes quebrados, foi empurrado contra o chão. Gemeu de dor. Estava tonto e ofegante, molhado de suor. Levantou o rosto - mais dor nos ombros; que porra aquele cara tinha feito, amarrando tão forte suas mãos - e o tronco até conseguir ficar sentado, os joelhos dobrados embaixo do corpo, e foi então que percebeu o erro. Não tinha como se levantar. Havia pensado que poderia usar as pontas dos pés para impulsionar o corpo até a posição vertical, mas isso só o faria cair de cara novamente. Deveria ter se arrastado primeiro até a parede, usado-a como apoio. Mas agora estava preso, as pernas, embaixo do corpo, imobilizado como um imbecil.
Tentou gritar por socorro, nada muito elaborado, apenas um "Ei!", mas o som saiu como um Aaaaa estrangulado, e o esforço lhe deu vontade de tossir. Podia sentir que a circulação nas pernas estava comprometida, um adormecimento que pinicava, subindo a partir dos dedos dos pés como formigas.
Algo se movia ali perto.
Ele estava virado para a entrada do beco. Adiante ficava a praça, que havia sido engolfada por uma escuridão absoluta desde que o barril de fogo se apagara. Esforçou-se para enxergar no escuro. Talvez fosse Hap, que viera procurá-lo. Quem quer que fosse, ele não podia ver. Na certa, sua mente estava lhe pregando uma peça. Qualquer um podia ficar meio nervoso sozinho ali, ao ar livre, na lua nova.
Não: havia alguma coisa se mexendo. Leon sentiu de novo. A sensação vinha do chão, podia notá-la nos joelhos.
Uma sombra se estendeu acima dele. Ele ergueu a cabeça rapidamente, mas viu apenas estrelas em um negrume líquido. A sensação nos joelhos estava mais forte, um tremor rítmico, como o bater de mil asas. Que porra...?
Uma figura entrou em disparada no beco. Hap.
Aaaaaa, gritou ele atrás da mordaça. Aaaaaa. Mas Hap não pareceu notá-lo. Parou na saída do beco, ofegando, e correu para longe.
Então viu do que Hap estava correndo.
A bexiga de Leon se soltou, depois o intestino. Mas sua mente não foi capaz de registrar esses fatos, já que todos os seus pensamentos foram obliterados por um terror imenso e imponderável.
A passarela bateu no chão com um impacto enorme. Agarrado a um dos corrimãos, Peter mal conseguiu se segurar. Um objeto passou por ele, batendo ruidosamente antes de rolar da passarela: o lançador de granadas, vazio, o cano liberando uma meteórica nuvem de fumaça no ar. Então algo se chocou contra seu corpo, fazendo-o largar o corrimão - Hollis e Alicia embolados. No instante seguinte, os três estavam caindo, deslizando pela passarela inclinada até o chão da arena.
Bateram no chão, um emaranhado de braços, pernas, corpos e equipamentos se espalhando como bolas jogadas com toda a força no chão. Peter caiu deitado de costas, os olhos voltados para o teto distante, um jorro de adrenalina inundando a mente e o corpo.
Onde estava Babcock?
- Vamos!
Alicia o havia agarrado pela camisa e tentava colocá-lo de pé. Sara e Caleb estavam ao lado dela. Hollis cambaleava na direção deles, segurando o fuzil.
- Temos de sair daqui!
- Para onde ele foi?
- Não sei! Deu um salto e desapareceu!
Havia restos dos bois espalhados por toda parte. O ar fedia a carne e sangue. Amy estava ajudando Maus a se levantar. As roupas da menina ainda fumegavam, mas ela não parecia notar. Uma parte do cabelo havia sido queimada, deixando em carne viva o couro cabeludo rosado.
- Ajude Theo - disse Mausami, quando Peter se ajoelhou ao lado dela.
- Maus, você levou um tiro.
Os dentes dela estavam trincados de dor. Ela o empurrou para longe.
- Ajude-o.
Peter foi até onde seu irmão estava ajoelhado no chão. Ele parecia atordoado, desorientado. Seus pés estavam descalços e os braços, feridos. As roupas eram farrapos. O que haviam feito com ele?
- Theo, olhe para mim - ordenou Peter, agarrando-o pelos ombros. - Você está machucado? Acha que consegue andar?
Uma pequena luz pareceu se acender nos olhos do irmão. Não era o Theo ele conhecia, mas ao menos era um vislumbre.
- Ah, meu Deus - disse Caleb. - Aquele é o Finn.
O garoto apontava para uma silhueta ensanguentada no chão a poucos metros dali. A princípio Peter pensou tratar-se de um pedaço de boi, mas então os detalhes entraram em foco e ele entendeu que aquele monte de carne e ossos era metade de uma pessoa: um tronco, uma cabeça e um braço retorcido por cima da testa. Não restara nada abaixo da cintura. O rosto, como dissera Caleb, era de Finn Darrell.
Peter apertou os ombros de Theo com mais força. Sara e Alicia estavam levantando Mausami.
- Theo, preciso que você tente andar.
Theo piscou e lambeu os lábios.
- É você mesmo, irmão?
Peter assentiu.
- Você... veio me salvar.
- Caleb - chamou Peter -, me ajude aqui.
Peter colocou Theo de pé e passou um braço por sua cintura, enquanto Caleb o segurava pelo outro lado.
Juntos, correram.
Entraram no túnel escuro, em meio à multidão que fugia. As pessoas disparavam em direção à saída, empurrando umas às outras. Adiante, Olson acenava ferozmente com a mão, indicando o caminho e gritando a plenos pulmões:
- Corram para o trem!
Chegaram ao fim do túnel. A multidão corria em peso para o portão, que estava aberto. As pessoas se comprimiam tentando passar ao mesmo tempo pela abertura estreita que, em meio a toda a confusão, se tornara um funil. Alguns haviam se lançado contra o arame e tentavam escalar a cerca. Enquanto Peter olhava, um homem no alto tombou para trás gritando, uma das pernas embolada no arame farpado.
- Caleb! - gritou Alicia. - Pegue Maus!
O povo se comprimia em volta deles. Peter viu a cabeça de Alicia balançando acima da turba e uma cabeleira loura que ele sabia ser de Sara. As duas estavam indo na direção errada, lutando contra a maré humana.
- Lish! Aonde você está indo?
Mas a voz dele foi sufocada por um apito retumbante, uma única nota contínua que fendeu o ar, parecendo não vir de uma só direção, mas de todos os lados ao mesmo tempo.
Michael, pensou ele. Michael estava chegando.
De repente foram impelidos para a frente, a força da multidão em pânico levando-os como uma onda. De algum modo Peter conseguiu segurar o irmão. Passaram pelo portão e se viram no meio de outra turba que se comprimia entre as duas cercas. Alguém trombou nele por trás e ele ouviu o sujeito grunhir, cambalear e sucumbir sob a multidão. Peter lutou para abrir caminho, empurrando, acotovelando, usando o corpo como um aríete, até que, finalmente, conseguiram passar pelo segundo portão.
Os trilhos ficavam logo adiante. Theo parecia estar acordando, esforçando-se um pouco mais para carregar o próprio peso, enquanto os dois avançavam com dificuldade. Em meio ao caos e à escuridão, Peter não conseguia ver os amigos. Chamava o nome deles, mas nenhuma resposta vinha dos gritos das pessoas que passavam correndo.
Subiram um barranco arenoso e, quando estavam chegando ao topo, Peter avistou um clarão vindo do sul. Outro estrondo, e então um enorme volume prateado avançou na direção deles, cortando a noite como uma faca. Um único feixe de luz na frente da máquina brilhava sobre a massa humana apinhada em volta dos trilhos. Viu Caleb e Mausami mais à frente, correndo em direção ao trem. Ainda segurando Theo, Peter desceu cambaleando o barranco. Ouviu um guincho de freios. As pessoas corriam ao lado do trem, tentando subir nos vagões. Quando a locomotiva se aproximou, uma porta se abriu na cabine da frente e Michael se inclinou para fora.
- Não dá para parar!
- O quê?
Michael pôs as mãos em concha ao redor da boca.
- Temos de continuar em movimento!
O trem havia diminuído a velocidade e agora praticamente se arrastava. Peter viu Caleb e Hollis ajudando uma mulher a subir em um dos três vagões atrás da locomotiva. Michael ajudou Mausami a escalar os degraus que levavam à cabine, puxando-a pela mão enquanto Amy a empurrava por trás. Peter começou a correr com o irmão, tentando acompanhar o trem. Enquanto Amy se enfiava pela porta, Theo agarrou a escada. Quando ele chegou ao topo, Peter se jogou na direção dela, os pés pendendo no ar, até que conseguiu içar o próprio corpo. Ouviu sons de tiros vindos de trás, os disparos ricocheteando nas laterais dos vagões.
Fechou a porta com força e se viu num compartimento apertado, com centenas de minúsculas luzes brilhantes. Michael estava sentado diante do painel de controle, com Billie ao lado. Amy havia se alojado no chão atrás da cadeira de Michael, os olhos arregalados e os joelhos puxados contra o peito em uma posição defensiva À esquerda de Peter, um corredor estreito levava à parte de trás da locomotiva.
- Meu Deus, Peter - disse Michael, girando na cadeira. - De onde, diabos, veio o Theo?
O irmão de Peter estava caído no chão do corredor. Mausami havia aninhado sua cabeça junto ao peito, a perna ferida dobrada sob o corpo.
Peter direcionou a voz para a frente da cabine.
- Alguém tem um kit médico?
Billie lhe estendeu uma caixa de metal. Peter a abriu e pegou uma bandagem, dobrando-a para formar uma compressa. Rasgou a perna da calça de Mausami para revelar o ferimento, uma cratera ensanguentada de pele rasgada. Apertou a compressa contra ele e mandou que ela a segurasse ali.
Theo ergueu o rosto, os olhos saltando de um lado para o outro.
- Estou sonhando com vocês?
Peter negou, balançando a cabeça.
- Quem é ela? A garota. Eu pensei...
Sua voz ficou no ar.
Então Peter percebeu: tinha atendido ao pedido da mãe. Cuide do seu irmão.
- Mais tarde teremos tempo de explicar tudo, está bem?
Theo conseguiu dar um sorriso fraco.
- Tudo bem.
Peter foi até a frente da cabine, posicionando-se entre as duas cadeiras. Pela abertura no para-brisa, podia ver o deserto e os trilhos correndo embaixo deles, sob a luz do farol.
- Babcock está morto, não está? - perguntou Billie.
Ele balançou a cabeça.
- Vocês não o mataram?
A visão da mulher encheu-o subitamente de raiva.
- Onde, diabos, estava Olson?
Antes que ela pudesse responder, Michael interrompeu.
- Espere, onde estão os outros? Onde está Sara?
A última vez que Peter a tinha visto, ela estava com Alicia junto ao portão.
- Acho que deve estar em um dos outros vagões.
Billie abriu a porta da cabine de novo, inclinando-se para fora, e em seguida pôs a cabeça novamente para dentro.
- Espero que todos estejam a bordo - disse. - Porque aí vêm eles. Aumente a velocidade, Michael.
Minha irmã ainda pode estar lá fora! - gritou Michael. - Você disse que ninguém ia ficar para trás!
Billie não esperou. Estendeu a mão na frente de Michael, derrubando-o de volta na cadeira, e agarrou uma alavanca no painel. Empurrou-a para cima, e Peter sentiu o trem acelerar. Um mostrador digital se acendeu, os números subindo rapidamente: 50, 55, 60. Em seguida, ela passou por Peter e foi até o corredor, onde uma escada na parede levava a uma escotilha no teto. Subiu rapidamente, girando o volante que a trancava e direcionando a voz para a traseira do trem.
- Gus! Para cima, vamos!
Gus veio correndo, arrastando uma sacola de lona, que ele abriu para revelar uma pilha de espingardas de cano curto. Passou uma para Billie e pegou outra, depois levantou o rosto sujo de graxa para Peter, entregando-lhe uma arma.
- Se vai ajudar - disse carrancudo -, tente se lembrar de manter a cabeça baixa.
Subiram a escada, Billie primeiro, depois Gus. Enquanto Peter passava a cabeça pela escotilha, um sopro de vento acertou seu rosto, fazendo-o recuar. Engoliu em seco, tentando se livrar do medo, e tentou de novo, deslizando com a barriga no teto e passando pela abertura com o rosto virado para a frente do trem. Michael lhe entregou a espingarda. Ele se agachou com cuidado, tentando manter o equilíbrio ao mesmo tempo que aninhava a arma debaixo do braço. O vento forte o golpeava impiedosamente, uma pressão contínua que ameaçava derrubá-lo. O teto da locomotiva era arqueado, com uma faixa lisa no meio. Agora ele estava virado para a traseira do trem, de costas para o vento. Billie e Gus já estavam bem adiante. Peter os viu pular o vão entre o primeiro vagão e o seguinte, indo em direção à parte de trás do trem na escuridão absoluta.
Inicialmente ele avistou os virais como um aglomerado verde e pulsante ao longe. Em meio ao ruído do motor e do atrito entre as rodas e os trilhos, ouviu Billie gritar alguma coisa, mas as palavras dela foram levadas para longe. Respirou fundo, prendeu o fôlego e saltou até o primeiro vagão. Parte dele perguntava o que estou fazendo aqui, o que estou fazendo no teto de um trem em movimento?, enquanto outra parte aceitava o fato, por mais estranho que parecesse, como consequência inevitável dos acontecimentos da noite. Agora o brilho verde estava mais perto, dividindo-se ao mesmo tempo que se avolumava, transformando-se numa massa composta de pontos luminosos. Peter entendeu o que estava vendo: não eram somente 10 ou 20 virais, mas um exército de centenas.
Os Muitos.
Os Muitos de Babcock.
Quando o primeiro tomou forma, saltando no ar em direção à traseira do trem, Billie e Gus dispararam. Peter estava no meio do primeiro vagão. O trem estremeceu e ele sentiu os pés começarem a escorregar, e nesse momento a espingarda se soltou, caindo para longe. Ouviu um grito e, quando olhou, não havia ninguém - o lugar de Billie e Gus estava vazio.
Mal havia se equilibrado de novo quando um enorme estrondo vindo da locomotiva o lançou para a frente. O horizonte despencou; o céu havia sumido. Ele estava caído de bruços, escorregando pelo teto abaulado do vagão. No momento que pareceu que iria voar pelos ares, suas mãos agarraram uma estreita borda de metal no alto de uma das placas de aço que formavam a blindagem do trem. Não teve tempo nem mesmo de sentir medo. Na escuridão, sentiu uma parede passar zunindo a centímetros dele. Estavam em algum tipo de túnel, abrindo caminho através da montanha. Segurava-se com força, os pés balançando, tentando se prender à lateral do trem. Então sentiu o ar se abrindo embaixo dele: uma porta se escancarou e mãos o agarraram, puxando-o para dentro do vagão.
As mãos pertenciam a Caleb e Hollis. Os três caíram no piso do vagão, os braços e pernas embolados. O interior era iluminado por um único lampião, que balançava pendurado em um gancho. O vagão estava quase vazio - apenas algumas silhuetas encolhidas no escuro contra as paredes, aparentemente paralisadas de medo. Do outro lado da porta aberta, Peter podia ver as paredes do túnel passarem a toda a velocidade, enchendo o ambiente de som e vento. Enquanto ele se levantava, uma figura familiar emergiu das sombras: Olson Hand.
A fúria explodiu dentro dele. Peter agarrou o sujeito pela gola do macacão. Empurrando-o contra a parede do vagão, pressionava sua garganta com o antebraço.
- Onde, diabos, você estava? Você nos deixou lá!
A cor havia se esvaído do rosto de Olson.
- Desculpe. Era o único modo.
De repente ele entendeu. Olson os havia mandado para o anel como isca.
- Você sabia quem ele era, não sabia? Sabia o tempo todo que era meu irmão.
Olson engoliu em seco, o pomo de adão subindo e descendo contra o braço de Peter.
- Sabia. Jude achava que outros viriam. Por isso estávamos esperando vocês em Las Vegas.
Ouviram outro estrondo vindo da locomotiva. Com a força que os jogou para a frente, Olson foi arrancado das mãos de Peter. Estavam fora do túnel, de volta a campo aberto. Peter ouviu tiros do lado de fora: um Humvee passava a toda a velocidade, com Sara no banco do motorista, os dedos agarrados ao volante. Alicia estava em cima, disparando rajadas da metralhadora em direção à traseira do trem.
- Saiam daí! - Alicia acenava freneticamente para o último vagão. - Eles estão logo atrás de vocês!
De repente todos no vagão estavam gritando, acotovelando-se, tentando se afastar da porta aberta. Olson agarrou uma pessoa pelo braço e a empurrou para a frente. Era Mira.
- Leve-a! - gritou ele. - Leve-a para a locomotiva. Mesmo que os vagões sejam tomados, estarão seguros lá.
Sara havia se aproximado, igualando a velocidade do Humvee à do trem, tentando diminuir o espaço entre eles.
Alicia estava acenando para eles.
- Pulem!
Peter se inclinou pela porta.
- Cheguem mais perto!
Sara se aproximou. Os dois veículos se moviam a toda a velocidade, a menos de dois metros um do outro, o Humvee posicionado um pouco atrás deles, no leito da ferrovia.
- Estenda a mão! - gritou Alicia para Mira. - Eu pego você!
A garota estava rígida de medo, parada à porta.
- Não consigo! - gemeu ela.
Outro estrondo ensurdecedor. O trem agora tentava avançar sobre os escombros nos trilhos. Um grande objeto metálico passou voando entre os trilhos e o Humvee, fazendo-o se afastar no exato momento em que um homem saltava pela porta, em um mergulho desesperado, antes que Peter pudesse dizer qualquer coisa. Seu corpo bateu na lateral do Humvee, as mãos esticadas tentando agarrar o teto. Por um momento pareceu que ele conseguiria se segurar. Mas então um dos seus pés tocou o chão, arrastando-se na terra, e com um grito ele foi arremessado para longe.
- Mantenha firme! - gritou Peter.
Sara aproximou o Humvee mais duas vezes. Mira se recusava a pular.
- Isso não vai dar certo - disse Peter. - Temos de ir pelo teto.
Ele se virou para Hollis.
- Você primeiro. Olson e eu podemos ajudá-lo a subir.
- Sou pesado demais. Deixe o Cano Longo ir na frente, depois você. Eu levanto Mira.
Hollis se agachou e Caleb subiu em seus ombros. O Humvee havia se afastado de novo. Alicia disparava rajadas curtas para a traseira do trem. Erguendo Cano Longo nos ombros, Hollis se posicionou no limiar da porta.
- Vamos lá!
Hollis se inclinou para trás, segurando com força um dos pés de Caleb enquanto Peter segurava o outro. Juntos, empurraram o garoto para cima.
Peter subiu do mesmo modo. Do teto do vagão, pôde ver que os virais tinham atravessado o túnel e haviam se dividido em três grupos - o primeiro estava logo atrás deles, e os outros dois seguiam atrás, um de cada lado. Corriam numa espécie de galope, usando as mãos e os pés para se impelirem para a frente em longos saltos. Alicia atirava no grupo central, que já estava a menos de 10 metros da traseira do trem. Alguns caíam, embora fosse impossível dizer se estavam mortos, feridos ou apenas atordoados; os demais continuavam se aproximando. Os dois grupos de trás começavam a se fundir, os virais passando uns pelos outros como correntes de água, separando-se de novo para refazer a formação original.
Deitados de barriga lado a lado, Peter e Caleb estenderam a mão para baixo enquanto Hollis levantava Mira. Puxaram para o teto a garota apavorada.
Abaixo deles, Alicia gritou:
- Fiquem abaixados!
Três virais estavam no teto do último vagão. Uma explosão de fogo irrompeu do Humvee e as criaturas pularam para longe. Caleb já estava saltando o vão entre o vagão e a locomotiva. Peter estendeu a mão para Mira, mas a garota estava paralisada, o corpo grudado no teto e os braços agarrando o metal como se fosse uma tábua de salvação.
- Mira - disse Peter, tentando puxá-la. - Por favor.
Ela continuou agarrada.
- Não posso, não posso, não posso.
Garras vieram de baixo, envolvendo o tornozelo da garota.
- Papai!
Então ela sumiu.
Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Peter correu para o vão entre os vagões, pulou por cima dele e desceu pela escotilha atrás de Caleb. Disse a Michael que mantivesse a velocidade do trem, abriu a porta da cabine e olhou para trás.
O terceiro vagão agora estava tomado por virais, agarrados às paredes como uma nuvem de insetos. Tão intenso era o frenesi entre eles que pareciam lutar uns contra os outros, mordendo e rosnando pelo direito de ser o primeiro a entrar. Mesmo com o barulho do vento, Peter podia ouvir os gritos das almas aterrorizadas.
Onde estava o Humvee?
Então ele o viu, aproximando-se deles a toda a velocidade, sacudindo loucamente sobre o terreno duro. Hollis e Olson estavam agarrados ao teto do veículo. A munição da metralhadora havia acabado. Os virais estariam em cima deles a qualquer momento.
Peter se inclinou para fora da porta.
- Chegue mais perto!
Sara acelerou, alinhando o Humvee à porta da cabine. Hollis foi o primeiro a agarrar a escada, depois Olson. Peter puxou os dois para dentro e gritou:
- Alicia, agora você!
- E Sara?
O Humvee se afastou de novo, mas Sara lutava para aproximá-lo novamente sem colidir. Peter ouviu um estrondo quando a porta do último vagão foi arrancada, rolando para a escuridão atrás deles.
- Eu consigo pegá-la! Agora agarre a escada!
Alicia pulou do teto do Humvee, lançando o corpo no ar. Mas de repente a distância ficou grande demais. Em sua mente, Peter a viu caindo, as mãos agarrando o nada, o corpo rolando entre os dois veículos. Mas ela conseguiu: de algum modo, suas mãos tinham encontrado a escada, e Alicia estava subindo no trem.
Sara segurava o volante com uma das mãos, enquanto a outra tentava freneticamente prender o pedal do acelerador com um fuzil.
- Não estou conseguindo!
- Eu pego você! - gritou Alicia. - Abra a porta e agarre a minha mão!
- Não vai dar certo!
De repente Sara acelerou forte. O Humvee avançou, ficando à frente do trem. Agora estava praticamente colado aos trilhos. A porta do motorista se abriu. Então ela pisou no freio.
O limpa-trilhos acertou a porta, rasgando-a como uma faca e arremessando-a para longe. O Humvee virou, ficando sobre as duas rodas direitas, e começou a deslizar pelo barranco da ferrovia. O lado esquerdo do veículo bateu no chão, e Sara começou a se afastar, o Humvee se movendo pelo terreno duro do deserto num ângulo de 45 graus em relação ao trem. Então, com um som de derrapagem na areia, estavam novamente emparelhados. Alicia estendeu uma das mãos para fora.
- Lish, o que quer que você esteja pensando em fazer, faça agora! - gritou Peter.
Ele jamais chegaria a entender como Alicia conseguiu. Quando mais tarde perguntou, ela, apenas deu de ombros. Não tinha sido planejado, ela respondeu simplesmente seguira seus instintos. Um dia Peter iria aprender a esperar esse tipo de coisa dela - coisas extraordinárias, coisas inacreditáveis. Mas naquela noite, no espaço entre o Humvee e o trem, o que Alicia fez pareceu simplesmente incompreensível, um milagre. E nenhum deles poderia tampouco ter imaginado o que Amy, no compartimento traseiro da locomotiva, estava prestes a fazer, ou o que havia entre a locomotiva e o primeiro vagão. Nem Michael sabia disso. Talvez Olson soubesse; talvez por isso tivesse dito a Peter que levasse sua filha para a locomotiva, pois ela estaria em segurança lá. Ou pelo menos foi o que Peter pensou depois. Mas Olson nunca chegou a dizer nada sobre isso. E naquelas circunstâncias, no breve espaço de tempo que ainda teriam com ele, ninguém teve ânimo para perguntar.
Quando o primeiro viral se lançou contra o Humvee, Alicia estendeu a mão, tirou o pulso de Sara do volante e puxou. Segura por Alicia, Sara girou no ar em um arco amplo, se afastando do Humvee. Por um instante horrível seus olhos encontraram os de Peter enquanto os pés dela roçavam no chão - os olhos de uma mulher que ia morrer e sabia disso. Mas então Alicia puxou de novo, com força, e a ergueu. A mão livre de Sara encontrou a escada e, no momento seguinte, as duas estavam subindo os degraus e rolando para dentro da cabine.
E foi quando aconteceu. Um estrondo ensurdecedor como um trovão, e a locomotiva deu um solavanco violento, livre do peso que carregava. De repente tudo na cabine estava no ar. Parado junto à porta aberta, Peter foi lançado para o alto e para trás, o corpo se chocando contra a parede. Pensou: Amy. Onde estava Amy? Enquanto tombava no chão, ouviu um novo estrondo, mais alto do que o primeiro, e entendeu o que era - com um rugido ensurdecedor e um bater metálico, os vagões atrás descarrilavam, dobrando-se no ar como um canivete e rolando em uma avalanche de ferro pelo solo do deserto, todos os passageiros mortos, mortos, mortos.
Pararam ao meio-dia. Era o fim da linha, dissera Michael, desligando a locomotiva. Os mapas que Billie havia mostrado indicavam que os trilhos acabavam na cidade de Caliente. Haviam tido sorte de o trem tê-los levado tão longe. Longe, quanto?, Peter havia perguntado, e Michael calculara uns 400 quilômetros. Está vendo aquelas montanhas?, ele dissera, apontando pela abertura no para-brisa. É Utah.
Desembarcaram. Estavam em algum tipo de pátio ferroviário, com trilhos correndo em todas as direções e diversos vagões abandonados - locomotivas, vagões-tanque, vagões de carga. A terra ali era menos seca, havia capim alto e álamos ao redor, e uma brisa suave refrescava o ar. Podiam ouvir o som de pássaros cantando e água corrente por perto.
- Não entendo - disse Alicia, rompendo o silêncio. - Onde eles esperavam chegar?
Peter havia dormido quando tiveram certeza de que nenhum viral os estava perseguindo. Acordara ao amanhecer, ao lado de Theo e Maus, no chão da cabine. Michael ficara acordado a noite inteira, mas as dificuldades dos últimos dias haviam deixado todos exaustos. Quanto a Olson, talvez tivesse dormido, mas Peter duvidava. O sujeito não havia falado com ninguém e agora estava sentado no chão, perto da máquina, olhando para o nada. Quando Peter lhe contara sobre Mira, ele não havia pedido nenhum detalhe, apenas assentira e dissera: "Obrigado por me contar."
- Acho que eles só queriam chegar... a algum lugar - respondeu Peter depois de um momento.
Não sabia ao certo o que estava sentindo. Os acontecimentos da noite anterior - e os quatro dias no Refúgio - pareciam um delírio febril.
Amy havia se afastado do grupo, indo para o campo. Por um momento eles ficaram olhando enquanto ela se movia pelo capim que balançava ao vento.
- Você acha que ela entende o que fez? - perguntou Alicia.
Amy havia explodido o engate. O detonador ficava na traseira da locomotiva. Provavelmente estava conectado a um tanque de óleo diesel ou querosene, supôs Michael, com algum tipo de mecanismo de ignição. Isso bastaria. Era um sistema de segurança, caso os vagões fossem tomados pelos virais. Fazia sentido, dissera Michael, considerando as circunstâncias.
Peter supôs que Amy entendia. Mas nenhum deles podia explicar como a garota soubera o que fazer, nem o que a levara a acionar o detonador. Como tudo a respeito dela, suas ações pareciam indecifráveis. No entanto, mais uma vez, era graças a Amy que todos estavam vivos.
Peter a observou por um longo tempo. Ela parecia quase flutuar no capim que se erguia à altura da sua cintura, os braços erguidos, as mãos roçando as pontas ásperas do matagal. Muitos dias haviam se passado e ele já tinha praticamente se esquecido do incidente na enfermaria, mas, olhando para Amy agora, vendo-a mover-se pelo capim, foi varrido pela lembrança daquela noite estranha. Imaginou o que ela teria dito a Babcock quando ficou à sua frente. Era como se ela fizesse parte de dois mundos, um que Peter podia ver e outro que lhe era inacessível, e era dentro desse outro mundo, o invisível, que se encontrava o significado da viagem que faziam.
- Muita gente morreu ontem à noite - disse Alicia.
Peter respirou fundo. Apesar do sol, sentiu um frio súbito. Ainda estava olhando para Amy, mas na mente via Mira - o corpo dela grudado ao teto do trem, a mão do viral se estendendo para puxá-la, o espaço vazio onde ela estivera e o som de seus gritos enquanto caía.
- Acho que eles estavam mortos havia muito tempo - disse ele. - Uma coisa é certa: não podemos ficar aqui. Vamos ver o que temos.
Fizeram um inventário dos suprimentos, espalhando-os no chão junto à locomotiva. Não era muita coisa: meia dúzia de espingardas, duas pistolas com pouquíssima munição, um fuzil automático com dois pentes de reserva, uma caixa com 25 balas para as espingardas, seis facas, oito galões de água, além do tanque de água do trem, algumas centenas de galões de óleo diesel mas nenhum veículo em que colocá-lo, duas lonas de plástico, três caixas de fósforos, o kit médico, um lampião a querosene, o diário de Sara - ela o havia tirado da mochila quando saíram do alojamento e enfiado dentro da blusa - e nenhuma comida. Hollis disse que provavelmente havia caça por ali. Não deveriam desperdiçar munição, mas podiam montar algumas armadilhas. Talvez encontrassem comida em Caliente.
Theo dormia no chão da locomotiva. Conseguira fazer um relato superficial dos acontecimentos, do pouco que recordava - lembranças fragmentadas do ataque no shopping, depois o tempo passado na cela, o sonho com a mulher na cozinha, a luta para ficar acordado e as visitas provocadoras do homem, que Peter tinha quase certeza que fosse Jude -, mas falar ainda parecia ser um esforço monumental. Theo acabara caindo num sono tão profundo que Sara teve de garantir a Peter que seu irmão continuava respirando. O ferimento na perna de Mausami era pior do que ela dera a entender, mas não era mortal. A bala - ou, mais provavelmente, o fragmento de um cartucho de espingarda - havia aberto um buraco bastante feio em sua coxa, mas não chegara a atingir nenhuma artéria. Na noite anterior, Sara havia costurado o ferimento usando a agulha e a linha do kit médico, e esterilizado tudo com o álcool de uma garrafa que tinham encontrado embaixo da pia do lavatório minúsculo da locomotiva. Devia ter doído feito o diabo, mas Maus suportara a dor em silêncio, trincando os dentes enquanto apertava a mão de Theo. Tudo o que precisava fazer era manter o ferimento limpo, dissera Sara. Com sorte, voltaria a andar em um ou dois dias.
Hollis levantou a questão de para onde deveriam ir, e a pergunta deixou Peter perplexo, já que a possibilidade de não prosseguirem jamais lhe havia ocorrido. Independentemente do que houvesse no Colorado, ele sentia mais do que nunca que precisavam descobrir o que era, e agora parecia tarde demais para voltarem atrás. Mas precisava admitir que Hollis tinha certa razão. Theo, Finn e a mulher que, primeiro Alicia e depois Mausami, afirmavam ser Liza Chou tinham vindo Ha Colônia. O que quer que estivesse acontecendo com os virais - e obviamente alguma coisa estava acontecendo -, eles pareciam querer as pessoas vivas. Será que deveriam voltar e alertar os outros? E Mausami? Ainda que ela se recuperasse totalmente do ferimento na perna, conseguiria prosseguir a pé? Não tinham veículos e possuíam pouquíssima munição para as armas. Talvez pudessem encontrar comida no caminho, mas isso diminuiria o passo da viagem, e logo estariam entrando nas montanhas, onde o terreno seria mais difícil. Será que poderiam esperar que uma mulher grávida caminhasse até o Colorado? Ele mesmo, confessara Hollis, não tinha uma opinião formada, mas essas eram perguntas que precisavam ser feitas. Por outro lado, eles haviam percorrido um longo caminho. O que quer que Babcock fosse, ele ainda estava lá, assim como os Muitos. Voltar tinha seus próprios riscos.
Sentados no chão ao lado da máquina, os sete - Theo ainda estava dormindo no trem - discutiam as opções. Pela primeira vez desde que haviam partido, Peter sentia incerteza no grupo. O depósito da base militar, com sua fartura de suprimentos, lhes dera a sensação de segurança - um sentimento falso, talvez, mas que os havia ajudado a seguir adiante. Agora, sem as armas e os veículos, sem nenhuma comida além da que pudessem encontrar, e em uma vastidão desconhecida a 400 quilômetros de distância, a ideia do Colorado ficava muito mais frágil. Os acontecimentos no Refúgio haviam abalado a todos: nunca lhes ocorrera que outros seres humanos pudessem se transformar num obstáculo, ou que um ser como Babcock - que era um viral, mas muito mais do que isso, uma criatura que tinha o poder de controlar os outros virais - pudesse existir.
Alicia, como era de esperar, disse que queria prosseguir, assim como Mausami - ainda que apenas para provar que Alicia não era mais forte do que ela, pensou Peter. Caleb disse que seguiria o que o grupo decidisse, mas, enquanto falava, seu olhar estava fixo em Alicia. Se houvesse uma votação, Caleb certamente tomaria o partido dela. Michael também era a favor de continuar e lembrou a todos que as baterias da Colônia estavam falhando. Para ele, esse era o cerne da questão: a mensagem vinda do Colorado era a única esperança que tinham - sobretudo agora, depois do que tinham visto no Refúgio.
Assim, restavam Hollis e Sara. Dava para perceber que Hollis achava que deveriam retornar. No entanto, o fato de não ter chegado a dizer isso sugeria que ele acreditava, como Peter, que a decisão tinha que ser unânime. Sentada ao lado dele, à sombra do trem, com as pernas dobradas sob o corpo, Sara parecia estar em dúvida. Ela franzia os olhos em direção ao campo, para onde Amy continuava sua caminhada solitária em meio ao capim. Peter percebeu que fazia horas que Sara não dizia nada.
- Agora me lembro vagamente de quando o viral me pegou - disse ela por fim - Pelo menos de algumas partes. - Sara deu de ombros, mudando de assunto. - Hollis não está errado. E não me importa o que você diga, Maus, mas você não tem condições de continuar andando desse jeito. Mas concordo com Michael. Se quer saber o meu voto, Peter, é esse.
- Então vamos em frente.
Ela olhou para Hollis, que assentiu.
- É. Vamos em frente.
A outra questão era Olson. A desconfiança de Peter com relação a ele não havia diminuído, e, apesar de ninguém ter dito isso, ele obviamente representava um risco - no mínimo de suicídio. Desde que o trem havia parado, Olson mal se mexera de onde estava, no chão perto da máquina, olhando com expressão vazia na direção de onde tinham vindo. De vez em quando passava os dedos no chão, pegando um punhado de terra solta e deixando-a escorrer entre os dedos. Parecia estar avaliando as opções, nenhuma delas muito boa, e Peter se perguntava o que ele estaria pensando.
Hollis chamou Peter à parte enquanto empacotavam os suprimentos. Agora todas as espingardas e o fuzil estavam em uma das lonas, ao lado das pilhas de munição. Tinham decidido passar a noite no trem - era o lugar mais seguro que tinham - e partir a pé de manhã.
- O que vamos fazer com ele? - perguntou Hollis baixinho, inclinando a cabeça na direção de Olson. Hollis segurava uma das pistolas. Peter estava com a outra. - Não podemos deixá-lo aqui.
- Acho que ele vai ter que ir junto.
- Talvez não queira vir conosco.
Peter pensou por um momento.
- Então vai ser o que ele decidir - disse finalmente. - Não podemos fazer nada.
Era o fim da tarde. Caleb e Michael tinham ido até a traseira da locomotiva,
tirar água do tanque com uma mangueira que haviam encontrado em um armário. Quando Peter se virou, viu Caleb examinando um painel fechado medindo cerca de um metro quadrado, embaixo do trem.
- O que é isso? - Peter ouviu Caleb perguntar a Michael.
- Um painel de acesso. Leva a um pequeno duto de manutenção que passa embaixo do piso.
- Acha que pode haver alguma coisa que a gente possa usar?
Michael deu de ombros, ocupando-se com a mangueira.
- Não sei. Dê uma olhada.
Caleb se ajoelhou e virou a maçaneta.
- A porta está presa.
Olhando de cinco metros de distância, Peter sentiu um arrepio na pele e um aperto no estômago. Fique alerta.
- Cano Longo...
O painel se abriu de repente, fazendo Caleb rolar para trás. Uma figura saiu de dentro do duto.
Jude.
Todos correram para pegar as armas. Jude cambaleou na direção deles, levantando uma pistola. Metade do seu rosto havia sido arrebentada, revelando uma massa de carne viva e ossos brilhantes; um dos olhos se fora, deixando apenas um buraco escuro. Naquele momento em que o tempo pareceu congelar, Jude era uma visão totalmente impossível, um ser meio morto e meio vivo.
- Seus filhos da puta! - rosnou ele.
E disparou no momento em que Caleb, tentando pegar a pistola, passava na frente dele.
A bala acertou o garoto no peito, fazendo-o girar. No mesmo instante, Peter e Hollis encontraram o gatilho de suas armas, fazendo o corpo de Jude tremer em uma dança frenética.
Esvaziaram as duas pistolas antes que ele tombasse.
Caleb estava caído de rosto para cima, uma das mãos segurando o lugar onde a bala havia entrado. Seu peito subia e descia em espasmos curtos. Alicia se jogou no chão ao seu lado. - Caleb!
O sangue escorria entre os dedos do garoto. Seus olhos, apontados para o céu vazio, estavam úmidos.
- Ah, merda - disse ele, piscando.
- Sara, faça alguma coisa!
A morte havia começado a tomar o rosto do garoto.
- Ah - disse ele. - Ah.
Então alguma coisa pareceu prender seu peito por dentro e ele ficou imóvel.
Sara chorava, todos choravam. Ela se abaixou ao lado de Alicia e tocou seu cotovelo.
- Ele está morto, Lish.
Alicia a empurrou com violência.
- Não diga isso! - gritou, puxando o corpo frouxo do garoto contra o peito - Caleb, escute! Abra os olhos! Abra os olhos agora mesmo!
Peter se agachou ao lado dela.
- Eu prometi a ele, Peter! - lamentava Alicia, apertando Caleb com força. - Eu prometi!
- Eu sei. Todos nós sabemos. Agora solte-o, Lish.
Peter retirou gentilmente o rapaz dos braços dela. Os olhos de Caleb estavam fechados, o corpo imóvel na poeira. Ainda usava os tênis amarelos - um dos cadarços estava desamarrado -, mas o garoto que ele havia sido não existia mais. Caleb se fora. Por um longo momento ninguém disse nada. Os únicos sons eram os pássaros cantando, o vento no capim e a respiração úmida e meio sufocada de Alicia.
Então, com um movimento súbito, Alicia se levantou em um pulo, pegou a pistola de Jude no chão e foi até onde Olson estava sentado. Havia fúria em seus olhos. A arma era enorme, um revólver de cano longo. Enquanto Olson levantava os olhos, franzindo-os para a forma escura que surgia acima dele, ela o acertou no rosto com a coronha, derrubando-o no chão. Em seguida engatilhou o revólver com o polegar e apontou o cano para a cabeça dele.
- Seu desgraçado!
- Lish... - Peter se aproximou dela, as mãos levantadas. - Ele não matou Caleb. Abaixe a arma.
- Nós vimos Jude morrer! Todos nós vimos!
Um fio de sangue escorria do nariz de Olson. Ele não fez menção de se defender nem de se afastar.
- Ele era um familiar.
- Familiar? O que quer dizer isso? Estou de saco cheio desse seu papo de duplo sentido. Fale na nossa língua, porra!
Olson engoliu em seco, lambendo o sangue dos lábios.
- Quero dizer... que é possível ser um deles sem ser um deles.
Alicia apertava a coronha do revólver com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Peter sabia que ela ia atirar. Não parecia haver como impedi-la. Era simplesmente o que iria acontecer.
- Ande, atire se quiser. - O rosto de Olson estava impassível. Sua vida não significava nada para ele. - Não importa. Babcock virá. Vocês vão ver.
O cano havia começado a tremer, impelido pela corrente da fúria de Alicia.
- Caleb importava! Ele valia mais do que toda a porra do seu Refúgio! Ele nunca teve ninguém! Era eu quem o defendia! Era eu quem o defendia!
Alicia uivou, um som profundo de dor, quase animal, e então puxou o gatilho, mas nenhum tiro saiu. O martelo bateu no tambor vazio.
- Desgraçado!
Ela apertou o gatilho diversas vezes. A arma estava vazia.
- Desgraçado! Desgraçado! Desgraçado!
Depois se virou para Peter, a pistola inútil caindo da mão, encostou-se no peito dele e começou a soluçar.
De manhã, Olson havia partido. Seus rastros iam até o aqueduto sob a ferrovia. Peter não precisou olhar para saber que direção ele havia seguido.
- Devemos procurá-lo? - perguntou Sara.
Peter balançou a cabeça.
- Acho que não adianta.
Juntaram-se em volta do lugar onde haviam enterrado Caleb, à sombra de um álamo. Tinham feito uma placa com um pedaço de metal que Michael havia tirado da blindagem da locomotiva, gravado com a ponta de uma chave de fenda e fixado com parafusos ao tronco da árvore.
CALEB JONES CANO LONGO UM DOS NOSSOS
Todos estavam lá, menos Amy, que permaneceu isolada no meio do capim alto. Maus e Theo estavam ao lado de Peter. Mausami estava apoiada em uma muleta que Michael havia improvisado com um pedaço de cano. Sara tinha examinado o ferimento e dito que ela poderia andar, desde que não forçassem muito o passo da viagem. Theo dormira a noite inteira, acordando ao amanhecer, e agora parecia bem melhor, ainda que não inteiramente restabelecido. Mas Peter podia sentir que faltava algo no irmão: algo havia mudado, se partido. A impressão era a de que alguma coisa havia sido roubada de Theo naquela cela. No sonho. Com Babcock.
Mas era Alicia quem mais o preocupava. Ela estava com Michael ao pé da sepultura, uma espingarda aninhada junto ao peito, o rosto ainda inchado de tanto chorar. Durante um bom tempo, o restante do dia anterior e toda aquela noite, ela não dissera quase nada. Qualquer outra pessoa teria partido do pressuposto que Alicia estava chorando apenas por Caleb, mas Peter sabia que não era esse o caso. Ela amava o garoto, mas isso era só parte do motivo. Todos o amavam, e a ausência de Caleb não parecia apenas estranha, mas errada, como se um pedaço deles tivesse sido arrancado. O que Peter via agora, nos olhos de Alicia era uma dor mais profunda. Não era sua culpa que Caleb estivesse morto, e Peter tinha dito isso a ela. Mesmo assim Alicia acreditava ter falhado com ele. Matar Olson não teria resolvido, mas Peter não conseguia deixar de pensar que teria ajudado. Talvez por isso não tivesse se esforçado mais - na verdade não se esforçara nem um pouco - para tirar a arma de Jude da mão dela.
Peter percebeu que, por hábito, estava esperando seu irmão falar, dar a ordem que colocaria todos em movimento. Quando viu que Theo não faria isso, pendurou a mochila às costas e disse com a garganta apertada:
- Bem, acho que precisamos ir. Aproveitar a luz do dia.
- Há 40 milhões de fumaças espalhados por aí - disse Michael, soturno. - Que chance nós temos de sobreviver, indo a pé?
Então Amy se aproximou deles.
- Ele está errado - disse ela.
Por um momento ninguém falou. Trocando olhares de perplexidade, nenhum deles parecia saber para onde olhar ou o que fazer.
- Ela fala? - perguntou Alicia.
Peter se aproximou devagar da garota. O rosto de Amy lhe parecia diferente, agora que ele tinha ouvido sua voz. Era como se agora, pela primeira vez, ela estivesse de fato entre eles.
- O que você disse?
- Michael está errado - declarou a garota.
Sua voz não era a de uma mulher nem a de uma criança, mas algo intermediário. Falava num tom monocórdio, sem entonação, como se estivesse lendo um livro.
- Não são 40 milhões.
Peter sentiu vontade de rir ou chorar, não sabia o quê. Depois de tudo, Amy finalmente decidira falar!
- Amy, por que você não falou nada antes?
- Desculpe. Acho que eu tinha esquecido como. - Ela franziu a testa, como se o próprio pensamento a intrigasse. - Mas agora lembrei.
Todos estavam em silêncio, boquiabertos, atônitos diante dela.
- Então, se não são 40 milhões - perguntou Michael -, quantos são?
Ela ergueu os olhos para encará-los.
- Doze.
PARTE IX
A ÚLTIMA EXPEDICIONÁRIA
Sou todas as filhas da casa de meu pai, E todos os irmãos também.
WILLIAM SHAKESPEARE Noite de reis
CINQUENTA E SEIS
Do diário de Sara Fisher ("O livro de Sara")
Apresentado na Terceira Conferência Global sobre o Período de Quarentena Norte-americano Centro de Estudos de Culturas e Conflitos Humanos Universidade de New South Wales, República Indo-australiana. 16 a 21 de abril de 1003 D.V.
Começa o trecho da citação
... efoi então que encontramos o pomar - uma visão bem-vinda, já que nenhum de nós havia comido o suficiente desde que Hollis abateu o cervo, três dias atrás. Agora estamos carregados de maçãs. São pequenas e cheias de bicho, e se você comer muitas de uma vez fica com cólica, mas é bom ter a barriga cheia de novo. Esta noite estamos dormindo em um barracão de metal enferrujado cheio de carros velhos, fedendo a pombos. Parece que agora perdemos a estrada de vez, mas Peter diz que, se continuarmos indo para o leste, provavelmente alcançaremos a rodovia 15 amanhã. O mapa que encontramos no posto de gasolina em Caliente é tudo o que temos para nos orientar.
Amy está falando um pouco mais a cada dia. O simples fato de ter com quem conversar ainda parece novo para ela, e às vezes ela tem dificuldade em encontrar as palavras, como se as estivesse procurando em um dicionário na mente. Mas dá para ver que falar a deixa feliz. Ela gosta de usar nossos nomes a toda hora, mesmo quando todos sabem com quem está falando, o que parece engraçado, mas a essa altura já estamos acostumados e até passamos afazer isso também. (Ontem ela me viu indo para trás de um arbusto e perguntou o que eu ia fazer, e quando eu respondi que precisava fazer xixi, ela riu como se eu tivesse lhe dado a melhor notícia do mundo e disse bem alto que precisava fazer xixi também. Michael explodiu em uma gargalhada, mas Amy não pareceu se incomodar, e quando acabamos ela disse, de forma muito educada, como sempre: "Eu tinha esquecido como isso se chamava. Obrigada por fazer xixi comigo, Sara.")
O que não quer dizer que nós sempre entendamos o que ela quer dizer, porque na metade do tempo não entendemos. Michael diz que parece que estamos conversando com Titia, só que é pior, porque com Titia dava para saber quando ela estava curtindo com a nossa cara. Amy parece não se lembrar de nada sobre o lugar de onde veio, apenas que era um lugar com montanhas em que nevava no inverno, o que pode ser o Colorado, mas não dá para ter certeza. Ela não parece ter medo dos virais, nem mesmo daqueles que, como Babcock, ela chama de os Doze. Quando Peter perguntou o que ela fez no anel para que ele não matasse Theo, Amy deu de ombros e disse, com a maior naturalidade do mundo, que simplesmente pedira a ele que, por favor, não fizesse isso. "Eu não gostei daquele", disse ela. "Ele é cheio de sonhos ruins. Achei que seria melhor usar por favor e obrigada."
Um viral, e ela disse por favor!
Mas o mais intrigante foi a resposta dela quando Michael lhe perguntou como sabia que deveria explodir o engate do trem. "Um homem chamado Gus me disse", respondeu Amy. Eu nem sabia que Gus estava no trem, mas Peter explicou o que havia acontecido com Gus e Billie, e que eles tinham sido mortos pelos virais, e Amy disse, assentindo: "Foi nessa hora." Peter ficou quieto por um momento, encarando-a. "Como assim?", perguntou ele, e Amy respondeu: "Foi nessa hora que ele me disse, depois de ter caído do trem. Os virais não o mataram, acho que ele quebrou o pescoço. Mas depois disso continuou por ali um tempo. Foi ele quem colocou a bomba entre os vagões. Ele viu o que ia acontecer com o trem e achou que deveria avisar alguém."
Michael diz que deve haver outra explicação, que provavelmente Gus disse algo a ela. Mas acho que Peter acredita nela, e eu também. Peter está mais convencido do que nunca de que a transmissão do Colorado é a chave de tudo, e eu concordo. Depois do que vimos no Refúgio, estou começando a achar que Amy é a única esperança que temos - que qualquer um de nós tem.
Dia 31
Uma cidade de verdade, a primeira desde Caliente. Passamos a noite em uma espécie de escola, como o Abrigo, com as mesmas carteiras enfileiradas em todas as salas. Fiquei preocupada, pensando que haveria um monte de magrelos ali, mas não encontramos nenhum. À noite estamos nos revezando em turnos de dois. Estou no segundo turno com Hollis. Achei que seria difícil dormir algumas horas, acordar e depois tentar dormir mais um pouco antes do amanhecer. Mas Hollis faz o tempo voar. Passamos mais de uma hora falando de casa, e ele me perguntou do que eu sentia mais falta. A primeira coisa que me veio à cabeça foi sabão, o que fez Hollis rir. Perguntei a ele o que era tão engraçado, e ele respondeu: "Achei que você ia dizer que eram as luzes. Porque eu sem dúvida sinto uma tremenda falta daquelas luzes, Sara." Então eu perguntei do que mais ele sentia falta, e ele ficou quieto um momento. Pensei que ia mencionar Arlo, mas não. Ele disse: "Sinto falta dos Pequenos. De Dora e dos outros. Do som da voz deles no pátio e do cheiro no Quarto Grande à noite. Talvez seja este lugar que me faça pensar neles. Mas é disso que estou com saudade esta noite, dos Pequenos."
Ainda não vimos nenhum viral. Todos estão se perguntando quanto tempo nossa sorte vai durar.
Dia 32
Parece que vamos passar mais uma noite aqui - todo mundo precisa descansar.
A grande novidade é que encontramos uma loja chamada Outdoor World, cheia de todo tipo de suprimentos que podemos usar, inclusive arcos. (O armário de armas de fogo estava vazio.) Pegamos facas, um machado, cantis, mochilas, um binóculo, combustível e um fogareiro portátil, que podemos usar para ferver água. Pegamos também mapas, uma bússola, sacos de dormir e casacos. Agora todos nós temos calças novas, botas, meias de lã e roupas de baixo térmicas, embora não precisemos disso no momento, mas com certeza vamos precisar mais tarde. Havia um magrelo na loja, caído embaixo do balcão dos binóculos, mas nós só o vimos quando estávamos de saída. Isso nos fez sentir um pouco mal, porque estávamos pegando coisas nas prateleiras sem notar que ele estava ali. Sei que Caleb teria feito uma piada sobre isso, para animar todo mundo. Não consigo acreditar que ele morreu.
Alicia e Hollis foram caçar e voltaram com mais um cervo, um filhote. Eu gostaria que tivéssemos tempo de secar a carne, mas Hollis acha que vamos encontrar mais caça adiante. O que ele não disse - e nem precisava dizer - é que, onde há caça, provavelmente há fumaças também.
Está frio esta noite. Acho que devemos estar no outono.
Dia 33
Andando de novo. Agora estamos na rodovia 15, rumando para o norte. A rodovia foi praticamente destruída por terremotos, mas pelo menos sabemos que estamos indo na direção certa. Há um monte de veículos abandonados. Parecem surgir em grupos, a gente vê um aglomerado deles e depois nenhum por algum tempo, e então encontramos outro grupo de 20 ou mais. Paramos para descansar perto de um rio. Esperamos chegar a Parowan até o fim da tarde.
Dia 35
Continuamos andando. Peter acha que estamos percorrendo uns 25 quilômetros por dia. Exaustos. Estou preocupada com Maus. Como ela consegue? Sua barriga agora está aparecendo claramente. Theo nunca sai do lado dela.
De repente começou afazer um calor de rachar novamente. À noite vemos relâmpagos a leste, onde ficam as montanhas, mas nunca nenhuma chuva. Hollis pegou uma lebre com o arco, de modo que é o que estamos comendo: uma lebre assada dividida em oito pedaços, além de algumas maçãs que sobraram. Amanhã vamos procurar um mercado e ver se há alguma lata que ainda sirva para comer. Amy diz que dá para comer os enlatados se for necessário. Mais comida de 100 anos.
Por que não há nenhum viral por aqui? Dia 36
Sentimos o cheiro do incêndio ontem à noite, e de manhã vimos que a floresta para além das montanhas a leste estava pegando fogo. Debatemos se deveríamos voltar, esperar ou tentar dar a volta de algum modo, mas isso significaria sair da estrada, coisa que ninguém quer fazer. Decidimos ir em frente, mas, se o ar ficar pior, teremos de tomar uma decisão.
Dia 36 (de novo)
Um erro. Agora o incêndio está perto, não há como andarmos mais rápido do que ele. Conseguimos nos abrigar em uma garagem perto da estrada. Peter não tem certeza de que cidade é essa, nem se ao menos é uma cidade. Usamos as lonas, alguns pregos e um martelo que achamos para cobrir as janelas da frente que estavam quebradas, e agora tudo o que podemos fazer é torcer para que o vento mude. O ar está tão denso que mal consigo ver o que escrevo.
Páginas faltando
Dia 38
Passamos de Richfield, na rodovia 70. Em alguns lugares a estrada sumiu, mas Hollis estava certo com relação às estradas principais: elas seguem entre as montanhas. O fogo veio direto de lá. Há animais mortos em toda parte e o ar cheira a carne queimada. Todo mundo acha que o som que ouvimos naquela noite eram os gritos de virais apanhados no incêndio.
Dia 39
Os primeiros virais mortos. Estavam embaixo de uma ponte, um bando de três Peter acha que não vimos nenhum antes porque eles haviam seguido a caça até os pontos mais elevados. Quando o vento mudou, ficaram presos no fogo.
Talvez seja por causa da aparência deles, todos queimados, os rostos no chão, mas senti pena. Se eu não soubesse que eram virais, teria jurado que eram humanos, e sei que poderíamos ser nós, mortos ali. Perguntei a Amy se ela achava que eles tinham sentido medo, e ela disse que sim.
Vamos ficar um dia a mais na próxima cidade que encontrarmos, para descansar e coletar suprimentos. (Amy estava certa com relação às latas. Desde que elas não estejam furadas nem amassadas e que pareçam pesadas na mão, tudo bem.)
Páginas faltando
Dia 48
Estamos indo para o leste de novo, deixando as montanhas para trás. Hollis acha que não veremos mais nenhuma caça por algum tempo. Estamos atravessando um planalto seco e aberto, cortado por ravinas profundas. Há ossos por toda parte - não somente de pequenos animais silvestres, mas de cervos, antílopes e ovelhas, e algo que parece uma vaca, só que maior, com um crânio enorme (Michael diz que são búfalos). Ao meio-dia paramos para descansar perto de um afloramento de pedras e vimos, riscado nas rochas: "Darren ama Lexie para sempre" e "Os PIRATAS da E. Green River são FODA!" A primeira frase todo mundo entendeu, mas ninguém sabia o que pensar da outra. Aquilo me deixou meio triste, não sei dizer bem por quê, talvez pelo fato de as palavras terem ficado ali durante tanto tempo sem ninguém para lê-las. Será que Lexie também amava Darren?
Saímos da rodovia para procurar abrigo perto da cidade de Emery. Não resta praticamente nada aqui, apenas alicerces e alguns barracões com equipamentos de fazenda enferrujados, cheios de ratos. Não pudemos achar nenhuma bomba d'água, mas Peter disse que existe um rio perto daqui e que amanhã vamos procurá-lo.
Estrelas em toda parte. Uma noite linda.
Dia 49
Decidi me casar com Hollis Wilson.
Dia 52
Agora passamos por Crescent Junction e estamos rumando para o sul pela rodovia 191. Pelo menos achamos que é a 191. Na verdade, passamos pelo menos cinco quilômetros do local onde devíamos ter dobrado e tivemos de voltar. Não sobrou muito da rodovia, por isso nos perdemos. Perguntei a Peter por que tínhamos de sair da rodovia 70, e ele disse que estávamos indo mais para o norte do que deveríamos. Em algum momento teríamos de voltar para o sul, de modo que podia muito bem ser agora.
Hollis e eu decidimos não contar a ninguém sobre o que aconteceu. É engraçado como, quando me decidi em relação a ele, vi que já vinha pensando nisso sem perceber faz muito tempo. Fico querendo beijá-lo o tempo todo, mas ou há alguém por perto ou estamos na vigilância. Ainda me sinto meio culpada por causa da outra noite. Além disso, ele precisa de um banho. (Eu também.)
Nenhuma cidade. Peter acha que não vamos encontrar nenhuma até Moab. Estamos passando a noite em uma caverna rasa, na verdade é apenas uma reentrância na rocha, mas é melhor do que nada. As pedras aqui são todas de um rosa alaranjado, lindas e estranhas.
Dia 53
Hoje encontramos a fazenda.
A princípio achamos que era só uma ruína, como todas as outras que vimos. Mas à medida que chegamos mais perto, vimos que estava em condições muito melhores - um agrupamento de casas de madeira, com celeiros e cercados para os animais. Duas das casas estão vazias, mas uma delas, a maior, parece ter sido habitada até pouco tempo atrás. A mesa da cozinha estava arrumada com pratos e copos; há cortinas nas janelas, roupas dobradas nas gavetas, móveis, potes e panelas, livros nas estantes. No celeiro encontramos um carro antigo, coberto de poeira, e prateleiras com garrafas de querosene para os lampiões, vidros vazios para conservas e ferramentas. Também há algo que parece um cemitério, quatro sepulturas delimitadas por pedras. Michael disse que deveríamos cavar uma para ver quem está lá embaixo. Mas ninguém levou a sugestão a sério.
Achamos o poço, mas a bomba estava enferrujada. Foram necessários três de nós para fazê-la funcionar. Quando conseguimos, a água que saiu estava fria e límpida, a melhor que tomamos há um bom tempo. Hollis está tentando consertar a instalação de água da cozinha, e lá também há um fogão a lenha. No porão achamos mais prateleiras cheias de vidros de feijão, abóbora e milho en conserva, com os lacres ainda bons. Ainda temos as latas que coletamos em
Green River, além de um pouco de veado defumado e um pedaço de banha que guardamos. É nossa primeira refeição de verdade em semanas. Peter diz que há um rio não muito longe daqui, e amanhã vamos procurá-lo. Todos nós estamos dormindo na casa grande, usando colchões que arrastamos do andar de cima e pusemos em volta da lareira.
Peter acredita que o local está abandonado há pelo menos 10 anos, provavelmente não mais do que 20. Quem morava aqui? Como sobreviviam? O lugar tem um ar assombrado, mais do que qualquer cidade que vimos. É como se os moradores houvessem saído um dia, esperando retornar para o jantar, e simplesmente nunca tivessem voltado.
Dia 54
Vamos ficar um dia a mais. Theo insistiu, diz que Maus não consegue manter esse ritmo, mas Peter diz que precisamos partir logo se quisermos chegar ao Colorado antes da neve. Neve. Eu não tinha pensado nisso.
Dia 56
Ainda na fazenda. Decidimos ficar mais uns dias, mas Peter está ansioso para seguir em frente. Ele e Theo chegaram a discutir sobre isso. Acho indecifrável
Páginas faltando
Dia 59
Partiremos de manhã, mas Theo e Maus vão ficar. Acho que todos nós sabíamos que isso ia acontecer. Eles fizeram o anúncio logo depois do jantar. Peter foi contra, mas no fim não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o pensamento de Theo. Eles têm abrigo e caça suficiente por perto, além das conservas no porão. Podem passar o inverno aqui e ter o bebê. "Veremos você na primavera, irmão", disse Theo. "Só não se esqueça deparar na volta de onde quer que vocês forem."
Meu turno de vigilância deve começar daqui a algumas horas, e eu realmente deveria estar dormindo. Acho que Maus e Theo tomaram a decisão certa, até Peter deve concordar. Mas é triste deixá-los para trás. Acho que isso nos faz pensar em Caleb, principalmente Alicia, que se fechou completamente depois que Maus e Theo deram a notícia, e desde então não disse uma palavra a ninguém. Acho que todos nós estamos pensando naquelas sepulturas no quintal, imaginando se algum dia veremos Maus e Theo de novo.
Gostaria que Hollis estivesse acordado. Prometi a mim mesma que não ia chorar. Ah, droga, droga.
Dia 60
Viajando de novo. Theo estava certo com relação a uma coisa: sem Maus, estamos indo mais rápido. Nós seis chegamos a Moab bem antes do anoitecer. Não há nada aqui - o rio levou tudo. Uma enorme pilha de escombros está bloqueando o caminho: árvores, casas, carros, pneus velhos e todo tipo de coisa, atulhando o desfiladeiro estreito onde a cidade ficava. Encontramos abrigo para a noite em uma das poucas estruturas que restam, no topo de um monte - um lugar totalmente arruinado, apenas as paredes e um teto todo esburacado sobre as nossas cabeças. É o mesmo que ficar ao relento, e duvido que alguém vá dormir muito esta noite. Amanhã vamos subir a encosta, tentar descobrir um caminho para o outro lado.
Páginas faltando
Dia 64
Hoje encontramos outra carcaça de animal, algum tipo de felino grande. Estava pendurada nos galhos de uma árvore, como as outras. O corpo estava podre demais para termos certeza, mas todo mundo está achando que foi um viral que o matou.
Dia 65
Ainda nas montanhas La Sal, indo para o leste. A cor do céu mudou de branco para azul, o que indica que estamos no outono. Há um cheiro úmido delicioso no ar. As folhas estão caindo. Há geada à noite e, de manhã, uma névoa pesada, cor de prata, em volta dos morros. Acho que nunca vi nada tão lindo.
Dia 66
Ontem à noite Amy teve outro pesadelo. Estávamos dormindo ao ar livre de novo, embaixo das lonas. Eu tinha acabado de terminar o turno de vigilância com Hollis e estava tirando as botas quando a ouvi murmurando enquanto dormia. Estava me perguntando se deveria acordá-la quando de repente ela se sentou ereta. Estava toda enrolada no saco de dormir, só o rosto aparecendo. Olhou para mim por um bom tempo, os olhos desfocados, como se não soubesse quem eu era. Ele está morrendo", disse ela. "Ele está morrendo e eu não consigo impedir."
"Quem está morrendo, Amy, quem?", perguntei. "O homem", disse ela. "O homem está morrendo." "Que homem?", perguntei. Mas então ela se deitou e dormiu de novo.
Às vezes me pergunto se estamos indo em direção a algo terrível, mais terrível do que qualquer um de nós possa imaginar.
Hoje chegamos a uma placa enferrujada perto da estrada, que dizia: "Paradox, população 2.387." Peter pegou o mapa e mostrou onde estávamos. Chegamos ao Colorado.
Finalmente as montanhas levaram a um grande vale a seus pés, iluminado
pelo sol do outono, sob a cúpula azul do céu. O capim estava alto e ressecado, os galhos das árvores nus ou então salpicados pelas últimas folhas que restavam, desbotadas até uma cor de osso. Elas subiam na brisa como mãos acenando, farfalhando feito papel velho. O chão estava seco, mas a água corria livremente nas galerias. Eles encheram os cantis; a água era fria como gelo quando batia nos dentes. O inverno estava no ar.
Agora eram seis. Seguiam pela terra vazia como visitantes em um mundo esquecido, um mundo sem memória, imobilizado no tempo. Passaram pelas ruínas de uma casa de fazenda, pela grade de um caminhão enferrujado, que parecia uma caveira. Não se ouvia nenhum som além do vento e dos grilos saltando pelo capim. O terreno era plano, mas isso não iria durar muito. Uma forma branca delineada no horizonte distante anunciava a cadeia de montanhas que estava por vir.
Abrigaram-se à noite em um celeiro perto de um rio. Nas paredes havia arreios velhos, baldes para ordenha e pedaços de correntes pendurados. Um velho trator repousava sobre os pneus vazios. Da casa desmoronada restavam apenas os alicerces e paredes dobradas uma sobre a outra, feito abas de uma caixa, como se a casa não houvesse sido exatamente destruída, mas empacotada. Eles dividiram as latas que haviam encontrado e se sentaram no chão para comer.
Dia 67
CINQUENTA E SETE
Através dos rasgos no telhado podiam ver estrelas, e depois, enquanto a noite caía, a lua, cercada de nuvens que se moviam com rapidez. Peter ficou no primeiro turno de vigilância com Michael. Quando Hollis e Sara os substituíram, as estrelas haviam sumido e a lua não passava de um contorno pálido no céu adensado pelas nuvens. Peter dormiu, sonhando com nada, e quando acordou no dia seguinte, viu que havia nevado à noite.
No meio da manhã o ar já se aquecera de novo; a neve tinha derretido. De acordo com o mapa, a próxima cidade seria Placerville. Oito dias haviam se passado desde que tinham visto o corpo do felino na árvore. A sensação de que algo os estava seguindo desaparecera nos longos dias de caminhada e nas noites silenciosas cheias de estrelas. A fazenda onde Theo e Maus haviam ficado era uma lembrança distante. O Refúgio e tudo o que ocorrera lá eram um passado remoto.
Agora acompanhavam um rio - o Dolores ou o San Miguel, Peter acreditava. A estrada havia sumido muito antes, imersa no capim, na terra e no tempo. Marchavam em silêncio, em duas fileiras de três. O que estavam procurando? O que iriam encontrar? A jornada adquirira uma melancolia própria, intrínseca: tudo o que faziam era se mover, continuar em movimento. Peter parecia incapaz de conceber a ideia de parar, de chegar ao fim.
Amy andava ao lado de Peter, ligeiramente curvada por causa do peso da mochila com o saco de dormir e o casaco de inverno amarrados embaixo. Como os demais, ela vestia roupas pegas na Outdoor World: uma calça de brim apertada por um cinto e uma blusa xadrez larga, vermelha e branca, com as mangas desabotoadas balançando em volta dos pulsos. Usava tênis de couro e a cabeça estava descoberta. Tinha desistido dos óculos havia muito tempo. Mantinha o olhar fixo à frente, os olhos apertados por causa da claridade. Nos dias desde que haviam deixado a fazenda, uma mudança sutil mas inegável acontecera. Como o rio, ela agora os estava guiando; a tarefa dos outros agora era simplesmente segui-la. A sensação era mais forte a cada dia que passava. Como acontecia com frequência, Peter se lembrou da mensagem que Michael havia lhe mostrado naquela noite na Casa de Força, tanto tempo atrás. As palavras eram como a batida que ditava o ritmo de sua caminhada, cada passada levando-o à frente, para um mundo que ele não conhecia, no coração oculto do passado, para o lugar de onde Amy viera.
Se você encontrou a menina, traga-a para cá. Se você encontrou a menina, traga-a para cá.
Peter havia descoberto, desde que deixara a fazenda, que não sentia tanta falta de Theo quanto imaginara. Como havia acontecido ao Refúgio e a tudo o que viera antes - até a própria Colônia seus pensamentos a respeito do irmão pareciam ter sido levados para longe, sufocados, como a estrada coberta pelo capim suplantados pelo projeto de simplesmente prosseguir. A princípio, na noite em que Theo e Maus haviam reunido todos eles e anunciado sua decisão, Peter tinha ficado com raiva. Não demonstrara isso, ou pelo menos esperava não ter demonstrado, porque, mesmo no meio daquilo tudo, sabia que sua raiva era irracional; era óbvio que Maus não podia continuar. Parte dele simplesmente não queria que o irmão o deixasse de novo tão cedo. Mas as evidências pendiam para o lado de Theo, e no fim Peter teve de concordar.
Com o passar dos dias, entretanto, Peter também passara a enxergar uma verdade mais profunda por trás da decisão do irmão. O caminho dele e o de Theo estavam fadados a se separar de novo porque a causa deles não era a mesma. Theo não parecia duvidar do que Peter havia lhe contado sobre Amy, ou pelo menos não tinha dito nada que demonstrasse isso. Ele aceitara a explicação de Peter, por mais fantástica que parecesse, sem mais ou menos ceticismo do que ela merecia. No entanto Peter podia detectar um distanciamento no conformismo do irmão: Amy não significava nada para ele, ou significava muito pouco. No mínimo, Theo parecia ter um pouco de medo dela. Era claro que ele só estava ali porque era onde o grupo estava. Na primeira oportunidade, e levando em conta a gravidez de Mausami, desistira rapidamente. De modo egoísta, Peter talvez desejasse mais, que Theo tivesse ao menos expressado algum pesar, ainda que pequeno, pela separação dos dois. Mas ele não fizera isso.
Na manhã da partida, enquanto os seis se afastavam da fazenda, Peter se virou e viu o irmão e Mausami olhando para eles. Era uma coisa à toa, mas importante para Peter, que Theo permanecesse onde estava, de pé na varanda, até que os seis estivessem fora de vista. Mas quando olhou de novo, Peter já não o viu mais. Só Mausami estava lá.
Pararam para descansar quando o sol ficou alto. Agora podiam ver claramente a cordilheira, um traçado irregular contra o céu a leste, os picos cobertos de branco. O dia esquentara de novo, o bastante para que suassem, mas lá em cima, aonde estavam indo, o inverno já havia chegado.
- Há mais neve por lá - disse Hollis.
Ele estava sentado ao lado de Peter em um tronco caído, a casca podre enegrecida pela umidade. Fazia mais de uma hora que ninguém dizia uma palavra. Todos estavam espalhados em volta, menos Alicia, que fora adiante examinar o terreno. Hollis usou uma faca para abrir uma lata e começou a enfiar o conteúdo na boca, algum tipo de carne desfiada. Um pedaço ficou preso no emaranhado da barba. Ele o removeu e, em seguida, ajudou a comida a descer com um longo gole de água e passou a lata para Peter.
Peter pegou a lata e comeu. Sentada de encontro a uma árvore diante dele, Sara escrevia em seu diário com um cotoco minúsculo de lápis, quase pequeno demais para que o segurasse. Ela parou, os olhos focalizados no que havia escrito. Enquanto Peter olhava, ela tirou a faca do cinto, usou-a para afiar a ponta do lápis e retomou pacientemente a escrita.
- Sobre o que você está escrevendo?
Sara deu de ombros, prendendo uma mecha de cabelo atrás da orelha.
- Sobre a neve, o que comemos, onde dormimos... - Ela ergueu o rosto para as árvores, franzindo os olhos para a luz do sol que penetrava através dos galhos encharcados de orvalho. - Sobre como é lindo aqui.
Peter sentiu que estava sorrindo. Quanto tempo fazia que não sorria?
- É mesmo, não?
Sara parecia ter sido tomada por um novo sentimento desde que tinham saído da fazenda, pensou Peter, uma tranquilidade em que não cabia urgência. Era como se ela tivesse decidido alguma coisa e, ao fazer isso, houvesse mergulhado mais fundo em si mesma, em um estado que ia além da preocupação ou do medo. Peter sentiu um leve arrependimento. Olhando para ela agora, percebia como tinha sido idiota. O cabelo comprido dela estava embolado; o rosto e os braços nus, riscados de sujeira; e as unhas, pretas de terra. No entanto, ela jamais parecera tão radiante. Como se tudo o que tivesse vivido houvesse se tornado parte dela, infundindo-lhe uma calma reluzente. Amar alguém não era algo sem importância. Era isso o que ela lhe oferecera, o que sempre havia lhe oferecido. Mas ele tinha recusado.
Então Sara encontrou o olhar dele. Inclinou a cabeça, confusa.
- O que foi?
Ele balançou a cabeça, sem graça.
- Nada.
- Você estava me encarando.
Sara voltou o olhar para Hollis, e os cantos de sua boca se ergueram em um leve sorriso. Foi só um momento, mas Peter pôde perceber nitidamente a ligação entre os dois. Claro. Como podia ter sido tão cego?
- Não foi nada - conseguiu dizer. - É que... você parece feliz, aí sentada. Acho que fiquei surpreso, só isso.
Alicia surgiu do meio do mato. Apoiando o fuzil em uma árvore, pegou uma lata na pilha de suprimentos e a abriu, franzindo a testa para o conteúdo.
- Pêssegos - gemeu. - Por que eu sempre pego pêssegos?
Encostou-se no tronco e começou a tirar os pedaços da fruta amarela e macia de dentro da lata, enfiando-os direto na boca.
- O que há lá na frente? - perguntou Peter.
A calda escorria pelo queixo dela. Alicia fez um gesto com a faca, apontando para a direção de onde tinha vindo.
- Mais ou menos meio quilômetro a leste, o rio se estreita e vira para o sul. Há morros dos dois lados, uma densa cobertura de árvores e diversos pontos altos
Quando os pêssegos terminaram, ela virou a lata na boca. Depois a jogou de lado, enxugando as mãos na calça.
- Acho que provavelmente estaremos seguros durante o dia. Mas não deveríamos ficar aqui por muito tempo.
Michael estava sentado no chão úmido a alguns metros, encostado em um tronco. Os dias de caminhada haviam deixado seu corpo mais magro e firme. Seu queixo agora exibia uma penugem clara. Ele tinha uma espingarda atravessada no colo, o dedo perto do gatilho.
- Não temos nenhum sinal há quanto tempo, sete dias?
Ele falava de olhos fechados, o rosto inclinado para o sol. Vestia uma camiseta e tinha o casaco enrolado na cintura.
- Oito - corrigiu Alicia. - Isso não significa que devamos baixar a guarda.
- Só estou dizendo. - Ele abriu os olhos e se virou para Alicia, dando de ombros. - Um monte de coisas pode ter matado aquele bicho. Talvez tenha morrido de velhice.
Alicia deu uma gargalhada.
- Para mim parece uma boa explicação - disse ela.
Amy estava parada sozinha, na borda da clareira. Ela vivia se afastando assim. De início esse hábito havia preocupado Peter, mas ela nunca ia muito longe, e a essa altura todos estavam acostumados com isso.
Ele se levantou e foi até ela.
- Amy, você devia comer alguma coisa. Vamos começar a andar daqui a pouco.
Por um momento a garota não disse nada. Seus olhos estavam direcionados para as montanhas que se erguiam ao sol do outro lado do rio, para além dos campos cobertos de capim.
- Eu me lembro da neve - disse. - De estar deitada nela. De como era fria. - Ela olhou para Peter, franzindo os olhos. - Estamos perto, não é?
Peter assentiu.
- Apenas a alguns dias, eu acho.
- Tell-uride - disse Amy.
- É, Telluride.
Ela se virou de novo para o outro lado. Peter a viu estremecer, embora o sol estivesse quente.
- Vai nevar outra vez? - perguntou ela.
- Hollis acha que sim.
Amy assentiu, satisfeita. Seu rosto havia se enchido de uma luz quente: era uma lembrança feliz.
- Eu gostaria de me deitar nela de novo, fazer anjos de neve.
Ela falava assim com frequência, usando expressões que eles não entendiam. Mas dessa vez algo parecia diferente, como se o passado tivesse surgido diante de seus olhos feito um cervo saindo do mato. O menor movimento poderia afugentá-lo.
- O que são anjos de neve?
- Você mexe os braços e as pernas na neve - explicou ela. - Como os anjos do céu. Como o fantasma Jacob Marley.
Peter sabia que os outros os estavam escutando agora. Uma mecha de cabelo preto caiu sobre os olhos dela. Olhando-a, ele se sentiu transportado para o passado, através dos meses, até aquela noite na Enfermaria quando Amy havia lavado seu ferimento. Queria perguntar a ela como sabia que sua mãe sentia falta dele, como adivinhara que ele também sentia a falta dela. Porque ele nunca tinha dito nada à mãe. Ela estava morrendo, mas ele não lhe dissera que sentiria sua falta quando ela fosse embora.
- Quem é Jacob Marley? - perguntou.
A testa dela se franziu com uma súbita expressão de sofrimento.
- "Ele estava preso pelas correntes que forjara em vida" - respondeu ela, e balançou a cabeça. - Era uma história muito triste.
Acompanharam o rio durante a tarde. Agora estavam no sopé das montanhas, deixando o platô para trás. A terra começara a subir e ficar mais densa de árvores - álamos nus com seus gravetos raquíticos e pinheiros antigos, gigantescos, os troncos grossos como casas, erguendo-se bem alto. Sob as copas vastas, o terreno aberto e sombreado estava coberto de agulhas de pinheiro. O ar estava gelado por causa da umidade do rio. Como sempre, prosseguiam sem falar, examinando as árvores. Mantendo os olhos abertos.
Placerville não existia mais. Era fácil entender o que acontecera: a cidade ficava em um vale estreito, atravessado pelo rio. Na primavera, a neve acumulada se derretia, formando uma torrente feroz. Como Moab, a cidade havia sido levAda pelas águas.
Naquela noite se abrigaram à beira do rio, esticando a lona entre duas árvores para formar uma cobertura e estendendo os sacos de dormir na terra macia.
Peter estava escalado para o terceiro turno de vigilância, com Michael. Eles assumiram suas posições. A noite estava calma e fria, preenchida pelo som do rio. De pé em seu posto, tentando ficar imóvel apesar da friagem, Peter pensava em Sara e no sentimento que havia detectado entre ela e Hollis naquele olhar particular e percebeu que estava feliz pelos dois. Ele tivera sua chance, afinal, e Hollis obviamente a amava, como ela merecia ser amada. Hollis tinha dito isso, ele percebeu na noite em que Sara fora levada em Milagro: Você, mais do que ninguém, sabe que eu preciso ir. Não eram só as palavras, mas a expressão nos olhos dele - uma absoluta falta de medo. Naquele momento ele havia desistido de si mesmo. Ele havia desistido de si por Sara.
O dia estava clareando quando Alicia veio andando em direção a ele.
- E então? - disse ela, dando um bocejo. - Ainda estamos vivos.
Ele assentiu.
- Estamos.
Cada noite sem sinal o fazia pensar em quanto tempo a sorte deles duraria. Mas tentava não pensar muito nisso. Questionar a sorte parecia perigoso, era como desafiar o destino.
- Vire de costas - disse Alicia. - Preciso fazer xixi.
Olhando para o outro lado, ele a ouviu abrir o fecho da calça e se agachar. Dez metros rio acima, Michael estava deitado no chão com as costas apoiadas em uma pedra, caído no sono.
- O que você acha desse negócio de fantasmas, anjos e tal? - perguntou Alicia.
- Sei tanto quanto você.
- Peter, eu não acredito nem um pouco nisso - zombou ela. E depois de um momento: - Muito bem, pode olhar agora.
Ele a encarou de novo. Alicia estava apertando o cinto.
- Você é o motivo de estarmos aqui, afinal - disse ela.
- Achei que fosse Amy.
Alicia olhou na direção das árvores do outro lado do rio. Deixou passar um momento em silêncio.
- Nós somos amigos desde que eu consigo lembrar. Nada pode mudar isso. De modo que o que vou dizer fica entre nós. Entendido?
Peter assentiu.
Na noite antes de sairmos, nós dois estávamos no trailer do lado de fora da cadeia. Você perguntou o que eu via quando olhava para Amy. Acho que nunca rEspondi, e provavelmente não sabia na época. Mas agora sei. O que vejo é você. Ela o olhava atentamente, com uma expressão quase sofrida. Peter procurou uma resposta.
- Eu não... estou entendendo.
- Está, sim. Pode não saber, mas entende. Você nunca fala sobre seu pai ou sobre as Longas Cavalgadas. Nunca pressionei você quanto a isso, o que não significa que eu não soubesse o que essas viagens significavam para você. Durante toda a sua vida você ficou esperando que algo como Amy chegasse. Pode chamar isso de destino, se quiser. Titia provavelmente diria que é a mão de Deus. Acredite, eu também ouvi aqueles discursos. Acho que não importa o nome que se dê. É o que é. De modo que, se você me perguntasse por que estamos aqui, eu diria que, é claro, estamos aqui por causa de Amy. Mas ela é só parte do motivo. O engraçado é que todo mundo sabe disso, menos você.
Peter não sabia o que dizer. Desde que Amy entrara em sua vida, sentia que havia sido apanhado por uma correnteza que o puxava para alguma coisa, para algo que ele precisava descobrir. Cada passo ao longo do caminho lhe dizia isso. Mas também era verdade que cada um deles havia desempenhado um papel, e muita coisa se devia simplesmente à sorte.
- Não sei, Lish. Qualquer um de nós poderia ter encontrado Amy naquele dia no shopping. Poderia ter sido você. Ou Theo.
Ela dispensou o argumento com um gesto.
- Você acredita demais no seu irmão, sempre foi assim. E onde ele está agora? Não me entenda mal, acho que ele tomou a decisão certa. Maus não tinha condições de viajar, e eu disse isso desde o início. Mas esse não é o único motivo de ele ter ficado para trás. Só estou dizendo isso porque acho que você precisa ouvir. Esta é a sua Longa Cavalgada, Peter. O que quer que esteja naquela montanha, você é quem vai descobrir. Independentemente de qualquer coisa, espero que você tenha essa chance.
Outro momento de silêncio. Algo no modo como Alicia falara o incomodava. Era como se aquelas palavras fossem finais. Como se ela estivesse se despedindo.
- Você acha que eles estão bem? - perguntou. - Theo e Maus?
- Não sei. Espero que sim.
; - Sabe - ele pigarreou -, acho que Hollis e Sara...
- Estão juntos? - Ela deu um risinho. - Pensei que não tivesse notado. Você deveria dizer a eles que sabe. Acho que vai tirar um peso de todos nós.
Ele ficou completamente pasmo.
- Todo mundo já sabe?
- Peter... - Ela o encarou com a testa franzida, como se quisesse corrigi-lo. - exatamente disso que estou falando. Salvar a raça humana sem dúvida nenhuma é um ato nobre. Você pode dizer que sou a favor. Mas talvez você devesse prestar um pouquinho mais de atenção ao que está bem na sua cara.
- Pensei que estivesse prestando.
- É o que você pensou. Somos humanos. Não sei o que há naquela montanha, mas uma coisa eu sei: nosso caminho neste mundo um dia acaba. Com sorte, encontramos alguém que faz o fardo parecer mais leve. Você deveria dizer a eles que está tudo bem. Eles estão esperando para ouvir isso de você.
Era incrível como demorara a notar o que estava acontecendo entre Sara e Hollis. Talvez fosse algo que ele não quisesse ver, pensou Peter. Olhando para Alicia agora, o cabelo brilhando à luz da manhã, lembrou-se da noite em que estiveram juntos na laje da usina elétrica, conversando sobre casamento, sobre ter Pequenos - aquela noite estranha e espantosa em que Alicia lhe dera o presente das estrelas. Na época, a simples ideia de levar uma vida normal, ou o que parecia uma vida normal, lhe parecera tão distante quanto as estrelas. E ali estavam eles, a mais de mil quilômetros de casa - um lar que provavelmente jamais veriam de novo -, as mesmas pessoas que sempre haviam sido, mas ao mesmo tempo pessoas diferentes, porque algo acontecera: o amor estava entre eles.
Era o que Alicia estava lhe dizendo agora, o que ela tentara lhe dizer naquela noite na usina, naquela última hora tranquila antes que tudo acontecesse: o que eles faziam era por amor. Não somente Sara e Hollis, mas todos eles.
- Lish... - começou ele.
Mas ela balançou a cabeça, interrompendo-o. O rosto de Alicia ficou subitamente corado. Atrás dela, Sara e Hollis vinham andando em direção a eles.
- Como eu disse, todos nós estamos aqui por sua causa - disse Alicia. - Eu, mais do que qualquer outro. Agora, quem vai acordar o Circuito, eu ou você?
Levantaram acampamento. Enquanto caminhavam junto ao rio, o sol subia sobre a crista do vale, banhando os galhos das árvores em uma luz vaporosa.
Era quase meio-dia quando Alicia, à frente da fila, parou abruptamente. Levantou a mão para silenciar o grupo.
- Lish - gritou Michael de trás -, por que estamos parando?
- Silêncio.
Ela estava farejando o ar. Peter também sentiu o cheiro, estranho e forte, ardendo nas narinas.
Atrás dele, Sara sussurrou:
- O que é aquilo?
Hollis apontou com o fuzil para o alto.
- Olhem...
Suspensos nos galhos acima das suas cabeças havia dezenas de tiras compridas feitas de objetos pequenos e brancos, em cachos como de uvas.
- O que, diabos, é isso?
Mas agora Alicia estava olhando para o chão, examinando ansiosamente a terra atapetada de folhas sob os seus pés. Ela se agachou sobre um dos joelhos e espanou a grossa cobertura de folhas mortas.
- Ah, merda.
Peter ouviu o som do peso caindo. Antes que pudessem dizer mais nada, a rede os havia engolido. Estavam subindo, sendo erguidos no ar, todos gritando e rolando, os corpos presos na trama da rede. Chegaram ao ponto mais alto, suspensos por um instante, e então caíram. Foi uma queda violenta, os corpos se embolando enquanto as cordas os comprimiam em um aglomerado único e retorcido de prisioneiros.
Peter estava de cabeça para baixo. Hollis estava em cima dele - Hollis, Sara e um tênis, perto do rosto, que ele reconheceu como sendo de Amy. Era impossível dizer onde terminava o corpo de um e começava o de outro. Estavam girando como um pião. A pele da sua bochecha estava comprimida contra as cordas feitas de uma fibra grossa e pesada. O chão girava embaixo dele, um borrão de cores indistintas.
- Lish!
- Não consigo me mexer!
- Alguém consegue?
- Acho que vou vomitar! - desabafou Michael.
- Michael, não se atreva! - gritou Sara com uma voz aguda de pânico.
Peter não podia alcançar sua faca e, mesmo que conseguissem cortar as cordas, despencariam de cabeça no chão. O movimento giratório ficou mais lento, depois recomeçou, a velocidade aumentando enquanto eles eram jogados na direção oposta. Em algum lugar acima dele, no emaranhado de corpos, Peter ouviu Michael tendo ânsias de vômito.
Giraram, giraram e giraram um pouco mais. Só na sexta rotação Peter detectou, com o canto do olho, um movimento no mato embaixo, como se a floresta estivesse se mexendo, viva. Mas a essa altura ele estava desorientado demais para falar. Parte dele sentia medo, mas a outra parte não parecia reconhecer a primeira - Cacete! - disse uma voz embaixo. - São desgarrados. E então Peter viu os soldados.
CINQUENTA E OITO
Nos primeiros dias Mausami dormiu 16, 18, 20 horas seguidas. Theo havia expulsado os camundongos do quarto de cima, espantando-os escada abaixo e porta afora com uma vassoura e muitos gritos. Em um armário, haviam encontrado uma pilha de lençóis e cobertores dobrados com um cuidado assombroso, cheirando a mofo e poeira, e até mesmo dois travesseiros, um para a cabeça dela e o segundo para colocar dobrado entre os joelhos e alinhar as costas. Ela agora às vezes sentia correntes elétricas estranhamente dolorosas disparando por uma das pernas - o bebê estava comprimindo a sua coluna. Entendia isso como um sinal de que o neném estava fazendo o que deveria: abrindo espaço para si mesmo no cômodo apertado do seu corpo. Theo ia e vinha, cuidando dela como um enfermeiro, trazendo comida e água. Durante a tarde ele dormia no sofá velho e fundo do andar de baixo. Quando escurecia, arrastava uma cadeira para a varanda, onde passava a noite com uma espingarda no colo, olhando para a escuridão.
Até que uma manhã ela acordou se sentindo revigorada. O cansaço havia passado; os dias de repouso tinham surtido efeito. Mausami se sentou e viu que o sol brilhava pela janela. O ar estava frio e seco, e uma brisa suave agitava as cortinas. Ela não se lembrava de ter aberto as janelas, mas talvez Theo tivesse feito isso em algum momento da noite.
O bebê estava comprimindo sua bexiga. Theo havia deixado um balde para ela, mas Mausami não queria usá-lo, agora que não precisava mais. Iria ao banheiro, para mostrar a Theo que finalmente estava acordada.
Podia detectar os movimentos dele em algum lugar da casa, lá embaixo. Levantou-se, enfiou um suéter por cima da camisa comprida - de repente não cabia mais na única calça que tinha - e desceu a escada. Seu centro de gravidade parecia ter mudado da noite para o dia; o enorme volume da barriga fazia com que se sentisse pesada e desajeitada. Pensou que isso simplesmente era algo a que teria que se acostumar. Ainda não tinha nem seis meses de gravidez e já estava imensa.
Chegou a uma sala da qual mal se lembrava. Demorou um momento para absorver o fato de que muita coisa havia mudado. O sofá e as poltronas, que antes estavam encostados na parede, agora se encontravam no meio da sala, formando ângulos retos com a lareira, virados um para o outro. Entre eles havia uma mesinha de madeira em cima de um tapete de lã puído. O piso embaixo de seus pés descalços havia sido varrido. Theo tinha posto alguns cobertores em cima do sofá para cobrir os lugares onde o estofamento estava gasto e manchado, enfiando as bordas sob as almofadas.
Mas o que atraiu sua atenção foram as fotos sobre o console da lareira. Uma série de imagens amareladas - as mesmas pessoas, em idades e poses diferentes, todas fotografadas diante da casa onde ela estava agora. Um homem, a esposa e três filhos: um menino e duas meninas. As fotos pareciam ter sido tiradas em intervalos de um ano; em cada uma delas as crianças haviam crescido. O garoto mais novo, que na primeira foto era um bebê no colo da mãe - uma mulher de aparência cansada com óculos escuros empoleirados na testa -, na última imagem tinha uns 5 ou 6 anos. Estava de pé diante das irmãs mais velhas, rindo para a câmera, o sorriso mostrando o espaço do dente que havia perdido. Em sua camiseta liam-se palavras incompreensíveis: UTAH JAZZ.
- São incríveis, não são?
Mausami se virou e viu que Theo a observava da porta da cozinha.
- Onde você as achou?
Ele se aproximou da lareira e pegou a foto do garoto sorridente.
- Estavam em um espaço embaixo da escada. Está vendo isso aqui? - Ele mostrou um automóvel ao fundo, atulhado de malas até o topo das janelas, com mais pertences amarrados no teto. - É o carro que achamos no celeiro.
Mausami contemplou as fotos por mais um instante. Como pareciam felizes! Não só o garoto sorridente, mas os pais e as irmãs - todos eles.
- Acha que eles moravam aqui?
Theo assentiu, colocando a foto novamente no console, ao lado das outras.
- Acho que eles chegaram aqui antes do surto e ficaram presos. Ou então simplesmente decidiram ficar. E não esqueça as quatro sepulturas lá atrás.
Mausami já ia observar que eram quatro sepulturas, e não cinco. Mas então Percebeu seu erro. A quarta sepultura teria sido cavada pelo último sobrevivente, que não poderia enterrar a si mesmo.
- Está com fome? - perguntou Theo.
Ela passou a mão pelo cabelo sujo.
- O que eu queria mesmo era um banho.
- Parece que adivinhei. - Ele deu um sorriso maroto. - Venha.
Levou-a para o quintal. Uma grande panela de ferro fundido estava pendurada por um pedaço de corrente sobre uma pilha de brasas fumegantes. Ao lado havia uma tina de madeira, grande e funda o suficiente para uma pessoa se sentar dentro. Ele usou um balde de plástico para encher a tina com água da bomba, depois, segurando o cabo da panela com um pano grosso, levantou-a e acrescentou água fervendo.
- Ande, entre - disse Theo.
Ela ficou subitamente sem graça.
- Tudo bem - disse ele, rindo gentilmente. - Não vou olhar.
Depois de tudo que haviam vivido juntos, parecia bobagem que Mausami sentisse vergonha do corpo. Mas sentia. Com os olhos de Theo virados para o outro lado, ela tirou a roupa rapidamente e ficou nua por um momento ao sol do outono. Sentiu o ar frio envolver a pele, a forma retesada e redonda do ventre. Entrou devagar na água, sentando-se até cobrir a barriga e os seios inchados, rendados por uma trama de veias azuis.
- Posso me virar?
- Estou me sentindo tão enorme, Theo. Não acho que você queira me ver assim.
- Você vai ficar maior ainda, antes de diminuir. É melhor ir se acostumando.
De que ela sentia medo? Os dois iam ter um filho juntos, mas Theo não poderia vê-la nua? Durante todos aqueles dias os dois praticamente não tinham se tocado. Agora que estavam sozinhos, ela percebeu que estivera esperando que ele fizesse isso, que atravessasse a barreira que os separava.
- Tudo bem, pode se virar.
Por um momento as sobrancelhas dele se levantaram ao vê-la. Mas só por um momento. Ela viu que ele estava segurando uma frigideira preta, cheia de alguma substância dura, brilhante. Theo a colocou no chão ao lado da tina e se ajoelhou para cortar um pedaço em forma de cunha com sua faca.
- Meu Deus, Theo. Você fez sabão?
- Às vezes eu ajudava minha mãe. Mas talvez a quantidade de cinzas que usei não tenha sido suficiente. A gordura vem de um antílope que cacei ontem de manhã. São animais muito magros, mas consegui o bastante.
- Você atirou em um antílope?
Ele assentiu.
- E foi o diabo arrastá-lo até aqui. Pelo menos cinco quilômetros. O rio está cheio de peixes. Acho que podemos fazer um estoque que dure todo o inverno.
Ele se levantou, espanando as mãos nas pernas da calça.
- Termine seu banho enquanto eu preparo o café da manhã.
Quando ela terminou, a água estava opaca de sujeira e tinha uma película da gordura do sabão. Levantou-se e usou o que restara da água quente para se enxaguar, ficando nua no quintal para secar o corpo ao sol. Sentia a umidade evaporando da pele na aridez do ar. Não conseguia se lembrar da última vez que se sentira tão limpa.
Vestiu-se - as roupas pareceram imundas ao tocar sua pele; teria de dar um jeito de lavá-las - e entrou em casa novamente. Mais surpresas: Theo havia arrumado a mesa com louça de verdade, além de talheres e copos, o vidro escurecido pelos anos. Estava fazendo algum tipo de bife em uma frigideira, com fatias translúcidas de cebola. O cômodo estava tomado pelo calor do fogão, alimentado pela lenha que ele havia cortado e empilhado junto à porta.
- Os últimos bifes de antílope. O restante está sendo defumado - explicou ele. Então virou a carne e girou o corpo para ela, enxugando as mãos em um pano. - É meio duro, mas não é ruim. Há cebolinha perto do rio, e arbustos que parecem ser de amoras, mas vamos ter de esperar até a primavera.
- Minha nossa, Theo, o que mais?
A pergunta não era sarcástica; ela estava realmente impressionada com tudo o que ele havia feito.
- Batatas. - Batatas?
- A maior parte delas já está brotando, mas ainda podemos usar algumas. Guardei um monte delas em caixas no porão. - Ele colocou os bifes nos pratos com um garfo comprido. - Não vamos passar fome. Dá para achar muita coisa quando se procura.
Depois do café da manhã ele lavou os pratos na pia enquanto ela olhava. Ela quis ajudar, mas Theo insistiu para que não fizesse nada.
- Quer dar um passeio? - perguntou ele.
Theo foi até o celeiro e voltou com um balde e duas varas de pescar com linhas de nylon penduradas. Entregou a ela uma pequena pá, uma espingarda e um punhado de cartuchos. Quando chegaram ao rio, o sol já estava a pino. As águas eram mais lentas e rasas naquele trecho, alargando-se até fazer uma curva ampla; as margens estavam cobertas de uma densa vegetação de cor outonal. Theo não tinha anzóis, mas havia encontrado uma lata de alfinetes em um pequeno kit de costura em uma das gavetas da cozinha. Enquanto Maus cavava a terra à procura de minhocas, Theo amarrou alfinetes na ponta das linhas e os dobrou para formar pequenos ganchos.
- Então, como é que se pesca, exatamente? - perguntou ela.
O monte de terra em suas mãos se remexia. Para onde quer que olhasse, o chão parecia cheio de vida.
- Acho que é só jogar a linha na água e esperar para ver o que acontece.
Fizeram isso. Mas depois de algum tempo a atividade pareceu um tanto idiota. Os anzóis estavam na parte rasa, onde eles podiam ver.
- Chegue mais para trás - disse Theo. - Vou tentar jogar o anzol mais longe.
Ele soltou a trava do carretel, levantou a vara sobre o ombro e arremessou. A linha disparou em um longo arco sobre a água, desaparecendo na corrente com um ruído abafado. Quase imediatamente a ponta da vara se dobrou com força.
- Caramba! - Os olhos dele se arregalaram em uma expressão de pânico.
- O que faço agora?
- Não o deixe fugir!
O peixe brilhante rompeu a superfície, agitando-se na água. Theo começou a enrolar a linha.
- Parece enorme!
Enquanto Theo puxava o peixe para a margem, Maus entrou na água espantosamente fria e se abaixou para agarrá-lo, inundando as botas. O peixe saltou para longe, e no instante seguinte os tornozelos dela estavam totalmente enrolados na linha de pesca.
- Theo, socorro!
Os dois estavam rindo. Theo agarrou o peixe e o virou de costas, o que pareceu ter o efeito desejado: o peixe desistiu de lutar. Maus conseguiu se soltar e pegou o balde na margem enquanto Theo tirava o peixe do rio - uma coisa comprida e reluzente, parecendo um único naco de músculo pintalgado e brilhante, como se centenas de minúsculas pedras preciosas estivessem incrustadas na carne. O alfinete estava enfiado no lábio inferior, a minhoca ainda pendurada nele.
- Que parte a gente come? - perguntou Maus.
- Acho que depende da fome.
Então ele a beijou, e ela sentiu uma torrente de felicidade. Ele ainda era Theo, seu Theo. Dava para sentir no beijo. O que quer que tivesse acontecido naquela cela não havia destruído isso.
- Agora é minha vez - disse ela, empurrando-o, e pegou o anzol para lançar a isca como ele havia feito.
Encheram o balde de peixes. A abundância do rio parecia quase demasiada, como um presente extravagante demais. Um céu azul sem fim, um rio banhado pelo sol, os dois juntos naquele lugar esquecido: de algum modo tudo parecia um milagre. Enquanto caminhava para casa, a mente de Maus retornou à família nas fotos: a mãe, o pai, as duas meninas e o menino com seu sorriso banguela vitorioso. Eles haviam vivido e morrido ali. Mas vivido, acima de tudo.
Limparam os peixes e os puseram no fumeiro. Colocariam tudo para secar ao sol no dia seguinte. Separaram um deles para o jantar e o cozinharam na panela com um pouco de cebola e uma batata cheia de brotos.
Quando o sol estava se pondo, Theo pegou a espingarda no canto da cozinha. Maus guardava os últimos pratos no armário. Ela se virou e o viu ejetar os três cartuchos, soprar cada um deles para limpar a poeira e depois enfiá-los de volta no pente. Em seguida ele pegou a faca e a limpou também, passando-a na calça.
- Bem - pigarreou ele. - Acho que está na hora.
- Não, Theo.
Ela pousou o prato que estava segurando e foi até ele, pegando a espingarda e colocando-a na mesa da cozinha.
- Estamos seguros aqui, eu sei.
Ao mesmo tempo que dizia as palavras, sentiu a veracidade delas. Estavam em segurança porque ela acreditava nisso.
- Não vá.
Ele balançou a cabeça.
- Não acho uma boa ideia, Maus.
Ela encostou o rosto no dele e o beijou de novo, um beijo longo e lento, para que ele também tivesse certeza disso, de que os dois estavam seguros. Dentro dela, o bebê havia começado a soluçar.
- Venha para a cama, Theo - disse Mausami. - Por favor. Quero que venha para a cama comigo. Agora.
Era o sono o que ele temia. Contou a ela naquela noite, enquanto estavam enrolados juntos. Ele não podia não dormir, sabia disso. Não dormir era como não comer ou não respirar. Era como segurar o fôlego pelo máximo de tempo possível, até que pequenos pontos luminosos começassem a dançar diante dos olhos e cada parte do seu corpo dissesse uma só palavra: respire. Era o que havia acontecido na cela, durante dias e dias e dias.
Agora o sonho se fora, mas não a sensação que ele causava. O medo de fechar os olhos e de se ver de novo no sonho. Porque, no fim, se não fosse pela garota ele teria feito aquilo. Ela havia entrado no sonho e segurado a mão dele, mas àquela altura já era tarde demais. Ele teria matado a mulher, teria matado qualquer um. Teria feito o que quisessem. É assim que você ficava sabendo desse fato a seu respeito, disse ele, não podia mais não saber. Independentemente de quem você achasse que era, na verdade era alguém totalmente diferente.
Ela o abraçou enquanto ele falava, a voz pairando na escuridão, e depois, por um longo tempo, os dois ficaram em silêncio.
- Maus? Está acordada?
- Estou.
Mas não era verdade: o fato era que ela havia cochilado.
Ele chegou mais perto, puxando o braço dela sobre o peito como um cobertor para mantê-lo quente.
- Fique acordada comigo - pediu ele. - Pode fazer isso? Até que eu durma.
- Sim - respondeu ela. - Posso, sim.
Ele ficou quieto por algum tempo. No espaço apertado entre os dois corpos, o bebê deu uma cambalhota e chutou.
- Estamos seguros aqui, Theo - disse ela. - Enquanto estivermos juntos, estaremos seguros.
- Espero que seja verdade - disse ele.
- Sei que é - respondeu Mausami.
Mas enquanto sentia a respiração dele ficar mais lenta, o sono finalmente o dominando, ela manteve os olhos abertos, olhando para a escuridão. É verdade, pensou, porque tem de ser.
CINQUENTA E NOVE
Chegaram ao posto militar no meio da tarde. Suas mochilas haviam sido devolvidas, mas não as armas. Eles não eram prisioneiros, mas também não poderiam ir embora quando quisessem. O major dissera que eles estavam "sob proteção". Do rio, haviam marchado direto para o norte, atravessando a montanha. Na base de um segundo vale, chegaram a um lugar enlameado, o chão marcado por pegadas de animais e rastros de pneus. Provavelmente teriam chegado lá sozinhos, se não tivessem sido presos na rede. Nuvens pesadas se moviam do oeste: a chuva chegaria a qualquer momento. Quando as primeiras gotas começaram a cair, Peter sentiu cheiro de lenha queimando.
O major Greer se aproximou. Era um homem alto, corpulento, a testa tão enrugada que parecia ter sido marcada por um arado. Devia ter uns 40 anos. Vestia um uniforme camuflado, a calça de um estampado verde e marrom apertada na cintura por um cinto largo, os bolsos gordos de equipamentos. A cabeça, coberta por um gorro de lã, estava raspada. Como todos os seus homens, um esquadrão de 15, ele havia pintado o rosto com riscas de lama e carvão, o que dava ao branco dos olhos uma nitidez espantosa. Pareciam lobos, criaturas da floresta, confundindo-se com a própria mata. Formavam uma unidade de patrulha de longo alcance e estavam na mata havia semanas.
Greer parou no meio do caminho e pôs o fuzil no ombro. Em um coldre na cintura, carregava uma pistola preta. Tomou um longo gole do cantil e apontou na direção da encosta. Estavam perto; Peter podia sentir isso no passo acelerado dos homens de Greer. Uma refeição quente, uma cama para dormir, um teto sobre a cabeça.
- É do outro lado daquele monte - disse Greer.
Nas horas anteriores haviam começado algo que, para Peter, parecia uma amizade. Depois da confusão inicial provocada pela captura - uma situação complicada pelo fato de nenhum dos dois grupos querer ser o primeiro a se identificar -, foi Michael quem rompeu o impasse, levantando o rosto sujo de vômito da terra onde haviam caído: "Ah, porra. Eu me rendo. Somos da Califórnia, está bem? Alguém, por favor, atire em mim e faça o chão parar de rodar."
Enquanto Greer tampava o cantil, Alicia os alcançou no caminho. Desde o início ela se mantivera estranhamente calada. Não tinha feito qualquer objeção à ordem de Greer de que viajassem desarmados, algo que Peter achara completamente fora do seu feitio. Mas era possível que ela estivesse apenas em choque, como todos os outros. Durante a marcha até o acampamento ela assumira uma postura protetora quanto a Amy, mantendo-a a seu lado. Talvez, pensou Peter, estivesse simplesmente sem graça por tê-los levado direto à armadilha dos soldados. Quanto a Amy, a garota parecia ter absorvido a última virada nos acontecimentos como absorvia tudo, com uma atitude neutra e alerta.
- Como é o alojamento? - perguntou Peter.
O major deu de ombros.
- Como você imaginaria. Parece uma grande latrina. Mas é melhor do que ficar na chuva.
Quando chegaram ao topo do morro, avistaram o posto militar, aninhado no vale abaixo: um agrupamento de barracas de lona e veículos rodeado por uma cerca feita de troncos de pelo menos 15 metros de altura, entalhados no topo até formarem pontas afiadas. Dentre os veículos, Peter viu pelo menos seis Humvees dois caminhões-tanque e vários caminhões menores, picapes e jipes com pneus grossos, cheios de lama. Na extremidade mais distante, cavalos pastavam em um cercado. Grandes holofotes haviam sido instalados em mastros altos. Diversos soldados se moviam em meio às construções e ao longo de uma passarela alta que cercava o perímetro. No centro, erguendo-se acima de tudo, uma bandeira vermelha, branca e azul com uma única estrela branca tremulava ao vento. O posto inteiro não poderia ter mais de meio quilômetro quadrado. No entanto, parado no alto do morro, Peter teve a impressão de que estava olhando para uma cidade, o coração de um mundo em que ele sempre havia acreditado, mas que nunca imaginara de verdade.
- Eles têm luz - disse Michael.
Mais homens da unidade de Greer passaram por eles, descendo o morro.
- Mas é claro, filho - disse um sujeito chamado Muncey, um cabo careca como os outros, com um sorriso largo e dentes tortos.
A maioria dos homens de Greer se mantinha em silêncio militar falando apenas quando abordados, mas não Muncey, que matraqueava como um pássaro. Seu trabalho - uma função que lhe caía como uma luva - era operar o rádio que carregava às costas, um mecanismo alimentado por um gerador movido por uma manivela que se projetava como uma cauda na parte de baixo.
- Está vendo aquela cerca? - disse Muncey com um grande sorriso. - Aquilo tudo é território do Texas. Se nós não tivermos algo, é porque é desnecessário.
Não eram do exército regular, explicara Greer. Pelo menos não eram do Exército dos Estados Unidos, já que o Exército dos Estados Unidos não existia mais. "Então vocês fazem parte do exército de quem?", Peter havia perguntado.
Foi então que Greer contou sobre o Texas.
Quando terminaram a descida do morro, uma multidão de homens havia se reunido. Apesar do frio e da chuva, uma garoa constante, alguns estavam sem camisa, expondo o abdome definido e o peito e os ombros desenhados pela musculatura. Todos tinham os pelos raspados, até as cabeças, e estavam armados com fuzis e pistolas. Peter chegou a ver até mesmo algumas bestas.
- Eles vão ficar olhando - disse Greer baixinho. - É melhor se acostumarem.
- Quantos... desgarrados vocês costumam trazer? - perguntou Peter.
Greer franziu a testa. Estavam caminhando em direção ao portão.
- Nenhum. Nos territórios mais a leste ainda existem alguns. Uma vez o Terceiro Batalhão encontrou uma cidade inteira em Oklahoma. Mas por aqui a gente nem procura.
- Então para que era a rede?
- Desculpe. Achei que vocês tinham entendido. As armadilhas são para os dracs, esses que vocês chamam de fumaças - explicou Greer. Então girou um dedo no ar. - Aquele movimento confunde a cabeça deles.
Peter se lembrou de algo que Caleb dissera sobre por que os virais ficavam longe do campo de turbinas. Zander sempre achou que o movimento os atrapalhava. Relatou isso a Greer.
- Faz sentido - concordou o major. - Eles não gostam de girar. Mas nunca ouvi nada sobre turbinas.
Michael agora estava andando ao lado deles.
- O que são aquelas coisas penduradas nas árvores, com cheiro ruim?
- Alho. - Greer deu um risinho. - O truque mais antigo do mundo. Os babacas dos dracs adoram.
A conversa foi interrompida assim que passaram pelo portão, onde homens enfileirados formavam um corredor. O esquadrão de Greer havia se dispersado no meio da multidão. Ninguém falava. Enquanto passava, Peter sentiu os olhares furtivos dos soldados sobre eles. Foi então que percebeu que estavam olhando para as mulheres.
- Atenção!
Todos ficaram em posição de sentido. Peter viu uma figura sair de uma das barracas e andar rapidamente na direção deles. A primeira vista, o homem não era o que Peter teria esperado de um oficial de alta patente: tinha quase a forma de um barril, era notavelmente mais baixo que Greer e andava com passos vacilantes. As feições pareciam espremidas sob a cabeça raspada, como se tivessem sido dispostas de modo a ficarem juntas demais. Mas, à medida que ele se aproximava, Peter sentiu a força da sua autoridade, uma energia misteriosa, como um campo elétrico pairando no ar ao seu redor. Os olhos pequenos e escuros eram de uma intensidade penetrante, ainda que parecessem ter sido postos de modo incongruente no rosto errado.
Olhou Peter por um longo momento, as mãos nos quadris, depois observou os outros, sustentando brevemente o olhar de cada um com a mesma expressão avaliadora.
- Minha nossa.
Sua voz era surpreendentemente profunda. Falava com o mesmo sotaque arrastado de Greer e seus homens.
- Descansar!
Os soldados relaxaram. Peter não sabia o que falar. Era melhor esperar e ouvir o que o sujeito tinha a dizer.
- Homens do Segundo Batalhão - chamou ele, levantando a voz para os soldados. - Como se vê, alguns desses desgarrados são mulheres. Vocês não devem olhar para essas mulheres. Não devem falar com elas, se aproximar delas, nem se relacionar de maneira alguma com elas, nem elas com vocês. Elas não são suas namoradas nem suas esposas. Não são suas mães nem irmãs. Não são nada, elas não existem, não estão aqui. Estou sendo claro?
- Sim, senhor!
Peter olhou para Alicia, que estava perto de Amy, mas ela não percebeu. Hollis franziu a testa para ele, incrédulo: obviamente ele também não sabia o que pensar daquilo.
- Vocês seis, larguem as mochilas e venham comigo. Você também, major.
Eles o seguiram até a barraca, um teto de lona frouxo sobre o chão de terra.
Dentro havia um fogão a lenha de ferro, um par de mesas de compensado cobertas de papéis e, ao longo da parede no lado oposto, uma mesa menor com um rádio operado por um soldado que usava fones nos ouvidos. Na parede acima dele havia um grande mapa colorido, marcado com dezenas de alfinetes de ponta colorida, formando um V irregular. Chegando mais perto, Peter viu que a base do V ficava no centro do Texas, com um dos braços indo para o norte, passando por Oklahoma e se estendendo até o sul do Kansas, e o outro desviando para oeste, entrando no Novo México e depois virando também para o norte, terminando logo acima da fronteira do Colorado - o lugar onde eles estavam agora. No topo do mapa, escritas em amarelo sobre uma faixa escura, liam-se as palavras MAPA POLÍTICO DOS ESTADOS UNIDOS e, embaixo, Fox & Sons Mapas Escolares, Cincinnati, Ohio.
Greer se aproximou de Peter.
- Bem-vindo à guerra - murmurou.
O general, que havia entrado atrás deles, direcionou a voz para o operador de rádio, que, assim como os outros homens, olhava descaradamente para as mulheres. Parecia ter escolhido Sara, mas então seu olhar se desviou para Alicia, depois para Amy, em uma série de espasmos nervosos.
- Cabo, retire-se, por favor.
Com esforço óbvio, ele afastou o olhar delas, tirando os fones. Seu rosto ficou vermelho de vergonha.
- Sim, senhor. Desculpe, senhor.
- Agora, filho.
O cabo se levantou e saiu rapidamente.
O olhar do general pousou em Greer.
- Major, há algo que deixou de me contar?
- Três dos desgarrados são mulheres, senhor.
- É. São. Obrigado por me avisar.
- Desculpe, general. - Ele pareceu se encolher. - Deveríamos ter lhe informado isso.
- É, deveriam. Já que você os encontrou, ficará encarregado deles. Acha que pode cuidar disso?
- Claro, senhor. Sem problemas.
- Junte um destacamento, aloje-os. Eles vão precisar de uma latrina própria, também.
- Sim, general.
- Agora vá.
Greer assentiu, olhando rapidamente para Peter - boa sorte, seus olhos pareciam dizer -, e saiu da barraca. O general, cujo nome Peter percebeu que ainda não sabia, encarou-os por mais um momento. Agora que estavam sozinhos, sua postura havia relaxado.
- Você é Jaxon?
Peter assentiu.
- Sou o general de brigada Curtis Vorhees. Segundo Batalhão das Forças Expedicionárias, Exército da República do Texas - disse ele, esboçando um sorriso. - Sou o mandachuva aqui, caso o major Greer tenha deixado de mencionar mais alguma coisa.
- Não, senhor. Quero dizer, sim. Ele mencionou isso.
- Certo - afirmou, os olhos avaliando-os mais um instante. - Bem, segundo fui informado, e me desculpem se pareço incrédulo quanto a esse ponto, vocês vieram andando desde a Califórnia. É isso mesmo?
Na verdade, pensou Peter, nós viajamos de carro parte do caminho. Depois seguimos de trem. Mas em vez disso simplesmente respondeu:
- Sim, senhor.
- E, se é que posso perguntar, por que alguém faria uma coisa dessas?
Peter abriu a boca para responder; porém, mais uma vez, a verdade parecia longa demais. Lá fora a chuva começara a cair forte, tamborilando na lona da barraca.
- É uma longa história - conseguiu dizer.
- Bom, tenho certeza de que é, senhor Jaxon. E estou muito interessado em ouvi-la. Por enquanto precisamos definir a situação. Vocês são hóspedes civis do Segundo Batalhão das Forças Expedicionárias. Durante sua estada, estarão sob minha autoridade. Acham que podem aceitar isso?
Peter assentiu.
- Dentro de seis dias esta unidade se dirigirá para o sul, para se juntar ao Terceiro Batalhão na cidade de Roswell, no Novo México. De lá podemos mandar vocês de volta a Kerrville com um comboio de suprimentos. Sugiro que aceitem a oferta, mas a escolha é sua. Sem dúvida é algo que devem querer discutir.
Peter olhou para os outros, cujos rostos pareciam espelhar sua surpresa. Não havia considerado a possibilidade de sua jornada ter chegado ao fim.
- Agora, quanto ao outro assunto sobre o qual vocês me ouviram falar com o major. Precisarei que instrua as mulheres do seu grupo a não terem contato algum com meus homens além do estritamente necessário. Exceto para ir à latrina, elas devem permanecer em suas barracas. Qualquer necessidade que tenham deve ser levada, através de você, ao major Greer. Está claro?
Peter não tinha motivo para recusar, além do fato de que a oferta parecia claramente ridícula.
- Não sei se posso dizer isso a elas, senhor.
- Não pode?
- Não, senhor - respondeu, dando de ombros. Não havia outras palavras para expressar isso. - Estamos todos juntos. É assim que as coisas funcionam entre nós.
O general suspirou.
- Talvez você não tenha me entendido. Só estou pedindo isso como cortesia. Tendo em vista a missão do nosso batalhão, seria absolutamente impróprio, até mesmo perigoso, que elas se movessem livremente no meio dos homens.
- Por que elas correriam perigo?
Ele franziu a testa.
- Não se trata disso. Não é nas mulheres que estou pensando. - Vorhees respirou fundo tentando manter a paciência e continuou: - Vou tentar explicar do modo mais simples que puder. Nós somos uma força voluntária. Entrar para as Forças Expedicionárias é um compromisso para toda a vida, feito por juramento de sangue. Cada um desses homens jurou ser fiel até a morte, cortou todos os laços com o mundo em nome desta unidade e dos homens que fazem parte dela. Cada vez que um soldado sai daqui, acredita piamente que pode ser para jamais retornar. Aceita isso. Mais do que aceita, ele abraça isso. Um homem pode muito bem se dispor a morrer pelos amigos, mas uma mulher... uma mulher faz com que ele queira viver. Assim que isso acontecer, garanto que ele sairá por esse portão e jamais voltará.
Peter sabia do que Vorhees estava falando: aqueles homens haviam entregado suas vidas. Mas depois de tudo pelo que haviam passado, era simplesmente possível dizer a elas, sobretudo a Alicia, que teriam de ficar escondidas na barraca.
- Tenho certeza de que essas mulheres sabem lutar - continuou Vorhees. - Vocês não teriam chegado tão longe se elas não soubessem. Mas nosso código é muito rígido, e preciso que vocês o respeitem. Se não puderem, devolverei suas armas e vocês estarão livres para seguir seu caminho.
- Ótimo - respondeu Peter. - Então vamos fazer isso.
- Espere, Peter - interrompeu Alicia.
Peter se virou para encará-la.
- Lish, tudo bem. Estou com vocês nisso. Se ele não nos quer aqui, iremos embora.
Mas Alicia não lhe deu ouvidos. Seu olhar estava apontado para o general. Peter percebeu que ela estava em posição de sentido, os braços rígidos ao lado do corpo.
- General Vorhees, o coronel Niles Coffee, do Primeiro Batalhão das Forças Expedicionárias, manda lembranças.
- Niles Coffee? - retrucou, uma luz parecendo surgir em seu rosto. - O Niles Coffee?
- Lish - disse Peter, que começou a entender o que ela dizia. - Está falando do... Coronel?
Mas Alicia não disse nada. Nem olhou para ele. A expressão em seu rosto era diferente de tudo que Peter já vira.
- Minha jovem, o coronel Coffee foi morto com todos os seus homens há 30 anos.
- Não é verdade, senhor - respondeu Alicia. - Ele sobreviveu.
- Coffee está vivo?
- Foi morto em ação, senhor. Há três meses.
Vorhees olhou ao redor, antes de se voltar para Alicia de novo.
- E quem é você, se é que eu posso perguntar?
Ela assentiu rigidamente, com o queixo firme.
- Sou filha adotiva dele, senhor. Soldada Alicia Donadio, Primeiro Batalhão das Forças Expedicionárias. Fui batizada e prestei o juramento.
Ninguém abriu a boca. Algo estava acontecendo. Peter se sentia desorientado, uma onda de pânico lhe subindo por dentro, como se algum fato básico de sua vida, tão fundamental quanto a gravidade, tivesse sido subitamente arrancado dele.
- Lish, o que você está dizendo?
Por fim ela se virou para olhá-lo; seus olhos estavam se enchendo de lágrimas.
- Ah, Peter - disse ela, quando a primeira gota escorreu pelo rosto. - Desculpe. Eu devia ter contado a você.
- Ela não pode ficar com vocês!
- Sinto muito, Jaxon - disse o general. - Essa decisão não é sua. Não é de ninguém. - Ele se dirigiu rapidamente à porta da barraca. - Greer! Alguém traga o major Greer à minha barraca, agora.
- O que está acontecendo, Peter? - perguntou Michael. - O que ela está dizendo? De repente todos falavam ao mesmo tempo. Peter segurou Alicia pelos braços,
obrigando-a a encará-lo.
- Lish, o que você está fazendo? Pense no que está fazendo.
- Já está feito.
Em meio às lágrimas, o rosto dela parecia luzir de alívio, como se um fardo carregado durante muito tempo tivesse sido finalmente retirado.
- Isso foi decidido antes mesmo de eu conhecer você. Muito antes. No dia em que o Coronel entrou no Abrigo para dizer que cuidaria de mim. Ele me fez prometer que não contaria a ninguém.
Então ele entendeu o que ela estivera tentando dizer de manhã.
- Você os estava rastreando. Ela assentiu.
- É, nos últimos dois dias. Encontrei um acampamento deles quando estava fazendo o reconhecimento do terreno junto ao rio. As cinzas da fogueira ainda estavam quentes. Em um lugar tão remoto como este, achei que não poderia ser mais ninguém. - Ela balançou a cabeça levemente e continuou: - Sério, Peter, eu nem tinha certeza se queria encontrá-los. Parte de mim sempre achou que eles fossem apenas histórias de um velho. Você tem de acreditar nisso.
Greer apareceu à porta da barraca, pingando de chuva.
- Major Greer - disse o general esta mulher é do Primeiro Batalhão das Forças Expedicionárias.
O queixo de Greer caiu.
- Ela é o quê?
- Filha de Niles Coffee.
Greer olhou para Alicia, os olhos arregalados de choque, como se estivesse vendo algum animal estranho.
- Cacete. Coffee tinha uma filha? - Ela diz que fez o juramento. Greer coçou a cabeça, perplexo.
- Meu Deus. Ela é uma mulher. O que o senhor quer fazer?
- Não há nada a fazer. Juramento é juramento. Os homens terão de aprender a conviver com ela. Leve-a ao barbeiro e designe-a a um posto.
Tudo estava acontecendo depressa demais. Peter sentia que algo enorme estava se partindo dentro dele.
- Lish, diga a eles que você está mentindo!
- Desculpe. É assim que tem de ser. Major? Greer assentiu, o rosto sério, e ficou ao lado dela.
- Você não pode me deixar - Peter se ouviu falando, mas a voz não parecia dele.
- Preciso fazer isso, Peter. É quem eu sou.
Sem perceber, ele se jogou nos braços dela. Sentiu as lágrimas sufocarem a garganta.
- Não posso... prosseguir sem você.
- Pode sim. Sei que pode.
Não adiantava. Alicia o estava deixando. Sentia que ela se afastava.
- Não posso, não posso.
- Tudo bem - disse ela, a voz perto do seu ouvido. - Pronto, pronto. Vai ficar tudo bem.
Eles ficaram abraçados assim por um longo tempo, envoltos em uma bolha de silêncio, como se estivessem sozinhos. Então Alicia segurou o rosto dele, virou-o para ela e lhe deu um beijo na testa. Um beijo que pedia e dava perdão, um beijo de adeus. O ar tomou o espaço entre eles. Ela o havia soltado e agora estava se afastando.
- Obrigada, general - disse ela. - Major Greer, estou pronta.
SESSENTA
Durante os dias de chuva, Peter contou tudo. Por cinco dias uma chuva intensa caiu sem parar. Ele ficou sentado durante horas à mesa comprida na barraca de Vorhees, às vezes apenas os dois, mas em geral com Greer presente também. Ele lhes contou sobre Amy, sobre a Colônia e a transmissão que tinham vindo procurar, contou sobre Theo e Mausami, sobre o Refúgio e tudo o que acontecera lá. Contou que, a 600 quilômetros dali, no topo de uma montanha na Califórnia, 90 almas esperavam as luzes se apagarem.
- Não vou mentir - disse Vorhees, quando Peter perguntou se eles poderiam mandar soldados para lá.
Era o fim da tarde. Alicia havia partido bem cedo pela manhã, em uma patrulha. Assim, de uma hora para a outra, ela entrara na vida dos homens de Vorhees.
- Não é que eu não acredite em você - explicou Vorhees. - E esse seu depósito secreto sozinho já faria a viagem valer a pena. Mas eu precisaria expor esses fatos a meus superiores e aguardar a decisão. Não acho que poderíamos sequer pensar em fazer uma viagem dessas antes da primavera. Estamos falando de território não mapeado.
- Não sei se eles podem esperar tanto tempo.
- Bom, terão de esperar. Minha maior preocupação é sair deste vale antes que a neve chegue. Se a chuva não parar, corremos o risco de ficar presos aqui. Só temos combustível suficiente para manter as luzes acesas por mais 30 dias.
- O que eu mais quero saber é sobre esse lugar, o Refúgio - interveio Greer.
Fora da barraca e na presença de qualquer um dos homens, o relacionamento entre Greer e Vorhees era rigidamente formal; mas lá dentro, como agora, eles ficavam mais relaxados, e a amizade dos dois era visível. Greer olhou para o general com uma expressão sombria e pensativa.
- Parece aquele pessoal de Oklahoma.
- Que pessoal? - perguntou Peter.
- Um lugar chamado Homer - respondeu Vorhees. - Há uns 10 anos o Terceiro Batalhão encontrou uma cidade inteira com sobreviventes, mais de 1.100 homens, mulheres e crianças, em um fim de mundo no interior de Oklahoma. Eu não estive lá, mas ouvi as histórias. Era como voltar 100 anos no tempo; eles nem pareciam saber o que eram os dracs. Levavam uma vida pacata, sem luzes nem cercas. O comandante ofereceu transporte, mas eles agradeceram e disseram que não, e de qualquer modo o Terceiro Batalhão não estava realmente equipado para transportar tanta gente até Kerrville. Foi a coisa mais incrível. Eram sobreviventes, mas não queriam ser resgatados. O comandante do batalhão decidiu deixar um esquadrão para trás e seguir rumo ao norte, até Wichita, onde suas tropas sofreram um ataque em grande estilo e ele perdeu metade dos homens. Os demais conseguiram voltar, mas quando chegaram lá, o lugar estava vazio.
- Como assim, vazio? - perguntou Peter.
Vorhees ergueu as sobrancelhas.
- Vazio. Nenhuma alma, nenhum corpo. Tudo na mais perfeita ordem, o jantar servido nas mesas. E nenhum sinal do esquadrão que eles tinham deixado.
Era uma história intrigante, mas Peter não via o que tinha a ver com o Refúgio.
- Talvez eles tenham decidido procurar um lugar mais seguro - sugeriu.
- Talvez. Ou talvez os dracs simplesmente tenham atacado a cidade tão depressa que eles não tiveram tempo de comer ou lavar os pratos. Na verdade, não sei a resposta. Mas vou lhe dizer outra coisa: há 30 anos, quando Kerrville despachou o Primeiro Batalhão das Forças Expedicionárias, não se podia andar 100 metros sem tropeçar em um drac. Nos melhores dias, o batalhão perdia meia dúzia de homens. Quando a unidade de Coffee desapareceu, as pessoas pensaram que estava tudo acabado. Afinal, o cara era uma lenda. Àquela altura, os expedicionários haviam se dispersado. Mas aqui estão vocês, depois de terem viajado desde a Califórnia. Naquela época vocês não teriam dado 20 passos até a latrina.
Peter olhou para Greer, que concordava com um gesto de cabeça, depois olhou de volta para Vorhees.
- Quer dizer que eles estão morrendo?
- Ah, ainda há um bom número deles, acredite. Você só precisa saber onde olhar. O que estou dizendo é outra coisa. Algo mudou. Nos últimos 60 meses nós estabelecemos duas rotas de suprimentos a partir de Kerrville, uma chegando até Hutchinson, no Kansas, outra passando pelo Novo México e indo até o Colorado. O que nós observamos é que eles agora andam em grupo. E estão se escondendo mais também, usando minas, cavernas, lugares como a tal montanha que vocês encontraram. Às vezes ficam tão apinhados que seria preciso um pé de cabra para separar um do outro. As cidades ainda estão cheias deles, com todos aqueles prédios abandonados, mas é possível andar durante dias por vastas extensões de terreno aberto sem encontrar um só drac.
- E por que Kerrville é segura?
O general franziu a testa.
- Bem, não é. Não totalmente. Na verdade, a maior parte do Texas está totalmente tomada. Laredo é um lugar aonde ninguém mais quer ir, assim como Dallas. Houston, ou o que restou da cidade, parece um pântano de sanguessugas. O lugar está tão poluído por produtos petroquímicos que ninguém sabe como os sacanas conseguem sobreviver lá, mas de algum modo conseguem. San Antonio e Austin foram praticamente destruídas durante a primeira guerra, assim como El Paso. Foi a porra do governo federal, tentando queimar os dracs. Foi isso o que levou à Declaração, mais ou menos na mesma época em que a Califórnia se separou.
- Se separou? - perguntou Peter.
Vorhees assentiu.
- Da União. Declarou independência. Na Califórnia houve um verdadeiro banho de sangue, praticamente uma guerra civil durante um bom tempo, como se os dracs não fossem o verdadeiro inimigo. Mas o Texas ficou perdido no meio da confusão. Talvez os federais não quisessem lutar em duas frentes. O governo estadual tomou todas as bases militares, o que não foi difícil, já que na época o Exército estava desmoronando. Mudaram a capital para Kerrville e se entrincheiraram. Cercaram o lugar com muros, como a sua Colônia, mas a diferença é que nós tínhamos uma reserva gigantesca de petróleo. Há uns 500 milhões de barris em domos de sal subterrâneos perto de Freeport, a antiga Reserva Estratégica de Petróleo dos Estados Unidos. Se você tem petróleo, tem eletricidade. Se tem eletricidade, tem luz. Mais de 30 mil pessoas vivem dentro dos muros. Além disso, temos 20 mil hectares de terra irrigada e uma rota de suprimentos fortificada que liga a cidade a uma refinaria no litoral.
- O litoral - repetiu Peter. A palavra parecia estranha em sua boca. - O oceano?
- O golfo do México. - Vorhees deu de ombros. - Chamá-lo de oceano seria uma afronta. Aquilo é praticamente um lago tóxico. Todas aquelas plataformas marítimas continuam bombeando petróleo, sem falar nos detritos que vêm de Nova Orleans. Além disso, as correntes marítimas empurram um monte de escombros para lá: restos de petroleiros, cargueiros, tudo. Em alguns lugares quase dá para andar no golfo sem molhar os pés.
- Mas mesmo assim seria possível sair de lá em um barco - propôs Peter.
- Teoricamente. Mas não recomendo. O problema é passar pela barreira.
- As minas - explicou Greer.
Vorhees assentiu.
- Há um monte delas. Nos últimos dias da guerra, os países da Otan, nossos supostos amigos, se juntaram em um último esforço para conter a infecção. Bombardearam impiedosamente o litoral, e não somente com explosivos convencionais. Explodiram praticamente tudo o que estava na água. Ainda dá para ver os destroços no litoral. Para arrematar o serviço, puseram minas em toda parte.
Peter se lembrou das histórias que seu pai contava. As histórias do oceano e de Long Beach. Os esqueletos enferrujados dos grandes navios, estendendo-se até onde a vista podia alcançar. Nunca havia pensado em como isso acontecera. Tinha vivido em um mundo sem história, sem causa, um mundo onde as coisas simplesmente eram o que eram. Conversar com Vorhees e Greer era como olhar para páginas em branco de um livro e subitamente ver palavras escritas ali.
f. cu
- E mais ao leste? - perguntou. - Já mandaram alguém para lá?
Vorhees balançou a cabeça.
- Há anos não mandamos. O Primeiro Batalhão das Forças Expedicionárias mandou dois destacamentos para aquelas bandas: um deles chegou até Louisiana, passando por Shreveport, e o outro cruzou o Missouri até chegar a St. Louis. Nunca voltaram. - Ele deu de ombros. - Talvez um dia. Por enquanto, o que temos é o Texas.
- Eu gostaria de visitar Kerrville - disse Peter depois de um momento.
- Você pode fazer isso, Peter. - Vorhess se permitiu um sorriso. - É só pegar aquele comboio.
Precisavam dar uma resposta a Vorhees, mas Peter estava dividido. Finalmente haviam encontrado o Exército. Tinham luzes e segurança. Talvez tivessem de esperar até a primavera, mas Peter acreditava que Vorhees mandaria um destacamento à Colônia para trazer os outros. Tinham encontrado o que procuravam. Seguir adiante parecia um risco desnecessário. E, sem Alicia, parte dele queria aceitar a oferta do general; pelo menos assim acabariam logo com aquilo tudo.
Mas sempre que pensava nisso, Amy logo lhe vinha à cabeça. Alicia está certa: chegar tão perto assim e desistir parecia algo de que ele provavelmente se arrependeria pelo resto da vida. Michael havia tentado captar o sinal pelo rádio na barraca do general, mas o equipamento deles era de curto alcance e não funcionava nas montanhas. Vorhees acabou concordando que não teria motivos para duvidar da história deles, mas ainda acreditava que o sinal poderia significar qualquer coisa.
- Os militares deixaram todo tipo de merda para trás. Os civis também. Acredite, nós já vimos de tudo. Não se pode ir atrás de qualquer pista. - Ele falava como alguém que já tivesse visto mais do que o suficiente. - Essa sua garota, Amy. Talvez tenha 100 anos, como você diz, talvez não. Não tenho motivo para não acreditar, a não ser o fato de que ela aparenta ter 15 anos e parece estar se cagando de medo. Nem sempre dá para explicar essas coisas. Acho que ela não passa de uma pobre alma traumatizada que sobreviveu de algum modo e, por um golpe de sorte, foi parar na colônia de vocês.
- E o transmissor no pescoço dela?
- O que é que tem? - retrucou Vorhees. Seu tom não era de sarcasmo, estava apenas constatando os fatos. - Talvez ela seja uma espiã russa ou chinesa. Por algum tempo achamos que pessoas assim um dia apareceriam, presumindo que haja alguém vivo por lá.
- E há?
Vorhees fez uma pausa; ele e Greer trocaram um olhar de incerteza.
- A verdade é que não sabemos. Algumas pessoas dizem que a quarentena foi bem-sucedida, que o resto do mundo continua lá, funcionando, sem nós. A questão então é por que não ouvimos nada pelo rádio, mas é possível que eles tenham montado algum tipo de barreira eletrônica para além das minas. Outros acreditam, e acho que o major e eu compartilhamos essa opinião, que ninguém sobreviveu. Isso é tudo conjectura, veja bem, mas dizem que a quarentena não foi tão rígida quanto se pensava. Cinco anos depois do surto, os Estados Unidos estavam praticamente despovoados, um chamariz para saques. O depósito de ouro em Fort Knox. O cofre do Federal Reserve em Nova York. Cada museu, joalheria e banco, até a lojinha de empréstimos da esquina, tudo ali dando sopa, sem ninguém para tomar conta.
As palavras de Vorhees eram surpresa para Peter. O general prosseguiu:
- Mas o verdadeiro tesouro era todo aquele equipamento militar largado por aí, inclusive mais de 10 mil armas nucleares: qualquer uma delas poderia mudar o equilíbrio de poder em um mundo sem os Estados Unidos como babá. Francamente, não acho que precisemos nos perguntar se alguém chegou até nosso litoral, mas sim quantos e quem. O mais provável é que tenham levado o vírus com eles.
Peter demorou um momento para absorver tudo aquilo. Vorhees estava dizendo que o mundo estava desabitado, que era um lugar vazio.
- Não acho que Amy esteja aqui para roubar nada - disse Peter finalmente.
- Se quer saber minha opinião, eu também não. Ela é apenas uma criança. Nem imagino como possa ter sobrevivido. Talvez um dia ela conte a você.
- Acho que ela já contou.
- É no que você acredita. Não vou discordar. Mas vou lhe dizer outra coisa: quando era garoto, conheci uma mulher, uma velha maluca que morava em um barraco atrás da nossa casa, um pardieiro caindo aos pedaços. Era enrugada como uma passa, tinha uns 100 gatos e a casa dela fedia como o diabo. Essa mulher dizia ser capaz de ouvir o que os dracs estavam pensando. As crianças zombavam um bocado dela, mas ela também vivia pegando no nosso pé. É o tipo de coisa que faz a gente se sentir mal depois, mas não na época. Ela era o que você chamaria de Andarilha: um dia ela simplesmente apareceu no portão. De vez em quando a gente ouve histórias assim. Principalmente sobre velhos, místicos meio loucos, mas nunca uma jovem como essa garota. Mas a verdade é que essa história não é nova.
Greer se inclinou para a frente. De repente parecia interessado.
- O que aconteceu com ela?
- Com a mulher?
O general coçou o queixo enquanto revirava a memória.
- Pelo que me lembro, ela acabou se enforcando em casa. Como nem Peter nem Greer disseram nada, o general continuou:
- Não se pode pensar demais nessas coisas. Ou pelo menos nós não podemos nos dar a esse luxo. Tenho certeza de que o major concorda comigo. Estamos aqui para conseguir suprimentos, encontrar os esconderijos dos dracs e acabar com o maior número deles que pudermos. Talvez um dia tudo isso signifique alguma coisa. Com certeza não viverei para ver isso.
O general se levantou; Greer também: a conversa havia acabado, pelo menos por ora.
- Enquanto isso, pense na minha oferta, Jaxon. Uma carona para casa. Vocês merecem.
Quando Peter chegou à porta, Greer e Vorhees já estavam inclinados sobre a mesa, onde um grande mapa havia sido desenrolado. Vorhees ergueu o rosto, franzindo a testa.
- Mais alguma coisa?
- É só... - O que ele queria dizer? - Eu estava pensando em Alicia. Gostaria de saber como ela está.
- Ela está muito bem, Peter. Não sei como, mas Coffee ensinou a ela tudo o que precisava saber. Você provavelmente nem a reconheceria.
Ele sentiu uma pontada no peito.
- Gostaria de vê-la.
- Sei que gostaria. Mas não é uma boa ideia por enquanto.
Como Peter não se afastasse da porta, Vorhees perguntou, mal contendo a impaciência:
- É só isso?
Peter balançou a cabeça.
- Por favor, diga a Lish que perguntei por ela.
- Farei isso, filho.
Quando Peter saiu da barraca do general, a tarde estava escurecendo. A chuva havia parado, mas o ar estava completamente saturado de uma umidade gélida. Do lado de fora do muro, uma névoa densa pairava sobre a encosta. O chão estava todo enlameado. Ele apertou o casaco em volta do corpo enquanto atravessava o terreno aberto até o refeitório, onde viu Hollis sentado sozinho junto a uma das mesas compridas, tirando colheradas de feijão de uma velha bandeja de plástico e enfiando-as na boca. Havia mais soldados ao redor, conversando em voz baixa.
Peter pegou uma bandeja e se serviu da panela, indo em seguida até onde Hollis estava sentado.
- Esse lugar tem dono?
- Todos têm - disse Hollis mal-humorado. - Só me deixaram pegar este emprestado.
Peter ocupou um lugar no banco. Sabia o que Hollis queria dizer: eles não tinham nenhuma função ali, nenhuma contribuição a dar. Sara e Amy tinham sido forçadas a permanecer na barraca, mas apesar da relativa liberdade que tinha, Peter se sentia igualmente preso. E nenhum dos soldados queria ter nada a ver com eles. O pressuposto não declarado era de que eles não tinham nada a acrescentar e iriam embora logo.
Colocou Hollis a par de tudo o que ficara sabendo, depois fez a pergunta que lhe corroía por dentro:
- Algum sinal dela?
- Vi saindo hoje cedo, com o esquadrão de Raimey.
A unidade de Raimey, uma entre seis, vinha fazendo patrulhas de reconhecimento de curta duração no sudeste. Quando Peter perguntou a Vorhees quanto tempo eles ficariam fora, o general respondeu, enigmático, que ficariam "o tempo necessário".
- Como ela estava?
- Parecia um deles - resmungou. Depois de um tempo, prosseguiu: - Eu acenei, mas acho que ela não me viu. Sabe como a estão chamando?
Peter balançou a cabeça.
- A Ültima Expedicionária. - Hollis franziu a testa. - Um nome importante, não?
Ficaram em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Eles podiam não ter função ali, mas, para Peter, perder Alicia era como perder um membro do próprio corpo. Ele ficava procurando por ela na mente, direcionando os pensamentos para o lugar onde ela deveria estar. Não era o tipo de coisa com que Peter achava que pudesse se acostumar.
- Acho que eles não acreditam no que contamos sobre Amy - disse Peter.
- Você acreditaria?
Peter balançou a cabeça.
- Acho que não.
Os dois ficaram em silêncio por um minuto.
- Então, o que você acha da evacuação? - perguntou Hollis.
Com toda a chuva, a partida do batalhão fora adiada por mais uma semana.
- Vorhees acha que devemos ir. Pode ser que ele esteja certo.
- Mas você não acha - disse Hollis.
Quando Peter hesitou, Hollis baixou o garfo e o encarou.
- Você me conhece, Peter. O que você decidir está decidido.
- Por que vocês agem como se eu estivesse no comando? Não quero decidir por ninguém.
- Eu não disse isso. Se você ainda não tem certeza, tudo bem. Mas quando chegar a hora, você vai saber. De qualquer modo, temos de esperar até que a chuva pare.
Peter sentiu uma pontada de culpa. Desde que haviam chegado ao posto militar, ele ainda não conseguira dizer a Hollis que sabia sobre ele e Sara. Com Alicia longe, parte dele não queria encarar o fato de que a força que os mantinha juntos estava se dissolvendo. Hollis, Michael e ele estavam alojados em uma barraca ao lado daquela em que Sara e Amy passavam o tempo jogando cartas e esperando que a chuva passasse. Durante duas noites seguidas, Peter havia acordado e visto a cama de Hollis vazia. Mas ele sempre estava lá de manhã, roncando. Peter se perguntava se Hollis e Sara estariam fazendo essa encenação por causa dele ou de Michael, que, afinal de contas, era irmão dela. Quanto a Amy - que nos primeiros dias parecera nervosa e até mesmo demonstrara certo medo dos soldados que lhes traziam as refeições e as acompanhavam até a latrina -, ela agora parecia animada, movida por uma expectativa esperançosa, feliz por estar ali, em segurança, mas ao mesmo tempo pronta para seguir adiante. "Nós vamos embora logo?", ela havia perguntado a Peter, a voz traindo sutilmente a ansiedade. "É que eu gostaria de ver a neve." Peter dissera apenas que não sabia. Teriam de esperar até que a chuva parasse. Mas ao mesmo tempo que falava, sentiu que as palavras tinham gosto de mentira.
Hollis inclinou a cabeça para o prato de Peter.
- Você deveria comer.
Ele empurrou a bandeja de lado.
- Não estou com fome.
Michael se juntou a eles, aproximando-se da mesa com um poncho molhado de chuva e uma montanha de comida na bandeja. Ele parecia ser o único que havia encontrado algo útil para fazer: Vorhees o havia designado para a oficina mecânica, para ajudar a preparar os veículos para a viagem ao sul. Ele pôs a bandeja na mesa, sentou-se diante dela e mergulhou faminto no prato, usando um pedaço de pão para enfiar o feijão na boca com as mãos sujas de óleo.
- O que foi? - perguntou, erguendo os olhos. Em seguida, engoliu um bocado de pão e feijão. - Pela cara de vocês, parece que alguém morreu.
Um dos soldados passou pela mesa deles com uma bandeja. Ele tinha orelhas de abano e a careca brilhosa.
- E aí, Parafuso - disse ele, dirigindo-se a Michael.
Michael se animou.
- Sancho. Tudo bem?
- Bueno. Escuta. O pessoal está perguntando se você não quer ir com a gente mais tarde.
Michael sorriu com a boca cheia de feijão.
- Claro.
- Dezenove horas no refeitório - combinou o rapaz. O soldado olhou para Peter e Hollis como se os notasse pela primeira vez. - Vocês também podem ir, se quiserem.
- Ir aonde?
- Pode deixar que eu explico a eles, Sancho - disse Michael. - Obrigado.
Quando o soldado saiu, Peter estreitou o olhar para Michael.
- Parafuso?
Michael tinha voltado a comer.
- Eles adoram apelidos. Pelo menos é melhor que Circuito - ponderou. Ele limpou o restante do feijão do prato antes de continuar: - Não são pessoas ruins, Peter.
- Eu não disse que eram.
- Qual é o programa da noite? - perguntou Hollis depois de um momento.
- Ah, sim. - Michael deu de ombros, como se o assunto não tivesse importância, o rosto ficando vermelho. - Não sei por que ninguém disse nada a vocês. É noite de cinema.
Às 18h30, todas as mesas haviam sido tiradas do refeitório e os bancos estavam arrumados em fileiras. A chuva havia passado e o ar ficara nitidamente mais frio. Todos os soldados haviam se reunido do lado de fora, falando ruidosamente de um jeito que Peter não vira antes, rindo, contando piadas e bebendo garrafas de uísque caseiro. Ele se sentou com Hollis em um banco no fundo do refeitório, de frente para a tela - uma folha de compensado pintada de branco. Michael estava em algum lugar na frente, junto aos novos amigos da oficina.
Michael se esforçara ao máximo para explicar como o filme funcionaria, mas ainda assim Peter não sabia o que esperar, e achou a ideia vagamente perturbadora, sem base em qualquer lógica física que ele pudesse entender. O projetor, que estava sobre uma mesa grande atrás deles, lançaria imagens em movimento
na tela - mas se isso era verdade, de onde vinham as imagens? Se eram reflexos, de quê? Um comprido fio elétrico se estendia do projetor, saindo pela porta do refeitório e indo até um dos geradores. Peter não pôde deixar de pensar que era um desperdício usar algo tão precioso como combustível para se divertir. Mas quando o major Greer chegou à frente, sob os gritos empolgados de 60 homens, Peter foi contagiado pela empolgação quase infantil da expectativa do grupo.
Greer ergueu a mão para silenciar os homens, o que só os fez gritar mais alto.
- Calem a boca, seus babacas!
- Queremos o conde! - gritou alguém.
Mais uivos e gritos. Parado diante da tela, Greer mal conseguia disfarçar o sorriso. Por um momento, permitira que a dura carapaça de disciplina militar fosse rachada. Peter havia passado tempo suficiente na companhia de Greer para saber que isso não era acidental.
Greer esperou que a plateia se acalmasse por conta própria, depois pigarreou e disse:
- Bem, pessoal, já chega. Primeiro um anúncio. Sei que todos vocês estão adorando a estada nas florestas do norte...
- É isso aí!
Greer franziu a testa na direção do homem que havia falado.
- Se me interromper de novo, Muncey, vai limpar latrinas durante um mês.
- Só quero dizer que me sinto honrado por estar aqui caçando dracs, senhor!
Mais risos. Greer deixou por isso mesmo.
- Como eu estava dizendo, com a melhora do tempo, temos algumas novidades. General?
Vorhees avançou de onde estivera esperando, na lateral do refeitório.
- Obrigado, major. Boa noite, Segundo Batalhão.
Um coro de gritos:
- Boa noite, senhor!
- Parece que teremos alguns dias de tempo bom, por isso estou encerrando nossa estada aqui. Amanhã, às cinco horas, apresentem-se aos líderes dos esquadrões depois do café da manhã. Precisamos desse lugar limpo, com tudo empacotado quando clarear. Assim que o Esquadrão Azul voltar, partiremos para o sul. Alguma pergunta?
Um dos soldados levantou a mão. Peter o reconheceu: era o que havia falado com Michael na hora do almoço, Sancho.
- E os armamentos pesados, senhor? Não vamos conseguir transportá-los nessa lama.
- Foi decidido que por ora ficarão aqui. Levaremos apenas as armas mais leves Os líderes de esquadrão irão repassar isso com vocês. Mais alguma pergunta?
Todos ficaram em silêncio.
- Muito bem. Aproveitem o filme.
Os lampiões foram apagados. No fundo da sala, os rolos de filme começaram a girar no projetor. Então o momento de decisão havia chegado, pensou Peter. Uma semana tinha subitamente se transformado em tempo nenhum. Sentiu alguém se esgueirar no banco ao seu lado: Sara. Amy estava com ela, com um cobertor de lã escura sobre os ombros, por causa do frio.
- Vocês não deveriam estar aqui - sussurrou Peter.
- Uma ova que não - respondeu Sara baixinho. - Acha que eu ia perder isso? A tela foi inundada de luz e apareceram números dentro de círculos, em contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 1. Depois:
CARL LAEMMLE APRESENTA
DRÁCULA
de Bran Stoker
A PARTIR DA PEÇA ADAPTADA POR HAMILTON DEANE & JOHN L. BALDERSTON
UMA PRODUÇÃO DE TOD BROWNING
Um coro de gritos veio dos bancos enquanto, inexplicavelmente, a imagem de uma carruagem puxada por cavalos em disparada montanha acima enchia a tela. A projeção era inteiramente desprovida de cor, toda composta de tons de cinza - a paleta de um sonho quase esquecido.
- Dracs - disse Hollis. Em seguida se virou para Peter, franzindo a testa. - Drácula?
- Som! - gritou um dos soldados, seguido pelos outros. - Som! Som! Som! O soldado que operava o projetor verificava freneticamente os cabos e girava os botões. Ele foi até a frente correndo e se ajoelhou perto de uma caixa posicionada sob a tela.
- Só um instante, acho que é...
Ouviu-se um forte estalo de estática. Hipnotizado pela imagem em movimento na tela - agora a carruagem estava entrando em um povoado, e pessoas vinham correndo ao seu encontro -, Peter deu um pulo no assento. Mas então percebeu o que era a caixa embaixo da tela: o ruído dos cascos dos cavalos, o rangido das molas da carruagem e as vozes dos aldeões falando uns com os outros em uma língua que ele nunca ouvira. As imagens eram mais do que figuras, mais do que luz: o som as tornava vivas.
Na tela, um homem de chapéu branco acenou com a bengala para o cocheiro. Quando ele abriu a boca para falar, os soldados recitaram sua fala a uma só voz:
"Não tire minha bagagem, seguirei para o passo Borgo esta noite!"
Uma explosão de risos generalizada. Peter olhou para Hollis, mas os olhos do amigo, refletindo fascinados a luz da tela, estavam vidrados nas imagens que transcorriam diante deles. Olhou para Sara e Amy. As duas estavam do mesmo jeito.
Na tela, um homem gordo de bigode falava com o cocheiro da carruagem, um borbulhar de sons sem significado. Ele se voltou para o primeiro sujeito, de chapéu, as palavras ecoadas pela voz dos soldados:
"O cocheiro. Ele está com... medo. É um bom rapaz. Pediu que perguntasse ao senhor se não poderia esperar para ir depois do alvorecer."
O primeiro homem balançou a bengala com arrogância, rejeitando claramente a sugestão.
"Sinto muito, mas uma carruagem estará à minha espera no passo Borgo à meia-noite."
"Passo Borgo? Carruagem de quem?"
"Ora, do conde Drácula."
Os olhos do homem de bigode se arregalaram de terror.
"Do conde... Drácula?"
- Não faça isso, Renfield! - gritou um soldado, e todo mundo gargalhou.
Era uma história, percebeu Peter. Uma história, como nos velhos livros do Abrigo que a Professora lia para eles na roda quando eram pequenos. As pessoas na tela pareciam estar fingindo: suas expressões e movimentos exagerados faziam lembrar o modo como a Professora representava as vozes dos personagens dos livros. O homem gordo de bigode sabia algo que o sujeito de chapéu não sabia: havia perigo adiante. Apesar do aviso, o viajante retomou a jornada, sob mais gritos de zombaria dos soldados. No escuro, a carruagem subiu uma estrada íngreme, aproximando-se de um enorme castelo com torres e muralhas, banhado por um luar sinistro. O que havia adiante era óbvio: o homem de bigode tinha mais ou menos explicado. Vampiros. Era uma palavra antiga, mas Peter a conhecia.
Esperou que virais aparecessem, pulando sobre a carruagem e despedaçando o viajante, mas isso não aconteceu. A carruagem passou pelo portão; o homem, Renfield, desceu e descobriu que estava sozinho: o cocheiro havia sumido. Uma porta rangeu, abrindo-se por conta própria e convidando-o a entrar, e ele se viu em uma enorme sala escura que mais parecia uma caverna. Demonstrando uma inocência quase risível e aparentemente inconsciente do perigo, Renfield foi andando para trás até se aproximar de uma enorme escadaria, ao mesmo tempo que uma figura de capa preta descia os degraus com uma vela na mão. Quando este chegou embaixo, Renfield se virou, os olhos se arregalando com um horror tão grande que era como se tivesse tropeçado em um bando de fumaças, e não em um homem de capa.
"Eu sou... Drrrrrra-culaaaaa."
Outra explosão de uivos, assobios e gritos sacudiu a barraca. Um dos soldados sentado nas primeiras fileiras se levantou.
- Ei, conde, tome isso!
Peter viu uma lâmina de aço atravessar voando o feixe de luz que saía do projetor: a ponta da faca encontrou a madeira da tela com um som seco, cravando-se no peito do homem de capa, que, surpreendentemente, pareceu não notar.
- Porra, Muncey! - gritou o soldado que operava o projetor.
- Tire logo essa faca! - gritou outro homem. - Está atrapalhando!
Mas as vozes não eram de raiva; todos haviam achado graça daquilo. Sob uma tempestade de gritos agudos, Muncey foi até a tela, as imagens passando em cima dele, e arrancou a faca da madeira. Ele se virou, rindo, e fez uma pequena reverência.
Apesar de tudo - das interrupções, dos risos e do tom de zombaria dos soldados, que antecipavam a plenos pulmões todas as falas -, Peter se viu rapidamente absorvido pela história. Sentiu que alguns pedaços do filme estavam faltando, a narrativa pulando em espasmos confusos: de repente a cena do castelo era cortada e aparecia um navio no mar, e depois um lugar chamado Londres. Era uma cidade, ele percebeu. Uma cidade do Tempo de Antes. O conde - que era alguma espécie de viral, embora não parecesse - estava matando mulheres. Primeiro uma garota que entregava flores na rua, depois uma jovem dormindo em sua cama, com uma grande cabeleira encaracolada e um rosto tão perfeito que parecia uma boneca. Os movimentos do conde eram comicamente lentos, assim como os das vítimas. Todos no filme pareciam presos em um sonho, incapazes de se moverem em uma velocidade normal, às vezes mal conseguiam se mexer. O próprio Drácula tinha um rosto pálido, quase feminino, os lábios pintados,
arqueados como as asas de um morcego. Sempre que ele estava prestes a morder alguém, a imagem na tela parecia congelar e, por alguns segundos, tudo o que se via eram os olhos do vampiro brilhando como chamas de velas.
Parte de Peter sabia que tudo aquilo era falso, nada que se devesse levar a sério. No entanto, à medida que a história se desenrolava, ele se viu preocupado com a moça, Mina - a filha do Dr. Seward, dono do sanatório, ou o que quer que fosse aquilo, e cujo marido, Harker, não parecia ter ideia de como ajudá-la, sempre parado e perdido, com as mãos nos bolsos e uma expressão de impotência. Ninguém sabia o que fazer, exceto Van Helsing, o caçador de vampiros. Não era como nenhum caçador que Peter já vira: era um velho que usava óculos de lentes grossas e fazia discursos longos e presunçosos que eram objeto de mais chacota por parte dos soldados. "Cavalheiros, estamos lidando com o impensável!" "As superstições de amanhã podem ser a realidade científica de hoje!" Embora gritos de zombaria se seguissem a cada uma de suas falas, Peter achava que boa parte do que Van Helsing dizia era verdade, principalmente a parte sobre os vampiros serem "criaturas cuja vida fora prolongada de modo não natural". Para ele, essa era a descrição fiel de um fumaça. Pegou-se imaginando se o truque de Van Helsing com o espelho da caixa de jóias não seria outra versão do que acontecera com a frigideira em Las Vegas, e ficou intrigado quando o velho afirmou que um vampiro "precisava dormir todas as noites em seu solo natal". Seria por isso que aqueles que haviam sido tomados da Colônia sempre voltavam para casa? Às vezes o filme parecia ser quase um manual de instruções. Peter se perguntava se tudo aquilo, em vez de uma história inventada, não seria o relato de algo que realmente acontecera.
A garota, Mina, foi tomada. Harker e Van Helsing perseguiram o vampiro até seu covil, um porão úmido. Peter percebeu o rumo que a história estava seguindo: eles teriam de ministrar a Misericórdia. Os dois caçariam Mina, e então Harker, o marido dela, cumpriria sua terrível missão. Peter se preparou para o desfecho da história. Os soldados finalmente haviam ficado quietos, colocando de lado as brincadeiras enquanto eram envolvidos, mesmo contra a vontade, pelo desenrolar inevitável e sinistro da trama.
Não viu o fim. Um soldado entrou correndo no refeitório.
- Acendam as luzes! Aproximação no portão!
Todos imediatamente esqueceram o filme e saíram correndo das cadeiras. Armas surgiam de todos os lados: pistolas, fuzis, facas. Na corrida para chegar à porta, alguém tropeçou no fio do projetor, lançando a sala na escuridão. Os soldados empurravam, gritavam, os comandantes bradavam suas ordens.
Peter ouviu tiros de fuzil. Enquanto acompanhava a multidão para fora, viu o rastro iluminado de dois sinalizadores voando acima dos muros em direção ao campo enlameado do outro lado do portão. Michael e Sancho passaram correndo por ele. Peter agarrou Michael pelo braço.
- O que houve? O que está acontecendo?
- É o Esquadrão Azul! Venha! - respondeu Michael, sem diminuir o passo.
Uma organização súbita emergira do caos no refeitório: todos sabiam o que fazer. Os soldados haviam se dividido em grupos distintos, alguns subindo rapidamente as escadas para a passarela no topo do perímetro, outros ocupando posições atrás de uma barricada de sacos de areia do lado de dentro do portão. Mais homens giravam os holofotes para apontá-los em direção ao campo lamacento do lado de fora.
- Aí vêm eles!
- Abram agora! - gritou Greer da base da cerca. - Abram a porcaria do portão!
Uma rajada ensurdecedora de tiros de cobertura ecoou da passarela enquanto
seis soldados saltavam para o pátio, segurando as cordas que movimentavam as dobradiças do portão com um sistema de roldanas. Peter ficou momentaneamente fascinado pela graça coordenada de tudo aquilo, inebriado pela beleza ensaiada da sincronia de movimentos. Enquanto os soldados desciam, o portão começou a se abrir, revelando o terreno iluminado do outro lado do muro e um grupo de figuras correndo em direção ao posto militar. Alicia encabeçava um grupo de seis soldados que chegaram ao portão em uma corrida louca, disparando rajadas de tiros para trás. Peter não conseguia ver se estavam sendo perseguidos por virais. A cena foi rápida e barulhenta demais, e então, em um instante, estava tudo terminado: o portão havia se fechado atrás deles.
Peter correu até Alicia, que estava de quatro na terra, ofegante, ao lado dos companheiros. A tinta pingava do seu rosto, a cabeça careca reluzindo como metal polido sob os holofotes.
Enquanto ela ficava de joelhos, os olhos dos dois se encontraram rapidamente.
- Peter, dê o fora daqui.
Os últimos tiros esparsos foram ouvidos por cima do muro. Os virais tinham se espalhado, afastando-se das luzes.
- Estou falando sério - disse ela com uma expressão feroz no rosto. Cada parte do seu corpo parecia retesada. - Ande, saia.
Um grupo se apinhou ao redor dela.
- Onde está Raimey? - gritou Vorhees, abrindo caminho entre os homens. - Onde, diabos, está Raimey?
- Morto, senhor.
Vorhees se virou para onde Alicia estava ajoelhada na lama. Quando viu Peter, seus olhos chamejaram de raiva.
- Jaxon, seu lugar não é aqui.
- Nós encontramos, senhor - disse Alicia. - Demos de cara com ela. Um verdadeiro ninho de vespas. Deve haver centenas de dracs.
Vorhees acenou para Hollis e os outros.
- Todos vocês, de volta a seus alojamentos, agora.
Sem esperar resposta, ele se virou de novo para Alicia.
- Soldada Donadio, continue.
- A mina, general - disse ela. - Nós encontramos a mina.
Durante todo o verão, Vorhees estivera procurando pela entrada de uma antiga mina de cobre encravada em algum lugar nas montanhas. Aparentemente era um dos esconderijos dos virais, uma espécie de ninho onde dormiam. Usando mapas geológicos e rastreando os movimentos das criaturas com as redes, tinham concentrado a busca no quadrante sudeste, uma área de aproximadamente 20 quilômetros quadrados acima do rio. A missão do Esquadrão Azul era uma última tentativa de localizá-la antes da evacuação. Segundo Michael, eles a haviam encontrado por puro acaso logo antes do pôr do sol: um grito e, de repente, o soldado que encabeçava o grupo havia desaparecido no que antes parecera uma simples depressão na terra. O primeiro viral emergiu, pegando mais dois homens antes que pudessem atirar. Os demais soldados conseguiram formar uma linha de tiro, porém mais virais saíram da toca como um enxame, a ânsia de sangue sobrepujando sua aversão à luz do dia. Assim que o sol se pusesse, a unidade com certeza seria dominada, e com isso a localização da mina seria perdida. Os sinalizadores que eles carregavam lhes dariam mais alguns minutos, mas só isso. Decidiram então se dividir em dois grupos: o primeiro fugiria correndo, enquanto o segundo, comandado pelo tenente Raimey, cobriria a fuga, contendo as criaturas o máximo de tempo que pudesse, até que o sol baixasse e os sinalizadores acabassem, e então seria o fim.
A noite se encheu do som das atividades no posto militar. Peter podia sentir a mudança: os dias de espera e de missões de reconhecimento pela floresta haviam acabado. Agora os homens de Vorhees se preparavam para uma batalha. Michael tinha sumido: estava ajudando a preparar os veículos que levariam os explosivos - tambores de óleo diesel e nitrato de amónio detonados por granadas, que chamavam de "descarga de fogo". Eles seriam inseridos na mina por um guincho. A explosão sem dúvida mataria muitos virais lá dentro. O problema era que ninguém sabia por onde os sobreviventes sairiam. A topografia do terreno podia ter mudado em 100 anos, e Vorhees achava possível que um terremoto ou deslizamento de terra tivesse aberto outro ponto de acesso. Enquanto um esquadrão armava os explosivos, os demais homens se esforçariam ao máximo para descobrir alguma outra abertura. Com sorte, todos estariam em posição quando a bomba explodisse.
As luzes foram desligadas quando o dia cinzento amanheceu. A temperatura havia caído durante a noite e uma crosta de gelo cobria as poças no pátio. Enquanto os veículos eram carregados, os soldados de Vorhees se reuniram junto ao portão, exceto pelo pequeno esquadrão que ficaria cuidando do posto.
Alicia tinha passado várias horas na barraca de Vorhees. Era ela quem havia guiado os sobreviventes de volta, usando a rota que tinham seguido quando chegaram, ao longo do rio. Agora ela e o general estavam na frente do grupo, confabulando junto a um mapa aberto sobre o capô de um Humvee. A cavalo, Greer supervisionava a arrumação dos suprimentos.
Olhando de longe, Peter sentiu uma inquietação crescente, mas também um forte fascínio, tão instintivo quanto respirar. Durante dias ficara dividido, sabendo que deveria seguir adiante, mas ao mesmo tempo incapaz de abandonar Alicia. Agora, enquanto olhava os soldados terminando os preparativos junto ao portão, Alicia no meio deles, um único desejo o impulsionava: os homens de Vorhees iam para a guerra; ele queria fazer parte dela.
Quando Greer se aproximou, Peter pulou diante do seu cavalo.
- Major, gostaria de falar com o senhor.
O rosto e a voz de Greer pareciam distraídos, apressados. Ele olhava para além da cabeça de Peter enquanto falava:
- O que foi, Jaxon?
- Eu gostaria de ir junto, senhor.
Greer pousou os olhos nele por um momento.
- Não podemos levar civis.
- Vocês podem me colocar na retaguarda. Deve haver alguma coisa que eu possa fazer. Eu posso, sei lá, ir como batedor, ou algo assim.
O olhar de Greer se voltou para a traseira de um dos caminhões, onde um grupo de quatro homens - Michael era um deles - acomodava os tambores de óleo na carroceria com a ajuda de guinchos.
- Sargento - gritou Greer para um homem chamado Withers. - Assuma o comando. E Sancho, cuidado com essa corrente, está toda enrolada.
- sim, senhor. Desculpe, senhor.
- isso são bombas, filho. Pelo amor de Deus, tenha cuidado - gritou. Depois, voltando-se para Peter: - Venha comigo.
O major apeou e levou Peter para um lugar onde pudessem conversar sem serem ouvidos.
- Sei que está preocupado com ela - disse ele. - Eu posso entender. Se dependesse de mim, eu provavelmente deixaria você vir.
- Talvez se falássemos com o general...
- Isso não vai ser possível. Sinto muito - disse, uma súbita expressão de indecisão surgindo em seu rosto. - O que você me contou sobre a garota, Amy. Há algo que você deveria saber.
Peter o encarou. Greer balançou a cabeça, olhando para o outro lado.
- Não acredito que estou dizendo isso. Talvez eu tenha ficado um tempo longo demais nessa floresta. Como é que se diz? Quando você acha que uma coisa já aconteceu antes, como se tivesse sonhado. Isso tem um nome.
- Como?
Greer continuou falando sem olhar para ele.
- Déjà vu. É assim que se chama. Tenho sentido isso desde que encontrei vocês. Um enorme déjà vu. Sei que agora não parece, mas fui uma criança muito franzina, ficava doente o tempo todo. Meus pais morreram quando eu era pequeno, não cheguei a conhecê-los direito, de modo que talvez a causa disso seja o fato de eu ter crescido em um orfanato com 50 crianças, todo aquele catarro e mãos sujas. Eu pegava praticamente todas as doenças que apareciam. E você não ia acreditar nos delírios febris que eu tinha. Nada que eu pudesse descrever realmente, ou mesmo lembrar. Era apenas uma sensação, como estar perdido no escuro durante mil anos. Mas o negócio é que eu não estava sozinho. Isso era parte dos sonhos, também. Eu não pensava nisso havia um bom tempo, até que vocês apareceram. Aquela garota. Aqueles olhos dela. Acha que não notei? Meu Deus, é como se eu tivesse voltado no tempo, quando tinha 6 anos e meu cérebro ardia em febre. Estou dizendo, era ela. Sei que parece loucura, mas ela estava comigo nos sonhos.
Um silêncio cheio de expectativa pairou sobre as últimas palavras dele. Peter sentiu um tremor de reconhecimento.
- O senhor contou isso a Vorhees?
- Está brincando? O que eu iria dizer? Diabos, filho, eu nem acredito que estou contando a você.
Greer puxou as rédeas do cavalo e montou de novo na sela. A conversa havia terminado.
- É só isso. Mas se você quiser saber por que não pode ir conosco, a resposta é simples: nós não vamos voltar. O Esquadrão Vermelho tem ordens de levar vocês até Roswell. Essas são as ordens oficiais. Extraoficialmente, a verdade é que se decidirem ir embora, eles não vão impedir.
Greer bateu os calcanhares no lombo do animal e voltou a seu posto. Ouviu-se um rugido de motores e o portão se abriu. Peter ficou olhando enquanto os homens - cinco esquadrões, além dos cavalos e veículos - passavam lentamente por ele. Alicia estava em algum lugar no meio daquele mar de soldados, pensou Peter, provavelmente na frente, com Vorhees. Mas seus olhos não conseguiram encontrá-la.
Algum tempo depois que as fileiras de homens haviam terminado de passar, Michael apareceu ao lado dele.
- Ele não deixou você ir, né?
Peter só pôde balançar a cabeça.
- Nem eu - disse Michael.
SESSENTA E UM
Esperaram todo aquele dia e o outro. Com um único esquadrão para vigiar os muros, o acampamento parecia estranho, vazio e solitário. Agora Amy e Sara estavam livres para andar por onde quisessem, mas não havia aonde ir e nada para fazer a não ser esperar. Amy havia caído em um silêncio tão profundo que Peter começou a imaginar se não teria sonhado com a voz dela. Ela passara o dia todo sentada em sua cama na barraca, parecendo estar intensamente concentrada. Quando Peter não aguentou mais, perguntou a ela o que estava acontecendo lá fora.
A resposta de Amy foi vaga. Ela parecia olhar para ele sem vê-lo.
- Eles estão perdidos. Perdidos na floresta.
- Quem, Amy? Quem está perdido?
Só então ela pareceu notá-lo, voltar ao presente e seus acontecimentos.
- Nós vamos embora logo, Peter? - perguntou ela de novo. - Porque eu gostaria de ir logo. Para fazer os anjos de neve - concluiu, com um sorriso vago.
Era mais do que enigmático, era de enlouquecer. Pela primeira vez Peter sentiu raiva dela. Nunca se sentira tão impotente, tolhido por sua própria hesitação e pelo atraso que isso causava. Deveriam ter partido dias antes. Agora estavam presos. Partir sem saber se Alicia estava bem era impossível.
Saiu irritado da barraca das mulheres e voltou a caminhar sem rumo, preenchendo as horas inúteis. Não se esforçava nem mesmo para falar com os outros, mantinha distância. O céu estava límpido e, a leste, os picos nevados das montanhas cintilavam ao sol. Peter começava a se perguntar se algum dia conseguiriam partir.
Até que, na manhã do terceiro dia, ouviram o som de motores. Peter correu até a cerca e subiu a escada que levava à passarela. O líder do esquadrão, Eustace, olhava para o sul através de um binóculo. Era o único que falava com eles, mas mantinha essas interações breves e objetivas.
- São eles - disse Eustace. - Pelo menos alguns.
- Quantos? - perguntou Peter.
- Parecem dois esquadrões.
Os homens que entraram pelo portão estavam imundos e exaustos. Tudo indicava que haviam sido derrotados. Alicia não estava entre eles. O major Greer vinha no final da fila, ainda montado em seu cavalo. Hollis e Michael tinham saído correndo da barraca. Greer apeou, parecendo atordoado, e tomou um longo gole d'água antes de falar.
- Somos os primeiros a chegar? - perguntou.
Ele não parecia saber direito onde estava.
- Onde está Alicia? - perguntou Peter.
- Meu Deus, que confusão! A porra da colina inteira desmoronou. Eles vieram de toda parte. Fomos totalmente cercados.
Peter não conseguiu se conter. Agarrou Greer pelos ombros, forçando o major a encará-lo.
- Droga, diga onde ela está!
- Não sei, Peter. Sinto muito. Todo mundo se separou no escuro. Ela estava com Vorhees. Esperamos um dia inteiro no ponto de encontro, mas eles não apareceram.
Mais espera. Aquilo era insuportável, enlouquecedor. Peter nunca se sentira tão impotente. Pouco tempo depois ouviu um grito vindo do muro.
- Mais dois esquadrões!
Peter estava sentado no refeitório, imerso em uma névoa de preocupação. Saiu correndo e chegou ao portão quando o primeiro caminhão entrava. Era o que havia levado os explosivos. O guincho ainda estava preso à carroceria, e o gancho vazio balançava. Vinte e quatro homens, três esquadrões reduzidos a dois. Peter procurou Alicia no meio dos rostos entorpecidos.
- Soldada Donadio! Alguém sabe o que aconteceu com a soldada Donadio?
Ninguém sabia. Todos contavam a mesma história: a explosão, o chão se abrindo embaixo deles, o enxame de virais, os homens se espalhando, perdidos no escuro.
Alguns diziam ter visto Vorhees morrer; outros, que ele estava com o Esquadrão Azul. Mas ninguém tinha visto Alicia.
O dia se arrastou. Peter andava de um lado para o outro no pátio, sem falar com ninguém. Como oficial superior, Greer agora estava no comando. Falou brevemente com Peter, disse que não devia perder a esperança. O general sabia o que estava fazendo e, se existia uma pessoa capaz de trazer sua unidade de volta com vida, essa pessoa era Curtis Vorhees. Mas Peter podia ver no rosto de Greer que ele também começara a duvidar de que alguém mais voltaria.
Suas esperanças acabaram quando a noite chegou. Retornou à barraca, onde Hollis e Michael jogavam cartas. Os dois olharam para cima quando ele entrou.
- Só estamos matando o tempo - disse Hollis.
- Eu não falei nada.
Peter se deitou na cama e puxou o cobertor, sem ao menos se incomodar em tirar as botas enlameadas. Estava imundo e completamente exausto. As últimas horas lhe pareciam irreais, como se ele estivesse em uma espécie de transe. Mal havia comido durante dias, mas nem conseguia pensar em comer. Um vento gelado balançava as paredes da barraca. Seu último pensamento antes de dormir foi nas palavras de Alicia: Dê o fora daqui.
Foi acordado por um grito distante que o fez dar um salto. Hollis enfiou o rosto para fora da barraca.
- Há alguém no portão.
Chutou o cobertor e saiu correndo para a claridade dos holofotes. Suas dúvidas se transformaram em certeza e, quando estava na metade do pátio, soube o que o esperava.
Alicia. Alicia tinha voltado.
Ela estava junto ao portão. A primeira impressão de Peter foi de que ela estivesse sozinha. Mas quando abriu caminho entre os homens reunidos, Peter viu um segundo soldado ajoelhado na terra. Era Muncey. Os pulsos dele estavam amarrados à frente do corpo. Sob o clarão dos holofotes, Peter viu que o rosto dele estava coberto de suor. Ele tremia, mas não de frio; uma das mãos estava enrolada em um trapo encharcado de sangue.
Os dois agora estavam rodeados por soldados, todos mantendo distância. Um silêncio reverente havia baixado. Greer avançou até Alicia.
- O general?
Ela balançou a cabeça: não.
O soldado estava segurando a mão sangrenta longe do corpo, respirando rapidamente. Greer se agachou diante dele.
- Cabo Muncey.
Sua voz era suave, tranquilizadora.
- Sim, senhor. - Muncey lambeu os lábios com a língua vagarosa. - Desculpe, senhor.
- Tudo bem, filho. Você se saiu muito bem.
- Não sei como não acertei o drac que fez isso. Ele me mastigou como um cachorro antes que Donadio o pegasse. - ofegou. Depois, erguendo a cabeça em direção a Alicia, prosseguiu: - Pelo modo como luta, ninguém jamais diria que ela é mulher. Espero que não se importe, senhor, mas pedi a ela que me amarrasse e me trouxesse para casa.
- Você fez bem, Muncey. É seu direito como soldado das Forças Expedicionárias.
Então o corpo de Muncey estremeceu, uma série de três espasmos fortes. Seus lábios se contraíram, mostrando os espaços vazios entre os dentes. Peter percebeu os soldados se retesando: todos ao redor baixaram as mãos para as facas em um movimento rápido, inconsciente. Mas, agachado diante do soldado ferido, Greer não se abalou.
- Bem, acho que é isso - disse Muncey quando os espasmos haviam passado.
Peter não viu medo nos olhos do soldado, só uma aceitação calma. Toda a cor havia sumido de seu rosto, como água que escorre por um ralo. Ele levantou as mãos amarradas para enxugar o suor da testa com o trapo ensanguentado.
- A coisa toma a gente, exatamente como dizem. Se não for incomodar, gostaria que fosse com a faca, major. Quero sentir esse negócio saindo de mim.
Greer assentiu.
- Você é um bom homem, Muncey.
- Gostaria que fosse pela mão de Donadio, se ela concordar. Minha mãe sempre dizia que devemos dançar com quem nos levou para o baile, e ela fez a gentileza de me trazer de volta. Ela não precisava ter feito isso.
Agora seus olhos estavam piscando, o suor escorrendo pela fronte.
- Só queria dizer que foi uma honra servir com o senhor. Com o general também. Eu queria vir para casa para dizer isso. Mas acho melhor o senhor agir logo, major.
Greer ficou de pé e recuou. Todos assumiram posição de sentido. Ele ergueu a voz para todos:
- Este homem é um soldado das Forças Expedicionárias! Chegou sua hora de fazer a viagem! Todos saudando o cabo Muncey. Hip hip...
- Hurra!
- Hip hip...
- Hurra!
- Hip hip...
- Hurra!
Greer desembainhou sua faca e a entregou a Alicia. O rosto dela estava composto, desprovido de qualquer emoção: o rosto de um soldado que tem um dever a cumprir. Ela segurou a faca e se ajoelhou diante de Muncey, que havia abaixado a cabeça, esperando, as mãos amarradas pendendo no colo. Alicia aproximou a cabeça de Muncey até que a testa dos dois estivesse se tocando. Peter viu que os lábios dela se moviam, murmurando palavras calmas para ele. Não se sentiu horrorizado, apenas perplexo. O momento pareceu congelar no tempo: não fazia parte de um fluxo de eventos, havia se tornado fixo e singular - uma linha que, depois de atravessada, jamais poderia ser cruzada de volta. O fato de Muncey morrer era apenas parte daquele instante.
A faca fez seu trabalho quase sem que Peter percebesse o que havia acontecido: quando Alicia abaixou a mão, ela estava enterrada até o cabo no peito de Muncey. Os olhos dele estavam arregalados e úmidos; a boca, aberta. Agora Alicia estava segurando a cabeça dele com ternura, como uma mãe faria com o filho.
- Vá em paz, Muncey - disse ela. - Vá em paz.
Um pouco de sangue havia subido aos lábios dele. Ele respirou mais uma vez, prendendo o ar no peito, como se não fosse ar, e sim algo muito mais importante: um doce gosto de liberdade, de todas as preocupações retiradas, de ter tudo concluído. Então sua vida o deixou e ele tombou para a frente. Alicia recebeu-o nos braços, suavizando a queda do corpo no chão lamacento.
Peter não a viu durante os dois dias seguintes. Pensou em lhe mandar uma mensagem por Greer, mas não sabia o que dizer. Seu coração conhecia a verdade: Alicia se fora. Havia escolhido uma vida da qual ele não fazia parte.
Tinham perdido um total de 45 homens, inclusive o general Vorhees. Era razoável pensar que alguns não estavam mortos, mas haviam sido tomados. Os homens haviam falado em mandar grupos de busca, mas Greer não permitiu. O tempo deles estava se esgotando. Se quisessem encontrar o Terceiro Batalhão, precisavam se apressar. Setenta e duas horas, anunciara o major, e partiriam.
No final do segundo dia o acampamento estava quase todo desfeito. Comida, armas, equipamentos e a maior parte das barracas maiores - à exceção do refeitório - estavam empacotados e prontos para a partida. As luzes ficariam, assim como os tanques de combustível, agora quase vazios, e um Humvee. O batalhão viajaria para o sul em dois grupos: um pequeno número de batedores iria a cavalo sob o comando de Alicia, e o restante do grupamento seguiria nos caminhões ou a pé. Agora Alicia era uma oficial. Com tantos homens perdidos - inclusive a maioria dos líderes de esquadrões, exceto dois -, o número de oficiais havia diminuído substancialmente, e Greer lhe dera uma promoção por seu destaque na batalha. Agora ela era a tenente Donadio.
Greer havia revogado a ordem de manter Sara e Amy segregadas; uma pessoa era uma pessoa, dissera ele, e a essa altura não havia motivo para discriminação. Muitos homens tinham sido feridos no ataque. A maioria sofrera cortes, arranhões ou distensões; um soldado havia quebrado a clavícula; e outros dois, Sancho e Withers, tinham queimaduras graves por causa da explosão. Os dois médicos do batalhão haviam sido mortos, então Sara, com a ajuda de Amy, passara a cuidar dos feridos, preparando-os do melhor modo possível para a viagem. Peter e Hollis foram designados para as equipes encarregadas de separar o conteúdo de duas grandes barracas de suprimentos, empacotando o que seria levado e armazenando o restante em uma espécie de depósito subterrâneo. Michael praticamente se mudara para a oficina; dormia no alojamento dos mecânicos e comia com eles. Ninguém mais o chamava de Michael: era Parafuso.
Acima de tudo, a questão da evacuação pendia como uma faca sobre a cabeça de Peter. Ele ainda não dera a resposta a Greer, porque simplesmente não havia decidido o que fazer. Os outros - Sara, Hollis e Michael, e até mesmo Amy, com seu jeito quieto e introvertido - continuavam esperando, dando-lhe espaço para decidir. O fato de não dizerem nada sobre o assunto tornava isso ainda mais óbvio. Ou talvez simplesmente o estivessem evitando. De qualquer modo, deixar o batalhão agora parecia mais arriscado do que nunca. Greer o alertara, dizendo que, com a explosão da mina, a floresta estaria apinhada de virais; talvez fosse melhor esperar e voltarem no verão seguinte. Ele falaria com seus superiores, tentaria convencê-los a montar uma expedição. O que quer que houvesse nas montanhas, dissera Greer, já estava lá havia muito tempo. Sem dúvida poderia esperar mais um ano.
Dois dias depois da volta de Alicia, Peter entrou na barraca e encontrou Hollis sozinho, sentado na cama. Tinha um agasalho de inverno sobre os ombros e urti violão nos braços.
- Onde achou isso?
Hollis estava tocando algumas notas preguiçosamente, o rosto concentrado Ergueu os olhos e deu um sorriso através da barba farta, que agora subia até a metade de suas bochechas.
- Um dos mecânicos me emprestou. É amigo de Michael.
Ele soprou as mãos para esquentá-las e tocou mais algumas notas, esboçando uma melodia que Peter não conseguiu identificar direito.
- Faz tanto tempo, que achei que eu tinha esquecido como tocar.
- Não sabia que você tocava.
- Na verdade, não sei muito bem. Arlo era quem tocava de verdade.
Peter se sentou na cama diante dele.
- Vamos, toque alguma coisa.
- Não me lembro de quase nada. Só uma música ou duas.
- Então toque uma delas. Qualquer coisa.
Hollis deu de ombros, mas Peter viu que ele ficou feliz com o pedido.
- Não diga que não avisei.
Hollis ajustou as cordas, testou-as e depois começou. Peter demorou um momento para perceber que estava escutando uma das músicas que Arlo inventava e costumava tocar para os Pequenos no Abrigo. De algum modo, ela agora soava diferente. Era a mesma canção, mas não estava igual. Com o dedilhar de Hollis, a música parecia mais profunda e mais rica, imbuída de uma dor triste. Peter se deitou na cama e deixou que as notas o impregnassem. Quando a melodia acabou, ainda podia senti-la dentro de si, como um eco de saudade no peito.
- Foi bonito - disse ele. Em seguida respirou fundo, fixando o olhar no teto frouxo da barraca. - Você e Sara deviam pegar esse comboio. Michael também. Duvido que ela vá sem ele.
Hollis ficou calado. Peter então se apoiou nos cotovelos e encarou o amigo.
- Tudo bem, Hollis. Sério. É isso mesmo o que quero que vocês façam.
- O que Vorhees disse quando chegamos aqui sobre os homens dele, sobre o juramento que eles fizeram. Ele estava certo. Não sirvo mais para isso, se é que um dia servi. Eu a amo de verdade, Peter.
- Não precisa explicar. Fico feliz por vocês dois. Fico feliz por vocês terem essa chance.
- O que você vai fazer?
A resposta era óbvia. Mesmo assim precisava ser dita.
- O que viemos fazer.
Era estranho. Peter estava triste, mas não era só isso o que sentia. Estava em paz. Agora a decisão era passado, ele estava livre dela. Imaginou se seu pai teria se sentido assim na noite antes da última cavalgada. Olhando o teto da barraca que balançava ao vento, lembrou-se das palavras de Theo naquela noite na usina elétrica, quando todos eles estavam sentados em volta da mesa na sala de controle, tomando uísque caseiro. "Nosso pai não saiu para se entregar. Quem pensa assim não sabe absolutamente nada sobre ele. Ele foi porque simplesmente não suportava mais não saber, nem mais um minuto." Era a paz da verdade que Peter sentia, e ela o satisfez.
Podia ouvir o rugido dos geradores e os gritos dos homens de Greer no muro, montando guarda lá fora. Mais uma noite e tudo ficaria em silêncio.
- Não existe nada que eu possa fazer para que você mude de ideia, não é? - perguntou Hollis.
Peter balançou a cabeça:
- Só quero que me faça um favor.
- O que você quiser.
- Não me siga.
Encontrou o major na antiga barraca de Vorhees. Mal haviam falado com ele desde o retorno de Alicia; um peso parecia ter caído sobre Greer desde o ataque malsucedido, e Peter mantivera distância. Peter sabia que o que pesava sobre o oficial era mais do que o fardo do comando. Nas longas horas que passara com Greer e Vorhees, Peter percebera a ligação entre eles. Greer estava sofrendo pela perda do amigo.
Havia um lampião aceso na barraca.
- Major Greer?
- Entre.
Peter entrou. A barraca estava aquecida pelo calor do fogão a lenha. O major estava sentado à mesa de Vorhees examinando alguns papéis à luz do lampião. Usava uma calça de camuflagem e uma camiseta verde-oliva desbotada. Um baú aberto, ocupado até a metade com vários pertences, estava no chão a seus pés.
- Jaxon. Eu estava me perguntando quando o veria de novo - disse. Então se recostou na cadeira e esfregou os olhos, cansado. - Dê uma olhada nisso.
Havia uma pilha de papéis na mesa. Na folha de cima viam-se três pessoas, uma mulher e duas meninas. A imagem era tão real que a princípio Peter achou que estava vendo uma foto, algo do Tempo de Antes. Mas então percebeu que era um desenho feito a carvão. Um retrato da cintura para cima; a parte de baixo parecia se dissolver no branco do papel. A mulher segurava a criança menor no colo, uma menina que não poderia ter mais de 3 anos, com um rosto suave, de bebê; a outra, uns dois anos mais velha que a irmã, estava atrás das duas, acima do ombro esquerdo da mãe. Greer pegou outras folhas na pilha: as mesmas três pessoas em poses idênticas.
- Vorhees desenhou isso?
Greer assentiu.
- Curt não foi sempre um soldado, como a maioria de nós. Teve uma vida inteira antes de se alistar nas Forças Expedicionárias, uma esposa e duas filhas. Era fazendeiro, se é que dá para acreditar.
- O que aconteceu com elas?
Greer respondeu dando de ombros.
- O que sempre acontece quando acontece.
Peter se curvou para examinar os papéis de novo. Podia sentir o cuidado meticuloso no desenho, a concentração por trás de cada detalhe. O sorriso torto da mulher; os olhos da menina menor, arregalados e cheios de reflexos como os da mãe. O movimento do cabelo da mais velha causado por uma súbita brisa. Ainda havia um pouco de poeira escura no papel, como cinzas sopradas pelo vento da lembrança.
- Acho que ele fazia os desenhos para não se esquecer delas - disse Greer.
De repente Peter ficou sem jeito - o que quer que aquelas imagens significassem para o general, Peter sabia que elas eram particulares.
- Major, posso perguntar por que está me mostrando isso?
Greer depositou cuidadosamente as folhas na pasta de papelão e depois guardou tudo no baú a seus pés.
- Uma vez alguém me disse que uma parte do que somos continua vivendo enquanto alguém se lembra de nós. Agora você também se lembrará delas - concluiu. Ele fechou o baú com uma chave que trazia pendurada no pescoço e se recostou novamente na cadeira. - Mas não foi por isso que você veio me ver, não é? Você tomou sua decisão.
- Sim, senhor. Vou partir de manhã.
- Muito bem - ponderou, fazendo um movimento pensativo com a cabeça que confirmava algo já esperado. - Todos os cinco ou só você?
- Hollis e Sara irão com o comboio. Michael também, mas talvez ele ainda não saiba disso.
- Então serão só vocês dois. Você e a garota misteriosa.
- Amy.
Greer assentiu de novo. - Amy.
Peter esperou que ele tentasse convencê-lo a desistir, mas em vez disso Greer disse:
- Leve meu cavalo. É um bom animal, não vai deixar você na mão. Deixarei uma ordem no portão para que permitam sua saída. Precisam de armas?
- O que o senhor puder nos ceder.
- Então vou providenciar isso também.
- Agradeço, senhor. Obrigado por tudo.
- Parece que é o mínimo que posso fazer - disse o major. Então baixou os olhos para as mãos cruzadas no colo. - Você sabe que subir aquela montanha sozinho desse jeito provavelmente é suicídio, não sabe? Precisava lhe dizer isso.
- Talvez. Mas é a melhor ideia que tenho.
Um momento de silêncio se passou entre eles. Peter pensou em como sentiria falta de Greer, da calma e da segurança que sua presença trazia.
- Bem, então é adeus. - Greer se levantou e estendeu a mão. - Se algum dia for a Kerrville, procure por mim. Quero saber como acaba.
- Como acaba o quê?
O major sorriu, a mão grande ainda envolvendo a de Peter.
- O sonho, Peter.
Uma luz estava acesa no alojamento e o som de vozes vinha de trás das paredes de lona. Não havia uma porta de verdade, então Peter não tinha como bater. Quando se aproximou, um soldado surgiu na aba de lona, apertando o agasalho contra o corpo. O nome dele era Wilco, um dos encarregados da lubrificação.
- Jaxon. - Ele o olhou espantado. - Se está procurando Parafuso, ele está com uma equipe tirando o restante do combustível do caminhão-tanque. Eu estava indo para lá agora mesmo.
- Estou procurando Lish.
Wilco reagiu com um olhar vazio, então Peter esclareceu:
- A tenente Donadio.
- Não sei se...
- Por favor, apenas diga a ela que estou aqui.
Wilco deu de ombros e entrou novamente pela aba da barraca. Peter se esforçou para escutar o que era dito lá dentro, se é que alguém estava dizendo alguma coisa. Mas todas as vozes tinham ficado subitamente em silêncio. Esperou o suficiente para se perguntar se Alicia se recusaria a aparecer. Mas então a aba foi puxada e ela saiu.
Dizer que ela parecia diferente seria um eufemismo, pensou Peter; ela simplesmente era outra pessoa. A mulher que estava diante dele era ao mesmo tempo a Alicia que ele sempre conhecera e alguém totalmente novo. Tinha os braços cruzados diante do peito e o tronco coberto apenas por uma camiseta, apesar do frio. Seu cabelo havia crescido um pouco nos últimos dias, formando uma penugem fantasmagórica grudada ao couro cabeludo, como um gorro reluzindo sob as luzes. Mas não foi nada disso que tornou o momento estranho, e sim a postura dela, mantendo-se longe dele.
- Ouvi falar da sua promoção - disse ele. - Parabéns.
Alicia ficou quieta.
- Lish...
- Você não deveria estar aqui, Peter. Eu não deveria estar falando com você.
- Só vim dizer que entendo. No começo, não entendi. Mas agora entendo.
- Que bom. - Ela fez uma pausa, abraçando o próprio corpo no frio. - O que fez você mudar de ideia?
Ele não sabia exatamente o que dizer. Tudo o que planejara falar parecia ter fugido de sua mente. A morte de Muncey tinha algo a ver com isso, e seu pai e Amy. Mas o verdadeiro motivo era algo que não caberia em palavras. Disse a única coisa em que pôde pensar:
- Na verdade, foi o violão de Hollis.
Alicia lhe lançou um olhar vazio.
- Hollis tem um violão?
- Um soldado emprestou a ele. - Peter parou; não havia como explicar. - Desculpe. Não faz muito sentido o que estou dizendo.
Um vazio parecia ter se instalado no peito de Peter, e ele percebeu que era a dor de perder alguém que ele ainda não havia deixado.
- Bom, obrigada por me dizer. Mas realmente preciso entrar.
- Lish, espere.
Ela se virou de novo para ele, as sobrancelhas erguidas.
- Por que nunca me contou? Sobre o Coronel.
- Foi por isso que você veio aqui? Para me perguntar sobre o Coronel? - Ela suspirou, desviando o olhar; não era algo de que quisesse falar. - Porque ele não queria que ninguém soubesse quem ele era.
TIA.
- Mas por quê?
- O que ele teria dito, Peter? Ele estava sozinho. Tinha perdido todos os seus homens. Achava que deveria ter morrido com eles - ela suspirou e fez uma pausa. - Quanto ao resto, acho que ele simplesmente me criou do único modo que sabia. Para dizer a verdade, durante um bom tempo achei tudo muito divertido. As histórias de homens corajosos atravessando as Terras Escuras para lutar e morrer, fazendo o juramento, um monte de baboseiras que não significavam nada para mim; eram só palavras. Depois fiquei com raiva. Eu tinha 8 anos, Peter, 8 anos, e ele me levou para fora do Muro, pelo túnel que fica embaixo do recorte, e me deixou lá a noite toda, sem nada, nem uma faca. Você nunca soube dessa parte da história.
- Minha nossa, Lish. O que aconteceu?
- Nada. Eu estaria morta se alguma coisa tivesse acontecido. Fiquei sentada embaixo de uma árvore e chorei a noite toda. Até hoje não sei se ele estava testando minha coragem ou minha sorte.
Parte da história parecia estar faltando.
- Ele deve ter ficado lá fora com você, vigiando.
- Talvez. - Ela ergueu o rosto para o céu de inverno. - Às vezes acho que ficou, outras vezes acho que não. Você não o conhecia como eu. Depois disso eu o odiei por muito tempo. Odiei de verdade. Mas não se pode odiar alguém para sempre.
Peter olhava para ela. Alicia respirou fundo de novo, resignada.
- Espero que isso valha para você, Peter. Que algum dia você consiga me perdoar. - Ela fungou e enxugou os olhos. - Chega. Já falei demais. Fico feliz por ter tido você pelo tempo que tive.
Então ele entendeu, olhando para o rosto sofrido dela.
O verdadeiro segredo não era o Coronel. Era ele. Ele era o segredo que ela havia guardado. Que eles haviam guardado um do outro, até de si mesmos.
Ele estendeu a mão.
- Alicia...
- Não faça isso. Não.
No entanto ela não se afastou.
- Naqueles três dias, quando pensei que você ia morrer e eu não estaria lá. - Peter sentiu um nó do tamanho de um punho se formar em sua garganta. - Sempre pensei que eu estaria lá.
- Droga, Peter!
Alicia estava tremendo. Peter sentiu o peso da luta que ela travava.
- Você não pode fazer isso. É tarde demais, Peter. Tarde demais.
- Eu sei.
- Não diga nada. Por favor. Você disse que entendia.
Ele entendia. Tudo o que significavam um para o outro parecia haver sido encapsulado naquele simples fato. Não havia surpresa nem pesar, só uma gratidão profunda e súbita, e ao mesmo tempo a força de uma clareza que o preenchia como o vento no inverno. Perguntou-se o que seria aquele sentimento, e soube: estava abrindo mão dela.
Então ela deixou que ele a abraçasse, puxando-a para as abas abertas do casaco. Segurou-a do mesmo modo que ela o segurara tantos dias antes na barraca de Vorhees. O mesmo adeus, só que ao contrário. Sentiu-a se enrijecer e depois relaxar, encolhendo em seus braços.
- Você vai partir - disse ela.
- Preciso que me prometa uma coisa. Cuide dos outros. Leve-os em segurança até Roswell.
Peter sentiu-a fazer um movimento leve mas perceptível com a cabeça. Ela prometia.
- E você?
Como ele a amava! No entanto as palavras jamais poderiam ser ditas. Abraçado a ela, fechou os olhos e tentou gravar o sentimento na mente, na memória, guardá-lo para sempre.
- Acho que você já cuidou o bastante de mim, não? - Ele se afastou para olhar o rosto dela uma última vez. - É isso. Eu só queria lhe agradecer.
Em seguida se virou e foi andando, deixando-a sozinha no vento gelado do alojamento silencioso.
Fez o máximo para dormir, rolando na cama inquieto a noite toda. Na última hora antes do amanhecer, quando não conseguiu esperar mais, se levantou e arrumou rapidamente seu equipamento. Era com o frio que estava preocupado: precisariam de cobertores, meias extras, qualquer coisa que os mantivesse aquecidos e secos; sacos de dormir, ponchos e uma boa lona com uma corda resistente. Na noite anterior, ao voltar do alojamento de Alicia, havia se enfiado na barraca de suprimentos e pegado uma pá e uma machadinha, além de dois casacos grossos. Hollis roncava baixinho em sua cama, o rosto barbudo enterrado nos cobertores, sem perceber nada. Quando acordasse, Peter já teria partido.
Pôs a mochila no ombro e saiu. Um frio cortante o recepcionou, sugando o ar dos seus pulmões. O posto inteiro estava silencioso; apenas alguns homens se movimentavam. O cheiro de fumaça e comida quente que vinha do refeitório fez seu estômago roncar, mas não havia tempo para isso. Encontrou Amy sozinha na barraca das mulheres - Sara continuava com Sancho e os outros na enfermaria. Amy estava sentada na cama, a pequena mochila descansando no colo. Ainda não tinha dito nada a ela.
- Está na hora? - perguntou ela, os olhos muito brilhantes.
- Está.
Atravessaram o pátio juntos até o cercado dos animais. O cavalo de Greer, um capão negro grande com uma grossa camada de pelos, estava pastando com os outros, seu focinho em direção ao vento. Peter pegou arreios no barracão e levou a montaria até a cerca. Gostaria de poder usar uma sela, mas isso não funcionaria para dois. Juntou as mochilas, amarrou-as e pendurou sobre o lombo do animal. Seus dedos estavam rígidos de frio. Levantou Amy até o cavalo e depois usou a cerca como apoio para montar. Seguiram beirando o cercado até o portão. A alvorada era anunciada por uma suave luz cinza, como se a escuridão não estivesse acabando, e sim se dissolvendo. Uma neve fina, quase invisível, começava a cair, os flocos parecendo se materializar diante do rosto deles.
Uma única sentinela estava no portão: Eustace, o homem que havia alertado Peter sobre o retorno do grupo de ataque.
- O major ordenou que deixasse vocês passarem. Também pediu que lhe entregasse isso. - Eustace pegou uma bolsa de lona na guarita e a colocou no chão diante do cavalo. - Mandou dizer que podem pegar o que quiserem.
Peter apeou e se ajoelhou para abrir a bolsa. Fuzis, pentes, duas pistolas, um cinto de granadas. Examinou tudo, pensando no que fazer.
- Obrigado - disse ele, levantando-se sem pegar nada.
Em seguida tirou a faca do cinto e a estendeu na direção de Eustace.
- Por favor. Dê isso ao major. É um presente.
Eustace franziu a testa.
- Não estou entendendo. Quer que eu dê sua faca a ele?
Peter estendeu-a novamente para ele.
- Pegue-a - insistiu.
Relutante, Eustace pegou a faca. Por um momento apenas olhou para ela, como se fosse algum artefato estranho que tivesse encontrado na floresta.
- Entregue a faca ao major Greer - disse Peter. - Acho que ele vai entender.
Amy havia erguido o rosto para ver melhor a neve que caía. Peter se virou para ela.
- Pronta?
A garota assentiu. Um leve sorriso brilhou em seu rosto. Havia flocos de neve em seus cílios e no cabelo, como pó de pedras preciosas. Eustace entrelaçou as mãos para que Peter apoiasse o pé. Com um impulso, ele montou e segurou as rédeas. O portão se abriu. Ele se permitiu um último olhar para o alojamento, que permanecia em silêncio. Adeus, pensou, adeus. Depois saíram, partindo para o dia que ia nascendo.
Como um pobre ermitão em uma caverna,
Meus dias de dúvida infinita pretendo passar A chorar pelo tempo que não volta a dor eterna,
Onde ninguém, a não ser o Amor, jamais vá me encontrar.
SIR WALTER RALEIGH
PARTE X
O ANJO DA MONTANHA
SESSENTA E DOIS
Ao meio-dia haviam encontrado o rio de novo. Cavalgavam em silêncio sob a neve, que agora enchia a floresta de uma luz ofuscante. As bordas do rio haviam começado a congelar, mas a água escura corria livremente no canal estreitado, alheia a tudo. Amy tinha caído no sono apoiada nas costas de Peter, e seus braços pálidos pendiam frouxos no colo. Ele sentia o calor do corpo dela, as subidas e descidas suaves de seu peito contra ele. Nuvens de vapor quente fluíam das narinas do cavalo, exalando um cheiro de capim e terra. Nas árvores, pássaros pretos chamavam uns aos outros dos galhos, seus cantos abafados pela neve que cobria tudo.
Lembranças vinham à mente de Peter enquanto cavalgava, um conjunto desordenado de imagens que pairavam em sua consciência: sua mãe dormindo, no dia em que ele, parado à porta do quarto dela, olhara para os óculos na mesa de cabeceira e tivera certeza de que sua morte estava próxima; Theo examinando seu tornozelo na usina e, depois, em pé com Mausami na varanda da fazenda, olhando-os enquanto eles partiam; Titia em sua cozinha aquecida demais e o gosto horrível de seu chá; a última noite no depósito da base militar, todo mundo bebendo uísque e rindo de algo engraçado que Caleb havia feito ou dito, e um mundo desconhecido diante deles; Sara na manhã depois da primeira neve, sentada com as costas apoiadas no tronco, o diário no colo e o rosto banhado pela luz do sol, dizendo como aquele lugar era lindo; Alicia.
Alicia.
Viraram para o leste. Agora estavam em um lugar novo, a paisagem irregular erguendo-se ao redor, envolvendo-os nas florestas das montanhas cobertas de branco. A neve diminuiu, depois parou, depois começou de novo. Tinham começado a subir. A atenção de Peter havia se voltado para as coisas menores: o ritmo lento e constante do cavalo, a sensação do couro gasto da rédea que segurava, o roçar suave do cabelo de Amy em seu pescoço. Tudo de certo modo inevitável, como detalhes de um sonho.
Quando a escuridão chegou, Peter usou a pá para limpar uma área e montou um abrigo de lona na beira do rio. A maior parte da madeira que havia no chão estava molhada demais para ser queimada, mas, por baixo da copa pesada das árvores, os dois encontraram um número suficiente de gravetos secos para começar uma fogueira. Peter não tinha uma faca, mas em sua mochila havia um pequeno canivete, que usou para abrir as latas de comida. Comeram o jantar e dormiram abraçados para ficarem mais aquecidos.
Acordaram com um frio de gelar os ossos. A tempestade havia passado, deixando para trás um céu azul feroz. Enquanto Amy fazia uma fogueira, Peter foi procurar o cavalo, que havia se soltado e se afastado do acampamento durante a noite - uma situação que, em circunstâncias diferentes, o teria deixado em pânico, mas que, por algum motivo, nessa manhã, não o alarmou. Rastreou o animal e o encontrou uns 100 metros rio abaixo, pastando junto aos tufos de capim na margem, com o grande focinho negro já branco de neve. Não parecia o tipo de coisa que Peter devesse interromper, por isso ficou parado durante algum tempo, vendo o cavalo comer seu desjejum, antes de levá-lo de volta ao acampamento.
Amy havia conseguido acender uma pequena fogueira com agulhas de pinheiro úmidas e gravetos quebrados. Comeram mais enlatados e tomaram água fria do rio, depois ficaram se aquecendo junto ao fogo. Seria a última manhã, ele sabia. A oeste, atrás deles, o posto militar devia estar vazio e silencioso a essa altura, com a ida do comboio para o sul.
- Acho que estamos chegando - disse Peter enquanto colocava a bagagem no cavalo. - Não devem faltar mais de 10 quilômetros.
A garota não disse nada, apenas assentiu. Peter guiou o cavalo até um tronco caído - um grande volume encharcado com pelo menos um metro de altura - e subiu nele para montar. Acomodou-se, apertando as mochilas contra o corpo, e estendeu a mão para puxar Amy.
- Você sente falta deles? - perguntou Amy. - Dos seus amigos?
Ele ergueu o rosto em direção às árvores cobertas de neve. O ar da manhã estava calmo e ensolarado.
- Sinto, mas tudo bem.
Durante algumas horas seguiram uma estrada, ou o que restava dela. Por baixo da neve, o chão era firme e regular, a rota marcada aqui e ali por alguma placa enferrujada ou uma mureta divisória. Estavam penetrando em um vale que se estreitava, com penhascos rochosos erguendo-se dos dois lados. Então chegaram a uma bifurcação: um dos caminhos seguia em frente, ao longo do rio, o outro atravessava uma ponte, um arco de vigas expostas coberto de neve. Do outro lado do rio, a estrada subia de novo e fazia uma curva fechada, sumindo por entre as árvores.
- E então, vamos por onde? - perguntou a ela.
Um momento de silêncio se passou.
- Vamos atravessar a ponte - respondeu Amy.
Apearam. A neve estava funda, flocos fofos que iam quase até o topo das botas de Peter. Ao se aproximarem da margem do rio, Peter viu que o piso da ponte, que devia ter sido de madeira um dia, não existia mais. Era uma travessia de 50 metros: provavelmente poderiam chegar ao outro lado equilibrando-se nas traves expostas, mas o cavalo teria de ficar para trás.
- Tem certeza que quer tentar?
Amy estava parada ao lado dele, os olhos franzidos por causa da luz, a expressão atenta. Como Peter, ela havia enrolado as mãos dentro das mangas do casaco para protegê-las.
A menina assentiu.
Peter voltou para pegar as mochilas. Não podia deixar o cavalo de Greer amarrado à espera deles. Ele os havia trazido até ali; Peter não o deixaria assim, indefeso. Terminou de descarregar as coisas, soltou o arreio e se posicionou atrás da montaria.
- Rá! - gritou, dando um tapa firme na anca do animal.
Nada. Tentou de novo, dessa vez mais alto.
- Rá!
Peter bateu, gritou e balançou os braços.
- Ande! Suma daqui!
Mesmo assim o animal se recusou a se mover, encarando impassivelmente os dois com os olhos enormes e brilhantes.
- Que bicho teimoso! Acho que não quer ir embora.
- É só você dizer com jeitinho o que quer que ele faça.
- Ele é um cavalo, Amy.
O que aconteceu depois, por mais estranho que pudesse parecer, não foi totalmente inesperado. Amy segurou o focinho do animal, colocando as mãos espalmadas nas laterais da cabeça comprida. O cavalo, que ficara inquieto, se acalmou com o toque dela, e suas narinas grandes se alargaram com um suspiro pesado. Por um longo momento de silêncio, menina e cavalo ficaram ali, parados, presos em um olhar profundo e mútuo. Então o animal se afastou, descreveu um grande círculo e começou a marchar na direção de onde tinham vindo, acelerando o trote até desaparecer entre as árvores.
Amy tirou a mochila do chão e a colocou nos ombros.
- Agora podemos ir.
Peter não sabia o que dizer; não havia motivo para dizer nada.
Desceram o barranco até a beira do rio. O reflexo do sol dançava na superfície da água com um brilho quase explosivo, como se a intensidade da luz aumentasse à medida que a água se solidificava. Amy foi primeiro. Peter a levantou, ajudando-a a entrar por uma das aberturas entre as vigas expostas. Assim que ela estava posicionada, ele lhe entregou as mochilas e, com um impulso, ergueu o próprio corpo.
O caminho mais seguro seria pela borda da ponte, onde poderiam segurar no corrimão enquanto passavam de uma viga para a seguinte. A sensação do metal frio nas mãos era como fogo. Teriam de se apressar, ou suas mãos não aguentariam. Amy ia à frente, saltando com graça por sobre os vãos. Peter logo descobriu que o problema não eram as vigas, que pareciam sólidas, mas a camada de gelo que se ocultava sob a neve. Por duas vezes seus pés escorregaram e ele, com dificuldade, se agarrou ao corrimão frágil. Mas a ideia de que eles pudessem ter chegado tão longe só para acabar se afogando em um rio gelado era inconcebível. Lentamente, uma viga de cada vez, conseguiu atravessar. Quando chegou do outro lado, tinha as mãos completamente entorpecidas e o corpo tremia. Teve vontade de parar para fazer uma fogueira, mas não podia. As sombras já haviam começado a se alongar; os dias no inverno eram muito mais curtos.
Afastaram-se do rio e começaram a subir o morro. Peter esperava que houvesse abrigo no lugar aonde iam. Sabia que não sobreviveriam outra noite ao relento. Mesmo que não houvesse virais, o frio os mataria. O importante era continuarem em movimento. Amy estava à frente, subindo a montanha a passos largos. Peter mal conseguia acompanhá-la. O ar parecia ralo nos pulmões e, ao redor, as árvores gemiam ao vento. Depois de subir algum tempo, ele se virou para trás e viu o rio serpenteando no vale abaixo. Agora estavam na sombra, em uma área de crepúsculo. A sua frente, porém, as montanhas que se estendiam a norte e a leste reluziam um tom dourado. Amy está me levando para o topo do mundo, pensou Peter.
O dia se esvaía. Na penumbra pouco antes do pôr do sol, a paisagem se transformou em um amontoado confuso: o que Peter achava que seria o ápice da subida se revelou ser apenas uma crista em uma série de elevações, cada uma mais íngreme e exposta ao vento do que a anterior. A oeste, a encosta da montanha descia em uma queda quase vertical. O frio parecia ter penetrado mais fundo dentro dele, entorpecendo seus sentidos. Percebeu que havia cometido um erro ao mandar o cavalo embora. Na pior das hipóteses, poderiam ao menos voltar e usar seu corpo para lhes dar calor e abrigo. Matar um animal daqueles era algo inimaginável, mas agora, à medida que a escuridão baixava na montanha, sabia que teria feito isso.
Percebeu que Amy havia parado. Esforçou-se para alcançá-la e parou ao lado dela, ofegante. A neve ali era mais fina, empurrada para longe pelo vento. Ela examinava o céu com os olhos apertados, como se estivesse ouvindo algum som distante. Havia pedaços de gelo grudados à sua mochila e ao cabelo.
- O que foi?
O olhar dela se dirigiu para a linha de árvores à esquerda, longe do vale aberto.
- Lá - disse ela.
Mas não havia nada, só a linha de árvores. As árvores, a neve e o vento indiferente.
Então ele viu uma abertura no mato baixo. Amy já estava indo para lá. A medida que se aproximavam, percebeu o que era: o portão de uma cerca meio caída que se alongava por toda a extensão da floresta dos dois lados, entrelaçada com uma trepadeira densa que a camuflava e que agora estava despida de folhas e coberta de neve, tornando a cerca praticamente invisível, misturada à paisagem. Quem poderia dizer quanto tempo eles haviam andado junto a ela sem perceber que estava ali?
Para além do portão ficava o que restara de uma pequena cabana. A estrutura, que não tinha mais de cinco metros quadrados, estava torta: uma parte do alicerce havia desmoronado. Pela porta entreaberta, Peter espiou lá dentro. Nada: só neve, folhas e paredes se desfazendo.
Ele se virou.
- Amy, onde...
Viu-a disparar entre as árvores e a acompanhou com dificuldade. Agora Amy estava se movendo mais depressa, praticamente correndo. Exausto, os pés quase congelados depois da penosa caminhada na neve, Peter percebeu que estavam chegando ao fim da jornada. Algo o estava abandonando: sua força, arrancada pelo frio, finalmente o deixava.
- Amy! - gritou ele. - Pare.
Ela não pareceu ouvir.
- Amy, por favor.
Ela se virou para encará-lo.
- Para onde está indo? - implorou ele. - Não há nada aí na frente.
- Há, sim, Peter. - O rosto dela estava iluminado de alegria. - Há, sim.
- Então me diga onde está - disse ele, ouvindo a raiva na própria voz. Suas mãos estavam apoiadas nos joelhos. Ele ofegava.
Ela levantou os olhos para o céu quase escuro e os fechou.
- Está... em toda parte - respondeu. - Escute.
Ele se esforçou ao máximo para ouvir. Tentou usar cada gota da força que lhe restava para se concentrar naquilo. Mas só escutou o vento.
- Não é nada - repetiu, e sentiu as esperanças desmoronarem. - Amy, não há nada aqui.
Mas então ouviu.
Uma voz. Uma voz humana.
Alguém, em algum lugar, estava cantando.
Primeiro viram a antena, erguendo-se no meio das árvores.
Tinham chegado a uma clareira na floresta. Ao redor, Peter podia discernir sinais de que o lugar havia sido habitado: ruínas de prédios e veículos abandonados sob a neve. A antena ficava junto a uma ampla depressão cheia de escombros - os alicerces de algum prédio que havia desabado muito antes. Era uma torre metálica alta que se erguia sobre quatro bases, ancorada por cabos de aço afundados no concreto. No topo havia um globo cinza cheio de pontas. Abaixo do globo, uma série de objetos que lembravam a parte achatada de um remo se projetava por todas as laterais da torre, como pétalas de uma flor. Talvez fossem painéis solares; Peter não sabia. Pôs uma das mãos no metal frio. Algo parecia estar escrito em um dos suportes. Limpou a neve, revelando as palavras CORPO DE ENGENHEIROS DO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS.
- Amy...
Mas ela não estava ali. Viu movimentos na borda da clareira e tentou segui-la, entrando rapidamente no mato baixo. Agora o som do cântico estava mais forte. Não eram palavras, e sim um conjunto de notas que subiam e desciam em padrões fraseados. A música parecia vir de todas as direções, trazida pelo vento. Estavam perto, muito perto, sentia a presença de algo adiante.
Outra clareira, as árvores se separando, o céu exposto. Chegou ao lugar onde Amy estava e então parou. Havia uma mulher. Usava uma pesada capa de lã. Seu cabelo, denso e escuro, com mechas brancas, escorria sobre os ombros em um emaranhado que parecia uma nuvem. Suas pernas surgiam ao fim da capa de lã, descobertas até os pés, nos quais ela parecia não estar usando mais do que um par de sandálias de corda, a neve roçando os dedos. Estava virada para o outro lado, parada junto à porta de uma pequena casa de troncos. As janelas estavam iluminadas e nuvens de fumaça saíam da chaminé. Ela sacudia um lençol, e havia mais lençóis pendurados em um varal estendido entre duas árvores. Era inacreditável:
a mulher, quem quer que fosse, estava recolhendo roupa do varal. Tirando a roupa da corda e cantando.
Peter e Amy foram andando na direção dela, as palavras da canção ficando claras à medida que se aproximavam. Sua voz tinha um tom rico, grave, cheio de um contentamento misterioso. Ela cantava e trabalhava, pondo os lençóis em um cesto a seus pés, aparentemente sem perceber a presença deles. Agora os dois estavam a apenas alguns metros dela. Dorme, dorme, meu filhinho, cantava a mulher.
Seu irmãozinho também dorme Embalado no meu seio. Dorme, dorme, meu filhinho Que as aves já estão dormindo E as estrelas cintilantes Lá no céu estão luzindo.
Ela parou, as mãos no varal.
- Amy.
A mulher se virou. Tinha um rosto largo e bonito, a pele escura como Titia. Mas não era uma mulher velha. Sua pele era firme, os olhos claros e luminosos. O rosto se abria em um sorriso radiante.
- Ah, que bom ver você!
Sua voz parecia música, como se estivesse cantando as palavras. Avançou até eles e segurou Amy pela mão, com ternura maternal.
- Minha pequena Amy, tão crescida.
Ela levantou o olhar para além de Amy, em direção a Peter, parecendo notá-lo pela primeira vez.
- E aí está ele, o seu Peter - disse, balançando ligeiramente a cabeça. - Exatamente como eu imaginei que ele seria. Você se lembra, Amy, quando lhe perguntei quem era Peter? Foi quando conheci você. Você era muito pequena.
Lágrimas haviam começado a cair dos olhos de Amy.
- Eu o deixei para trás.
- Calma, querida. Tinha de ser assim.
- Ele me mandou correr! - gritou ela. - Eu o deixei! Eu o deixei!
A mulher abraçou Amy.
- E você vai encontrá-lo de novo, Amy. Foi o que você veio fazer, não foi? Eu não era a única a cuidar de você, todos esses anos. Essa tristeza que você sente não é sua. É a tristeza dele que está no seu coração, Amy, porque ele sente sua falta.
O sol havia se posto. Uma escuridão fria os envolveu, parados na neve diante da casa da mulher. No entanto Peter não conseguia se mover ou falar. Sabia que, de algum modo, fazia parte do que acabara de acontecer, mas não sabia que parte era essa.
Finalmente encontrou a voz.
- Por favor - pediu ele. - Diga-me quem você é.
Os olhos da mulher brilharam subitamente com malícia.
- Devemos contar a ele, Amy? Devemos contar ao seu Peter quem eu sou? Amy assentiu, e a mulher ergueu o rosto com um sorriso radiante.
- Sou aquela que estava esperando vocês. Sou a irmã Lacey Antoinette Kudoto.
SESSENTA E TRÊS
Sara viajava no final do comboio, em um dos caminhões grandes. Macas haviam sido encaixadas nas laterais do compartimento traseiro para levar os feridos. O espaço estava atulhado de caixotes de suprimentos, e ela mal conseguia se mover entre eles para oferecer aos soldados o pouco conforto que podia. Withers não estava tão mal; a maior parte das queimaduras havia sido nos braços e nas mãos. Provavelmente sobreviveria, se não houvesse infecção generalizada. Mas não Sancho. O soldado Sancho estava morrendo.
Algo dera errado quando desciam a bomba com o guincho. Um dos cabos tinha ficado preso, ou não conseguiam acender o pavio, alguma coisa assim. Sara escutara partes da história, de diversas fontes, todas com versões ligeiramente diferentes. Foi Sancho quem entrou no poço da mina, descendo pelo cabo para consertar o que estava errado. Ainda estava lá embaixo ou saindo do buraco - Withers vinha correndo na direção dele, estendendo a mão, tentando puxá-lo - quando os tambores de combustível explodiram.
As chamas o engoliram. Ela podia ver o caminho que o fogo havia tomado, subindo pelo corpo dele, fundindo o uniforme à carne. Era um milagre que tivesse sobrevivido, mas não um milagre feliz, pensou Sara. Ela ainda podia ouvir os gritos que o pobre sujeito soltara enquanto, com a ajuda de dois soldados, ela descolava os restos do uniforme do corpo dele, arrancando junto a maior parte da pele das pernas e do peito; e de novo, enquanto fazia o melhor possível para limpar a carne viva, vermelha, que restara por baixo.
As queimaduras das pernas e dos pés já começavam a supurar, e o cheiro doce e enjoativo da pele queimada se misturava ao odor fétido da infecção. Peito, braços, mãos e ombros: o fogo atingira tudo. O rosto era uma massa lisa e rosada como borracha. Depois da raspagem da pele - um sofrimento enorme -, ele mal fizera qualquer som, caindo em um sono profundo do qual só acordava para pedir água. Ela se surpreendeu ao ver que, de manhã, ele ainda estava vivo, e no dia seguinte também. Na noite anterior à partida, em um momento de coragem que a deixara surpresa, ela se oferecera para ficar para trás com ele. Mas Greer não permitiu. "Já deixamos muitos homens nessa floresta", dissera ele. "Faça o melhor que puder para deixá-lo confortável."
Durante algum tempo o comboio havia viajado para o leste, mas agora ia de novo em direção ao sul, no que Sara achava ser uma estrada, já que os pulos, sacolejos e o som de lama e neve espirrando e batendo nos para-lamas haviam diminuído. Estava nauseada e com muito frio, e os membros doíam depois de horas batendo na traseira do caminhão. O comboio de veículos, cavalos e homens prosseguia aos poucos, parando esporadicamente e voltando a se mover quando o grupo de batedores liderado por Alicia indicava que o caminho à frente estava livre. O objetivo do primeiro dia de viagem era chegarem a Durango, onde um antigo silo fortificado, um dos nove refúgios ao longo da rota de suprimentos até Roswell, ofereceria abrigo para a noite.
Sara havia decidido não ficar com raiva de Peter por ter partido sem falar com ela. A princípio ficara chateada, quando Hollis fora ao refeitório lhe dar a notícia, mas, com Sancho e Withers para cuidar, não se deteve nesse pensamento. E a verdade era que já sabia que isso aconteceria - ainda que não imaginasse que Peter e Amy seguiriam sozinhos. Mas soubera o tempo todo que algo definitivo estava por vir. Quando ela e Hollis discutiram a possibilidade de partir com o comboio, tivera a sensação de que Peter e Amy não iriam com eles.
Mas Michael ficara com raiva. Mais do que isso - furioso. Hollis praticamente tivera de contê-lo para que não saísse sozinho pela neve atrás dos dois. Achava estranho que Michael tivesse se tornado tão corajoso, quase imprudente, no decorrer dos meses. Ela sempre se sentira como uma espécie de mãe substituta, incontestavelmente responsável por ele. Mas em algum momento havia deixado esse sentimento de lado, de modo que talvez não fosse Michael que tivesse mudado: talvez fosse ela.
Queria ver Kerville. Aquele nome era um vislumbre de leveza em sua mente.
Parecia incrível: 30 mil almas. Isso lhe dava uma esperança que não sentia desde dia em que a Professora a havia levado para fora do Abrigo, para um mundo despedaçado. Porque ele não estava despedaçado, afinal; a menininha que Sara havia sido - a que dormia no Quarto Grande, brincava com os amigos e sentia o sol no rosto enquanto se balançava no pneu no pátio, acreditando que o mundo era um lugar lindo do qual poderia fazer parte -, aquela menininha estivera certa o tempo todo. Era simples: ela queria ser uma pessoa, levar uma vida humana.
Era isso que teria em Kerrville, com Hollis, que a amava e dizia isso repetidamente. Era como se ele tivesse aberto algo dentro dela, algo que estivera trancado durante muito tempo, porque aquela sensação a preenchera imediatamente, naquela primeira noite de vigilância, em algum lugar em Utah, quando ele pousou o fuzil e lhe deu um beijo, e de novo a cada vez que ele dizia "eu te amo" daquele jeito calmo, quase sem graça, os rostos tão próximos que ela podia sentir a barba dele roçar nas bochechas, como se ele estivesse revelando a ela a verdade mais profunda sobre si mesmo. Ele lhe dissera que a amava e ela o amara de volta, imediata e infinitamente. Não acreditava em destino. As coisas no mundo pareciam muito mais aleatórias do que isso: uma série de contratempos e acidentes aos quais se sobrevivia enquanto fosse possível. No entanto, amar Hollis parecia exatamente isso: obra do destino. Como se a história já estivesse escrita em algum lugar e ela só precisasse vivê-la.
Imaginava se seus pais haviam sentido a mesma coisa um pelo outro. Ainda que não gostasse de pensar neles e evitasse isso sempre que possível, enquanto viajava na carroceria do caminhão frio pegou-se desejando que ainda estivessem vivos, para que pudesse perguntar a eles.
Não era justo o que eles haviam feito. Foi Michael, coitado, quem encontrou os dois no barracão naquela manhã terrível. Ele tinha 11 anos; Sara tinha acabado de fazer 15. Parte dela acreditava que os pais haviam esperado até que ela tivesse idade suficiente para cuidar do irmão, que a idade dela era parte da explicação para aquilo. Os gritos de Michael a arrancaram da cama e a fizeram descer a escada e atravessar correndo o quintal até o barracão atrás da casa. Ele estava abraçado às pernas dos dois, tentando levantá-los. Ela parou junto à porta, pasma e imóvel, com Michael chorando e implorando que o ajudasse, e soube que eles estavam mortos. O que sentiu naquele momento não foi horror nem pesar, mas algo mais parecido com espanto - um espanto mudo diante do que a cena declarava, de sua mecânica implacável.
Eles haviam pegado cordas e dois bancos de madeira. Tinham amarrado a corda ao redor do pescoço, apertado o nó com força e chutado o banco para longe, usando o peso do corpo para se enforcar. Ela se perguntou se eles haviam feito aquilo juntos. Será que haviam contado até três? Será que um deles havia finalizado o ato primeiro e depois o outro? Michael implorava: "Por favor, Sara, me ajude, me ajude a salvá-los", mas ela só conseguia olhar. Na noite anterior, sua mãe tinha feito um bolo de milho. A forma ainda estava na mesa da cozinha. Sara buscou na mente qualquer evidência de que a mãe tivesse agido de alguma forma diferente enquanto fazia o bolo, sabendo, como deveria saber, que estava preparando um desjejum que não comeria, para filhos que jamais veria de novo. Mas Sara não conseguiu se lembrar de nada.
Como se obedecessem a alguma ordem final e tácita, ela e Michael comeram tudo, cada farelinho. E quando terminaram, Sara soube - assim como Michael também certamente sabia - que a partir daquele momento ela teria de cuidar do irmão, e que esse cuidado incluía o acordo não verbalizado entre eles de que jamais falariam sobre os pais.
O comboio havia diminuído a velocidade. Sara ouviu um grito adiante, uma ordem para que parassem, e então o som de um único cavalo galopando na neve, passando ao lado do caminhão. Ela se levantou e viu que os olhos de Withers estavam abertos, observando. Os braços, cobertos por bandagens, repousavam sobre o peito, em cima do cobertor. O rosto dele estava vermelho, úmido de suor.
- Já chegamos?
Sara encostou o pulso na testa dele. Não parecia estar com febre; na verdade, a pele estava fria demais. Pegou um cantil no chão e derramou um pouco de água na boca de Withers. Ele não estava com febre e, no entanto, parecia muito pior, incapaz de levantar a cabeça.
- Acho que não.
- Essa coceira está me enlouquecendo. É como se meus braços estivessem cheios de formigas.
Sara fechou o cantil e o guardou. Com ou sem febre, a cor dele a preocupava.
- Isso é um bom sinal. Significa que sua pele está se recuperando.
- Não parece. - Withers respirou fundo e exalou lentamente. - Merda.
Sancho estava em uma maca abaixo dele, o corpo todo enfaixado, apenas o pequeno círculo cor-de-rosa do rosto aparecendo. Sara se ajoelhou e pegou um estetoscópio no kit médico para auscultar o peito dele. Ouviu um chacoalhar úmido, como água sacudindo em uma lata. A desidratação o estava matando; no entanto, ele se afogava nos próprios pulmões. As bochechas queimavam; o ar em volta dele estava saturado do cheiro da infecção. Ela o cobriu bem, umedeceu um pano e o encostou em seus lábios.
- Como está ele? - perguntou Withers.
Sara se levantou.
- Ele está quase partindo, não está? Dá para ver no seu rosto.
Ela assentiu.
- Acho que não vai demorar.
Withers fechou os olhos de novo.
Ela vestiu o casaco e desceu do veículo para a neve e a claridade. As filas de soldados tinham se transformado em pequenos grupos de três ou quatro homens parados com expressões de tédio e impaciência, os capuzes sobre as cabeças, os narizes escorrendo por causa do frio. Adiante viu qual era o problema. Um dos caminhões estava com o capô aberto, soltando fumaça. O veículo estava cercado por um grupo de soldados que olhavam para ele perplexos, como se fosse uma carcaça gigante que tivessem encontrado por acaso na estrada.
Michael estava parado junto ao para-choque, os braços enterrados até os cotovelos no motor. De cima do cavalo, Greer disse:
- Acha que pode consertar?
Michael levantou a cabeça.
- Acho que é só uma mangueira. Posso substituí-la se o encaixe não estiver quebrado.
- Quanto tempo?
- Menos de meia hora.
Greer levantou a cabeça e gritou para os homens:
- Vamos reforçar este perímetro! Azuis na frente, e fiquem atentos àquela linha de árvores! Donadio! Onde, diabos, está Donadio?
Alicia veio cavalgando da frente do comboio, o fuzil pendurado, o rosto envolto por nuvens de vapor. Apesar do frio, ela vestia apenas um colete cheio de bolsos sobre a camisa de malha.
- Parece que vamos ficar aqui algum tempo - Greer lhe disse. - É melhor explorar o que há adiante na estrada. Temos de ganhar tempo.
Alicia virou o cavalo e saiu galopando sem olhar para Hollis, que se aproximava do major. Greer o havia designado para um dos caminhões de suprimentos, onde distribuía comida e água aos homens.
- O que está acontecendo? - perguntou ele a Sara.
- Espere um minuto - respondeu ela. Então gritou: - Major Greer.
Greer já estava se afastando. Virou o cavalo para encará-la.
- É Sancho, senhor. Acho que ele está morrendo.
Greer assentiu.
- Entendido. Obrigado por avisar.
- O senhor é o comandante dele. Acho que ele apreciaria uma visita sua.
O rosto dele não demonstrou emoção.
- Enfermeira Fisher, temos quatro horas para cobrir o equivalente a seis horas de terreno aberto. É nisso que estou pensando agora. Faça o melhor que puder. É só isso?
- Ele tem alguém mais chegado? Alguém que possa ficar com ele?
- Sinto muito, não posso abrir mão de nenhum homem. Tenho certeza de que ele entenderá. Agora, se me dá licença - concluiu, já se afastando.
Parada na neve, Sara percebeu que subitamente estava lutando contra as lágrimas.
- Venha - disse Hollis, segurando-a pelo braço. - Eu ajudo você.
Voltaram ao caminhão. Withers havia caído no sono de novo. Eles colocaram
dois caixotes ao lado da maca de Sancho. A respiração dele estava mais difícil. Nos lábios, azulados por causa da falta de oxigênio, um pouco de espuma havia se juntado. Sara não precisava verificar o pulso para saber que o coração estava cada vez mais acelerado.
- O que podemos fazer por ele? - perguntou Hollis.
- Só ficar aqui, eu acho.
Sancho ia morrer, ela soubera desde o início, mas, agora que isso estava acontecendo, todos os seus esforços pareciam inúteis.
- Acho que agora não vai demorar muito.
Não demorou. Enquanto olhavam, a respiração dele começou a ficar mais lenta. As pálpebras estremeceram. Sara tinha ouvido dizer que, nos últimos momentos, a vida da pessoa passava diante de seus olhos. Se fosse verdade, o que Sancho estaria vendo? O que ela veria, se estivesse ali deitada? Segurou a mão enfaixada do rapaz e tentou pensar no que dizer, em palavras gentis para lhe oferecer. Mas nada lhe veio à mente. Não sabia nada sobre ele, só o seu nome.
Quando tudo acabou, Hollis puxou o cobertor sobre o rosto do soldado morto. Ouviram Withers acordando. Sara se levantou e seus olhos encontraram os dele abertos e piscando, o rosto cinza brilhando de suor.
- Ele...?
Sara assentiu.
- Sinto muito. Sei que ele era seu amigo.
Mas ele não fez nada para responder; sua mente estava em outro lugar.
- Desgraça - gemeu. - Que porra de sonho! Como se eu estivesse lá de verdade.
Hollis estava parado junto a Sara.
- O que foi que ele disse?
- Sargento - insistiu Sara. - Que sonho foi esse?
Ele estremeceu, como se tentasse se livrar da lembrança.
- Foi horrível. A voz dela. E aquele fedor.
- A voz de quem, sargento?
- De uma mulher gorda - respondeu Withers. - Uma mulher gorda e feia, exalando fumaça.
Na frente do comboio, Michael colocou a cabeça para fora do capô do caminhão parado e viu Alicia disparando em direção ao fim da fila, galopando pela neve. Ela passou rapidamente por ele, chamando Greer. O que, diabos, estava acontecendo?
Wilco estava perto de Michael. Com a boca aberta, acompanhou com os olhos o cavalo de Alicia. Agora o restante do grupo de batedores vinha cavalgando na direção deles.
- Termine isso para mim - disse Michael e, como Wilco não falasse nada, pôs a chave de boca em sua mão. - Ande rápido. Acho que vamos partir.
Michael correu atrás dela, seguindo os rastros que fizera na neve. A cada passo crescia o pressentimento de que Alicia tinha visto alguma coisa muito ruim do outro lado da montanha. Hollis e Sara saíram do caminhão, todos indo em direção a Greer e Alicia, que haviam apeado. Ela apontava para a crista do morro, o braço girando em um gesto amplo; em seguida se ajoelhou, desenhando freneticamente na neve. Quando Michael chegou, ouviu Greer dizendo:
- Muitos, quantos?
- Devem ter se aproximado ontem à noite. Os rastros ainda estão frescos.
- Major Greer... - chamou Sara.
Greer levantou a mão, interrompendo-a.
- Muitos, quantos, droga?
Alicia se levantou.
- Não são simplesmente muitos - respondeu. - São os Muitos. E estão indo direto para aquela montanha.
SESSENTA E QUATRO
Theo não acordou com uma sensação de queda: estava rolando e caindo no mundo dos vivos. Seus olhos estavam abertos. Percebeu que estavam abertos havia algum tempo. O bebê, pensou. Estendeu a mão para Mausami e a encontrou deitada a seu lado. Ela se remexeu ao toque, encolhendo os joelhos. Era isso. Ele estivera sonhando com o bebê.
Estava gelado até os ossos, e a pele estava escorregadia de suor. Perguntou-se se estaria com febre. Era preciso suar para baixar a febre, a Professora sempre dizia, e sua mãe também, enquanto acariciava seu rosto quando ele estava deitado na cama, ardendo. Mas isso fora muito tempo antes, a lembrança de uma lembrança. Não tinha febre havia tantos anos que esquecera como era.
Empurrou os cobertores de lado e se levantou, tremendo de frio, a umidade do corpo sugando o pouco de calor que lhe restava. Estava usando a mesma camisa fina que vestira o dia inteiro enquanto empilhava lenha no quintal. Finalmente estavam preparados para o inverno, tudo organizado, arrumado e guardado. Tirou a camisa suada e pegou outra na cômoda. Havia encontrado baús cheios de roupas no barracão, algumas ainda nas embalagens da loja: camisas, calças, meias, roupas de baixo de inverno e suéteres de um material que parecia algodão mas não era. Os camundongos e as traças haviam destruído algumas, mas não todas. Quem quer que tivesse abastecido aquele lugar planejava ficar ali um bom tempo.
Pegou as botas e a espingarda perto da porta e desceu a escada. O fogo na sala de estar se apagara, restavam apenas brasas. Não sabia que horas eram, mas sentia que faltava pouco para o amanhecer. Com o passar das semanas, enquanto ele e Maus estabeleciam uma rotina, dormindo à noite e acordando com os primeiros raios de sol na janela, passara a encarar o tempo de um modo que parecia ao mesmo tempo natural e completamente novo. Era como se tivesse dado vazão a algum instinto, a uma lembrança de sua espécie que fora enterrada havia muito tempo. Não era só a ausência das luzes, mas o lugar em si. Maus também sentira isso naquele primeiro dia, quando foram pescar juntos no rio, e mais tarde, na cozinha, quando dissera que estavam seguros ali.
Sentou-se para calçar as botas, pegou um suéter grosso, verificou a carga da espingarda e foi para a varanda. A leste, para além da linha dos morros que cercavam o vale, um brilho suave invadia o céu. Na primeira semana, enquanto Maus dormia, Theo ficara sentado na varanda a noite toda. A cada novo amanhecer, sentira uma surpreendente pontada de tristeza. Durante toda a vida temera a escuridão e os perigos que poderia trazer: ninguém, nem mesmo seu pai, havia lhe dito como o céu noturno era lindo, como contemplá-lo fazia você se sentir ao mesmo tempo pequeno e grande, e também parte de algo imenso e eterno. Ficou parado um momento no frio, olhando as estrelas e deixando o ar noturno fluir para dentro e para fora dos pulmões, tentando despertar a mente e o corpo. Já que estava de pé, iria acender a lareira, para que Mausami não acordasse em uma casa gelada.
Saiu da varanda para o quintal. Durante dias se dedicara quase que exclusivamente a carregar e cortar lenha. A floresta perto do rio estava cheia de galhos mortos, secos e bons para queimar. A serra que havia encontrado não estava boa, com os dentes cegos de ferrugem, mas o machado ainda funcionava bem. Agora o fruto de seu trabalho estava no celeiro: fileiras de lenha empilhada cobertas por uma lona plástica.
Essas pessoas, pensava ao caminhar em direção à porta do celeiro, que estava entreaberta. A família nas fotos que havia encontrado. Imaginava se teriam sido felizes ali. Não havia encontrado mais fotos na casa e não pensara em revistar o carro até dois dias atrás. Não sabia o que estava procurando, mas depois de alguns minutos sentado no banco do motorista, apertando e girando botões preguiçosamente, esperando que algo acontecesse, uma portinha se abriu no painel, revelando um maço de mapas e, escondida embaixo deles, uma carteira de couro. Dentro encontrou um cartão com as palavras SECRETARIA DE FAZENDA DE UTAH - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO e, embaixo, um nome: David Conroy. David Conroy, Mansard Place, 1634, Provo, Utah. Eram eles, disse a Mausami, mostrando o cartão a ela. A família Conroy.
A porta do celeiro, pensou Theo; havia algo estranho. Por que estava entreaberta assim? Será que havia se esquecido de fechá-la? Mas ele se lembrava nitidamente de tê-la fechado. Mal havia pensado nisso quando um novo som chegou aos seus ouvidos: um ligeiro farfalhar vindo de dentro do celeiro.
Congelou, concentrando-se para ficar absolutamente imóvel. Por um longo momento não ouviu nada. Talvez fosse apenas sua imaginação.
Então aconteceu de novo.
Pelo menos o que havia lá dentro ainda não o notara. Se fosse um viral, ele só teria uma oportunidade de atirar. Poderia voltar e avisar Mausami, mas para onde eles iriam? Pegá-lo de surpresa seria sua melhor chance. Com cuidado, prendendo o fôlego, engatilhou a espingarda, ouvindo o estalo quando o primeiro cartucho deslizou para dentro do tambor. No fundo do celeiro ouviu uma pancada fraca, seguida por um suspiro quase humano. Avançou até que o cano estivesse encostado à madeira da porta e a empurrou suavemente quando, atrás dele, ouviu uma voz sussurrar.
- Theo? O que está fazendo?
Mausami ainda vestia sua camisola comprida, o cabelo escorrendo pelos ombros. Na penumbra antes do amanhecer, parecia pairar como uma aparição. Quando Theo abriu a boca para dizer a ela que voltasse, a porta se abriu subitamente, empurrando o cano da espingarda com uma força que o fez girar. Antes que soubesse o que estava acontecendo, a arma havia disparado, empurrando-o para trás. Uma sombra saltou por cima dele, indo para o pátio.
- Não atire! - gritou Mausami.
Era um cachorro.
O animal parou a poucos metros de Mausami, o rabo enfiado entre as pernas. Seu pelo era grosso, de um cinza prateado com manchas pretas. Estava virado para Maus em uma espécie de reverência, submisso: parado sobre as pernas finas, o pescoço abaixado e as orelhas dobradas para trás. Parecia inseguro, sem saber para onde olhar, tentando decidir se deveria fugir ou atacar. Um rosnado grave subia do fundo da sua garganta.
- Maus, tenha cuidado - alertou Theo.
- Não acho que ele vá me machucar. Vai, garoto? - Ela se agachou e estendeu a mão para o cachorro farejar. - Só está com fome, não é? Procurando alguma coisa no celeiro para comer.
O cachorro estava entre Theo e Mausami. A espingarda seria inútil se ele fizesse qualquer movimento agressivo. Theo virou-a para usá-la como porrete e deu um passo adiante, cauteloso.
- Não - disse Mausami.
- Maus...
- Sério, Theo.
Ela deu um sorriso para o cão, a mão ainda estendida.
- Vamos mostrar que você é um bom cachorro. Venha cá, menino. Quer dar uma cheirada na mão da mamãe?
O animal foi andando lentamente na direção dela. Recuou, depois avançou de novo, o focinho apontado para a mão estendida de Mausami. Enquanto Theo olhava pasmo, o cão encostou o rosto na mão dela e começou a lambê-la. Logo Maus estava no chão, sentada na terra, falando palavras carinhosas para o animal, acariciando o rosto e o pelo dele.
- Está vendo? - riu ela, enquanto o cão dava um baita espirro molhado em sua orelha, balançando a cabeça com prazer. - Ele é só um velho cãozinho doce. Qual é seu nome, amigão? Hein? Você tem nome?
Theo percebeu que ainda estava segurando a espingarda acima da cabeça, pronto para golpear. Relaxou a postura, sem graça.
Mausami franziu a testa, perdoando-o.
- Tenho certeza de que ele não vai ficar ressentido com você. Você é meu bom garoto, não é? - disse ao animal, esfregando vigorosamente sua cabeça. - O que acha de uma comidinha, seu magricelo? Que tal? Gosta da ideia?
O sol tinha subido sobre o morro. A noite havia acabado, percebeu Theo, trazendo com ela um cachorro.
- Conroy - disse ele.
Mausami o encarou. O cachorro estava lambendo sua orelha, esfregando o focinho nela de um modo que parecia quase indecente.
- É como vamos chamá-lo - explicou Theo. - Conroy.
Mausami segurou a cabeça do cão, apertando suas bochechas.
- Então? Quer se chamar Conroy? - Ela o fez assentir e deu um sorriso alegre. - Então vai ser Conroy.
Theo não queria deixar que ele entrasse em casa, porém Maus estava determinada. Assim que a porta foi aberta, ele disparou escada acima, explorando cada cômodo como se fosse dono do lugar, as unhas compridas batendo empolgadas no chão. Maus preparou um desjejum de peixe e batatas fritas em banha e o serviu em uma tigela embaixo da mesa da cozinha. Conroy já havia ocupado seu lugar no sofá, mas, ao som do pote batendo no chão, ele saltou para a cozinha e enterrou a cara na tigela, empurrando-a pelo cômodo com o focinho comprido enquanto comia. Maus encheu uma segunda tigela de água e a colocou no chão também. Quando havia terminado de comer e tomado uma enorme quantidade de água, Conroy saiu bamboleando e retornou ao sofá, onde se acomodou com um suspiro de satisfação.
Conroy, o cachorro. De onde teria vindo? Era óbvio que já convivera com pessoas. Alguém havia cuidado dele. Era magro, mas não o que Theo chamaria de malnutrido. O pelo estava embolado e tinha carrapichos, mas, afora isso, parecia saudável.
- Encha a tina - ordenou Maus. - Se ele vai ficar sentado no sofá desse jeito, preciso dar um banho nele.
Do lado de fora, Theo acendeu uma fogueira para ferver a água; quando a tina ficou pronta, o sol da manhã já estava alto no céu. O inverno havia chegado, mas no meio do dia a temperatura ainda podia ficar amena assim, quente o bastante para dispensar agasalhos. Theo se sentou em um tronco e ficou observando enquanto Maus dava banho no cachorro, esfregando seu sabão precioso no pelo prateado, usando os dedos para desfazer os emaranhados do melhor modo possível e arrancando os carrapichos.
A expressão do cachorro era de total humilhação. Parecia estar dizendo: um banho? De quem foi essa ideia? Quando ela terminou, Theo tirou o enorme corpo encharcado da tina e Maus se ajoelhou de novo - a cada dia estava ficando mais difícil realizar até mesmo as tarefas mais fáceis - para enrolá-lo em uma toalha.
- Não fique com essa cara de ciúme.
- Eu?
Mas ela havia acertado em cheio: era exatamente assim que Theo se sentia. Conroy deu uma sacudida forte, jogando a toalha longe e espalhando água para todo lado.
- É melhor ir se acostumando - disse Maus.
Era verdade; agora o bebê não demoraria. Cada parte dela parecia maior, inchada com a presença de algum invasor benigno - até o cabelo parecia ter se avolumado. Theo esperava que ela reclamasse, mas isso não aconteceu. Olhando-a com Conroy, que finalmente havia cedido às demoradas e desnecessárias tentativas de Maus de enxugá-lo, viu-se súbita e profundamente feliz, feliz por tudo. Quando estava na cela, queria apenas morrer. Até mesmo antes. Parte dele sempre havia lutado contra isso. Theo sempre pensara naqueles que se entregavam, e frequentemente tinha esse impulso, um anseio mais forte do que qualquer fome: renunciar, partir para a escuridão. Aquilo havia se tornado uma espécie de jogo: ele realizava suas tarefas diárias como se ainda não estivesse meio morto, enganando todo mundo, até mesmo Peter. Quanto pior o sentimento, mais fácil se tornava essa farsa, até que, no fim, era a própria farsa que o sustentava. Quando Michael lhe contou sobre as baterias naquela tarde na varanda, parte dele pensou: graças a Deus acabou.
Mas agora, quem diria? Sua vida fora restaurada. Mais do que isso: era como se tivesse uma vida totalmente nova.
Ao fim do dia, se recolheram junto com o sol. Conroy assumiu um posto ao pé da cama. Como em todas as noites, Theo e Maus fizeram amor, sentindo o bebê chutar entre eles: uma batida persistente, pedindo atenção, como um código.
Theo achara isso inquietante a princípio, mas já se acostumara. Era tudo uma coisa só: os chutes e socos do bebê em seu esconderijo quente e os gritos suaves de Mausami, o ritmo dos movimentos dos dois, e agora, os sons de Conroy no chão, acomodando o corpo com o olhar atento. Uma bênção, pensou Theo. Essa foi a palavra que lhe veio à mente enquanto o sono o dominava. Era isso. Aquele lugar era uma bênção.
Então se lembrou da porta do celeiro.
Ele sabia que tinha baixado a tranca. A memória era clara e específica em sua mente: havia fechado a porta e baixado a tranca antes de voltar para casa.
Mas, se isso era verdade, como Conroy havia entrado?
Um instante depois estava colocando a calça, enfiando as botas com uma das mãos e vestindo o suéter com a outra. Durante todo o dia, entrando e saindo da casa, não tinha ido ao celeiro nem uma vez.
- O que foi? - perguntou Maus. - Theo, o que há de errado?
Agora ela estava se sentando, o cobertor puxado sobre o peito. Sentindo a agitação, Conroy havia ficado de pé e estava andando de um lado para o outro no quarto, as unhas compridas batucando no chão.
Theo pegou a espingarda perto da porta.
- Fique aqui.
Teria deixado Conroy com ela, mas o cachorro se recusou a ficar: assim que Theo abriu a porta da frente da casa, Conroy correu para o quintal. Pela segunda vez naquele dia, Theo se esgueirou até o celeiro, o cabo da espingarda encostado no ombro. A porta ainda estava aberta, como a haviam deixado. Conroy disparou na frente, desaparecendo na escuridão.
Theo entrou lentamente pela porta, a espingarda levantada, pronto para disparar. Podia ouvir o cachorro se movendo no escuro, farejando o chão.
- Conroy? - sussurrou. - O que é?
A medida que seus olhos se ajustavam, viu o cachorro circundando uma área logo adiante do Volvo parado. O lampião que Theo havia deixado ali dias antes estava caído perto da pilha de lenha. Firmando a espingarda contra a perna, ele se ajoelhou rapidamente, acendeu o pavio e viu que Conroy tinha descoberto alguma coisa no chão.
Era uma lata. Theo a pegou, segurando-a pelas bordas amassadas: alguém havia usado uma faca para abri-la. As paredes internas da lata estavam úmidas, cheirando a carne. Theo levantou o lampião mais alto, espalhando seu cone de luz no chão. Pegadas. Pegadas humanas na poeira.
Alguém havia estado ali.
SESSENTA E CINCO
O doutor a havia salvado. O doutor a quem Lacey esperava, no final, ter trazido um pouco de conforto.
Era estranho o que os anos tinham feito com as lembranças que Lacey guardava dos acontecimentos daquela noite, tantos anos antes, no início de tudo. Os gritos e a fumaça. Os chamados dos que agonizavam. A grande maré negra de uma noite interminável varrendo o mundo. Às vezes tudo lhe voltava claramente, como se não houvessem se passado décadas, e sim dias; em outras ocasiões as imagens que via e os sentimentos que tinha pareciam distantes e incertos, como pedaços de palha levados pela correnteza do tempo, em que ela também flutuava, por todos esses anos.
Lembrava-se de um deles, Cárter, que viera enquanto ela corria para longe do carro de Wolgast, gritando e acenando. Cárter respondera a seu chamado e pulara em sua direção, surgindo à sua frente como um grande pássaro triste. Eu... sou... Cárter. Ele não era como os outros. Por trás da visão monstruosa do que ele havia se tornado, dava para ver que Cárter não sentia prazer no que fazia, que seu coração estava partido. O caos a toda a volta, os gritos, os tiros e a fumaça: homens passavam correndo por ela, berrando, atirando e morrendo, como se seu destino estivesse escrito desde que o mundo começou, mas Lacey não estava mais naquele lugar, porque, enquanto Cárter abocanhava seu pescoço, tomando para si a batida suave do coração dela, ela sentiu toda a dor e a perplexidade dele e sua longa história triste. A cama de trapos e trouxas embaixo do viaduto, o suor e a terra de sua pele e de sua grande jornada, o grande carro de grade reluzente parando junto dele, a voz da mulher chamando-o, sobrepujando o rugido sujo do mundo, o aroma doce da grama cortada e o suor no copo de chá gelado, o puxão na água e os braços da mulher - Rachel Wood - segurando-o com força, puxando-o cada vez mais para baixo. Era a vida dele que Lacey sentiu, sua pequena vida humana, que Cárter jamais amara tanto quanto amara a mulher cujo espírito ele agora carregava - porque Lacey sentiu isso também. E enquanto os dentes dele se cravavam na curvatura suave do pescoço dela, enchendo os sentidos de Lacey com o calor do seu hálito, ela ouviu a própria voz subindo, borbulhando ao sair. Deus o abençoe. Deus o abençoe e o guarde, senhor Cárter.
Então ele se foi. Ela ficou caída no chão, sangrando, o tempo passando, o enjoo começando. O que devia ser transferido de um para o outro encontrara seu caminho, ela sabia. Lacey fechou os olhos e rezou por um sinal, mas nenhum sinal veio. Como acontecera no campo depois que os homens a deixaram, quando era apenas uma menina. Naquela hora sombria pareceu que Deus a havia esquecido, mas então, enquanto o amanhecer abria o céu sobre seu rosto, ela viu a figura de um homem sair do silêncio. Ela podia ouvir seus passos suaves na terra, sentir o cheiro da fumaça em sua pele e no cabelo. Tentou falar, mas não pôde. O homem também não se dirigiu a ela, sequer disse seu nome. Ele a pegou no colo, aninhando-a como uma criança, e Lacey pensou que o próprio Deus havia vindo para levá-la à Sua casa.
Os olhos dele estavam ocultados pela sombra, e o cabelo era uma auréola escura, revolta e linda, assim como a barba, uma densa massa cinza sobre o rosto. Ele a carregou por entre a fumaça e as ruínas e ela viu que ele estava chorando. Essas são as lágrimas de Deus, pensara Lacey, ansiando por tocá-las. Nunca lhe ocorrera que Deus choraria, mas, é claro, ela estava errada. Deus devia chorar o tempo todo. Devia chorar, chorar sem jamais parar. A paz e o cansaço a dominaram, e ela dormiu. Não se lembrava do que havia acontecido em seguida, mas quando tudo acabou e a doença havia passado, abriu os olhos e soube que ele a havia salvado. Ela encontrara o caminho para Amy, havia finalmente encontrado o caminho.
Lacey, ouviu. Escute.
Escutou. As vozes se moviam sobre ela como uma brisa na água, como uma corrente sanguínea. Em todo lugar e a toda a volta.
Ouça-os, Lacey. Ouça todos eles.
E foi assim que ela esperou ano após ano. Ela, a irmã Lacey Antoinette Kudoto, e o homem que a havia carregado pela floresta, que afinal de contas não era Deus, só um homem. O bom doutor - porque era assim que ela pensava nele; mesmo sabendo seu nome: Jonas Lear. Era o homem mais triste do mundo.
Juntos haviam construído a casa na clareira onde Lacey ainda vivia - não muito maior do que os casebres de que se lembrava nas estradas de terra e nos campos de barro vermelho de sua juventude, porém mais forte e feita para durar. Uma vez o doutor lhe disse que já havia construído uma casa antes, um chalé em um lago nas florestas do Maine. Havia construído esse chalé com Elizabeth, sua falecida esposa - ele não contou essa parte, mas não precisava.
Aquele lugar, o complexo abandonado, era um tesouro esperando para ser descoberto. Eles haviam conseguido a madeira nos restos queimados do Chalé. Nos depósitos, encontraram martelos, serras, plainas e pregos, sacos de concreto e uma betoneira para fazer as colunas que serviriam de alicerce para a casa e para assentar as pedras que os dois trouxeram para montar a lareira. Durante um verão inteiro haviam tirado a cobertura de madeira dos antigos alojamentos, mas descobriram que ela vazava. No fim, puseram capim por cima dela. Havia armas, também, centenas delas, armamentos de todo tipo, e não havia sido fácil se livrarem delas. Desmontá-las os mantivera ocupados por um bom tempo, até que tudo o que restou foram montes de parafusos, porcas e pedaços de metal que nem valia a pena enterrar.
Ele só a deixou uma vez, no terceiro verão que passaram na montanha, para procurar sementes. Levou a única arma que havia mantido - um fuzil -, a comida, o combustível e os outros suprimentos de que precisaria, tudo arrumado na picape que tinha preparado para a viagem. Três dias, dissera ele, mas duas semanas inteiras se passaram antes que Lacey escutasse novamente o som do motor. Ele saiu da cabine com uma expressão de desespero tão grande que ela soube que somente sua promessa de retornar o trouxera de volta. Tinha chegado até Grand Junction, confessou, antes de decidir dar meia-volta. Os pacotes de sementes estavam na picape. Naquela noite ele acendeu a lareira e se sentou junto dela em um silêncio terrível, desolado, olhando as chamas.
Lacey nunca tinha visto tamanha dor nos olhos de um homem e, mesmo sabendo que não poderia tirar a tristeza dele, naquela noite ela lhe disse que deveriam passar a viver como marido e mulher. Oferecer a ele esse amor, essa gota de perdão, pareceu o mínimo que podia fazer; e, quando isso aconteceu, como aconteceu no devido tempo, Lacey entendeu que o amor que ela havia oferecido com ternura ao doutor era o amor que ela também procurava. Um fim para a jornada que havia começado nos campos atrás de sua casa havia tantos anos, quando ela era apenas uma criança.
Ele nunca mais foi embora.
Através dos anos ela o amou com o seu corpo, que não envelhecia como o dele. Ela o amou e ele a amou, cada um a seu modo, os dois juntos, a sós em sua montanha. A morte chegou para ele vagarosamente com o passar dos anos, primeiro uma coisa, depois outra, mordiscando pelas beiradas, depois penetrando mais fundo. Os olhos e o cabelo. Os dentes e a pele. As pernas, o coração e os pulmões. Muitas vezes Lacey desejou que pudesse morrer também, para que ele não tivesse de fazer sozinho a última viagem.
Uma manhã ela estava trabalhando na horta quando sentiu a falta dele. Entrou em casa, depois foi para a floresta, chamando seu nome. Era alto verão, um dia fresco em que os raios de sol caíam nas folhas como uma chuva de luz.
Ele havia escolhido um lugar onde as árvores eram ralas e o céu era visível em toda a volta. Dali podia ver o vale e, mais além, como um grande mar calmo, as montanhas parecendo ondas, recuando até o horizonte azul. Ele estava apoiado em uma pá, ofegante. Agora era um senhor grisalho e frágil, e no entanto ali estava ele, cavando um buraco na terra. "Para que é esse buraco?", ela perguntara, e ele respondera: "É para mim. Assim, quando eu me for, você não terá de cavar um."
Ele cavou durante todo aquele dia, entrando pela noite, parando para respirar cada vez que a pá despejava uma pequena quantidade de terra na pilha que se formava ao lado. Ela observava de longe, porque ele não queria ajuda. E quando o buraco estava do tamanho que queria, ele retornou à casa onde os dois tinham vivido tantos anos juntos. Deitou-se na cama - que ele havia construído com as próprias mãos, usando tábuas grossas unidas por pedaços de corda, e que afundava com o peso dos dois - e, de manhã, estava morto.
Quanto tempo fazia? Lacey parou a narrativa, os olhos de Amy e de Peter espiando-a do outro lado da sala. Como era estranho, depois de tanto tempo, contar a história de Jonas e daquela noite terrível, e tudo o que acontecera naquele lugar. Ela havia acendido o fogo e posto uma panela de comida para esquentar. A casa, dois cômodos de teto baixo separados por uma cortina, estava quente e perfumada, iluminada pelas chamas.
- Cinquenta e quatro anos - disse ela, respondendo à própria pergunta. Repetiu o número para si mesma: 54 anos desde que Jonas se fora. Mexeu a panela, que continha um ensopado disso e daquilo, a carne de um gambá gordo tirado de uma armadilha e legumes robustos, os tubérculos que ela havia guardado para o inverno. As sementes que usava todo ano - descendentes das que Jonas trouxera nos pacotes - estavam guardadas em vidros nas prateleiras. Abobrinha e tomate, batata e abóbora, cebola, nabo e alface. Precisava de pouco: o frio não a afetava, e ela praticamente não comia durante dias ou até mesmo semanas; mas Peter devia estar com fome. Ele era exatamente como havia imaginado: jovem e forte, com o rosto decidido, embora por algum motivo ela tivesse pensado que seria mais alto.
Percebeu que ele estava franzindo a testa.
- Você ficou sozinha por... 50 anos?
Ela deu de ombros.
- Na verdade não foi tanto tempo.
- E foi você quem enviou o sinal de rádio.
A mensagem de rádio, ela quase havia esquecido.
- Ah, foi o doutor.
Falar assim fazia Lacey sentir uma tremenda falta dele. Afastou o olhar e deu as costas para o cozido, enxugando as mãos em um pano e pegando as tigelas na mesa.
- Ele vivia mexendo com essas coisas. Mas teremos mais tempo para conversar depois. Agora vamos comer.
Serviu a comida. Ficou feliz ao ver Peter devorando o ensopado, mas dava para ver que Amy só estava fingindo comer. A própria Lacey não tinha nenhum apetite. Ela nunca sentia fome na hora de comer, só uma leve curiosidade, sua mente relembrando-lhe, de modo descuidado, como se fizesse um mero comentário sobre o tempo: seria bom comer agora.
Sentou-se e olhou para Peter com um sentimento de gratidão. Lá fora, a noite caía sobre a montanha. Não sabia se veria outra; logo estaria livre.
Quando terminaram, ela se levantou da mesa e foi para o quarto. O pequeno cômodo tinha apenas a cama que o doutor havia feito e um gaveteiro onde ela guardava as poucas coisas de que necessitava.
Peter parou junto à cortina que separava o quarto da sala, observando em silêncio enquanto Lacey se ajoelhava e puxava as caixas que estavam embaixo da cama -, dois baús do exército que um dia haviam guardado armas. Amy estava atrás dele, espiando com olhos curiosos.
- Me ajude a carregar isso para a cozinha - pediu ela.
Quantos anos havia imaginado esse momento! Colocaram os baús no chão ao lado da mesa. Lacey se ajoelhou de novo e abriu a tranca do primeiro, o que havia guardado para Amy. Dentro dele estava a mochila com que Amy havia chegado ao convento. As Meninas Superpoderosas.
- Isso é seu - disse ela, e pôs a mochila na mesa.
Por um momento a garota simplesmente ficou olhando. Então, com um cuidado deliberado, puxou o zíper e tirou o conteúdo: uma escova de dentes; uma blusa minúscula, esgarçada pelos anos, com a palavra ATREVIDA estampada em purpurina; uma calça jeans puída; e, no fundo, um coelho de pelúcia marrom vestindo uma jaqueta azul-clara. O tecido estava se desfazendo e uma das orelhas havia sumido, expondo um pedaço de arame enrolado.
- Foi a irmã Claire quem comprou essa blusa para você - disse Lacey. - Acho que a irmã Arnette não gostou muito.
Amy havia posto os objetos de lado na mesa e agora segurava o coelho, olhando para o rosto dele.
- Suas irmãs - disse Amy. - Mas não... suas irmãs de verdade.
Lacey se sentou em uma cadeira diante dela.
- Isso mesmo, Amy. Foi isso o que eu disse a você.
- "Somos irmãs aos olhos de Deus" - lembrou. Amy baixou os olhos de novo. Com o polegar, acariciou o tecido do coelho. - Ele levou Peter para mim. No quarto, quando eu estava doente. Eu me lembro da voz dele me dizendo para acordar. Mas eu não conseguia responder.
Lacey viu que os olhos de Peter observavam Amy atentamente.
- Quem, Amy? - perguntou ela.
- Wolgast. - A voz dela estava distante, perdida no passado. - Ele me falou sobre Eva.
- Eva?
- Ela morreu. Ele teria dado o coração por ela - contou. A menina encontrou o olhar de Lacey de novo, franzindo os olhos com intensidade. - Você também estava lá. Agora eu me lembro.
- Sim, estava.
- E havia outro homem.
Lacey assentiu.
- O agente Doyle.
Amy franziu a testa.
- Eu não gostava dele. - Ela fechou os olhos, forçando a memória. - Wolgast, você e eu estávamos no carro. Mas de repente paramos.
Seus olhos, de repente, se abriram.
- Você estava sangrando. Por que você estava sangrando?
Lacey quase havia se esquecido. Depois de tudo o que acontecera, esse detalhe da história parecia pouco importante.
- Para dizer a verdade, nem eu mesma sabia! Mas acho que um soldado deve ter atirado em mim.
- Você saiu do carro. Por que fez isso?
- Para poder esperar por você, Amy. Para que alguém estivesse aqui quando você voltasse.
Outro momento de silêncio se passou, a garota esfregando os dedos no coelho como se fosse um talismã.
- Eles são tristes demais. Eles têm sonhos terríveis. Eu os ouço o tempo todo.
- O que você ouve, Amy?
- Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Eles perguntam a toda hora, mas eu não sei responder.
Lacey segurou o queixo da menina, erguendo seu rosto. Seus olhos estavam brilhando de lágrimas.
- Você vai saber. Quando chegar a hora.
- Eles estão morrendo, Lacey. Eles estão morrendo e não conseguem evitar. Por que não, Lacey?
- Acho que estão esperando que você lhes mostre o caminho.
Ficaram assim por um longo momento. No lugar onde a mente de Lacey encontrava a de Amy, ela sentiu sua tristeza e solidão, porém algo mais: sentiu sua coragem.
Então se virou para Peter. Ele não amava Amy como Wolgast a havia amado. Ela podia ver que havia outra, alguém que ele deixara para trás. Mas ele havia respondido à transmissão de rádio. Quem quer que ouvisse a mensagem e trouxesse Amy de volta seria aquele que lutaria com ela.
Ela se abaixou para abrir o segundo baú no chão. Dentro dele havia uma pilha de pastas de papel amarelado, ainda cheirando levemente a fumaça, depois de tantos anos. O doutor as havia recuperado, junto com a mochila de Amy, enquanto o incêndio descia pelos níveis subterrâneos do Chalé. "Alguém deveria saber", dissera ele.
Ela pegou a primeira pasta e a colocou na mesa diante de Peter. A etiqueta dizia:
ORDEM EXECUTIVA 13292 - INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL VIA WOLGAST, BRADFORD J.
PERFIL CT3 COBAIA 1 BABCOCK, GILES J.
- É hora de vocês saberem como este mundo foi feito - disse a irmã Lacey. E então a abriu.
SESSENTA E SEIS
Viajaram o restante do dia que ia se esvaindo, com um grupo de cinco batedores à frente liderado por Alicia. A trilha dos Muitos era uma enorme faixa de destruição - neve pisoteada, galhos quebrados, chão coberto de escombros. A trilha parecia ficar mais densa e mais larga a cada quilômetro, como se mais criaturas estivessem se juntando ao bando, chamadas para ocupar seu lugar junto aos companheiros. De vez em quando viam uma mancha de sangue na neve, onde algum pobre animal - um cervo, um coelho ou esquilo - se deparara com a morte. Os rastros tinham menos de 12 horas: em algum lugar adiante, na sombra das árvores, sob as lajes rochosas, e talvez até mesmo sob a própria neve, eles esperavam, cochilando durante o dia, um bando de milhares de virais.
No fim da tarde foram obrigados a tomar uma decisão: acompanhar a trilha das criaturas - a rota mais curta montanha acima, mas que os levaria direto para o bando - ou virar para o norte, voltar ao rio e seguir pelo oeste. Michael olhava de seu cavalo enquanto Alicia e Greer conferenciavam. Hollis e Sara estavam ao lado dele, os fuzis atravessados no colo, os agasalhos fechados até o queixo. O frio era cortante e, no silêncio absoluto que os cercava, cada som parecia ampliado. O sopro do vento na paisagem congelada soava como uma torrente de estática.
- Seguiremos para o norte - anunciou Alicia. - Fiquem alerta.
Não houvera discussão quanto a quem iria; a única surpresa foi Greer. Enquanto os quatro se preparavam para partir, ele avançara em seu cavalo e se juntara ao grupo sem uma palavra de explicação, passando o comando da tropa para Eustace. Michael se perguntou se isso significaria que Greer seria o líder da expedição, mas assim que se afastaram da crista do morro o major se virou para Alicia e, de cima de seu cavalo, disse simplesmente:
- Essa missão é sua, tenente. Todos prontos?
Quando todos disseram que sim, eles partiram.
Cavalgaram. No cair da noite, Michael escutou o som do rio adiante. Saíram da floresta junto à margem sul e viraram para o leste, usando o curso do rio para guiá-los na escuridão que se adensava. Agora haviam formado uma fila única, com Alicia na frente e Greer na retaguarda. De vez em quando um dos cavalos se desequilibrava ou Alicia parava, sinalizando para que esperassem, ouvindo com atenção e examinando a forma escura das árvores. Então voltavam a cavalgar. Ninguém havia falado nada durante horas. Não havia lua.
Então, quando uma lasca de luz começou a se erguer atrás dos morros, o vale se abriu ao redor deles. A leste, podiam discernir a silhueta da montanha contra o céu estrelado e, mais adiante, algum tipo de estrutura - uma forma escura que, à medida que se aproximaram, descobriram ter sido uma ponte sobre o rio que, a essa altura, estava quase congelado. Alicia apeou e se ajoelhou no chão.
- Dois pares de pegadas - disse ela, indicando com o fuzil. - Atravessando a ponte nessa direção.
Começaram a subir.
Não demorou muito para encontrarem o cavalo. Com um breve gesto da cabeça, Greer confirmou que era o capão que dera a Peter e Amy. Todos apearam e pararam perto do animal morto. Sua garganta estava rasgada, coberta por uma mancha de sangue brilhante, o corpo rígido e encolhido caído de lado na neve. De algum modo ele havia atravessado o rio, provavelmente em algum ponto raso. Dava para ver os rastros do seu último galope aterrorizado, vindo do oeste.
Sara se ajoelhou e tocou o flanco do animal.
- Ainda está quente - disse ela.
Ninguém falou nada. O amanhecer chegaria logo. A leste o céu tinha começado a empalidecer.
SESSENTA E SETE
Quando Peter pousou a última pasta, esfregando os olhos vermelhos, a noite havia quase terminado. Amy caíra no sono muito antes, enrolada sob um cobertor na cama. Lacey estava sentada ao lado dela, em uma cadeira que tinha apanhado na cozinha. Às vezes, enquanto ele virava as páginas, levantando-se para colocar uma pasta de volta no baú e pegar a próxima, juntando os pedaços da história do melhor modo que podia, escutava Amy murmurando baixinho, enquanto dormia do outro lado da cortina.
Durante algum tempo depois de Amy ter ido dormir, Lacey ficara sentada com ele à mesa, explicando as coisas que ele não conseguia entender sozinho. As pastas eram grossas, cheias de informações sobre um mundo que ele não conhecia, nunca tinha visto e onde jamais vivera. Mas, mesmo assim, com o passar das horas e a ajuda de Lacey, a história completa havia se formado em sua mente. Havia fotografias também: homens de rostos inchados e olhos vítreos e sem foco. Alguns seguravam uma placa diante do peito, ou ela estava pendurada no pescoço. DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA CRIMINAL DO TEXAS, mostrava uma delas. DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE LOUISIANA, dizia outra. Kentucky, Flórida, Wyoming e Delaware. Algumas das placas não tinham palavras, só números. Alguns dos homens não tinham nenhuma placa. Eram negros, brancos e mulatos, gordos e magros, mas, de algum modo, eram todos iguais nas expressões de rendição entorpecida. Peter leu:
COBAIA 12. Cárter, Anthony L. Nascido em 12 de setembro de 1985, Baytown, Texas. Condenado à morte por homicídio. Condado de Harris, Texas, 2013.
COBAIA 11. Reinhardt, William J. Nascido em 9 de abril de 1987, Jefferson City, Missouri. Condenado à morte por três estupros seguidos de homicídio. Condado de Miami-Dade, Flórida, 2012.
COBAIA 10. Martinez, Julio A. Nascido em 3 de maio de 1991, El Paso, Texas. Condenado à morte pelo assassinato de um policial civil. Condado de Laramie, Wyoming, 2011.
COBAIA 9. Lambright, Horace D. Nascido em 19 de outubro de 1992, Oglala, Dakota do Sul. Condenado à morte por dois estupros seguidos de homicídio. Condado de Maricopa, Arizona, 2014.
COBAIA 8. Echols, Martin S. Nascido em 15 de junho de 1984, Everett, Washington. Condenado à morte por homicídio e assalto à mão armada. Cameron Parish, Louisiana, 2012.
COBAIA 7. Sosa, Rupert I. Nascido em 22 de agosto de 1989, Tulsa, Oklahoma. Condenado à morte por homicídio culposo em acidente de trânsito com agravante por omissão de socorro. Condado de Lake, Indiana, 2009.
COBAIA 6. Winston, David D. Nascido em 1 de abril de 1994, Bloomington, Minnesota. Condenado à morte por estupro e homicídio. Condado de New Castle, Delaware, 2014.
COBAIA 5. Turrell, Thaddeus R. Nascido em 26 de dezembro de 1990, Nova Orleans, Louisiana. Condenado à morte pelo assassinato de um oficial do Departamento de Segurança Interna. Nova Orleans, Louisiana.
COBAIA 4. Baffes, John T. Nascido em 12 de fevereiro de 1992, Orlando, Flórida. Condenado à morte por dois homicídios culposos. Condado de Pasço, Flórida, 2010.
COBAIA 3. Chávez, Victor Y. Nascido em 5 de julho de 1995, Niagara Falls, Nova York. Condenado à morte por dois estupros de menores e um homicídio. Condado de Elko, Nevada, 2012.
COBAIA 2. Morrison, Joseph P. Nascido em 9 de janeiro de 1992, Black Creek, Kentucky. Condenado à morte por homicídio. Condado de Lewis, Kentucky, 2013.
E finalmente:
COBAIA 1. Babcock, Giles J. Nascido em 29 de outubro de 1994. Desert Wells, Nevada. Condenado à morte por homicídio. Condado de Nye, Nevada, 2013.
Babcock, pensou ele. Desert Wells. Eles sempre voltam para casa.
A pasta de Amy era mais fina que as outras. COBAIA 13. AMY, SOBRENOME DESCONHECIDO. CONVENTO DAS IRMÃS DA MISERICÓRDIA, MEMPHIS, TENNESSEE, dizia a etiqueta. Altura, peso, cor do cabelo e uma sequência de números que Peter supôs serem dados médicos como os que Michael havia encontrado no chip no pescoço dela. Anexada à página estava a foto de uma menininha magricela de aproximadamente 6 anos - como Michael havia previsto sentada em uma cadeira, o cabelo escuro caindo em volta do rosto. Peter nunca vira a foto de alguém que ele conhecia, e por um momento sua mente lutou para compreender a ideia de que a imagem era da mesma pessoa que estava dormindo no quarto ao lado. Mas não havia dúvida: os olhos eram os de Amy. Está vendo?, eles pareciam dizer. Quem você achava que eu era?
Chegou à pasta que dizia WOLGAST, BRADFORD, J. Não havia foto: uma mancha enferrujada na parte de cima da página mostrava o lugar onde ela estivera presa por um clipe. Mas mesmo assim Peter pôde formar na mente a imagem daquele homem que, segundo Lacey, trouxera cada um dos Doze para o complexo, além de Amy: um homem alto e forte, de olhos fundos, cabelo quase grisalho, mãos grandes de trabalhador e rosto afável mas perturbado, como se algo mal contido se movesse sob a superfície. Wolgast fora casado e tivera uma filha, que morrera. O arquivo citava a menina: Eva. Peter se perguntou se esse teria sido o motivo que, no fim, o levara a ajudar Amy. Seus instintos diziam que sim.
Mas foi o conteúdo da última pasta que mais o surpreendeu. Um relatório feito por alguém chamado Cole para um tal coronel Sykes, do Departamento de Armas Especiais do Exército dos Estados Unidos, relativo ao trabalho do Dr. Jonas Lear e algo chamado Projeto Noé; e um segundo documento, datado de cinco anos mais tarde, ordenando a transferência de 12 cobaias humanas de Telluride, no Colorado, para White Sands, no Novo México, para "teste de combate operacional". Peter demorou algum tempo para juntar as peças do quebra-cabeça, ou quase todas. Mas sabia o que a palavra combate significava.
Todos aqueles anos esperando a volta do Exército, e fora o Exército que havia causado tudo aquilo.
Enquanto largava a última pasta, ouviu Lacey se levantando. Ela passou pela cortina e parou perto dele.
- Então. Você leu.
Ao som da voz dela, ele foi varrido por uma exaustão súbita. Lacey acendeu o fogo e se sentou à mesa diante dele. Ele indicou as pilhas de papel.
- Ele fez isso mesmo? O doutor?
- Fez. - Ela assentiu. - Havia outras pessoas, mas sim.
- Alguma vez ele disse por quê?
Atrás dela, a lenha crepitou, enchendo a sala de luz.
- Acho que era porque podia. Esse é o motivo que leva as pessoas a fazerem a maioria das coisas que fazem. Ele não era um homem ruim, Peter. A culpa não foi totalmente dele, mas ele achava que sim. Eu dizia: "Você acha que o homem, sozinho, poderia ter mudado o mundo inteiro? É claro que não." Mas ele nunca acreditou nisso - ela concluiu. Depois, inclinando a cabeça para as pastas na mesa: - Sabe, Peter, ele deixou isso para você.
- Para mim? Como?
- Ele deixou os documentos para quem voltasse. Para que soubessem o que aconteceu aqui.
Peter ficou sentado em silêncio, sem saber o que dizer. Alicia estivera certa com relação a uma coisa: durante toda a sua vida, desde o dia em que saíra do Abrigo, ele se perguntara por que o mundo era como era. Mas descobrir a verdade não resolvera nada.
O coelho de pelúcia de Amy ainda estava na mesa. Ele o pegou.
- Acha que ela se lembra?
- Do que fizeram com ela? Não sei. Talvez sim.
- Não, quero dizer de antes. De quando era criança. - Ele procurou as palavras. - De quando era humana.
- Acho que ela sempre foi humana.
Peter esperou que Lacey falasse mais. Quando viu que ela não faria isso, pôs o coelho de lado.
- Como é viver para sempre?
Ela deu um sorriso sem graça.
- Não creio que irei viver para sempre.
- Mas ele lhe deu o vírus. Você é como ela, como Amy.
- Não existe ninguém como Amy, Peter. - Ela deu de ombros. - Mas se está me perguntando como têm sido todos esses anos desde que Jonas morreu, eu diria que têm sido muito solitários. Às vezes me surpreendo ao ver quão solitária a vida pode se tornar.
- Você sente falta dele, não é?
Uma expressão de tristeza varreu o rosto dela, como a sombra de um pássaro atravessando o campo. Peter se arrependeu imediatamente de ter mencionado aquilo.
- Desculpe, eu não queria.
Mas ela balançou a cabeça.
- Não. Tudo bem. Realmente é difícil falar sobre ele, depois de tanto tempo. Mas a resposta é sim. Sinto saudade dele. Acho maravilhoso que alguém possa ser motivo de saudade, como ele é.
Durante algum tempo ficaram em silêncio, banhados pela luz do fogo. Peter se perguntou se Alicia pensava nele e onde ela estaria agora. Não fazia ideia se iria vê-la, ou a algum dos outros, de novo.
- Não sei o que estou fazendo, Lacey - disse finalmente. - Não sei o que fazer com nada disso.
- Você encontrou o caminho até aqui. Já é alguma coisa. É um começo.
- E Amy?
- O que tem ela, Peter?
Mas ele não sabia direito o que estava perguntando. A pergunta provavelmente era: O que vai ser de Amy?
- Eu pensei... - Ele suspirou e afastou o olhar em direção ao quarto onde Amy dormia. - Bem, eu não sei direito o que pensei.
- Que você poderia derrotá-los? Que encontraria a resposta aqui?
- Acho que sim. - Ele voltou a olhar para Lacey. - Eu nem sabia que estava pensando isso, até agora. Mas é isso.
Lacey parecia estudá-lo, mas Peter não sabia o que ela procurava. Imaginou se estaria tão louco quanto parecia. Provavelmente sim.
- Diga, Peter: você conhece a história de Noé? Não do Projeto Noé. Do homem Noé.
Ele nunca havia ouvido aquele nome.
- Acho que não.
Então ela contou.
- É uma história antiga. Uma história verdadeira. Acho que vai ajudá-lo. - Lacey se empertigou, o rosto subitamente animado. - Bem. Deus pediu a um homem chamado Noé que construísse um grande barco. Isso foi há muito tempo. "Por que devo construir um barco?", perguntou Noé. "O dia está ensolarado, tenho outras coisas para fazer." Deus disse: "Porque este mundo está ficando perverso, e é minha intenção mandar uma enchente para destruí-lo e afogar toda alma viva. Mas você, Noé, é um homem justo, e vou salvá-lo e a sua família se você fizer o que eu ordeno, se construir um barco para abrigar vocês e cada espécie animal, dois de cada um." E sabe o que Noé fez, Peter?
- Construiu o barco?
Os olhos dela se arregalaram.
- É claro que sim! Mas não imediatamente. Essa, veja bem, é a parte mais interessante da história. Se Noé simplesmente tivesse feito o que foi mandado, a história não significaria nada. Não. Ele teve medo de que as pessoas zombassem dele. Teve medo de fazer o barco e a enchente não chegar e ele parecer idiota. Deus o estava testando para descobrir se havia alguém por quem valeria a pena salvar o mundo. Queria ver se Noé estava à altura da tarefa. E, no fim, estava. Ele construiu o barco e os céus se abriram, e o mundo foi inundado. Por um longo tempo Noé e sua família flutuaram sobre as águas. Parecia que tinham sido esquecidos, que Deus havia pregado uma peça terrível neles. Mas depois de muitos dias Deus se lembrou de Noé e mandou uma pomba para guiá-los a terra, e o mundo renasceu.
Ela bateu palmas baixinho, satisfeita.
- Pronto. Está vendo?
Ele não via nada. A história lembrava as fábulas que a Professora costumava ler na roda, histórias de animais falantes que terminavam com uma lição. Eram agradáveis de ouvir, e talvez não estivessem erradas, mas eram simplórias demais, coisas para crianças.
- Não está acreditando? Tudo bem. Um dia vai acreditar.
- Não é que eu não acredite - ele conseguiu dizer. - Desculpe, é que... é só uma história.
- Talvez. - Ela deu de ombros. - E talvez um dia alguém diga essas mesmas palavras sobre você, Peter. O que você acha disso?
Ele não sabia. Era tarde, ou cedo; a noite estava quase no fim. Apesar de tudo o que descobrira, sentia-se mais perplexo do que antes.
- Então, hipoteticamente - disse ele. - Se eu sou Noé, quem é Amy?
O rosto de Lacey demonstrava surpresa. Ela parecia a ponto de gargalhar.
- Peter, você me surpreende. Talvez eu não tenha contado a história direito.
- Não, você a contou muito bem. Mas, mesmo assim, não entendi.
Ela se inclinou para a frente e sorriu de novo. Um dos seus sorrisos estranhos, tristes, cheios de fé.
- O barco, Peter. Amy é o barco.
Peter ainda tentava entender a resposta misteriosa quando Lacey pareceu levar um susto. Franzindo a testa, ela olhou rapidamente em volta da sala.
- Lacey? O que houve?
Mas ela não parecia ter escutado. Afastou-se rapidamente da mesa.
- Demorei demais, eu acho. Logo vai clarear. Vá acordar Amy e pegue suas coisas.
Ele ficou pasmo, a mente ainda flutuando nas estranhas correntezas da noite.
- Estamos de partida?
Ele se levantou e descobriu Amy parada junto à entrada do quarto, o cabelo escuro revolto e desgrenhado, a cortina mexendo-se atrás. O que quer que tivesse afetado Lacey também a afetara: seu rosto exibia uma urgência súbita.
- Lacey... - começou Amy.
- Eu sei. Ele vai tentar chegar aqui antes do amanhecer.
Apertando a capa em volta do corpo, Lacey olhou de novo com insistência para Peter.
- Depressa, ande.
A paz da noite fora subitamente banida, substituída por uma urgência que sua mente não parecia capaz de entender.
- Lacey, de quem você está falando? Quem está vindo? Mas então ele olhou para Amy e soube.
Babcock.
Babcock estava vindo.
- Depressa, Peter.
- Lacey, você não entende.
Ele se sentia entorpecido. Não tinha nada com que lutar, nem mesmo uma faca. - v
- Estamos totalmente desarmados. Eu já vi o que ele é capaz de fazer.
- Há armas mais poderosas do que fuzis e facas - respondeu a mulher. Em seu rosto não havia medo, apenas objetividade.
- É hora de você ver.
- Ver o quê?
- O que veio encontrar - disse Lacey. - A passagem.
SESSENTA E OITO
Peter se viu no escuro: Lacey os estava levando para longe da casa, adentrando
a floresta. Um vento gelado soprava entre as árvores, como um gemido fantasmagórico. Uma lasca de lua banhava a cena de uma luz trêmula, fazendo as sombras sacudirem e oscilarem em volta. Subiram uma encosta e desceram outra. Ali a neve era mais funda, amontoados cobertos por uma crosta dura. Agora estavam no lado sul da montanha, Peter ouvia o som do rio abaixo.
Antes mesmo de ver, sentiu a amplidão do espaço se abrindo adiante, como se a montanha subitamente terminasse em um penhasco. Estendeu a mão em um reflexo para encontrar Amy, mas ela havia sumido. A borda podia estar em qualquer lugar; bastaria um passo em falso e a escuridão o engoliria.
- Por aqui - gritou Lacey adiante. - Depressa, depressa.
Ele acompanhou sua voz. O que pensava ser uma queda vertical na verdade era uma encosta rochosa, íngreme, mas que podiam descer. Amy já estava percorrendo o caminho sinuoso. Ele respirou fundo o ar gelado, afastando o medo e foi atrás.
O caminho ficou mais estreito, correndo horizontalmente pela lateral da montanha enquanto descia, grudado à encosta como uma passarela. À esquerda, um paredão rochoso coberto de gelo brilhava ao luar. À direita, um abismo de negrume, um mergulho para o nada. Só de olhar, já se sentia varrido para longe. Tentou manter os olhos no caminho adiante. As mulheres andavam depressa, sombras saltando na periferia de sua visão. Para onde Lacey os estava levando? O que era a arma da qual ela havia falado? Podia escutar novamente o barulho do rio, lá embaixo. As estrelas acima do seu rosto emitiam um brilho intenso e puro, como lascas de gelo.
Virou uma curva e estacou. Lacey e Amy estavam paradas diante de uma espécie de túnel, uma abertura larga na face da montanha. O buraco era da altura dele, o interior negro parecendo uma enorme boca aberta.
- Por aqui - disse Lacey.
Dois passos, três passos, quatro. A escuridão o envolveu. Lacey os guiava para dentro da montanha. Lembrou-se da caixa de fósforos no bolso do casaco. Parou e acendeu um com dificuldade, os dedos adormecidos pelo frio, mas assim que conseguiu, uma corrente de ar apagou a chama.
A voz de Lacey veio da frente:
- Depressa, Peter.
Ele avançou devagar, cada passo um ato de fé. Então sentiu a mão em seu braço, uma pressão firme. Amy.
- Pare.
Não podia ver nada. Apesar do frio, havia começado a suar. Onde estava Lacey? Ele girou o corpo, procurando a abertura do túnel para se orientar. Um gemido de metal e o som de uma porta se abrindo de repente vieram de algum lugar atrás dele.
Tudo foi inundado por uma luz ofuscante.
Estavam em um corredor comprido escavado na montanha. As paredes eram cobertas de tubos e dutos de metal. Lacey estava parada junto a um painel de disjuntores na parede ao lado de uma porta. Lâmpadas fluorescentes se enfileiravam no teto.
- Energia elétrica?
- De baterias. O doutor me mostrou.
- Nenhuma bateria poderia durar tanto.
- Essas são... diferentes.
Lacey fechou a porta pesada atrás deles.
- Ele chamava este lugar de Nível 5. Vou lhe mostrar. Por favor, venha.
O corredor levava a um espaço maior, imerso na escuridão. Lacey tateou a parede até achar o interruptor. Peter pôde sentir uma espécie de zunido nitidamente mecânico sob as solas das botas molhadas.
As luzes se acenderam.
A sala parecia uma espécie de enfermaria. Um ar de abandono pairava sobre tudo, a maca e o balcão comprido e alto coberto de equipamentos empoeirados: fogareiros, bécheres e bacias cromadas manchadas pelos anos, uma bandeja com seringas ainda lacradas em plástico e, sobre um pano comprido e sujo de ferrugem, uma fileira de fórceps metálicos e bisturis. E, no fundo da sala, em um ninho de dutos, o que pareciam ser baterias.
Se você encontrou a menina, traga-a para cá.
Para cá, pensou Peter. Não simplesmente para a montanha, mas para cá. Para esta sala.
O que havia ali?
Lacey tinha se dirigido até uma caixa de aço que parecia um guarda-roupa aparafusado na parede. Na frente havia uma maçaneta e, ao lado, um teclado. Ele ficou olhando enquanto ela digitava uma longa série de números e depois girava a maçaneta com um estalo surdo.
A princípio Peter achou que o armário estivesse vazio. Depois viu uma caixa de metal na prateleira de baixo. Lacey a pegou e entregou a ele.
A caixa, pequena o suficiente para caber em uma das mãos, era surpreendentemente leve. Parecia ser inteiriça, mas havia um fecho com um pequeno botão ao lado que se encaixava exatamente em seu polegar. Peter o apertou, e a caixa se separou imediatamente em duas metades. Dentro, em um molde de espuma, havia duas fileiras de minúsculos frascos de vidro contendo um líquido verde brilhante. Ele contou 11; o décimo segundo compartimento estava vazio.
- É o último vírus - disse Lacey. - O que ele aplicou em Amy. Ele o fez a partir do sangue dela.
Peter examinou o rosto de Lacey. Viu a verdade registrada ali; mais do que isso, sentiu a verdade.
- O compartimento vazio. É o que Lear deu a você, não é?
Lacey confirmou com a cabeça.
- Acredito que sim.
Ele fechou a tampa, que se lacrou com um estalo. Em seguida tirou um cobertor da mochila, enrolando nele a caixa e guardando-a em seguida. Pegou um punhado das seringas lacradas do balcão e as colocou na mochila também. A melhor opção seria ficarem até o amanhecer, e então descerem a montanha Depois disso ele não sabia. Virou-se para Amy.
- Quanto tempo temos?
Ela balançou a cabeça: não muito.
- Ele está perto.
- Ele conseguiria passar por aquela porta, Lacey?
A mulher não disse nada.
- Lacey?
- Minha esperança é que ele passe - disse ela.
Agora estavam no campo, bem acima do rio. A trilha de Peter e Amy havia desaparecido, coberta pela neve que caía. Alicia havia cavalgado na frente, sondando o terreno. Já deveria ter amanhecido, pensou Michael. Mas tudo o que via era a mesma luz cinza em direção à qual haviam cavalgado pelo que pareciam horas.
- E onde, diabos, eles estão? - perguntou Hollis.
Michael não sabia se ele estava falando de Peter e Amy ou dos virais. Nenhum deles sairia vivo daquele lugar congelado e estéril, pensou com resignação. Iriam todos morrer ali. Sara e Greer estavam em silêncio - pensando a mesma coisa, supôs Michael, ou talvez apenas sentindo frio demais para falar. Suas mãos estavam tão rígidas que ele duvidava que pudesse atirar ou mesmo recarregar o fuzil. Tentou tomar um pouco de água para se acalmar, mas ela havia congelado no cantil.
Ouviram o som dos trotes do cavalo de Alicia voltando em direção a eles na escuridão. Ela parou.
- Rastros - disse, indicando a direção com um movimento rápido da cabeça. - Há uma abertura na cerca.
Ela bateu os calcanhares no cavalo, sem esperar pelos outros, e voltou rapidamente para o lugar de onde viera. Sem uma palavra, Greer foi atrás dela, seguido pelos demais. Estavam de novo entre as árvores. Agora Alicia ia mais rápido, galopando pela neve. Michael tentava instigar o cavalo a se apressar. Ao seu lado, viu Sara abaixar a cabeça para passar pelos galhos mais baixos.
Algo se movia acima deles, nas árvores.
Michael levantou o rosto a tempo de ouvir uma arma disparando atrás. No momento seguinte, uma força violenta o acertou pelas costas, arrancando-lhe o ar dos pulmões e jogando-o por cima do pescoço do cavalo, fazendo o fuzil voar de sua mão. Por um instante se sentiu suspenso, sem dor, acima da terra - parte de sua consciência parou para registrar esse fato surpreendente -, mas a sensação não durou muito. Bateu com força no chão, caindo de costas na neve, e agora tinha outras coisas em que pensar. Havia caído na frente do cavalo. Rolou de lado, cobrindo a cabeça com as mãos para se proteger. Sentiu uma feroz torrente de ar enquanto o animal apavorado saltava sobre ele, seguida pelo impacto dos cascos na neve, um deles batendo a centímetros de seu ouvido.
Então o cavalo se foi. Todo mundo se foi.
Assim que conseguiu se ajoelhar, Michael viu o viral - o mesmo, supôs, que o havia derrubado. A criatura estava agachada a apenas alguns metros dele, apoiada nos calcanhares como um sapo. Os antebraços estavam enterrados na neve, que brilhava com sua luminescência, como se a criatura estivesse parcialmente imersa em um poço de água verde-azulada. Havia mais neve grudada ao peito e aos braços, uma poeira luzidia. Fios de umidade corriam por sua face. Ecoando por cima da encosta, chegava o som de tiros misturado a vozes que gritavam seu nome como as palavras de uma canção. Mas aqueles sons pareciam sinais vindos de uma estrela distante. Como a vastidão escura a seu redor - porque isso também havia sumido da sua mente, se dispersando como as moléculas de um gás em expansão -, as vozes talvez estivessem chamando por outra pessoa. Agora o viral estava estalando a garganta, distendendo os músculos do maxilar. Com uma inclinação lateral da cabeça, ele bateu preguiçosamente os dentes, como se não estivesse com pressa - como se os dois tivessem todo o tempo do mundo.
E nesse momento Michael percebeu que o lugar onde guardava o medo estava vazio. Ele, Michael, o Circuito, não estava com medo. O que sentia era mais parecido com raiva - uma irritação enorme e exausta, como a que alguém sente quando uma mosca fica zumbindo ao redor do seu rosto por um tempo longo demais. Diabos, pensou, guiando as mãos para a bainha no cinto. Estou cansado dessas porras. Talvez haja 40 milhões de vocês, talvez não. Mas, nos próximos dois segundos, haverá um a menos.
Enquanto Michael se levantava, o viral disparou em sua direção, os braços e as pernas se estendendo como os dedos de uma mão aberta. Mal teve tempo de estender a faca, os olhos se fechando em um reflexo. Sentiu o corte do metal quando o viral se chocou contra ele, dobrando-se sobre o corpo de Michael, que tombou para trás.
Rolou e viu o viral caído de costas na neve. Sua faca estava enterrada no peito da criatura, cujos braços e as pernas ainda se moviam, tentando agarrar o ar Duas silhuetas surgiram, paradas junto ao corpo. Peter e, ao lado dele, Amy. De onde teriam vindo? Amy estava segurando um fuzil - o fuzil de Michael, coberto de neve. Aos pés dele, a criatura fez um som que podia ser um suspiro ou um gemido. Amy encostou a coronha da arma no ombro, baixou o cano e o enfiou na boca aberta do viral.
- Desculpe - disse ela. Então puxou o gatilho.
Michael ficou de pé. Agora o viral estava imóvel. A agonia havia chegado ao fim. Havia uma enorme mancha de sangue na neve. Amy entregou a arma a Peter.
- Tome.
- Você está bem? - perguntou Peter a Michael.
Só então Michael percebeu que estava tremendo. Assentiu.
- Venha.
Ouviram mais tiros do outro lado da encosta. Correram.
Não era justo o que tinha feito, Lacey sabia. Deixar que Peter e Amy achassem que ela iria junto com eles. Ajustar o temporizador da bomba e levá-los até a porta, depois mandar que ficassem do outro lado. Fechar a porta enquanto eles olhavam, depois se trancar do lado de dentro. Pôde ouvi-los batendo do outro lado. Pôde escutar a voz de Amy uma última vez, ressoando em sua mente.
Lacey, Lacey, não vá!
Fujam agora. Ele vai chegar a qualquer minuto.
Lacey, por favor!
Você precisa ajudá-los. Eles estão com medo. Não vão saber o que está acontecendo. Ajude-os, Amy.
Tudo acontecera ali, naquele lugar, que precisava ser destruído. Assim como Deus varrera a Terra nos tempos de Noé para que o grande barco pudesse viajar e fazer o mundo de novo.
Ela seria Suas águas.
Uma coisa terrível, a bomba. Era pequena, explicara Jonas, só meio quiloton - o bastante para destruir o Chalé e todos os andares subterrâneos, escondendo as provas do que eles haviam feito, mas não potente o bastante para ser registrada por nenhum satélite. Uma medida de segurança, caso os virais um dia fugissem. Mas quando isso aconteceu, houve uma queda de energia nos andares de cima, e Sykes tinha desaparecido, ou morrido - e, ainda que o próprio Jonas pudesse tê-la detonado, não conseguira se obrigar a fazer isso, não com Amy lá dentro.
Com Peter e Amy olhando, Lacey havia se ajoelhado diante dela: uma pequena maleta, com o acabamento opaco típico dos objetos militares. Jonas havia lhe mostrado o que fazer. Ela apertou uma pequena reentrância na lateral, e um painel baixou, revelando um teclado com uma tela pequena, com espaço suficiente apenas para uma única linha de texto. Lacey digitou:
ELIZABETH
A tela se acendeu.
ARMAR? S/N
Ela apertou o S.
TEMPO?
Por um momento ela parou. Depois digitou 5.
5:00 CONFIRMAR? S/N
Ela apertou o S de novo. Na tela, um relógio começou a contar.
4:59
4:58
4:57
Ela fechou o painel e se levantou.
- Depressa - disse aos dois, levando-os rapidamente pelo corredor. - Temos de sair daqui.
Então ela os trancou do lado de fora.
Lacey, por favor! Não sei o que fazer! Me diga o que fazer!
Você saberá, Amy, quando chegar a hora. Saberá o que há dentro de você. Saberá como libertá-los, para que façam a passagem final.
Agora ela estava sozinha. Seu trabalho estava quase terminado. Quando teve certeza de que Peter e Amy haviam partido, abriu o trinco e escancarou a porta.
Venha a mim, pensou. Parada junto à porta, respirou fundo, compondo-se, projetando a mente para fora. Venha para o lugar onde você foi criado.
Lacey esperou. Cinco minutos: depois de todos aqueles anos, cinco minutos não eram nada.
O dia ia amanhecendo sobre a montanha.
Os três corriam na direção dos tiros. Passaram pela crista de um morro. Lá embaixo, Michael viu uma casa. Os cavalos estavam do lado de fora. Sara e Alicia acenavam para eles da porta.
Agora as criaturas estavam atrás deles. Nas árvores. Eles desceram o barranco a toda a velocidade e correram para dentro. Greer e Hollis apareceram de trás de uma cortina, carregando uma cômoda alta.
- Eles estão logo atrás de nós - disse Michael.
Encostaram a cômoda na porta. Uma tática praticamente inútil, pensou Michael, mas talvez pudesse lhes dar um ou dois segundos a mais.
- E essas janelas? - perguntou Alicia. - Há alguma coisa que possamos usar?
Tentaram mover o armário, mas era pesado demais.
- Esqueçam - disse Alicia, pegando uma pistola na cintura e colocando-a nas mãos de Michael antes de se dirigir aos outros. - Greer, você e Hollis ficam na janela do quarto. Os demais ficam aqui. Dois na porta e um em cada janela, na frente e atrás. Circuito, vigie a chaminé. Eles vão pegar os cavalos primeiro.
Todos assumiram suas posições.
Do quarto, Hollis gritou:
- Aí vêm eles!
Algo estava errado, pensou Lacey. Eles já deveriam estar ali. Podia senti-los em toda a volta, preenchendo sua mente com a fome, a fome e a pergunta.
Quem sou eu?
Quem sou eu?
Quem sou eu?
Voltou para o túnel.
Venham a mim - respondeu. - Venham a mim.
Percorreu rapidamente toda a extensão do túnel. Podia vislumbrar a abertura adiante, um círculo iluminado pela suave luz cinza da alvorada na montanha. Os primeiros raios de sol viriam do oeste, refletidos do lado oposto do vale, dos campos de neve e gelo.
Chegou à boca do túnel e saiu. Podia ver, embaixo, os rastros da subida dos virais pela encosta gelada. Milhares de milhares, pensou.
Tinham passado direto.
Foi tomada pelo desespero. Onde vocês estão?, pensou. E então disse, ouvindo a fúria na própria voz que ecoou pelo vale.
- Onde vocês estão?
Mas havia silêncio no céu.
Então, em meio à quietude, escutou.
Estou aqui.
Os virais se atiraram contra as portas e janelas ao mesmo tempo, um estrondo furioso de vidro se quebrando e madeira rachando. Enquanto tentava firmar a cômoda com o ombro, Peter foi lançado para trás, de encontro a Amy. Podia ouvir Hollis e Greer atirando no quarto, Alicia, Michael, Sara e Amy também, todos disparando.
- Recuem! - gritou Alicia. - A porta está cedendo!
Peter agarrou Amy pelo braço e a puxou para o quarto. Hollis estava perto da janela. Greer estava caído no chão ao lado da cama, sangrando, com um corte fundo na testa.
- É vidro! - gritou ele. - É só vidro!
- Hollis, fique nessa janela! - gritou Alicia.
Eles lutariam enquanto pudessem. Alicia deixou cair o pente vazio, enfiou um novo no lugar e engatilhou o fuzil.
- Preparem-se!
Ouviram a porta da frente arrebentar. Alicia, que estava mais perto da cortina do quarto, se virou e começou a atirar.
Não foi o primeiro que a alcançou, nem o segundo, nem mesmo o terceiro. Foi o quarto. Àquela altura, sua arma estava vazia. Mais tarde Peter se recordaria da cena como uma sequência de pequenos detalhes. O som dos últimos cartuchos ricocheteando no chão. O redemoinho de fumaça de pólvora no ar e a queda do pente vazio de Alicia enquanto ela estendia a mão para pegar um novo no colete. O viral se lançando sobre ela através da cortina despencada, a expressão implacável em seu rosto e o clarão dos olhos e das mandíbulas abertas. O cano da arma inútil subindo e o movimento rápido da mão para sacar a faca, tarde demais. O impacto, cruel e inevitável. Alicia caindo para trás no chão, as mandíbulas do viral encontrando seu pescoço.
Foi Hollis quem deu o tiro, avançando enquanto o viral erguia a cabeça e cravando o cano da arma na boca da criatura, o disparo fazendo uma mancha esguichada na parede do quarto. Peter correu para Alicia e a agarrou por debaixo dos braços, arrastando-a para longe da porta. O sangue corria de seu pescoço, um carmesim profundo encharcando o colete. Ouviu alguém gritando, dizendo o nome dela repetidamente, mas talvez fosse ele próprio. Apoiado na parede, suspendeu Alicia e a acomodou entre as pernas, abraçando-a contra o peito. Em um reflexo, colocou a mão sobre o ferimento para tentar estancar o sangue. Agora Amy e Sara estavam no chão, encolhidas contra a parede. Ao ver outra criatura passar pela cortina, Peter levantou a pistola e disparou as últimas duas balas que tinha. Errou o primeiro tiro, mas não o segundo. Alicia respirava com dificuldade em seus braços, entre soluços e gorgolejos. Havia sangue, muito sangue.
Ele fechou os olhos e a puxou com força contra o corpo.
Lacey se virou. Babcock estava empoleirado acima dela, o corpo enorme se erguendo até o alto da boca do túnel. A maior e mais terrível criatura que Deus já fizera. Lacey não sentiu medo, apenas assombro diante das obras magníficas de Deus, de como Ele fizera uma criatura tão perfeita em Sua sabedoria, tão adequada para devorar um mundo. E enquanto Lacey olhava para ele, para sua grande e terrível radiância - uma luz sagrada, como a luz dos anjos -, o coração dela se encheu do conhecimento de que não estivera errada: a longa noite de sua vigília estava para terminar. Uma vigília começada tantos anos antes, em uma manhã úmida de primavera, quando abrira a porta do Convento das Irmãs da Misericórdia, em Memphis, no Tennessee, e vira uma menininha.
Jonas, pensou, está vendo como eu estava certa? Tudo está perdoado; tudo o que foi perdido pode ser reencontrado. Jonas, estou indo contar a você. Estou quase com você agora.
Correu para dentro do túnel.
Venha a mim. Venha a mim venha a mim venha a mim.
Correu. Estava naquele lugar, mas também em outro. Estava correndo pelo túnel, atraindo Babcock para dentro, mas, ao mesmo tempo, era de novo uma menininha no campo. Podia sentir o cheiro doce da terra, o ar frio da noite nas bochechas. Podia ouvir as irmãs e a voz da mãe, gritando da porta: "Fujam, crianças, corram o mais depressa que puderem."
Chocou-se contra a porta e continuou, seguindo pelo corredor de luzes que zuniam, até a sala com a maca, os bécheres e as baterias, todas as pequenas coisas do velho mundo e seus terríveis sonhos de sangue.
Parou, virando-se para olhar a porta. E ali estava ele.
Sou Babcock. Um dos Doze.
Eu também, pensou a irmã Lacey enquanto, atrás dela, o contador da bomba chegava a zero. Os átomos do núcleo se chocaram uns contra os outros, e sua mente se encheu da luz branca e pura do céu para sempre.
SESSENTA E NOVE
Ela era Amy e era para sempre. Era uma dos Doze e também a outra, a que estava acima e atrás, o Zero. Era a Garota de Lugar Nenhum, Aquela que Surgiu, a que viveu mil anos. Amy das Multidões, a Garota com Almas Dentro.
Ela era Amy. Era Amy. Era Amy.
Foi a primeira a se levantar. Depois do trovão e do abalo, dos tremores e dos rugidos. A casinha de Lacey oscilou e sacudiu como um cavalo selvagem, como um barquinho em uma tormenta. Todos gritando e gritando, amontoados contra a parede, lutando pela vida.
Mas então acabou. A terra embaixo deles descansou. O ar estava cheio de poeira, todos tossindo e engasgando, pasmos por estarem vivos.
Estavam vivos.
Ela guiou Peter e os outros para fora da casa, passando pelos corpos dos virais mortos, para a luz do alvorecer onde os Muitos esperavam. Os Muitos não mais de Babcock.
Estavam em toda parte e em tudo ao redor. Um mar de rostos e olhos. Moveram-se na direção dela na vastidão de seu número, para a luz do sol que amanhecia. Ela podia sentir o espaço vazio dentro deles onde o sonho estivera, o sonho de Babcock, e em seu lugar a pergunta, feroz e ardente:
Quem sou eu quem sou eu quem sou eu?
E ela sabia. Amy sabia. Conhecia todos eles, um por um, finalmente conhecia todos. Ela era o barco, como dissera Lacey, carregava as almas deles. Amy as havia guardado todo aquele tempo, esperando por esse dia, quando lhes devolveria o que era deles por direito - as histórias de quem eles eram. O dia em que fariam a passagem.
Venham a mim, pensou. Venham a mim venham a mim venham a mim.
E eles vieram. Saíram das árvores, dos campos cobertos de neve, de todos os lugares escondidos. Amy se movia entre eles, tocando-os e acariciando-os, dizendo o que eles ansiavam por saber.
Você é... Smith.
Você é... Tate.
Você é Erie você é Ramos você é Ward você é Cho você é Singh Atkinson Johnson Montefusco Cohen Murrey Nguyen Elberson Lazaro Torres Wright Winborne Pratt Scalamonti Mendoza Ford Chung Frost Vandyne Carlin Park Diego Murphy Parsons Richini O'Neil Myers Zapata Young Scheer Tanaka Lee White Gupta Solnik Jessup Rile Nichols Maharana Rayburn Kennedy Mueller Doerr Goldman Pooley Price Kahn Cordell Ivanov Simpson Wong Palumbo Kim Rao Montgomery Busse Mitchell Walsh McEvoy Bodine Olson Jaworski Fergusson Zachos Spenser Ruscher...
O sol subia sobre a montanha, uma claridade ofuscante. Venham, pensou Amy. Venham para a luz e se lembrem.
Você é Cross você é Flores você é Haskell Velasquez Andrews McCall Barbash Sullivan Shapiro Jablonski Choi Zeidner Clark Huston Ross Culhane Baxter Nunez Athanasian King Higbee Jensen Lombardo Anderson James Sasso Lindquist Masters Hakeemzedah Levander Tsujimoto Michie Osther Doody Bell Morales Lenzi Andriyakhova Watkins Bonilla Fitzgerald Tinti Asmundson Aiello Daley Harper Brewer Klein Weatherall Griffin Petrova Kates Hadad Riley MacLeod Wood Patterson...
Amy sentia a tristeza deles, mas agora era diferente. Era uma elevação divina. Mil vidas recuperadas passavam por ela, milhares de milhares de histórias - histórias de amor e trabalho, de pais e filhos, de dever, júbilo e sofrimentos. As camas onde haviam dormido, as refeições que haviam comido, os prazeres e a dor do corpo. Uma visão de folhas de verão na janela em uma manhã em que havia chovido; noites de solidão e noites de amor, a alma no abrigo do corpo com a eterna ânsia de ser conhecida. Ela se moveu entre eles, deitados na neve, não mais os Muitos, cada um no lugar de sua própria escolha.
Os anjos na neve.
Lembrem-se, disse a eles. Lembrem-se.
Eu sou Flynn sou Gonzales sou Young Wentzell Armstrong O'Brien Reeves Farajian Watanabe Mulroney Chernesky Logan Braverman Livingston Martin Campana Cox Torrey Swartz Tobin Hecht Stuart Lewis Redwine Pho Markovich Todd Mascucci Kostin Laseter Salib Hennesey Kasteley Merriweather Leone Barkley Kiernan Campbell Lamos Marion Quang Kagan Glazner Dubois Egan Chandler Sharpe Browning Ellenzweig Nakamura Giacomo Jones eu sou eu sou eu sou...
O sol faria seu trabalho. Logo eles estariam mortos, depois virariam cinzas, e depois nada. Os corpos se espalhariam ao vento. Eles finalmente a estavam deixando. Ela sentia seus espíritos subindo, viajando para longe.
- Amy.
Peter estava a seu lado. Ela não tinha palavras para descrever a expressão no rosto dele. Logo contaria a ele tudo o que sabia, tudo em que acreditava. O que havia adiante, a longa jornada que fariam juntos. Mas agora não era hora de falar.
- Volte para dentro - disse ela, e tomou dele a pistola vazia, largando-a na neve. - Volte lá e a salve.
- Eu posso salvá-la? E Amy assentiu.
- Você precisa fazer isso - disse ela.
Sara e Michael tinham posto Alicia na cama e tirado seu colete encharcado de sangue. Os olhos dela estavam fechados, as pálpebras estremecendo.
- Preciso de bandagens! - gritou Sara. Havia sangue em suas mãos, no cabelo.
- Alguém arranje alguma coisa para estancar esse sangramento!
Hollis usou a faca para cortar um pedaço do lençol. Não estava limpo, nada estava, mas teria de servir.
- Precisamos amarrá-la - disse Peter.
- Peter, o ferimento é fundo demais - disse Sara. Ela balançou a cabeça, uma expressão de impotência no rosto. - Não vai adiantar.
- Hollis, me dê sua faca.
Ele disse aos outros o que fazer. Cortaram os lençóis de Lacey em tiras longas, depois as torceram juntas. Amarraram as mãos e os pés de Alicia aos pés da cama. Sara disse que o sangramento parecia mais vagaroso - um mau sinal. A pulsação estava rápida e irregular.
- Se ela sobreviver - alertou Greer ao pé da cama -, esses lençóis jamais irão segurá-la.
Mas Peter não estava escutando. Foi para a sala, onde, em meio aos destroços, encontrou sua mochila. A caixa de metal e as seringas ainda estavam dentro. Tirou um dos frascos e voltou para o quarto, entregando-o a Sara.
- Dê a ela.
Sara examinou o frasco.
- Peter, eu não sei o que é isso.
- É Amy - disse ele.
Ela deu a Alicia metade do conteúdo do frasco. Durante o restante do dia e toda a noite eles esperaram. Alicia estava em um estado parecido com o coma. Sua pele estava seca e quente. O ferimento no pescoço havia se fechado, assumindo a aparência de um hematoma, roxo e inflamado. De vez em quando ela parecia acordar, como quem emerge de algum pesadelo, gemendo. Então fechava os olhos de novo.
Eles haviam arrastado os corpos dos virais mortos para fora, colocando-os junto aos demais. Eles rapidamente se transformaram em uma cinza que ainda pairava no ar, cobrindo todas as superfícies de uma camada do que parecia ser neve suja. De manhã, Peter pensou, todos teriam desaparecido. Michael e Hollis haviam lacrado as janelas com tábuas e consertado a porta. Com o cair da noite, alimentaram a lareira com o que restara da cômoda. Sara deu pontos na cabeça de Greer e a enrolou em uma bandagem feita de roupa de cama. Dormiram em turnos, dois deles vigiando Alicia. Peter disse que ficaria acordado a noite toda com ela, mas no fim, dominado pela exaustão, acabou dormindo, encolhido no chão frio junto à cama dela.
De manhã, Alicia começou a fazer força contra as tiras. Toda a cor havia sumido da sua pele. Os olhos tinham um tom rosa, de capilares estourados.
- Dê mais a ela.
- Peter, não sei o que estou fazendo - disse Sara. Ela parecia exaurida, no limite de suas forças; todos estavam. - Isso poderia matá-la.
- Faça o que eu disse.
Sara injetou o restante do conteúdo do frasco em Alicia. Lá fora havia começado a nevar outra vez. Greer e Hollis saíram para patrulhar a floresta e voltaram uma hora depois, quase congelados. O frio realmente chegara, disseram.
Hollis puxou Peter de lado.
- A comida vai ser um problema - disse ele em voz baixa.
Tinham feito um levantamento da despensa de Lacey: a maior parte dos vidros estava quebrada.
- Eu sei.
- E outra coisa. Sei que a bomba explodiu no subsolo, mas pode haver radiação. Michael disse que pelo menos o lençol freático deve estar contaminado. Ele acha que não devemos ficar muito tempo aqui. Há algum tipo de estrutura do outro lado do vale. Parece que podemos usar uma encosta para atravessar em direção ao leste.
- E Lish? Não podemos transportá-la.
Hollis fez uma pausa.
- Só estou dizendo que podemos ficar encurralados aqui. Isso não seria nada bom. Não vamos querer viajar morrendo de fome no meio de uma nevasca.
Hollis estava certo, e Peter sabia.
- Quer fazer um reconhecimento do terreno?
- Assim que a neve diminuir. Peter assentiu a contragosto.
- Leve Michael.
- Eu estava pensando em Greer.
- Ele deveria ficar aqui - disse Peter.
Hollis ficou quieto por um momento, depois entendeu o que Peter queria dizer.
- Certo.
O vento e a neve sopraram a noite toda. De manhã, o céu estava límpido e luminoso. Hollis e Michael se prepararam para sair. Segundo Hollis, se tudo desse certo, estariam de volta antes do anoitecer. Mas talvez não voltassem até o dia seguinte. No quintal coberto de neve, Sara abraçou Hollis, depois Michael. Greer e Amy estavam dentro da casa com Alicia. Nas últimas 24 horas desde que haviam lhe dado a segunda dose do vírus, seu estado parecia ter se estabilizado. Mas a febre continuava alta e a aparência dos olhos havia piorado.
- Só não... espere demais - disse Hollis a Peter. - Ela não ia querer isso. Esperaram. Agora Amy permanecia junto a Alicia, jamais saindo de perto da cama. Todos sabiam o que estava acontecendo. Ela se encolhia à menor luz no quarto, e começara a fazer força contra as tiras de novo.
- Ela está lutando contra o vírus - disse Amy. - Mas acho que está perdendo. A escuridão chegou e ainda não havia qualquer sinal de Michael e Hollis. Peter jamais se sentira tão impotente. Por que não estava funcionando, como acontecera a Lacey? Mas ele não era médico; estavam apenas tentando adivinhar o que fazer. A segunda dose poderia estar matando Alicia. Peter sabia que Greer o estava vigiando, esperando que ele agisse. No entanto, ele não podia fazer nada.
Pouco depois do amanhecer, Sara o acordou, sacudindo-o. Peter havia caído no sono em uma cadeira, a cabeça tombada contra o peito.
- Acho... que está acontecendo - disse ela.
A respiração de Alicia estava muito acelerada. Todo o seu corpo havia se retesado, os músculos do maxilar se remexendo, um tremor sob a pele. Um gemido baixo, lamentoso, saía do fundo da sua garganta. Por um momento ela relaxou. Depois tudo voltou a acontecer.
- Peter.
Ele se virou. Greer estava parado junto à porta, segurando uma faca.
- Chegou a hora.
Peter se levantou, posicionando o corpo entre Greer e a cama onde Alicia estava deitada.
- Não.
- Sei que é difícil, mas ela é uma soldada. Uma soldada das Forças Expedicionárias. É hora de ajudá-la a fazer a viagem.
- Eu quis dizer que essa tarefa não é sua. - Ele estendeu a mão. - Me dê a faca, major.
Greer hesitou, examinando o rosto de Peter.
- Você não precisa fazer isso.
- Preciso, sim. - Ele não sentia medo, só resignação. - Dei minha palavra a ela. Sou o único que pode fazer isso.
Relutante, Greer lhe entregou a faca. Peter sentiu que o peso e o volume eram familiares. Viu que aquela era a sua faca, a que havia deixado com Eustace no portão.
- Queria ficar a sós com ela, se não se importar.
O major saiu. Peter ouviu a porta da casa bater. Foi até a janela e abriu a cortina, inundando o quarto com a luz suave e cinza da manhã. Alicia gemeu e virou a cabeça para o outro lado. Greer estava certo. Peter achava que não teria mais do que alguns minutos. Lembrou-se do que Muncey dissera no fim, sobre como a coisa tomava a pessoa depressa, sobre como ele queria sentir aquilo saindo dele.
Sentou-se na beira da cama com a faca na mão. Queria dizer alguma coisa a ela, mas as palavras pareciam pequenas demais para o que sentia. Ficou quieto por um instante, deixando a mente se encher de pensamentos sobre ela - coisas que tinham feito e dito, e o que ainda havia por dizer. Era só nisso que conseguia pensar.
Poderia ter ficado assim por um dia, um ano, 100 anos. Mas tinha consciência de que não podia esperar mais. Levantou-se e se posicionou acima dela na cama, montando em sua cintura. Segurando a faca com as duas mãos, encostou a ponta na base do esterno. O ponto frágil. Sentiu sua vida se dividir em duas metades: o que viera antes e tudo o que viria depois. Sentiu o corpo de Alicia se levantar contra ele, fazendo força contra as amarras. Suas mãos estavam tremendo, a visão turva de lágrimas.
- Sinto muito, Lish - disse, e fechou os olhos enquanto levantava a faca, juntando toda a força que tinha antes de encontrar a coragem para baixá-la.
SETENTA
Era primavera e o bebê estava chegando.
Maus tivera contrações durante dias. Podia estar fazendo a limpeza na cozinha, ou deitada na cama, ou vendo Theo trabalhar no quintal, quando de repente sentia um aperto atravessando o corpo, fazendo sua respiração ficar presa no peito. "É agora?", perguntava Theo. "Ele está vindo? O neném está vindo?" Por um momento ela afastava os olhos, a cabeça inclinada para o lado, como se tentasse escutar algum som distante. Então retornava a atenção a ele, oferecendo um sorriso tranquilizador. "Pronto. Está vendo? Não é nada. Só uma contração. Está tudo bem. Volte ao que estava fazendo, Theo."
Mas dessa vez, não. Era o meio da noite. Theo estava sonhando, um sonho simples e feliz, a luz do sol caindo em um campo dourado, quando escutou a voz de Maus chamando seu nome. Ela estava no sonho também, mas ele não podia vê- la. Estava se escondendo dele, fazendo algum tipo de brincadeira. Estava à sua frente, depois atrás, ele não sabia onde. "Theo." Conroy gania e latia, pulando pelo capim, correndo para longe dele e voltando a toda a velocidade, instigando-o a ir atrás. "Onde você está?", gritava Theo. "Onde você está?" "Estou molhada", dizia a voz de Mausami. "Estou toda molhada. Acorde, Theo. Acho que a bolsa estourou."
No instante seguinte ele estava acordado e de pé, agitado, tentando calçar as botas no escuro. Conroy também estava acordado, balançando o rabo, empurrando o nariz úmido contra o rosto de Theo, que se ajoelhara para acender o lampião. Já amanheceu? Nós vamos sair?, ele parecia dizer.
Mausami respirou fundo entre os dentes.
- Aaaaai. - gemeu, arqueando as costas, erguendo-as do colchão fundo. - Aaaaai.
Ela havia lhe dito o que fazer, as coisas de que precisaria. Lençóis e toalhas para colocar embaixo dela, para o sangue e todo o resto. Uma faca e linha de pesca para o cordão umbilical. Água para limpar o neném e um cobertor para enrolá-lo.
- Fique aí. Eu já volto.
- Por todos os voadores, Theo - gemeu ela. - Aonde eu iria?
Outra contração. Ela segurou a mão dele e apertou com força, cravando as unhas em sua palma e trincando os dentes de dor.
- Aaaaai, merda.
Depois se virou e vomitou no chão.
O quarto se encheu do cheiro de vômito. Conroy pensou que era para ele, um presente maravilhoso. Theo empurrou o cachorro para longe, depois ajudou Mausami a se acomodar de novo nos travesseiros.
- Há alguma coisa errada. - O rosto dela estava pálido de medo. - Não deveria doer tanto assim.
- O que eu faço, Maus?
- Não sei!
Theo desceu a escada correndo, e Conroy foi atrás dele. O neném, o neném estava chegando. Ele tinha pensado em separar tudo com antecedência, mas, é claro, nunca chegara a fazê-lo. A casa estava gelada, o fogo havia se apagado. O bebê precisaria de calor: pôs uma braçada de lenha na lareira e depois se ajoelhou, soprando as brasas para acender o fogo. Pegou panos e um balde na cozinha. Tinha planejado ferver água para esterilizar tudo, mas agora parecia não haver mais tempo.
- Theo, onde você está?
Ele encheu o balde, pegou uma faca afiada e levou tudo para o quarto. Agora Maus estava sentada, o cabelo comprido se derramando sobre o rosto, parecendo estar com medo.
- Desculpe pelo chão - disse ela.
- Mais alguma contração?
Ela balançou a cabeça.
Conroy voltou a se aproximar da sujeira no chão. Theo o expulsou e se ajoelhou para limpar a sujeira, prendendo o fôlego. Que ridículo! Ela ia ter um bebê e ali estava ele, se encolhendo diante do cheiro de vômito.
- Ai, não - disse Maus.
Quando ele se levantou, ela estava tendo outra contração. Maus puxou as pernas para cima, apertando os calcanhares contra as nádegas. Lágrimas corriam dos cantos de seus olhos.
- Dói muito! Dói muito! - ela gritou, rolando de lado de repente. - Aperte as minhas costas, Theo!
Ela nunca tinha dito nada sobre isso.
- Onde? Onde eu devo apertar?
Ela estava gritando contra o travesseiro.
- Em qualquer lugar!
Ele apertou, inseguro.
- Mais embaixo! Pelo amor de Deus!
Ele fechou a mão e pressionou os nós dos dedos em sua coluna. Sentiu-a fazer força contra. Contou os segundos: 10, 20, 30.
- Minha coluna - disse ela, ofegante. - O neném está pressionando minha coluna. Vai fazer com que eu tenha vontade de empurrar. Não posso empurrar ainda, Theo. Não me deixe empurrar.
Ela ficou de quatro. Estava usando apenas uma camiseta. Os lençóis estavam encharcados de líquido, soltando um cheiro quente, doce, como feno recém-cortado. Ele se lembrou do sonho no campo, das ondas douradas de luz do sol.
Outra contração. Mausami gemeu e encostou o rosto no colchão.
- Não fique aí parado!
Theo subiu na cama ao lado dela, posicionando o punho em sua coluna e empurrando com toda a força.
Horas e horas. As contrações continuaram, mais longas e intensas, durante todo o dia. Theo ficou com ela na cama, apertando sua coluna até ficar com as mãos entorpecidas, os braços parecendo de borracha, de tanta fadiga. Mas, comparado ao que estava acontecendo a Mausami, seu pequeno desconforto não era nada. Saiu do lado dela apenas duas vezes, para chamar Conroy do quintal e depois, quando o dia estava terminando e ele o ouviu ganindo junto à porta, para deixá-lo sair de novo. Toda vez que retornava escada acima, Mausami estava gritando seu nome.
Imaginou se era sempre assim. Não sabia. Era horrível, interminável, diferente de tudo pelo que já passara. Imaginou se Mausami teria forças para empurrar o bebê quando chegasse a hora. Entre as contrações, ela parecia flutuar em uma espécie de sono. Theo sabia que ela estava focalizando a mente, se preparando para a próxima onda de dor que iria atravessá-la. Tudo o que podia fazer era apertar suas costas, mas isso não parecia ajudar muito. Na verdade, não parecia ajudar em nada.
Estava acendendo o lampião - outra noite, pensava desesperado, como isso poderia durar mais uma noite? - quando Maus deu um grito agudo. Ele se virou e viu um sangue aguado jorrar dela, escorrendo em listras pelas coxas.
- Maus, você está sangrando.
Ela havia deitado de costas, puxando as coxas para cima. Estava respirando muito depressa, o rosto encharcado de suor.
- Segure. Minhas pernas - disse ela, a voz entrecortada.
- Segurar como?
- Eu vou. Empurrar. Theo.
Ele se posicionou ao pé da cama e pôs as mãos contra os joelhos dela. Quando veio a contração seguinte, ela dobrou a cintura, impulsionando o peso contra ele.
- Ah, meu Deus. Estou vendo.
Ela havia se aberto como uma flor, revelando um disco de pele rosada, molhado e coberto de cabelo preto. Mas no instante seguinte a visão sumiu, as pétalas da flor se fechando novamente, puxando o bebê de volta para dentro.
Ela empurrou com força três, quatro, cinco vezes. Cada vez que empurrava, o bebê surgia, desaparecendo de modo igualmente rápido. Pela primeira vez ele pensou: esse bebê não quer nascer. Ele quer ficar onde está.
- Me ajude, Theo - implorou ela. Toda a força a havia abandonado. - Puxe-o para fora, por favor, apenas puxe-o.
- Você precisa empurrar mais uma vez, Maus.
Ela parecia completamente impotente, à beira de um colapso.
- Está me ouvindo? Você precisa empurrar!
- Não consigo! Não consigo!
Outra contração veio. Ela levantou a cabeça e soltou um grito animal de dor.
- Empurre, Maus, empurre!
Ela empurrou. Enquanto os cabelos do bebê apareciam, Theo se abaixou e enfiou o indicador dentro dela, em seu interior quente e úmido. Sentiu a curvatura de um globo ocular, o volume delicado de um nariz. Não conseguia puxar o bebê, não havia em que segurar, o bebê teria de vir até ele. Recuou e posicionou a mão embaixo dela, encostando o ombro nas pernas de Maus para lhe dar apoio.
- Estamos quase lá! Não pare!
Então, como se o toque da sua mão tivesse despertado nele a vontade de nascer, o rosto do bebê apareceu, escorregando para fora dela. Uma visão de estranheza magnífica, com orelhas, um nariz, uma boca, e olhos inchados como os de um sapo. Theo pôs a mão em concha sob a curva lisa e molhada do crânio do neném. O cordão, um tubo translúcido cheio de sangue, estava enrolado no pescoço dele. Ainda que nunca houvessem dito a ele o que fazer, Theo enfiou um dedo por baixo do cordão, levantando-o gentilmente. Depois colocou a mão dentro de Mausami, posicionou os dedos sob um dos braços do neném e puxou.
O bebê girou e se libertou, enchendo as mãos de Theo com seu corpo quente e escorregadio de pele azulada. Um menino. O bebê era um menino. Ainda não tinha respirado nem feito som algum. Sua chegada ao mundo estava incompleta. Porém Maus havia explicado bem a parte seguinte.
Theo rolou o bebê nas mãos, virando-o para baixo, deitando o corpinho leve em seu antebraço, sua mão sustentando o rosto da criança. Usando os dedos da mão livre, começou a esfregar as costas do filho com um movimento circular. Seu coração martelava no peito, mas ele não sentiu pânico: estava atento, todo o seu ser voltado para essa tarefa. Vamos, dizia Theo. Vamos, respire. Depois de tudo pelo que você passou, isso não pode ser tão difícil. O bebê havia acabado de nascer, mas Theo já se sentia dominado pelo modo como, simplesmente por existir, esse ser pequenino e cinzento em seus braços apagava todos os outros tipos de vida que Theo poderia levar. Vamos, neném. Abra os pulmões e respire.
E então ele respirou. Theo viu o peito minúsculo inflar, com um estalo discernível, e então algo quente e pegajoso em sua mão, como um espirro. O bebê respirou uma segunda vez, enchendo os pulmões, e Theo sentiu a força da vida penetrar na criança. Virou-o, estendendo a mão para pegar um pedaço de pano. O bebê tinha começado a chorar, não os gritos robustos que ele havia esperado, mas uma espécie de miado. Enxugou o nariz, os lábios e as bochechas do neném e tirou o restante do muco de sua boca com o dedo. Então o colocou, ainda ligado ao cordão, no colo de Mausami.
O rosto dela parecia exausto; as pálpebras, pesadas. Nos cantos dos olhos dela ele viu um leque de rugas que não estavam ali apenas um dia antes. Ela conseguiu agradecer com um sorriso fraco. Estava terminado. O bebê havia nascido, o bebê finalmente estava ali.
Ele pôs um cobertor sobre o neném, sobre os dois, sentou-se ao lado deles na cama, e então soltou o choro do peito.
No meio da noite, Theo acordou, pensando: onde está Conroy?
Maus e o bebê dormiam. Tinham decidido - ou melhor, Maus tinha decidido, e Theo apenas concordara - chamá-lo Caleb. Enrolaram-no em um cobertor e o puseram no colchão ao lado dela. O ar do quarto ainda estava pesado com um cheiro intenso e terroso de sangue e suor, os cheiros do nascimento. Ela havia amamentado o bebê - ou pelo menos havia tentado, já que o leite só viria dentro de um ou dois dias - e comido um pouco, um purê feito com as batatas trazidas do porão e algumas mordidas de uma das maçãs que haviam guardado para o inverno. Logo precisaria de proteína, Theo sabia, mas havia bastante caça pequena por perto, agora que o tempo havia esquentado. Assim que estivessem acomodados, ele sairia para caçar.
De repente parecia óbvio que eles jamais deixariam aquele lugar. Tinham tudo de que precisavam para viver ali. A casa havia aguentado todos aqueles anos, esperando que alguém viesse e a transformasse em um lar outra vez. Ele se perguntou por que havia demorado tanto para ver isso. Quando Peter voltasse, diria isso a ele. Talvez houvesse algo naquela montanha, talvez não. Não importava. O lar deles agora era ali; não iriam embora.
Ficou sentado durante algum tempo, pensando nessas coisas, cheio de um espanto silencioso que parecia se alojar na parte mais profunda do seu ser. Mas por fim a exaustão o dominou. Arrastou-se até a cama, deitou-se ao lado dos dois e logo estava dormindo.
Agora, acordado, percebeu que havia se esquecido de Conroy. Revirou a memória procurando se lembrar da última vez que percebera a presença do cão. Em algum momento da tarde, perto do pôr do sol, Conroy tinha começado a ganir, pedindo para sair. Theo havia descido e aberto rapidamente a porta, não querendo sair de perto de Maus por muito tempo. Conroy nunca se afastava muito da casa e, assim que terminava seu passeio noturno, começava a arranhar a porta. Theo estivera tão preocupado que simplesmente batera a porta e voltara correndo escada acima, esquecendo-se dele completamente.
Até agora. Era estranho, pensou, não ter ouvido barulho. Nenhum arranhão na porta nem latidos lá fora. Theo havia se mantido alerta por alguns dias depois de ter encontrado as pegadas no celeiro, jamais se aventurando longe da casa e mantendo sempre a espingarda à mão. Não tinha contado nada a Mausami, para não deixá-la preocupada. Mas à medida que o tempo passara sem qualquer outro sinal, sua atenção se voltara à chegada iminente do bebê. Chegara a pensar que talvez tivesse interpretado mal o que vira. As pegadas poderiam ser dele mesmo, afinal, e a lata, algo que Conroy teria encontrado no lixo.
Levantou-se em silêncio, pegando o lampião, as botas e a espingarda ao lado da porta, e desceu para a sala. Sentou-se na escada para calçar as botas, sem se incomodar em amarrar os cadarços. Acendeu um graveto nas brasas da lareira, encostou-o no pavio do lampião e abriu a porta.
Tinha esperado encontrar Conroy dormindo na varanda, mas ela estava vazia. Levantou o lampião e desceu para o quintal. Não havia lua, nem mesmo estrelas. Um vento úmido de primavera soprava, trazendo a chuva. Levantou o rosto para a névoa que se formava, a luz batendo em sua testa e nas bochechas. Onde quer que estivesse, o cão ficaria feliz em vê-lo. Ele certamente ia querer entrar e se abrigar da chuva.
- Conroy! - gritou. - Conroy, onde você está?
As outras construções estavam silenciosas. Conroy nunca havia demonstrado mais do que um interesse passageiro por aquelas estruturas, como se soubesse intuitivamente que não continham nada que pudesse lhe interessar. Havia coisas dentro, o homem e a mulher as usavam, mas de que isso lhe importava?
Theo avançou lentamente pelo quintal, a espingarda apertada sob um dos braços, enquanto, com o outro, varria a área com a luz do lampião. Tinha começado a chover forte, e ele achava que não conseguiria mantê-lo aceso. Droga de cachorro, pensou. Não era hora de fugir assim.
- Conroy, droga, aonde você foi?
Theo o encontrou caído junto à última casa. Soube imediatamente que o cachorro estava morto: o corpo magro imóvel, os pelos prateados encharcados de sangue.
Então, vindo da casa - o som viajando com a rapidez de uma flecha, enchendo sua mente de terror -, ouviu os gritos de Mausami.
Trinta passos, 50, 100: o lampião havia sumido, largado no chão junto ao corpo de Conroy. Ele agora estava correndo no escuro com as botas desamarradas, primeiro uma e depois a outra voando de seus pés. Chegou à varanda em um salto e disparou escada acima.
O quarto estava vazio.
Correu por toda a casa chamando o nome dela. Nenhum sinal de luta. Maus e o bebê simplesmente haviam desaparecido. Ele correu pela cozinha e saiu pelos fundos, bem a tempo de ouvi-la gritar de novo, o som estranhamente abafado, como se chegasse até ele através de um quilômetro de água.
Ela estava no celeiro.
Entrou correndo, passando pela porta e girando o corpo para varrer o interior escuro com a espingarda. Maus estava no banco de trás do antigo Volvo, segurando o bebê junto ao peito. Ela balançava a mão freneticamente, as palavras abafadas pelo vidro grosso.
- Theo, atrás de você.
Ele se virou, e nesse momento a espingarda foi jogada longe, arrancada de suas mãos como se fosse um graveto. Então alguma coisa o agarrou, não apenas uma parte do seu corpo, mas todo ele. Theo sentiu que estava sendo levantado. O carro com Mausami e o bebê estava em algum lugar abaixo dele, enquanto ele voava pelo escuro. Bateu no capô com um som de metal amassando, rolou e caiu no chão, com o rosto virado para cima. Então alguma coisa, a mesma coisa, o agarrou mais uma vez, e ele voou de novo, dessa vez contra a parede, com sua estante cheias de ferramentas, bugigangas e latas de combustível. Bateu de cara, os vidros explodindo, a madeira lascando, tudo caindo em uma chuva estrondosa, enquanto o chão subia para encontrá-lo, lentamente a princípio, e depois mais depressa, e de repente ele sentiu o estalo dos ossos.
Dor. Estrelas encheram sua visão. Estrelas de verdade. O pensamento de que ia morrer chegou a ele como uma mensagem de algum lugar distante. Já devia estar morto. O viral deveria tê-lo matado. Mas isso aconteceria logo. Podia sentir os olhos arderem e o gosto de sangue na boca. Estava de bruços no chão do celeiro, a perna quebrada torcida embaixo do corpo. Agora a criatura estava acima dele, uma sombra pairando no ar, se preparando para atacá-lo. Era melhor assim, pensou. Melhor que o viral o pegasse primeiro. Não queria ver o que aconteceria a Mausami e ao bebê. Ouviu-a chamar seu nome através da névoa que os golpes causaram em sua mente.
Não olhe, Maus, pensou. Eu te amo. Não olhe.
PARTE XI
A NOVA COISA
Para mim, bela amiga, nunca envelhecerás. Tal como era quando pela primeira vez teus olhos olhei, Tua beleza continua.
WILLIAM SHAKESPEARE "Soneto 104"
SETENTA E UM
Desceram a montanha viajando sobre a neve, o rio lá embaixo já descongelando. Desceram juntos, carregando as mochilas, brandindo facas. Desceram até o vale, Michael no volante do snowcat com Greer do lado e os outros atrás, o vento e o sol batendo em seus rostos. Desceram finalmente, enfrentando mais uma vez o terreno selvagem.
Estavam indo para casa.
Tinham permanecido na montanha 112 dias. Em todo esse tempo não tinham visto um único viral. Durante dias depois de terem atravessado a encosta, a neve caíra, deixando-os sem alternativa senão permanecer dentro do chalé do antigo hotel - uma grande construção de pedra com portas e janelas cobertas com folhas de compensado presas por grandes parafusos. Tinham esperado encontrar corpos dentro, mas o lugar estava vazio. A mobília em volta da lareira da gigantesca sala de estar estava coberta por fantasmagóricos lençóis brancos, a despensa da vasta cozinha atulhada de latas de todo tipo, muitas ainda com os rótulos. Em cima havia uma infinidade de quartos e, no porão, uma gigantesca fornalha silenciosa. Compridos suportes ao longo das paredes alojavam esquis. O lugar estava frio como uma sepultura. Eles não sabiam se a chaminé estava bloqueada; no mínimo estaria cheia de folhas e ninhos de pássaros. A única coisa a fazer era acender o fogo e torcer para que a fumaça encontrasse o caminho de saída. Encontraram caixas de papel guardadas em um armário no escritório. Acenderam o fogo com bolas de papel amassado e o alimentaram com a madeira de duas cadeiras da sala de jantar, cortadas com a machadinha de Peter. Depois de ficar enfumaçada por alguns minutos, a sala se encheu de luz e calor. Arrastaram colchões do segundo andar e dormiram perto do fogo, enquanto a neve caía lá fora.
Tinham encontrado os snowcats na manhã seguinte: três, repousando nas esteiras na garagem atrás do chalé. Acha que pode fazer uma desses funcionar?, Peter perguntara a Michael.
Demorou a maior parte do inverno. Àquela altura, todos estavam loucos para se mexer, ansiosos para ir embora. Os dias eram mais longos e o sol começava a emitir um calor distante, mas a neve ainda estava alta, acumulada contra as paredes do chalé. Tinham queimado a maior parte dos móveis e os corrimãos da varanda. Michael achava que havia colhido peças suficientes dos três snowcats para fazer um deles funcionar; o problema seria o combustível. O grande tanque atrás do barracão estava vazio: a gasolina havia vazado por rachaduras provocadas pela ferrugem. Tudo o que tinham estava nos próprios snowcats: apenas alguns galões bastante comprometidos pela ferrugem. Ele passou o combustível para baldes de plástico e o coou, usando um funil forrado com tecidos. Deixou-o assentar durante a noite, depois repetiu o processo, tirando cada vez mais sujeira, mas também diminuindo o suprimento. Quando estava satisfeito, restavam apenas cinco galões, que colocou de volta no snowcat.
- Não prometo nada - avisou.
Tinha feito o máximo para limpar o tanque de combustível, usando litros e mais litros de neve derretida, mas qualquer resíduo poderia entupir uma mangueira.
- Essa coisa pode pifar daqui a 100 metros - disse.
Mas sabia que os demais não levariam seu aviso a sério.
Era uma manhã ensolarada quando empurraram o snowcat para fora do barracão e puseram as coisas dentro. Lanças de gelo pendiam dos beirais do chalé, parecendo dentes compridos feitos de pedras preciosas. Greer, que tinha ajudado Michael a consertar o veículo - ele já havia trabalhado como auxiliar de mecânico e entendia um pouco de motores -, ocupou seu lugar ao lado dele na cabine. Os outros viajariam atrás, em uma plataforma de metal ladeada por um corrimão. Tinham retirado a parte metálica que empurrava a neve, para diminuir o peso. Com isso poderiam percorrer alguns quilômetros a mais com o pouco combustível que tinham.
Michael abriu a janela e falou, direcionando a voz para trás:
- Todos a bordo?
Peter estava acomodando o restante das coisas na traseira do snowcat. Amy havia ocupado um lugar junto ao corrimão. Hollis e Sara estavam do lado de fora, entregando-lhe os esquis.
- Esperem um minuto - disse ele. Em seguida pôs as mãos em concha em volta da boca. - Lish, vamos logo!
Ela saiu do chalé. Como todos os outros, estava usando um casaco de nylon vermelho com as palavras PATRULHA DE ESQUI impressas nas costas e botas de couro de cano curto, a calça justa coberta até os joelhos por grossas polainas. Seu cabelo havia crescido. Tinha agora um tom de ruivo ainda mais intenso que antes, mas estava quase todo escondido sob o chapéu de abas compridas. Ela usava óculos escuros com pedaços de couro presos aos aros, pendendo dos lados do rosto para protegê-lo.
- Parece que sempre estamos saindo de algum lugar - respondeu ela. - Eu só queria me despedir daqui.
Estava parada na varanda, a 10 metros de distância, mais ou menos no mesmo nível da plataforma do snowcat. Pelo sorriso súbito e curvo que ela exibiu no rosto e pelo modo como inclinou a cabeça, primeiro para um lado e depois para o outro, Peter soube o que Lish iria fazer: estava avaliando a distância e o ângulo. Ela tirou o chapéu, soltando o cabelo ruivo ao sol, e o enfiou no casaco fechado com velcro. Deu três passos atrás, dobrando os joelhos. As mãos chacoalharam ao lado do corpo, depois se imobilizaram. Ela ficou na ponta dos pés.
- Lish...
Tarde demais: um impulso rápido, e ela subiu. A varanda ficou vazia: Alicia estava atravessando o ar. Era uma coisa digna de se ver, pensou Peter: Alicia das Facas, a mais jovem capitã desde o Dia; Alicia Donadio, a Última Expedicionária, voando. Passou diante do sol, os braços estendidos, os pés juntos. No ápice da subida encostou o queixo no peito e deu uma cambalhota, apontando as solas das botas para o snowcat. Ergueu os braços - o corpo descia como uma flecha. Bateu na plataforma com um estrondo, agachando-se para absorver o impacto e fazendo o metal tremer.
- Puta merda! - Michael se virou atrás do volante. - O que foi isso?
- Nada - disse Peter. Ainda podia sentir o zunido metálico do pouso dela ressoando nos ossos. - É apenas Lish.
Alicia se levantou e bateu no vidro da cabine.
- Relaxe, Michael.
- Por todos os voadores! Achei que o motor tinha estourado.
Hollis e Sara subiram a bordo. Alicia ocupou seu lugar junto ao corrimão e se virou para Peter. Mesmo através das lentes opacas dos óculos, Peter podia ver seus olhos avermelhados.
- Desculpe - disse ela com um sorriso maroto. - É que eu achei que ia conseguir.
- Acho que nunca vou me acostumar com você fazendo isso - disse ele.
A faca não havia baixado. Ou melhor, havia, mas de repente parou.
Tudo tinha parado.
Alicia havia segurado Peter pelo pulso, imobilizando a faca em seu arco descendente, a centímetros do peito. As amarras tinham se rasgado como papel. Peter sentiu a força dos braços dela, uma força titânica, sobre-humana, e soube que era tarde demais.
Mas quando ela abriu os olhos, foi Alicia que Peter viu neles.
- Se você não se incomodar, Peter - disse ela -, será que poderia fechar essas cortinas? Porque está muito, muito claro aqui dentro.
A Nova Coisa. Era como eles a chamavam. Nem uma coisa nem outra, mas, de algum modo, ambas. Ela não podia sentir os virais como Amy, não podia ouvir a pergunta deles, a grande tristeza do mundo. Em todos os aspectos, parecia ela própria, a mesma Alicia de sempre, menos em um: quando queria, podia fazer as coisas mais extraordinárias.
Mas, afinal de contas, pensou Peter, quando isso não havia sido verdade sobre ela?
O snowcat morreu no vale com um suspiro. Um chacoalhar e um chiado, seguidos de um espirro de fumaça saindo do cano de descarga. Andou mais alguns metros sobre as esteiras e parou.
- É isso - gritou Michael da cabine. - Teremos de seguir a pé a partir daqui.
Todos desceram. Peter podia escutar o som do rio por trás das árvores abaixo,
inchado com a neve derretida. O destino deles era o posto militar: pelo menos dois dias de viagem na neve pegajosa da primavera. Descarregaram o equipamento e prenderam os esquis nos pés. Tinham aprendido o básico em um livro que haviam encontrado no chalé, um volume fino e amarelado chamado Princípios do esqui nórdico, mas as palavras e as imagens faziam a tarefa parecer muito mais fácil do que na verdade era. Greer mal podia se manter de pé e, quando conseguia, vivia se chocando contra as árvores. Amy se esforçava ao máximo para ajudá-lo - havia pegado o jeito imediatamente, deslizando e impulsionando o próprio corpo com agilidade e graça -, mostrando a ele o que fazer. "É assim", dizia ela. "É como voar sobre a neve. É fácil."
Não era nada fácil, nem de longe, e os demais haviam caído diversas vezes, mas, com a prática, todos haviam aprendido a se locomover pelo menos razoavelmente.
- Todos prontos? - perguntou Peter, enquanto travava as presilhas dos esquis.
O grupo murmurou, concordando. Faltava pouco para o meio-dia.
- Amy?
A garota assentiu.
- Acho que estou pronta também.
- Certo, pessoal. Mantenham os olhos abertos.
Atravessaram o rio na antiga ponte de ferro, viraram para oeste, passaram uma noite ao ar livre e chegaram ao posto militar no fim do segundo dia. A primavera estava no vale. Ali, onde a altitude era mais baixa, a maior parte da neve havia derretido, e o terreno exposto estava coberto por uma grossa camada de lama. Trocaram os esquis pelo Humvee que o batalhão havia deixado para trás, pegaram um bom estoque de comida, combustível e armas no depósito subterrâneo, e partiram.
Estavam levando diesel suficiente para chegarem até a fronteira de Utah. Talvez um pouco além. Depois disso, a não ser que conseguissem mais, estariam a pé de novo. Viraram para o sul, seguindo paralelamente às montanhas, adentrando um terreno seco, com rochas vermelho-sangue erguendo-se em formações fantásticas ao redor. À noite se refugiavam onde podiam - um silo, o baú de um caminhão vazio, um antigo posto de gasolina.
Sabiam que não estavam seguros. Os de Babcock estavam mortos, mas havia outros. Os de Sosa. Os de Lambright. Os de Baffes, Morrison, Cárter e todos os outros. Era o que haviam descoberto. Era o que Lacey demonstrara ao detonar a bomba, e o que Amy havia mostrado ao ficar no meio dos Muitos enquanto morriam, deitados na neve. Elas haviam revelado a eles o que os Doze eram, porém mais ainda: como libertar os outros.
Durante os longos dias nas montanhas, Peter pedira que todos lessem as pastas de Lacey. O grupo passara muitas horas debatendo. No fim, foi Michael quem ofereceu a hipótese mais convincente, juntando todos os fatos.
- Acho que a melhor analogia seria com abelhas - dissera, apontando para as pastas. - As 12 cobaias originais são como abelhas rainhas, cada uma com uma variante do vírus. As pessoas infectadas pela mesma variante passam a fazer parte de uma mente coletiva, ficam ligadas ao hospedeiro original.
- Como você deduziu isso? - perguntou Hollis. Dentre todos, ele era o mais cético, o que questionava cada argumento.
- Pelo modo como eles se movem, para começar. Nunca pensou nisso? Tudo o que eles fazem parece coordenado porque é, como disse Olson. Quanto mais penso nisso, mais faz sentido. O fato de sempre andarem em bandos - as abelhas fazem a mesma coisa, viajando em enxames. Aposto que eles mandam batedores do mesmo modo, para estabelecer novas colmeias, como a da mina. E isso explica por que escolhem uma pessoa entre cada 10. Imagine isso como um meio de reprodução, um modo de dar continuidade a uma variante específica do vírus.
- Como uma família? - perguntou Sara.
- Bem, isso seria um exagero. Não esqueça que estamos falando de virais. Mas sim, acho que podemos ver a coisa desse modo.
Peter se lembrou de algo que Vorhees dissera, sobre os virais estarem - qual havia sido a expressão? - andando em grupo. Relatou isso aos outros.
- Faz sentido - concordou Michael, assentindo. - Agora há pouquíssima caça grande e quase nenhum ser humano. Eles estão ficando sem comida e sem novos hospedeiros para infectar. São uma espécie como qualquer outra, programada para sobreviver. Assim, juntarem-se desse modo pode ser uma tentativa de adaptação, para guardar energia.
- Você quer dizer... que eles estão ficando mais fracos? - perguntou Hollis.
Michael pensou nisso, coçando a barba.
- "Fracos" é um termo relativo - respondeu cauteloso. - Mas sim, eu diria que sim. Vamos voltar à analogia das abelhas. Tudo que uma colmeia faz tem como propósito proteger a rainha. Se o que Vorhees disse estiver certo, o que estamos vendo é uma consolidação em volta de cada um dos 12 originais. Acho que foi isso que encontramos no Refúgio. Eles precisam de nós, e precisam de nós vivos. Aposto que há mais 11 colmeias grandes assim, em algum lugar.
- E se pudermos encontrá-las? - perguntou Peter.
Michael franziu a testa.
- Eu diria que foi bom conhecer vocês.
Peter se inclinou para a frente na cadeira.
- Estou falando sério. E se pudéssemos achar os outros e matá-los?
- Quando a rainha morre, a colmeia morre junto.
- Como Babcock. Como os Muitos.
Michael olhou cauteloso para os outros.
- Olhem, isso é só uma teoria. Nós vimos o que vimos, mas eu posso estar errado. E isso não resolve o maior problema, que é encontrá-los. O continente é grande. Eles podem estar em qualquer lugar.
De repente Peter notou que todos estavam olhando para ele.
- Peter? - fora Sara, sentada ao lado dele, a primeira a perguntar. - O que foi?
Eles sempre voltam para casa, pensou.
- Acho que sei onde eles estão - disse Peter.
Prosseguiram. Na quinta noite, quando estavam no Arizona, perto da fronteira com Utah, Greer se virou para Peter e disse:
- Sabe, o estranho é que eu sempre achei que era tudo invenção.
Estavam sentados ao redor de uma fogueira, a madeira estalando. Alicia e Hollis haviam sido escalados para a vigilância e patrulhavam o perímetro. Os outros estavam dormindo. Tinham improvisado um abrigo em um vale amplo vazio, embaixo de uma ponte que atravessava um arroio seco.
- O quê?
- O filme. Drácula.
Greer tinha emagrecido com o correr dos meses. O cabelo havia crescido, formando uma coroa grisalha, e ele agora tinha uma barba farta. Era difícil pensar que um dia ele não fizera parte do grupo.
- Você não viu o final, viu? - perguntou o major.
Aquela noite no refeitório parecia ter sido muito tempo atrás. Peter pensou por um momento, tentando organizar na mente tudo o que havia acontecido.
- Tem razão - disse por fim. - Eles iam matar a garota quando o Esquadrão Azul voltou. Harker e o outro, Van Helsing. - Ele deu de ombros. - Fiquei feliz por não ter precisado ver aquela parte.
- Mas é essa a questão: eles não matam a garota. Eles matam o vampiro. Enfiam uma estaca bem no ponto frágil do filho da puta. E, no instante seguinte, Mina acorda, novinha em folha. Eu nunca tinha engolido essa parte, para ser sincero. Agora não tenho certeza. Depois do que vi naquela montanha. - Greer deu de ombros e fez uma pausa. - Acha mesmo que eles se lembraram de quem eram? Que não podiam morrer enquanto não lembrassem?
- É o que Amy diz.
- E você acredita nela.
- Acredito.
Greer assentiu, deixando passar um instante.
- É engraçado. Passei a vida toda tentando matá-los. Nunca parei para pensar nas pessoas que eles haviam sido. Por algum motivo isso nunca pareceu importante. Agora me pego sentindo pena deles.
Peter sabia o que ele queria dizer. Tinha pensado a mesma coisa.
- Sou apenas um soldado, Peter. Ou pelo menos era. Tecnicamente, sou um desertor. Mas tudo o que aconteceu significa alguma coisa. Até o fato de eu estar aqui, com vocês. Parece mais do que coincidência.
Peter se lembrou da história que Lacey havia lhe contado sobre Noé e o barco, e pela primeira vez percebeu algo que não havia notado antes. Noé não estava sozinho. Havia os animais, é claro, mas não era só isso. Ele tinha levado a família.
- O que acha que deveríamos fazer? - perguntou.
Greer balançou a cabeça.
- Acho que a decisão não é minha. Você é quem está com os frascos na mochila. Aquela mulher os deu a você, e a mais ninguém. Para mim, essa decisão é sua.
Ele se levantou, pegando o fuzil.
- Mas, falando como soldado, mais 10 Donadios seriam uma arma e tanto.
Não conversaram mais aquela noite. Moab estava a dois dias de distância.
Aproximaram-se da fazenda pelo sul. Sara dirigia o Humvee. Peter estava no compartimento de cima com o binóculo.
- Alguma coisa? - gritou Sara.
Era o fim da tarde. Sara havia parado o veículo na planície ampla do vale. Um vento forte, poeirento, tinha começado a soprar, obscurecendo a visão de Peter. Depois de quatro dias de calor, a temperatura havia caído de novo, fria como no inverno.
Peter desceu, soprando as mãos. Os outros estavam apinhados nos bancos, junto ao equipamento.
- Estou vendo as construções. Nenhum movimento. Há muita poeira.
Todos ficaram em silêncio, com medo do que encontrariam. Pelo menos tinham combustível. Haviam encontrado um enorme depósito ao sul de Blanding: duas dúzias de tanques manchados de ferrugem brotando do solo como um campo de cogumelos gigantes. Perceberam que, se planejassem direito a rota, procurando aeroportos e cidades maiores, sobretudo as que possuíssem terminais ferroviários, poderiam encontrar combustível ao longo do caminho até chegarem em casa, contanto que o Humvee aguentasse.
- Vá em frente - disse Peter.
Ela avançou devagar, se aproximando das construções menores. Com um sentimento de frustração, Peter percebeu que tudo parecia exatamente como da primeira vez, um lugar vazio e abandonado. A essa altura, Theo e Mausami sem dúvida teriam escutado o som do motor e saído. Sara parou em frente à varanda da casa principal e desligou o motor. Todos saíram do veículo. Ainda não havia nenhum som ou movimento vindo de dentro.
Alicia falou primeiro, tocando o ombro de Peter.
- Eu vou na frente.
Mas ele balançou a cabeça: a tarefa era sua.
- Não. Eu tenho de fazer isso.
Subiu os degraus da varanda e abriu a porta. Viu imediatamente que tudo estava diferente. A mobília havia mudado de lugar, tornando o ambiente mais confortável, até mesmo aconchegante. Havia fotografias sobre o consolo da lareira, que estava cheia de cinzas. Ele avançou e tentou sentir o calor, mas o fogo parecia ter apagado fazia muito tempo.
- Theo?
Não houve resposta. Foi até a cozinha, onde tudo estava arrumado, lavado e guardado. Com um arrepio, se lembrou da história que Vorhees havia lhe contado sobre a cidade desaparecida - como se chamava mesmo? Homer. Homer, em Oklahoma. Os pratos na mesa, tudo arrumado, mas as pessoas tinham simplesmente sumido.
O topo da escada dava em um corredor estreito com duas portas, uma de cada lado. Peter abriu cautelosamente a primeira. O quarto estava vazio.
Quase sem esperança, abriu a segunda.
Theo e Maus estavam deitados na cama de casal, dormindo. Maus estava virada para o outro lado, o cobertor sobre os ombros, o cabelo preto se derramando no travesseiro. Theo estava deitado de costas, a perna esquerda envolta em uma tala do tornozelo ao quadril. Entre os dois, espiando pela abertura dos panos que o enrolavam, estava o rosto minúsculo de um bebê.
- Ora, ora - disse Theo, abrindo os olhos e sorrindo para revelar uma fileira de dentes quebrados. - Olhem só o que o vento trouxe!
primeira coisa que Maus fez foi pedir a eles que enterrassem Conroy. Ela teria feito isso, disse, mas simplesmente não conseguia. Com Theo e o bebê para cuidar, tivera de deixá-lo onde estava durante os três dias desde o ataque. Peter carregou o que restava do pobre animal até o pequeno cemitério, onde Hollis e Michael tinham cavado um buraco junto dos outros e providenciado pedras para marcar a sepultura. Exceto pela terra recém-revirada, ela não seria em nada diferente das outras.
Como tinham sobrevivido ao ataque no celeiro era algo que nem Theo nem Mausami podiam explicar. Encolhida no banco de trás do carro com o bebê no colo e o rosto encostado no chão, Mausami ouvira o disparo da espingarda. Quando levantou o rosto e viu o viral caído no chão do celeiro, morto, presumiu que Theo tivesse atirado. Mas Theo não se lembrava de ter feito isso, e a arma estava caída a vários metros de distância dele, perto da porta - fora de alcance.
SETENTA E DOIS
No momento em que ouviu o tiro, os olhos de Theo estavam fechados, e a imagem seguinte foi a de Mausami, pairando acima dele na escuridão, dizendo seu nome. Ele presumira a única coisa que fazia sentido: ela havia atirado. De algum modo ela conseguira pegar a espingarda e disparar o tiro que o salvara.
Com isso restava a possibilidade de haver uma terceira pessoa - o dono das pegadas que Theo havia encontrado no celeiro. Mas como essa pessoa teria chegado no momento exato e escapado sem ser vista? E, o mais curioso de tudo, por que teria feito isso? Eles não haviam encontrado mais pegadas na terra, nem qualquer outra evidência de que mais alguém houvesse estado ali. Era como se tivessem sido salvos por um fantasma.
A outra questão era por que o viral não os havia simplesmente matado quando teve chance. Nem Theo nem Mausami tinham retornado ao celeiro desde o ataque - o corpo, abrigado do sol, ainda estava lá dentro. Mas assim que Alicia e Peter foram olhar, o mistério foi resolvido. Nenhum deles jamais havia visto o cadáver de um viral mais do que algumas horas depois de sua morte, e os dias passados no celeiro escuro tinham provocado um efeito totalmente inesperado, a pele se esticando mais sobre os ossos, uma aparência humana e reconhecível sendo restaurada ao rosto. Os olhos do viral estavam abertos, vítreos como bolas de gude. Os dedos de uma das mãos estavam abertos sobre o peito, esparramados sobre a cratera do ferimento da espingarda - um gesto de surpresa ou mesmo de choque. Peter foi tocado por um sentimento de familiaridade, como se estivesse vendo a distância, ou através de uma lente, uma pessoa conhecida. Mas só quando Alicia disse o nome a incerteza foi afastada e ele entendeu. A curva da testa do viral e a expressão de perplexidade no rosto, acentuada pelo vazio frio do olhar. A posição da mão sobre o ferimento, como se, no último instante, ele tivesse tentado entender o que estava acontecendo. Não havia dúvida de que o homem no chão do celeiro era Galen Strauss.
Como havia chegado até ali? Teria partido à procura deles e sido tomado em algum ponto do caminho ou teria sido o contrário? Teria vindo atrás de Mausami ou do bebê? Para se vingar ou para se despedir?
Que lugar seria a casa de Galen Strauss?
Alicia e Peter enrolaram o corpo em uma lona e o arrastaram para longe da casa. Tinham pensado em queimá-lo, mas Mausami fora contra.
- Ele podia ser um viral - dissera ela -, mas também já foi meu marido. Não merecia o que lhe aconteceu. Deveria ser enterrado junto com os outros, Deveríamos conceder pelo menos isso a ele.
E foi o que fizeram.
No fim da tarde do segundo dia na fazenda puseram Galen para descansar. Todos haviam se reunido no quintal, menos Theo, que ainda estava confinado à cama e, de fato, permaneceria nela por muitos dias. Sara sugeriu que cada um citasse alguma recordação sobre Galen - o que no início foi uma luta, já que nenhum deles, a não ser Maus, o conhecia muito bem. Porém acabaram conseguindo, relatando algum incidente em que Galen dissera ou fizera algo engraçado, leal ou gentil, enquanto Greer e Amy testemunhavam o ritual. Quando terminaram, Peter percebeu que algo significativo ocorrera, uma descoberta que, uma vez feita, não poderia ser ignorada: o corpo que eles haviam enterrado poderia ter sido o de um viral, mas a pessoa que eles sepultaram era um homem.
A última a falar foi Mausami. Estava segurando Caleb, que havia caído no sono. Ela pigarreou e Peter viu que seus olhos estavam cheios de lágrimas.
- Só quero dizer que ele era muito mais corajoso do que as pessoas imaginavam. A verdade era que ele mal conseguia enxergar. Não queria que ninguém soubesse como sua visão era ruim, mas eu sabia. Ele simplesmente era orgulhoso demais para admitir. Lamento tê-lo enganado como enganei. Sei que ele queria ser pai, e talvez por isso tenha vindo até aqui. Acho que é estranho dizer isso, mas creio que ele teria sido um bom pai. Gostaria que ele tivesse tido essa oportunidade.
O bebê estava adormecido em seu ombro. Em silêncio, ela usou a mão livre para enxugar os olhos.
- É só - disse. - Obrigada por terem feito isso, todos vocês. Se não se importarem, gostaria de ficar sozinha por um minuto.
O grupo se dispersou, deixando Maus. Peter subiu a escada até o quarto e encontrou o irmão sentado, a perna envolta na tala estendida diante do corpo. Além da perna, Sara achava que ele tinha pelo menos três costelas quebradas. Pensando bem, era uma sorte que estivesse vivo.
Peter foi até a janela que dava para o quintal. Maus ainda estava perto da sepultura, virada para o outro lado. O bebê tinha acordado e começava a se agitar, e ela balançava o corpo de um lado para o outro, uma das mãos segurando a cabeça de Caleb sobre o ombro, tentando acalmá-lo.
- Ela ainda está lá fora? - perguntou Theo.
Peter se virou para o irmão, cujo rosto agora estava voltado para o teto.
- Tudo bem, se estiver - disse Theo. - Eu só estava... pensando.
- É, ela ainda está lá fora.
Theo não disse mais nada. A expressão no rosto dele era indecifrável.
- Como está a perna? - perguntou Peter.
- Uma merda. - Theo passou a língua pelos dentes quebrados. - Mas os dentes são o que mais me incomoda. É como se não houvesse nada onde deveria haver. Não consigo me acostumar.
Peter olhou pela janela de novo. Maus já não estava lá. Escutou o som da porta da cozinha se fechando, depois abrindo de novo, e Greer saiu, levando um fuzil. Ficou parado por um momento, depois atravessou o quintal até a pilha de troncos perto do celeiro, apoiou o fuzil na parede, pegou o machado e começou a cortar lenha.
- Peter - disse Theo. - Sei que deixei você na mão, quando fiquei aqui.
Peter se virou para encarar o irmão de novo. Em algum lugar na casa podia escutar as vozes dos outros, se juntando na cozinha.
- Tudo bem.
Depois de tudo o que havia acontecido, Peter tinha posto o desapontamento de lado.
- Maus precisava de você. Eu teria feito o mesmo.
Mas o irmão balançou a cabeça.
- Por favor, me deixe falar. Sei que o que você fez exigiu muita coragem. Não quero que você pense que não notei. Mas não é disso que estou falando, na verdade. É fácil ter coragem quando a alternativa é a morte. Difícil é ter esperança. Você enxergou alguma coisa que ninguém mais conseguia ver e correu atrás. Isso é algo que eu jamais poderia fazer. Já tentei, acredite, mesmo sendo só porque papai queria tanto que eu seguisse seus passos. Mas aquilo simplesmente não estava em mim. E sabe o que é engraçado? Na verdade fiquei feliz quando cheguei a essa conclusão.
Ele parecia estar quase com raiva, pensou Peter. No entanto uma leveza surgira no rosto do irmão enquanto falava.
- Quando? - perguntou Peter.
- Quando o quê?
- Quando você chegou a essa conclusão?
Theo virou os olhos para cima.
- A verdade? Acho que eu sempre soube, pelo menos com relação a mim mesmo. Mas foi naquela primeira noite na usina elétrica que pude realmente ver o que você tinha por dentro. Não somente por ter ido até a laje no escuro, como você fez, porque tenho certeza de que foi ideia de Lish. Foi a sua expressão, como se tivesse visto a vida inteira lá fora. Eu lhe dei uma bronca, é claro. Aquilo foi estupidez e poderia ter matado todos nós. Mas, na verdade, me senti aliviado. Soube que não precisava mais fingir.
Peter olhava para o irmão. Ele suspirou e balançou a cabeça, antes de prosseguir:
- Eu nunca quis ser igual ao nosso pai, Peter. Sempre achei as Longas Cavalgadas uma loucura, mesmo antes de ele ir embora e nunca mais voltar. Não podia ver sentido algum em nada daquilo. Mas agora olho para você e para Amy e sei que o importante não é que as coisas façam sentido. Nada faz sentido. O que você fez foi por fé. Não o invejo, e sei que vou ter de me preocupar com você todos os dias da minha vida. Mas me orgulho de você - disse, parando um instante para refletir. - Quer saber mais uma coisa?
Peter estava emocionado demais para responder. Só conseguiu assentir com a cabeça.
- Acho que foi mesmo um fantasma que nos salvou. Pergunte a Maus e ela vai dizer a mesma coisa. Não sei o que é, mas há algo diferente aqui. Eu achei que estava morto. Pensei que todos nós estávamos mortos. Não pensei simplesmente, tive certeza. Do mesmo modo que tenho certeza disso. É como se o próprio lugar estivesse nos protegendo, cuidando de nós. Dizendo que, enquanto ficarmos aqui, estaremos seguros.
Seu olhar encontrou o do irmão com uma expressão intrigada.
- Você não precisa acreditar.
- Eu não disse que não acreditava.
Theo riu, fazendo uma careta por causa da dor nas costelas enfaixadas.
- Isso é bom - disse, tombando a cabeça de volta no travesseiro. - Porque eu acredito em você, Peter.
Por enquanto não iriam a lugar nenhum. Sara disse que demoraria pelo menos 60 dias até que Theo pudesse ao menos pensar em andar, e Mausami ainda estava muito fraca por causa do parto longo e doloroso. De todos, o bebê era o único que parecia estar perfeitamente bem. Caleb tinha apenas alguns dias de vida, no entanto seus olhos pareciam brilhantes e atentos, observando tudo. Sorria para todo mundo, mas principalmente para Amy. Sempre que escutava sua voz ou notava a presença dela, ele soltava um gritinho agudo de felicidade, balançando os braços e as perninhas.
- Acho que ele gosta de você - disse Maus um dia na cozinha, enquanto lutava para amamentar. - Pode segurá-lo, se quiser.
Enquanto Peter e Sara olhavam, Amy se sentou à mesa e Mausami pôs Caleb gentilmente em seu colo. Uma das mãos dele havia se soltado do embrulho. Amy inclinou o rosto para ele, deixando-o agarrar seu nariz com os dedinhos.
- Um neném - disse ela, sorrindo.
Maus deu um sorriso torto.
- É isso mesmo que ele é - brincou. Em seguida apertou os seios doloridos com a mão e gemeu. - Não resta a menor dúvida.
- Nunca havia visto um.
Amy olhava para o rosto de Caleb. Cada pedacinho dele era tão novo que parecia conter algum elixir milagroso, como se fosse uma fonte de vida.
- Oi, neném.
A casa era pequena demais para acomodar todo mundo, e Caleb precisava de silêncio, então levaram colchões extras para uma das construções vazias do outro lado do pátio. Há quanto tempo a fazenda não via tanta atividade, com mais de uma casa habitada! O rio estava cheio de peixes, e framboesas brotavam em grandes arbustos às suas margens.
Todo dia Alicia voltava da caça sorrindo e coberta de poeira, trazendo nas costas um animal pendurado por um barbante: lebres de orelhas compridas, gordas perdizes, algo que parecia um cruzamento entre um esquilo e uma marmota e tinha gosto de veado. Não levava armas de fogo, apenas uma faca. "Ninguém vai passar fome enquanto eu estiver por perto", dizia.
De certa forma era uma época feliz: tinham comida suficiente, longos dias amenos e noites tranquilas e aparentemente seguras, sob um manto de estrelas. No entanto, Peter sentia que uma nuvem de ansiedade pairava sobre tudo. Em parte sabia que o motivo disso era apenas sua consciência de como aquilo era temporário, além dos problemas que a partida iminente representava - afinal, precisariam de comida, combustível, armas e espaço para carregarem tudo. Tinham apenas um Humvee, onde mal conseguiriam acomodar todos, sobretudo uma mulher com um bebê. Também havia a questão do que encontrariam na Colônia quando voltassem. Será que as luzes ainda estariam acesas? Será que Sanjay mandaria prendê- -los? Era um pensamento que teria parecido preocupação desnecessária até poucas semanas antes, um problema distante, mas não agora.
Mas em última instância não eram essas questões que o preocupavam. Era o vírus. Restavam 10 frascos em sua reluzente caixa de metal, repousando na mochila que ele havia guardado no armário da casa onde dormia com Greer e Michael. O major estava certo: não poderia haver outro motivo para que Lacey os tivesse dado a ele. Aquilo já havia salvado Alicia - mais do que salvado. Aquela era a arma da qual Lacey falara, mais poderosa do que fúzis, facas ou bestas, mais poderosa até mesmo que a bomba que ela usara para matar Babcock. Mas, guardada em sua caixa metálica, não serviria de nada.
Porém Greer estava errado com relação a uma coisa. A decisão não era somente de Peter - ele precisava que todos concordassem. A fazenda seria um lugar tão bom quanto qualquer outro para o que ele pretendia fazer. Teriam de amarrá-lo, claro; poderiam usar um cômodo em uma das casas vazias. Greer poderia cuidar dele se as coisas dessem errado. Peter sabia muito bem disso.
Uma noite, quando Mausami estava descansando no andar de cima e Amy cuidava do bebê, Peter chamou os outros. Eles se reuniram em volta de uma fogueira no quintal. Peter havia escolhido aquele momento porque não queria que Amy soubesse. Não que ela fosse contra; duvidava que seria. Mas, mesmo assim queria protegê-la dessa decisão e do que ela poderia significar. Theo conseguira descer as escadas com dificuldade usando um par de muletas feitas por Hollis com restos de madeira; dentro de mais alguns dias as talas seriam retiradas. Peter havia trazido sua mochila com os frascos. Se todos concordassem, ele não via motivo para adiarem o evento. Sentaram-se em um círculo em volta do fogo e Peter explicou o que desejava fazer.
Michael foi o primeiro a falar.
- Eu concordo - disse ele. - Acho que deveríamos tentar.
- Bom, eu acho loucura - interveio Sara, levantando o rosto para os outros logo em seguida. - Vocês não veem o que é isso? Ninguém vai dizer, mas eu digo. É o mal. Quantos milhões de pessoas morreram por causa do que está nessa caixa? Nem acredito que estamos discutindo isso. Por mim, jogamos os frascos no fogo.
- Talvez você esteja certa, Sara - disse Peter. - Mas não acho que podemos nos dar ao luxo de não fazer nada. Babcock e os Muitos podem estar mortos, mas os outros continuam por aí. Já vimos o que Lish pode fazer, o que Amy pode fazer. O vírus veio até nós por um motivo, do mesmo modo como Amy veio até nós. Não podemos dar as costas agora.
- Isso pode matar você, Peter. Ou coisa pior.
- Estou disposto a me arriscar. E o vírus não matou Lish.
Sara se virou para Hollis.
- Diga a ele. Por favor, diga como isso é completamente insano.
Mas Hollis balançou a cabeça.
- Desculpe. Acho que estou com Peter nisso.
- Você não pode estar falando sério.
- Ele está certo. Tem de haver um motivo.
- O fato de estarmos todos vivos não é um bom motivo?
Hollis pegou a mão dela.
- Não basta, Sara. Nós estamos vivos. E daí? Quero ter uma vida com você.
Uma vida de verdade. Sem luzes nem muros, sem passar noites na Vigilância. Talvez isso seja um bem para outras gerações, para outro tempo. Provavelmente é. Mas não posso negar a Peter o que está pedindo, pelo menos enquanto há uma chance. E, no fundo, acho que você sabe que também não pode.
- Então vamos lutar com eles de qualquer jeito. Vamos encontrar o restante dos Doze e lutar. Como nós mesmos, como seres humanos.
- E nós vamos, eu prometo. Nada disso vai mudar.
Sara e Hollis se olharam em silêncio por um longo momento, e Peter sentiu que os dois haviam alcançado um entendimento mútuo. Quando Hollis afastou o olhar, Peter sabia o que o amigo iria dizer.
- Se der certo, eu serei o próximo.
Peter olhou para Sara, mas não viu mais argumentos; apenas resignação.
- Você não precisa fazer isso, Hollis.
O amigo balançou a cabeça.
- Não estou fazendo isso por você. Se quiser que eu concorde, é assim que terá de ser. É pegar ou largar.
Peter se virou para Greer, que assentiu. Em seguida direcionou o olhar para o irmão. Theo estava sentado em um tronco do outro lado do círculo, a perna quebrada estendida à frente.
- Por todos os voadores, Peter. O que eu posso dizer? A decisão é sua.
- Não é, não. É de todos nós.
Theo fez uma pausa.
- Deixe-me ver se entendi. Você quer se infectar deliberadamente com o vírus e quer que eu diga: "claro, vá em frente". E Hollis quer fazer a mesma coisa, presumindo que você não morra nem mate todos nós antes.
Peter sentiu a aspereza das palavras do irmão. Pela primeira vez se perguntou se teria coragem de ir até o fim. A pergunta de Theo, percebeu Peter, era um teste.
- É, é exatamente o que estou pedindo.
Theo assentiu.
- Então, tudo bem.
- É isso? Só tudo bem?
- Eu amo você, Peter. Se achasse que poderia convencê-lo a mudar de ideia tentaria. Mas sei que não posso. Eu lhe disse que ia me preocupar com você Parece que vou ter de começar agora mesmo.
Peter finalmente se virou para Alicia. Ela havia tirado os óculos, revelando o brilho laranja e latejante dos olhos, sua intensidade ampliada pela luz da fogueira. Era do consentimento dela que ele mais necessitava. Sem isso, não tinha nada.
- Sim - disse ela, assentindo. - Lamento dizer, mas sim.
Não havia motivos para esperarem. Quanto mais tempo passasse, mais oportunidades teria para pensar nas consequências daquilo, e talvez não tivesse coragem. Levou-os até a casa vazia que tinha preparado - a última, na extremidade do pátio. Era pouco mais do que uma casca: quase todas as paredes internas tinham sido derrubadas, deixando as colunas à mostra. As janelas já estavam cobertas com tábuas, outro motivo para tê-la escolhido - isso e o fato de ser a que ficava mais longe. Hollis pegou as cordas que Peter trouxera do celeiro. Michael e Greer levaram um colchão de uma das casas adjacentes. Alguém tinha trazido o lampião. Enquanto Hollis amarrava as cordas às colunas, Peter se despiu da cintura para cima e se deitou de costas. De repente estava muito nervoso, com uma consciência quase dolorosamente vívida de tudo ao redor, o coração acelerado no peito. Ergueu os olhos para Greer. Havia um acordo silencioso entre os dois: se for preciso, não hesite.
Hollis terminou de amarrar Peter, deixando-o preso de braços e pernas abertos. O colchão fedia a ratos. Ele respirou fundo, tentando se acalmar.
- Sara, vamos.
Ela estava segurando a caixa com o vírus em uma das mãos, e na outra uma das seringas, ainda lacrada. Peter podia ver que as mãos dela tremiam.
- Você consegue.
Ela entregou a caixa a Michael.
- Por favor - implorou.
- O que eu faço com isso?
Ele segurou a caixa longe do corpo, tentando devolvê-la.
- Você é a enfermeira.
Peter sentiu uma pontada de exasperação. Se aquilo demorasse mais, perderia a coragem.
- Por favor, alguém abra logo a caixa.
- Eu abro - disse Alicia. Ela pegou a caixa das mãos de Michael e a abriu. - Peter...
- O que foi, agora? Por todos os voadores, Lish.
Ela virou a caixa nas mãos para mostrá-la aos outros.
- Está vazia.
Amy, pensou ele. Amy, o que você fez?
Encontraram-na ajoelhada junto à fogueira enquanto jogava o último frasco nas chamas. Caleb estava recostado em seu ombro, enrolado em um cobertor. Ouviu-se um estalo e um chiado quando o líquido dentro do último frasco se expandiu até ferver, despedaçando o vidro.
Peter se agachou ao lado dela. Estava perplexo demais até mesmo para sentir raiva. Não sabia o que sentir.
- Amy, por quê?
Ela não olhou para ele, manteve o olhar focalizado no fogo, como se quisesse se certificar de que o vírus se fora de fato. Com os dedos da mão livre, Amy acariciava suavemente os cabelos escuros do bebê.
- Sara estava certa - disse ela por fim. - Era o único modo de garantir.
Em seguida afastou o olhar das chamas. E quando Peter viu o que havia dentro dos olhos dela, entendeu o que Amy tinha feito: ela havia decidido tirar dele esse fardo, de todos eles. Era um ato de misericórdia.
- Sinto muito, Peter. Mas isso teria feito você ficar igual a mim. E eu não podia deixar que isso acontecesse.
Não voltaram a conversar sobre aquela noite - sobre o vírus, as chamas ou o que Amy havia feito. Às vezes, nas ocasiões em que se lembrava desses acontecimentos, Peter tinha a estranha sensação de que aquilo não havia passado de um sonho - ou, se não um sonho, algo parecido, com a textura e a inevitabilidade de um sonho. Ele passara a acreditar que a destruição do vírus não era uma catástrofe tão grande, apenas mais um passo na estrada que percorreriam juntos. O que estava adiante deles era algo que ele não poderia saber - e nem precisava Como a própria Amy, era algo que teria de aceitar por fé.
Na manhã da partida Peter parou na varanda com Michael e Theo, olhando o sol subir. As talas finalmente haviam sido tiradas da perna do irmão. Ele conseguia andar, embora mancasse bastante e se cansasse depressa. Abaixo deles Hollis e Sara estavam carregando o Humvee com o resto do equipamento. Amy continuava dentro de casa com Maus, que amamentava Caleb mais uma vez antes de partirem.
- Sabem - disse Theo -, tenho a sensação de que, se algum dia voltarmos aqui tudo estará exatamente como agora. Como se estivesse separado do mundo Como se o tempo não passasse aqui.
- Talvez você volte - disse Peter.
Theo ficou quieto, deixando o olhar viajar pela rua poeirenta.
- Ah, irmão - disse ele, balançando a cabeça. - Não sei. Mas é bom pensar nisso
Amy e Mausami saíram da casa. Todos se reuniram ao redor do Humvee. Outra partida, outro adeus. Abraços, palavras de carinho e lágrimas. Sara tomou seu lugar ao volante, com Hollis ao lado, Theo e Mausami atrás com o equipamento.
Os documentos que Lacey dera a Peter estavam no compartimento de carga do Humvee. Basta entregá-los a quem estivesse no comando, dissera Peter.
Amy se enfiou dentro do veículo para abraçar o bebê pela última vez. Enquanto Sara ligava o motor, Greer chegou perto da janela do motorista, que estava aberta.
- Lembrem-se do que eu disse. Depois do depósito de combustível, sigam direto para o sul pela rodovia 191. Vocês poderão pegar a rota 60 em Eagar. É a estrada de Roswell, que irá levá-los direto ao posto militar. Há abrigos subterrâneos fortificados a cada 100 quilômetros, aproximadamente. Marquei todos no mapa de Hollis, mas procurem as cruzes vermelhas, é impossível deixar de ver. Não é nada luxuoso, mas encontrarão tudo que precisarem: gasolina, munição, todos os suprimentos necessários.
Sara assentiu.
- Entendi.
- E, não importa o que façam, fiquem longe de Albuquerque: o lugar está apinhado de virais. Hollis? Olhos abertos.
No banco do carona, o grandalhão assentiu.
- Pode deixar, major.
Greer deu um passo atrás, abrindo espaço para Peter se aproximar.
- Bem - disse Sara. - Acho que é isso.
- Acho que sim.
- Cuide de Michael, está bem? - Ela fungou e enxugou os olhos. - Ele precisa... de cuidado.
- Deixe comigo.
Ele estendeu a mão para apertar a de Hollis, desejou boa sorte, depois dirigiu a voz para o banco traseiro do Humvee:
- Theo? Maus? Tudo pronto aí atrás?
- Mais pronto, impossível, irmão. Vemos vocês em Kerrville.
Peter recuou. Sara engrenou o Humvee, fez um círculo amplo com o veículo e seguiu lentamente pela rua. Os cinco - Peter, Alicia, Michael, Greer e Amy - ficaram em silêncio, vendo-os ir embora. Uma nuvem de poeira, o som do motor se afastando, e depois disso o Humvee sumiu.
- Bem - disse Peter finalmente -, o dia não vai ficar esperando.
- É uma piada? - perguntou Michael.
Peter deu de ombros.
- Acho que sim.
Pegaram as mochilas e as puseram às costas. Enquanto Peter pegava seu fuzil no chão, viu Amy ainda parada nos degraus da varanda, os olhos acompanhando a partida do Humvee.
- Amy? O que foi?
Ela se virou para encará-lo.
- Nada. Acho que eles vão ficar bem. - Ela sorriu. - Sara é uma boa motorista. Não havia mais nada a dizer; o momento de partir havia chegado. O sol da manhã subira acima do vale. Se tudo corresse bem, chegariam à Califórnia no meio do verão.
Começaram a caminhada.
SETENTA E TRÊS
O primeiro vislumbre de pás girando ao vento surgiu a distância.
As turbinas.
Eles haviam seguido caminho pelos desertos, pelos lugares quentes e secos, abrigando-se onde podiam. Quando não encontravam abrigo, acendiam uma fogueira e montavam guarda a noite toda. Apenas uma vez avistaram virais vivos. Um bando de três, no Arizona, em um lugar que, segundo o mapa, se chamava Deserto Pintado. As criaturas estavam penduradas nas vigas embaixo de uma ponte, à sombra. Amy as havia sentido quando se aproximaram. "Deixem comigo", dissera Alicia.
Alicia deu conta dos três. Peter e os outros a encontraram na galeria pluvial, quando puxava a faca do peito do último, que já havia começado a virar fumaça. Fora fácil, ela contara. As criaturas nem pareceram saber o que ela era. Talvez tivessem simplesmente pensado que fosse outra viral.
Houve outros, mas mortos, apenas restos de corpos. Uma costela enegrecida, um crânio ou um osso esfarelado de braço, uma silhueta discernível marcada no asfalto, como algo queimado em uma panela, pouco mais do que cinzas. Em geral, esses restos eram encontrados nas poucas cidades pelas quais passavam, a maioria não muito longe dos prédios onde os virais dormiam e de onde tinham saído quando se deitaram ao sol para morrer.
Peter e os outros haviam passado ao largo de Las Vegas, optando por uma rota mais ao sul. Acreditavam que a cidade estaria vazia, mas decidiram não arriscar. A essa altura, o verão estava no auge, e os longos dias sem sombra os castigavam. Decidiram não passar pelo depósito de armas da base militar. Em vez disso, pegariam a rota mais curta possível para casa.
Agora estavam chegando. Sentiam-se mais agitados à medida que se aproximavam. O portão estava aberto. Quando chegaram à porta de segurança, Michael se pôs a trabalhar, desparafusando a placa que cobria o mecanismo e soltando as travas com a ponta da faca.
Peter entrou primeiro. Ouviu um tilintar metálico sob os pés e se abaixou para olhar: cartuchos de fuzis.
As paredes ao redor da escada estavam furadas por tiros. Pedaços de concreto atulhavam os degraus. A lâmpada fora quebrada. Tirando os óculos, Alicia tomou a frente do grupo e adentrou a escuridão do prédio frio - isso já não era problema para ela. Peter e os outros esperaram enquanto ela descia até a sala de controle com o fuzil em mãos e checava o ambiente. Ouviram seu assobio: o caminho estava livre.
Quando chegaram à sala, Lish havia encontrado um lampião e acendido o pavio. Tudo estava um caos. A comprida mesa central fora virada, evidentemente para servir de barricada. O chão estava coberto de cartuchos e balas. Mas o painel de controle propriamente dito parecia estar funcionando normalmente: os medidores reluziam, indicando a presença de corrente elétrica. Foram até os fundos, para as salas de depósito e os alojamentos.
Ninguém. Nenhum corpo.
- Amy - disse Peter. - Sabe o que aconteceu aqui?
Como todos, ela estava olhando com uma perplexidade muda para a extensão da destruição.
- Nada? Não consegue sentir nada?
Ela balançou a cabeça.
- Acho... que pessoas fizeram isso.
A estante que havia escondido as armas estava fora do lugar, e as armas que estavam na laje também haviam sumido. O que eles estavam vendo? Havia sinais de batalha, mas quem teria lutado contra quem? Centenas de tiros tinham sido disparados no corredor e na sala de controle, mais nos alojamentos, uma bagunça generalizada. Onde estavam os corpos? Onde estava o sangue?
- Bem, temos energia - declarou Michael, sentado diante do painel de controle.
Seus cabelos agora iam até os ombros. A pele estava bronzeada pelo sol e castigada pelo vento, descascando no rosto. Lia os números que corriam pela tela e digitava no teclado.
- Os diagnósticos são bons. Deve haver eletricidade suficiente subindo pela montanha. A não ser... - Fez uma pausa, batendo com o indicador nos lábios. Então voltou a digitar furiosamente, se levantou para verificar os medidores e sentou outra vez. Bateu na tela com a unha comprida. - Aqui.
- O que houve, Michael? - perguntou Peter.
- É o backup do arquivo de registros. Toda noite, quando a carga das baterias chega a menos de 40%, elas mandam um sinal à usina, pedindo mais corrente. É tudo automatizado, nada que a gente veja acontecendo. A primeira vez que isso aconteceu foi há seis anos. Desde então, vinha acontecendo praticamente todas as noites. Até agora. Até, vejamos, 323 ciclos atrás.
- Ciclos?
- Dias, Peter.
- Michael, não estou entendendo o que isso significa.
- Significa que alguém descobriu como consertar as baterias, do que duvido seriamente, ou que elas não estão puxando nenhuma corrente.
Alicia franziu a testa.
- Isso não faz sentido. Por que não puxariam?
Michael hesitou. Peter podia ver o que se revelava no rosto dele.
- Porque alguém apagou as luzes.
Passaram uma noite inquieta na usina e partiram pela manhã. Ao meio-dia haviam passado por Banning e começado a subir. Quando pararam para descansar à sombra de um pinheiro alto, Alicia se virou para Peter.
- Caso Michael esteja errado e nós sejamos presos, quero que você saiba que vou dizer que fui eu que matei aqueles homens. Posso aceitar qualquer coisa que façam contra mim, mas não vou deixar que peguem você. E também não vou deixá-los tocar em Amy ou no Circuito.
Era mais ou menos o que ele havia esperado.
- Lish, você não precisa fazer isso. E duvido que Sanjay faça alguma coisa a essa altura.
- Talvez não. Mas é só para avisar. E não estou pedindo. Esteja pronto. Greer? Entendido?
O major assentiu.
Mas o aviso era desnecessário. Souberam quando chegaram à última curva da estrada, acima do Campo de Cima. Agora podiam ver o Muro se erguendo entre as árvores, as passarelas desocupadas, sem qualquer sinal da Vigilância. Um silêncio fantasmagórico pairava sobre tudo. Os portões estavam abertos, sem ninguém para vigiar.
A Colônia estava vazia.
Encontraram apenas dois corpos.
O primeiro era de Gloria Patal, que havia se enforcado no Quarto Grande do Abrigo, em meio às camas e berços vazios. Tinha subido em uma escada alta para fixar a corda em um dos caibros, perto da porta. Agora a escada estava caída sob os pés dela, com o momento em que pusera o nó no pescoço e a empurrara congelado na cena.
O outro corpo era de Titia. Foi Peter quem a encontrou, sentada em uma cadeira na pequena clareira do lado de fora de sua casa. Estava morta havia muitos meses, ele sabia, no entanto quase nada parecia ter se alterado em sua aparência. Mas quando tocou a mão dela, sentiu apenas a rigidez fria da morte. A cabeça estava inclinada para trás, com uma expressão tranquila no rosto, como se ela simplesmente tivesse caído no sono. Havia saído de casa, ele sabia, quando a escuridão chegara e as luzes não se acenderam. Tinha carregado uma cadeira para o quintal, para se sentar e olhar as estrelas.
- Peter. - Alicia tocou seu braço enquanto ele se agachava junto ao corpo. - Peter, o que você quer fazer?
Ele afastou os olhos, só então percebendo que eles estavam cheios de lágrimas. Os outros permaneciam de pé atrás dele, testemunhas silenciosas.
- Devíamos enterrá-la aqui. Perto da casa, no jardim.
- Vamos fazer isso - disse Alicia gentilmente. - Estou falando das luzes. Logo vai escurecer. Michael disse que temos carga suficiente para uma noite, se quisermos.
Ele olhou para Michael, que assentiu.
- Certo - disse.
Fecharam o portão e se reuniram no Solário - todos menos Michael, que havia retornado à Casa de Força. Era hora do crepúsculo, e um céu arroxeado surgia acima deles. Tudo parecia pairar em um estado de suspensão - nem os pássaros cantavam. Então, com um estalo, as luzes se acenderam, cobrindo tudo com um brilho feroz e definitivo.
Michael apareceu perto deles.
- Acho que por hoje é só.
Peter assentiu. Ficaram em silêncio por algum tempo, na presença da verdade não dita: mais uma noite, e as luzes da Primeira Colônia se apagariam para sempre.
- E agora? - perguntou Alicia.
No silêncio, Peter sentiu a presença dos amigos ao redor. Alicia, cuja coragem fazia parte dele. Michael, magro e forte, um homem agora. Greer, com a postura sensata de um soldado. E Amy. Pensou em tudo o que tinham visto e nas pessoas que foram perdidas - não só as que ele conhecera, mas as que não conhecera também - e então soube qual era a resposta.
- Agora vamos à guerra.
SETENTA E QUATRO
Na última hora antes do amanhecer, Amy se esgueirou da casa, sozinha. A casa da mulher chamada Titia, que havia morrido. Tinham enrolado o corpo dela em uma colcha e a enterrado no lugar onde ela estivera sentada. Peter havia posto no peito dela uma foto que pegara no quarto. O chão era duro e eles demoraram muitas horas cavando, de modo que, quando terminaram, decidiram passar a noite ali. A casa da mulher, dissera Peter, seria um lugar tão bom quanto qualquer outro. Ele tinha uma casa, Amy sabia. Mas, pelo jeito, não queria voltar.
Peter ficou acordado a maior parte da noite, sentado na cozinha, lendo o diário de Titia. Seus olhos se esforçavam à luz do lampião enquanto ele virava as páginas cobertas com a caligrafia pequena, benfeita. Tinha preparado uma xícara de chá, mas não conseguira tomá-la. Ela ficou ao seu lado na mesa, intocada, esquecida enquanto ele lia.
Por fim Peter dormiu, assim como Michael e Greer, que, à meia-noite, haviam trocado o turno de vigilância com Alicia - que agora estava na passarela. Amy foi para a varanda, segurando a porta para que não batesse. Continuou caminhando, sentindo a terra fresca e orvalhada sob os pés descalços, o chão duro amaciado por um cobertor de agulhas de pinheiro. Encontrou sem dificuldade o túnel junto ao recorte do Muro, passou pela portinhola e o atravessou.
Ela o havia sentido durante dias, semanas, meses. Agora sabia disso. Tinha-o sentido por anos, desde o princípio. Desde Milagro e do dia do não falar, do grande barco e muito antes, por todos os anos do tempo que se estendia dentro Dela.
Aquele que a seguia, que estava sempre por perto, cuja tristeza ela sentia no coração. A tristeza da saudade que ele sentia dela.
Eles sempre voltavam para casa, e sua casa era o lugar onde Amy estivesse.
Saiu do túnel. Faltava pouco para o amanhecer: o céu tinha começado a ficar pálido, a escuridão se dissolvendo como vapor. Afastou-se do muro para a sombra das árvores e direcionou o pensamento para fora, fechando os olhos.
Venha a mim. Venha a mim.
Silêncio.
Venha a mim, venha a mim, venha a mim.
Então sentiu: um farfalhar. Não o ouviu, mas sentiu em cada pedaço de sua pele, uma brisa cobrindo-a de beijos. Nas mãos, no pescoço e no rosto, na cabeça, nos olhos. Um vento suave de saudade, respirando seu nome.
Amy.
- Eu sabia que você estava aí - disse ela. E chorou, como ele chorava no coração, porque seus olhos já não eram capazes de produzir lágrimas. - Eu sabia que você estava aí.
Amy, Amy, Amy.
Abriu os olhos e o viu agachado à sua frente. Aproximou-se dele, tocando seu rosto onde as lágrimas teriam estado. Envolveu-o com os braços. E enquanto o abraçava, sentiu a presença do espírito dele dentro dela, diferente de todos os outros que carregava, porque também era seu. As lembranças jorraram como água. Uma casa na neve, um lago, um carrossel com luzes e a sensação da mão dele, grande, envolvendo a sua em uma noite em que haviam subido juntos nas asas do céu.
- Eu sabia, eu sabia. Sempre soube. Era você quem me amava.
O amanhecer estava rompendo sobre a montanha. O sol corria na direção deles como uma lâmina de luz sobre a terra. E ela o abraçou pelo máximo de tempo que pôde; segurou-o no coração. Alicia estava olhando da passarela, Amy sabia. Mas isso não importava. O que ela estava testemunhando seria segredo entre as duas, uma coisa para saber e jamais mencionar. Como Peter, o que ele era. Porque Amy acreditava que Alicia sabia isso, também.
- Lembre-se - disse a ele. - Lembre-se.
Mas ele tinha ido embora. Seus braços seguravam apenas o espaço. Wolgast estava subindo, voando para longe. Um tremor de luz nas árvores.
Do diário de Sara Fisher ("O livro de Sara")
Apresentado na Terceira Conferência Global sobre o Período de Quarentena Norte-americano Centro de Estudos de Culturas e Conflitos Humanos Universidade de New South Wales, República Indo-australiana 16 a 21 de abril de 1003 D.V.
Começa o trecho da citação
Dia 268
Três dias desde que saímos da fazenda. Entramos no Novo México hoje de manhã, logo depois do nascer do sol. A estrada está em péssimas condições, mas Hollis tem certeza de que é a rota 60. É uma região plana, aberta, mas podemos ver montanhas ao norte. De vez em quando surge uma placa enorme junto à estrada, carros abandonados em toda parte, alguns bloqueando o caminho, o que faz a viagem ficar mais lenta. Caleb está inquieto e chorando. Gostaria que Amy estivesse aqui para acalmá-lo. Tivemos de passar a última noite ao ar livre, por isso todos estão exaustos e ríspidos uns com os outros, até Hollis. O combustível começa a nos preocupar de novo. Temos apenas o que está no tanque e um pouquinho extra. Hollis diz que faltam cinco dias para chegarmos a Roswell, talvez seis.
Dia 269
Os ânimos estão melhorando. Hoje vimos a primeira cruz: uma grande marca vermelha na lateral de um silo, com 50 metros de altura. Maus estava em cima e viu primeiro. Todo mundo começou a comemorar. Vamos passar a noite em um abrigo de concreto logo atrás dele. É escuro, úmido e cheio de canos. Hollis acha que deve ter sido algum tipo de estação de bombeamento. Encontramos combustível em tambores, como Greer tinha dito, e abastecemos o Humvee antes de trancar tudo para a noite. Não há muita coisa em que dormir, só o chão de cimento duro, mas agora estamos tão perto de Albuquerque que nos sentimos gratos por não ter de dormir ao relento.
É estranho e bom dormir perto de um bebê, ouvindo os pequenos ruídos que ele faz, até quando está dormindo. Ainda não contei a novidade a Hollis. Primeiro quero ter certeza. Parte de mim acha que ele já sabe. Como poderia não saber? Tenho certeza de que está estampado no meu rosto. Sempre que penso nisso, não consigo parar de sorrir. Peguei Maus me olhando esta noite, quando estávamos transferindo o combustível, e perguntei: "O que foi? Por que está me olhando assim?" E ela disse: "Nada. Você não tem nada para me contar, Sara?" Fiz o máximo para parecer inocente, o que não foi fácil, e respondi um "não, do que você está falando?" E ela disse, rindo: "Certo, tudo bem. Por mim, está ótimo."
Não sei por que estou pensando isso, mas, se for menino, quero chamá-lo Joe, e, se for menina, Kate. Por causa dos meus pais. É estranho o modo como ficar feliz com uma coisa pode deixar a gente triste com outra.
Todos estamos pensando nos outros, esperando que estejam bem.
Dia 270
Rastros em volta do Humvee hoje de manhã. Parece que eram três. Por que não tentaram invadir o abrigo é um mistério - tenho certeza de que sentiram nosso cheiro. Esperamos chegar a Socorro cedo o suficiente para encontrarmos um lugar onde possamos nos trancar à noite.
Dia 270 (de novo)
Chegamos a Socorro. Hollis tem quase certeza de que os abrigos fazem parte de um antigo sistema de gasodutos. Trancamos tudo para passar a noite. Agora esperamos ilegível
Dia 271
Vieram de novo. Mais de três, muito mais. Pudemos ouvi-los raspando as paredes do abrigo a noite toda. Hoje cedo há rastros em toda parte, impossíveis de serem contados. O para-brisa do Humvee foi despedaçado, assim como a maior parte das janelas. Tudo o que havíamos deixado dentro estava espalhado no chão, aos pedaços. Acho que é só uma questão de tempo até que eles tentem invadir o abrigo. Será que as trancas vão aguentar? Caleb chora metade da noite, não importa o que Maus faça, de modo que o lugar onde estamos não é segredo. O que os estaria impedindo?
Agora é uma corrida. Todo mundo sabe. Estamos cruzando a área de testes de mísseis de White Sands para tentarmos chegar ao abrigo em Carrizozo. Quero contar a Hollis, mas não posso. Não assim. Vou esperar até chegarmos ao posto militar, para dar sorte.
Será que o bebê sabe que estou com medo?
Dia 272
Nenhum sinal esta noite. Todos nos sentimos aliviados, esperando que os tenhamos despistado.
Dia 273
O último abrigo antes de Roswell. Um lugar chamado Hondo. Acho que esta será minha última anotação. Eles estiveram nos seguindo o dia todo, acompanhando das árvores. Podemos ouvi-los se movendo ao redor, e o dia ainda nem escureceu. Caleb não para de chorar. Maus o aperta contra o peito, mas ele chora o tempo todo. Ela diz que é Caleb o que eles querem.
Ah, Hollis. Lamento termos saído da fazenda. Gostaria que tivéssemos aquela vida. Eu te amo eu te amo eu te amo.
Dia 275
Quando olho as palavras da minha última anotação, nem acredito que estamos vivos, que de algum modo conseguimos sobreviver àquela noite terrível.
Os virais não atacaram. Quando abrimos a porta de manhã, o Humvee estava virado sobre uma poça de líquido, com o motor totalmente arrebentado, impossível de ser consertado. Parecia um grande pássaro de asas quebradas caído na terra. O capô estava a 100 metros de distância. Eles haviam arrancado e rasgado os pneus. Foi sorte sobrevivermos mais uma noite, mas ficamos sem um meio de transporte. Segundo o mapa, estávamos a 50 quilômetros do posto militar. Era possível seguir a pé, mas não para Theo. Maus queria ficar com ele, mas é claro que ele disse que não, e de qualquer modo nenhum de nós teria permitido."Se eles não nos mataram na noite passada, tenho certeza de que consigo aguentar outra, se for preciso", ele disse. "Aproveitem a luz do dia e andem o mais depressa que puderem. Mandem um veículo para me buscar quando chegarem lá." Hollis fez um suporte para Maus carregar Caleb, usando cordas e um pedaço de um dos bancos do carro, e em seguida Theo beijou os dois, baixou a porta e se trancou no abrigo enquanto nós partíamos, carregando apenas água e os fuzis.
Eram mais de 50 quilômetros, muito mais. O posto militar ficava do outro lado da cidade. Mas não foi problema, porque, pouco depois do meio-dia, encontramos uma patrulha. Por mais incrível que pareça, era do tenente Eustace. Ele pareceu mais perplexo do que qualquer coisa ao nos ver. De qualquer modo, mandaram um Humvee de volta ao abrigo, e agora estamos todos em segurança atrás dos muros do posto.
Estou escrevendo isso na barraca do refeitório dos civis (há três: um para os soldados, um para os oficiais e um para os trabalhadores civis). Todos os outros já foram para a cama. O comandante aqui é um sujeito chamado Crukshank. É um general, como Vorhees, mas a semelhança entre os dois para por aí. Com Vorhees, dava para dizer que havia uma pessoa de verdade lá dentro, por trás de toda aquela carapaça de seriedade militar, mas Crukshank parece o tipo de homem que nunca deu um sorriso na vida. Também tenho a sensação de que Greer está tremendamente encrencado, e isso parece se estender a todos nós. Amanhã, às seis horas, vamos ser interrogados, e então poderemos contar toda a história. O posto militar de Roswellfaz o do Colorado parecer minúsculo. Acho que é quase tão grande quanto a Colônia, com gigantescas paredes de concreto sustentadas por estruturas metálicas que se estendem até o pátio central. O único modo que tenho para descrevê-lo é dizendo que parece uma aranha ao avesso. Um mar de barracas e outras estruturas fixas. Veículos chegando a noite toda, caminhões-tanques e outros, enormes e com as cabines iluminadas por fileiras de luzes, cheios de homens, armas e caixotes de suprimentos. O ar aqui carrega o rugido dos motores, o cheiro de combustível queimado, as fagulhas das tochas. Amanhã vou procurar a enfermaria e ver se há algo que eu possa fazer para ajudar. Há algumas outras mulheres aqui, não muitas, principalmente no corpo médico, e, como estamos na área civil, podemos transitar à vontade.
Pobre Hollis. Estava tão exausto que não tive chance de lhe contar a novidade. Mas esta será a última noite em que estarei sozinha com meu segredo, a última antes que outra pessoa saiba. Será que há alguém aqui que possa nos casar? Talvez o general. Mas Crukshank não parece fazer o tipo, e eu deveria esperar até que Michael estivesse conosco em Kerrville. Ele é quem deveria me levar até o altar. Não seria justo fazer isso sem ele.
Eu devia estar exausta, mas não estou. Sinto-me empolgada demais para dormir. Provavelmente é só minha imaginação, mas quando fecho os olhos efico parada, juro que sinto o bebê dentro de mim. Não se mexendo, não é nada do tipo, é cedo demais. Apenas uma espécie de presença cálida e esperançosa, essa alma nova que meu corpo carrega, à espera para nascer no mundo. O que eu sinto é... qual é a palavra? Felicidade. Sinto felicidade. Tiros lá fora. Vou olhar.
Justin Cronin
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















