



Biblio "SEBO"




Lê-se como um romance, mas a vida de Marina Nemat não se parece mesmo nada com um romance: 1982 foi um ano negro para o Irão. A guerra com o Iraque acendia-se e o novo regime do ayatola Khomeini já rivalizava com o do Xá em brutalidade. Eram perseguidos todos aqueles que se opunham à mão de ferro da revolução islâmica fundamentalista. Marina, que pertencia a uma família católica, tinha apenas dezasseis anos quando, na escola, reclamou que tivessem substituído a aula de Matemática pela leitura do Corão e criticou o governo no jornal escolar. Foi arrancada à família, presa, torturada e condenada à morte por traição, mas um dos seus carcereiros apaixonou-se loucamente por ela e conseguiu que a pena fosse comutada em prisão perpétua. Esse gesto, porém, tinha um preço... Poéticas, apaixonantes e recheadas de graça e sensibilidade, estas memórias de Marina Nemat são ímpares. A sua busca de redenção emocional envolve os seus carcereiros, o seu marido e a sua família — e a todos ela oferece o maior dom de todos: o perdão.
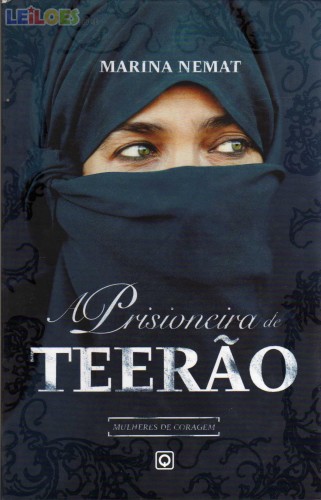
Há um antigo provérbio persa que diz: “O céu tem a mesma cor onde quer que se esteja.” Mas o céu canadiano era diferente daquele que eu recordava do Irão — era de um tom de azul mais profundo e parecia interminável, como se desafiasse o horizonte.
Chegámos ao aeroporto de Pearson, em Toronto, a 28 de Agosto de 1991, num dia bonito e solarengo. O meu irmão esperava-nos. Eu, o meu marido e o nosso filho de dois anos e meio íamos ficar em sua casa até encontrarmos um apartamento. Embora não visse o meu irmão há doze anos — tinha catorze quando ele partiu para o Canadá — reconheci-o imediatamente. O cabelo estava mais grisalho e mais ralo, mas tinha um metro e noventa e sete, e a sua cabeça destacava-se no caos animado da multidão que esperava.
Quando abandonámos o aeroporto de carro, olhei pela janela e a vastidão da paisagem assombrou-me. O passado tinha desaparecido e era do interesse de todos que eu o deixasse para trás. Tínhamos de construir uma vida nova neste país desconhecido que nos oferecera refúgio quando não tínhamos para onde ir. Precisava de concentrar toda a minha energia na sobrevivência. Tinha de o fazer pelo meu marido e pelo meu filho.
E construímos mesmo uma vida nova. O meu marido arranjou um novo emprego, tivemos outro filho e eu aprendi a conduzir. Em Julho de 2000, nove anos depois de chegarmos ao Canadá, comprámos finalmente uma casa de quatro assoalhadas nos subúrbios de Toronto e tornámo-nos orgulhosos canadianos da classe média, que cuidavam do jardim, levavam os rapazes à natação, ao futebol e às aulas de piano, e convidavam amigos para churrascos.
Foi nessa altura que deixei de conseguir dormir. Tudo começou com instantâneos de recordações que me assaltavam o espírito assim que ia para a cama. Tentava afastá-los, mas eles precipitavam-se sobre mim, invadindo tanto as minhas horas diurnas, como as nocturnas. O passado estava a dominar-me e eu não conseguia mantê-lo afastado; tinha de enfrentá-lo ou ele destruiria a minha sanidade. Se não conseguia esquecer, talvez a solução fosse recordar. Comecei a escrever sobre o período que passei em Evin — a famosa prisão política de Teerão —, sobre a tortura, a dor, a morte e todo o sofrimento acerca do qual nunca conseguira falar. As minhas recordações tornaram-se palavras e libertaram-se da hibernação forçada. Julgava que, quando as transpusesse para papel, me sentiria melhor — mas não senti. Precisava de mais. Não consegui manter o manuscrito enterrado numa gaveta do quarto. Eu era uma testemunha e tinha de contar a minha história.
O primeiro leitor foi o meu marido. Também ele desconhecia os pormenores da minha estadia na prisão. Quando lhe entreguei o manuscrito, meteu-o debaixo da cama, do lado dele, onde permaneceu, sem que lhe tocasse, durante três dias. Senti-me angustiada. Quando o iria ele ler? Iria compreender? Iria perdoar-me por ter guardado tais segredos?
- Porque não me contaste antes? - perguntou-me, quando finalmente o leu.
Estávamos casados há dezassete anos.
- Tentei, mas não consegui... Perdoas-me?
- Não há nada a perdoar. E tu, perdoas-me a mim?
- O quê?
- Não ter perguntado.
Se eu tinha dúvidas quanto a falar, desapareceram no Verão de 2005, quando conheci um casal de iranianos num jantar. Desfrutámos da companhia uns dos outros e falámos de coisas do quotidiano: dos nossos empregos, do mercado imobiliário e da educação dos nossos filhos.
Quando o ar da noite se tornou demasiado fresco para estarmos sentados no exterior, fomos para dentro de casa, comer a sobremesa. Enquanto servia o café, a dona da casa perguntou-me como ia o livro, e a mulher iraniana, Parisa, quis saber do que tratava.
- Quando tinha dezasseis anos, fui detida e passei dois anos como presa política em Evin. Estou a escrever sobre isso - respondi.
Ela empalideceu.
- Sente-se bem? - perguntei-lhe.
Ela fez uma pequena pausa e disse que ela própria passara alguns meses em Evin.
Todos os presentes se calaram, olhando-nos fixamente.
Parisa e eu descobrimos que havíamos estado na prisão na mesma altura, em zonas diferentes do mesmo edifício. Mencionei os nomes de algumas das minhas companheiras de cela, mas não lhe eram familiares, e ela falou-me das suas amigas da prisão, mas eu não as conhecia. Contudo, partilhávamos recordações de certos acontecimentos, bem conhecidos da maioria das reclusas de Evin. Ela afirmou tratar-se da primeira vez que falava a alguém das suas experiências na prisão.
- As pessoas simplesmente não falam sobre isso - declarou.
Fora esse mesmo silêncio que me dominara durante mais de vinte anos.
Quando fui libertada de Evin, a minha família fingiu que estava tudo bem. Ninguém mencionou a prisão. Ninguém perguntou: “Que te aconteceu?” Eu ansiava por lhes contar a minha vida em Evin, mas não sabia por que ponta pegar. Esperei que me perguntassem alguma coisa, qualquer coisa que me desse oportunidade de começar, mas a vida prosseguiu como se não tivesse acontecido nada de invulgar. Suspeitei de que a minha família queria que eu fosse a rapariga inocente que fora antes da prisão. O sofrimento e o horror do meu passado ater-rorizava-os, por isso ignoraram-nos.
Encorajei Parisa a telefonar-me e falámos algumas vezes. A sua voz tremia sempre que partilhávamos as recordações das nossas companheiras de cela, evocando amizades que nos haviam ajudado a sobreviver.
Umas semanas mais tarde, disse-me que não queria voltar a falar comigo, que não queria recordar.
- Não consigo. É demasiado difícil. É demasiado doloroso - disse, com a voz embargada pelas lágrimas.
Eu compreendi e não argumentei. Ela tinha feito a sua escolha - e eu fizera a minha.
Fui detida no dia 15 de Janeiro de 1982, cerca das nove horas da noite. Tinha dezasseis anos.
Nesse dia, acordara antes do romper do dia e não conseguira voltar a adormecer. O meu quarto parecia mais escuro e mais frio que o habitual, por isso permaneci debaixo do edredão de pêlo de camelo e esperei pelo sol, mas a escuridão parecia estar ali para ficar. Nos dias frios como aquele, desejava que a nossa casa fosse mais bem aquecida - dois aquecedores de querosene não eram suficientes - mas os meus pais sempre me disseram que eu era a única que achava a casa demasiado fria no Inverno.
O quarto dos meus pais era ao lado do meu e a cozinha ficava do outro lado do corredor estreito que ligava os dois extremos do nosso apartamento de três divisões. Ouvi o meu pai a arranjar-se para ir para o trabalho. Embora se movesse ao de leve e silenciosamente, os sons fracos que produzia ajudavam-me a acompanhar os seus movimentos para a casa de banho e depois para a cozinha. A chaleira apitou. O frigorífico abriu e fechou. Ele devia estar a comer pão com manteiga e compota.
Por fim, uma luz débil penetrou através da janela do meu quarto. O meu pai já tinha saído para trabalhar e a minha mãe, que não costumava levantar-se antes das nove, ainda dormia. Virei-me e revirei-me na cama e fiquei à espera. Onde estaria o sol? Tentei fazer planos para o dia, mas era inútil. Sentia-me como se tivesse saído do curso normal do tempo. Saí da cama. O chão de linóleo estava ainda mais frio do que o ar e a cozinha mais escura do que o meu quarto. Era como se nunca mais fosse conseguir sentir-me quente. Talvez o sol nunca mais fosse nascer. Depois de tomar uma chávena de chá, tudo o que me ocorreu fazer foi ir à igreja. Vesti o casaco castanho comprido, de lã, que a minha mãe me fizera, cobri a cabeça com um grande xaile bege e desci os vinte e quatro degraus de pedra cinzenta que conduziam à porta da frente e ligavam o nosso apartamento à rua agitada do centro da cidade. As lojas estavam ainda fechadas e havia pouco trânsito. Caminhei para a igreja sem erguer os olhos. Não havia nada para ver. Retratos do Ayatollah Khomeini e slogans raivosos como “Morte à América”, “Morte a Israel”, “Morte aos comunistas e a todos os inimigos do Islão” e “Morte aos anti-revolucionários” cobriam quase todas as paredes.
Levei cinco minutos a chegar à igreja. Quando pus a mão na pesada porta de madeira da entrada, um floco de neve pousou-me no nariz. Teerão tinha sempre um ar de beleza inocente sob os enganadores flocos que ondulavam no ar e, embora o regime islâmico tivesse proibido a maioria das coisas bonitas, não conseguia impedir a neve de cair. O governo ordenara que as mulheres cobrissem o cabelo e emitira decretos contra a música, a maquilhagem, as representações pictóricas de mulheres sem véu e os livros ocidentais, que haviam todos sido considerados satânicos e, por consequência, ilegais. Entrei na igreja, fechei a porta atrás de mim e sentei-me a um canto, observando a imagem de Jesus na cruz. O templo encontrava-se vazio. Tentei rezar, mas as palavras flutuavam-me dentro da cabeça, sem qualquer sentido. Cerca de meia hora mais tarde, dirigi-me à sacristia para cumprimentar os padres e dei de caras com André, o organista, que era um rapaz bem-parecido. Tínhamo-nos conhecido há uns meses e eu via-o frequentemente na igreja. Toda a gente sabia que gostávamos um do outro, mas éramos ambos demasiado tímidos para o admitir, talvez por André ser sete anos mais velho do que eu. Corada, pergun-tei-lhe o que fazia ali tão cedo e ele explicou-me que fora reparar um aspirador avariado.
- Há vários dias que não te vejo - comentou. - Por onde tens andado? Liguei algumas vezes para tua casa e a tua mãe disse que não andavas bem. Estava a pensar ir hoje visitar-te.
- Estive adoentada. Deve ter sido uma constipação ou qualquer coisa do género.
Ele achou que eu estava demasiado pálida e que devia ter ficado em casa mais uns dias, e eu concordei. Ofereceu-se para me levar de carro, mas eu precisava de apanhar ar fresco e fui a pé para casa. Se não estivesse tão preocupada e deprimida, teria adorado passar algum tempo com ele, mas, desde que os meus amigos da escola, Sarah, Gita e o irmão de Sarah, Sirus, tinham sido detidos e levados para a prisão de Evin, eu não era capaz de reagir. Sarah e eu éramos as melhores amigas desde o primeiro ano, e Gita era uma grande amiga há mais de três anos. Gita fora presa em meados de Novembro, Sarah e Sirus a 2 de Janeiro. Eu conseguia ver a imagem de Gita com o seu cabelo longo, castanho e sedoso e o seu sorriso de Mona Lisa, sentada num banco perto do campo de basquetebol. Perguntei-me o que teria acontecido a Ramin, o rapaz de quem ela gostava. Nunca mais soubera dele depois do Verão de 1978, o último antes da revolução, antes da nova ordem mundial. Agora, estava em Evin há mais de dois meses e os seus pais não haviam sido autorizados a vê-la. Telefonava-lhes uma vez por semana e a mãe chorava sempre ao telefone. A mãe de Gita ficava todos os dias de pé durante horas à porta, observando as pessoas que passavam, à espera que a filha regressasse a casa. Os pais de Sarah tinham ido muitas vezes à prisão, pedindo para ver os filhos, mas o pedido fora-lhes recusado.
Evin era uma prisão política desde a época do Xá. O nome evocava medo em todos os corações, pois significava tortura e morte. Os seus diversos edifícios estavam dispersos através de uma vasta área a norte de Teerão, no sopé dos montes Alborz. As pessoas nunca falavam de Evin — a prisão estava envolta num silêncio temeroso.
Na noite da detenção de Sarah e de Sirus, eu estava deitada na minha cama, a ler uma antologia de poemas de Forough Farrokhzad, quando a porta do meu quarto se abriu bruscamente e a minha mãe apareceu na ombreira.
- A mãe da Sarah acabou de telefonar... - disse-me. Senti como se estivesse a respirar fragmentos de gelo.
- Os guardas revolucionários prenderam a Sarah e o Sirus há cerca de uma hora e levaram-nos para Evin.
Deixei de sentir o corpo.
- Que fizeram eles? - perguntou a minha mãe.
Pobres Sarah e Sirus. Deviam estar aterrorizados. Mas ia correr tudo bem. Eles só podiam estar bem.
- Marina, responde-me. Que fizeram eles?
A minha mãe fechou a porta do meu quarto e encostou-se a ela.
- Nada. Bem, a Sarah não fez nada, mas o Sirus é membro dos Mojahedin. - A minha voz soava fraca e distante. A Organização Moja-hedin-e Khalgh era um grupo de muçulmanos de esquerda que lutava contra o Xá desde a década de 1960. Após o êxito da revolução islâmica, os seus membros opuseram-se ao poder ilimitado do Ayatollah Khomeini como líder supremo do Irão e chamavam-lhe ditador. Como consequência, o governo islâmico declarou a ilegalidade do partido.
- Estou a ver. Então talvez tenham prendido a Sarah por causa do Sirus.
- Talvez.
- Coitada da mãe deles. Estava desvairada.
- Os guardas disseram alguma coisa?
- Disseram aos pais que não se preocupassem, que queriam apenas fazer-lhes umas perguntas.
- Então é possível que os libertem em breve?
- Bem, o que me dizes leva-me a pensar que libertarão a Sarah em breve. Quanto ao Sirus... Bem, ele devia ter previsto isto. Não há razão para preocupações.
Quando a minha mãe saiu do meu quarto, tentei pensar, mas não consegui. Sentindo-me exausta, fechei os olhos e mergulhei num sono sem sonhos.
Durante os doze dias que se seguiram, passei a maior parte do tempo a dormir. A simples ideia de realizar as tarefas mais elementares parecia-me cansativa e impossível. Não tinha fome nem sede. Não queria ler, ir a lado nenhum, nem falar com ninguém. Todas as noites, a minha mãe dizia-me que não havia notícias de Sarah nem de Sirus. Desde que eles tinham sido presos, sabia que eu seria a seguinte. O meu nome constava de uma lista de nomes e moradas que a minha professora de química, a Khanoom1 Bahman, vira no gabinete da directora - e a nossa directora, a Khanoom Mahmoodi, era uma guarda revolucionária. A Khanoom Bahman era uma boa mulher e avisara-me de que essa lista se destinava aos Tribunais da Revolução Islâmica. Contudo, eu nada podia fazer a não ser esperar. Não podia esconder-me. Para onde iria? Os guardas revolucionários eram implacáveis. Se fossem realizar uma detenção a casa de alguém e a pessoa não estivesse, levavam quem quer que lá encontrassem. Não podia pôr em risco a vida dos meus pais para me salvar. Durante os últimos meses, centenas de pessoas haviam sido detidas, acusadas de alguma forma de oposição ao governo.
As nove da noite, fui tomar um banho. Assim que liguei a torneira e a água começou a fumegar, o som da campainha ecoou pela casa. O meu coração afundou-se. Ninguém tocava à campainha àquela hora.
Desliguei a torneira e sentei-me na borda da banheira. Ouvi os meus pais abrirem a porta e uns segundos mais tarde a minha mãe chamou por mim. Destranquei a porta da casa de banho e abri-a. Dois guardas revolucionários barbudos, armados e com fardas verde-escuras ao estilo militar, estavam de pé no corredor. Um deles apontou-me a arma. Senti como se tivesse saído do meu corpo e estivesse a ver um filme. Aquilo não estava a acontecer-me a mim, mas a qualquer outra pessoa, a alguém que eu não conhecia.
- Fica aqui com eles, enquanto eu revisto o apartamento - disse o segundo guarda para o amigo; e, em seguida, virando-se para mim, perguntou: - Onde é o teu quarto? - O seu hálito cheirava a cebola e deu-me a volta ao estômago.
- Ao fundo do corredor, a primeira porta à direita.
O corpo da minha mãe tremia e o seu rosto estava lívido. Cobrira a boca com a mão, como que para abafar um interminável gemido. O meu pai olhava-me fixamente; olhava-me como se eu estivesse a morrer de uma doença súbita e incurável e ele não pudesse fazer nada para me salvar. Rolavam-lhe lágrimas pelo rosto. Não o via chorar desde a morte da minha avó.
O outro guarda regressou pouco depois com um punhado de livros meus, tudo romances ocidentais.
- Estes livros são teus?
- São.
- Vamos levar alguns como prova.
- Prova de quê?
- Das tuas actividades contra o governo islâmico.
- Não concordo com o governo, mas não fiz nada contra ele.
- Não estou aqui para decidir se és ou não culpada, estou aqui para te prender. Veste um chador.
- Sou cristã. Não uso chador.
Ficaram ambos surpreendidos.
- Muito bem - disse um deles - põe um lenço e vamos embora.
- Para onde a vão levar? - perguntou a minha mãe.
- Para Evin - responderam eles.
Com um dos guardas a seguir-me, dirigi-me ao meu quarto, agarrei no xaile de caxemira bege e cobri o cabelo com ele. Estava uma noite fria e o xaile manter-me-ia quente, pensei. Quando estávamos prestes a sair do quarto, o meu olhar foi atraído pelo rosário, pousado em cima da secretária. Peguei nele.
- Ei, espera! Que é isso? - perguntou o guarda.
- As minhas contas para rezar. Posso levá-las comigo?
- Deixa ver.
Entreguei-lhe o rosário. Ele examinou-o, olhando atentamente cada uma das contas azuis-claras e a cruz de prata.
- Podes levá-lo. Rezar é exactamente o que precisas de fazer em Evin.
Deixei cair o rosário para dentro do bolso.
Os guardas conduziram-me a um Mercedes preto estacionado na entrada. Abriram a porta de trás e eu entrei. O carro arrancou. Olhei para trás e vislumbrei as janelas iluminadas do nosso apartamento destacando-se na escuridão e as sombras dos meus pais de pé à porta. Sabia que devia estar aterrada, mas não estava. Um vazio frio envolvia-me.
- Tenho um conselho para te dar - disse um dos guardas. - É do teu interesse responderes sem mentir a todas as perguntas que te fizerem ou pagarás por isso. Já deves ter ouvido dizer que em Evin têm formas de fazer as pessoas falar. Evitarás o sofrimento se disseres a verdade.
O carro dirigia-se velozmente para norte, em direcção aos montes Alborz. Àquela hora as ruas estavam quase vazias. Não havia pessoas e apenas alguns carros. Os semáforos eram visíveis à distância, passando de vermelho para verde e novamente para vermelho. Após cerca de meia hora, à pálida luz da lua, vi os muros de Evin, qual serpente ziguezagueando ao longo dos montes. Um dos guardas falava ao outro do casamento da irmã que estava prestes a realizar-se. Estava muito contente pelo facto de o noivo ser um guarda revolucionário de alta patente, oriundo de uma família tradicional e abastada. Pensei em André. Uma dor aguda encheu-me a barriga e estendeu-se aos ossos, mas era como se algo terrível lhe tivesse acontecido a ele e não a mim.
Penetrámos numa rua estreita e sinuosa e os muros altos de tijolo vermelho da prisão surgiram à nossa direita. De tantos em tantos metros os holofotes das torres de vigia lançavam na noite a sua luz intensa. Aproxi-mámo-nos de um grande portão de metal e detivemo-nos diante dele. Por todo o lado, havia guardas de barba, armados. O arame farpado que cobria a parte superior do muro lançava uma sombra emaranhada sobre o pavimento. O condutor saiu e o guarda sentado no banco do passageiro deu-me uma faixa de pano grosso e mandou-me vendar os olhos.
- Põe isso como deve ser ou arranjas sarilhos! - ladrou.
Com a venda posta, o carro atravessou os portões e continuou a andar durante dois ou três minutos antes de parar novamente. As portas abriram-se e disseram-me que saísse. Alguém me amarrou os pulsos com corda e arrastou-me. Tropecei num obstáculo e caí.
- És cega? - perguntou uma voz, e seguiu-se uma gargalhada.
Pouco depois, já não estava tanto frio e percebi que tínhamos entrado num edifício. Uma estreita faixa de luz surgiu por debaixo da minha venda e vi que caminhávamos ao longo de um corredor. O ar cheirava a suor e a vomitado. Mandaram-me sentar no chão e esperar. Sentia outras pessoas sentadas ao meu lado, mas não conseguia vê-las. Toda a gente estava em silêncio, mas vozes indistintas e encolerizadas chegavam do outro lado de portas fechadas. De vez em quando, percebia uma palavra ou outra: Mentiroso!Diz-me!Nomes!Escreve! Por vezes, ouvia pessoas gritar de dor. O meu coração começou a bater tão depressa, que me comprimia o peito e o fazia doer, por isso coloquei as mãos sobre ele e fiz pressão. Após algum tempo, uma voz ríspida mandou alguém sentar-se ao meu lado. Era uma rapariga e estava a chorar.
- Porque estás a chorar? - perguntei.
- Tenho medo! - respondeu. - Quero voltar para casa.
- Eu sei, eu também quero, mas não chores. Não adianta nada. Tenho a certeza de que em breve eles nos deixam voltar para casa - menti.
- Não deixam, não! - gritou ela. - Vou morrer aqui! Vamos todos morrer aqui!
- Tens de ter coragem - disse-lhe, arrependendo-me imediatamente de o ter dito. Talvez ela tivesse sido torturada. Como me atrevia eu a dizer-lhe que tivesse coragem?
- Isto é muito interessante - disse uma voz masculina. - Marina, tu vens comigo. Levanta-te e dá dez passos em frente. Depois vira à direita.
A rapariga chorava agora em voz alta. Obedeci. A voz mandou-me dar quatro passos em frente. Uma porta fechou-se atrás de mim e disseram-me que me sentasse numa cadeira.
- Foste muito corajosa ali fora. A coragem é uma qualidade rara em Evin. Vi muitos homens fortes irem-se abaixo aqui. Então, és arménia?
- Não.
- Mas disseste aos guardas que eras cristã.
- Sou cristã.
- Então, és assíria?
- Não.
- Estás a baralhar-me. Os cristãos ou são arménios ou assírios.
- A maioria dos cristãos iranianos, mas não todos. As minhas duas avós migraram da Rússia para o Irão depois da revolução russa.
As minhas avós tinham casado com iranianos que trabalhavam na Rússia antes da revolução comunista de 1917, mas depois da revolução os maridos foram forçados a abandonar a União Soviética por não serem cidadãos russos, e elas escolheram ir para o Irão com eles.
- Então são comunistas.
- Se fossem comunistas, porque teriam abandonado o seu país? Partiram porque odiavam o comunismo. Eram ambas cristãs devotas.
O homem disse-me que uma parte do Sagrado Corão falava de Maria, a mãe de Jesus. Explicou-me que os muçulmanos acreditavam que Jesus era um grande profeta e que tinham um grande respeito por Maria. Ofereceu-se para me ler essa parte do Corão. Escutei, enquanto ele lia o texto árabe. Tinha uma voz profunda e suave.
- Então, que achas? - perguntou quando acabou de ler. Desejei que ele prosseguisse, pois sabia que estaria em segurança enquanto ele continuasse a ler, mas sabia também que não podia confiar nele. Era provavelmente um guarda revolucionário, um homem violento que, sem remorsos, torturava e matava inocentes.
- Muito bonito. Estudei o Corão e já conhecia essa passagem - respondi. As palavras saíram-me da boca ligeiramente entrecortadas.
- Estudaste o Sagrado Corão? Isso ainda é mais interessante! Uma rapariga cristã corajosa que estudou o nosso livro! E continuas a ser cristã, embora conheças o nosso profeta e os seus ensinamentos?
- Sim, continuo.
A minha mãe sempre me disse que eu falava sem pensar. Dizia isto quando eu respondia com franqueza a perguntas e quando fazia os possíveis por não ser mal interpretada.
- Interessante! - exclamou o leitor do Corão com uma gargalhada. - Gostava de continuar esta conversa numa altura mais apropriada, mas neste momento o Irmão Hamehd está à espera para te fazer umas perguntas.
Ele parecia genuinamente divertido comigo. Talvez eu fosse a única cristã que havia conhecido em Evin. Devia estar à espera que eu fosse como a maioria das raparigas muçulmanas de famílias tradicionais - caladas, tímidas e submissas - mas eu não tinha nenhuma dessas qualidades.
Ouvi-o erguer-se da cadeira e sair da sala. Sentia-me entorpecida. Talvez aquele fosse um local que transcendesse o medo, onde todas as emoções humanas normais sufocavam, sem se darem ao luxo de sequer lutar.
Esperei, pensando que não tinham razão para me torturar. A tortura era geralmente utilizada para extrair informações. Eu não sabia nada que lhes pudesse servir de alguma coisa e não pertencia a nenhum grupo político.
A porta abriu-se e fechou-se, e eu dei um salto. O leitor do Corão havia regressado. Apresentou-se como Ali e disse-me que Hamehd estava ocupado a interrogar outra pessoa. Ali explicou que trabalhava para a sexta divisão dos Tribunais da Revolução Islâmica, que estava a investigar o meu caso. Parecia calmo e paciente, mas avisou-me que devia contar a verdade. Era muito estranho ter uma conversa com alguém sem poder ver a pessoa. Não fazia ideia do seu aspecto, da sua idade, nem do tipo de sala em que nos encontrávamos.
Disse-me que sabia que eu tinha manifestado ideias revolucionárias na escola e que tinha escrito artigos contra o governo no jornal escolar. Não o neguei. Não era segredo nem crime. Perguntou-me se eu trabalhava com alguns grupos comunistas e respondi que não. Ele sabia da greve que eu iniciara na escola e julgava impossível que alguém sem ligações a partidos políticos ilegais pudesse organizar uma greve. Expliquei-lhe que não organizara nada, o que era verdade. Apenas pedira à professora de cálculo que ensinasse cálculo em vez de política. Ela pedira-me para sair da sala, eu saíra e os meus colegas tinham-me seguido. Antes que eu desse por isso, a maioria dos estudantes soubera do sucedido e recusou-se a voltar para as aulas. Ele não acreditava que pudesse ter sido assim tão simples. Disse-me que a informação que recebera sugeria que eu tinha fortes ligações com grupos comunistas.
- Não sei onde vai buscar as suas informações - atalhei -, mas está completamente enganado. Estudei o comunismo da mesma forma que estudei o Islão e isso não me tornou mais comunista do que muçulmana.
- Estou a gostar disto - disse ele, rindo. - Dá-me os nomes de todos os comunistas ou outros anti-revolucionários da tua escola para eu acreditar que não estás a mentir.
Porque me pedia ele os nomes dos meus colegas de escola? Ele sabia da greve e do jornal escolar, a Khanoom Mahmoodi devia ter falado com ele e ter-lhe dado a sua lista. Mas não podia correr o risco de lhe dizer nada, pois não sabia que nomes, além do meu, estavam na lista.
- Não lhe vou dar nomes nenhuns.
- Eu sabia que estavas do lado deles.
- Não estou do lado de ninguém. Se lhe der nomes, vocês prendem-nos. Não quero que isso aconteça.
- Sim, prendemo-los para termos a certeza de que não andam a fazer nada contra o governo, e se não andarem, libertamo-los. Mas se andarem, teremos de detê-los. Não poderão culpar ninguém a não ser a si próprios.
- Não lhe dou nomes nenhuns.
- Então e a Shahrzad? Negas que a conheces?
Por um momento, não percebi de quem ele falava. Quem era Shahrzad? Mas depressa me lembrei. Era amiga de Gita e membro de um grupo comunista chamado Fadayian-e Khalgh. Cerca de duas semanas antes das férias de Verão, Gita pedira-me que me encontrasse com ela, na esperança de que Shahrzad me convencesse a juntar-me ao grupo. Encontrei-me com ela apenas uma vez e expliquei-lhe que era cristã praticante e que não estava interessada em juntar-me a grupos comunistas.
Ali disse-me que tinham andado a vigiar Shahrzad, mas que ela percebera e tinha desaparecido. Tinham-na procurado durante algum tempo e pensavam que pudesse ter-se encontrado novamente comigo. Ali disse que Shahrzad devia ter tido uma razão melhor para se encontrar comigo do que apenas para me convencer a juntar-me ao Fadayian - ela era importante demais para desperdiçar assim o tempo comigo. Por muito que tentasse explicar-lhe que não tinha nada que ver com ela, ele não acreditava.
- Temos de descobrir o paradeiro dela - declarou.
- Não posso ajudá-lo porque não sei onde ela está.
Ele permanecera calmo durante o interrogatório e nunca levantara a voz.
- Marina, presta atenção. Vejo que és uma rapariga corajosa, respeito isso, mas tenho de saber o que sabes. Se não me contas, o Irmão Hamehd vai ficar muito aborrecido. Ele não é um homem paciente. Não quero ver-te sofrer.
- Lamento, mas não tenho nada a dizer-lhe.
- Eu também lamento - concluiu Ali, e conduziu-me para fora da sala e ao longo de três ou quatro corredores. Um homem estava aos gritos. Mandaram-me sentar no chão. Ali disse que, tal como eu, o homem que gritava se recusara a partilhar qualquer informação, mas que em breve mudaria de ideias.
Gritos inflamados de dor enchiam o ar à minha volta. Pesados, profundos e desesperados, penetravam-me na pele, entranhando-se em todas as células do meu corpo. Estavam a dar cabo do infeliz. O mundo tornou-se uma laje de chumbo assente sobre o meu peito.
O impacto ruidoso e violento do chicote. Os gritos do homem. Um instante de silêncio. E o ciclo recomeçava.
Após alguns minutos, alguém perguntou ao homem se ele estava pronto para falar. A resposta foi “não”. As chicotadas recomeçaram. Embora tivesse os pulsos amarrados, tentei cobrir os ouvidos com os braços para afastar os gritos, mas em vão. A cena repetia-se, golpe após golpe, grito após grito.
- Parem... Por favor... Eu falo... - gritou finalmente o homem em sofrimento.
Os golpes pararam.
Nada importava senão o facto de eu ter decidido não lhes dar quaisquer nomes. Não me sentia impotente. Ia dar-lhes luta.
- Marina, como estás? - perguntou a voz que interrogara o homem supliciado. - Ali falou-me de ti. Ele gostou de ti. Não quer que sofras, mas trabalho é trabalho. Ouviste aquele homem? Ao princípio, não queria contar-me nada, mas acabou por fazê-lo. Teria sido mais inteligente contar-me o que eu queria saber logo ao princípio. Bom, estás pronta para falar?
Respirei fundo.
- Não.
- É pena. Levanta-te.
Ele agarrou a corda que me prendia os pulsos, arrastou-me alguns passos e atirou-me para o chão. Arrancaram-me a venda. Um homem pequeno e magro, com cabelo castanho curto e bigode, erguia-se à minha frente, segurando a minha venda na mão. Tinha quarenta e poucos anos, vestia calças castanhas simples e uma camisa branca. A sala estava vazia, à excepção de uma cama de madeira despida, com cabeceira de metal. Ele desamarrou-me os pulsos.
- A corda não serve; precisamos de algo mais forte e resistente - disse. Retirou um par de algemas de um dos bolsos e colocou-mas nos pulsos.
Outro homem entrou na sala. Tinha cerca de um metro e oitenta e dois e cem quilos, o cabelo preto muito curto e barba preta aparada, e aparentava vinte e muitos anos.
- Ela já falou, Hamehd? - perguntou.
- Não, é muito teimosa, mas não te preocupes; em breve falará.
- Marina, esta é a tua última oportunidade - disse o recém-chegado. Reconheci-lhe a voz. Era Ali. Tinha o nariz um pouco grande demais, os olhos castanhos eram expressivos e as pestanas longas e espessas. - Acabarás por falar, por isso seria melhor falares já. Vais dar-nos os nomes?
- Não.
- Só quero que me digas onde está a Shahrzad.
- Não sei onde ela está.
- Olha, Ali, ela tem pulsos tão finos! As algemas vão deslizar e sair - constatou Hamehd.
Enfiou-me as duas mãos dentro de uma só algema e arrastou-me para a cama. A algema de metal enterrava-se nos ossos. Deixei escapar um grito, mas não me debati, sabendo que a minha situação era desesperada e apenas se tornaria pior se o fizesse. Ele prendeu a algema livre à cabeceira de metal da cama. Então, depois de me tirar os sapatos, amarrou-me os tornozelos à cama.
- Vou chicotear-te a planta dos pés com este cabo - disse Hameh brandindo à frente da minha cara um pedaço de cabo negro, com cerca de dois centímetros de espessura.
- Ali, quantas achas que serão precisas para a fazer falar?
- Não muitas.
- Eu diria que umas dez.
O silvo agudo e ameaçador do cabo cortou o ar e atingiu-me a planta dos pés.
Dor. Nunca sentira nada assim. Nem nunca a imaginara. Explodiu dentro de mim como um relâmpago.
Segundo golpe: a minha respiração deteve-se na garganta. Como podia alguma coisa doer tanto? Tentei pensar numa forma de me ajudar a suportar a dor. Não consegui gritar porque não me restava ar suficiente nos pulmões.
Terceira vergastada: o silvo do cabo e a agonia cega que se seguiu. O “ave-maria” encheu-me a cabeça.
Os golpes sucederam-se, um após outro, e eu rezei, lutando contra a dor. Queria perder a consciência, mas tal não aconteceu. Cada golpe mantinha-me acordada para o próximo.
Décimo golpe: pedi a Deus que aliviasse a dor.
Décimo primeiro golpe: doeu mais do que todos os anteriores.
Senhor, por favor, não me abandones. Não aguento.
Os golpes continuaram. Uma agonia interminável.
Eles param se eu lhes der alguns nomes... Não, eles não vão parar. Querem saber onde esta a Shahrzad. De qualquer modo, não sei nada sobre ela. O açodamento não pode continuar para sempre. Vou aguentar um golpe de cada vez.
Após dezasseis vergastadas, desisti de contar.
Dor.
- Onde está a Shahrzad?
Se soubesse, ter-lhes-ia dito. Teria feito tudo para parar aquilo. Vergastada.
Já tinha experimentado diferentes tipos de dor anteriormente. Uma vez partira um braço. Mas isto era pior. Muito pior.
- Onde está a Shahrzad?
- A sério que não sei!
Agonia.
Vozes.
Quando Hamehd parou, apenas consegui reunir energia suficiente para virar a cabeça e vê-lo sair da sala. Ali soltou as algemas e desamarrou-me os tornozelos. Doíam-me os pés, mas a dor agonizante tinha desaparecido, substituída por um vazio tranquilizador que se alastrou pelas veias. Um momento mais tarde, mal conseguia sentir o corpo e as minhas pálpebras começaram a ficar pesadas. Qualquer coisa fria molhou-me a cara. Água. Abanei a cabeça.
- Estás a desmaiar, Marina. Anda, senta-te - disse Ali.
Puxou-me pelos braços e sentei-me. Os pés doíam-me agora como se tivessem sido picados por centenas de abelhas. Olhei para eles. Estavam vermelhos e negros e muito inchados. Fiquei surpreendida por a pele não estar rasgada.
- Tens alguma coisa para me dizer agora? - perguntou Ali.
- Não.
- Não vale a pena fazeres isto! - exclamou, fitando-me. - Queres ser açoitada outra vez? Se não falares, ficarás com os pés muito piores.
- Não sei nada.
- Isto já não é coragem! É estupidez! Podes ser executada por não colaborares com o governo. Não faças isto a ti própria.
- Não me façam isto a mim - corrigi-o eu.
Ele olhou-me fixamente nos olhos pela primeira vez e afirmou que tinham todos os nomes da minha escola. A Khanoom Mahmoodi havia-lhes dado a lista. Disse que a minha colaboração não mudaria nada em relação a qualquer dos meus amigos, mas que me salvaria da tortura. Acrescentou ainda que os meus amigos seriam detidos, quer eu colaborasse, quer não, mas que se eu escrevesse os nomes deles, não teria de sofrer mais.
- Acredito que estejas a dizer a verdade sobre a Shahrzad - disse ele. - Não te armes em heroína, podes pôr em risco a tua vida. O Hamehd tem a certeza de que és membro dos Fadaylan, mas eu acho que não. Um Fadaylan não rezaria à Virgem ao ser torturado.
Não me apercebera de que tinha rezado em voz alta.
Perguntei se podia ir à casa de banho, e ele pegou-me no braço e ajudou-me. Senti-me tonta. Ele colocou um par de chinelos de borracha no chão à frente da cama. Eram, pelo menos, quatro tamanhos acima do meu, mas devido ao hematoma, eram demasiado pequenos. Doeu-me calçá-los. Ali ajudou-me a atravessar a sala. Não era fácil manter o equilíbrio. Quando chegámos à porta, ele largou-me o braço, deu-me a venda e mandou-me colocá-la. Obedeci. Ele colocou um pedaço de corda na minha mão e guiou-me até à porta da casa de banho. Entrei, abri a torneira e lavei a cara com água fria. Fui percorrida por uma onda súbita de náusea, o meu estômago contraiu-se e vomitei. Era como se uma faca me tivesse cortado ao meio. Um zumbido forte encheu-me os ouvidos e a escuridão engoliu-me.
Quando abri os olhos, não sabia onde estava. A medida que fui recuperando a consciência, percebi que já não estava na casa de banho, mas deitada na cama de madeira onde fora torturada. Ali estava sentado numa cadeira, a observar-me. Sentia a cabeça inchada e, quando lhe toquei, percebi que tinha um grande alto no lado direito da testa. Perguntei a Ali o que acontecera e ele disse que eu tinha caído na casa de banho e que batera com a cabeça. Disse que o médico me tinha observado e que o meu estado não era grave. Depois ajudou-me a sentar numa cadeira de rodas, colocou-me novamente a venda e empurrou-me para fora da sala. Quando me retirou a venda, estávamos numa sala muito pequena, sem janelas, com uma sanita e uma bacia ao canto. No chão estavam dois cobertores militares cinzentos. Ali ajudou-me a deitar e estendeu um dos cobertores por cima de mim; era áspero e duro e cheirava a bafio, mas não me importei; estava gelada. Perguntou-me se eu tinha dores e eu assenti, perguntando-me porque estaria ele a ser tão simpático comigo. Saiu, mas regressou uns minutos mais tarde com um homem de meia-idade envergando um uniforme militar que me foi apresentado como sendo o Doutor Sheikh.
O médico deu-me uma injecção no braço e abandonaram ambos a cela. Fechei os olhos e pensei na minha casa. Desejei poder esgueirar-me para a cama da minha avó, como fazia quando era criança, para ela me dizer que não havia razão para ter medo, que tudo não passara de um pesadelo.
Quando era criança, adorava o silêncio indolente e as cores diáfanas das manhãs de Teerão: faziam-me sentir leve e livre, quase invisível. Esta era a única altura do dia em que podia deambular dentro do salão de beleza da minha mãe, caminhar entre as cadeiras e os secadores de cabelo sem ela ficar zangada. Uma manhã, em Agosto de 1972, quando tinha sete anos, peguei no cinzeiro de cristal, quase do tamanho de um prato, que era o favorito dela. Ela dissera-me milhões de vezes que não lhe tocasse, mas era lindo e eu desejava passar os dedos sobre os seus desenhos delicados. Percebia porque lhe agradava tanto. Parecia um pouco um floco de neve gigante que nunca se derretia. O cinzeiro estava, desde que eu me lembrava, no centro da mesa de vidro e as clientes da minha mãe, mulheres com unhas compridas e vermelhas, sentavam-se nas cadeiras à espera, cobertas com um tecido branco e felpudo, sacudindo sobre ele a cinza dos cigarros. As vezes falhavam e a cinza aterrava sobre a mesa. A minha mãe odiava que a mesa ficasse suja. Sempre que eu sujava alguma coisa, ela gritava comigo e obrigava-me a limpar. Mas qual era a utilidade de limpar? As coisas estavam sempre a sujar-se.
Peguei no cinzeiro. Uma luz dourada e leve entrava pela única janela do salão, cobrindo mais de metade da parede sul. A luz reflectia o branco do tecto e espalhava-se dentro do corpo transparente e cintilante do cinzeiro. Quando o inclinei, para o observar de um ângulo diferente, escorregou-me dos dedos. Tentei apanhá-lo, mas era tarde demais - bateu no chão e estilhaçou-se.
- Marina! - gritou a minha mãe do quarto dos meus pais, que ficava ao lado do salão.
Corri para a esquerda e atravessei a porta que conduzia ao corredor estreito e escuro, precipitei-me para o meu quarto e rastejei para debaixo da cama. O ar cheirava a pó e provocou-me comichão no nariz, por isso retive o fôlego para evitar espirrar. Embora não visse a minha mãe, conseguia ouvir o som dos seus chinelos contra o chão de linóleo e o ritmo enfurecido dos passos fez-me encolher ainda mais para perto da parede. Ela chamou por mim repetidamente, mas eu permaneci tão imóvel quanto possível. Quando entrou no meu quarto e parou junto da cama, ouvi a minha avó perguntar-lhe o que acontecera. A minha mãe contou-lhe que eu havia partido o cinzeiro e a avó respondeu que não tinha sido eu, que ela o deixara cair enquanto o limpava. Não acreditei no que ouvia. A avó dissera-me que os mentirosos iam para o inferno quando morriam.
- Foi a mãe que o partiu? - perguntou a minha mãe.
- Fui. Estava a limpar o pó à mesa. Foi um acidente. Já lá vou limpar aquilo - respondeu a avó.
Passado um bocado, a minha cama rangeu sob o peso de uma pessoa. Levantei uns centímetros a velha colcha bege e vi os chinelos castanhos da minha avó e os seus tornozelos finos. Rastejei para fora da cama e sentei-me ao lado dela. Como sempre, o seu cabelo cinzento estava apanhado num rolo atrás da cabeça. Tinha vestida uma saia preta e uma camisa branca perfeitamente engomada, e olhava fixamente para a parede. Não parecia zangada.
- Mentiste, Bahboo - disse-lhe.
- Menti.
- Deus não vai ficar zangado contigo.
- Porque não? - perguntou ela, erguendo uma sobrancelha.
- Porque me salvaste.
Ela sorriu. A minha avó raramente sorria. Era uma mulher séria que
sabia como tudo devia ser feito. Tinha sempre resposta para as perguntas mais difíceis e conseguia sempre curar uma dor de barriga.
A avó era a mãe do meu pai e vivia connosco. Ia todos os dias fazer compras às oito da manhã e habitualmente eu ia com ela. Naquele dia, como em muitos outros, ela pegou na bolsa e eu segui-a pelas escadas abaixo. Assim que abriu a porta de madeira cor-de-rosa ao fundo da escada, a mistura de sons de carros, de pessoas e de vendedores encheu a entrada. A primeira coisa que vi foi o sorriso desdentado de Akbar Agha, que tinha, pelo menos, oitenta anos e vendia bananas numa carroça decrépita.
- Quer bananas hoje? - perguntou ele.
A minha avó inspeccionou as bananas - eram de um amarelo sadio e sem manchas. Ela assentiu com a cabeça, ergueu oito dedos e AJkbar Agha deu-nos oito bananas.
Virámos à esquerda na Avenida Rahzi, uma rua estreita de sentido único com passeios poeirentos. A norte viam-se os montes Alborz, de um cinzento azulado, erguendo-se contra o céu. Estávamos no final do Verão e os picos cobertos de neve tinham desaparecido há muito. Apenas o monte Damavand, o vulcão adormecido, tinha um vestígio de branco no pico. Atravessámos a estrada e cruzámos uma nuvem de vapor saturado com cheiro a linho lavado e engomado que se escapava da porta aberta da lavandaria.
- Bahboo, porque não disseste oito em persa? Tu sabes como se diz.
- Sabes muito bem que não gosto de falar persa. O russo é uma língua muito melhor.
- Eu gosto de persa.
- Nós só falamos russo.
- No Outono, quando for para a escola, vou aprender a ler e a escrever em persa e depois ensino-te.
A minha avó suspirou.
Eu fui saltitando à frente. A rua estava tranquila; mal havia trânsito. Duas mulheres caminhavam, balançando os seus sacos de compras vazios. Quando entrei na pequena mercearia, o dono, Agha-yeh Rostami, com um espesso bigode negro que ficava deslocado na sua cara estreita e gentil, falava com uma mulher com um chador preto que a cobria dos pés à cabeça de forma que apenas o seu rosto era visível. Outra mulher, de mini-saia e T-shirt justa, esperava a sua vez. Era a época do Xá e as mulheres não tinham de se vestir segundo as leis islâmicas.
Embora a loja fosse pequena, as prateleiras estavam repletas de diferentes artigos: arroz agulha, especiarias, ervas secas, manteiga, leite, queijo Tabriz, guloseimas, cordas de saltar e bolas de futebol de plástico. Agha-yeh Rostami sorriu-me por cima do balcão e deu-me um pacote de leite com chocolate enquanto entregava um saco de papel castanho à mulher de chador. Enquanto bebia o meu leite em grandes goladas, saboreando a sua frescura sedosa, a avó entrou e apontou para tudo de que precisava. No caminho de regresso, vimos Agha Taghi, o velhote que percorria as ruas nesta altura do ano a gritar: “Carda-se lã de camelo e algodão!” As mulheres abriam as janelas e pediam-lhe que entrasse em suas casas para preparar os edredões para o Inverno, penteando a lã ou as fibras de algodão no interior destes.
Quando chegámos a casa vindas da loja, segui a avó para a cozinha. O nosso fogão a óleo de dois bicos estava à esquerda, o frigorífico branco à direita e o armário dos pratos encontrava-se contra a parede oposta à porta. Comigo e a avó na cozinha, mal havia espaço para nos mexermos. A pequena janela ficava perto do tecto e fora do meu alcance, e dava para o pátio de uma escola de rapazes. A avó colocou a velha chaleira de aço inoxidável sobre o fogão para fazer chá e em seguida abriu o armário.
- A tua mãe andou aqui outra vez, não consigo encontrar nada! Onde está a frigideira?
Do outro lado do armário, tachos e panelas caíram para o chão. Corri a ajudar a avó a arrumá-los no lugar. A cozinha era o domínio da avó e era ela quem cuidava de mim e fazia todos os trabalhos domésticos. A minha mãe passava dez horas por dia no salão de beleza e detestava cozinhar.
- Não te preocupes, Bahboo, eu ajudo-te.
- Quantas vezes já lhe disse que não mexesse aqui?
- Imensas.
Em breve, tudo estava novamente no lugar. ,
- Colya! - gritou a minha avó, chamando pelo meu pai, que estava provavelmente no seu estúdio de dança. Mas não houve resposta. - Marina, vai perguntar ao teu pai se quer chá - declarou a avó, arrumando algumas compras no frigorífico.
Percorri o corredor escuro que conduzia ao estúdio de dança do meu pai, do lado oposto ao salão de beleza da minha mãe, e que era uma sala grande em forma de “L” com chão de linóleo e fotografias penduradas nas paredes, representando pares de dançarinos com roupas elegantes. No centro da zona de espera - a perna mais curta do “L” - uma mesa de café redonda coberta de revistas estava rodeada por quatro cadeiras de couro preto. O meu pai estava sentado numa delas, a ler o jornal. Estava em boa forma e tinha um metro e setenta de altura, o cabelo grisalho, um rosto sempre barbeado e olhos cor de âmbar.
- Bom dia, Papa. A Bahboo pergunta se queres chá.
- Não - respondeu o meu pai em tom brusco sem olhar para mim, e eu dei meia volta e regressei ao sítio de onde viera.
Por vezes, quando acordava cedo e toda a gente ainda estava a dormir, ia ao estúdio de dança do meu pai. Imaginava a música, uma valsa geralmente, por ser a minha favorita, e rodopiava a dançar pela sala imaginando o meu pai de pé a um canto, a bater palmas e a dizer: “Bravo, Marina! Danças mesmo bem!”
Quando entrei na cozinha, a avó estava a cortar cebolas e as lágrimas rolavam-lhe pela face. Os meus olhos começaram a arder.
- Odeio cebolas cruas - disse eu.
- Hás-de gostar quando fores mais velha. Quando quiseres chorar sem ninguém saber, podes pôr-te a cortar cebolas.
- Não estás a chorar a sério, pois não?
- Não, claro que não.
Quando os meus pais casaram, durante a Segunda Guerra Mundial, alugaram um apartamento modesto na esquina noroeste da intersecção das Avenidas Xá e Rahzi, no centro de Teerão, a capital do Irão e a sua maior cidade. Aí, por cima de uma pequena loja de móveis e de um pequeno restaurante, o meu pai abriu o estúdio de dança. Uma vez que muitos soldados americanos e britânicos passaram pelo Irão durante a guerra, a cultura ocidental tornou-se popular entre a classe mais alta e o meu pai arranjou muitos alunos fiéis que desejavam aprender a dançar como os ocidentais.
A minha mãe deu à luz o meu irmão em 1951. Quando ele tinha cerca de 10 anos, a minha mãe, embora não falasse alemão, foi para a Alemanha tirar um curso de cabeleireira. Quando regressou, seis meses mais tarde, precisava de um local para abrir um salão de beleza. Ao lado do apartamento dos meus pais havia outro idêntico, e eles alugaram-no e ligaram os dois.
Eu nasci a 22 de Abril de 1965. O autocrático e pró-ocidental Moham-mad Reza Shah-eh Pahlavi era rei do Irão desde 1941. Quatro meses antes do meu nascimento, o primeiro-ministro iraniano Hassan Ali-eh Mansur foi assassinado por supostos seguidores do líder fundamentalista xiita Ayatollah Khomeini, que tentava impor uma teocracia no Irão. Em 1971, Amir Abbas-eh Hoveida, na altura primeiro-ministro, organizou sumptuosas festividades nas antigas ruínas de Persépolis, para comemorar os 2500 anos da fundação do Império Persa. Vinte e cinco mil convidados de todo o mundo, entre os quais reis e rainhas, presidentes, primeiros-ministros e diplomatas, assistiram a esta celebração, cujo custo atingiu os 300 milhões de dólares. O Xá anunciou que o propósito desta celebração era mostrar ao mundo o progresso do Irão nos últimos anos.
Quando fiz quatro anos, o meu irmão saiu de casa para ir frequentar a Universidade de Pahlavi, na cidade de Shiraz, no centro do Irão. Eu tinha muito orgulho no meu irmão belo e alto, mas ele raramente vinha a casa e nunca ficava muito tempo. Nas raras ocasiões em que nos visitava, obstruía a ombreira da porta do meu quarto, a perguntar-me com um sorriso:
- Como está a minha irmãzinha?
Eu adorava a forma como o perfume maravilhoso da sua água-de-colónia saturava o ar. Ele e a avó foram as únicas pessoas que alguma vez me deram prendas no Natal. Os meus pais consideravam o Natal um total desperdício de tempo e dinheiro. A avó levava-me à igreja todas as semanas. A única igreja ortodoxa russa em Teerão ficava a duas horas a pé do nosso apartamento. A viagem até à igreja obrigava-nos a atravessar as ruas do centro de Teerão, onde se alinhavam lojas, vendedores ambulantes e velhos aceres. O aroma delicioso de sementes torradas de girassol e de abóbora pairava no ar. A Avenida Nahderi, com as suas lojas de brinquedos e padarias, era a minha parte preferida da viagem. O cheiro a pastéis acabados de fazer, a baunilha, a canela e a chocolate era inebriante. E havia muitos sons que se misturavam e pairavam na rua: carros a buzinar, vendedores a apregoar os seus produtos e a regatear com os clientes, e o ecoar de música tradicional. A avó não gostava de comprar brinquedos, mas comprava-me sempre um pequeno mimo.
Certo domingo, saímos mais cedo para visitar uma amiga da avó que vivia num pequeno apartamento. Era uma velhota russa, espalhafatosa, com cabelo loiro curto e encaracolado, que se pintava sempre com batom vermelho e sombra azul nos olhos, e cheirava a flores. O seu apartamento estava cheio de mobílias velhas e de toda a espécie de quinquilharia, e ela possuía uma belíssima colecção de figuras de porcelana. Estas estavam por todo o lado: nos aparadores, nas prateleiras, nos peitoris das janelas e até mesmo nas bancadas da cozinha. Eu gostava especialmente dos anjos, com as suas asas delicadas.
Ela servia o chá nas mais belas chávenas de porcelana que eu jamais vira: brancas e brilhantes, com rosas pintadas em cor-de-rosa. Colocava minúsculas colheres douradas ao lado de cada chávena. Eu adorava deitar cubos de açúcar no meu chá e ficar a ver as bolhas subir enquanto mexia.
Perguntei-lhe porque tinha tantos anjos e ela respondeu que eles lhe faziam companhia. Perguntou-me se eu sabia que toda a gente tinha um anjo-da-guarda e eu respondi que a minha avó já me tinha dito. Olhando para mim com os seus olhos azuis-claros, que pareciam estranhamente grandes por detrás dos óculos espessos, explicou-me que todos nós já vimos o nosso anjo-da-guarda, mas que esquecemos o seu aspecto.
- Diz-me lá se nunca te aconteceu estares prestes a fazer qualquer coisa má e sentires um murmúrio no coração dizendo para não o fazeres? - perguntou-me.
- Sim... Acho que sim - respondi, a pensar no cinzeiro.
- Pois bem, era o teu anjo a falar contigo. Quanto mais escutares, mais ouves.
Quem me dera lembrar-me do meu anjo. A amiga da minha avó sugeriu que eu observasse todas as figuras e garantiu-me que o meu anjo era parecido com aquela de que eu gostasse mais. Examinei as figuras durante alguns momentos e encontrei por fim a minha preferida: um belo rapaz, com uma longa túnica branca. Levei-o à avó para lho mostrar e ela disse que não se parecia muito com um anjo porque não tinha asas, mas eu retorqui que as asas eram invisíveis.
- Podes ficar com ele, querida - ofereceu a amiga da avó, e eu fiquei encantada.
A avó levava-me ao parque todos os dias. Havia um grande parque, chamado Park-eh Valiahd, a cerca de vinte minutos a pé de minha casa. Passávamos horas a explorá-lo, a admirar as árvores antigas e as flores perfumadas. Nos dias quentes de Verão, sentávamo-nos num banco a lamber cones de gelado para nos refrescarmos. No centro do parque havia um lago pouco profundo com uma fonte ao meio, que atirava água bem alto, para o céu, e em torno da qual gorgolejavam outras fontes mais pequenas. Eu punha-me sempre de pé junto ao lago e deixava que o vento me salpicasse de água. Em torno do lago havia estátuas de rapazes de bronze, todos diferentes uns dos outros. Um estava de pé, a olhar para o céu, outro estava ajoelhado junto da água, a olhar para ela como que à procura de qualquer objecto precioso perdido, outro apontava uma vara de latão para a água e outro ainda tinha uma perna no ar, como se estivesse prestes a saltar lá para dentro. Essas estátuas tinham qualquer coisa de terrivelmente triste e desamparado - pareciam reais, mas estavam perpetuamente congeladas num estado sólido e sombrio, incapazes de se libertar.
A maior diversão era andar de baloiço. A avó sabia que eu gostava de ir muito alto e empurrava-me sempre o mais que podia. Eu adorava sentir o vento sacudir-me o cabelo e o mundo desaparecia quando estava lá em cima. No meu pequeno mundo de sete anos, era assim que a vida seria para sempre.
Uma tarde, quando andava a correr no parque, a avó chamou-me de longe para dizer que eram horas de ir para casa, mas chamou-me pelo nome errado - chamara-me Tâmara. Confundida, corri para ela e perguntei-lhe quem era a Tâmara. Ela pediu-me desculpa e disse que era melhor irmos para casa porque estava demasiado calor para ela, e começámos a andar. Parecia cansada, o que era estranho, pois nunca antes a vira doente nem fatigada.
- Quem é a Tâmara? - perguntei novamente.
- A Tâmara é a minha filha.
- Mas tu não tens uma filha, só me tens a mim, Bahboo, a tua neta.
Ela explicou que tinha uma filha, Tâmara, que tinha mais quatro anos do que o meu pai e que eu era tão parecida com ela como se fôssemos gémeas. Aos dezasseis anos, Tâmara casara com um russo e regressara à Rússia com ele. Perguntei-lhe por que razão nunca nos tinha visitado e a avó respondeu que Tâmara não podia sair da Rússia: o governo soviético não permitia que os seus cidadãos viajassem facilmente para outros países. A minha avó costumava enviar a Tâmara roupas boas, sabão e pasta de dentes, porque essas coisas eram difíceis de encontrar lá, até que recebeu uma carta da SAVAK, a polícia secreta do Xá, dizendo que não tinha autorização para comunicar com ninguém na União Soviética.
- Porquê? - quis eu saber.
- A polícia daqui acha que a Rússia é um país mau, por isso disseram-nos que não podíamos escrever a Tâmara, nem enviar-lhe nada.
Enquanto eu tentava compreender esta última informação sobre uma tia que nunca conhecera, a avó continuou a falar, como que para si própria. Eu não percebia quase nada do que ela dizia. Mencionou nomes de pessoas e locais que eu nunca ouvira e usou palavras que me eram estranhas e desconhecidas, pelo que só consegui apreender excertos das suas frases. Disse que quando tinha dezoito anos se apaixonara por um jovem que fora mais tarde morto na revolução russa. Descreveu uma casa com uma porta verde numa rua estreita, um rio largo e uma grande ponte, e falou de soldados a cavalo disparando contra uma multidão.
- Virei-me e vi que ele tinha caído - disse ela. - Tinha sido atingido. Havia sangue por todo o lado. Amparei-o. Morreu nos meus braços...
Não queria ouvir mais, mas ela não parava. Não podia tapar os ouvidos porque era má educação e ela ficaria zangada. Talvez pudesse caminhar mais depressa e deixar algum espaço entre nós, mas passava-se qualquer coisa - ela não estava bem e eu tinha de cuidar dela. Por fim, comecei a cantarolar e a minha voz afastou as palavras dela da minha cabeça. Ela sempre me contara histórias quando eu ia para a cama, mas todas elas tinham um final feliz e nunca ninguém era morto. Eu sabia que as pessoas boas iam para o céu quando morriam, por isso a morte não devia ser assim tão má - mas mesmo assim apavorava-me. Era como penetrar na escuridão absoluta, onde todas as coisas horríveis nos podiam acontecer. Eu não gostava nada da escuridão.
Tínhamos estado a caminhar para casa. Por fim, ela parou de falar e olhou em redor, com um ar perdido e confuso. Embora estivéssemos quase a chegar, tive de lhe dar a mão e de a conduzir o resto do caminho. A mulher forte que conhecera toda a minha vida, a companheira familiar em quem tinha confiado, aquela que sempre me apoiara, estava subitamente vulnerável. Parecia uma criança, como eu. Ela, que escutava sempre e raramente dizia mais do que umas quantas palavras de cada vez, contara-me a história da sua vida. As suas palavras sobre sangue, violência e morte tinham-me chocado. O meu mundo fora sempre seguro com ela, mas ela avisara-me que nada durava para sempre. De alguma forma, senti que a avó estava a morrer. Vi-o nos seus olhos, como se me tivesse sido sussurrado em segredo.
Em casa, ajudei-a a ir para a cama. Não se reuniu a nós para jantar nem se levantou na manhã seguinte. Os meus pais levaram-na ao consultório do médico nesse dia e, quando regressaram, a avó foi direita para a cama e os meus pais não responderam a nenhuma das minhas perguntas sobre a sua doença.
Fui ao seu quarto. Estava a dormir, pelo que me sentei numa cadeira ao seu lado e esperei longos momentos até que, finalmente, ela se mexeu. Só então me apercebi de como estava magra e frágil.
- Que se passa, Bahboo?- perguntei.
- Estou a morrer, Marina - respondeu-me, como se se tratasse de uma questão simples e quotidiana.
Perguntei-lhe o que nos acontecia quando morríamos. Ela disse-me que observasse atentamente um quadro que estava pendurado numa parede do seu quarto desde que eu me lembrava. Queria que lhe descrevesse tudo o que via nele. Eu disse que era o retrato de uma senhora de idade com cabelo grisalho e uma bengala. Seguia por um caminho numa floresta escura, no fim do qual havia uma luz brilhante.
A avó explicou-me que ela era como aquela velhota. Percorrera a sua vida durante muitos anos e sentia-se cansada. Disse que a sua vida fora escura e difícil e que enfrentara muitos obstáculos, mas que nunca desistira.
- Agora - disse ela - é simplesmente a minha vez de ir ver o rosto de Deus.
- Mas, Bahboo - protestei - porque não podes ver o rosto de Deus aqui comigo? Prometo que te deixo descansar e que não terás de ir a lado nenhum.
- Filha, não podemos ver o rosto de Deus com estes olhos - explicou-me com um sorriso e tocando-me nas pestanas com os dedos trémulos -, mas com a nossa alma. Fica sabendo que a morte é apenas um degrau que temos de subir para alcançar o outro mundo e viver, embora de uma maneira diferente.
- Não quero que nada mude, gosto das coisas como elas são.
- Tens de ser corajosa, Marina.
Eu não queria ser corajosa. Tinha medo e estava triste. Ser corajosa parecia-me ser o mesmo que mentir, fingir que estava tudo bem. Mas nada estava bem.
Ela soltou um suspiro trémulo e mandou-me ir à sua cómoda e abrir a gaveta de cima da esquerda. Lá dentro estava uma caixa dourada. Levei-lha.
Então mandou-me enfiar debaixo da cama e trazer um par de sapatos. Dentro do sapato da esquerda estava uma pequena chave dourada. Com lágrimas a rolarem-lhe pela face, entregou-me a caixa e a chave.
- Marina, escrevi a história da minha vida e meti-a nesta caixa. Agora é tua. Quero que a guardes e que te lembres de mim. Cuidas dela pela Bahboo?
Fiz que sim com a cabeça.
- Põe a caixa num local seguro. Agora vai e não te preocupes. Preciso de descansar um bocadinho.
Deixei-a e fui refugiar-me no meu quarto, que parecia mais deserto do que nunca. Escondi a caixa debaixo da cama, abri a porta de vidro que dava para a varanda e saí para o exterior. O ar estava quente e pesado, e a rua agitada estava igual a todos os dias. Nada havia mudado, mas tudo parecia diferente.
A avó nunca mais acordou. O cancro no fígado estava a matá-la. A minha mãe disse-me que ela estava em coma. A avó continuou em coma durante quase duas semanas e o meu pai percorria o corredor para a frente e para trás a chorar. Eu sentava-me ao lado da avó pelo menos duas horas por dia para lhe fazer companhia e para eu própria não me sentir tão só. O seu rosto estava calmo e sereno, mas muito magro e pálido. A medida que os dias iam passando, eu lutava contra as lágrimas, com medo de que estas confirmassem a sua morte e a fizessem aproximar.
Uma manhã, acordei muito cedo e não consegui voltar a adormecer, por isso fui ao quarto da avó. Liguei a luz e lá estava ela. O seu rosto perdera a cor. Toquei-lhe na mão - estava fria. Fiquei parada em silêncio, ciente de que ela estava morta, mas sem saber o que fazer. Precisava de lhe dizer qualquer coisa, mas não sabia se ela conseguia ouvir-me, se a barreira que a morte criara entre nós era ou não impenetrável.
- Adeus, Bahboo. Espero que tenhas uma boa vida com Deus, agora, onde quer que Ele esteja.
Tive a sensação estranha de que estava mais alguém no quarto connosco. Corri novamente para o meu quarto, saltei para a cama e disse todas as orações de que me lembrava.
No dia seguinte, o corpo da avó foi levado. Passara o dia todo a ouvir o meu pai chorar. Tapei os ouvidos com as mãos e olhei em redor no meu quarto: não havia para onde ir. A avó fora o meu refúgio quando aconteciam coisas más e agora tinha desaparecido. Por fim, tirei a minha estatueta do anjo de cima da cómoda e escondi-me debaixo da cama. Comecei a rezar: “ave-maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte.”
A coberta que pendia da cama foi levantada e uma vaga de luz irrompeu na escuridão do meu esconderijo. Um rosto desconhecido fitava-me. Era o rosto de um jovem com cabelo negro e encaracolado e olhos escuros, os olhos mais escuros que jamais vira. O seu rosto parecia extremamente branco em contraste com o cabelo e o seu sorriso era quente e doce. Quis perguntar-lhe quem era, mas não consegui.
- Olá - disse ele.
A sua voz era suave e delicada, dando-me a coragem de que precisava. Saí a rastejar de debaixo da cama. Ele vestia uma longa túnica branca e estava descalço. Toquei-lhe nos dedos dos pés. Estavam quentes. Ele inclinou-se, ergueu-me, sentou-se na minha cama epôs-me ao colo. Uma fragrância suave enchia-me as narinas; era como o perfume de narcisos num dia de chuva.
- Chamaste-me e eu vim - disse ele, e começou a afagar-me o cabelo. Fechei os olhos. Os seus dedos corriam pelo meu cabelo, lembrando-me a brisa primaveril envolvendo o calor do sol entre os ramos de árvores que despertavam. Encostei-me ao seu peito, sentindo como se o conhecesse, como se nos tivéssemos visto antes, mas sem saber onde nem quando. Olhei para cima e ele sorriu com um sorriso intenso e afectuoso.
- Porque não tens chinelos calçados? - perguntei-lhe.
- Lá de onde venho não são precisos chinelos.
- És o meu anjo-da-guarda?
- Quem achas que sou?
Fitei-o durante um momento. Só um anjo-da-guarda podia ter olhos como os seus.
- És o meu anjo-da-guarda.
- Acertaste.
- Como te chamas?
- Sou o Anjo da Morte.
O meu coração quase parou.
- Por vezes, a morte é difícil, mas não é má nem assustadora. É como uma jornada até Deus; como as pessoas só morrem uma vez, não conhecem o caminho, por isso eu guío-as e ajudo-as na passagem.
- Estás aqui para me levares contigo?
- Não, ainda não.
- Ajudaste a Bahboo?
- Sim, ajudei.
- Ela está feliz?
- Está muito feliz.
- Ficas um pouco comigo?
- Fico.
Encostei-me ao seu peito e fechei os olhos. Sempre me perguntara o que sentiriam os pássaros quando planavam ao vento, banhando-se ao sol e confundindo-se com o céu. Agora, já sabia.
Quando acordei na manhã seguinte, estava na minha cama e não havia anjos nenhuns.
Acordei de um sono sem sonhos com uma dor aguda no ombro direito. Alguém chamava o meu nome. Tinha a vista toldada. Hamehd estava de pé à minha frente, empurrando-me o ombro com o pé. Lembrava-me de que Ali me deixara numa cela, mas não tinha ideia de há quanto tempo ali estava.
- Sim, sim! - disse eu.
- Levanta-te!
Os meus joelhos tremiam e ardiam-me os pés.
- Vens comigo, para assistires à detenção dos teus amigos - anunciou Hamehd. - Aqueles que tentaste proteger. Tínhamos os nomes e as moradas deles desde o princípio. Só precisávamos de saber mais a teu respeito e provaste-nos que és uma inimiga da revolução. És uma ameaça para a sociedade islâmica.
Vendaram-me novamente. Hamehd atou-me os pulsos com um pedaço de corda e arrastou-me. Fui atirada para dentro de um carro e, após alguns minutos, alguém me retirou a venda. Tínhamos abandonado a prisão. Não sabia bem que altura do dia ou que horas eram, mas pareciam as primeiras horas da noite: o céu estava enevoado e sombrio, mas não completamente negro. Dirigimo-nos para sul, pela rua estreita e sinuosa. Mal se viam carros ou pessoas. Velhos muros de tijolo e argila, que cercavam grandes propriedades, ladeavam a estrada, fazendo-a parecer um leito de rio seco. Árvores despidas estendiam-se para o céu, estremecendo ao vento. Passado pouco tempo entrámos na estrada da Jordânia e continuámos para sul. Esta urbanização era mais recente, mais elegante. O edifício de um condomínio alto erguia-se numa das colinas, cercado por casas de dois andares e grandes bungalows. Olhei para o condutor. Tinha uma barba preta espessa e envergava o uniforme verde, de estilo militar, dos guardas revolucionários. Hamehd ia sentado no lugar do passageiro da frente. Estavam os dois em silêncio e olhavam para a frente. Num semáforo, uma rapariguinha com uns três ou quatro anos, sentada no banco de trás de um carro branco que parara ao nosso lado, sorriu-me. Nos bancos da frente do carro estavam sentados um homem e uma mulher a conversar. Pensei no que estariam os meus pais a fazer. Estariam a tentar ajudar-me ou teriam perdido a esperança? Eu sabia muito bem que não havia nada que eles pudessem fazer. E André? Estaria a pensar em mim?
Entrámos no centro da cidade. Aí havia muito trânsito, e os passeios e as lojas pululavam de gente. Todas as paredes estavam cobertas com slogans do governo islâmico e com citações de Khomeini. Uma delas chamou-me a atenção: “Se permitirmos que um infiel perpetue o seu papel de corruptor da terra, o sofrimento moral do infiel será ainda pior. Se matarmos o infiel, e com isto o impedirmos de cometer os seus crimes, a morte será uma bênção para ele.” Sim, no mundo de Khomeini, o assassinato podia ser considerado uma boa acção, uma “bênção”. Hamehd podia apontar-me uma arma à cabeça, premir o gatilho e achar que me tinha feito um favor, e que ele próprio ganharia o céu com isso.
Os transeuntes serpenteavam entre os carros para atravessar a rua. Num cruzamento, um homem jovem olhou para dentro do carro e, reparando no guarda que conduzia, deu um passo atrás e fitou-me. Começara a nevar.
O carro parou. Estávamos em casa de Minoo, uma amiga minha da escola. Outro Mercedes preto parou ao lado do nosso. Dois guardas saíram do carro, dirigiram-se à porta de Minoo e tocaram à campainha. Alguém atendeu. Era a mãe dela. Os guardas entraram na casa. Hamehd virou-se para trás e entregou-me uma folha de papel. Olhei-a e vi que continha cerca de trinta nomes. Conhecia-os todos: todos eles eram miúdos da minha escola. Reconheci a assinatura da directora no fundo da página.! A folha de papel que tinha nas mãos era a lista dos mais procurados da minha escola.
- Não vamos conseguir prendê-los todos esta noite, mas em três dias, ou coisa do género, deveremos tê-los a todos - disse Hamehd com um sorriso.
Os guardas abandonaram a casa passada meia hora. Minoo acompa-nhava-os. Hamehd saiu do carro, abriu uma das portas de trás e mandou-a sentar-se ao meu lado. Eu conseguia ver a mãe dela a chorar e a falar com os guardas. Hamehd disse a Minoo que eu fora detida uns dias mais cedo. Pediu-me que convencesse Minoo a colaborar se não quisesse que ela sofresse.
Minoo olhou para mim, com os olhos cheios de terror.
- Diz-lhes o que eles querem saber - disse eu, apontando para os pés. - Eles...
- Chega - interrompeu Hamehd.
Minoo olhou para os meus pés, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar.
- Porque estás a chorar? - perguntou-lhe Hamehd, mas ela não respondeu.
Permanecemos no carro durante horas, ou pelo menos assim pareceu. Fomos de casa em casa. Quatro colegas meus foram presos nessa noite. Tentei segredar a Minoo que ela devia dizer alguns nomes aos guardas durante o interrogatório. Tentei explicar-lhe que eles tinham uma lista e que sabiam tudo, mas não tive a certeza de que ela me tivesse compreendido.
Vendaram-nos os olhos assim que chegámos aos portões da prisão. Quando o carro parou, a porta do meu lado abriu-se e Hamehd mandou-me sair. Segui a coxear atrás dele até um edifício e ele mandou-me sentar no chão do corredor. Permaneci assim muito tempo, a escutar o choro e os gritos dos reclusos. Tinha a cabeça a latejar e sentia-me enjoada.
- Levanta-te, Marina. - A voz de Hamehd sobressaltou-me. Estava a dormitar.
Consegui reencontrar o equilíbrio, encostando-me à parede para me apoiar. Hamehd mandou-me agarrar no chador de uma rapariga que estava de pé, à minha frente. Assim fiz, ela começou a caminhar e segui-a a coxear. Os meus pés doíam como se estivesse a caminhar sobre vidro quebrado. Quando chegámos ao exterior continuámos a caminhar e o vento frio fustigava-me. A rapariga à minha frente começou a tossir. A neve no chão enchia-me os chinelos de borracha, deixava-me os pés dormentes e aliviava a dor, mas lentamente ia deixando de sentir as pernas e cada passo era mais difícil do que o anterior. Tropecei numa pedra e caí. Descansei a cabeça na terra gelada, lambi a neve, desesperada por aliviar a secura amarga da boca. Nunca tivera tanto frio ou tanta sede. O meu corpo tremia convulsivamente e o som dos meus dentes a bater enchia-me a cabeça. Umas mãos ásperas ergueram-me do chão e forçaram-me a levantar.
- Para onde me levam?
- Anda como deve ser ou dou-te já um tiro! - ordenou Hamehd em tom ameaçador.
Esforcei-me para continuar. Por fim, mandaram-nos parar e alguém me tirou a venda. Uma luz intensa atingiu-me a cara, cegou-me e provocou um relâmpago de dor que me explodiu na cabeça. Após alguns segundos, olhei à volta. Um foco de luz cortava a noite como um rio branco e refulgente. Estávamos cercados por colinas negras, que formavam sombras fantasmagóricas. Parecíamos estar no meio de nenhures; não havia edifícios nas proximidades. O céu nocturno estava manchado de nuvens e alguns flocos de neve pairavam levemente no ar, tentando prolongar o seu voo cristalino antes de enfrentarem uma morte terrena. Comigo estavam outros quatro prisioneiros: duas raparigas e dois homens jovens. Quatro guardas revolucionários, com rostos inexpressivos, como que esculpidos na escuridão, apontavam-nos as armas.
- Aproximem-se dos postes! - gritou Hamehd, e a sua voz ecoou pelos montes.
A cerca de seis metros, alguns postes de madeira, que tinham aproximadamente a minha altura, erguiam-se do solo. Estávamos prestes a ser executados. O frio dentro do meu peito paralisou-me.
Este é o momento da minha morte. Ninguém merece morrer assim.
Um dos dois homens começou a recitar em árabe uma parte do Corão, pedindo perdão a Deus. A sua voz era penetrante e forte. O outro homem olhava para os postes. Um dos seus olhos estava fechado pelo hematoma e tinha duas manchas de sangue na camisa branca.
- Para junto dos postes, imediatamente! - repetiu Hamehd, e nós obedecemos em silêncio. Como um líquido espesso e sufocante, o pesar encheu-me o coração e os pulmões.
Querido Jesus, ajuda-me. Não deixes que a minha alma se perca na escuridão. “Embora eu caminhe através do vale das sombras, nada receio, pois estás comigo.”
Uma das raparigas começou a correr.
- Pára! - gritou alguém. Mas ela continuou. Um tiro rasgou a noite e ela caiu no chão. Dei um passo em frente, mas as minhas pernas cederam. A rapariga virou-se de lado, com as costas vergadas pela dor.
- Por favor... por favor, não me matem - gemeu ela.
A neve que lhe cobria o chador cintilou com a luz branca e límpida. Com uma arma apontada à cabeça da jovem, Hamehd deteve-se ao seu lado. Ela cobriu a cabeça com os braços.
A rapariga ao meu lado começou a chorar. Os gritos penetrantes pareciam rasgar-lhe o peito. Caiu de joelhos.
- Amarra os outros aos postes! - gritou Hamehd. Um dos guardas levantou-me do chão e outro amarrou-me ao poste.
A corda enterrou-se-me na carne. Estava tão cansada.
Será que morrer dói tanto como ser chicoteada? Hamehd continuava a apontar a arma à rapariga ferida.
- Guardas! Preparar!
A morte é apenas um local onde eu nunca estive. E o anjo ajudar-me-á a encontrar o caminho. Tem de me ajudar. Há uma luz para lá desta terrível escuridão. Algures para além das estrelas, o sol está a nascer.
Apontaram-nos as armas e fechei os olhos.
Espero que André saiba que eu o amo. Ave-maria, cheia de graça, o Senhor é convosco...
Ouvi um carro avançar velozmente na nossa direcção e abri os olhos. Por um momento, pensei que íamos ser atropelados. Ouviu-se um guinchar de pneus ruidoso e um Mercedes preto parou mesmo à frente dos guardas. Ali desceu do carro. Dirigiu-se a Hamehd e entregou-lhe uma folha de papel. Falaram durante um momento. Hamehd anuiu. Os seus olhos fixaram-se nos meus, Ali avançou na minha direcção. Eu queria correr. Queria que Hamehd me desse um tiro e que acabasse com a minha vida. Ali desamarrou-me do poste. Caí por terra. Ele agarrou-me, ergueu-me e caminhou para o carro. Senti o seu coração bater contra o meu corpo. Tentei inutilmente libertar-me dos seus braços.
- Para onde me leva?
- Está tudo bem, não te vou fazer mal - murmurou.
Os meus olhos encontraram os olhos da rapariga amarrada ao poste ao lado do meu.
- Santo Deus... - gritou ela e fechou os olhos.
Ali deixou-me cair no banco do passageiro do seu carro e bateu com a porta. Tentei abri-la, mas não consegui. Ele saltou para o lugar do condutor. Reunindo todas as minhas forças, comecei a dar-lhe socos, mas ele afastou-me com uma mão. Ouviam-se tiros quando nos afastámos.
Abri os olhos e vi uma lâmpada luzir por cima de mim. Havia um tecto cinzento. Tentei mexer-me, mas não sentia o corpo. Ali estava sentado a um canto, olhando-me fixamente. Estávamos numa cela pequena e eu encontrava-me deitada no chão.
Fechei os olhos e desejei que ele se fosse embora, mas quando os reabri uns minutos mais tarde, ele continuava sentado no mesmo sítio. Abanou a cabeça e disse que eu era a culpada de tudo isto por ser teimosa. Disse que fora falar com o Ayatollah Khomeini, que era um grande amigo do seu pai, para que a minha sentença fosse reduzida de pena de morte para prisão perpétua. O Ayatollah dera a ordem para me pouparem a vida.
Eu não queria que o Ayatollah me salvasse. Não queria que ninguém me salvasse. Queria morrer.
- Agora, vou arranjar-te qualquer coisa para comer. Não comes há muito tempo - disse ele, sem tirar os olhos de mim. Mas não se mexeu. Sentindo o peso do seu olhar na minha pele, segurei no cobertor que me cobria com tanta força que os dedos me começaram a doer. Ele acabou por se levantar. Todos os músculos do meu corpo se contraíram.
- Tens medo de mim? - perguntou.
- Não - respondi, engolindo em seco.
- Não precisas de ter medo.
Nos seus olhos, o desejo era profundo e real. Doía-me a barriga, conseguia sentir um grito a formar-se na garganta, mas ele virou-se e saiu da cela. O meu corpo tremeu com cada lágrima que me correu pelo rosto. Odiava-o.
Ali regressou com uma tigela de sopa e sentou-se ao meu lado.
- Não chores, por favor.
Eu não conseguia parar.
- Queres que me vá embora?
Fiz que sim com a cabeça.
- Vou-me embora se me prometeres que acabas a sopa. Prometes?
Assenti novamente.
Ele deteve-se à porta e virou-se, dizendo com uma voz pesada e exausta:
- Venho ver-te mais tarde.
Porque me salvara ele do pelotão de fuzilamento? Que iria acontecer-me?
A última coisa em que pensei antes de adormecer foi em Sarah. Esperava que ela estivesse bem. Tudo o que podia fazer era rezar pelas duas, por Sirus e por Gita, e por todos os meus amigos que haviam sido detidos.
Ainda não há muito tempo estávamos todos na escola, brincando à apanhada e às escondidas no intervalo. Agora, éramos presos políticos.
Andei numa escola primária com paredes de tijolo vermelho cobertas de trepadeiras. Isso foi durante a época do Xá. Como a minha escola ficava a dez minutos de casa, ia e vinha a pé sozinha. O velho edifício fora inicialmente uma mansão de dois andares e os meus amigos disseram que a directora, a Khanoom Mortazavi, que frequentara a universidade no estrangeiro, o transformara numa escola quando regressara ao Irão. Todas as salas de aulas tinham janelas altas, mas devido aos velhos aceres que cresciam no pátio, estava sempre escuro lá dentro e normalmente tínhamos de ligar a luz para ver para o quadro. Todos os dias, depois do toque para a saída, eu e Sarah saíamos da escola e atravessávamos a rua juntas, mas ela depois virava à esquerda e eu à direita. Eu continuava para sul em direcção à Avenida Pvahzi e passava pelos muros altos de tijolo que cercavam a embaixada do Vaticano, pelo restaurante Ashna, que enchia o ar com o cheiro a arroz aromático e a carne de vaca grelhada, e pela pequena loja de roupa interior, com uma montra onde estavam expostas delicadas camisas de noite com rendas. Sem a minha mãe a arrastar-me e a dizer-me que andasse como devia ser, às vezes eu fingia ser uma nuvenzinha branca a deslizar pelo céu azul, uma bailarina a dançar à frente de uma enorme multidão ou um barco a descer um rio mágico.
Desde que não chegasse muito tarde a casa, não precisava de me apressar, mas tinha sempre de ter cuidado para não arreliar a minha mãe. Se ela tivesse clientes, eu não podia entrar no salão de beleza, e se não tivesse, não podia fazer barulho pois provavelmente ela estava com dores de cabeça. Eu era desajeitada e tinha de ter cuidado para não partir nada e para não sujar tudo ao preparar uma sanduíche; e quando despejava chá gelado ou Pepsi numa caneca, tinha de me acautelar para não entornar a bebida. A minha mãe era bonita e irritável. Tinha olhos castanhos, um nariz perfeito, lábios carnudos, pernas longas, e adorava usar vestidos decotados para exibir a sua pele branca e macia. Cada madeixa do seu cabelo curto e escuro estava sempre obedientemente no lugar. Se eu a fazia zangar-se, ela trancava-me na varanda que dava para o meu quarto. A minha varanda estava vedada por canas de bambu presas a dois postes de metal horizontais e alguns verticais. Daí, via os carros e as pessoas que enchiam a rua, os vendedores ambulantes a apregoar as suas mercadorias e os mendigos a pedir esmola. A rua pavimentada, de quatro faixas, fervilhava de trânsito durante as horas de ponta e o ar cheirava ao fumo dos escapes. Do outro lado da rua, Hassan Agha, o vendedor que tinha apenas um braço, vendia ameixas verdes ácidas na Primavera, pêssegos e alperces no Verão, beterrabas estufadas no Outono, e oferecia diferentes tipos de biscoitos no Inverno. Eu adorava as beterrabas estufadas - ferviam lentamente numa frigideira grande e baixa sobre as chamas de um fogão portátil, e o seu molho pegajoso borbulhava e fumegava, tornando o ar adocicado. Na outra esquina do cruzamento, um velhote cego com um fato gasto e sujo erguia a mão ossuda aos transeuntes e gritava de manhã à noite: “Ajudem-me, por amor de Deus.” A frente do nosso apartamento erguia-se um edifício de escritórios de quinze andares, com grandes janelas de vidro espelhado que brilhavam ao sol e reflectiam o movimento das nuvens. A noite, as luzes fluorescentes que cintilavam por cima das lojas acendiam-se e coloriam a escuridão.
Um dia, decidi que qualquer castigo era melhor do que ficar fechada na varanda. Olhei para baixo: saltar era impossível. Podia gritar, mas não queria fazer uma cena e deixar que todo o bairro soubesse que a minha mãe me trancava na varanda. Ao olhar à volta, vi o pequeno saco de plástico onde a minha mãe guardava as molas de madeira da roupa. Olhei novamente para a rua agitada. Se deixasse cair as molas sobre os transeuntes, não os magoaria, mas eles haveriam de querer saber o que lhes caíra na cabeça, vindo do céu. Eu poderia então dizer-lhes que eram molas e implorar-lhes que tocassem à campainha e pedissem à minha mãe que me deixasse ir para dentro. Sabia que a minha mãe ficaria zangada, mas não me importava. Não aguentava mais o meu cativeiro solitário. Era Inverno e um vento frio começara a soprar. Pouco depois, o sol desapareceu atrás das nuvens e flocos de neve começaram a cair-me sobre o rosto. Reunindo toda a minha coragem, agarrei numa mola e, inclinando-me sobre as canas de bambu que cercavam a varanda, segurei-a sobre o passeio, respirei fundo e larguei-a. Não acertou em ninguém, apenas no passeio. Tentei novamente e consegui. Uma mulher de meia-idade, com cabelo castanho comprido, deteve-se, tocou na cabeça e olhou em volta. Depois, inclinou-se, apanhou a mola e examinou-a. Por fim, ergueu a cabeça e olhou-me directamente nos olhos.
- Que estás a fazer, rapariga? - perguntou, com o rosto muito vermelho.
- Desculpe, não queria magoá-la, mas a minha mãe fechou-me aqui na varanda e eu quero ir para dentro. Está frio. Importa-se de tocar à campainha e pedir à minha mãe que me deixe entrar em casa?
- Nem pensar! Não tenho nada a ver com os castigos que a tua mãe te dá. Pelos vistos, se calhar até merecias - disse ela e afastou-se. Mas eu não tencionava desistir.
Na vez seguinte, a mola aterrou na cabeça de uma mulher mais velha que usava um chador preto e que olhou imediatamente para cima.
- Que estás a fazer? - perguntou-me, e eu contei-lhe a minha história.
Ela tocou à campainha. Pouco depois, a minha mãe apareceu na outra varanda, que ficava a pouca distância da minha, e olhou para baixo, perguntando:
- Quem é?
Quando a mulher contou à minha mãe o que eu fizera e porquê, vi os olhos dela escurecerem de fúria. Um minuto depois, a porta da varanda abriu-se. Hesitei.
- Vem para dentro imediatamente - chamou entre dentes a minha mãe.
Entrei no meu quarto.
- És uma criança terrível! - exclamou.
Estremeci. Estava à espera que ela me desse uma palmada, mas em vez disso, virou-se e foi-se embora.
- Vou-me embora. Estou cansada. Odeio esta vida. Não quero voltar a ver-te!
Senti uma dor no estômago. Ela não podia ir-se embora, ou podia? Parecia estar a falar a sério. Que faria eu sem uma mãe? Corri atrás dela e agarrei-lhe na saia. Ela não parou.
- Por favor, não te vás embora! - implorei. - Volto para a varanda e fico lá sem fazer disparates. Prometo.
Ignorando-me, ela dirigiu-se à cozinha, agarrou na carteira e avançou para as escadas. Em pânico, comecei a gritar, mas ela não parou. Agarrei-lhe uma das pernas, mas continuou a descer as escadas, arrastando-me consigo. Senti os degraus duros e frios contra a pele. Implorei-lhe que ficasse. Por fim, ela parou à porta.
- Se queres que eu fique, vai para o teu quarto, fica lá e não faças barulho.
Olhei-a.
- Imediatamente! - gritou. E corri para o meu quarto. Durante uns tempos depois disso, sempre que a minha mãe saía de casa para ir às compras ou fazer qualquer coisa, eu sentava-me à janela a tremer de medo. E se ela nunca mais voltasse?
Decidi não aborrecer a minha mãe e a melhor forma de o conseguir era passar no quarto o máximo de tempo possível. Todos os dias, assim que chegava a casa da escola, ia em bicos de pés até à cozinha, ver se a minha mãe lá estava. Se não estivesse, fazia uma sanduíche de mortadela, e, caso estivesse, cumprimentava-a rapidamente, ia para o meu quarto e esperava que ela saísse da cozinha. Depois de comer, continuava no quarto, fazia os trabalhos de casa e lia os livros que levantara da biblioteca da escola. Na sua maioria eram traduções: Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, A Pequena Sereia, A Rainha das Neves, O Soldadinho de Chumbo, Cinderela, A Bela Adormecida, Hansel e Gretei e Rapunzel. A biblioteca da minha escola era pequena e decorrido algum tempo tinha já lido os livros todos, não apenas uma, mas três ou quatro vezes. Todas as noites, a minha mãe abria umas quantas vezes a porta do meu quarto para ver o que eu estava a fazer e sorria quando me encontrava a ler. De certa maneira, os livros tinham-nos salvado às duas.
Um dia, reuni toda a minha coragem e perguntei à minha mãe se ela me comprava livros; respondeu que só podia comprar-me um livro por mês, pois eram muito caros e não podíamos gastar neles o dinheiro todo. Mas um livro por mês não chegava. Alguns dias mais tarde, quando regressávamos as duas a casa, depois de uma visita ao pai dela, reparei numa pequena livraria. O letreiro dizia: “Livros em segunda-mão”. Eu sabia que “segunda-mão” significava barato, mas não me atrevi a chamar a atenção da minha mãe.
Uma semana mais tarde, quando a minha mãe disse que era altura de irmos visitar o meu avô, disse-lhe que não me sentia bem e ela concordou em deixar-me ficar em casa. O meu pai estava a trabalhar. Pouco depois da morte da avó, ele fechara o estúdio de dança e arranjara um emprego num departamento do Ministério das Artes e da Cultura, onde trabalhava com grupos de dança folclórica. Gostava do seu novo emprego e viajava por vezes a outros países com os dançarinos, jovens homens e mulheres que representavam o Irão em diversos eventos internacionais. Assim que a minha mãe saiu de casa, corri ao quarto dos meus pais e tirei as chaves de casa sobressalentes da gaveta da cómoda. Durante uma semana, guardara todo o dinheiro para o leite com chocolate e esperava que fosse suficiente para um livro.
Corri para a loja de livros em segunda-mão. O sol do final da Primavera brilhara o dia todo sobre o asfalto negro, criando ondas de calor tremeluzentes, que se erguiam do chão e se colavam a mim. Quando cheguei à livraria, gotas de suor caíam-me da testa e entravam-me nos olhos, fazendo-os arder. Limpei o rosto com a T-shirt, empurrei a porta de vidro da loja e entrei. Quando os meus olhos se adaptaram à fraca luminosidade, não pude acreditar no que via. A toda a minha volta, havia pilhas de livros amontoados em prateleiras que chegavam ao tecto, deixando apenas túneis estreitos que desapareciam na escuridão. Estava rodeada por milhares de livros. O ar estava impregnado com o cheiro de papel, de histórias e de sonhos que habitavam as palavras escritas.
- Está alguém? - perguntei. Não houve resposta. - Está alguém? - repeti, desta vez um pouco mais alto.
- Em que posso ser-lhe útil? - perguntou uma voz masculina com uma pronúncia americana cerrada, vinda das profundezas de um dos túneis de livros.
Dei um passo à retaguarda e perguntei:
- Onde está?
Mesmo à minha frente, surgiu uma sombra cinzenta. Tive um sobressalto.
A sombra riu.
- Desculpa, pequena, não queria assustar-te. Que desejas?
Tive de me lembrar de respirar.
- Quero... Quero comprar um livro.
- Que livro?
Tirei todo o dinheiro do bolso e mostrei as moedas ao velhote magro que estava à minha frente.
- Tenho este dinheiro todo. Pode ser qualquer livro, desde que seja bom.
Ele sorriu e passou os dedos pelo cabelo grisalho.
- Porque não vais antes à padaria aqui do lado comprar um bolo?
- Mas eu quero um livro. O dinheiro não chega?
- Minha jovem, o problema é que todos os meus livros são escritos em inglês. Tu falas inglês?
- Sou muito boa a inglês. Na escola, estudamos inglês uma hora todos os dias. Ando no terceiro ano.
- Bem, vejamos o que posso arranjar para ti - disse ele com um suspiro, desaparecendo atrás das montanhas de livros.
Eu esperei, perguntando-me como conseguiria ele encontrar o que quer que fosse no meio daquela confusão. Mas reapareceu milagrosamente do meio da barafunda e da escuridão com um livro.
- Aqui tens - disse, entregando-mo. - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Fatos. É um livro maravilhoso e o primeiro de uma série.
Examinei-o. Tinha uma capa azul-acinzentada, no meio da qual se via um leão com um rapaz e uma rapariga sentados no dorso. O leão estava a dar um salto no ar. O livro parecia antigo, mas estava razoavelmente bem conservado.
- Quanto custa?
- Cinco tomans.
- Mas eu só tenho quatro! - disse eu, à beira das lágrimas.
- Pode ficar por quatro.
Agradeci-lhe, radiante, e corri para casa.
Três dias mais tarde, tinha lido O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Fatos duas vezes e apaixonara-me pelo livro. Queria mais. Mas como tinha apenas poupado dois tomans, não tinha a certeza se o homem da livraria voltaria a ser generoso e tinha medo de pedir dinheiro à minha mãe, pelo que decidi vender a minha caixa de lápis à minha amiga Sarah. No início do ano escolar, Sarah perguntara-me onde comprara a caixa e eu respondi que a minha mãe a comprara no grande armazém no cruzamento das Avenidas Xá e Pahlavi. Mas quando a mãe de Sarah foi comprar uma caixa igual à minha, já tinham sido todas vendidas e Sarah ficou muito decepcionada. Era uma caixa de plástico azul com um fecho magnético que dava um estalido quando se fechava a tampa. No dia seguinte, fui ter com Sarah a caminho da escola. Ela tinha grandes olhos castanhos-escuros, cabelo negro, espesso e encaracolado, que lhe caía sobre os ombros, e possuía um bonito relógio de pulso, cujo mostrador tinha uma imagem da Cinderela e do Príncipe Encantado a calçar-lhe o sapatinho de cristal. A Cinderela estava sentada num banco, tinha uma perna cruzada sobre a outra e a perna andava para a frente e para trás todos os segundos. A mãe de Sarah comprara-lhe o relógio quando estavam de férias em Inglaterra. Perguntei-lhe se ela ainda queria a minha caixa de lápis e ela respondeu que sim. Disse-lhe que estava disposta a vender-lha. Ela perguntou porquê, com um ar muito desconfiado. Por isso, contei-lhe da livraria. Ela concordou em dar-me cinco tomans se eu também lhe desse a borracha com aroma. Aceitei as suas condições.
Depois da escola, Sarah e eu corremos em menos de cinco minutos a casa dela, que ficava numa rua estreita em forma de crescente, onde todas as casas tinham pequenos jardins e estavam cercadas por altos muros de tijolo, destinados a proporcionar privacidade aos residentes. Eu adorava aquela rua, pois sem carros, lojas, vendedores ou pedintes, era sossegada. O ar estava impregnado de odor de cebolas e alhos salteados, que fazia crescer água na boca. Algum vizinho devia estar a fazer o jantar. Sarah tinha uma chave de casa porque ambos os pais trabalhavam e regressavam sempre tarde. Ela abriu a porta e entrámos no quintal. À nossa direita, um pequeno canteiro de flores estava a transbordar do vermelho, verde e roxo de gerânios e amores-perfeitos.
Eu desejava secretamente viver numa casa como a de Sarah. A mãe dela, que trabalhava no banco e usava sempre fatos elegantes e sapatos pretos brilhantes de salto muito alto, era uma mulher pequena e roliça, com cabelo preto curto. Abraçava-me sempre que eu ia lá a casa e dizia-me que era maravilhoso ter-me lá. O pai de Sarah, um homem grande, engenheiro, que estava sempre a contar anedotas engraçadas, ria ruidosamente e recitava belos poemas antigos. O único irmão de Sarah, Sirus, tinha doze anos, três anos mais do que eu e do que a irmã, e, ao contrário do resto da família, era muito tímido. A casa de Sarah estava sempre colorida com barulho e risos.
Dei a Sarah a caixa de lápis e ela deu-me o dinheiro. Depois, liguei à minha mãe e disse-lhe que estava em casa de Sarah a ajudá-la com os trabalhos de casa. A minha mãe não se importou. Agradeci a Sarah e corri para a livraria, que encontrei escura, poeirenta e misteriosa, como na minha primeira visita. O velhote emergiu novamente do meio da escuridão.
- Deixa-me adivinhar: não percebeste uma palavra e queres que te devolva o dinheiro - disse ele, estreitando os olhos.
- Não. Li-o duas vezes e adorei! Não compreendi algumas palavras, mas usei o dicionário do meu pai. Vim cá comprar o segundo livro da série. Tem-no? Vendi a minha caixa de lápis e a minha borracha com cheiro a uma amiga, a Sarah; por isso, desta vez tenho dinheiro que chegue.
O velhote olhou-me e não se moveu. Senti o coração apertar-se. Talvez ele não tivesse o segundo livro.
- Então, tem o livro ou não?
- Sim, tenho. Mas... escusas de pagar; posso emprestar-to se me prometeres que cuidas bem dele e que mo devolves depois de o teres lido. Duas vezes.
Pensei no meu anjo. Talvez ele estivesse disfarçado de senhor de idade. Olhei para os olhos do velhote, que me pareceram quase tão escuros, penetrantes e doces como os olhos do anjo. Olhei para o livro: era O Príncipe Caspian.
- Como te chamas? - perguntou ele.
- Marina. E o senhor?
- Albert - respondeu. Hmm. Um anjo chamado Albert.
Desse dia em diante, ia visitar Albert e ele emprestava-me livros pelo menos uma vez por semana.
Fui para a escola secundária com onze anos. Na altura, o governo financiava todas as escolas e universidades do Irão, mas algumas escolas eram melhores que outras e a Anooshiravan-eh Dadgar, uma escola secundária zoroastriana para raparigas, era uma delas. Os meus pais não escolheram pôr-me nesta escola por ser uma das melhores, mas simplesmente porque ficava perto do nosso apartamento.
Os zoroastrianos seguem os ensinamentos do seu profeta, Zoroastro. Nascido na Pérsia há quase três mil anos, Zoroastro convidou as pessoas a acreditar num deus único: Ahura Mazda. Durante a época que passei na escola, a maioria dos estudantes era zoroastriana ou muçulmana, mas) havia também bahais, judeus e uns três ou quatro cristãos.
Os tectos altos e as inúmeras janelas do edifício principal da escola, que tinha quarenta anos, faziam-na aparentar ser muito espaçosa. Os longos corredores pareciam intermináveis e duas grandes escadarias ligavam o primeiro piso ao segundo. A entrada principal era ladeada por pilares de dois andares de altura, por cima dos quais se lia em grandes letras: Bons Pensamentos, Boas Palavras, Boas Acções, o lema principal do zoroastrismo. Tínhamos um ginásio separado, com campos de basquetebol e de voleibol, e o pátio pavimentado da escola era cercado por muros altos de tijolo.
Durante três anos, as minhas visitas à livraria de Albert foram o ponto alto da minha vida. Ele lera todas as centenas de livros empilhados na loja, sabia exactamente onde estava cada um e adorava falar sobre eles. Tinha mulher e um filho, e contou-me que este, que era casado e tinha dois rapazes, fora viver para a América dois anos antes. No Natal a seguir ao nosso primeiro encontro, Albert deu-me um pacote embrulhado em papel vermelho. Abri-o e encontrei As Crónicas de Narnia e uma bela caixa azul de lápis, com lápis de cores e borrachas que cheiravam a pastilha elástica.
A última vez que vi Albert foi alguns dias após o meu décimo segundo aniversário, num belo dia de Primavera, repleto de cantos de pássaros e raios de sol cálidos. Empurrei a pesada porta de vidro da livraria a sorrir, segurando as Mulherzinhas perto do coração.
- Olá, Al...
Partículas de pó flutuavam num feixe de luz de sol que pousava sobre o linóleo do chão. A loja vazia estendia-se à minha frente. Era como se eu estivesse de pé, à beira do deserto. Sentindo-me como que atingida por um vento forte e feroz, arquejei e tentei respirar. Albert estava sentado sobre um grande caixote de cartão no meio do terrível vazio, olhando para mim com um sorriso triste no rosto.
- Onde estão os livros? - perguntei-lhe.
Ele disse que vendera a maioria a outra livraria, mas que guardara rodos os meus favoritos. Estavam no caixote sobre o qual estava sentado. Prometeu levá-los a minha casa mais tarde. Tencionava dizer-me antes, mas não tinha conseguido. Ele e a mulher deixariam em breve o Irão, para irem ter com o filho à América. Albert não queria ir, mas a mulher não estava bem e queria passar o tempo que lhe restava com o filho e com os netos. Não podia recusar-lho. Estavam casados há cinquenta e um anos e este era o seu último desejo.
Tirou um lenço branco do bolso da camisa e assoou-se. Os meus braços e pernas fraquejaram. Ele levantou-se, avançou até mim e pôs as mãos nos meus ombros.
- Vi-te crescer. Trouxeste alegria e felicidade à minha vida. Vou sentir a tua falta. És como uma filha para mim.
Envolvi-o com os meus braços e apertei-o com força. Ir para a América parecia tão violento e eterno como a morte.
Acordei com o sabor de canja na boca. Estava sentada. O mundo parecia coberto por um nevoeiro espesso e girava à minha volta. Não havia formas nem linhas precisas, apenas cores vagas. Alguém chamava o meu nome. Outra vez canja. Tossi.
- Engole. Faz-te bem.
O líquido quente escorreu-me pela garganta. Engoli novamente. Havia um quadrado branco e brilhante à minha frente. Tentei focar a vista. Era uma pequena janela com grades. Doía-me o corpo e estava febril.
- Assim está melhor - disse a voz vinda de trás de mim. Tentei mover-me. - Não te mexas, engole.
Os movimentos provocavam-me dores. A sopa correu-me pelo queixo. A cela tornou-se lentamente mais distinta.
- Agora vou deixar-te descansar - declarou a mesma voz. Era a voz de Ali.
Sentou-se no chão perto de mim e disse que ia mandar-me para um dormitório de mulheres em Evin, chamado o 246, onde veria algumas das minhas amigas e me sentiria melhor. Acrescentou que conhecia uma das guardas responsáveis pelo 246 e que lhe ia pedir para olhar por mim. Ela chamava-se Irmã Maryam.
- Vou estar fora por uns tempos - declarou, mantendo-se em silêncio e com os olhos fixos em mim, como que à espera de que eu dissesse alguma coisa, Eu não fazia ideia de que tipo de sítio era o 246. Ele dissera-me realmente que eu fora condenada a prisão perpétua ou fora eu que sonhara?
- Fui mesmo condenada a prisão perpétua? - perguntei.
Ele assentiu e a sombra de um sorriso triste atravessou-lhe o rosto.
Tentei não chorar, mas não o consegui evitar. Queria perguntar-lhe porque me tinha salvo de ser executada. Queria dizer-lhe que a morte era melhor do que a prisão perpétua. Queria que ele soubesse que não tinha o direito de fazer o que fizera - mas não conseguia. A dor que sentia paralisara-me por completo.
Ele ergueu-se e disse:
- Que Deus te proteja. - E saiu. Adormeci.
Passadas algumas horas, ele regressou e levou-me até à porta de uma sala pequena, onde dormiam cerca de vinte raparigas lado a lado no chão.
- Tens de esperar nesta sala até que te venham buscar e te levem ao 246. Cuida de ti. As coisas hão-de melhorar. Põe a venda quando te sentares.
Avistei um pequeno espaço vazio no extremo oposto da sala. Ainda me sentia tonta e doíam-me os pés, pelo que tive de fazer um grande esforço para o alcançar sem pisar ninguém. Ninguém reagira à minha chegada. Não havia espaço suficiente para me deitar, por isso sentei-me, dobrei os joelhos contra o peito, encostei-me à parede e chorei.
Passado um bocado, um homem gritou uns dez nomes, entre os quais o meu.
- As pessoas por quem chamei puxem as vendas um bocado para cima para verem o caminho e façam fila aqui à frente da porta. Cada uma deve segurar no chador da pessoa que vai à frente. Não se esqueçam: levantem a venda apenas um pouco. Se vejo alguém a espreitar demasiado, faço com que se arrependa; assim que encontrarem um lugar na fila, voltem a colocar as vendas no lugar e certifiquem-se de que estão bem apertadas.
Agarrei no chador da rapariga à minha frente e a pessoa atrás de mim agarrou no meu xaile. Atravessámos dois corredores e passado pouco tempo estávamos no exterior. Fazia frio. Rezei para que chegássemos depressa ao nosso destino porque sentia-me prestes a desfalecer. Tudo o que via era o pavimento cinzento e o chador e os pés da rapariga à minha frente. Os seus pés não estavam inchados, mas calçava chinelos de borracha, semelhantes aos meus, que eram, pelo menos, dois tamanhos acima dos dela. Perguntei-me o que seria feito dos meus sapatos. Entrámos num edifício, atravessámos um corredor e subimos alguns lanços de escadas. Então o guarda mandou-nos parar, chamou o meu nome e disse-me para sair da fila.
- Agarra esta corda e segue-me - ordenou. Peguei na corda e segui-o através de uma porta.
- Saiam aleikom, Irmã. Bom dia. Trago-te uma nova: Marina Moradi-Bakht. Aqui estão os papéis.
- Bom dia também para ti, Irmão. Obrigada - respondeu uma mulher.
A porta fechou-se com um pequeno estalido. O cheiro a chá acabado de fazer enchia a sala. Apercebi-me de que estava esfomeada.
- Tira a venda, Marina - disse a mulher com uma voz autoritária, e eu obedeci. Ela tinha cerca de vinte e cinco anos e era uns vinte e cinco centímetros mais alta do que eu, com grandes olhos escuros, nariz também grande e lábios finos, traços que se haviam reunido para criar um rosto muito grave. Vestia um chador preto. Perguntei-me se alguma vez teria sorrido na vida.
A sala onde nos encontrávamos era uma espécie de escritório. Tinha cerca de três metros e meio por quatro, uma secretária, quatro cadeiras de metal e outra secretária simples, de metal, coberta com pilhas de papéis. A luz amarelada da manhã atravessava a janela de grades e tocava no chão.
- Sou a Irmã Maryam, Marina - apresentou-se a mulher. - O Irmão Ali falou-me de ti. - Ela explicou que o edifício onde nos encontrávamos, o 246, tinha dois pisos, o primeiro com seis camaratas e o segundo com sete. Eu ficaria na camarata 7 do segundo piso.
A mulher chamou um nome pelo altifalante. Decorridos alguns minutos, uma rapariga mais ou menos da minha idade entrou no gabinete. A Irmã Maryam apresentou-ma como sendo Soheila. Era uma reclusa e a representante do dormitório 7.
Soheila tinha cabelo castanho curto, vestia uma camisola azul e calças pretas, e não tinha o cabelo coberto. Presumi que, sendo o 246 um edifício de mulheres, não tínhamos de usar sempre o hejab. As portas do gabinete abriram-se para um vestíbulo vazio, com cerca de sete metros e meio de comprimento por três de largura, e, ao atravessá-lo, avistei as escadas que conduziam ao piso inferior. Segui Soheila a coxear e fiquei para trás. Ela parou, virou-se e olhou para os meus pés.
- Desculpa... Não tinha percebido... Anda, põe o braço à volta do meu ombro. Eu ajudo-te.
Chegámos a uma porta de metal com grades, Soheila empurrou-a e penetrámos num corredor estreito. Havia raparigas por todo o lado. Passámos por três portas e continuámos pelo corredor, que fazia um ângulo de noventa graus. Passámos outras três portas e entrámos na sala do fundo, a camarata 7. Olhei em volta. A divisão tinha cerca de cinco metros por sete e meio, e o chão estava coberto por uma carpete castanha gasta. Um pouco acima do nível dos meus olhos, uma prateleira de metal atravessava a parede; em cima dela encontravam-se sacos de plástico cheios de roupa e, por baixo, sacos mais pequenos pendurados em ganchos. A pintura bege que cobria as paredes e as portas de metal estava esbatida e suja. A um canto havia um beliche. Frascos e recipientes de diversos tamanhos e formas cobriam o primeiro beliche e sacos de plástico cheios de roupa repousavam sobre o segundo. Noutro canto, perto de uma janela com grades, cobertores militares cinzentos estavam empilhados quase até ao tecto. O quarto estava surpreendentemente limpo e arrumado. Cerca de cinquenta raparigas encontravam-se sentadas no chão a conversar, em pequenos grupos de três ou quatro. Tinham todas aproximadamente a minha idade e olharam-me com curiosidade quando entrei. Incapaz de me aguentar mais tempo de pé, caí no chão.
- Meninas, arranjem um lugar para ela poder descansar! - gritou Soheila, ajoelhando-se ao meu lado. - Sei como te doem os pés, mas vai correr tudo bem. Não te preocupes.
Fiz que sim com a cabeça, com os olhos marejados de lágrimas.
- Marina! - chamou uma voz familiar.
Olhei para cima e, por instantes, não reconheci a rapariga de pé ao meu lado.
- Sarah! Graças a Deus! Estava tão preocupada contigo!
Sarah tinha definhado. A sua pele branca em tempos resplandecente tornara-se baça e tinha círculos negros à volta dos olhos. Abraçámo-nos até ficarmos exaustas.
- Estás bem? - perguntou ela, olhando para os meus pés.
- Estou bem. Podia ter sido pior.
Tirei o xaile da cabeça e passei os dedos pelo cabelo, cheio de madeixas embaraçadas. Nunca na vida estivera tão suja.
- Porque tens o nome escrito na testa? - perguntou Sarah.
- O quê?
- Tens o nome escrito na testa com marcador negro.
Toquei na testa e pedi um espelho, mas Sarah explicou-me que ali não havia espelhos. Ela disse que desde que estava em Evin, nunca vira ninguém com o nome escrito na testa. Eu não conseguia lembrar-me de como aquilo acontecera. Depois, ela perguntou-me como fizera a nódoa negra na cabeça e eu contei-lhe que desmaiara na casa de banho.
- Como estão os meus pais, Marina? Quando foi a última vez que os viste?
Os olhos de Sarah fixavam-me com uma intensidade que eu até então nunca vira, como se ela tivesse andado a vaguear sem água por um deserto durante dias a fio e eu fosse uma fonte gorgolejante.
Contei-lhe como os pais tinham ficado preocupados e os esforços que haviam feito para a ver, a ela e a Sirus. Perguntei-lhe se sabia onde estava o irmão e se estava bem. Ela não sabia. Depois perguntei-lhe se fora chicoteada.
Na noite em que haviam sido detidos, os guardas tinham-na obrigado a ver Sirus a ser vergastado. Queriam que ele lhes desse os nomes dos amigos, mas ele recusara. Sarah fechara os olhos para não assistir ao que estavam a fazer ao irmão, mas os guardas bateram-lhe, deram-lhe pontapés e obrigaram-na a ver. Soltaram Sirus e amarraram-na à cama. nisseram a Sirus que se ele lhes desse os nomes, não chicoteariam Sarah, mas ele não proferiu uma palavra, e Sarah foi igualmente torturada. Perguntaram-lhe se ela conhecia alguns dos amigos dele, mas ela não conhecia nenhum. Depois, fizeram-lhe perguntas sobre os seus próprios amigos.
- Dei-lhes o teu nome, Marina... Desculpa... Não fui capaz de aguentar - disse ela.
Não a censurei. Se Hamehd me tivesse açoitado um pouco mais, ter-lhe-ia dado todos os nomes que ele queria.
Contei a Sarah da lista. Custava-lhe a crer que os guardas nos tivessem torturado por algo que já sabiam. Perguntou-me porque não falara da lista antes e eu expliquei-lhe que não sabia quem mais constava dela e que não queria preocupar ninguém.
- Viste a Cita? - perguntei-lhe.
- Antes de me torturar, o Irmão Hamehd disse que a Cita lhe dera o meu nome e a minha morada. Eu acreditei nele e fiquei furiosa com ela. Achei que fora por culpa dela que eu tinha sido presa. Mas depois, o Hamehd torturou-me e acabei por lhe contar tudo o que sabia. Odiei-me a mim própria por ter desprezado a Gita.
Sarah cobriu a boca para silenciar a dor que procurava abrir caminho de dentro de si. Abracei-a e ela gritou encostada ao meu peito. Por fim, ergueu os olhos.
- Mesmo antes de me mandar para aqui, o Hamehd disse-me que a Gita fora executada na noite anterior. Disse que, se o Sirus não colaborasse, lhe aconteceria o mesmo. Por isso, soube que ele mentira ao dizer que a Gita lhe dera o meu nome e a minha morada. Se a Gita tivesse falado, não teria sido morta. Não falou, foi por isso que a mataram. A culpa não foi dela.
- A Gita morreu?
Sarah assentiu.
Não podia ser verdade.
Uma voz na minha cabeça dizia-me: “Estás viva e não mereces.”
Lembrava-me claramente do dia em que eu e Gita nos havíamos tornado amigas. Fora três anos e meio antes, no Verão de 1978, no norte, na casa de férias da minha família, no Verão em que conheci Arash.
No ano em que eu nasci, os meus pais compraram uma casa de férias na pequena vila de Ghazian - do outro lado da ponte de Bandareh Pahlavi - perto do mar Cáspio, onde a vida era plácida e simples. Embora na altura ter uma casa de férias perto do mar Cáspio fosse um sinal de riqueza, a minha família não era rica. O meu pai adorava de tal forma a tranquilidade do norte do Irão que, em vez de comprar uma casa em Teerão, decidiu comprar uma casa de férias. Contudo, não tinha dinheiro suficiente e comprou-a a meias com um dos seus amigos, um arménio-russo espalhafatoso e jovial chamado Partef, que tinha uma fábrica de aço inoxidável em Teerão. O tio Partef, como lhe chamávamos, não era casado, andava normalmente muito ocupado e raramente ia à casa de férias, pelo que a maior parte das vezes a tínhamos só para nós.
A casa ficava no meio de um grande terreno arborizado atrás do porto, numa rua sossegada que conduzia à praia. O seu primeiro proprietário fora um médico russo, um amigo chegado dos meus pais, que a construíra ele próprio com sólida madeira russa. A casa tinha quatro quartos, uma sala de estar e de jantar, uma pequena cozinha e uma casa de banho. As paredes exteriores estavam pintadas de verde-claro e doze degraus de pedra conduziam à porta da frente.
A viagem de Teerão até lá demorava cinco horas de carro. Saindo de Teerão e rumando para oeste, continuávamos pelas planícies até chegarmos à cidade de Ghazvin. Aí, a estrada virava para norte, na direcção dos montes Alborz, que se assemelhavam a um imponente muro a pique que separava os desertos do centro do Irão do mar Cáspio. Através de túneis, de subidas e descidas íngremes, de curvas e contracurvas apertadas, a estrada abria teimosamente caminho por entre a cadeia de montanhas. Acompanhava o vale do rio Branco, onde densas florestas cobriam os montes e o vento transportava a fragrância dos campos de arroz.
Uma vedação de rede metálica, pintada de azul-celeste e mais alta até do que o meu irmão, cercava a nossa propriedade. Quando chegávamos, o meu pai parava o nosso Oldsmobile azul ao lado do portão, apeava-se e abria-o para o carro passar. O longo caminho de terra estendia-se em direcção à casa, desaparecendo atrás dos aceres, dos pinheiros, dos choupos e das amoreiras. Debaixo dos meus pés, seixos de várias cores espreitavam através da terra e brilhavam à luz do sol que conseguira penetrar por entre o espesso manto de folhas. O caminho ia desembocar numa passagem que, por instantes, parecia demasiado luminosa. A escadaria de pedra branca que conduzia à casa surgia subitamente.
O edifício recebia-nos sempre com o familiar odor húmido que saturara o ar estagnado durante os meses da nossa ausência. Uma carpete verde-escura cobria o chão. Antes de entrar em casa, a minha mãe obrigava-nos a tirar os sapatos e a limpar os pés para não levarmos nenhuma areia para dentro. Os meus pais tinham mobilado a pequena sala de estar com um conjunto de jardim, constituído por uma mesa e cadeiras de ferro forjado, que tinham comprado numa venda ambulante; estava pintado de branco e tinha almofadas roxas aveludadas e uma mesa com tampo de vidro. Os quartos eram muito básicos, com camas simples e velhas cómodas de madeira, e as cortinas penduradas nas janelas eram de tecidos às flores, de cores vivas. A noite, quando ia para a cama, deixava normalmente as três janelas do meu quarto abertas para acolher o cantar dos galos pela manhã. Quando chovia, os patos grasnavam e brincavam em poças e o cheiro dos limoeiros desprendia-se das folhas espessas.
Na propriedade havia um local especial onde, como me ensinara a minha avó, eu rezava o “pai-nosso” todas as manhãs. A distância, parecia uma grande rocha coberta de musgo, mas, quando nos aproximávamos, víamos que era feita de muitas pedras pequenas. Tinha cerca de um metro e vinte de altura e um metro e oitenta de largura, e de um dos cantos saía uma grossa barra de metal enferrujado. Era de uma época antiga, quando o mar cobria a maior parte da terra. Em tempos foi útil para os pescadores prenderem os barcos, mas pareceu-me estranha e deslocada quando a descobri num canto abandonado da propriedade. Adorava pôr-me de pé no cimo, abrir os braços à brisa suave, fechar os olhos e imaginar o mar à minha volta, com a sua superfície vidrada, viva e em movimento, a transformar a luz do sol num líquido dourado que deslizava para a costa, onde montes de areia se assemelhavam a bolhas sobre a pele quente da terra. Dei a esse estranho monumento o nome de “Rocha da Oração”.
Acordava habitualmente ao romper do sol e dava um passeio. Um rio de neblina flutuava entre as árvores, erguia-se sobre a erva alta e cobria-me as pernas. Quando chegava à Rocha da Oração, o sol parecia ter-se insinuado na neblina, conferindo-lhe uma luz rosada. A superfície da pedra era uma ilha a descansar sobre um mar cintilante. Deitava-me sobre a pedra e deixava que o sol me cobrisse a pele, fazendo-me sentir imponderável, como se fosse feita de neblina e de luz.
Todos os verões, eu e a minha mãe passávamos cerca de dois meses na casa de férias, mas o meu pai não podia passar tanto tempo longe do emprego e só ficava connosco duas semanas. Mas aparecia quase todos os fins-de-semana. Durante anos, passei os dias de férias a andar de bicicleta, a construir castelos de areia, a nadar, a perseguir patos e a brincar com os miúdos da zona. Livre de fazer o que quisesse o dia todo, só regressava a casa para jantar e para dormir. A medida que os anos foram passando e eu fui crescendo, os meus dias de Verão permaneceram inalteráveis, à excepção do facto das minhas aventuras diárias cobrirem mais terreno e me levarem para mais longe de casa. Com doze anos, em meio dia conseguia explorar a vila de bicicleta. Seguia as ruelas velhas e estreitas, de pequenas casas brancas, e ia até ao mercado. Os biscoitos de arroz e os koloochehs- biscoitos de noz moída com açúcar - que comprava na padaria alimentavam-me nos numerosos dias em que saltava o almoço. Nos mercados de peixe ressoavam as vozes altas dos vendedores e sentia-se o forte cheiro a Peixe e a fragrância de ervas frescas.
Um dos meus locais favoritos era uma ponte que ligava os dois lados do porto. De pé na ponte, ficava a ver os barcos e os navios passar. As águas azuis estendiam-se até ao horizonte, navios pesados rasgavam a superfície do mar, transformando-a numa espuma branca, e o ar salgado enchia-me os pulmões. Adorava particularmente o nevoeiro, que conferia ao porto um aspecto fantástico e irreal. Incapaz de ver com precisão através da neblina, conseguia ouvir as pás de um barco a cortar a água; o barco aparecia então, como que surgindo de um outro mundo.
Quando tinha cerca de dez anos, a irmã mais velha da minha mãe, Zenia, comprou uma casa de férias a cerca de seis quilómetros de Ghazian, numa zona recentemente desenvolvida, com campos de ténis e de basquetebol, restaurantes e piscinas. Aqui, as casas dispendiosas, cercadas por relvados perfeitos e vedações de metal branco à altura da cintura, resplandeciam com a tinta nova, e os miúdos andavam de bicicleta em ruas limpas.
A tia Zenia era diferente do resto da família. Era loira com olhos azuis e grande em todos os aspectos. Tinha uma casa muito grande em Teerão, um grande carro e até um grande motorista. O marido, que morrera num acidente de automóvel dois anos após a morte da avó era dono de uma fábrica de processamento de carne na cidade de Rasht, a cerca de 33 quilómetros da nossa casa de férias. Após a sua morte, a minha tia começara a dirigir o negócio e saíra-se muito bem. A sua filha, que também se chamava Marina, mas a quem toda a gente chamava Marie, era a preferida da minha mãe. Era vinte anos mais velha do que eu, uma mulher pequenina, que parecia sempre tensa quando a mãe estava por perto. Eram ambas teimosas e determinadas, e discutiam constantemente acerca de tudo.
Em 1978, quando eu tinha treze anos, Marie e o marido passaram o Verão todo na casa de férias da minha tia, e eu e a minha mãe visitávamo-los quase todos os dias. A tia Zenia raramente estava na casa de férias e passava a maior parte do tempo na fábrica, onde tinha um apartamento pequeno, mas confortável, ou na sua casa de Teerão.
Durante as minhas excursões diárias de bicicleta, reparei nuns adolescentes que paravam num dos campos de basquetebol. Apareciam todos os dias às cinco da tarde. Os rapazes jogavam basquetebol e as raparigas sentavam-se à sombra, conversando e aplaudindo-os. Por fim, decidi abordá-los um dia. Em pequenos grupos de duas ou três, cerca de quinze raparigas estavam sentadas na relva. Encostei a bicicleta a uma árvore e dirigi-me para elas. Ninguém parecia ter reparado em mim. Vi uma rapariga sentada sozinha em cima de uma mesa de piqueniques e sentei-me ao seu lado. Ela olhou para mim e sorriu. O cabelo castanho-claro e liso chegava-lhe à cintura e vestia calções brancos e uma T-shirt branca. A sua cara era-me familiar. Apresentei-me e ela abriu muito os olhos, reconhecendo-me. Percebemos que andávamos na mesma escola, mas ela era uns anos mais velha do que eu e nunca tínhamos falado. Tal como eu, uma tia dela tinha uma casa ali perto, e ela e a família estavam lá a passar uma temporada. Chamava-se Gita.
Um dos rapazes encestou e as raparigas aplaudiram e gritaram. Ele virou-se e interpelou uma rapariga que estava sentada perto de nós.
- Neda, vais buscar-me uma Coca-Cola? Estou morto de sede.
Tinha cerca de um metro e oitenta e grandes olhos escuros, sobre as maçãs do rosto salientes. O seu cabelo preto e liso baloiçava quando corria. Neda ergueu-se, relutante, e sacudiu os pedaços de erva dos calções brancos. Tinha o cabelo castanho pelos ombros, preso atrás das orelhas.
- Quem vem comigo? - perguntou ela às raparigas.
Algumas juntaram-se a ela e dirigiram-se ao outro lado da rua estreita, a um restaurante de fastfood chamado Moby Dick.
Gita segredou-me qualquer coisa e apontou para um jovem do outro lado do campo. Tinha cerca de um metro e oitenta e seis, cem quilos e aparentava ter, pelo menos, vinte anos. A loira pequenina ao lado dele nem lhe chegava ao ombro. Gita disse que ele se chamava Ramin e que era o homem mais belo que alguma vez vira.
- Um dia, hei-de conquistá-lo; ele é meu - disse ela.
As minhas amigas sempre haviam sido da minha idade e a minha experiência com rapazes era bastante limitada. Nunca me ocorrera “conquistar” um rapaz.
- Ora viva - disse alguém atrás de nós. - Quem é a tua nova amiga, Gita?
Era Neda. Gita apresentou-nos. Descobri que Neda tinha uma prima que andava na nossa escola e que eu conhecia bastante bem. No fim da conversa, Neda convidou-me para a festa de aniversário que ia dar no dia seguinte.
Eu tinha o vestido ideal para a festa de Neda. Uns meses antes, a minha mãe decidira encomendar umas roupas de um catálogo alemão e oferecera-se para encomendar também algumas para mim. Eu escolhi um vestido branco. Não era muito caro, mas era lindo. Tinha um decote amplo e o tecido era rendado e leve. Para a festa de Neda, o plano era ir nadar primeiro e ir depois para casa dela, jantar e dançar. Gita dissera-me que levasse o fato de banho vestido por baixo da roupa normal e o vestido à parte.
No dia da festa, acordei ainda mais cedo do que o habitual e passei horas na casa de banho. Experimentei todos os meus fatos de banho e, com cada um deles, observava o meu reflexo no espelho, devastada por todos os defeitos que via: tinha os braços demasiado finos, as ancas demasiado altas, o peito demasiado liso. Por fim, decidi vestir o biquini branco que Marie me tinha dado. Ela fizera recentemente uma viagem à Europa, comprara alguns fatos de banho e dera-me os antigos. Embrulhei as sandálias brancas num saco de plástico, dobrei o vestido e coloquei tudo dentro de um saco de praia de lona. Eram dez da manhã. Na maioria dos dias, saíamos para casa de Marie por volta das 10h30. A minha mãe não conduzia e apanhávamos sempre um táxi quando o meu pai não estava. Eu ouvia a minha mãe às voltas na cozinha, o que era estranho; ela nunca estava na cozinha àquela hora do dia.
- Maman, estou pronta - disse eu, com o saco de praia na mão, à porta da cozinha.
O ar cheirava a peixe. Ela estava a lavar uma grande tábua de cozinha e olhou para mim pelo canto do olho.
- Pronta para quê? Hoje não vamos a lado nenhum.
As bancadas da cozinha estavam cobertas por tigelas de tamanhos diferentes, e por tachos e panelas.
- Mas...
.- Nada de “mas”! O teu tio Ismael e a mulher vieram de Teerão visitar a Marie. A tia Zenia também cá está. Vêm cá todos almoçar e jantar hoje, e vamos jogar às cartas. É provável que cá durmam.
- Mas convidaram-me para uma festa hoje à noite!
- Pois não podes ir.
- Mas...
Ela virou-se e olhou para mim. Eu sentia a sua fúria encher a cozinha.
- Não percebes o significado da palavra “não”?
Virei-me, fui para o meu quarto e atirei-me para cima da cama. Podia apanhar um táxi sozinha; tinha dinheiro suficiente. Mas a minha mãe não me deixaria. Talvez pudesse sair sorrateiramente. Mas tinha de regressar antes do anoitecer, pois era a essa hora que tinha de estar em casa, a menos que dissesse à minha mãe onde ia. Ouvi um carro chegar, com os pneus a ranger na areia molhada. Ao olhar pela janela, vi Mortezah, o motorista da tia Zenia, um homem delicado, de vinte e muitos anos, abrir a porta de trás do Chevrolet dela, novinho em folha. A minha mãe precipitou-se pela porta da frente e pelos degraus abaixo, e abraçou a irmã. Mortezah abriu o porta-bagagem e retirou uma mala pequena. Depois, entraram todos em casa. Eu permaneci à janela, com o coração a palpitar de frustração.
- Roohi, traz-me um copo de água fria! - ouvi a tia Zenia gritar à minha mãe, com a sua voz aguda e exigente. - A Marie levou o Ismael e o Kahmi à vila para fazerem qualquer coisa. Não devem tardar. Onde está a Marina? Tenho uma coisa para ela.
- Está por aí. Deve estar no quarto, amuada.
A porta do meu quarto abriu-se de rompante.
- Que se passa, Marina? Já nem cumprimentas a tua tia?
Dei um passo em frente, abracei-a e beijei-a nas bochechas. Embora a sua pele estivesse húmida e suada, cheirava a Chanel Nº 5. Ela aper-tou-me e dei por mim afogada no seu peito amplo. Por fim, largou-me, tirou uma pulseira delicada de dentro da mala e colocou-ma no pulso. Era linda. A tia Zenia dava-me sempre coisas bonitas. Limpei os olhos com as costas da mão.
- Estiveste a chorar? Porquê?
- Fui convidada para uma festa hoje à noite e não posso ir.
- E porque é que não podes ir? - perguntou ela a rir.
- Bem...
- Porque eu estou cá?
- Sim - respondi de olhos baixos.
- Posso estar velha agora, mas já fui jovem, sabias? Jovem e bonita. E, podes não acreditar, mas lembro-me bem como era.
Sustive a respiração.
- O Mortezah leva-te e vai buscar-te à festa.
- A sério?
- Sim, Cinderela. Podes ir. Mas tens de estar em casa à meia-noite.
Agradeci a Mortehza quando ele me deixou à frente da casa de Neda, prometi estar ali à sua espera à meia-noite e acenei-lhe quando se afastou. Segui o caminho de pedras cinzentas que espreitavam por entre a relva do jardim. Neda estava no alpendre que cercava a casa de um só piso, a conversar com duas raparigas. As traseiras do edifício davam para o mar e eu ouvia as ondas a desfazerem-se na areia. Pouco tempo depois, toda a gente chegara. As raparigas deixaram os sacos no quarto de Neda e os rapazes no do seu irmão, e corremos para a praia. Jogámos à apanhada e praticámos pólo aquático até ficarmos todos esfomeados, e então regressámos à casa. No quarto de Neda, ao abrir o saco para tirar o vestido, apercebi-me de que me tinha esquecido de levar um soutien e roupa interior. Tinha de ficar de fato de banho, o que não tinha importância; embora estivesse um bocado húmido, era branco e não se veria à transparência.
Depois de um jantar de carnes frias, pão fresco e diferentes tipos de saladas, empurrámos toda a mobília da sala para um lado e o som dos Bee Gees encheu o ar. Neda dançava com Aram, o bonito jogador de basquetebol que lhe pedira para ir buscar uma Coca-Cola quando a conheci.
O corpo perfeitamente bronzeado de Neda fazia um contraste lindo com o seu vestido branco, e vi Aram sussurrar-lhe qualquer coisa ao ouvido que fez rir. Pouco depois, a maioria das pessoas tinha par e dei por mim encostada a um canto, a beber uma garrafa de Coca-Cola. Quando acabei, entretive-me a abrir outra garrafa e a encher um prato de batatas fritas. As músicas sucederam-se e comi tantas batatas fritas que me doía a barriga, mas ninguém me convidou para dançar. Gita, muito corada, dançava com Ramin, o rapaz alto do campo de basquetebol, cujas mãos subiam e desciam pelas suas costas. Olhei para o relógio: dez horas. Estava ali de pé há uma hora e, durante todo esse tempo, ninguém me dirigira uma palavra. Sentindo-me ao mesmo tempo deslocada, constrangida, incomodada e triste, só queria sair da sala.
A porta para o alpendre das traseiras estava apenas a um passo de mim. Abri-a e dei mais uma olhadela à sala - ninguém reagiu. Saí para o exterior. A meia-lua espalhara a sua luz prateada sobre o mar e o ar estava ameno. Tinha de fazer qualquer coisa. Talvez pudesse dar um mergulho. Nadar fazia-me sempre sentir melhor. Já havia nadado à noite muitas vezes. A luz do luar, o mar confundia-se com o céu e transformava-se num corpo quente e prateado de escuridão. Desci os poucos degraus que ligavam o alpendre ao quintal e comecei a desapertar o vestido, mas quando o deixei deslizar para o chão, uma voz sobressaltou-me:
- Que estás a fazer?
Ao lado de uma cadeira de jardim, num canto do quintal, encontrava-se um rapaz de pé com as mãos a tapar os olhos.
- Assustaste-me! - exclamei, enquanto o meu coração se esforçava por voltar ao ritmo normal. - Que fazes aqui escondido?
- Não estava escondido! Estava aqui sentado, nesta cadeira, a apanhar ar fresco. De repente, aparece uma rapariga que se despe à minha frente! - Ele parecia mais assustado do que eu, o que era divertido. Não parecia ter mais de dezasseis anos e continuava a tapar os olhos. - Já te vestiste?
- Qual é o teu problema? Não estou despida. Estou de fato de banho. Vou dar um mergulho.
- Estás doida?! - exclamou ele, tirando as mãos dos olhos. - Vais nadar a meio da noite, naquelas águas escuras?
- Não está assim muito escuro; há luar.
- Não, não! Vais afogar-te e eu nunca me perdoarei!
- Não me afogo.
- Não te deixo ir.
Ele aproximara-se de mim e estava agora a cerca de meio metro de distância.
- Pronto, está bem, desisto, não vou - disse eu, voltando a pôr o vestido.
Os seus olhos grandes e escuros olhavam-me por cima de maçãs do rosto ligeiramente salientes. A boca pequena, algo infantil, contrastava com o resto do rosto, de traços fortes. Tinha cerca de cinco centímetros mais do que eu e o cabelo castanho muito curto. O que me apanhou de surpresa foi o seu olhar, que me fez sentir única, especial e bonita. O seu nome era Arash.
Agora que não podia ir dar um mergulho, decidi ficar sentada fora de casa. Afundei-me numa confortável cadeira de jardim, mas estava demasiado consciente da presença de Arash. Conseguia ouvi-lo respirar. Cerca de dez minutos depois, ele levantou-se e eu dei um salto.
- Dá-te prazer assustares-me?
- Desculpa, foi sem querer. Tenho de ir andando. Não vás tomar banho, está bem?
- Está bem.
Observei-o enquanto se afastava e entrava em casa. Um minuto depois, Neda apareceu, chamou por mim e pediu-me que fosse para dentro - ia cortar o bolo.
Uns dias depois da festa, ia de bicicleta para a praia para me encontrar com Gita. Havia areia na estrada devido a umas obras e eu dei uma curva demasiado rápida. A bicicleta deslizou para um lado e caí. Consegui levantar-me, mas tinha um joelho e um cotovelo a sangrar. Eram cerca de duas da tarde e estava imenso calor, por isso a rua estava deserta. Pelo menos, ninguém me vira cair daquela maneira. Estava a tentar tirar a bicicleta da estrada, quando senti que estava alguém ao meu lado. Virei-me. Era Arash e parecia tão surpreendido quanto eu.
- Apareces sempre assim do nada? - perguntei.
- E tu, és uma temerária? - Ele riu-se e examinou os meus arranhões. - Temos de limpar isso. Aquela é a casa da minha tia - disse, apontando para a casa da esquina.
Arash pegou na minha bicicleta e segui-o. Os arranhões ardiam-me. Tinha lágrimas nos olhos, mas respirei fundo e não me queixei. Não queria que ele pensasse que eu era piegas.
- Estava sentado no alpendre, a observar a rua, quando tu apareceste a cento e cinquenta à hora e caíste! Foi uma sorte não teres partido o pescoço - observou.
Hortênsias azuis e rosas cor-de-rosa cobriam as paredes brancas da casa e os ramos verde-prateados de um enorme salgueiro roçavam contra as telhas vermelhas que cobriam o telhado.
Arash segurou a porta para eu entrar. O odor a biscoitos acabados de fazer pairava no ar.
- Avó, tenho uma visita! - gritou ele.
Uma bonita senhora de idade, com cabelo grisalho, entrou na sala vinda da cozinha. Trazia um vestido azul e limpou as mãos molhadas ao avental branco. Era muito parecida com a minha avó.
- Que aconteceu? - perguntou em russo, quando olhou para mim e viu o sangue.
Eu não podia acreditar; ela falava como a minha avó. Agarrando-me no braço, conduziu-me à cozinha enquanto Arash lhe explicava o que tinha sucedido. Até a barafustar ela se parecia com a Avó e, antes que me apercebesse, tinha a ferida limpa, desinfectada e com um penso. Pouco depois, um chá e um biscoito caseiro surgiram à minha frente na mesa.
- Serve-te, por favor - disse ela, em persa, mas com um forte sotaque russo.
- Obrigada - respondi em russo.
Os seus olhos pestanejaram de surpresa.
- Uma rapariga russa! - exclamou com um grande sorriso. - Que bom! Agora tens uma namorada! E não é uma namorada qualquer, é uma russa simpática!
O rosto de Arash ficou escarlate.
- Basta, avó! Ela não é minha namorada!
Eu ri-me.
- Digas o que disseres, estou muito contente. Que bom para ti. Vou deixar-vos a sós - disse ela, enquanto saía da cozinha, repetindo “que bom” sem cessar.
- Tens de desculpar a minha avó - disse Arash. - Ela é muito velha e às vezes fica baralhada.
- Já lhe mostraste a tua flauta? - gritou a senhora de outra divisão.
Arash mudou novamente de cor.
- Que flauta? - quis eu saber.
- Não é importante. Toco flauta para me entreter. Nada de especial.
- Nunca conheci ninguém que tocasse flauta. Queres tocar para mim?
- Pode ser - respondeu, não parecendo muito entusiasmado.
Segui-o até ao quarto, onde ele tirou uma flauta prateada de uma longa caixa preta, correndo depois os dedos ao longo do corpo do instrumento lustroso. Pouco depois, uma música triste encheu o quarto. Sentei-me na cama dele e encostei-me à parede. Arash ficou de pé à minha frente, com o corpo a acompanhar a música como se fizesse parte dela, como se lhe tivesse dado vida. O seu olhar estava fixo em frente, como se estivesse a sonhar, a ver algo que mais ninguém conseguia ver. A cortina de algodão branca dançava à frente da janela aberta, captando turbilhões de luz e de sombra. Eu não sabia que a música podia ser tão bela. Quando ele acabou de tocar, os seus olhos procuraram os meus, mas eu estava sem palavras. Descobri que fora ele próprio a compor a peça, mas era muito modesto em relação a isso. Perguntou-me se eu tocava algum instrumento musical e respondi que não. Depois perguntou-me que idade tinha e ficou chocado quando lhe disse ter treze anos - pensava que eu tinha, pelo menos, dezasseis. E eu fiquei surpreendida ao descobrir que ele tinha dezoito.
Gostava da forma como me olhava quando eu falava com ele. Reclinou-se na cadeira, apoiou um cotovelo no braço do assento, pôs a mão debaixo do queixo e sorriu, com os olhos muito atentos a mim. As pequenas pausas que fazia antes de responder às minhas perguntas faziam-me sentir que a nossa conversa lhe interessava. Perguntei-lhe se queria ir dar um passeio comigo na manhã seguinte e ele respondeu que sim.
Na manhã seguinte, a avó dele acenou-nos do alpendre da casa.
- Ela está a dar comigo em doido. Continua a achar que és minha namorada e quer que vás almoçar hoje lá a casa.
- Adorava ir, se não te importares.
Ele olhou-me com uma expressão inquisidora.
- Se o convite foi apenas ideia da tua avó e se não quiseres que eu vá, podes dizer-me.
- Claro que quero que vás.
- Ainda bem, porque quero voltar a ouvir-te tocar flauta.
Caminhámos até uma zona tranquila e retirada da praia. A distância, conseguia ver algumas pessoas deitadas na areia e outras a nadar. Ondas espumosas arqueavam-se, dobravam-se e quebravam-se à beira-mar. Descalcei as sandálias e deixei o mar passar-me por entre os dedos dos pés. A água era suave e fresca. Pedi-lhe que me falasse da sua família. Ele contou que o pai era um homem de negócios e que a mãe era doméstica. Os pais dele iam para a Europa todos os anos no Verão e ele, o irmão e a avó ficavam em casa da tia. Contou que o irmão se chamava Aram e que tinha menos dois anos do que ele.
- Deves estar a brincar. O Aram é teu irmão? - perguntei, surpreendida.
- Sim, conhece-lo?
- Bem, já o vi. Parece ser muito popular. Anda sempre por aí com os outros miúdos, mas a ti só te vi na festa da Neda. Por onde andavas escondido?
Ele disse que não era tão sociável como o irmão e que preferia ler um livro ou tocar flauta. Só tinha ido à festa da Neda porque ela era sua vizinha em Teerão e era namorada do irmão.
Arash acabara o liceu com distinção e concluíra o primeiro ano de medicina na Universidade de Teerão. Eu disse-lhe que também era boa aluna e que, tal como ele, queria estudar medicina. Convidei-o para ir tomar um banho comigo, mas ele disse que preferia ficar na areia a ler.
A avó dele, Irena, preparara um banquete para o almoço. Estava um dia lindo e ela tinha posto a mesa no quintal, debaixo do salgueiro. A mesa estava coberta por uma toalha branca impecavelmente engomada. Observei-a enquanto enchia o meu copo de limonada, com madeixas de cabelo a dançar ao sabor da brisa do mar. Ela encheu-me o prato com arroz agulha, peixe grelhado e salada, ignorando os meus protestos.
- Devias comer mais, Marina, estás muito magra. A tua mãe não te alimenta como deve ser.
Desde que Irena descobrira que eu falava russo, nunca mais se me dirigira em persa. Tal como a minha avó, era uma mulher orgulhosa e, embora soubesse falar persa, recusava fazê-lo, a menos que fosse absolutamente necessário. O meu russo estava um bocado enferrujado. Os meus pais falavam russo em casa, mas desde a morte da avó, eu negava-me a fazê-lo por acreditar que era algo especial que eu e a minha avó havíamos partilhado e que não queria partilhar com mais ninguém. Arash não falava muito melhor do que eu, por isso não me sentia muito envergonhada. Era bom falar russo novamente com Irena, que me recordava os dias da minha infância.
Depois do almoço, Irena foi descansar e Arash e eu fomos para a cozinha lavar a loiça. Enchi o lava-loiça com os pratos sujos enquanto Arash colocava os restos em recipientes de plástico e os guardava no frigorífico. Ele sabia movimentar-se na cozinha. Quando acabou de guardar os restos, pôs-se ao meu lado com um pano e, quando eu lhe passei o primeiro prato lavado, os nossos olhos encontraram-se e combati o impulso avassalador de lhe tocar no rosto.
- Tenho de dizer as minhas orações antes do pôr do Sol - disse-me Arash nessa tarde, quando estávamos sentados no seu jardim.
- Posso ficar a ver-te?
- Tens cada ideia mais estranha - disse ele. Mas concordou e eu observei-o sem dizer uma palavra. Ele virou-se para Meca e recitou os excertos do namaz. Fechou os olhos, murmurou orações em árabe, ajoelhou-se, ergueu-se e tocou com a testa na Rocha da Oração.
- Porque és muçulmano? - perguntei-lhe quando acabou.
- És a pessoa mais estranha que já conheci - disse ele, a rir, mas explicou-me que era muçulmano porque acreditava que o Islão podia salvar o mundo.
- E a tua alma?
A minha pergunta surpreendeu-o.
- Tenho a certeza de que também salvará a minha alma. Tu és cristã?
- Sou.
- Porquê? Porque os teus pais são cristãos?
Expliquei que os meus pais não eram cristãos praticantes.
- Então, porquê? - insistiu.
Apercebi-me de que não sabia exactamente a resposta. Expliquei-lhe que tinha estudado o Islão, mas que não era para mim e que não sabia porque sentia isso. Sabia provavelmente mais acerca de Maomé do que sabia sobre Jesus. Lera mais o Corão do que lera a Bíblia, mas Jesus estava, de alguma forma, mais próximo do meu coração - Jesus era como a minha casa. Arash sorria para mim. Imagino que estivesse à espera de um argumento sólido, mas eu não tinha nenhum para lhe oferecer. Para mim, era uma questão do coração.
Perguntei-lhe se os pais dele eram religiosos e ele disse que o pai era de uma família muçulmana e acreditava em Deus, mas que não acreditava em Maomé, Jesus ou quaisquer outros profetas. A sua avó, Irena, era de uma família cristã, mas não era nada religiosa, e o marido de Irena, o pai da sua mãe, que morrera alguns anos antes, nunca acreditara em Deus. A mãe de Arash era cristã e, embora nunca fosse à igreja, rezava sempre em casa. Quis saber o que achava a família dele acerca da sua crença religiosa e ele disse que nunca falhara nenhuma das suas orações diárias desde que fizera treze anos, mas que eles ainda achavam que ele estava a atravessar uma fase passageira.
Na tarde seguinte, sentei-me no exterior, nos degraus de pedra que iam dar a nossa casa, a fim de observar o pôr do Sol. As nuvens no horizonte haviam ganho uma forte tonalidade avermelhada quando o sol passara a rasar por elas. O vermelho transformou-se depois num púrpura etéreo, à medida que a noite se foi aproximando. Não conseguia parar de pensar em Arash. Sentia-me absolutamente feliz quando ele estava por perto - uma felicidade emocionante e arrebatada, que se erguia acima de tudo o mais, que fazia o resto do mundo parecer pequeno e insignificante. Fechei os olhos e escutei a noite. Ouvia o som do bater das asas dos morcegos à procura do jantar e o apito de um navio no porto. Arash lera-me alguma poesia. A sua voz suave e profunda tornava as obras de Hafez, Sadi e Rumi ainda mais mágicas do que quando as lia sozinha. Ele lia-as com segurança, como se fossem suas, como se tivesse sido ele próprio a compor cada palavra como uma melodia perfeita. Talvez isto fosse amor, talvez eu o amasse.
Queria mostrar a Arash a minha Rocha da Oração, por isso convidei-o uma manhã para ir a nossa casa.
- Porque lhe chamas Rocha da Oração? - perguntou-me quando transpusemos os portões e nos encaminhámos para lá.
- Rezei lá uma vez quando era pequena e foi uma sensação incrível, por isso continuei a voltar. Tornou-se o meu local especial.
Chegámos passado pouco tempo. Não partilhara aquilo com mais ninguém. Por um momento, perguntei-me se teria feito bem. Afinal, aquele lugar não passava de um monte de pedras cobertas de musgo.
- Achas que sou doida? - perguntei-lhe.
- Não. Acho que estás tão desesperada como eu para encontrares uma forma de te aproximares mais de Deus. A minha é a flauta, a tua é rezar nesta pedra.
- Vamos rezar juntos - sugeri. —- Talvez tu consigas sentir. E como abrir uma janela para o céu.
Trepámos os dois para a pedra, erguemos as mãos em direcção ao céu e eu recitei uma parte do Salmo 23 de David: “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos; guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum; porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.”4
- Isso é lindo! - exclamou quando eu terminei. - O que é?
Expliquei-lhe que os salmos de David eram uma parte da Bíblia. Ele nunca ouvira falar deles. Contei-lhe que a minha avó costumava ler-mos e que aquele era o meu preferido.
Sentámo-nos os dois na pedra. Ele olhava o infinito.
- Alguma vez pensaste no que nos acontece depois de morrermos? - perguntou ele.
Respondi que sim. Ele disse que a morte era um mistério que nunca poderia ser desvendado; era o único local que, se alguma vez visitássemos, não poderíamos descrever. E ninguém lhe escapava.
- Detesto quando pessoas de quem gostamos morrem. É uma dor que nunca mais passa - disse eu.
- Eu nunca perdi ninguém próximo. O meu avô morreu quando eu era pequeno, mas não me lembro de nada.
- Eu lembro-me da morte da minha avó.
Havia lágrimas nos seus olhos. Mais uma vez, apeteceu-me tocar-lhe no rosto, seguir todos os traços com os meus dedos. Queria beijá-lo. Confundida, levantei-me. Ele pôs-se de pé com um salto, à minha frente, e, por um breve momento, os seus lábios tocaram nos meus. Afastámo-nos como se tivéssemos sido atingidos por um relâmpago.
- Desculpa - disse-me.
- Porque pedes desculpa?
- É contra as leis de Deus um homem tocar assim numa mulher, a menos que sejam casados.
- Não tem importância.
- Tem, sim. Quero que saibas que gosto de ti e que te respeito. Não devia ter feito isto. Além disso, és muito mais nova do que eu. Temos de esperar.
- Estás a dizer que me amas?
- Sim, amo-te.
Não compreendi exactamente por que razão ele se sentia culpado por me ter beijado, mas sabia que tinha que ver com as suas crenças religiosas. Nesse Verão, eu vira rapazes e raparigas aos beijos em recantos tranquilos, e perguntara a mim própria qual seria a sensação. Se dependesse de mim, tê-lo-ia beijado novamente, mas não queria fazer nada incorrecto, nem aborrecê-lo. Ele era mais velho, sabia melhor o que fazia, e eu confiava nele.
Nessa noite, eu e a minha mãe dormimos em casa da tia Zenia. Acordei às seis da manhã e fui em pontas dos pés até à cozinha fazer uma chávena de chá. Com a chávena na mão, dirigi-me à sala e fiquei espantada ao encontrar a tia Zenia sentada à mesa de jantar, quase totalmente oculta por pilhas de papéis. Aproximei-me um pouco. Ela vestia uma camisa de noite de algodão cor-de-rosa com rendas, mais adequada a uma rapariga do que a uma mulher avantajada na casa dos sessenta, e estava ocupada a escrever qualquer coisa num pequeno bloco de apontamentos. Parei, sem saber se devia dizer “bom dia” ou não, pois ela parecia imersa no que estava a fazer.
- Que fazes a pé tão cedo, Marina? Estás apaixonada? - perguntou ela tão alto que quase entornei o chá.
- Bom dia, tia Zenia - tartamudeei.
- Talvez a ti te pareça um bom dia. - Foi a resposta que ela me deu, sem parar de escrever. - Vais sair?
- Vou.
- Aonde?
A minha mãe raramente me perguntava aonde eu ia.
- Por aí.
- A tua mãe sabe que sais de casa tão cedo?
- Não sei.
Ela olhou para mim com os seus olhos azuis pálidos.
- É duro, mas tu és rija. Eu estava a ficar baralhada.
- Tu não és parva. Não olhes para mim dessa maneira! Sabes bem o que quero dizer. A tua mãe e a minha filha são as duas feitas da mesma massa. Deus não estava muito atento ao Seu trabalho quando as criou. Vai buscar-me uma chávena de chá.
Virei-me e fiz o que ela me pedia. Com as mãos a tremer ligeiramente, coloquei o chá em cima da mesa, diante dela.
- Senta-te - ordenou, com os olhos a examinar-me dos pés à cabeça. - Que idade tens agora?
- Treze.
- Não perdeste a virgindade, pois não?
- Como? - murmurei.
- Óptimo - comentou ela com um sorriso.
- Conheço-te melhor do que a tua mãe. Eu olho e vejo, ela olha mas recusa-se a ver. Acho que hoje é a primeira vez que te vejo sem um livro. Queres que te diga os nomes?
- Os nomes de quê?
- Dos livros que leste.
Eu estava a transpirar.
- Hamlet, Romeu e Julieta, E Tudo o Vento Levou, Mulherzinhas, Grandes Esperanças, Doutor Jivago, Guerra e Paz e muitos outros. Diz-me, que aprendeste com tanta leitura? - perguntou.
- Muitas coisas.
- Não faças nenhuma parvoíce. Não estás envolvida nesta revolução, pois não?
- De que está a falar, tia Zenia? Que revolução?
- Estás a ver se me enganas?
Abanei a cabeça. Não fazia ideia do que ela estava a falar.
- Ainda bem que sou eu quem te explica isto, porque sei imenso sobre revoluções. Presta atenção. Uma coisa terrível está a acontecer a este país; sinto o cheiro no ar, cheira-me a sangue e a desgraça. Tem havido protestos e manifestações contra o Xá. Este Ayatollah, não me lembro do nome dele, opõe-se há anos ao governo e podes ter a certeza de que não anda a tramar coisa boa. Vai cair uma ditadura e outra pior irá substituí-la, como aconteceu na Rússia, só que desta vez com um nome diferente; e será mais perigosa porque esta revolução se esconde atrás do nome de Deus. As pessoas instruídas seguem agora esse Ayatollah. Até a Marie e o marido gostam dele. A minha própria família. Ele está actualmente no exílio, mas isso não o deteve. Afasta-te dele. Ele diz que o Xá é demasiado rico. O Xá é o Xá. Não é perfeito, mas há alguém que o seja? O Ayatollah diz que há demasiados pobres no Irão. Mas há pobres por todo o lado. Não te esqueças do que aconteceu na Rússia. Mataram o Czar, e achas que agora estão melhor? Achas que na Rússia as pessoas são todas livres, ricas e felizes? O comunismo não é a resposta para os problemas sociais, tal como a religião também não o é. Compreendes o que estou a dizer?
Assenti com a cabeça, confusa e chocada, e ela recomeçou a escrever no bloco de apontamentos.
Mais tarde, nessa manhã, quando eu e Arash nos preparávamos para o nosso passeio, Aram chamou-nos do alpendre e perguntou-nos aonde íamos.
- Porque queres saber? - perguntou Arash.
Aram disse que estava aborrecido e que queria ir connosco. Arash mandou-o voltar para a cama, mas ele insistiu em ir e acabámos por ceder. Ao caminharmos em direcção à praia, Aram perguntou o que Arash e eu andávamos a fazer juntos o dia inteiro, todos os dias. Isto irritou Arash e provocou uma discussão entre os dois, o que me fez rir.
Na praia, Aram veio tomar banho comigo, mas Arash não gostava da água e ficava sempre a ler enquanto eu nadava. Ao observá-lo da água, percebi que ele não estava a prestar grande atenção ao livro. Olhava-me a mim e a Aram.
Arash passou o resto do dia em silêncio. Ao fim da tarde, fomos para o quarto dele e eu fiquei a ouvi-lo tocar flauta. Fechei os olhos. Ele parou subitamente a meio da sua peça favorita. Abri os olhos e fitei-o, surpreendida.
- Que foi? - perguntei.
- Nada.
Baixou os olhos, evitando o meu olhar.
- Diz-me, Arash, que se passa?
Ele sentou-se na cama ao meu lado.
- Amas-me mesmo?
- Amo. Diz-me, passa-se alguma coisa?
- Parecias tão feliz com o meu irmão hoje. Estavas a divertir-te, e eu pensei que talvez... Não sei...
- Pensaste que eu sentia alguma coisa por ele.
- Sentes?
- Achei que me conhecias melhor. Ele é divertido, mas não é o meu género.
- Que queres dizer com “o teu género”?
- Tu és o meu género e ele não. É tudo. Não amo o teu irmão, amo-te a ti.
- Desculpa. Não sei o que me deu. O Aram sempre foi muito popular. As raparigas gostam dele. Não quero perder-te.
- Não me vais perder.
Ele não parecia ainda muito contente.
- Não acreditas em mim? - perguntei.
- Acredito.
Ele ergueu-se e foi até à janela. Estava um dia ventoso e as ondas rugiam, abafando todos os outros sons. De repente, ele disse que tinha uma coisa muito importante para me dizer. Não fazia ideia do que havia de esperar. Disse-me que havia um grande movimento contra o Xá, que se preparava uma revolução e que houvera muitos protestos e muitas detenções. Eu retorqui que a tia Zenia me falara da revolução nessa mesma manhã.
Perguntei-lhe porque tinha de haver uma revolução contra o Xá e ele explicou que o Xá, a sua família e o governo eram todos corruptos. Todos os dias ficavam mais ricos, enquanto a maioria do povo iraniano lutava contra a pobreza. Contei-lhe que a tia Zenia achava que ia acontecer no Irão o mesmo que acontecera na Rússia.
- A revolução na Rússia não teve as bases certas; o comunismo era a resposta errada para os problemas deles. Os dirigentes deles não acreditavam em Deus e depressa se tornaram, eles próprios, corruptos - replicou Arash.
- Então, como podes ter a certeza de que quem quer que substitua o Xá venha a ser melhor?
Ele perguntou-me se já tinha ouvido falar do Ayatollah Khomeini.
- A minha tia falou-me de um Ayatollah, mas não se lembrava do nome dele. Quem é Khomeini?
Ele informou-me que Khomeini era um homem de Deus e que havia sido exilado pelo Xá. O Ayatollah queria que o povo do Irão vivesse segundo as leis do Islão. Queria que as riquezas do país fossem partilhadas por todos e não apenas entre um pequeno grupo. Dirigia há muitos anos o movimento contra o Xá.
Eu disse a Arash que tinha um mau pressentimento em relação a esta revolução. Tanto quanto sabia, nem a minha família nem a dele eram ricas. Os nossos pais não tinham cargos importantes no governo, mas nós tínhamos vidas confortáveis. Recebíamos uma educação boa e gratuita e ele ia frequentar a universidade para se tornar médico. Para que precisávamos de uma revolução?
- Não se trata apenas de nós, Marina - contrapôs ele exaltado. - Trata-se das pessoas que vivem na pobreza. O governo faz toneladas de dinheiro a vender petróleo, que pertence ao povo do Irão, e grande parte deste dinheiro acaba nas contas pessoais do Xá e dos funcionários do seu governo. Sabias que, durante anos, as pessoas que criticaram o Xá e o governo foram presas pela SAVAK, a polícia secreta, e foram torturadas e até mesmo executadas?
- Não.
- Pois é a verdade.
- Como sabes isso tudo?
- Conheci alguns desses presos políticos. Fazem-lhes coisas horríveis na prisão, coisas que, só de ouvir, nos dão a volra ao estômago.
- Isso é horrível! Não fazia ideia.
- Bem, agora já sabes.
Quis saber se os pais dele estavam a par de que ele apoiava a revolução e ele respondeu que não lhes podia contar porque eles não compreenderiam.
- Muitas pessoas morrem nas revoluções - atalhei.
- Não vai haver problema comigo. Tens de ser corajosa, Marina.
Eu estava preocupada - não queria que lhe acontecesse nada de mal.
Uma sensação gelada percorreu-me. Ele segurou-me nas mãos.
- Marina, não te preocupes, por favor. Eu fico bem. Prometo. Tentei acreditar nele. Tentei ser corajosa. Afinal, tinha treze anos.
Durante o resto do Verão, não me envolvi em mais discussões políticas com Arash. Queria esquecer a revolução; talvez não viesse a ter lugar. Arash tocava a sua flauta para mim todos os dias, dávamos longos passeios a pé e de bicicleta na praia, e líamos poesia sentados no baloiço do seu jardim.
Ele teve de partir para Teerão duas semanas antes de mim. Eu e a minha mãe regressávamos normalmente a Teerão no início de Setembro, o que me dava tempo para preparar tudo para a escola, que começava a 21 de Setembro, o primeiro dia do Outono. Vi Arash partir de casa da sua tia no Paykan branco do pai, com a avó sentada no banco do passageiro e o irmão no banco de trás. Todos me disseram adeus e eu acenei também até os perder de vista.
Cheguei a Teerão na quinta-feira, 7 de Setembro, e telefonei imediatamente a Arash. Decidimos encontrar-nos numa livraria no dia nove, às dez da manhã.
No dia nove, acordei antes do nascer do sol. Sentia-me ansiosa e fui até à minha varanda. A essa hora, a rua, habitualmente buliçosa, estava deserta e a brisa suave agitava as folhas poeirentas dos aceres. Apetecia-me ligar a Arash e dizer-lhe que viesse mais cedo, mas era uma loucura. Tinha de esperar. De repente, ouvi um barulho estranho, um som sibilante. Olhei fixamente na escuridão. Do outro lado da rua algo se moveu. Olhei com mais atenção. Uma figura escura avançou para a luz de um candeeiro de iluminação pública e começou a escrever qualquer coisa na parede de tijolo de uma loja com uma lata de tinta em spray. Alguém gritou “Pára!”, mas não percebi de onde vinha a voz, pois a palavra ecoou entre os edifícios. A figura escura começou a correr. Ouvi um som estridente, semelhante a um trovão. A figura desapareceu na esquina e surgiram as sombras de dois soldados armados. Corri para dentro.
Depois de o sol nascer, voltei à varanda. A parede cinzenta de tijolo do outro lado da rua estava coberta com enormes palavras vermelhas: “Abaixo o Xá”.
Cheguei à livraria uns minutos antes da hora e comecei a esquadrinhar as prateleiras. As dez e quinze olhei em volta; Arash nunca se atrasava. Eu consultava o relógio constantemente. Sempre que a porta se abria e alguém entrava, um lampejo de esperança iluminava-me o coração - mas ele não aparecia. Esperei até às onze e continuei a dizer a mim mesma que estava tudo bem, que ele estava bem, que devia estar preso no trânsito ou que talvez o carro tivesse avariado.
Voltei a pé para casa, fui directa ao telefone e liguei para casa de Arash. Aram atendeu o telefone e, pela forma como disse “Estou”, percebi que qualquer coisa tinha acontecido. Disse-lhe que Arash devia ter ido ter comigo à livraria, mas que não aparecera.
- Onde está ele, Aram? - perguntei o mais calmamente que pude.
Aram disse que não sabia. Arash saíra na manhã anterior e devia ter regressado no mesmo dia para jantar, mas nunca mais voltara. Os pais tinham telefonado a toda a gente, mas ninguém sabia onde ele estava. Nesse dia, tinha havido uma grande manifestação de protesto contra o Xá. Tivera lugar na Praça Jaleh e fora organizada por apoiantes de Khomeini. O exército abrira fogo contra a multidão e muitas pessoas tinham sido feridas. Um dos amigos de Arash acabara de dizer ao pai dele que tinham ido juntos à Praça Jaleh, mas que se tinham separado. Os pais de Arash tinham telefonado para todos os hospitais de Teerão. O pai até fora a Evin, mas não o conseguira encontrar.
- Fazem coisas horríveis aos presos políticos, coisas que, só de ouvir, nos dão a volta ao estômago - afastei o pensamento e obriguei Aram a prometer-me que me telefonava assim que soubessem alguma coisa.
Uma distância vazia e fria insinuou-se entre mim e o quarto em que estava, como se a própria vida me tivesse repelido. O ruído abafado dos carros que avançavam ao longo da rua tornou-se estranho e pouco familiar. Eu conhecia essa dor. Era sofrimento puro.
Na manhã seguinte, toquei à campainha da casa de Arash e fiquei à espera. Aram abriu a porta. Abraçámo-nos e nenhum de nós conseguia largar o outro. Abri os olhos e vi Irena a olhar para nós. Tinha de ser forte. Larguei Aram e abracei Irena. Depois, ajudei-a a ir até à sala e a sentar-se no sofá. O pai de Arash entrou e Aram apresentou-nos. Arash era muito parecido com o pai.
- Obrigado por teres vindo - disse o pai de Arash. - O Arash falou-me muito de ti. É pena não nos termos conhecido em circunstâncias mais agradáveis.
Sentei-me ao lado de Irena e segurei-lhe na mão. A mãe de Arash entrou, e eu levantei-me e beijei-a na cara. O seu rosto estava frio e tinha os olhos inchados. Havia retratos de família por todo o lado. Eu não tinha nenhuma fotografia de mim e de Arash juntos.
Pedi a Aram que me mostrasse o quarto do irmão. Era muito simples. Não tinha fotografias nem cartazes na parede. A caixa preta da flauta estava em cima da secretária e, ao lado, encontrava-se um pequeno guarda-jóias. Aram pegou-lhe e entregou-mo.
- Ele comprou isto para ti há uns dias - disse ele.
Abri a caixa. Lá dentro estava um belo colar de ouro. Fechei a caixa e voltei a colocá-la em cima da secretária.
- Encontrei uma carta numa das gavetas da secretária dele. Não queria andar a vasculhar nas suas coisas, mas tive de procurar, para ver se tinha deixado pistas sobre o sítio onde estava - explicou Aram, entregando-me uma folha de papel.
Reconheci a letra de Arash. A carta era dirigida aos pais, à avó, ao irmão e a mim. Ele escrevera que acreditava que tinha de lutar pelo que sabia estar certo. Tinha de fazer qualquer coisa contra o que considerava errado. Explicava que tinha feito tudo o que podia para apoiar o movimento islâmico contra o Xá, e que estava bem ciente de que aquilo em que estava envolvido era perigoso. Dizia que nunca fora muito corajoso, mas que sentia agora ter posto o medo de lado e que tinha consciência de que podia perder a vida pelas suas convicções. No final, recordava que, se estivéssemos a ler a sua carta, era porque ele provavelmente estava morto, e pedia-nos perdão e desculpa por nos fazer sofrer.
Olhei para Aram.
- Os meus pais não sabiam que ele estava envolvido nesta estúpida revolução, mas eu sabia - disse ele. - Tentei demovê-lo. Mas sabes como ele é; nunca liga ao que eu digo. Eu sou o irmão mais novo que não sabe nada.
Sentei-me na cama de Arash e devolvi a carta a Aram. Peguei numa T-shirt azul que se encontrava sobre a almofada de Arash. Era uma das suas preferidas e ele tinha-a usado muitas vezes naquele Verão. Cheirei-a; ainda tinha o cheiro dele. Imaginei vê-lo entrar no quarto, com o seu sorriso caloroso, e ouvi-lo dizer o meu nome na sua voz doce e suave.
Vira o noticiário na noite anterior e não houvera qualquer menção à manifestação na Praça Jaleh. Contudo, todos os canais de televisão eram controlados pelo estado e haviam ignorado a maioria dos acontecimentos e das mortes. Não compreendia por que razão o Xá havia de ordenar ao exército para disparar sobre as pessoas. Porque não dera ouvidos aos pedidos dos manifestantes e porque não dialogara com eles?
Fui até à janela, olhei para fora e pensei se Arash teria alguma vez pensado em mim, de pé à janela, enquanto observava a rua silenciosa. Aram estava ao meu lado, olhando lá para fora, e o meu coração encheu-se de pesar por ele. Apesar de muito diferentes, ele e o irmão eram muito chegados.
Na sala, uma fotografia dos dois chamou-me a atenção: dois rapazinhos, talvez com sete ou nove anos, com os braços nos ombros um do outro, a rir.
- Esta noite é a vez do nosso edifício ter água quente - disse-me Sarah. Era a minha primeira noite no 246. Ela explicou-me que tínhamos água quente apenas uma vez todas as duas ou três semanas, e apenas durante duas ou três horas. A vez do nosso dormitório usar os duches devia ser por volta das duas da manhã. - Cada pessoa tem dez minutos para tomar duche. Eu acordo-te - disse ela.
Eram horas de dormir. As luzes dos dormitórios eram apagadas todas as noites às onze horas, mas as luzes do corredor permaneciam sempre acesas. Sarah apresentou-me à rapariga encarregada das “camas”. Cada uma de nós recebia três cobertores. Toda a gente dormia no chão lado a lado, cada pessoa num local preestabelecido, que ocasionalmente era trocado. Havia tantas raparigas que até os corredores eram usados para dormir. Fiquei num lugar da camarata perto de Sarah. Dobrei um dos meus cobertores em três e usei-o como colchão, o segundo fazia de almofada e o terceiro era para me cobrir. Quando toda a gente estava deitada, não sobrava mais espaço. Ir à casa de banho a meio da noite era um desafio, pois era quase impossível lá chegar sem pisar alguém. No tempo do Xá, o 246, o piso de cima e o piso de baixo tinham, todos juntos, cinquenta e tal prisioneiros no total. Agora, o número rondava os 650.
Sarah acordou-me como havia prometido. Ao princípio, fiquei desnorteada e não sabia onde estava. Apercebi-me de que não estava na minha cama, em casa. Encontrava-me em Evin. O som da água que vinha dos duches misturava-se com as vozes das raparigas. Sarah ajudou-me a levantar e avancei a coxear. A sala dos duches tinha paredes e chão de cimento, que haviam sido pintados de um verde-escuro, e era dividida por grossas cortinas de plástico em seis espaços diferentes. Cada espaço era partilhado por duas raparigas durante dez minutos. O ar estava saturado de vapor e cheirava a sabão barato. Esfreguei a pele e chorei.
A partir do momento em que tirei a venda, na noite das execuções, a minha vida mudara completamente. Tinha passado por muitas experiências intensas antes dessa noite, mas haviam deixado intacta a essência da minha vida. Perdera entes queridos, fora detida e torturada, mas nessa noite viajara longe demais. A minha vida neste mundo acabara, mas eu continuava viva. Talvez essa fosse a linha que separava a vida e a morte. E eu não pertencia a nenhum dos lados.
Depois do duche, voltámos aos nossos lugares de dormir. O espaço era tão exíguo que se me deitasse de costas incomodava as minhas vizinhas; por isso virei-me para Sarah e mantive os joelhos o mais esticados possível. Sarah abriu os olhos e sorriu.
- Marina, não quero ser desagradável e sei que pode parecer idiota, mas estou contente por estares aqui comigo. Antes de chegares sentia-me muito só.
- Eu também fico contente por não estares só.
Ela fechou os olhos e eu fechei os meus. Queria falar-lhe da noite das execuções, mas não consegui. Não havia palavras para o descrever. E não queria contar-lhe da minha sentença de prisão perpétua, pois isso só a iria perturbar. Iriam mesmo manter-me em Evin para sempre? Isso significava que nunca mais abraçaria a minha mãe, que nunca mais veria André, nem iria à igreja, nem voltaria a ver o mar Cáspio. Não, eles queriam apenas assustar-me, fazer-me sentir desesperada. Tinha de rezar longa e arduamente. Tinha de rogar a Deus que me salvasse. Não apenas a mim, mas também a Sarah. Em breve voltaríamos para casa.
Parecia que estávamos deitadas apenas há alguns minutos quando o som do muezim encheu o quarto através dos altifalantes - Allaho akbar. Allaho akbar... Estava na hora do namaz àz manhã, que devia ser pronunciado antes do amanhecer. Sarah e a maioria das raparigas levantaram-se e dirigiram-se para a casa de banho, para o ritual do vozoo, a lavagem das mãos, dos braços e dos pés, que tinha de ser realizado antes do namaz. Eu podia finalmente deitar-me de costas. Alguém me tocou no ombro e abri os olhos. Era Soheila.
- Não te levantas para o namaz?- perguntou.
- Sou cristã - expliquei com um sorriso.
- És a primeira cristã que vejo aqui! Nós tínhamos... Quer dizer, temos vizinhos cristãos. Vivem na porta ao lado. O apelido deles é Jala-lian. Sou amiga da filha deles, a Nancy. Uma vez convidaram-nos para ir lá a casa beber café turco. Conheces os Jalalian?
Respondi que não.
Ela pediu desculpa por me acordar e perguntou se os cristãos rezavam. Eu expliquei que sim mas, ao contrário dos muçulmanos, não tínhamos horas específicas para dizer as orações.
As sete da manhã tínhamos de limpar a sala. Fiquei surpreendida com a velocidade com que isso era feito e com a rapidez com que a torre de cobertores dobrados se amontoava num canto. As duas raparigas encarregadas das tarefas à hora das refeições estendiam no chão capas de plástico fino, chamadas sofreh, com cerca de quarenta e cinco centímetros de largura, e distribuíam colheres de metal, e pratos e canecas de plástico. Não tínhamos garfos nem facas. Depois, as duas raparigas iam ao átrio e regressavam com uma grande vasilha de metal cilíndrica que continha chá. A vasilha era muito pesada; cada uma delas segurava numa asa e transportavam-na para a sala com a respiração ofegante. Também levavam a nossa ração de pão e queijo feta. Fazíamos uma fila, recebíamos a comida, sentávamo-nos em torno do sofreh e comíamos. Eu estava esfomeada e engoli comida em segundos. O pão estava bastante fresco. Disseram-me que a prisão tinha uma padaria própria. O chá estava quente, mas tinha um cheiro estranho, e Sarah disse-me que era porque os guardas lhe adicionavam sempre cânfora. Ela ouvira dizer que a cânfora interrompia a menstruação nas mulheres; a maioria das raparigas nunca tinha o período. Mas a cânfora tinha efeitos secundários, fazia com que o corpo inchasse e provocava depressão. Perguntei-lhe porque queriam os guardas que não tivéssemos menstruação e ela disse que era por os pensos higiénicos serem caros. Depois da refeição, as duas raparigas encarregadas de lavar a loiça colocavam os pratos sujos dentro de alguidares de plástico, levavam-nos para os duches e lavavam-nos com água fria.
Depressa aprendi as diversas regras. Não podíamos transpor as portas gradeadas ao fundo do corredor a menos que as Irmãs nos chamassem pelos altifalantes. Normalmente, isso só acontecia se tivéssemos de ser submetidas a novo interrogatório ou durante as visitas. As visitas eram uma vez por mês e faltavam quinze dias para a seguinte. Sarah não tivera ainda nenhuma visita, mas tinha esperança de que os pais fossem autorizados a vê-la em breve. Descobri também que apenas os membros mais próximos da família tinham autorização para fazer visitas, e que nos podiam levar roupa. Em cada sala havia um televisor, mas os programas eram estritamente religiosos. Tínhamos livros, mas eram todos sobre o Islão.
Habitualmente, o almoço era uma pequena quantidade de arroz ou sopa, e para o jantar tínhamos pão e tâmaras. Devia haver galinha misturada no arroz e na sopa, mas quem encontrasse o mais ínfimo pedaço de carne na comida era considerado muito afortunado e mostrava-o às amigas. A representante de cada sala, que era por vezes escolhida pelas raparigas e, outras vezes, nomeada pelos guardas, organizava a distribuição da comida, as tarefas de limpeza e comunicava qualquer problema ou doença grave aos funcionários.
Uma vez, cerca de dez dias após a minha detenção, sentei-me num canto da sala a observar as raparigas fazer as suas orações do meio-dia.
Sentavam-se em filas, viradas para Meca. A primeira vez que vira uma oração muçulmana de perto fora quando observara Arash a dizer o namaz em casa da sua tia. Adorava vê-lo curvar-se, ajoelhar-se e murmurar todas as coisas em que acreditava tão fervorosamente. Teria ele aprovado este novo governo e todas as coisas horríveis que eram feitas em nome de Deus? Não. Arash era bom e meigo - nunca teria aceitado tal injustiça. Talvez tivéssemos acabado os dois em Evin.
Sobressaltei-me quando uma das minhas companheiras de cela me chamou. Era Taraneh, uma rapariga frágil e magra de vinte anos, com cabelo curto e grandes olhos cor de âmbar. Passava a maior parte do tempo sentada a um canto, a ler o Corão. Sempre que se levantava para a oração, puxava o chador sobre o rosto. Quando voltava a tirá-lo, tinha os olhos vermelhos e inchados, mas estava sempre a sorrir.
- Por muito tempo, parecias uma estátua. Nem sequer estavas a piscar os olhos - disse ela.
- Estava a pensar.
- Em quê?
- Num amigo que morreu.
Perguntei-lhe porque tinha sido presa, ao que ela respondeu:
- É uma longa história.
- Bem, acho que temos imenso tempo pela frente - disse eu.
- Eu não - retorquiu ela.
Fui tomada por uma sensação de pavor. Sarah dissera-me que duas raparigas da nossa sala tinham sido condenadas à morte, mas que Taraneh não era uma delas.
- Mas a Sarah disse-me...
- Ninguém sabe - murmurou.
- Porque não disseste a ninguém?
- Para quê? Não me largariam, cheias de pena de mim. Odeio isso. Por favor, não contes a ninguém.
- Porque me contaste a mim?
- Tu não estiveste para ser executada?
O meu coração afundou-se. Não podia mentir-lhe. Reuni toda a minha força e contei-lhe da noite das execuções e como Ali me tinha levado no último instante. Ela perguntou por que razão me tinha Ali salvo e respondi-lhe que não sabia. Depois, passou ao que realmente queria perguntar-me.
- Ele alguma vez te tocou?
- Não, que queres dizer?
- Sabes bem. Os homens não podem tocar nas mulheres a menos que sejam casados.
- Não!
- Isso é estranho.
- O quê?
- Ouvi umas coisas.
- Que coisas?
- Umas raparigas disseram-me que tinham sido violadas e que as tinham ameaçado de serem executadas se contassem a alguém.
Eu apenas tinha uma vaga ideia do que significava ser violada. Sabia que era uma coisa terrível, algo que um homem podia fazer a uma mulher, algo de que ninguém devia nunca falar. E, embora quisesse saber mais, não me atrevia a perguntar.
- E antes de te levarem para o local da execução? Não te tocaram nessa altura? - perguntou Taraneh.
- Não!
Ela pediu desculpa por me ter afligido. Tentei não chorar. Contei-lhe como havia sido doloroso ter sobrevivido quando os outros tinham morrido. Ela disse que, para eles, nada teria mudado se eu também tivesse morrido.
- Como sabias da sentença de morte? - perguntei.
- Quando entraste, tinhas o teu nome escrito na testa.
Não compreendi.
- Depois de me terem prendido, espancaram-me durante dois dias, mas eu não colaborei - explicou. - Depois, o meu interrogador arras-tou-me uma noite para o exterior e arrancou-me a venda... Havia corpos... cobertos de sangue. Tinham sido executados... dez ou doze pessoas. Vomitei. Ele disse-me que me aconteceria a mesma coisa se não falasse. Tinha uma lanterna e apontou-a ao rosto de um dos mortos. Era um rapaz novo. Tinha o nome escrito na testa. Mehran Kabiri.
Embora eu soubesse que o que acontecera na noite das execuções era muito real, lidava com as minhas memórias como se fossem um pesadelo. Empurrara-as para o mais longe possível. Contudo, agora elas tinham regressado. A minha respiração tornou-se pesada. O que testemunhara naquela noite podia acontecer a Taraneh. E não havia nada que eu pudesse fazer.
Taraneh disse-me que tinha ouvido que, antes de executarem as raparigas, os guardas as violavam, pois acreditavam que as virgens iam para o céu quando morriam.
- Eles podem matar-me se quiserem, Marina - disse ela. - Mas não quero ser violada.
Na nossa sala havia uma mulher grávida chamada Sheida. Tinha cerca de vinte anos e fora condenada à morte, mas a sua execução havia sido adiada, pois executar uma grávida ou uma mulher a amamentar ia contra as leis do Islão. Ela tinha cabelo castanho-claro comprido e olhos castanhos. O seu marido também aguardava execução. Nunca a deixávamos sozinha para evitar que se preocupasse demasiado. Pelo menos duas raparigas faziam-lhe companhia a maior parte do tempo. Mas embora ela estivesse sempre calma, de vez em quando rolavam-lhe lágrimas silenciosas pelo rosto. Eu imaginava como devia ser difícil inquietar-se, não apenas consigo própria, mas também com o marido e com o bebé por nascer.
Uma noite, acordámos com o som de armas a disparar. Todas as raparigas se sentaram nas camas e olharam para a janela. Cada bala era uma vida perdida, um último suspiro, um ente querido apartado, enquanto uma família esperava e esperava que ele regressasse a casa. Seriam enterrados em campas anónimas e os seus nomes não seriam gravados na pedra.
- Sirus... - murmurou Sarah.
- O Sirus está bem. Eu sei que ele está bem - menti.
Os olhos escuros de Sarah eram como uma miragem na escuridão. Ela meçou a soluçar, e os seus soluços tornaram-se cada vez mais altos. Pus braços à sua volta e apertei-a. Ela afastou-me e começou a gritar.
- Chiu... Sarah! Respira fundo - disseram algumas raparigas, que se aproximaram, tentando acalmá-la.
Sarah começou a dar socos na cabeça. Tentei segurar-lhe os pulsos, mas ela era surpreendentemente forte. Foram precisas quatro de nós para a segurar, mas ela continuava a debater-se. As luzes acenderam-se e, um minuto depois, a Irmã Maryam e outra guarda, a Irmã Masoomeh, entraram de rompante na camarata.
- Que se passa? - perguntou a Irmã Maryam.
- É a Sarah - explicou Soheila. - Estava a chorar e aos gritos, e começou a bater a si própria com imensa força.
- Chama a enfermeira! - exclamou a Irmã Maryam à Irmã Masoomeh, que saiu a correr da sala.
A enfermeira chegou em menos de dez minutos e deu uma injecção no braço de Sarah. Pouco depois, Sarah parou de se debater e perdeu os sentidos. A Irmã Maryam disse que Sarah tinha de ser levada para o hospital da prisão para não se magoar. As Irmãs e a enfermeira colocaram-na sobre um cobertor e levaram-na. A sua pequena mão balouçava, suspensa, de um dos lados do cobertor. Pedi a Deus que não a deixasse morrer. A família dela tinha esperança que ela voltasse a casa, da mesma forma que a família de Arash esperara o seu regresso.
Ficámos todos à espera de que Arash voltasse para casa, embora soubéssemos que isso não iria acontecer.
Na tentativa de controlar o país, o Xá substituía um primeiro-minis-tro por outro, fazia discursos e dizia às pessoas que as ouvia clamar por justiça e que ia introduzir mudanças. Mas tudo isso era inútil. Cada vez havia mais manifestações e protestos contra ele e, à medida que o ano lectivo de 1978/79 prosseguia, toda a gente se sentia preocupada e insegura em relação ao futuro. O mundo no qual eu tinha crescido e as regras segundo as quais tinha vivido e em que tinha acreditado estavam a desmoronar-se. Eu detestava a revolução, que tinha provocado violência e derramamento de sangue, e estava certa de que aquilo era apenas um começo. Não tardou a ser decretado o recolher obrigatório, e soldados e camiões militares começaram a aparecer a cada esquina. Eu era uma estranha na minha própria vida.
Um dia, a casa onde morávamos foi abalada por um rugido profundo que se ia tornando cada vez mais intenso e que me penetrou nos ossos. Olhei pela janela e vi um tanque a passar na rua. Isso aterrorizou-me, pois não sabia que os tanques eram tão monstruosos e faziam tanto barulho. Quando desapareceu, reparei que as rodas tinham deixado marcas profundas no asfalto.
As semanas passavam e o medo ia aumentando. Muitos daqueles que tinham cargos importantes no governo ou no exército abandonaram o país. Finalmente, no final de 1978, as escolas foram fechadas. Era um Inverno frio e devido às greves nas refinarias de petróleo e à insegurança política e económica, havia falta de combustível para os carros e para aquecimento, de modo que só conseguíamos aquecer uma divisão. As filas nas bombas de gasolina prolongavam-se por quilómetros e as pessoas tinham de passar a noite nos carros, à espera da sua vez para atestarem o depósito. Eu ficava em casa sozinha, sem nada para fazer durante o dia inteiro a não ser tiritar, espreitar pela janela e preocupar-me. A nossa rua, a Avenida do Xá, em geral congestionada devido ao trânsito, estava agora deserta durante a maior parte do tempo. Os passeios, dantes cheios de pessoas a passear, a ver as montras ou a regatear com os vendedores, estavam vazios. Até os mendigos tinham desaparecido. De vez em quando surgiam grupos de dez ou vinte homens, que deitavam fogo a pneus e escreviam “Morte ao Xá” e “Viva Khomeini” nas paredes, deixando o ar espesso de fumo e de cheiro a borracha queimada. Era frequente as ruas encherem-se de manifestantes irados - homens à frente, seguidos por mulheres com chadores negros. De punhos no ar, gritavam palavras de ordem contra o Xá e os Estados Unidos e brandiam estandartes com imagens do Ayatollah Khomeini.
Uma vez por semana eu ia visitar Aram e a família. Tendo em conta que balas perdidas haviam ferido e matado muita gente, percorria a rua tão rente às paredes quanto podia, a fim de evitar confrontos com manifestantes ou soldados. Quando entrava no autocarro, tentava sentar-me num canto seguro. Aram ficava paranóico por eu andar na rua - era raro ele pôr o pé fora de casa e tinha-me suplicado que fizesse o mesmo, mas eu explicara-lhe que era provável morrer ainda mais depressa vitimada pelo tédio de estar fechada. Ele pediu-me que, pelo menos, lhe telefonasse antes de sair de casa.
- De que serve telefonar-te antes de partir? - perguntei.
- Assim, se não apareceres à hora, poderei fazer qualquer coisa.
- Fazer o quê?
Ele fitou-me com uma expressão de perplexidade.
- Sair para ir à tua procura.
- Onde?
Quando vi a expressão magoada do seu olhar, apercebi-me de como havia sido cruel. Ele estava preocupado comigo e não queria que a história se repetisse.
Peguei-lhe na mão.
- Desculpa, Aram! Perdoa-me! Não sei qual é o meu problema. Sou tão estúpida! Não sei onde tinha a cabeça. Eu telefono-te, prometo.
Ele esboçou um sorriso hesitante.
Só para a manter ocupada, pedi a Irena que me ensinasse a tricotar. Quando a visitava, ficávamos todos sentados na sala de estar, a beber chá e, uma vez que a televisão e as estações de rádio eram censuradas, ouvíamos a BBC para saber o que estava a acontecer no nosso país. Por vezes, o ribombar de disparos à distância levava-nos a interromper o que estávamos a fazer e ficar à escuta. Irena era muito frágil e a mãe de Aram, a cada semana que passava, parecia mais magra. O pai, que tinha quarenta e seis anos, parecia muito mais velho. Ficara com o cabelo grisalho e com a testa sulcada por rugas profundas.
Sarah e eu falávamos ao telefone quase todos os dias e às vezes eu ia a casa dela ou ela à minha. Ao contrário dos meus pais, os dela eram a favor da revolução e tinham assistido a alguns comícios, embora nunca tivessem levado os filhos. Sarah dizia que a mãe usava um chador preto quando ia a manifestações. Era-me muito difícil imaginar a mãe dela de chador, pois era uma das mulheres mais bem vestidas que eu conhecia. Sarah contou-me que Sirus estava a planear um dia sair de casa sub-repticiamente, para ir a um comício e que ela lhe tinha pedido para a levar, mas que o irmão recusara, afirmando que ela era demasiado jovem e que era perigoso. Supliquei a Sarah que não fosse, recordando-lhe o desaparecimento de Arash, mas ela afirmou que as pessoas tinham de deixar de ter medo e que era preciso combater o Xá que tinha usado o dinheiro do petróleo do nosso país para aumentar a sua riqueza pessoal, construir palácios, dar festas faustosas e pôr enormes somas de dinheiro nas suas contas pessoais em países estrangeiros. E que mandara aprisionar e torturar os que o tinham criticado.
- Também tens de vir - disse-me Sarah. - Pelo Arash. O Xá é um ladrão e um assassino e temos de nos livrar dele.
Um dia, um grupo de pessoas a gritar “Abaixo o Xá” irrompeu pelo pequeno restaurante por baixo da nossa casa. Partiram os vidros de todas as janelas, levaram todas as latas de cerveja e outras bebidas alcoólicas que encontraram, puseram-nas no meio do cruzamento e deitaram-lhes fogo. As latas de cerveja explodiram, fazendo estremecer as nossas janelas. Eu conhecia muito bem os donos do restaurante - eram uma família arménia e éramos vizinhos há anos. Não sofreram danos físicos durante o incidente, mas ficaram muito assustados.
Aos poucos, a presença dos militares nas ruas foi-se tornando menos visível. Toda a gente dizia que isso se devia ao facto de o Xá ter finalmente percebido que o uso de força só iria alimentar a revolução. As pessoas também acreditavam que muitos soldados tinham começado a recusar cumprir as ordens de abrir fogo sobre os manifestantes. Agora, embora por vezes passassem camiões militares, nunca via soldados de armas apontadas para as multidões de manifestantes.
Os meus pais não pareciam muito preocupados com o que se passava no país. Não tomavam muito a sério o movimento islâmico e acreditavam que se estava apenas a atravessar um período conturbado e não uma revolução e que o Xá era demasiado poderoso para ser dominado por uns quantos mullahs e sacerdotes. Por isso, embora a minha mãe estivesse sempre a avisar-me para ter cuidado quando saía de casa, dizia que as nuvens negras não iriam tardar a passar.
O Xá foi forçado a partir para o exílio e deixou o Irão em Janeiro de 1979. Os presos políticos foram libertados. Houve festejos em todas as ruas. Fiquei a ver da janela as pessoas a dançarem e os carros a buzinarem. Depois, após um longo exílio na Turquia, no Iraque e em França, Kho-meini regressou ao país em Fevereiro. O avião em que viajava já se encontrava próximo de Teerão quando um repórter lhe perguntou o que sentia, agora que estava a regressar. A resposta dele foi que não sentia nada. As suas palavras causaram-me aversão e provocaram-me uma sensação de náusea. Muitos tinham perdido a vida a fim de preparar o caminho para o seu regresso e de tornar o Irão um país melhor, e ele não sentia nada? Era como se lhe corresse nas veias água fria em vez de sangue quente. Logo a seguir ao regresso de Khomeini, ouvi que o exército continuava a ser leal ao Xá. Ainda havia nas ruas tanques e camiões militares. Durante cerca de um mês o futuro do país foi completamente incerto. Governos militares de emergência controlavam a maioria das cidades e continuava a vigorar o recolher obrigatório. O Ayatollah Khomeini pediu à população que fosse para os telhados todas as noites às nove horas e que gritasse Allaho akbar durante meia hora sem parar, a fim de mostrar o seu apoio à revolução. Eu e os meus pais nunca participámos nas sessões de Allaho akbar, mas a maioria das pessoas fazia-o, mesmo aqueles que não tinham dado um apoio muito forte à revolução. O país fora dominado pelo sentimento de solidariedade. As pessoas depositavam esperança num futuro mais radioso para a democracia.
A 10 de Fevereiro de 1979, o exército rendeu-se à vontade do povo do Irão e, a 11 de Fevereiro, o Ayatollah Khomeini instituiu um governo provisório com Mehdi Bazargan como primeiro-ministro.
Dentro em pouco viam-se por toda a parte guardas revolucionários armados e membros de comités islâmicos, que olhavam para toda a gente com ar desconfiado, e centenas de pessoas foram detidas, acusadas de terem sido membros da SAVAK, a polícia secreta do Xá. Prenderam-nos e confiscaram-lhes os bens; alguns foram executados, a começar pelos funcionários superiores do antigo regime que não haviam abandonado o país. Os jornais publicaram imagens horrendas dos seus corpos espancados e cobertos de sangue. Durante esse período aprendi a baixar os olhos quando passava pelos quiosques de jornais.
Não muito tempo depois da revolução, dançar foi considerado iníquo e ilegal, e o meu pai perdeu o emprego no Ministério das Artes e da Cultura. Mais tarde, começou a trabalhar como tradutor e empregado de escritório na fábrica de aço inoxidável do tio Partef. O meu pai trabalhava muitas horas e chegava a casa cansado e infeliz. Como era habitual, eu raramente o via, agora talvez ainda menos, e quando estava em casa, com uma expressão séria, de não-me-incomodes, estampada no rosto, lia o jornal e via televisão. Era raro falarmos.
As escolas reabriram e regressámos as aulas. A directora da nossa escola, uma mulher dotada, que havia sido muito próxima do último ministro da Educação durante o tempo do Xá, desaparecera. Ouvi dizer que a tinham executado. Tinha dirigido a escola com grande competência e a sua ausência fazia-se sentir todos os dias. Havia rumores de que a maioria dos nossos professores iria dentro em pouco ser substituída por apoiantes do governo. Para agravar as coisas, a nova directora, a Khanoom Mahmoodi, era uma guarda revolucionária de dezanove anos, uma jovem fanática que usava um hejab islâmico completo. Usar hejab ainda não era obrigatório, mas dava a impressão de que as regras estavam prestes a mudar. Hejab é uma palavra árabe que significa a cobertura apropriada para um corpo de mulher. Pode assumir diversas formas, uma das quais é o chador. Depois do hejab se tornar obrigatório, nas grandes cidades, especialmente em Teerão, em vez de usar o chador, a maioria das mulheres usava túnicas largas e compridas, designadas por manteau islâmico, e cobriam o cabelo com grandes lenços. Se usado convenientemente, este traje constituía também uma forma aceitável de hejab.
Durante alguns meses depois da revolução ainda houve liberdade de expressão. Na escola, diversos grupos políticos ainda vendiam os seus jornais livremente e, durante os intervalos, em todo o pátio podiam ouvir-se as discussões políticas. Até então, eu não conhecera nenhum marxista e agora eles estavam por todo o lado. Também havia a Organização Mojahedin-e Khalgh, que significa “Combatentes de Deus pelo Povo”. Todos estes grupos políticos tinham sido ilegais no tempo do Xá, mas tinham existido clandestinamente durante muitos anos. Eu não sabia nada acerca dos Mojahedin e parecia haver muito a saber sobre eles. Um amigo meu marxista disse-me que os membros desse grupo eram dissidentes marxistas e que acreditavam em Deus e no Islão. Eram muçulmanos socialistas que acreditavam que o Islão podia conduzir o Irão à justiça social e libertá-lo da ocidentalização. Tinha-se tornado um grupo armado e organizado nos anos 1960 e combatera para derrubar o Xá. No entanto, não eram seguidores de Khomeini - anos antes de o Ayatollah Khomeini se ter tornado conhecido, já tinham liderado muitas manifestações contra o Xá, e os seus membros, na maioria estudantes universitários, haviam sido torturados e executados em Evin. O facto de serem um grupo islâmico era motivo suficiente para eu decidir não me filiar nele.
Aram frequentava uma escola só para rapazes chamada Alborz, que ficava perto da minha escola. Uma tarde, cerca de uma semana depois de as aulas recomeçarem, eu ia a caminho de casa quando o ouvi chamar o meu nome. O meu coração quase parou. Pensei que tinha notícias do irmão, mas ele disse que só queria ver-me e ofereceu-se para me acompanhar a casa. Soltei um suspiro de alívio. Embora estivesse certa de que Arash tinha morrido, receava ouvir essa notícia.
Aram fez-me perguntas sobre a minha escola e eu disse-lhe que a nova directora era uma guarda revolucionária e que eu não ficaria surpreendida se soubesse que ela andava com uma arma no bolso.
- Não estás envolvida com nenhum grupo político, pois não? - perguntou ele.
Desde o desaparecimento do irmão que Aram tinha amadurecido, embora de uma maneira triste e deprimida. Antes da revolução, só pensava em basquetebol e festas, mas agora preocupava-se com tudo e passava o tempo a dar-me conselhos.
- O meu pai diz que estamos a atravessar tempos difíceis - dizia ele. - Acha que o novo governo está a permitir que todos os grupos políticos façam e digam tudo o que querem de modo a que os guardas revolucionários possam ver quem são os seus amigos e inimigos. Depois, mais cedo ou mais tarde, vão prender quem quer que faça alguma coisa contra o governo.
A tia Zenia tinha-me telefonado uns dias antes a dizer-me exactamente a mesma coisa. Aconselhara-me a ter cautela. Mas eu sentia muita curiosidade pelas novas ideologias. Todos os dias, durante o intervalo, assistia a diferentes conferências e debates organizados pelos alunos do 11º e 12º anos que trabalhavam com diversos grupos políticos.
À parte o facto de não acreditarem em Deus, as ideias de Marx e Lenine eram muito atraentes. Eles queriam justiça para toda a gente e uma sociedade onde a riqueza estivesse dividida equitativamente, mas a sua prática revelara falhas no mundo real. Eu sabia muito bem o que acontecera na União Soviética e noutros países comunistas. O comunismo não funcionava. Por outro lado, via agora como era uma sociedade islâmica. Acreditava que a mistura de religião e política era perigosa. Quem quer que criticasse o governo islâmico era acusado de criticar o Islão e, por conseguinte, de se opor a Deus. Segundo me parecia, no Islão as pessoas assim não mereciam viver, a menos que se modificassem.
Antes da revolução, pelo menos durante a minha vida, as convicções e a fé pessoais nunca estiveram em questão. Na minha escola, havia raparigas de diversas religiões, mas era suposto concentrarmo-nos na nossa instrução, sermos delicadas e respeitarmo-nos umas às outras e aos nossos professores e comportarmo-nos como futuras senhoras. Porém, agora o mundo parecia ter-se dividido em quatro correntes enfurecidas: o Islão fundamentalista, o comunismo, o Islão esquerdista e a monarquia, e eu não concordava com nenhuma delas. Quase toda a gente pertencia a um grupo, e eu não, o que me fazia sentir perdida e isolada.
Gita frequentava agora o 11º ano e era membro de um partido comunista conhecido por Fadayian-eh Khalgh. Sirus, o irmão de Sarah, era membro dos Mojahedin, e Sarah apoiava as suas perspectivas e ideias.
Uma noite, em Maio de 1979, cerca de três meses após o êxito da revolução islâmica, eu estava em casa sozinha. Os meus pais tinham ido a casa de um amigo, enquanto eu ficara a acabar os trabalhos de casa. Por volta das oito horas, liguei a televisão. Nesse tempo só tínhamos dois canais. Desde a revolução, era raro haver alguma coisa boa para ver, mas um documentário chamou-me a atenção. Era sobre o comício na Praça Jaleh contra o Xá, no dia 8 de Setembro. Embora soubesse muito bem que Arash estava morto, continuava a não conseguir pensar nesse dia como a data da sua morte, encarando-o como o dia do seu desaparecimento. Com lágrimas nos olhos, aproximei-me do ecrã da televisão. O filme era de má qualidade - a pessoa que filmara passara a maior parte do tempo a correr e a fazer movimentos bruscos, pelo que a imagem era difícil de seguir. Soldados apontavam as armas contra a multidão e disparavam. As pessoas desataram a correr e vi algumas caírem no chão. Os soldados atiravam corpos para um camião militar, e foi então que, durante um instante, o vi. Um desses corpos era Arash. Levantei-me, agoniada. Não conseguia falar e não conseguia chorar. Fui para o meu quarto, sentei-me na cama e tentei pensar. Talvez tivesse apenas imaginado tudo aquilo, disse para comigo. Que podia fazer? Tinha de saber a verdade. Fui direita ao telefone e liguei para Aram. Não sabia como havia de lhe dizer, mas ele apercebeu-se do pânico na minha voz.
- Marina, que se passa?
Silêncio.
- Diz qualquer coisa. Queres que vá a tua casa?
- Não - ouvi-me dizer.
- Por favor, diz-me se há algum problema.
- Estavam a passar um documentário sobre a manifestação de 8 de Setembro. Havia soldados a atirarem corpos para um camião. Penso que um deles era o Arash.
Pronto, estava dito.
Silêncio, um silêncio tremendo.
- Tens a certeza?
- Não, como posso ter a certeza? Foi uma fracção de segundo. Mas como poderemos descobrir?
Aram sugeriu que fôssemos à estação de televisão no dia seguinte depois da escola. Eu queria ir de manhã, mas ele disse que, se faltássemos às aulas, os nossos pais iriam ficar preocupados e ele não queria dizer-lhes nada até termos a certeza de que eu não estava enganada.
No dia seguinte, apanhámos o autocarro até à estação de televisão. Pelo caminho, nenhum de nós proferiu palavra. Começámos por nos dirigir à recepcionista, uma mulher de meia-idade, e explicámos o que se passava. Ela foi muito simpática e contou-nos que tinha perdido um primo na manifestação de 8 de Setembro. Depois de fazer alguns telefonemas, conduziu-nos ao pequeno gabinete de um jovem de barba, com óculos de lentes grossas, que nunca me olhou a direito enquanto falávamos mas fazia constantes gestos de aquiescência. Conduziu-nos até uma grande sala cheia de diversos tipos de equipamento, onde contámos a nossa história a um homem de meia-idade chamado Agha-eh Rezaii, que prometeu arranjar-nos a cassete. E cumpriu a sua promessa.
Aram e eu fixámos os olhos no ecrã, e lá estava. Pedimos a Aghaeh Rezaii para imobilizar a imagem. Não havia dúvida de que era Arash. Tinha os olhos fechados, a boca ligeiramente aberta e a T-shirt coberta de sangue.
Senti-me como se um rochedo tivesse caído sobre o meu peito. Quem me dera ter estado com ele no momento da sua morte, quando se sentiu solitário e assustado.
Durante muito tempo, não conseguimos desviar os olhos do ecrã. Por fim, fitei Aram. Os seus olhos tinham uma expressão vazia e ausente, pois ele, tal como eu, tentava compreender o fosso de devastação e isolamento que a morte deixara na sua esteira, a terrível sensação do salto do conhecido para o desconhecido e a espera aterradora até atingirmos o solo e nos desfazermos em pedacinhos minúsculos, insignificantes. Toquei-lhe na mão. Ele virou a cabeça e fitou-me. Abracei-o. Aghaeh Rezaii chorava connosco.
- Preciso de telefonar aos meus pais. Eles têm de saber imediatamente - disse Aram.
Dentro em pouco eles estavam junto de nós, devastados e abatidos. Após oito meses de sofrimento, tínhamos de enfrentar a realidade da morte dele. Agradeceram-me por o ter encontrado. Sim, agradeceram-me. O meu cérebro tinha-se fechado. Não conseguia pensar. Quiseram levar-me a casa de carro, mas recusei. Apetecia-me estar sozinha.
Entrei no autocarro, encontrei um lugar sossegado a um canto e comecei a rezar. Que outra coisa havia a fazer? Ia rezar “ave-maria” vezes e vezes sem conta. Ia repeti-la até ser suficiente, até conseguir redimir a maneira como ele tinha morrido, o facto de não estar com ele nesse momento. Mas alguma vez iria ser suficiente? A tristeza que me invadira a alma estava a aumentar rapidamente, sem o menor sinal de remissão. Tinha de aceitar, de deixar essa dor crescer, transbordar, ir para onde tinha de ir, a fim de não destruir a minha alma e transformá-la em nada.
A porta de casa, com as mãos a tremer, tentei introduzir a chave na fechadura, mas não conseguia. Toquei à campainha. Não houve resposta. O ar quente e espesso misturava-se com o som do trânsito e esmagava-me. Respirei fundo e tentei de novo introduzir a chave. A porta abriu-se. Fechei-a e apoiei-me nela. O ar na entrada era escuro, fresco, silencioso. Exausta, dirigi-me para a escada com passos pesados e comecei a subir, mas senti-me desfalecer após o primeiro lanço. Durante algum tempo só tive consciência da frescura da pedra contra a minha testa. Depois ouvi uma voz chamar-me pelo nome. Qualquer coisa quente tocou-me na face. Ergui o rosto. Os olhos da minha mãe fitavam-me e ela começou a abanar-me.
- Marina, levanta-te.
Puxou-me pelos braços e finalmente consegui pôr-me de pé, apoiada a ela. Levou-me para o quarto. Ia falando comigo, mas eu não conseguia compreendê-la. As palavras dela eram como nevoeiro, como fumo a subir no ar, a desaparecer na luz do sol que penetrava pela janela do meu quarto. Ajudou-me a sentar na cama. Eu precisava de perceber o que tinha acontecido. Precisava de entender por que motivo Arash tinha morrido. Pela janela, olhei para o céu azul.
Quando, finalmente, tomei consciência do que me rodeava, a minha mãe estava de pé ao meu lado e tinha nas mãos um prato da minha comida favorita: carne estufada com aipo e arroz. Lá fora já estava escuro e a luz do quarto já estava acesa. Deitei uma olhadela ao relógio. Já passava das nove. Haviam decorrido duas horas e eu ainda estava sentada na cama. Parecia ter deslizado através do tempo, como se o meu desgosto me tivesse isolado do mundo, como uma tesoura a recortar uma forma simples de uma folha de papel.
- Ele está morto - declarei em voz alta, na esperança de que dizê-lo me ajudasse a compreender por que motivo aquilo tinha acontecido.
- Quem?
A minha mãe sentou-se à beira da cama.
- O Arash.
Ela desviou os olhos de mim.
- Mataram-no durante a manifestação de 8 de Setembro. Abateram-no a tiro. Está morto.
- Isso é horroroso. - Soltou um suspiro e abanou a cabeça. - Sei que gostavas dele. É duro, muito duro, mas vais superar isso. Amanhã vais sentir-te melhor. Vou preparar-te uma chávena de chá.
Saiu do quarto. De vez em quando, a minha mãe dava-me uns breves momentos de afecto. Mas nunca duravam muito, eram como breves lampejos, semelhantes a estrelas cadentes que desapareciam na escuridão.
Adormeci, depois de tomar uma chávena de chá de camomila, mas acordei a meio da noite com o peito a arder. Tinha estado a sonhar com Arash. Corri para a cómoda, peguei na estatueta do anjo e enfiei-me debaixo da cama. Gritos profundos brotavam-me da garganta e quanto mais tentava manter-me em silêncio, piores eles se tornavam. Puxei a almofada da cama e tapei o rosto com ela. Queria que o anjo aparecesse e me dissesse porque morriam as pessoas. Precisava que ele viesse e me dissesse porque levava Deus aqueles que eu amava. Mas, por muito que o chamasse, ele não apareceu.
A 6 de Setembro de 1979, Irena morreu vitimada por um ataque cardíaco. Antes dela, eu perdera dois entes queridos, mas nunca tinha ido a um funeral. O de Irena foi o primeiro. A 9 de Setembro, vesti uma saia e uma blusa pretas e contemplei a minha imagem reflectida no espelho. Detestei ver-me de preto, magra, pálida e acabrunhada. Tentei endirei-tar-me e fazer um ar forte. Tirei o preto e pus a minha saia castanha favorita e uma blusa creme. Irene teria gostado mais de me ver assim.
A caminho da paragem de autocarro, entrei na florista e comprei um ramo de rosas cor-de-rosa. No autocarro, sentei-me à janela e fiquei a ver as ruas passarem. Toda a cor e felicidade haviam desaparecido da cidade. As pessoas usavam só roupa de cor escura e caminhavam com ar abatido como que para se evitarem umas às outras, bem como o que as rodeava. Quase todas as paredes estavam cobertas com palavras de ordem duras, destinadas a fomentar o ódio.
A igreja ortodoxa russa de Teerão não tinha sacerdotes, de modo que a missa de corpo presente teve lugar na igreja grega e o funeral de Irena realizou-se no cemitério russo. Senti-me grata por poder estar presente na cerimónia fúnebre. Aprendera a apreciar a dádiva de ter oportunidade de dizer adeus.
Depois do funeral, pedi a Aram que me ajudasse a procurar a sepultura da minha avó. Não sabia exactamente onde se situava. Os meus pais não me tinham deixado estar presente no enterro e nunca me tinham levado quando iam ao cemitério. Queria encontrar a campa para dizer uma pequena oração. O cemitério não era grande e estava rodeado por muros de tijolo. As sepulturas ficavam muito próximas umas das outras e a erva crescia por todo o lado. Havia muitas lápides e encontrar a da minha avó ia ser difícil. Passávamos em bicos de pés entre pedras tumulares e a quinta ou sexta para que olhámos era a dela. Era como se a avó me tivesse encontrado. Tinha guardado uma rosa cor-de-rosa para ela.
Olhei em redor. Cada lápide era como a capa de um livro fechado para sempre. Andei de campa em campa a tentar ler os nomes e as datas de nascimento e de falecimento. Algumas pessoas eram velhas e outras jovens quando morreram. Queria conhecê-las a todas. Havia muitas histórias que nunca seriam contadas. O anjo conheceria todas aquelas pessoas? Teria sido capaz de as ajudar e de escutar o que lhes ia no coração quando estavam a morrer? Qual teriam sido os seus últimos pensamentos antes de abandonarem o corpo? Quais os seus maiores pesares? Seria possível não lamentar nada no momento da morte? Que lamentaria eu se morresse naquele momento?
Os amigos e a família de Aram começavam a sair do cemitério e, ao reparar nos pais a olharem na nossa direcção, percebi que pensavam em Arash. Mereciam saber onde ele estava sepultado, e ele merecia ter uma sepultura condigna. Senti vontade de plantar rosas para ele à volta do nequeno talhão de terra que albergava o seu corpo. Rosas de todas as cores. E nunca deixaria as ervas daninhas invadirem a sua campa. Decorrera um ano desde que ele morrera. Quatro estações de perda e de desgosto.
A 1 de Novembro de 1979, o Ayatollah Khomeini pediu ao povo do Irão que se manifestasse contra os Estados Unidos, a que ele chamava o “Grande Satã”. Dizia que os E.U.A. eram responsáveis por toda a corrupção do mundo e que, juntamente com Israel, eram o maior inimigo do Islão. Milhares de pessoas desceram à rua e rodearam a embaixada americana. Vi a cobertura noticiosa das manifestações na televisão e perguntei-me de onde teria surgido aquela multidão enfurecida. Ninguém que eu conhecesse tinha participado. Um mar de gente enchera as ruas à volta da embaixada, que era rodeada por muros de tijolo.
A 4 de Novembro de 1979 ouvimos dizer que um grupo de estudantes universitários auto-intitulado os “Estudantes Muçulmanos Seguidores do Pensamento do Imã” tomara o edifício principal da embaixada e fizera cinquenta e dois reféns americanos. Queriam que os Estados Unidos repatriassem o Xá, que tinha um cancro e estava a tratar-se na América, para ser julgado no Irão. Isso pareceu-me uma loucura absoluta e toda a gente com quem falava tinha a mesma reacção. As pessoas sabiam que o Xá estava muito doente. A tomada de reféns não fazia qualquer sentido. Mas nada fazia sentido desde a revolução.
No dia da visita, toda a gente estava muito excitada e, pela primeira vez desde que tinha sido presa, ouvi as raparigas rirem alto. As Irmãs chamavam as reclusas por ordem alfabética, em geral quinze nomes de uma vez, pelo altifalante. As que eram chamadas punham o chador e iam ao escritório. Sem saber se os nossos pais estavam autorizados a ver-nos, Taraneh e eu andávamos de um lado para o outro no corredor. Ela tinha sido detida havia mais de dois meses, mas ainda não tinha recebido nenhuma visita. O seu apelido começava por “B”, pelo que a vez dela iria chegar antes da minha.
- ... Taraneh Behzadi...
Demos ambas um salto e soltámos um grito. Ela ficou de tal modo excitada que tive de lhe ir buscar o chador e a venda. Desapareceu por trás das portas com grades e eu continuei a andar de um lado para o outro. A maioria das raparigas voltavam das visitas a chorar. Taraneh regressou daí a meia hora, calma e serena.
- Viste os teus pais? - perguntei-lhe.
- Vi.
- Como estavam?
- Bem, acho eu. Há uma placa de vidro grosso na sala das visitas e não há telefones. Não se pode falar. Mas usámos linguagem gestual.
Finalmente chamaram-me. No escritório, disseram-nos para pormos as vendas. Segui a fila de raparigas pela escada abaixo até ao exterior. Dirigimo-nos para o edifício das visitas e, antes de entrarmos, disseram-nos para tirarmos a venda. Havia guardas armados em todos os cantos. Uma placa de vidro espessa dividia a sala ao meio. Do outro lado viam-se homens e mulheres de pé, alguns a chorarem, com as mãos no vidro, à procura de cada rosto, a tentar encontrar os que lhes eram queridos. Não tardei a ver os meus pais. Correram ao meu encontro e começaram a chorar. A minha mãe tinha um manteau bege, que lhe chegava aos tornozelos, e um grande lenço preto a cobrir-lhe o cabelo e os ombros. Devia ter comprado aquele vestuário com o único objectivo de ir a Evin. Todos os manteaux que possuía até eu ser presa eram mais curtos - dois ou três centímetros abaixo dos joelhos - e os lenços eram mais pequenos.
- Estás bem? - consegui ler-lhe nos lábios. Fiz que sim com a cabeça, engolindo as lágrimas.
Ela juntou as mãos, como se estivesse a rezar, e disse qualquer coisa.
- O quê? - perguntei de cenho carregado, desesperada por compreender cada palavra.
- Toda a gente está a rezar por ti - disse ela mais lentamente, exagerando o movimento dos lábios.
- Obrigada - agradeci, curvando ligeiramente a cabeça.
- Quando te vão deixar ir para casa? - perguntou, mas eu fingi não perceber.
Não podia contar aos meus pais que fora condenada a prisão perpétua, pois isso iria matá-los. Estavam aterrorizados e destruídos, mas, pelo menos, tinham uma certa esperança de que um dia eu pudesse regressar. Não sabia que lhes havia de dizer. Só queria abraçar a minha mãe e não a largar mais.
- A Sarah está bem - disse finalmente, depois de os fitar durante um minuto.
- O quê? - Com o dedo, escrevi “Sarah” no vidro, e a minha mãe seguiu o meu dedo com o dela.
- A Sarah? - perguntou.
- Sim.
- Está bem?
- Sim.
- Está na hora! - gritou um guarda.
- Tem coragem, Marina - disse a minha mãe.
A prisão ficava sempre muito silenciosa depois dos dias da visita. Sentadas nos nossos cantos, sozinhas, tentávamos não pensar em como eram as nossas vidas antes de irmos para Evin, mas era inútil, pois as recordações eram tudo o que possuíamos. Sentíamos saudades da família e da nossa vida passada, da maneira como éramos dantes. Não tínhamos futuro, mas apenas o passado.
No dia a seguir às visitas, recebemos de casa pequenos embrulhos com roupa. Abri o meu. Camisas, calças, roupa interior novinha e uma camisola. Tudo no embrulho cheirava a casa, a esperança. Taraneh corria os dedos sobre uma camisola de lã vermelha desbotada e disse-me que era a sua camisola da sorte. “Isto dá-me sorte”, disse ela, e explicou que a mãe tinha feito aquela camisola havia anos quando aprendera a tricotar. Taraneh e as irmãs queriam-na. Quando a mãe decidiu dar-lha a ela, as irmãs ficaram irritadas, mas a mãe explicou-lhes que tinha de a dar a uma delas e que era justo dá-la à mais nova. Prometera fazer para cada uma das suas três irmãs uma camisola exactamente igual àquela, mas não cumprira a promessa. Taraneh acreditava que enquanto usasse aquela camisola lhe aconteceriam coisas boas, e perguntou-se se ela conservaria a magia.
- Um dia havemos de ir para casa, Taraneh - disse eu.
- Eu sei.
- Faremos todas as coisas que adoramos fazer.
- Daremos grandes passeios, está bem?
- Sim, e vamos à minha casa de férias.
- Vamos às compras.
- Cozinhamos, fazemos bolos e comemos de tudo!
Desatámos a rir.
Nessa noite, não consegui dormir. Pensei que Ali tinha podido reduzir-me a pena e que talvez pudesse fazer o mesmo por Taraneh; e talvez conseguisse ajudar também Sarah. Mas ele dissera-me que se ia embora e a verdade era que não queria tornar a enfrentá-lo, pois ele aterrorizava-me.
De certo modo, era-me mais fácil lidar com Hamehd, pois com este sabia o que esperar. Com Ali, as coisas eram diferentes. Ele nunca me magoara
- mas, mesmo assim, sentia um medo intenso e profundo quando ele estava próximo de mim. Pensei na noite das execuções. Tinha evitado pensar nisso. O meu cérebro recusava recordar as imagens assustadoras. Mas sabia que elas estavam lá, intactas e nítidas. E quando Ali me levou para a cela, recordei-me da expressão dos seus olhos. O anseio. Fazia-me sentir aprisionada no fundo de um oceano gelado. Mas, por Taraneh, tinha de falar com ele.
De manhã, fui até ao escritório e bati à porta. A Irmã Maryam estava sentada atrás da secretária a ler qualquer coisa. Olhou-me com uma expressão interrogadora.
- Há alguma possibilidade de ver o Irmão Ali? - perguntei. Os olhos dela mergulharam nos meus.
- Porque queres vê-lo?
Expliquei-lhe como ele me tinha salvo a vida e que agora queria pedir-lhe para salvar uma amiga minha.
- Quem? - perguntou a Irmã Maryam. Hesitei.
- A Taraneh?
- Sim.
- O Irmão Ali não está cá. Está na frente, a combater os iraquianos. - O Irão estava em guerra com o Iraque desde Setembro de 1980.
- Quando volta?
- Só Deus sabe. Mas mesmo que estivesse cá, não poderia fazer nada. Tiveste muita sorte. Quando um tribunal islâmico condena alguém à morte, a única coisa que pode salvar essa pessoa é o perdão do Imã. Mas em geral o Imã não interfere com essas coisas. Confia nos tribunais e nas suas decisões. A única pessoa que poderia fazer alguma coisa por ela é aquele que a interrogou.
- Há alguma coisa que possamos fazer por ela?
- Rezar.
Tentei não pensar em felicidade, na maneira como as coisas costumavam ser antes da revolução, antes de acontecerem coisas tremendas, como se evocar as recordações radiosas as fizesse desvanecer à semelhança de velhas fotografias muito manuseadas. Mas, às vezes, a meio da noite, respirava a fragrância dos limoeiros selvagens e ouvia o roçagar das suas folhas espessas na brisa pura e salgada. Sentia as ondas cálidas do mar Cáspio rodopiarem à volta dos meus pés e a areia molhada e pegajosa cobrir-me os dedos. Nos meus sonhos, deitava-me na minha cama na casa de férias a ver a lua cheia elevar-se no céu. Depois punha os pés no chão, mas este não rangia; dava uma volta, mas não havia ninguém, e tentava chamar Arash, mas nenhum som saía da minha garganta.
Passava o tempo a pensar em André. Antes da minha detenção, o meu amor por ele fora jovem e frágil. Tinha medo de o amar pois receava perdê-lo, e não queria trair Arash. Agora, confrontada com a minha própria mortalidade, sabia que estava apaixonada por André. Não existia nada que mais desejasse no mundo do que estar com ele. Mas será que ele me amava? Acreditava que sim. Ele era a minha esperança. Tinha de sobreviver para ele. Era para ele que queria voltar.
Certa noite, em meados de Março, Sheida entrou em trabalho de parto e levaram-na para o hospital-prisão. No dia seguinte regressou com um bebé, um rapazinho lindo e saudável, a quem chamou Kaveh, que era o nome do marido. Reunimo-nos todas à volta dela e do bebé. Sentíamos orgulho por termos uma mãe na nossa sala e, a partir daí, passámos a tratá-la por Mãe Sheida. O bebé não tardou a ficar estragado de mimo, com tantas tias ansiosas por cuidar dele. E, embora a sombra escura de preocupação nunca desaparecesse por completo do rosto de Sheida, diminuiu um pouquinho, pois a criança dava esperança não só à mãe mas a toda a gente que a rodeava.
Quando Kaveh tinha duas ou três semanas, cerca de setenta prisioneiras do 246 foram transferidas para Ghezel Hessar, uma prisão na cidade de Karaj, a cerca de vinte e dois quilómetros de Teerão. A maioria das raparigas dizia que as condições de vida em Ghezel Hessar eram ligeiramente melhores do que em Evin, de modo que as que iam partir estavam bastante felizes. Fiquei contente por nenhuma das minhas amigas mais próximas ter sido chamada. Depois da transferência, as salas ficaram um pouco menos apinhadas, mas isso não durou muito tempo. Todos os dias umas quantas raparigas iam juntar-se a nós e dentro de pouco tempo os sítios para dormir eram mais apertados do que antes.
Pelo menos uma vez por semana, ouviam-se marchas militares pelo altifalante e anunciavam que o exército tinha vencido batalhas importantes e que as nossas tropas iam pôr termo à guerra com o Iraque. Porém, a verdade é que nenhuma de nós se preocupava muito com a guerra - não só porque não atingira directamente Teerão, mas porque Evin parecia outro planeta, um mundo estranho, com regras incompreensíveis que podiam condenar qualquer uma de nós à tortura ou à morte sem qualquer motivo.
Uma noite, enquanto estávamos a comer o nosso jantar de pão e tâmaras, Sarah entrou na sala e, sem tirar o chador, sem dizer fosse o que fosse e sem olhar para ninguém, foi sentar-se a um canto. Impressionada, aproximei-me dela e pus-lhe a mão no ombro.
- Sarah?
Ela não ergueu os olhos.
- Sarah, onde estiveste? Ficámos tão preocupadas.
- O Sirus morreu - disse numa voz calma.
Tentei encontrar as palavras certas para dizer, mas elas não existiam.
- Tenho duas canetas - murmurou ela.
- O quê?
- Roubei-as. Eles não sabem.
Tirou do bolso uma caneta preta, levantou a manga esquerda e começou a escrever no pulso: “O Sirus morreu. Um dia fomos ao mar Cáspio e brincámos na areia com uma bola de praia. Tantas cores. As ondas rebentavam...” Reparei que tinha mais coisas escritas no braço. As palavras eram pequenas mas legíveis. Eram memórias. As recordações de Sirus, da família, da vida dela.
- Tens papel ou uma coisa assim? - perguntou ela.
- Vou arranjar-te papel, Sarah. Onde estiveste?
- O espaço está a acabar. Por favor, arranja-me papel.
Encontrei um pedaço de papel, mas não era suficiente. Começou a escrever nas paredes. Escrevia as mesmas coisas vezes e vezes sem conta, sobre as escolas primárias e liceus que tínhamos frequentado, os jogos que fazíamos, os livros que líamos, os nossos professores preferidos, as festas de Ano Novo, as férias de Verão, a casa dela, o bairro onde morávamos, os pais dela e todas as coisas que Sirus gostava de fazer.
Quando finalmente uma noite tivemos água quente, recusou tomar duche.
- Tens de te lavar, Sarah. Quer tomes duche quer não, as palavras vão desaparecer. Se as apagares, podes tornar a escrever. Se não te lavas, ficas a cheirar mal.
- A tinta das canetas está a acabar.
- Se tomares duche, arranjo-te outras canetas.
- Prometes?
Não queria fazer uma promessa sem ter a certeza de poder cumpri-la, por isso fui ao escritório e expliquei a situação à Irmã Maryam. Disse-lhe que Sarah não escrevia nada de político, mas apenas recordações da família.
A Irmã Maryam deu-me duas canetas e corri para junto de Sarah, com a sensação de ter encontrado o maior tesouro do mundo.
Quando Sarah se despiu na sala do duche, não pude crer no que via. Os braços, as pernas e o estômago dela estavam cobertos de palavras minúsculas.
- Não consigo chegar às costas. Só tomo duche se prometeres escrever nas minhas costas - disse ela.
- Prometo.
E ela lavou as palavras que lhe cobriam a pele. O Livro de Sarah. Vivo, a respirar, a sentir, a magoar, a recordar.
Cerca de três meses após a minha chegada ao 246 ouvi chamar o meu nome no altifalante. As minhas amigas olharam-me com nervosismo. Com as mãos trémulas, pus o xaile na cabeça.
- Tenho a certeza de que são boas notícias - disse Taraneh, com um olhar cheio de esperança.
Respirei fundo e abri a porta que conduzia ao átrio. A Irmã Maryam encontrava-se à minha espera no escritório. Senti que estava um nadinha nervosa.
- Para onde vou? - perguntei.
- O Irmão Hamehd mandou chamar-te.
- Sabe porquê?
- Não, mas não te preocupes. Tenho a certeza de que ele só quer saber como estás.
Pus a venda e segui outra Irmã até ao outro edifício. Fiquei à espera no vestíbulo até Hamehd me chamar. Segui-o até uma sala. Ele fechou a porta e disse-me para tirar a venda. Não tinha mudado nada. Os olhos dele eram cavernas frias e escuras. Havia uma cama de tortura ao canto, uma secretária e duas cadeiras. Um chicote preto, feito de cabo eléctrico, estava pendurado à cabeceira da cama. A minha respiração tornou-se acelerada e superficial.
- Bons olhos te vejam, Marina - disse ele, a sorrir. - Senta-te e diz-me lá que tal vai a vida.
As suas palavras eram como ferroadas de abelha.
- A vida vai bem - respondi, retribuindo o sorriso.
- Então, escapaste-te à pressa naquela noite, lembras-te? Alguma vez te perguntaste o que tinha acontecido aos outros que estavam contigo?
O meu coração batia tão depressa que tive a impressão de que a minha cabeça ia explodir.
- Não me escapei. O Ali levou-me e sei exactamente o que aconteceu aos outros. Foram mortos por si.
Havia manchas de sangue na mesa da tortura e eu não conseguia tirar os olhos delas.
- Tenho de te dizer que, embora não goste de ti, te acho divertida. Alguma vez desejaste ter morrido com eles naquela noite?
- Sim.
Ele continuava a sorrir.
- Sabes que estás condenada a prisão perpétua, não sabes?
- Sei, sim.
Se ele me chicotear, não vai parar até eu estar morta.
- E isso não te incomoda? O que quero dizer é que os últimos meses não têm sido propriamente animados, pois não? Imagina isso a durar para sempre.
- Deus há-de ajudar-me a aguentar - respondi.
Ele pôs-se de pé, percorreu a sala durante um minuto e depois aproximou-se de mim e esbofeteou-me na face direita com as costas da mão, com tanta força que foi como se o meu pescoço se tivesse partido. Senti zumbidos no ouvido direito.
- O Ali já cá não está para te proteger.
Cobri o rosto com as mãos.
- Não tornes a dizer “Deus”! És impura e indigna do Seu nome. Tenho de ir lavar as mãos porque te toquei. Começo a convencer-me de que, afinal, a prisão perpétua talvez seja a melhor solução para ti. Vais sofrer durante muito tempo sem qualquer esperança.
Ouvi umas pancadas na porta. Hamehd abriu-a e saiu. Sentia-me incapaz de pensar com lucidez. Que quereria ele de mim? Um homem que eu nunca tinha visto entrou na sala.
- Bom dia, Marina. Chamo-me Mohammad. Vou voltar a levar-te para o 246.
Olhei para ele, intrigada. Não podia acreditar que Hamehd me deixasse partir com tamanha facilidade.
- Estás bem? - perguntou Mohammad.
- Sim, estou.
- Põe a venda e vamos.
Deixou-me no escritório do 246, onde a Irmã Maryam me disse para tirar a venda mal cheguei. A Irmã Masoomeh estava sentada à secretária, a ler qualquer coisa.
- Porque tens a cara tão vermelha? - perguntou a Irmã Maryam. A Irmã Masoomeh ergueu os olhos.
Contei-lhes o que se passara.
- Graças a Deus consegui encontrar o Irmão Moahmmad! Ele e o Irmão Ali eram amigos íntimos. Trabalhavam no mesmo edifício. Telefo-nei-lhe a dizer que Hamehd te tinha levado. Ele prometeu-me que te ia procurar e trazer-te de volta - disse a Irmã Maryam.
- Tiveste sorte, Marina. O Hamehd não precisa de uma boa razão para magoar as pessoas a sério se lhe apetecer - murmurou a Irmã Masoomeh.
- Como podes ver - disse a Irmã Maryam virando-se para mim -, a Irmã Masoomeh não é a melhor amiga do Hamehd, mas aprendeu a ter tento na língua. Apesar de fazer parte dos “Estudantes Muçulmanos Seguidores do Pensamento do Imã”, de ter sido um dos elementos encarregados dos reféns na embaixada americana e de conhecer pessoalmente o Imã, tem tido problemas com Hamehd. As únicas pessoas que conheço aqui que não suportam o Hamehd são o Irmão Ali e o Irmão Mohammad.
- Não te preocupes, Marina. Agora que o Hamehd sabe que o Irmão Mohammad está de olho em ti, não vai voltar a incomodar-te - disse a Itmã Masoomeh.
Toda a gente na camarata 7 ficou feliz por me ver e quis saber onde eu tinha estado. Mas quando viram a marca vermelha e inchada na minha face, perceberam que as notícias não eram boas. Não tinha a menor esperança de sair em liberdade condicional, mas não ia ceder. Isso era o que Hamehd queria que eu fizesse. Havia tentado esmagar-me o espírito e quase conseguira. Quase.
Pensei no que a Irmã Maryam me tinha contado sobre a Irmã Masoo-meh. Era difícil acreditar que ela era uma das pessoas que fizera reféns na emnbaixada americana de Teerão. Recordei-me de ter visto o que se passara no noticiário da televisão. Ficara preocupada com os reféns. Tinham famílias nos Estados Unidos - pessoas que os amavam, que precisavam deles e que os queriam de volta. O seu cativeiro durou 444 dias e foram libertados a 20 de Janeiro de 1981. Agora, a minha situação era muito pior do que a deles. Eles eram cidadãos americanos, o que significava que eram alguém. Pelo menos o governo do seu país tentara salvá-los e o mundo estava a par da coisa terrível que lhes havia acontecido. O mundo saberia o que se passava connosco? Estaria alguém a tentar salvar-nos? No fundo do meu coração sabia que a resposta para essas duas interrogações era “não”.
Pensava constantemente na igreja. Sentia o cheiro das velas a arder diante da imagem da Virgem, as suas luzes a bruxulear com a esperança de serem ouvidas. Ter-se-ia Ela esquecido de mim? Recordei-me de que Jesus dissera que com um pouquinho de esperança podemos mover uma montanha e levá-la até ao mar. Eu não queria mover nada tão grande como uma montanha - só queria voltar para casa.
No dia do meu aniversário, acordei muito cedo. Ainda nem sequer estava na hora do namaz matinal. Fazia dezassete anos. Quando era mais nova, talvez com dez ou onze anos, sonhara ter esta idade. Nesse tempo, acreditava que uma jovem de dezassete anos podia fazer tudo. Em vez disso, era uma presa política condenada a prisão perpétua. Taraneh tocou-me no ombro e virei-me. O sítio onde ela dormia ficava junto do meu. A sala estava em silêncio.
- Feliz aniversário - murmurou.
- Obrigada. Como sabias que eu estava acordada?
- Pela tua respiração. Depois de todo este tempo a dormir ao lado de alguém, percebes se essa pessoa está a dormir ou a fingir que dorme.
Taraneh perguntou-me se a minha família celebrava aniversários e eu respondi que em geral os meus pais me compravam um bolo e uma pequena prenda. Ela disse que na sua família os aniversários eram muito importantes. Davam grandes festas e enchiam-se uns aos outros de presentes. Ela e as irmãs entravam em competição: faziam peças de roupa umas para as outras e de ano para ano estas tornavam-se mais bonitas.
- Tenho saudades deles, Marina.
Abracei-a.
- Vais voltar para casa e tudo vai tornar a ser como era.
Depois do almoço, Taraneh, Sarah e algumas das minhas outras amigas rodearam-me. Sarah estendeu-me um pedaço de tecido dobrado. Abri-o. Era uma fronha de almofada feita de retalhos. Era tão bonita que fiquei de respiração suspensa. Cada uma das minhas amigas tinha contribuído, dando um pedacinho de roupa ou de um lenço para a fazer. Reconheci cada quadrado. Era um costume da prisão fazer saquinhos cozidos que ficavam pendurados num prego por baixo da prateleira do nosso quarto com os nossos objectos pessoais. Fui a primeira a receber uma fronha.
Depois do jantar, houve um bolo de aniversário ao estilo da prisão, feito de pão e tâmaras. Fingi que apagava velas imaginárias.
- Esqueceste-te de pedir um desejo! - exclamou Taraneh.
- Peço agora: desejo que nós todas passemos o nosso próximo aniversário em casa.
Toda a gente aplaudiu com uma salva de palmas.
Dois ou três dias mais tarde, anunciaram pelo altifalante que todas as reclusas do segundo andar do 246 deveriam pôr o hejab e reunirem-se no pátio. Embora pudéssemos sair para o exterior em determinadas alturas do dia, isso nunca fora obrigatório. Toda a gente ficou preocupada. Uma vez no pátio, disseram para não nos aproximarmos de uma zona assinalada no meio. Quatro guardas revolucionários saíram do edifício, a escoltar duas raparigas. Uma delas era uma amiga minha, da minha camarata, que tinha dezanove anos, e a outra era da camarata 5. Envergavam os cha-dores e disseram-lhes para se deitarem no chão no meio do pátio. Um dos guardas atou-lhes os pulsos e os tornozelos com corda. Anunciaram que elas tinham tido uma relação homossexual e, por conseguinte, iam ser Punidas de acordo com as leis do Islão. Toda a gente viu, horrorizada, os dois guardas vergastarem as costas das raparigas. Muitas não olharam, cobriram o rosto e rezaram, mas eu não consegui fechar os olhos. Vi os chicotes subirem no ar, perderem a nitidez, cortarem o ar com o seu silvo agudo, penetrante. Depois, um segundo de silêncio, durante o qual o coração parecia parar e os pulmões se recusavam a respirar. As duas raparigas não gritavam, mas eu preferia que o tivessem feito. Os seus pequenos corpos tremiam a cada chicotada. Recordei a dor aterradora que sentira quando me tinham chicoteado. Depois de trinta vergastadas, elas foram desamarradas, conseguiram pôr-se de pé, e levaram-nas dali. Dei-xaram-nos para trás a fim de pensarmos no que tinha acontecido às nossas amigas. Supõe-se que o sofrimento nos torna mais fortes, mas primeiro temos de pagar o preço.
Um dia, foi a minha vez de ajudar Sheida a lavar a roupa. Lavar fraldas de pano em água fria não é tarefa fácil. Tínhamos lavado as fraldas de manhã e tínhamo-las posto a secar no pátio. Embora toda a gente tivesse de esperar até ao dia seguinte para recolher a roupa das cordas, Sheida foi autorizada a sair ao entardecer. Caminhava uns passos à minha frente. Era Primavera e os pássaros chilreavam ao longe. O Sol tinha acabado de se pôr e o céu estava de um rosa resplandecente. As cinco cordas da roupa ficavam no extremo do pátio, cada uma amarrada às grades das janelas do primeiro andar, esticadas de um lado do pátio ao outro e cobertas de roupa colorida. Sheida desapareceu por trás das paredes de tecido e eu segui-a, usando os braços para afastar do caminho vestidos, calças, saias, camisas e chadores. Foi então que a ouvi gritar:
- Marina! Corre! Vai buscar a tesoura! Despacha-te! Depressa!
Tive um vislumbre de Sheida a agarrar alguém suspenso das grades de uma das janelas. Corri para o gabinete e bati à porta. A Irmã Maryam foi abrir.
- Uma tesoura! Depressa! No pátio!
Ela tirou uma tesoura da secretária e corremos para o sítio onde eu tinha deixado Sheida. Esta continuava a agarrar alguém. Apercebi-me de que era Sarah, que se tinha enforcado com uma série de lenços atados uns aos outros e amarrados à grade horizontal do cimo da janela do primeiro andar. Se Sarah, que era baixa e pequenina, fosse um pouco mais alta, não poderia ter feito aquilo. O corpo dela tremia. A Irmã Maryam cortou a tira de lenços. Sarah respirava, mas o rosto dela estava roxo. Ficámos com ela, enquanto a Irmã Maryam ia chamar a enfermeira. Sarah estava inconsciente. Falámos com ela e tocámos-lhe no rosto, mas ela não reagiu.
Sarah foi de novo levada dali.
A cada momento que passava, eu perdia mais um pouco de esperança. Era Primavera e o ar estava leve e impregnado da fragrância das flores que desabrochavam. A vida prosseguia para lá dos muros de Evin. Para André eu seria apenas uma recordação distante? Talvez me tivesse esquecido. Tinham instalado telefones na zona das visitas e eu perguntara por ele aos meus pais. A minha mãe dissera-me que André passava o tempo a visitá-los e estava sempre a pensar em mim, mas talvez tivessem dito isso para não me apoquentar.
Cada dia era quase igual ao anterior, o que tornava a nossa solidão e desespero ainda mais difíceis de suportar. Todos os dias começavam com a Oração Matinal, antes do nascer do Sol. O pequeno-almoço chegava por volta das oito horas e a seguir tínhamos de ver programas de educação religiosa na televisão. Estávamos autorizadas a ler os livros que tínhamos à disposição, que eram todos sobre o Islão, ou a passear de um lado para o outro nos corredores estreitos. Era raro falarmos de política ou do nosso envolvimento em actividades políticas anteriores a Evin. Sabia-se que algumas raparigas eram informadoras. Não havia muitas, talvez uma ou duas em cada camarata, mas não nos arriscávamos a dizer coisas que não queríamos que os interrogadores soubessem.
Durante cerca de uma hora, podíamos usar o pequeno pátio rodeado Pelo edifício. Enquanto aí estávamos tínhamos de envergar o hejab, pois os guardas passavam o tempo a caminhar no telhado e vigiavam-nos, mas o uso de chadores não era obrigatório - podíamos usar manteaux e lenços na cabeça. Enquanto permanecíamos no exterior, tudo o que podíamos fazer era caminhar em círculos ou ficar sentadas junto das paredes a olhar atira de céu acima das nossas cabeças. Essa pequena mancha de azul era a única parte do mundo exterior que podíamos ver. Fazia-nos recordar o outro lugar onde tínhamos vivido, onde ficavam as nossas casas e a que pertencíamos. Em geral, eu ficava sentada junto da parede com Taraneh. Apoiávamo-nos à superfície rugosa e ficávamos a ver as nuvens desaparecer e viajar para outro país. Imaginávamo-nos sentadas em cima de uma nuvem, a poder rumar em qualquer direcção e falávamos de todos os lugares familiares que avistávamos lá de cima: as ruas do nosso bairro, as nossas escolas e as nossas casas, onde as nossas mães olhavam pela janela sem saberem o que era feito das filhas que haviam sido levadas para longe.
- Como te meteste em sarilhos e vieste parar aqui? - perguntou-me Taraneh um dia, enquanto nos regalávamos com o calor do sol primaveril, a sonhar com as nossas casas. Nunca tínhamos falado dos acontecimentos que haviam levado à nossa detenção. O pátio estava cheio de raparigas, a maioria das quais caminhava à volta em passo estugado e com determinação, como se tivessem um destino. Manteaitx pretos, azul-marinhos, castanhos e cinzentos, a roçar uns pelos outros, e chinelas de borracha moviam-se rapidamente sobre o pavimento alcatroado. Dei-me conta de que o que avistava ali sentada era semelhante ao panorama desfrutado por um mendigo sentado à beira de uma rua movimentada, mas a minha perspectiva era muito mais limitada e modesta do que a de um pedinte. Naquele momento, o meu mundo assemelhava-se a um edifício quadrado, sem telhado, com duas filas de janelas com grades a darem para salas escuras - um mundo de raparigas a caminharem em círculo. Era como uma história de ficção científica muito estranha: “O Planeta das Jovens Prisioneiras”. Essa ideia deu-me vontade de rir.
- O que é? - perguntou Taraneh.
- Até parece que somos mendigas sentadas num passeio noutro planeta.
Taraneh sorriu.
- Comparado connosco, um mendigo é um rei - disse ela.
- Os meus problemas começaram no dia em que saí da aula de calculo...
No início de 1980, Abolhassan Banisadr tornou-se o primeiro presidente eleito do Irão. Antes do êxito da revolução, durante muitos anos participara no movimento anti-Xá, fora preso duas vezes e conseguira fugir para França onde fora juntar-se ao Ayatollah Khomeini. Havia a esperança de que conduzisse o Irão à democracia. Todavia, à medida que o ano lectivo de 1979/80 ia avançando, sentia-me como se estivesse a mergulhar na escuridão. Gradualmente, tudo ia mudando para pior. Uma a uma, a maioria das nossas professoras ia sendo substituída por jovens fanáticas e inexperientes. O hejab tornou-se obrigatório e as mulheres tinham de usar túnicas compridas, de cores escuras e de cobrir o cabelo com grandes lenços ou de envergar chadores. Os grupos políticos que se tinham oposto ou mesmo apenas criticado o governo islâmico tornaram-se ilegais. Usar gravata, água-decolónia, perfume, maquilhagem ou verniz de unhas foi declarado “satânico” e, por conseguinte, sujeito a castigos severos, todos os dias, antes de irem para as aulas, os alunos eram forçados a Qispor-se em fila e a gritar slogans detestáveis como “Morte à América” e “Morte a Israel”.
Todas as manhãs, a nossa directora, a Kkanoom Mahmoodi, e a nossa vice-directora, a Khanoom Kheirkhah, postavam-se à entrada da escola com um balde de água e um pano e inspeccionavam cada aluna que chegava. Se viam uma das raparigas maquilhada, esfregavam-lhe a cara até fazer doer. Uma manhã, durante a inspecção, a Khanoom Mahmoodi empurrou para o lado Nasim, uma amiga minha, a pretexto de as sobrancelhas dela serem demasiado perfeitas e, por conseguinte, depiladas. A chorar, Nasim afirmou que nunca lhes tinha feito nada e a directora chamou-lhe puta. Nasim era naturalmente bonita e muitas de nós defenderam-na e garantiram que as sobrancelhas dela sempre haviam sido assim. Nunca lhe apresentaram desculpas.
De dia para dia, a cólera e a frustração iam crescendo dentro de mim. Sofria durante a maioria das aulas, especialmente as de cálculo. A nova professora era uma jovem dos guardas revolucionários que não tinha habilitações para ensinar aquela disciplina. Passava a maior parte do tempo da aula a difundir a propaganda do governo islâmico, a falar sobre o Islão e a sociedade islâmica perfeita, que resistia à influência do Ocidente e à corrupção moral. Um dia em que não parava de perorar sobre as coisas magníficas que Khomeini havia feito pelo país, levantei a mão.
- Sim? - perguntou-me.
- Não quero ser indelicada, mas não podíamos voltar à matéria?
Ela ergueu uma sobrancelha e disse num tom de desafio:
- Se não te agrada o que estou a ensinar, podes sair da aula.
Toda a gente estava a olhar para mim. Peguei nos livros e saí da sala.
Enquanto seguia pelo corredor, ouvi o som de muitos passos atrás de mim. Ao voltar-me, vi que a maioria das minhas colegas me tinha imitado. Éramos cerca de trinta no corredor.
Durante o intervalo do almoço gerou-se um caos na escola. Toda a gente dizia que eu dera início a uma greve. A maior parte das aulas da tarde foi cancelada porque noventa por cento das alunas estavam no pátio e recusavam voltar para a aula. A Khanoom Mahmoodi apareceu com um altifalante a dizer-nos para voltarmos, mas ninguém lhe deu ouvidos. Quando disse que ia chamar os nossos pais, ninguém se mexeu. Em seguida, ameaçou mandar expulsar-nos, mas respondemos que podia fazer o que bem entendesse. Por fim, as alunas escolheram-me a mim e a duas outras representantes para falarem com a directora. Informámo-la de que só voltaríamos às aulas se as professoras prometessem restringir-se à matéria e pôr a política de parte.
Nesse dia, quando cheguei a casa, a minha mãe chamou-me. Isso era pouco habitual, pois era raro ela falar comigo antes do jantar. Estava na cozinha, a picar salsa.
Fiquei à porta.
- Sim, Maman?
- A tua directora telefonou. - Não olhava para mim, mas mantinha os olhos postos na tábua de cortar. A faca movia-se de uma forma ritmada e precisa. Os pedacinhos de salsa cobriam-lhe as mãos, tornando-as verdes. - Que julgas que andas a fazer? - perguntou, deitando-me uma olhadela rápida tão acerada como a faca que tinha na mão.
Contei-lhe o que tinha acontecido.
- É melhor que resolvas esse problema. Não quero que ela volte a telefonar-me. Tens de te entender com elas. Este governo não vai durar muito tempo. Agora vai fazer os trabalhos de casa.
Fui para o meu quarto e fechei a porta, surpreendida por ter escapado à sua cólera com tamanha facilidade. Provavelmente o novo governo desagradava tanto à minha mãe quanto a mim e era esse o motivo por que a reacção dela não fora tão severa como eu tinha previsto.
A greve prosseguiu durante dois dias. Continuávamos a ir à escola, mas não às aulas. Passávamos horas a percorrer o pátio ou sentadas em pequenos grupos, a falar. As nossas conversas eram principalmente sobre tudo o que tínhamos testemunhado durante os meses recentes. Era-nos difícil acreditar que a vida tinha sofrido uma modificação tão drástica. Há apenas um ano atrás não teríamos acreditado que as nossas roupas nos poriam a vida em perigo ou que teríamos de entrar em greve para aprender cálculo. No terceiro dia de greve, a Khanoom Mahmoodi chamou as representantes das estudantes ao seu gabinete.
Com o rosto rubro de cólera, disse que nos ia avisar pela última vez. Se não voltássemos às aulas, não teria alternativa senão chamar os guardas revolucionários à nossa escola para tomarem o assunto em mãos. Acrescentou que não tinha dúvidas de que nós sabíamos que os guardas não seriam pacientes connosco, que aquilo era um assunto sério e que podia haver quem viesse a ter problemas. Advertiu-nos de que estávamos a agir contra o governo islâmico e que isso podia ser punido com a morte. Tínhamos uma hora para voltar para a aula.
Marcara a sua posição. Os guardas revolucionários tinham má fama. Durante os meses anteriores haviam prendido centenas de pessoas, não tendo tornado a haver notícias de muitas delas. O seu crime fora serem anti-revolução, anti-Islão ou anti-Khomeini.
A greve terminou.
Os guardas não eram a única coisa que nos preocupava; havia também o Hezbollah, grupos de civis fanáticos armados de facas e bastões, que atacavam qualquer tipo de contestação pública. Estavam por toda a parte e conseguiam organizar-se numa questão de minutos. Eram especialmente violentos para com as mulheres que não usassem o hejab como devia ser. Muitas tinham sido atacadas e espancadas por usarem batom ou porque umas madeixas de cabelo apareciam por baixo dos lenços.
Foi um ou dois meses depois da greve que a minha professora de química, a Kbanoom Bahman, me pediu para ficar na sala depois da aula acabar e me falou de uma lista de nomes que tinha visto na secretária da Kbanoom Mahmoodi. A Kbanoom Bahman era uma das raras professoras que leccionava na nossa escola já desde antes da revolução, e conhecia-me muito bem. Enquanto falava, não tirava os olhos da porta a fim de se assegurar que ninguém entrava e nos descobria. A voz dela era quase um murmúrio e eu tinha de me curvar para a ouvir como devia ser.
De certo modo, já estava à espera de que uma coisa semelhante acontecesse. Sabia que ia ter problemas depois de tudo o que tinha dito e feito. O facto de as novas regras islâmicas me desagradarem não era segredo e durante aquela época não era possível falarmos livremente sem que isso tivesse repercussões. Mas, embora eu estivesse a par de tudo isso, os perigos que podia enfrentar pareciam-me vagos e distantes. No fundo, pensava que as coisas más só acontecem aos outros.
Agradeci à Khanoom Bahman por me ter posto a par da lista. Ela aconselhou-me a deixar o país. Perguntou-me se tinha parentes no estrangeiro e expliquei-lhe que a minha família não era rica e não podia dar-se ao luxo de me mandar para qualquer sítio. Ela interrompeu-me, erguendo a voz:
- Marina, parece-me que não estás a perceber. É uma questão de vida ou de morte. Se eu fosse tua mãe, punha-te daqui para fora, nem que tivesse de passar fome - disse ela com lágrimas nos olhos.
Como eu gostava daquela professora e não queria preocupá-la, disse-lhe que ia falar com os meus pais, embora não tivesse intenção de o fazer. Que iria dizer-lhes? Que seria presa dentro de pouco tempo?
O meu irmão e a mulher tinham saído do país e emigrado para o Canadá pouco depois da revolução. Tinham-se apercebido de que não tinham futuro na República Islâmica. Pouco tempo após a sua partida, o governo do Irão negou aos iranianos o direito de emigrarem para outros países. Eu gostava do nome “Canadá”, que me evocava um lugar distante, muito frio, mas pacífico. O meu irmão e a mulher sentiam-se felizes por lá estarem. Podiam levar uma vida normal e preocuparem-se com coisas normais. Os meus pais tinham pensado mandar-me viver com o meu irmão, mas isso não era possível. Tinha de ficar e arriscar.
Em casa, nessa tarde, observei a rua da minha varanda. O novo regime só tinha trazido destruição e violência. A escola, que costumava ser a melhor parte da minha vida, transformara-se num inferno, e eu ouvira dizer que o governo estava a planear fechar todas as universidades para reestruturação, designando isso por Revolução Cultural Islâmica. E Arash estava morto. Não restava nada.
Quase todo o Verão de 1980 foi tranquilo, e eu fiquei aliviada por não ter escola e por ir para a nossa casa de férias. Em Julho, Aram e os pais passaram cerca de duas semanas na casa da tia dele. Eu sentia-me muito sozinha e estava ansiosa pela vinda deles, mas, quando chegaram, dei comigo a pensar em Arash e a sentir ainda mais a sua falta. Aram e eu passávamos a maior parte do tempo em casa, a jogar às cartas ou ao Master Mind, que era o seu jogo favorito. As vezes dávamos passeios na praia, mas não podía-mos ir nadar juntos porque agora as mulheres não estavam autorizadas a usar fatos de banho em público. A maioria dos meus amigos, incluindo Neda, cujas famílias possuíam casas de férias na zona, tinha abandonado o país. Encontrei alguns velhos amigos, mas todos nós receávamos os guardas revolucionários e os membros dos comités islâmicos, que estavam por toda a parte e não gostavam de ver os rapazes e as raparigas juntos - segundo as novas leis que vigoravam no país, isso era imoral.
A guerra Iráo-Iraque teve início em Setembro de 1980.
Eu estava de regresso à cidade. Tinha ido a casa de uma amiga e estávamos em casa sozinhas, sentadas na cozinha, a tomar chá com bolachas de arroz. Ela estava a mostrar-me o seu novo par de ténis Puma, que eram brancos com riscas vermelhas de cada lado. De súbito, dois grandes estrondos, que nos pareceram explosões, interromperam a nossa conversa. Mais estrondos.
Espreitámos pela janela, mas não vimos nada. A minha amiga vivia no quinto andar de um prédio de apartamentos próximo da Praça Jaleh. Decidimos correr para o telhado. No corredor, chocámos com alguns vizinhos que também se dirigiam para o mesmo sítio. Uma vez chegados lá acima, tínhamos um bom panorama da cidade. Estava um dia soalheiro, sem nuvens, e Teerão encontrava-se envolta numa ligeira bruma. Ouvimos aviões.
- Além! - gritou uma pessoa.
Alguns quilómetros a sul, dois caças a jacto rumavam para leste. No horizonte, a ocidente, colunas de fumo elevavam-se no céu. Um dos vizinhos levara consigo um rádio e ligou-o. Dentro em pouco, um repórter excitado anunciava que os MIG iraquianos tinham bombardeado o aeroporto de Teerão. Diversas divisões do exército iraquiano tinham atravessado a fronteira e entrado no Irão. Estávamos em guerra.
Tinha lido sobre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e sobre a Guerra Civil Americana. Tinha lido sobre as bombas que destruíam cidades e só deixavam destroços e cadáveres. Mas essas guerras pertenciam aos livros. Ainda que todas essas histórias fossem verdadeiras, tinham acontecido havia muitos anos. O mundo era agora um lugar diferente. Ninguém estava autorizado a destruir cidades e a matar milhares de pessoas.
- Eles vão ver! - exclamou o homem do rádio, a brandir o punho no ar. - Vamos conquistar Bagdade e lapidar Saddam! Grandes filhos da mãe!
Toda a gente fez um aceno de aquiescência.
Uma vez chegada a casa, encontrei a minha mãe a colar grandes X de fita adesiva nas janelas a fim de impedir os vidros de estilhaçarem em caso de bombardeamento. Explicou-me que a rádio estava a aconselhar as pessoas a tomarem precauções, ao mesmo tempo que lhes prometiam que a guerra não ia durar mais do que alguns dias, semanas no máximo, e que o nosso exército não ia tardar a derrotar os iraquianos. A minha mãe também tinha comprado pedaços de cartão preto para cobrir as janelas à noite a fim de os MIG não avistarem as nossas luzes e as usarem como alvo. Não fiquei muito preocupada. As coisas não podiam ser assim tão más.
Os dias foram passando. As sirenes dos raides aéreos soavam umas quantas vezes por dia, mas era raro ouvirmos explosões. A rádio e os canais de televisão passavam o dia a transmitir marchas militares e a anunciar que a força aérea atacara Bagdade e outras cidades iraquianas e que havíamos rechaçado os iraquianos. Todos os homens, novos e velhos, e até mesmo adolescentes, eram encorajados a alistar-se no exército e a tornarem-se mártires - afinal, anunciava o governo, tornar-se mártir era a maneira rápida e garantida de ir para o paraíso. Aquela era a guerra do bem contra o mal. A cidade de Khorramshahr, que ficava próxima da fronteira iraniana com o Iraque, fora quase completamente destruída e em seguida invadida.
Dentro em pouco, todas as fronteiras foram fechadas e ninguém estava autorizado a deixar o país sem uma licença especial. Todavia, todos os dias, pessoas que haviam pago grandes somas de dinheiro a traficantes de seres humanos saíam do Irão a fim de evitarem o serviço militar ou de escaparem à prisão pelos guardas revolucionários. Arriscavam a vida para Passarem a fronteira e irem para o Paquistão ou para a Turquia.
A dada altura, no final do Outono, ouvi amigas na escola a falarem de um comício de protesto e decidi ir. Embora soubesse que era perigoso, parecia-me a coisa certa a fazer. O comício ia ter início às quatro horas na Praça Ferdosi, que ficava a dez minutos de caminho da escola.
No dia do comício, depois do último toque de campainha, Gita, Sarah e eu saímos da escola e vimos centenas de pessoas, principalmente jovens, a encherem a rua. Juntámo-nos à multidão que se dirigia para a Praça Ferdosi. Toda a gente estava alerta, a olhar em redor, cientes de que era possível que os guardas revolucionários, o Hezbollah, ou ambos nos atacassem. Senti o coração acelerado. A rua era um rio agitado e turbulento. Reparei que havia comerciantes a fecharem as lojas e a partir. Na Praça Ferdosi, com um altifalante diante da boca, uma jovem falava à multidão dos ataques violentos do Hezbollah contra as mulheres: “Durante quanto tempo iremos permitir que criminosos e assassinos escondidos por trás do nome de Deus ataquem impunemente as nossas mães, irmãs e amigas?”, perguntou ela. Uma mulher idosa que se encontrava perto de nós segurava à sua frente uma folha de cartolina branca. Tinha atado o chador branco à cintura, expondo ao sol o cabelo ralo e grisalho. No meio da cartolina via-se uma fotografia de uma jovem com um grande sorriso estampado no rosto e, por baixo da fotografia, estava escrito: “Executada em Evin.”
De súbito, a rua encheu-se de roncos sonoros, atroadores. As pessoas começaram a correr.
- Para os telhados! - gritou alguém.
Ergui os olhos e vi guardas revolucionários por todo o lado. Um homem que se encontrava perto de nós caiu ao chão a gemer. Apertava o estômago com as mãos. Uma linha vermelha fina saía-lhe de entre os dedos, corria-lhe pelas mãos e gotejava para o chão. Olhei-o sem conseguir mexer-me. As pessoas gritavam e corriam em diferentes direcções. Havia fumo no ar e sentia os olhos a arder. Olhei em redor - estava separada dos meus amigos. Não podia deixar o homem ferido naquele estado. Ajoelhei-me ao seu lado, olhei-o nos olhos e vi a imobilidade da morte. Arash tinha morrido como ele - como um desconhecido. Algures, havia alguém que amava aquele homem e que estava à espera que ele chegasse a casa.
- Marina! - chamou-me uma voz familiar.
Gita agarrou-me na mão e puxou-me. O ar estava espesso devido ao gás lacrimogéneo. Homens de barba, em trajes civis, brandiam no ar bastões de madeira, atacando a multidão em fuga. As pessoas gritavam. Corremos através da loucura que nos cercava.
Quando cheguei a casa, fechei-me na casa de banho. Só desejava ter sido atingida por uma bala e estar morta. Não queria viver. Que sentido fazia tanto sofrimento? Fui até ao quarto dos meus pais e abri a gaveta dos remédios da minha mãe. Estava a transbordar de frascos e de caixas de diferentes tamanhos e feitios: xaropes para a tosse, antiácidos, aspirina e diferentes tipos de analgésicos. Remexi em tudo aquilo, encontrei um frasco quase cheio de comprimidos para dormir e corri de volta à casa de banho. A morte num frasco. Tudo o que precisava de fazer era tirar a tampa e engolir os pequenos comprimidos. O anjo viria ao meu encontro e eu contar-lhe-ia que estava farta de ver pessoas morrer. Enchi um copo com água e destapei o frasco. Mas, no mais fundo de mim, sabia que engolir aqueles comprimidos era um erro. E se toda a gente que acreditava no bem decidisse suicidar-se por haver demasiado sofrimento no mundo? Fechei os olhos e vi os olhos do anjo. Queria que a minha avó, Arash e Irena se orgulhassem de mim; queria fazer qualquer coisa da minha vida, qualquer coisa boa e digna. Tinha visto a vida de um jovem desfazer-se numa poça de sangue na rua. Não podia esconder-me - a morte não era um esconderijo. Fechei o frasco e tornei a pô-lo na gaveta dos medicamentos da minha mãe. Talvez houvesse qualquer coisa que eu pudesse fazer. Corri à loja, comprei uma folha de cartolina branca e escrevi sobre o ataque dos guardas revolucionários ao comício pacífico.
No dia seguinte, fui para a escola mais cedo do que o habitual. Os corredores estavam vazios. Colei a cartolina com fíta-cola na parede de um dos corredores e pus-me diante dela, a fingir que lia. Daí a meia hora as alunas começaram a reunir-se e dentro em pouco uma pequena multidão estava a tentar ler a história. A Khanoom Mahmoodi não tardou a aparecer. Percorreu o corredor com passos rápidos, furibundos, e com o rosto vermelho de cólera.
- Afastem-se! - gritou.
Afastámo-nos. Ela leu umas linhas e exigiu saber quem tinha escrito aquilo. Como ninguém respondesse, arrancou o papel da parede, aos gritos:
- Isto é mentira!
- Não é! - protestei eu. - Eu estava lá!
- Então foste tu que escreveste isto.
Contei-lhe que os guardas revolucionários tinham aberto fogo sobre pessoas inocentes.
- Qual pessoas inocentes! Só anti-revolucionários e inimigos de Deus e do Islão participam em comícios desses. Vais ver no que te meteste! - exclamou, apontando o dedo para mim. Em seguida, deu meia volta e foi-se embora. Eu estava furiosa. Como se atrevia ela a chamar-me mentirosa?
Uns dias mais tarde, as minhas amigas e eu começámos a fazer um pequeno jornal da escola. Todas as semanas escrevíamos alguns artigos breves sobre questões políticas diárias, copiávamo-los à mão e fazíamo-los circular pela escola.
O governo fechara alguns jornais independentes, acusando os funcionários de serem inimigos do Islão. Era como se o país estivesse lentamente a ficar submerso, debaixo de água - a cada dia que passava, tornava-se um pouco mais difícil respirar. Mas permanecíamos optimistas e acreditávamos que nem toda a gente se iria afogar.
Desde que começara a guerra com o Iraque, o regime Islâmico atribuía-lhe todos os problemas. Os preços tinham aumentado imenso. A carne, os lacticínios, o leite para os bebés e o óleo para cozinhar tinham sido racionados. Em geral, a minha mãe ia às compras às cinco da manhã, ficava na fila até comprar aquilo de que precisávamos e voltava por volta do meio-dia. Era possível encontrar quase tudo no mercado negro, mas era tão caro que se tornava inacessível para o baixo rendimento das famílias da classe média, e as rações eram muito pequenas.
Em Teerão a guerra parecia distante. Agora, era raro ouvir-se as sirenes e mesmo quando isso acontecia, não se passava nada. No entanto, as cidades próximas da fronteira Irão-Iraque eram as que mais sofriam. As baixas não paravam de aumentar. Todos os dias os jornais exibiam dezenas de fotografias de jovens mortos na frente de batalha. E o governo fazia o possível por tirar partido das emoções das pessoas e por forçá-las a desejar vingança. Nas mesquitas, através dos altifalantes, os mullahs gritavam que a guerra não se destinava apenas a proteger o Irão, mas o Islão - Sad-dam não era um verdadeiro muçulmano, mas um seguidor do demónio. A pouco e pouco, quase tudo o que eu amava tornou-se ilegal. Os romances ocidentais, meu refúgio e consolação, foram declarados “satânicos” e tornaram-se difíceis de encontrar. Depois, no início da Primavera de 1981, a Khanoom Mahmoodi disse-me que eu precisava de ter notas em religião. As minorias religiosas tinham estado sempre dispensadas de frequentar as aulas de religião islâmica ou zoroastriana. Agora eu tinha de as frequentar ou entregar na escola notas em religião atribuídas pela rainha igreja. Embora antes tivesse frequentado voluntariamente aulas de religião islâmica na escola, resisti a tornar a fazê-lo. Já recebera instrução islâmica que chegasse. Conseguir que a igreja atribuísse notas em religião parecia-me uma ideia prática e justa, mas não no meu caso. A Igreja Ortodoxa Russa de Teerão não tinha sacerdote havia muito tempo. A minha mãe telefonou a uma amiga que frequentava a igreja regularmente e esta encaminhou-me para uma igreja católica romana. Embora esta ficasse a uns escassos quarteirões da nossa casa, ainda não tinha dado por ela, pois, sem janelas com vitrais coloridos a deitar para a rua, parecia tão cinzenta e amorfa como os edifícios do governo e as embaixadas estrangeiras que a rodeavam. Os padres ofereceram-se para me ajudar nos estudos e para me darem notas de acordo com o esforço que desenvolvesse.
Uma vez por semana, ia à igreja ter aula de catecismo. Tinha de tocar à sineta da porta de metal que ligava a rua ao pátio da igreja e esperar que carregassem num botão para eu entrar. Fechava a porta e seguia por uma passagem estreita, entalada entre a igreja e os muros de tijolo que rodeavam o pátio. O chão era asfaltado. A sacristia e a residência do padre ficavam num edifício à parte, adjacente à igreja. O padre fazia-me uma recepção calorosa, líamos a Bíblia e discutíamo-la. Depois da aula, abria a porta de madeira pesada que ligava o pátio ao edifício principal. A porta rangia sempre e aquele som alastrava pelo silêncio profundo, ressoando nas paredes altas e curvas. Adorava sentar-me num banco da igreja e olhar para a imagem de Maria, com o seu vestido cor-de-rosa, comprido, a capa azul que lhe cobria o cabelo e o sorriso sereno estampado no rosto. As velas bruxuleavam à sua frente. Ela sabia o que era perder aquilo que se amava. Havia experimentado essa dor. Ali, de certo modo, sentia-me em casa.
Ao princípio da tarde do dia 1 de Maio de 1982, Taraneh e cinco outras raparigas foram chamadas ao escritório pelo altifalante. Fez-se silêncio na prisão. Todas sabíamos que as outras cinco raparigas estavam condenadas à morte, mas eu era a única que sabia de Taraneh. Como de costume, ela estava sentada a um canto, a ler o Corão. Era a única que tinha sido chamada da nossa camarata. Toda a gente ficou imóvel, a fitá-la. Ela pôs-se de pé, como se fosse dar um pequeno passeio para desentorpecer as pernas. Dirigi-me a ela, mas Taraneh olhou-me e abanou a cabeça. Pegou no seu pequeno saco, que estava pendurado num prego, e no outro saco maior, que se encontrava em cima da prateleira, aproximou-se de mim e depositou-mos nos braços.
- Sabes que não tenho muitas coisas. É só isto. Encontra uma maneira de as fazeres chegar aos meus pais.
Fiz que sim com a cabeça. Ela pôs o chador e saiu pela porta. Sabia que a minha amiga ia ao encontro da morte. Se eu gritasse até ficar com a garganta em sangue, se batesse com a cabeça contra a parede até rebentar o crânio, não a salvaria. Com os sacos de Taraneh nos braços, fiquei no meio da camarata durante muito tempo, até as minhas pernas cederem. Durante todo o dia, ninguém proferiu palavra. Guardámos silêncio, como se assim fôssemos capazes de preservar a vida, de realizar um milagre. Ficámos à espera, a rezar e a chorar em silêncio, com os lábios a moverem-se sem emitirem um som. Mas o dia aproximou-se do fim, sempre em silêncio, e o horizonte encheu-se de vermelhos e púrpuras e a noite infiltrou-se no ar. Ficámos de ouvido à escuta, tentando ouvir o som de disparos, o que não tardou a acontecer, como se nuvens de vidro estivessem a cair do céu.
Quatro meses e meio depois de ter sido detida, ouvi chamarem o meu nome pelo altifalante.
- Marina Moradi-Bakht, põe o hejab e vem ao escritório.
Não sabia porque me chamavam. Talvez Hamehd estivesse outra vez a sentir a minha falta. Cobri o cabelo com o xaile e dirigi-me ao local indicado.
A Irmã Maryam saudou-me com um sorriso.
- O Irmão Ali voltou - disse ela. - E pediu para te ver.
Pus a venda e segui-a até outro edifício, onde esperei no corredor. A minha respiração era como uma pedra na garganta.
- Marina, segue-me - disse a voz de Ali, e obedeci-lhe.
Ele fechou a porta atrás de nós e disse para me sentar e tirar a venda. Parecia mais alto do que me recordava, mas talvez isso se devesse a ter perdido peso.
Olhei em redor. Estávamos numa divisão sem janelas e não havia camas de tortura. Numa das paredes estava pendurado um retrato do Ayatollah Khomeini, que, como Ali me disse, dera ordem para me pouparem a vida. As sobrancelhas escuras do Ayatollah estavam franzidas e os olhos fitavam-me com uma intensa expressão de cólera. Parecia um velho muito mau. Ao lado do retrato de Khomeini estava outro do presidente, o Ayatollah Khamenei que, comparado com o Imã, tinha uma expressão bondosa.
A coxear, Ali tirou uma cadeira de trás de uma secretária de metal e procurou o meu rosto com os olhos. Eu quase me tinha esquecido de como ele era. Tinha uma nova cicatriz na face direita.
- Estás com muito melhor aspecto do que da última vez que te vi - disse com um sorriso. - Como tens passado?
- Relativamente bem. E o senhor?
- Estás a ser delicada, ou queres mesmo saber?
- Quero saber - disse, faltando à verdade. Tudo o que queria era sair daquela sala. Queria correr para o 246.
Ele contou-me que passara quatro meses na guerra a combater os iraquianos, mas que tivera de regressar quando fora ferido numa perna. Eu disse que lamentava, o que era verdade. Nunca seria capaz de desejar que acontecesse alguma coisa a ele ou a quem quer que fosse.
Ele observava-me com toda a atenção e o seu sorriso transformou-se numa expressão séria.
- Marina, tenho de falar contigo sobre uma coisa importante, e quero que oiças sem me interromper até eu terminar.
Fiz que sim com a cabeça, intrigada. Ele disse-me que a principal razão que o levara a partir de Evin fora afastar-se de mim. Acreditara que, por não me ver, os seus sentimentos se iriam modificar, mas tal não acontecera. Disse que esses sentimentos tinham tido início no momento em que nos conhecêramos. Tentara ignorá-los, mas só se tinham tornado mais fortes. Na noite em que me conduzira à casa de banho, percebeu que tinha de me salvar custasse o que custasse, e isso aterrorizara-o. Ao ver que eu não aparecia, tinha-me chamado, mas como eu não respondera, havia entrado para ver o que se passava e dera comigo no chão. Por instantes, tinha pensado que eu estava morta, mas ao tomar-me o pulso apercebeu-se de que eu estava viva. Sabia que o meu nome constava na lista de pessoas a serem executadas e que Hamehd não gostava de mim. Tentou chamá-lo à razão, mas o outro não quisera dar-lhe ouvidos. Disse que só havia uma maneira de me salvar a vida, que era procurar o Ayatollah Khomeini. O pai de Ali tinha sido amigo íntimo do Ayatollah durante muitos anos. Por isso, Ali apresentou-se perante o Imã e suplicou-lhe que me poupasse a vida, explicando-lhe que eu era demasiado jovem e que precisava de uma oportunidade de me modificar. O Ayatollah disse-lhe que as acusações que pesavam sobre mim eram suficientemente graves para eu merecer a pena de morte, mas ele prosseguiu com as súplicas. Por fim, o Ayatollah concordou em reduzir a pena para prisão perpétua. Ali regressou a toda a pressa a Evin e perguntou aos guardas onde podia encontrar-me, ao que lhe responderam que Hamehd me havia levado para ser executada. Contou-me que foi a rezar que correu até ao local.
Senti uma sensação de pânico avolumar-se dentro de mim.
Ali disse ainda que, depois de falar com o Ayatollah, decidiu enviar-me para o 246 e afastar-se. Uma vez que eu tinha o perdão do Imã, Hamehd já não podia fazer-me mal. Ele tinha tentado esquecer-me, mas passava o tempo todo a pensar em mim, e ficou contente quando foi atingido, por ter um motivo para regressar. Contou-me que o pai sempre o aconselhara a dormir antes de qualquer decisão importante na vida e a reflectir muito bem antes de a tomar. Disse-me que havia dormido sobre a sua decisão de casar comigo, que tinha reflectido nela durante mais de quatro meses, e que agora estava decidido.
- Quero que cases comigo, Marina, e prometo ser um bom marido e cuidar bem de ti. Não me dês uma resposta agora. Quero que penses no assunto.
Tentei compreender tudo o que acabava de ouvir, mas não consegui. Não fazia sentido. Como podia ele pensar em casar comigo? Eu não queria casar com ele. Nem sequer queria estar na mesma sala que ele.
- Ali, tem de compreender que não quero casar consigo - respondi em voz trémula.
- Porquê?
- Há muitas razões!
- Estou pronto para as ouvir. Não te esqueças que penso nisto há meses, mas nunca se sabe, posso ter-me esquecido de qualquer coisa. Vá lá, diz-me quais são os motivos.
- Não o amo, e não estava destinada para si.
- Não espero que me ames. O amor pode vir com o tempo depois de me teres dado uma oportunidade. E disseste que não estavas destinada para mim. Então para quem estavas destinada? Para o André?
Tive um sobressalto. Como estava ele a par do André?
Explicou-me que, uma vez, quando eu estava a dormir, tinha ficado ao meu lado e, durante o sono, eu proferira o nome do André. Tinha feito umas investigações e sabia exactamente quem era ele e onde vivia. Disse que, embora o André não tivesse cadastro político, ele arranjaria um se fosse preciso.
Embora eu soubesse que, por vezes, falava durante o sono, era difícil acreditar nas suas palavras. Talvez me tivessem vigiado antes de me prenderem e assim tivessem ficado a saber da existência do André, a quem eu arrastara e metera em tudo aquilo. Que poderia fazer?
- Queres vê-lo aqui? - perguntou Ali. - Talvez numa cama de tortura? Deixa-o ter a sua vida. Tens de aceitar o facto de que a tua vida mudou radicalmente quando te prenderam. E não te esqueças dos teus pais. Tenho a certeza de que não queres pô-los em perigo. Porque haveriam eles de pagar por tua causa? Prometo fazer-te feliz. Hás-de aprender a amar-me.
Disse-lhe que não tinha o direito de me fazer aquilo e ele retorquiu que tinha, pois eu talvez me tivesse esquecido de que ele me salvara de uma morte certa. Como inimiga do Islão, não tinha direitos. Ele considerava que me estava a fazer um favor. Disse que eu não sabia o que era melhor para mim.
Procurei desesperadamente uma saída. A minha morte iria resolver muitos problemas.
- Conheço-te muito bem - disse ele, e a sua voz arrancou-me aos meus pensamentos. - Sei exactamente o que estás a pensar neste momento. Estás a pensar no suicídio. Vejo-o nos teus olhos, mas também sei que não vais fazê-lo. Não és pessoa para desistir. Isso é contra a tua natureza. És uma lutadora como eu. Deixa para trás o passado, e podemos ter uma vida maravilhosa juntos. É só para evitar problemas, garanto-te que, se puseres a tua vida em risco de propósito, mando executar o teu André. Será ele a pagar pelo que tu fizeres.
Como poderia eu ter uma vida “maravilhosa” com ele, se estava a ameaçar mandar executar André e prender os meus pais?
- Dou-te três dias para pensares, mas lembra-te que não podes fazer nenhuma coisa estúpida. Estou decidido a cumprir tudo o que te disse.
Eu tinha posto André e os meus pais em perigo, e agora tinha de fazer tudo o que me fosse possível para os proteger. Não podia esquecer que estava condenada à morte. Para mim, não havia saída. Quase desejei nunca ter conhecido André.
Conheci André na primeira vez em que fui à missa de domingo na minha nova igreja católica. Nesse dia, depois de o serviço ter terminado, dirigi-me à pequena sacristia para falar com os padres. Enquanto estava à espera, entrou André, que era o organista. Durante a missa, embora me tivesse sentado ao fundo da igreja, reparei que ele era muito atraente. Quando o vi de perto, apercebi-me de que ele era a versão do David de Miguel Angelo, com roupa. Era lindo, com o rosto oval, um nariz longo e aristocrático, a testa ampla coberta por caracóis de cabelo dourado e os olhos da cor do mar Cáspio num dia sereno. Corada, baixei os olhos, na esperança de que os meus pensamentos não fossem tão transparentes como receava. Apresentámo-nos.
A igreja servia uma pequena comunidade, pelo que cada recém-chegado despertava uma boa dose de atenção e curiosidade. Ele perguntou-me se eu era estudante universitária e, quando lhe respondi que andava no décimo ano, o rosto dele ficou escarlate. Falei-lhe da minha origem russa e ele disse que estudava engenharia electrotécnica na Universidade de Teerão - mas, desde que as universidades tinham sido fechadas a fim de participarem na Revolução Cultural Islâmica, dava aulas de inglês, física e matemática numa escola arménia.
A medida que a nossa conversa prosseguia, senti-me invadida por uma vaga de nervosismo. André mostrava-se sereno e falava em voz baixa. Disse-lhe que tinha gostado de o ouvir tocar e ele confessou-me que era principiante. Depois da revolução, quando o governo passara a controlar a escola masculina que pertencia à igreja, muitos dos padres que dirigiam esse estabelecimento de ensino tinham sido deportados, acusados de espionagem. André frequentara essa escola durante doze anos. Um dos padres à espera de ser deportado fora durante muito tempo organista. Deu algumas lições de música a André, que nunca tocara nenhum instrumento musical, e, depois de ele ter partido, passou a ser André a encarregar-se do seu trabalho.
- Devias vir para o nosso coro - disse-me André. - Andamos à procura de novos membros.
Disse-lhe que não sabia cantar.
- Experimenta. É divertido. O próximo ensaio é na quarta-feira às seis da tarde. Não tens planos especiais para esse dia, pois não?
- Não.
- Muito bem. Então vemo-nos na quarta-feira.
Só depois de ele partir consegui recuperar a respiração.
Aram continuava a acompanhar-me até casa pelo menos uma vez por semana. Andava no 12º ano, o último do liceu.
- Estamos a planear deixar o Irão e temos esperança de partir para os Estados Unidos - disse-me, numa tarde de Primavera quente e radiosa. Sabia que esse dia iria chegar. Éramos bons amigos há quase dois anos. Não queria perdê-lo, mas sabia que a melhor coisa para ele era partir e começar uma vida nova longe de todas as recordações dolorosas que partilhávamos.
Disse-lhe que me sentia feliz por ele. Aram parou e fitou-me, com os olhos marejados de lágrimas. Afirmou que desejava que eu pudesse ir com ele e que se sentia preocupado com a minha segurança. Muitos dos seus colegas do liceu tinham sido presos e levados para Evin, e ele ouvira dizer que ninguém saía de lá com vida. Respondi-lhe que estava a ser paranóico, mas ele afirmou que aquilo nada tinha a ver com paranóia.
- Não é preciso preocupares-te, Aram - insisti.
- O Arash costumava dizer o mesmo. Ouve lá, espera um segundo; acabei de ter uma ideia, mas não, não pode ser... no entanto, por outro lado...
Deteve-se a meio do passeio estreito em frente de uma pequena loja. Caixas e cestos cheios de fruta e legumes bloqueavam parte do passeio
- Não estás a tentar morrer, pois não? - perguntou-me ele de súbito, quase a chorar.
Expliquei-lhe que não tinha a menor intenção de me suicidar.
Uma mulher alta, que tentava passar por nós a fim de entrar na loja, cansada de esperar que a nossa conversa acabasse, disse um “com licença” frustrado e quase nos empurrou e nos fez cair dentro de um grande caixote de cebolas. Depois de recuperar o equilíbrio, Aram olhou para mim. Desimpedi o caminho, desviei-me para o lado e tornei a garantir-lhe que não ia haver problema. Quando recomeçámos a andar, estendi-lhe a mão, mas Aram repeliu-me.
- Que estás a fazer? Vais ser presa! - exclamou, olhando em redor, com o rosto de um vermelho intenso.
- Eu... Perdoa-me! Sou uma idiota! Não pensei - disse, engolindo as lágrimas.
- Desculpa, Marina. Não quis ser indelicado. Mas como poderei viver de bem comigo mesmo se fores chicoteada por andares de mão dada comigo?
- Desculpa.
- Estás a ver? Este é outro motivo para partires. Andar de mão dada não é um crime. Diz isto a alguém que viva num país normal e eles vão pensar que é uma brincadeira de mau gosto.
Recordei-me que era minha intenção perguntar-lhe se conhecia alguém que soubesse traduzir russo para persa. Expliquei-lhe que a minha avó tinha escrito a história da sua vida e que ma tinha oferecido antes de morrer. Precisava de alguém que a traduzisse para persa. Ele perguntou-me porque não pedia aos meus pais que se ocupassem disso e respondi-lhe que fora a mim que a minha avó havia confiado a história. Talvez não quisesse que fossem eles a guardá-la. Eu queria alguém que não me conhecesse para me ajudar a resolver o assunto. Ele disse-me que a Irena tinha uma amiga que era um pouco estranha, mas que falava muitas línguas e fluente em persa e em russo e prometeu telefonar-lhe. Estávamos quase a meio do caminho para casa quando reparei que se aproximava uma tempestade. Nuvens negras cobriam o céu. Era estranho como um dia lindo e luminoso podia mudar em poucos minutos. Ouvimos o ribombar do primeiro trovão. Começou a chover. Ainda estávamos longe de casa e não havia onde nos abrigarmos. A princípio tudo se passou com lentidão e via cada gota de chuva que caía no chão. Talvez conseguíssemos chegar a casa antes de o temporal atingir o auge, mas não, era demasiado tarde. Os trovões ribombavam e as gotas de chuva perfeitas misturaram-se. Um vento forte fazia vergar as árvores e transformou a chuva num aguaceiro intenso. Tivemos de parar. A rua familiar desvaneceu-se e as suas cores quentes desapareceram. Incapazes de encontrar o caminho, ali ficámos, aturdidos, cientes de que teríamos de enfrentar a tempestade. Tínhamos de fechar os olhos e de acreditar que aquilo era apenas um temporal passageiro.
No dia seguinte, Aram telefonou a dizer que tinha falado com a Anna, a amiga de Irena, e que ela concordara em encontrar-se comigo. Uns dias mais tarde, Aram acompanhou-me à casa dela, que ficava numa rua sossegada, transversal à Avenida Takht-eh Tavoos. Tocámos à campainha e um cão começou a ladrar atrás da porta que ligava o jardim da frente à rua.
- Quem é? - perguntou uma voz de mulher em persa.
Quando respondemos, Anna abriu a porta. Devia ter uns dezassete anos, era alta e magra, com um cabelo preto espesso e lindo, caído até aos ombros. Tinha grandes olhos cinzentos, vestia uma blusa de seda branca e um par de jeans azuis e cumprimentou-nos em russo. Um pastor alemão seguia-a. A sua casa pequena, de dois pisos, estava cheia de plantas tropicais. Tínhamos de afastar as folhas para abrirmos caminho e podermos segui-la até à sala de estar, onde um papagaio colorido se encontrava num poleiro, um casal de canários cantava numa gaiola e um gato preto se esfregou contra as minhas pernas. O ar cheirava a terra molhada e todas as paredes da sala estavam cobertas de estantes a transbordar de livros.
- Onde está o texto? - perguntou-me ela quando nos sentámos. Dei-lhe e ela desfolhou-o. - Vou demorar umas horas a traduzir isto.
Pôs-se de pé e encaminhou-nos para a porta.
- A Irena gostava muito de ti, Marina. Podes vir buscar isto amanhã à tarde, às quatro e meia.
No dia seguinte, mal tocámos à campainha da sua casa, Anna abriu a porta e estendeu-me o texto escrito pela minha avó e a tradução.
- Aqui tens, minha querida. A tua avó era uma mulher triste, mas forte - disse, antes de nos fechar a porta na cara.
- Eu disse-te que ela era um pouco estranha - declarou Aram com uma gargalhada.
Mal cheguei a casa, li a tradução. Tinha cerca de quarenta páginas, escritas numa caligrafia linda e gramaticalmente estava perfeita. Se eu não soubesse, nunca teria suspeitado de que o persa não era a língua materna da escritora.
Aos dezoito anos, Xena Mooratova, a minha avó, apaixonara-se por um jovem bem parecido, de vinte e três anos, chamado Andrei. Este tinha cabelo louro dourado, grandes olhos azuis e era comunista. Xena supli-cara-lhe que não fosse a comícios e manifestações de protesto contra o czar, mas ele não lhe deu ouvidos. Desejava que a Rússia se tornasse mais poderosa e que a pobreza desaparecesse. Xena escrevia que ele tinha ideias fantásticas mas impossíveis, e que era muito ingénuo. Começou a acompanhá-lo às manifestações para o proteger. Durante uma delas, os soldados disseram à multidão para dispersar, mas ninguém quis ouvir, pelo que abriram fogo.
“As pessoas começaram a correr”, escreveu Xena. “Eu virei-me. Ele estava deitado por terra, a sangrar. Segurei-o nos braços até morrer. Os soldados condoeram-se de mim e deixaram-me levá-lo à mãe. Arrastei o seu corpo através das ruas de Moscovo. Houve uns jovens que me ajudaram; pegaram-lhe e conduziram-no assim, e eu segui atrás deles, a ver o sangue dele pingar para o chão. A partir desse dia, nunca mais dormi em paz. Ainda acordo e vejo o seu sangue na minha cama.”
Xena conheceu o futuro marido - Esah, o meu avô - uns meses mais tarde. Era joalheiro, e um homem simpático. Ela não sabia ao certo como e quando se apaixonara por ele. Dentro em pouco, ele pediu-lhe a mão e ela aceitou. Casaram, tiveram uma filha e chamaram-lhe Tâmara. Em breve foram forçados a deixar a Rússia e a virem para o Irão. Foi uma viagem particularmente difícil para Xena, pois estava grávida do segundo filho, o meu pai. Uma vez no Irão, a família começou por se dirigir à cidade de Mashad, onde o meu pai nasceu, depois à cidade de Rasht, onde Esah tinha alguns parentes. Não ficaram aí muito tempo e vieram para Teerão, que era muito diferente de Moscovo, pelo que Xena sofria de saudades. Sentia a falta dos amigos e da família, mas isso não tinha grande importância pois sentia-se feliz com Esah. No entanto, a sua felicidade não durou muito tempo. Certa manhã, Esah saiu de casa para nunca mais voltar. Uns ladrões assassinaram-no para ficarem com as jóias que tencionava vender a fim de comprar uma casa.
A partir daí, a vida de Xena tornou-se muito solitária e difícil. Ansiava voltar para a Rússia, mas tinham perdido tudo - a casa e o estilo de vida dela haviam sido destruídos por uma revolução sangrenta. Não tinha para onde ir e estava convencida de que iria ser uma estranha para sempre.
Abriu uma pensão e trabalhou arduamente. Os anos passaram, os filhos cresceram e Tâmara casou com um russo e regressou com ele à Rússia. Depois, Xena conheceu Peter, um húngaro que vivia na pensão dela. Ele ajudava-a e fazia-lhe companhia. Depois do início da Segunda Guerra Mundial, pediu-a em casamento, e ela aceitou, mas nunca tiveram oportunidade. Os países estavam divididos e a Hungria tomou o partido de Hitler. Todos os húngaros que viviam no Irão foram considerados prisioneiros de guerra e enviados para campos especiais na índia. Peter morreu aí de uma doença infecciosa.
Quando acabei de ler a tradução, estava lavada em lágrimas. Via como a minha avó se devia sentir triste, impotente e sozinha. As revoluções tinham-nos destroçado a ambas. A revolução comunista e a revolução islâmica tinham ambas dado origem a terríveis ditaduras. A minha vida parecia uma cópia distorcida da vida dela. Só podia ter esperança de que o futuro me reservasse coisas melhores do que a ela. Tinha de me lembrar que ela sobrevivera e que o mesmo iria acontecer comigo.
Na quarta-feira seguinte, fui a um ensaio do coro. Fiquei ao lado de uma mulher que tinha uma voz maravilhosa. André foi ter comigo depois do ensaio. Vestia umas jeans e uma T-shirt lisa e eu desejei estar mais bem vestida. Embora o hejab fosse obrigatório e não o usar pudesse dar origem a ser chicoteada ou detida, as mulheres podiam vestir o que quisessem por baixo. Quando ia à igreja, visitar amigos ou parentes, podia despir o hejab depois de chegar.
- Tens uma linda voz - disse-me André.
- Não. Estava só a acompanhar a Senhora Masoodi. Ela é que tem uma voz linda - respondi a rir.
Perguntei-lhe de onde era a sua família e André respondeu-me que os pais eram da Hungria, mas que ele e a irmã tinham nascido em Teerão. A irmã tinha vinte e um anos e, recentemente, fora viver para Budapeste a fim de frequentar a universidade. Ele tinha vinte e dois anos.
Era uma coincidência ele ser de origem húngara. Mas quando pensei um pouco no assunto, apercebi-me de que não era estranho. Os cristãos eram uma pequena minoria tão reduzida no Irão que, de certo modo, estávamos todos ligados de uma maneira ou de outra.
- Gostavas de aprender a tocar órgão? - perguntou-me André.
- É difícil?
- De modo nenhum. Eu ensino-te.
- Está bem. Quando começamos?
- Que tal agora?
Apesar dos acontecimentos assustadores da manifestação da Praça Fer-dosi, assisti a muitas outras organizadas por diferentes grupos políticos, dos comunistas aos Mojahedin. Era o mínimo que eu podia fazer para mostrar o meu desagrado com o governo e a sua política. Não dizia uma palavra a esse respeito aos meus pais, a Aram e a André. Todas as manifestações eram mais ou menos iguais: jovens reunidos numa rua principal, cartazes a condenar o governo erguidos no ar, a multidão começava a deslocar-se, a gritar palavras de ordem e, decorridos uns momentos, o ar ficava denso devido ao gás lacrimogéneo, que fazia chorar e arder a garganta. A seguir ouvia-se o som de balas. Os guardas revolucionários tinham chegado. Toda a gente corria tão depressa quanto podia, mantendo a cabeça baixa. Tudo ficava focado e nítido. As cores tornavam-se mais intensas. Evita o verde militar. Afasta-te dos homens barbudos. Era um erro tentar escapar pelas ruas estreitas - aí a possibilidade de ser preso ou espancado era muito maior. Quanto mais larga fosse a rua, maior a hipótese de sobrevivência. Umas quantas vezes, para escapar aos guardas, tive de me esconder atrás de caixotes do lixo mal cheirosos ou de caixotes com produtos podres. A excepção daquela vez na Praça Ferdosi, nunca vi ninguém ser atingido, mas havia sempre alguém que me dizia ter visto pessoas a caírem ou manchas de sangue no chão. Cada vez que chegava a casa sã e salva, o meu coração palpitava de excitação. Mais uma vez, tinha conseguido. Talvez fosse imune às balas e aos bastões.
Cerca de duas semanas antes das férias de Verão, Gita, que tinha terminado o liceu havia um ano e esperava que as universidades reabrissem depois da Revolução Cultural Islâmica, foi a minha casa uma noite para me dizer que uma amiga dela chamada Shahrzad queria conhecer-me. Explicou-me que Shahrzad era uma estudante universitária que havia sido presa política durante três anos no tempo do Xá. Shahrzad ouvira falar da greve a que eu dera início na escola e sabia que eu tinha lido alguns livros do grupo dela. Por seu lado, ela tinha lido alguns artigos que eu escrevera para o jornal da escola. Perguntei a Gita por que motivo Shahrzad queria conhecer-me e a resposta foi que ela queria que eu me juntasse aos Fadayian. Disse a Gita que não queria fazer isso - acreditava em Deus e ia a igreja, pelo que não tinha grande coisa em comum com esse grupo.
- Apoias o governo? - perguntou-me Gita.
- Não.
- Ou és a favor ou és contra eles.
- Mesmo que seja contra eles, isso não me torna comunista. Respeito-te e às tuas convicções, mas não quero envolver-me em política.
- Acho que já estás envolvida, mesmo que penses que não estás. Dá-lhe uma hipótese. Ela só quer falar contigo durante uns minutos. Amanhã vamos ter contigo no caminho de regresso a casa da escola.
Como não me apetecia discutir com Gita, acedi em encontrar-me com Shahrzad.
No dia seguinte, Shahrzad e Gita apareceram ao meu lado mal pus o pé fora da escola. Gita apresentou-nos, mas partiu imediatamente, dizendo que tinha de ir a um sítio. Shahrzad era diferente de qualquer outra rapariga que eu tivesse conhecido. Tinha uns olhos muito tristes e passava o tempo a olhar à volta com nervosismo.
- Pelo que ouvi dizer, és uma líder nata - disse-me ela pelo caminho até minha casa. - Não há muitas pessoas que consigam fazer isso. As pessoas dão-te ouvidos. Também li os teus artigos no jornal da escola. São bons. Podes fazer a diferença. Este governo islâmico vai destruir o país e tu podes fazer qualquer coisa para o impedir.
- Respeito as tuas convicções, Shahrzad, mas não temos nada em comum.
- Acho que temos. Temos o mesmo inimigo, por isso somos amigas.
Disse-lhe que não encarava as coisas desse modo. Eu tinha simplesmente o hábito de manifestar o que pensava e, se tivéssemos um governo comunista em vez do islâmico, era provável que também falasse contra ele.
Ela perguntou-me se eu queria fazer a diferença e eu ripostei que o tipo de diferença que queria fazer não era o mesmo que a dela. De súbito, Shahrzad parou e olhou fixamente para um rapaz que tinha acabado de passar por nós, despediu-se de mim rapidamente e desapareceu ao virar da esquina. Nunca mais tornei a vê-la.
Apetecia-me ter roupa nova. Já não queria jeans desbotadas, camisolas muito usadas e ténis. Mas havia um problema. A taxa de inflação tinha subido imenso depois da revolução e eu sabia que os meus pais não tinham dinheiro de parte. Era pouco habitual as raparigas adolescentes trabalharem, pelo que tinha de ser criativa e de encontrar uma maneira de arranjar dinheiro. Os sapatos bonitos eram particularmente caros.
Os meus pais, a minha tia Zenia, o meu tio Ismael e a mulher encontravam-se todos os quinze dias para jogar rummy. Jogavam a dinheiro e levavam o jogo muito a sério. Vira-os jogar muitas vezes e tinha aprendido as regras do jogo. Uma noite, a mulher do meu tio estava doente e não pôde jogar, e eu ofereci-me para a substituir. A tia Zenia achou que era uma ideia fantástica e obrigou toda a gente a dar-me dinheiro para eu poder participar no jogo. No fim da noite, tinha transformado umas centenas de tomam em dois mil. No dia seguinte, fui às compras e ofereci-me calças elegantes, blusas e três pares de sapatos de salto alto, e, no dia depois desse, fui à igreja com a roupa que tinha comprado com o dinheiro do jogo: calças pretas, uma blusa de seda branca e um par de sapatos pretos pontiagudos.
Quando a minha avó estava viva e os meus pais jogavam às cartas na nossa casa, com amigos ou familiares, ela abanava sempre a cabeça e dizia-me que não estava certo jogar, que isso podia destruir famílias e amizades e que era por esse motivo que Deus não gostava que o fizéssemos. Era pecado. Eu sabia tudo isso e sentia-me culpada. Mas estava certa de que Deus compreendia a situação. E, pelo sim pelo não, ia dizer que tinha jogado quando me fosse confessar.
Adorava o clic clic delicado que os meus sapatos elegantes produziam quando eu percorria a nave da igreja em direcção aos bancos do coro na parte da frente e adorava ouvir os murmúrios dos elementos do coro a dizerem-me como estava maravilhosa. Quando André me viu, demorou o olhar em mim e, durante a missa, reparei que me observava pelo canto do olho.
André era persistente a ensinar-me a tocar órgão, mas quanto mais tentava, mais se apercebia de que eu não era dotada para a música. Ele passava a maior parte do tempo livre na igreja, a fazer várias reparações, desde o órgão até peças de mobiliário e, em geral, pedia-me que lhe fizesse companhia. Agradava-me passar tempo com ele. Falava-me da sua vida, da família e dos amigos. Antes da Segunda Guerra Mundial, Mihaly, o pai, que era um jovem carpinteiro, tinha ido para o Irão trabalhar num novo palácio que estava a ser construído para o Xá. Mihaly havia deixado Juliana, a noiva, em Budapeste, na esperança de regressar quando o trabalho estivesse terminado, mas a guerra impediu-o de o fazer. Enquanto a guerra assolava a Europa e a Hungria apoiava a Alemanha, os Aliados entraram no Irão a fim de fazerem chegar provisões à Rússia pelo sul. E, tal como Peter, o noivo da minha avó, Mihaly também foi deportado para um campo de concentração na índia. Mas, ao contrário de Peter, sobrevivera. Depois da guerra, regressou ao Irão, e não à Hungria, pois este país tinha-se tornado comunista. Nesse tempo, os húngaros não estavam autorizados a sair do país, e Juliana não pôde ir juntar-se a Mihaly. Foi forçada a permanecer na Hungria até à revolução anticomunista de 1956, que abriu as fronteiras do país e lhe permitiu entrar na Áustria como refugiada e, mais tarde, ir ter com o seu amado há muito perdido no Irão, após dezoito anos de separação. Casaram imediatamente e tiveram dois filhos: André e, quinze meses mais tarde, a irmã deste. Juliana faleceu quando André tinha apenas quatro anos e a irmã dois anos e meio. Depois da sua morte, uma das irmãs de Mihaly, uma solteirona de cerca de sessenta anos, foi para o Irão a fim de ajudar o irmão a criar os filhos. Com o tempo, veio a revelar-se uma substituta maravilhosa da mãe que haviam perdido. Um dia, estávamos sentados no banco do órgão na igreja vazia, e falei a André dos meus problemas na escola: da greve, da lista que a Khanoom Bahman vira no gabinete da directora, do jornal da escola e de como a Khanoom Mahmoodi me odiava. Os grandes olhos azuis dele dilataram-se de espanto.
- Fizeste essas coisas todas? - perguntou, a abanar a cabeça de incredulidade.
- Sim. O meu problema é não conseguir manter a boca fechada.
- Estou surpreendido por ainda não te terem prendido.
- Eu sei. Eu também estou surpreendida.
Ele tocou-me na mão e fiquei de coração suspenso. A mão dele estava fria como gelo.
- Tens de deixar este país.
- Sê realisra, André. Com todos os sarilhos em que estou metida, é impossível darem-me um passaporte, e atravessar a fronteira ilegalmente é não só perigoso, mas custa imenso dinheiro. Os meus pais não podem dar-se a esse luxo.
- Os teus pais estão a par de tudo isso?
- Estão ao corrente de algumas coisas, mas não sabem tudo.
- Então estás a dizer-me que estás à espera de ser presa?
- Achas que tenho alternativa?
- Esconde-te.
- Eles encontram-me. E onde posso esconder-me? Será justo pôr outras pessoas em perigo?
Apercebi-me de que tinha levantado a voz, que ressoava no tecto. Por um instante, ficámos sentados em silêncio e depois ele pôs o braço à volta do meu ombro. Apoiei-me nele, sentindo o calor agradável do seu corpo. Quando estava na sua companhia, era invadida por uma forte sensação de pertença, como se tivesse chegado a casa após uma viagem acidentada. Estava outra vez a apaixonar-me e isso fazia-me sentir culpada, pois não queria trair Arash. Mas o amor tinha a sua maneira própria de fazer as coisas - era como a Primavera a infiltrar-se na pele da terra no final do Inverno. Cada dia a temperatura subia um pouquinho e os ramos das árvores ficavam carregados de novos brotos, o sol permanecia no céu durante mais algum tempo do que na véspera e, antes de se dar por isso, o mundo estava repleto de calor e de cor.
No final de Junho de 1981, uns dias antes de a minha mãe e eu chegarmos à casa de férias para aí passarmos o Verão, Aram telefonou a perguntar-me se eu tinha ouvido dizer que, sob a influência do Ayatollah Khomeini, o parlamento demitira o presidente Banisadr por este se opor a execução de presos políticos e por ter escrito cartas a Khomeini advertindo contra a ditadura. Eu não ouvira dizer nada. Na casa de férias tínhamos apenas um velho rádio, que funcionava mal, o que não nos permitia ouvir os noticiários da BBC, e era raro darmo-nos ao trabalho de ver as estações de televisão locais. Uns dias mais tarde, Aram disse-me que Banisad conseguira fugir para França, mas muitos dos seus amigos haviam sido detidos e executados.
A 28 de Junho, aconteceu a minha mãe ligar a televisão mesmo antes de nos sentarmos para jantar e descobrimos que umas horas antes, nesse dia, uma bomba tinha explodido na sede do Partido da República Islâmica durante uma reunião. A bomba matara mais de setenta membros do partido, muitos dos quais eram funcionários governamentais, incluindo o Ayatollah Mohammad-eh Beheshti, chefe do sistema judicial e secretário-geral do partido. O governo anunciou que a bomba havia sido posta pelos Mojahedin.
No princípio de Agosto, tomou posse o novo presidente, Moham-mad Ali Rajai, que era muito conhecido como um dos chefes da Revolução Cultural Islâmica. A sua presidência durou cerca de duas semanas: a 30 de Agosto, uma bomba rebentou no gabinete do primeiro-ministro, matando o presidente Rajai, o primeiro-ministro e o chefe da polícia de Teerão. Os Mojahedin também foram acusados disto, mas ouvi rumores de que ambos os atentados resultavam de uma dissenção interna entre diferentes facções do governo.
O país parecia ter entrado num estado de luto perpétuo: a cada esquina, altifalantes transmitiam cânticos e música religiosa e grupos de homens percorriam as ruas, a bater no peito e nas costas com correntes de metal, segundo a tradição xiita, seguidos por mulheres que se lamentavam e choravam. Fiquei chocada com os acontecimentos recentes e enfro-nhei-me ainda mais nos livros, que em geral me ofereciam um mundo mais razoável, compassivo e previsível.
Antes do final do Verão, decidi não voltar à escola. Que sentido teria regressar? Era incapaz de me adaptar às novas regras e só ia arranjar mais sarilhos com a Khanoom Mahmoodi e as outras professoras.
Mal voltámos para Teerão, fiquei a vigiar a minha mãe para ver quando estaria de melhor humor a fim de lhe dar parte da minha decisão. Tinha a certeza de que ela não cederia com facilidade. Sentia-se muito orgulhosa por o meu irmão ter uma licenciatura e tinha sempre elogiado aqueles que recebiam uma boa instrução. Mas ela não podia obrigar-me a regressar. Eu sabia que a minha situação só iria piorar se passasse mais um dia que fosse na escola.
Tínhamos comprado algumas peças de mobiliário para a divisão que em tempos fora o estúdio de dança do meu pai: quatro grandes cadeiras cobertas de um tecido aveludado, verde-azeitona, duas mesas de café pretas, uma mesa de jantar com oito cadeiras e um aparador. Mas a sala de espera permanecera igual, com a mesa redonda ao centro e quatro cadeiras de couro preto à volta. Entre duas das cadeiras, havia um aquecedor a petróleo destinado a aquecer a sala no Inverno. A minha mãe sempre adorara tricotar e, especialmente depois da revolução, passava a maior parte do tempo sentada numa cadeira, do lado esquerdo do aquecedor, a fazer camisolas para nós. Também fazia toalhas e colchas de croché. Nesse dia, quando entrei na sala, estava ela a tricotar, instalada na sua cadeira preferida, com os óculos na ponta do nariz. Sentei-me na cadeira diante dela, permaneci em silêncio durante uns minutos, a tentar decidir por onde começar.
- Maman?
- Sim? - respondeu ela, sem erguer os olhos para mim.
- Não posso voltar para a escola. Pelo menos este ano.
Deixou cair no colo a camisola que estava a tricotar e fitou-me por cima dos óculos. Embora tivesse cinquenta e seis anos e algumas rugas começassem a desenhar-se à volta dos seus olhos e na testa, ainda era linda.
- O quê?
- Não posso voltar para a escola.
- Enlouqueceste?
Disse-lhe que ali não nos ensinavam nada de útil. Se ficasse em casa, não teria de aturar as professoras que eram guardas revolucionárias. Pro-meti-lhe que estudaria em casa toda a matéria do 11º ano e que me proporia a exame.
- Sabe que consigo - disse eu. - Provavelmente sei mais do que as novas professoras.
Ela soltou um suspiro e baixou os olhos.
- Não me obrigue a voltar, Maman - supliquei a soluçar.
- Vou pensar no assunto.
Corri para o meu quarto.
Na manhã seguinte, quando a minha mãe entrou no meu quarto eu quase não conseguia abrir os olhos, inchados por ter passado a noite a chorar. Era como se toda a minha tristeza e frustração tivessem vindo à superfície. A minha mãe foi pôr-se junto da porta que dava para a varanda, a olhar para a rua.
- Podes ficar em casa - disse ela -, mas só durante um ano.
Tinha tomado essa decisão de acordo com o meu pai.
Aram telefonou-me certa noite, no princípio de Setembro, para se despedir. Ia sair do país no dia seguinte. Tive a impressão de que estava a chorar.
- Vou sentir a tua falta. Cuida de ti - disse eu, numa voz controlada.
Não lhe havia falado do André e decidi que estava na altura de ele saber. Por isso expliquei-lhe que tinha conhecido uma pessoa na igreja de quem gostava muito.
Ele ficou surpreendido e perguntou-me há quanto tempo durava isso. Respondi-lhe que o André e eu nos tínhamos conhecido na Primavera.
- Porque não me disseste mais cedo? Pensei que contávamos tudo um ao outro.
- Não tinha a certeza. Nunca mais queria prender-me a ninguém.
Ele compreendeu.
Depois de terminarem o liceu, todos os rapazes tinham de cumprir o serviço militar, a menos que entrassem para a universidade ou que o governo os dispensasse oficialmente, por motivos de saúde ou outros. O pai de Aram obtivera uma isenção para ele, uma vez que o irmão era considerado mártir e ele era o único filho vivo que os pais tinham. Não era obrigado a ir para a guerra, pois a família já dera o seu contributo com um filho. Aram achava irónico ser o irmão a salvar-lhe a vida. O governo concedera-lhe um passaporte oficial e ele estava legalmente autorizado a sair do país.
Sarah telefonou-me um dia, em Novembro de 1981, a dizer que tinha de ver-me imediatamente. A sua voz estava trémula, mas não quis explicar-me mais nada pelo telefone. Corri para casa dela e encontrei-a à minha espera à porta. Os pais e o irmão não estavam em casa. Fomos para o quarto dela e Sarah deixou-se cair em cima da cama. Tinha os olhos vermelhos e inchados de chorar.
Disse-me que dois dias antes os guardas revolucionários tinham ido a casa de Cita para a prenderem, mas como esta não se encontrava em casa, tinham prendido a mãe e duas irmãs e dito ao pai que, caso Cita não se entregasse no espaço de uma semana, uma das irmãs seria executada. Por isso, ela fora a Evin entregar-se e eles tinham libertado a mãe e as irmãs.
- Marina... sabes como ela é obstinada. Eles vão matá-la. A Gita não tem tento na língua. É provável que nos aconteça o mesmo a seguir. Bem, a seguir de certeza que é o Sirus, mas ele afirma que toda a gente que tiver dito abertamente qualquer coisa contra o governo corre o risco de ser preso.
Sirus tinha razão. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, nos iriam buscar. Eles sabiam quem procurar. Sabiam onde morávamos. Eu nunca falara a ninguém da lista, pois não sabia quem mais constava dela e não queria assustar ninguém nem arranjar problemas à Khanoom Bahman.
- Sim, provavelmente somos nós a seguir. É apenas uma questão de tempo e não podemos fazer nada contra isso. Não podemos fugir. Se o fizéssemos, eram os nossos pais que pagavam - disse eu.
- Não podemos ficar aqui sentadas à espera.
- Que queres fazer?
- Pelo menos podia contar aos meus pais - disse Sarah.
- Eles vão entrar em pânico. Ninguém pode fazer nada, a menos que Pudéssemos desaparecer todos. Juntos. Se eu contar aos meus pais, eles não me tomam a sério. Não te preocupes demasiado. As coisas não podem ser assim tão más. As pessoas exageram. Nós não fizemos nada. A Git estava envolvida com o grupo dela. Mas porque iriam eles preocupar-se connosco?
- Acho que tens razão. Não devemos entrar em pânico. Não fizemos nada.
Depois de se declarar, Ali conduziu-me de novo ao 246. Mal entrei na camarata, as minhas amigas rodearam-me, desejosas de saber o que tinha acontecido. Disse-lhes que Ali estava de regresso e que só queria saber como eu estava. Pela expressão dos rostos delas percebi que não acreditavam em mim. Estavam preocupadas, mas nenhuma delas poderia fazer nada para me ajudar.
Não queria que as minhas companheiras soubessem da proposta de Ali. Sentia-me culpada e envergonhada. Tinha posto em perigo André e os meus pais. Uma vez que não me restavam dúvidas de que as ameaças de Ali eram graves, tinha de fazer o que ele queria que eu fizesse.
Recordei-me de quando Arash me beijara. Tinha sido a melhor sensação do mundo, porque eu o amava. Ali iria beijar-me? Limpei a boca com a manga e fiquei com o corpo coberto de suores frios.
Eles podem matar-me se lhes apetecer, mas não quero ser violada, dissera Taraneh.
Embora eu ainda não soubesse exactamente o que significava ser violada, disse para comigo que aquilo não era violação. Ali queria casar comigo. Estava tudo certo... Não, não estava... Senão, porque estaria eu a pensar naquilo? Sabia que tinha de o fazer.
O casamento era para sempre. Eu poderia viver com Ali para sempre? Talvez ele tivesse em mente um casamento temporário. Eu ouvira dizer que havia no Islão uma coisa chamada sigheh, um casamento temporário, que podia durar de minutos a anos. Também sabia que num casamento temporário a mulher não tinha quaisquer direitos. No meu caso, isso não fazia diferença, pois eu era uma reclusa e, como tal, não tinha direitos nenhuns. Talvez só quisesse que eu fosse sua mulher durante pouco tempo e depois me deixasse partir. Se fosse esse o caso, ninguém precisava de saber. Eu tinha de manter este casamento em segredo durante tanto tempo quanto possível.
As horas decorreram sem que eu conseguisse comer, pensar ou falar fosse com quem fosse. Nem sequer conseguia chorar. Durante o dia, tudo o que era capaz de fazer era andar de um lado para o outro no corredor e, à noite, adormecer, vencida pela exaustão.
Finalmente, no terceiro dia, fui falar com a Irmã Maryam. Ela estava ao corrente da proposta de Ali, pelo que não precisei de me preocupar em revelar o meu segredo. Disse-lhe que não queria casar com ele, ao que ela me respondeu que todos os casamentos na sua família tinham sido combinados e que as mulheres nunca queriam casar com o homem que os pais haviam escolhido para elas. Disse-me que a sua própria mãe odiava o homem com quem devia casar, mas acabou por ser muito feliz com ele. Retorqui que não sabia como seria possível a felicidade nessas circunstâncias. Expliquei-lhe que, na minha família, eram as próprias mulheres a escolher os maridos. Ela replicou que eu já não vivia com a minha família e que tinha de me lembrar que Ali me concedera uma nova vida. Em sua opinião, eu estava a ser difícil e pouco razoável.
Os meus três dias chegaram ao fim. No início do quarto dia, chamaram-me pelo altifalante. Ali estava à minha espera no seu gabinete.
- Não precisas da venda - disse. - Vamos falar no meu carro.
Saímos do gabinete para um corredor sem janelas, cheio de lâmpadas fluorescentes. Até esse momento, à excepção do 246 e da sala dos interrogatórios, nunca vira o interior de Evin. Tudo aquilo havia sido um pesadelo escuro de vozes iradas, de vergastadas, de gritos, de disparos e do ruído ténue de chinelas de borracha a arrastarem no linóleo e nos pavimentos de pedra. No entanto, o corredor que se estendia à minha frente podia ser um corredor qualquer, talvez de um edifício do governo ou de uma escola. Desci atrás de Ali os degraus de uma escada normal, como outra qualquer. Duas guardas revolucionárias cruzaram-se connosco, cumprimentaram-no com uma ligeira vénia e disseram “saiam aleikom”, ignorando-me por completo. Ele retribuiu a saudação. Uma vez chegados ao fundo da escada, abriu uma grande porta de metal e saímos para o exterior. A normalidade do que vi sobressaltou-me. Evin fazia lembrar o campus da universidade de Teerão, na Avenida Enghelab. A principal diferença entre ambos era Evin ter mais espaços ao ar livre. A outra diferença era a universidade de Teerão ser rodeada por uma vedação de rede metálica, enquanto Evin era rodeada por muros altos de tijolo, torres de vigia e guardas armados. Aqui e além avistavam-se maciços de aceres altos, antigos, e a norte erguiam-se os montes Alborz.
Ali conduziu-me por uma estrada estreita, asfaltada; virámos a esquina de um edifício cinzento e seguimos até ao sítio onde estava estacionado um Mercedes preto, à sombra de umas árvores. Ele abriu a porta da frente, do lado do passageiro, para eu entrar. O carro cheirava a novo. O suor corria-me pela testa. Ele sentou-se no lugar do condutor e pôs as mãos no volante. Reparei em como os seus dedos eram longos e esguios, e como tinha as unhas limpas e cuidadosamente cortadas. Tinha mãos de pianista, embora o seu trabalho fosse interrogar reclusos.
- Qual foi a tua decisão? - perguntou, fitando umas contas de rezar, cor-de-âmbar, penduradas no vidro da retaguarda.
Um pardal voou de uma árvore e desapareceu na vastidão azul do céu sem nuvens.
- O que tem em mente é um casamento temporário? - perguntei.
Ele olhou para mim, surpreendido.
- O que sinto por ti não é uma atracção física passageira. Gosto mesmo de ti.
- Ali, por favor...
- A tua resposta é “sim” ou “não”? E não te esqueças das consequências. O que te disse quando falei contigo foi muito a sério.
- ... eu caso consigo - respondi, sentindo-me como se estivesse a ser enterrada viva.
- És uma rapariga sensata - disse ele com um sorriso. - Sabia que ias tomar a decisão certa. Garanto-te que não vais arrepender-te. Vou cuidar bem de ti. Tomei as disposições necessárias e falei com os meus pais. Vai levar algum tempo.
Perguntei-me o que pensariam os pais dele do casamento com uma prisioneira cristã. E a minha família? Como iria reagir?
- Ali, por agora não quero que a minha família saiba nada do casamento - disse eu. - Nunca tive uma relação muito chegada com os meus pais. Sei que eles não vão compreender a situação e isso só irá tornar as coisas mais difíceis.
Não consegui suster as lágrimas durante mais tempo.
- Marina, não chores, por favor. Não tens de dizer a ninguém até estares preparada, e não interessa quanto tempo isso irá demorar. Percebo que isto seja duro para ti. Farei tudo que puder para tornar as coisas mais fáceis.
Enquanto os meus amigos e a minha família não estivessem a par deste casamento, a rapariga que eu tinha sido antes de Evin tinha uma hipótese de sobreviver. Ela podia existir, sonhar, ter esperança e amar, ainda que tivesse de se esconder dentro do meu novo eu: a mulher de um interrogador. Não estava certa de quanto tempo ela seria capaz de viver assim, mas eu iria protegê-la. Ela era o meu eu verdadeiro, o ser que os meus pais e André amavam e queriam de volta.
Ali reconduziu-me ao 246 e perguntei à Irmã Maryam se seria possível enviar-me para um dos quartos no andar de baixo. Não sentia vontade de dar explicações às minhas amigas. O andar de cima e o de baixo eram completamente separados e as reclusas não podiam ter contacto umas com as outras. Queria estar sozinha onde ninguém me conhecesse. Ela consentiu, chamou a responsável pela camarata 7, disse-lhe para levar os meus haveres para o escritório e eu mudei-me para a camarata 6 no primeiro andar, que, tal como a que ocupara no segundo andar, albergava cerca de cinquenta raparigas.
Pouco depois, a minha saúde começou a deteriorar-se. Vomitava cada vez que comia e os ataques de enxaqueca paralisavam-me. Com a cabeça tapada com um cobertor, passava a maior parte do tempo a um canto, incapaz de dormir. Os meus pensamentos giravam em círculos e deambulavam até Taraneh. Como sentia a falta dela! Desde que a tinham levado, evitara pensar nela, sem vontade de imaginar os pormenores das últimas horas da sua vida. Porque viramos as costas à realidade quando ela se torna excessiva para a suportarmos? Devia ter dito à Irmã Maryam que queria morrer como Taraneh. Devia ter tentado impedir que a executassem. Sabia que nada teria conseguido, mas devia ter tentado. Uma vida inocente não justifica um combate, ainda que esse combate esteja condenado ao fracasso? Eu era responsável pela morte dela, pois tinha aceitado o seu destino. Mas porque permanecera em silêncio? Teria medo de morrer? Não creio que fosse esse o caso. Talvez a razão fosse a esperança - tinha esperança de um dia regressar a casa. Os meus pais e André estavam à minha espera. Como era possível optar pela morte antes de ter chegado a minha hora? O certo e o errado interligavam-se e eu não sabia qual o caminho a seguir.
Encontrava-me no meio das trevas. Um campo aberto rodeado de montanhas negras. Taraneh estava ao meu lado, com a camisola vermelha que lhe dava sorte, a olhar em frente. Toquei-lhe na mão e ela fitou-me com os seus olhos cor de âmbar. Ali surgiu da escuridão da noite. Aproximou-se de nós e apontou-me uma espingarda à cabeça. Não consegui esboçar um movimento. Com a sua mão pequenina, Taraneh agarrou-lhe no pulso. “Não”, disse ela. Ali, encostou-lhe a arma à cabeça e puxou o gatilho. O sangue de Taraneh cobriu a minha pele. Soltei um grito.
Acordei com um grito embargado na garganta. Os meus pulmões recusavam-se a respirar. Um rosto surgiu por cima do meu, vago e indistinto. Vozes sonoras, incompreensíveis, enchiam a camarata. Mas quando não há ar, nada importa a não ser encontrá-lo. Tentei estender a mão e agarrar qualquer coisa, qualquer coisa que me impedisse de sufocar. Tentei explicar que não conseguia respirar. O rosto... era o da Irmã Maryam. Estava a dizer qualquer coisa, mas as palavras dela pareciam vir de muito longe. A camarata desvaneceu-se, como se alguém tivesse diminuído a intensidade da luz e a tivesse apagado.
Quando abri os olhos, vi Ali a falar com o doutor Sheikh, que envergava um uniforme militar. Agora já conseguia respirar. Estávamos rodeados por cortinas brancas. Eu estava deitada numa cama limpa e confortável. Tinha o cabelo coberto por um lenço branco e o corpo tapado com um lençol branco e espesso. De um saco de plástico suspenso de um gancho, um líquido incolor corria para um tubo transparente ligado à minha mão. O doutor Sheikh foi o primeiro a reparar que eu estava acordada.
- Olá, Marina. Como te sentes? - perguntou.
Não conseguia recordar-me do que tinha acontecido e não sabia onde me encontrava. O médico disse-me que estava extremamente desidratada e que me tinham levado para o hospital-prisão. Em seguida desapareceu através de uma pequena abertura na cortina. Olhei para Ali, que sorriu.
- Vou a casa buscar-te comida feita pela minha mãe, capaz de curar seja o que for. Acordo-te quando chegar. Queres mais alguma coisa? Queres que te traga qualquer coisa lá de fora?
- Não.
- Porque não disseste a ninguém que estavas assim tão doente?
- Para dizer a verdade, nem sei o que aconteceu.
- As tuas companheiras de quarto disseram à Irmã Maryam que andavas a vomitar há dias.
- Sempre tive problemas de estômago - disse com os olhos cheios de lágrimas. - Não era nada de novo. Só um pouco pior do que o habitual. Mas nem pensei muito no caso. A sério. Julguei que ia passar. Os pesadelos e as dores de cabeça. Tentei... - Comecei a sentir um aperto no peito.
Ali inclinou-se para mim, com as mãos apoiadas ao lado da cama.
- Não te preocupes. Já passou. Está tudo bem. Estiveste doente. É tudo. Agora, podes repousar e pôr-te melhor. Respira fundo. Muito, muito fundo.
Fiz como ele me dizia.
- O médico vai dar-te uma coisa para te ajudar a dormir. Precisas de descansar. E acabaram-se as dores de cabeça e os pesadelos. Está bem?
A voz de Ali acordou-me. Estava a chamar-me pelo nome e tinha nas mãos uma taça de sopa caseira, canja com massa, que cheirava a limão. Em casa, punha sempre sumo de limão na canja. Ele disse-me que o médico era de opinião que o ar puro e uma mudança de ares me seriam benéficos e ofereceu-se para me levar a dar uma volta de carro. Perguntei-lhe se queria dizer ir até ao exterior de Evin, e ele respondeu que sim e disse-me que acabasse a sopa para podermos ir.
Mal acabei de comer, ele ajudou a que me instalasse numa cadeira de rodas e afastou a cortina branca que nos rodeava. Encontrávamo-nos numa grande sala, dividida por cortinas em secções isoladas. Duas dessas cortinas tinham sido afastadas, revelando duas camas, uma das quais vazia e a outra com uma rapariga adormecida, que aparentava a minha idade. Tinha um lenço de cabeça azul-marinho e o corpo tapado por um espesso cobertor branco. Não havia janelas. Ali empurrou a cadeira de rodas através de uma porta e entrámos num corredor estreito. Mais uma vez, não me tinha vendado. Abriu uma porta e, de olhos semicerrados, enfrentei a luminosidade do mundo exterior. Ele conduziu a cadeira de rodas por uma rampa abaixo.
O céu parecia um mar revolto - vagas de nuvens, semelhantes a espuma, flutuavam em direcção ao horizonte. Passámos por algumas mulheres vendadas, com chadores azul-escuros. Em fila indiana, seguiam atrás de um guarda revolucionário. Cada mulher segurava o chador da que seguia à sua frente. O guarda revolucionário que as conduzia levava uma corda na mão, cuja ponta estava atada ao pulso da mulher da frente; ele puxava-a e as outras seguiam-na. Uns dias antes, eu era como elas. Agora, sob a protecção de Ali, as coisas tinham mudado. Senti-me envergonhada. Tinha-as traído. Tinha traído toda a gente.
A nossa direita, áceres altos tapavam-me a vista, e à esquerda havia um edifício de tijolo, com dois pisos, atrás do qual estava estacionado o Mercedes de Ali. Uma vez junto do carro, dei-me conta de que não queria estar sozinha com ele. O medo infiltrara-se por baixo da minha pele.
- Deixa-me ajudar-te - disse ele, pegando-me no braço esquerdo e tentando puxar-me.
Repeli-o.
- Marina, por favor não tenhas medo de mim. Não vou fazer-te mal. Nunca te fiz mal.
Era verdade; nunca me tinha feito mal.
- Confia em mim. Mesmo quando estivermos casados, serei respeitador e gentil. Não sou um monstro.
Não me restava alternativa senão confiar nele. Os meus músculos estavam fracos e doridos e senti-me estonteada quando me pus de pé, mas consegui entrar no carro sem perder o equilíbrio. A saída, ele acenou aos guardas, estes abriram os portões e, com toda a simplicidade, saímos de Evin. Fiquei surpreendida ao ver como lhe havia sido fácil tirar-me dali - era provável que Ali fosse muito mais importante do que eu imaginara.
A rua estava vazia e sem vida, mas, à medida que nos afastávamos da prisão, ia-se tornando mais animada. Havia pessoas, casas e lojas. Num baldio, um grupo de rapazes corria atrás de uma bola de plástico; os seus rostos, cobertos por uma camada de poeira, pareciam enfarinhados. Mulheres transportavam para casa os produtos de mercearia e, aqui e ali, havia homens a conversar. Todas as coisas simples que as pessoas faziam me pareciam um milagre.
- Estás muito calada. Em que estás a pensar? - perguntou-me Ali ao cabo de meia hora.
- Na vida e em como aqui tudo parece normal.
- Prometo-te que, embora vá levar algum tempo, vamos acabar por ter uma vida normal. Eu vou trabalhar para te sustentar. Tu ficas a tomar conta da casa, vais às compras, visitar amigos e família. Vais ser feliz.
Como podia ele falar do seu trabalho de uma forma tão descontraída? Não era professor, médico, nem mecânico.
- Os meus amigos estão mortos ou na prisão, e não tenho a certeza de que a minha família me queira tornar a ver - respondi.
- Vais fazer novos amigos. E porque pensas que a tua família desaprovaria o nosso casamento?
- Para já, por causa do teu trabalho.
- Marina, confia em mim; há esperança. Eles hão-de perceber como gosto de ti. Tive de superar muitos obstáculos só para te manter viva e há muitas pessoas que são contra o nosso casamento. Há muitos mais obstáculos que ainda tenho de superar, mas heide resolver todos os problemas. A tua família vai mudar de opinião quando vir a boa vida que te proporciono. Enfrentá-los-emos juntos quando estiveres preparada.
Porque me teria ele escolhido a mim? Eu era a personificação de tudo a que se opunha: era uma prisioneira cristã, anti-revolucionária. Ele tivera de lutar para me salvar da morte e agora tinha de lutar de novo para casar comigo. Porque estaria a fazê-lo?
Durante algum tempo, fomos passear todas as noites. Enquanto estávamos no carro dele, eu tentava fingir que era uma pessoa normal. Tentava parar de pensar no passado ou no futuro; tentava concentrar-me no zumbido reconfortante do motor, nos assentos de couro macios e nas ruas estuantes de vida despreocupada. Embora a cidade permanecesse exactamente como eu a havia deixado, cada coisa que via, que cheirava ou que ouvia parecia-me estranha. A voz de Ali sobrepunha-se a tudo quando me falava da sua família. Era o único filho do sexo masculino e tinha uma irmã casada, de vinte e cinco anos. A mãe engravidara duas vezes antes de a irmã nascer, mas tinha abortado ambas as vezes. Segundo a lei islâmica, os homens estão autorizados a ter mais de uma esposa, mas Hossein-eh Moosavi, o pai de Ali, dedicara-se à sua única mulher e aos dois filhos. O senhor Moosavi era um homem muito religioso e ajudara o Ayatollah Khomeini durante muitos anos. Sentia-se orgulhoso por Ali ter sido um soldado corajoso na jihad contra o Xá. Era um homem de negócios inteligente que fizera uma grande fortuna, mas que se lembrava de ajudar os necessitados. Durante anos, os pais de Ali tinham querido que ele casasse, mas, com vinte e oito anos, ele ainda não tinha nenhum compromisso.
- Falei de ti aos meus pais - disse-me durante um dos nossos passeios nocturnos.
- Que disseram eles?
- Ficaram horrorizados - respondeu com uma gargalhada. Talvez houvesse esperança de, afinal, não ter de casar com ele. - Mas eu disse-lhes que te achava a mulher ideal - prosseguiu.- Disse-lhes que te queria mais do que ao que quer que fosse. Sempre fui um bom filho para eles. Sempre lhes obedeci mas, desta vez, a decisão é minha. Não me contento com mais nada. Tenho vinte e oito anos e passei por muitas coisas na vida; já tomei uma decisão. Quero que sejas minha mulher, minha companheira e a mãe dos meus filhos.
- Ali, nós somos de mundos diferentes. Os teus pais nunca irão gostar de mim. Hão-de sempre criticar-me pelos meus hábitos diferentes.
Ele explicou-me que os pais eram bondosos e generosos e que não duvidava de que me iriam adorar.
Fechei os olhos e tentei não pensar.
Decorridos alguns minutos, Ali disse-me que havia mais uma coisa que precisava de discutir comigo. Sabia que eu não ia gostar, mas insistiu que era apenas uma formalidade.
- O meu pai disse-me que, se tu te converteres ao islamismo, não terá nada contra o nosso casamento e até o encorajará - continuou. - Nesse caso, os meus pais terão orgulho em aceitar-te como filha. Apoiar-te-ão e proteger-te-ão como se fosses filha deles. É isto que eu quero que aconteça, Marina. Quero-te junto de mim e quero que a minha família te ame. A partir do momento em que te vi, soube que tínhamos de ficar juntos.
Eu tinha perdido a minha família, o homem que amava, a minha liberdade, o meu lar e todas as minhas esperanças e sonhos. Agora, tinha de trair a minha fé.
Ele não se importava que, no meu íntimo, continuasse a ser cristã. Supliquei-lhe que me deixasse partir, mas ele disse que não era possível.
- E se eu disser “não”? - perguntei.
- Não tornes as coisas difíceis para ti - respondeu ele. - Isto é para teu próprio bem. Não vais querer que aqueles que amas sofram devido ao teu orgulho. Só tens dezassete anos. Há tantas coisas neste mundo que não compreendes! Prometo-te que te tornarei tão feliz como nunca foste.
Como poderia fazê-lo entender que nunca seria feliz com ele? Ali estacionou o carro numa rua sossegada. Eu conhecia a zona, pois ficava próxima da casa da minha tia Zenia. Perguntei-lhe se compreendia que eu tinha de esquecer tudo sobre os meus pais, os meus amigos e a minha igreja, que eles iriam odiar-me para sempre. Ele disse-me que, se me odiassem por eu me converter ao islamismo, isso significaria que nunca me tinham amado.
Saiu do carro e abriu-me a porta.
- Que estás a fazer? - perguntei.
- Vem. Comprei uma casa para nós.
Subimos os poucos degraus que conduziam à porta da rua de um grande bungalow de tijolo. Ali abriu a porta e entrou. Eu hesitei.
- De que estás à espera? Não queres vê-la? - perguntou.
Segui-o. Havia uma sala pequena, uma sala de estar com zona de jantar, a maior cozinha que eu já vira, quatro quartos e três casas de banho. As paredes estavam todas pintadas de fresco, de cores neutras, mas não havia mobília. No quarto de dormir principal, vi-me diante de uma porta de correr que abria para o jardim. O relvado era espesso e verde e viam-se gerânios, amores-perfeitos e calêndulas a crescer em pequenos montículos de terra. Vermelhos, brancos, roxos e amarelos. Uma borboleta branca voava de flor em flor, esforçando-se por manter o seu trémulo equilíbrio contra o vento. Um muro alto, de tijolos, separava o jardim da rua. Como podia haver tanta beleza num mundo tão cruel?
Ali abriu a porta de correr, dizendo:
- Vamos lá para fora. As flores estão a precisar de água.
Uma vez no jardim, arregaçou as mangas, abriu a torneira e pegou na mangueira. As gotículas frescas, transportadas pelo vento, tocaram-me no rosto. Ele regou as plantas, com cuidado para não danificar o solo. Grandes gotas de água surgiram na folhagem, retendo a luz dourada do sol nos seus corpos perlados. Colheu as flores murchas, a trautear uma melodia e a sorrir. Tinha um ar normal, como qualquer outro homem. Teria alguma vez matado alguém, não na frente de batalha, durante a guerra, mas em Evin? Teria alguma vez puxado o gatilho e posto fim à vida de alguém?
- Gostas da casa? - perguntou.
- É linda.
- Plantei as flores para ti.
- Sou uma reclusa, Ali, condenada a prisão perpétua. Como poderia ter autorização para viver aqui?
- Convenci todos os funcionários superiores de Evin a deixarem-te ficar aqui comigo, como se estivesses em prisão domiciliária, e eles concordaram. Esta é a nossa casa, Marina, tua e minha.
A nossa casa. Eu já nem sequer sei quem sou. Esta casa é um prolongamento de Evin.
- Então vou ser uma prisioneira aqui - disse eu.
- Temos de fazer as coisas como deve ser. Sabes muito bem que certas pessoas, como Hamehd, são contra o nosso casamento, e que andam a vigiar-nos. Não devemos cometer nenhum erro. Foste condenada à morte por um tribunal islâmico e...
- Mas nunca fui julgada - ripostei.
Na noite das execuções, Ali tinha-me dito que eu fora condenada à morte, mas eu partira do princípio de que Hamehd, e talvez alguns dos outros, tinham simplesmente decidido executar-me. Para mim, um julgamento era aquilo acerca de que tinha lido em livros e visto em filmes: uma vasta sala com um juiz, um júri, um advogado de defesa e outro de acusação.
Ali disse que eu fora julgada, mas que não me encontrava presente quando isso acontecera. Em seguida, recebera o perdão do Imã e a minha sentença fora reduzida para prisão perpétua. Acrescentou que não seria conveniente ir outra vez falar com o Imã, mas que tinha autorização para pedir um novo julgamento. Estava convencido de que se eu fosse de novo julgada depois de me ter convertido ao islamismo e de casar com ele, a minha sentença não ultrapassaria os dois ou três anos.
Perguntei-lhe por que motivo me odiava Hamehd assim tanto. Ali explicou-me que Hamehd e muitos outros como ele não gostavam de quem era diferente e tinha hábitos diferentes.
Soltei um suspiro. Não entendia aquela estranha sociedade islâmica.
- Vai tudo correr bem - prosseguiu ele. - Ainda não comprei móveis, porque pensei que talvez quisesses ser tu a decorar a casa. Posso começar a comprar as coisas amanhã; assim fica tudo pronto a tempo. Sei que ainda estás preocupada com a reacção da tua família, mas confia em mim. Quando virem a vida que te proporciono, vão ficar felizes.
Talvez Ali tivesse razão. Não éramos ricos, e aquela casa estava muito para além das nossas possibilidades. O meu pai nunca acreditara em Deus e tinha sempre rido das minhas convicções religiosas, mas o dinheiro era uma coisa que sempre o havia preocupado. As coisas grandes, caras, sempre o tinham impressionado. Talvez fosse gostar de Ali. O meu pai adorava carros luxuosos e Ali conduzia um Mercedes novinho em folha. A minha mãe nunca possuíra nada dispendioso e vivia em andares alugados desde que casara. Ia adorar aquela casa. Teria eu uma pequena hipótese de ser feliz com Ali? É certo que isso dependia dele, mas também de mim. Ele adorava-me à sua maneira. Embora os seus hábitos fossem muito diferentes dos meus, via o amor nos seus olhos quando me fitava.
Durante o caminho de regresso a Evin, Ali disse:
- Acho que não deves voltar para o 246. Por agora, são preferíveis as celas do 209. Poderei ver-te com mais frequência e levar-te comida de casa. Que te parece?
Fiz que sim com a cabeça.
Pelo caminho, parámos num pequeno restaurante e Ali comprou uma sanduíche de ovo e uma Coca-Cola para cada um de nós. Eu adorava ovos e há meses que não comia nenhum. Comemos no carro. O pão era fresco, barrado de manteiga, e tinha fatias de tomate alternadas com fatias de ovo cozido. Quando acabei a minha sanduíche, Ali ainda nem ia a meio da dele. Perguntou-me se queria outra e respondi que sim. Encomendou mais uma para cada um.
Em Evin, entrámos num edifício diante do qual Ali tinha estacionado o carro. A nossa frente estendia-se um corredor comprido e mal iluminado, com muitas portas de metal de cada lado. Um guarda aproximou-se de nós.
- Saiam aleikom, Irmão Ali, como tens passado?
- Bem, obrigado, Irmão Reza. Graças a Deus. E tu?
- Menos mal, graças a Deus.
- A cela que pedi está pronta?
- Está sim. Acompanhem-me.
Seguimo-lo até uma porta com o número 27. Ele introduziu uma chave na fechadura e abriu-a. Um rangido sonoro ressoou no corredor. Ali entrou na cela e olhou em redor. Depois saiu e fez-me sinal para entrar. A cela, de cerca de três metros por dois, tinha uma casa de banho e um pequeno lavatório de aço inoxidável. O chão estava coberto por uma alcatifa castanha muito gasta e a única janela, quadrada e com cerca de trinta centímetros de lado, tinha grades e estava fora do meu alcance. Ali ficou à porta.
- Aqui vais ficar bem. De manhã volto com o pequeno-almoço. Vê se dormes.
Fiquei a ver a porta fechar-se e ouvi a chave rodar na fechadura. O clic que fez assemelhava-se ao som de “traidora”.
Os altifalantes começaram a transmitir uma marcha militar. Mais uma vitória. Se todas essas “vitórias” fossem verdadeiras, nesse momento o Irão já teria conquistado o mundo.
Tirei o lenço, fui até ao lavatório e lavei a cara. Soube bem. Fi-lo repetidas vezes, talvez umas trinta, até ficar com o rosto dormente. Havia qualquer coisa reconfortante no som e na frescura da água a correr. De certo modo, ela ligava-me ao mundo. Mas essa ligação, ainda que a sentisse na pele, assemelhava-se a uma recordação. O conforto que isso me proporcionava não pertencia ao presente - era algo do passado, triste e nostálgico.
Sentia-me exausta. A um canto havia um par de mantas militares dobradas. Abri-as no chão e deitei-me. As paredes da cela haviam sido pintadas de bege-claro, mas uma parte da pintura caíra, deixando à vista o reboco por baixo. A que restava, encontrava-se coberta de dedadas, estranhas marcas com um aspecto engordurado, de diferentes tamanhos e feitios, e de manchas de um vermelho acastanhado, que suspeitei serem de sangue. Também havia algumas palavras e números gravados nas paredes, na sua maioria ilegíveis. Desenhei-as com os dedos, como se estivessem escritas em Braille. Uma delas dizia: “Shirin Hashemi, 5 de Janeiro, 1982. Está a alguém a ouvir-me?”
No dia 5 de Janeiro eu estava em minha casa e aquela rapariga, a Shi-rin, estava ali. Onde estaria agora? Estaria morta? Devia estar. Tê-la-iam torturado antes de escrever aquelas palavras?
“Está alguém a ouvir-me?”, perguntara ela.
Não, Shirin, ninguém nos ouve. Estamos aqui sozinhas.
Havia outros nomes: Mahtab, Baliram, Katayoon e Pirooz. E mais datas: 2 de Dezembro de 1981, 28 de Dezembro de 1981, 12 de Fevereiro de 1982, e por aí fora. Consegui ler uma frase que dizia: “Firoozeh jan, amo-te.” Vidas cativas, perdidas, haviam deixado as suas marcas nas paredes que me rodeavam. Segui uma linha invisível, semelhante a uma estrada num mapa, que ligava palavras, datas e frases que me rodeavam, semelhantes a pedras tumulares. Ali, a morte estava presente e a sua sombra infiltrava-se em cada palavra, tornando-a irrevogável. “Está alguém a ouvir-me?”
Sou uma traidora. E mereço tudo isto, esta dor, esta cela. Desde o momento em que entrei em Evin, fiquei condenada a trair-me a mim mesma. Até a morte me vira as costas. Eles vão odiar-me: os meus pais, André, os padres, os meus amigos. E tu, Deus? Também me odeias? Não, não penso que me odeies, embora pudesses fazê-lo. Isto é inútil. Quem sou eu para decidir o que Tu pensas? Mas puseste-me aqui, não foi? Podias ter-me deixado morrer. Mas sobrevivi. Por conseguinte, isto foi mais uma decisão Tua do que minha. Que esperavas que eu fizesse? Suplico-te que digas alguma coisa, por favor...
Mas Deus não disse nada.
Como havia prometido, de manhã Ali levou-me o pequeno-almoço: pão barbari, com compota de ginja caseira. O chá, num copo de plástico, tinha um aroma delicioso, e não cheirava a cânfora. Passei a manhã a pensar no que os meus pais e André estariam provavelmente a fazer. Tinha quase a certeza de que a minha mãe estava sentada na sua cadeira favorita, a tricotar ou a beber uma chávena de chá. O meu pai estava no trabalho e André... bem, não sabia o que ele estaria a fazer. A Primavera estava quase a chegar ao fim e a escola tinha acabado, por isso ele não estava a dar aulas. Estaria eu algures nos confins dos seus espíritos, como uma memória posta de lado? Ou seria uma presença viva, a quem tinham perdoado e por quem rezavam? Está alguém a ouvir-me?
Naquela noite, Ali foi buscar-me por volta das seis horas e disse-me que ia levar-me a conhecer os pais. A casa dele não ficava longe de Evin. Uma vez chegados, estacionou o carro na rua calma. Velhas paredes de tijolo erguiam-se de ambos os lados da estrada e, por trás delas, velhos aceres, salgueiros e choupos erguiam-se em direcção ao céu, mas pareciam sementes contra a enormidade das montanhas Alborz, que se erguiam ao fundo. Sentia a garganta terrivelmente seca e as mãos frias e pegajosas. Embora Ali me tivesse tranquilizado, dizendo que os seus pais eram muito simpáticos, eu não tinha ideia do que me esperava. Segui-o até uma porta de metal verde e ele tocou à campainha. Uma mulher baixinha abriu a porta. Tinha um chador branco e desconfiei que fosse Fatemeh Khanoom, a mãe dele. Estava à espera de que fosse maior.
- Saiam, Madarjoon - cumprimentou Ali, dando-lhe um beijo na testa. - Madar, esta é a Marina.
- Saiam, querida. Tenho muito prazer em conhecer-te - disse ela com um sorriso. Tinha um rosto bondoso.
Transpusemos a porta, que dava acesso ao jardim. Um caminho estreito, coberto de seixos cinzentos, descrevia uma curva para a direita e desaparecia entre nogueiras e aceres antigos. Dentro em pouco avistámos a grande casa, com vinha a trepar pelas paredes. Vasos de barro, a transbordar de gerânios e de calêndulas ladeavam os largos degraus que conduziam ao vasto alpendre.
Dentro de casa, o soalho estava coberto de tapetes persas dispendiosos. Akram, a irmã de Ali, estava lá com o marido, Massood. Tinha um rosto redondo, grandes olhos castanhos e faces rosadas. Fiquei sem saber se havia de beijá-la, de lhe dar um aperto de mão, ou de não fazer nem uma coisa nem outra; alguns muçulmanos fanáticos consideravam os cristãos impuros, pelo que decidi não lhe tocar, com receio de que se ofendesse. Ali deu um abraço ao pai e beijou-o em ambas as faces.
Este era uns bons centímetros mais alto do que Ali, bastante magro e tinha uma barba grisalha aparada. A família cumprimentou-me delicadamente, mas apercebi-me de que se sentiam constrangidos. Uma rapariga cristã e presa política não era a mulher que tinham sonhado para Ali e não os censurei por tentarem imaginar o que teria ele visto nesta pálida e estranha rapariga.
Passámos para a sala de estar, que era espaçosa e estava decorada de uma forma elegante. Sobre cada mesinha de café havia frutos e doces em bandejas de prata e de cristal. Sentei-me num sofá ao lado de Akram. A mãe de Ali serviu-nos chá Earl Grey. Reparei que passou a maior parte do tempo a observar-me, e senti um vislumbre de piedade nos olhos dela. Devagarinho, bebi o meu chá, servido num copo de vidro delicado, de rebordo dourado, e comecei a sentir-me um pouco mais confortável. Era quase como se tivesse ido a casa de pessoas conhecidas para uma visita informal. Akram ofereceu-me bolachas de arroz e tirei uma. O senhor Moosavi começou a falar de negócios com Ali. Era proprietário de uma loja no bazar de Teerão e importava e exportava artigos, incluindo tapetes persas e pistácios. O jantar não tardou a ser servido. Havia arroz agulha, polvilhado de açafrão, frango assado, carne de vaca estufada com ervas aromáticas, e salada. Embora tudo estivesse delicioso, eu não sentia fome. Talvez os meus pais também estivessem a jantar.
- Esta situação é difícil, Marina - disse o senhor Moosavi depois de termos acabado de jantar. - E tens o direito de saber a minha opinião. Tens de saber qual a tua situação, principalmente por seres tão nova.
Na sua condição de religioso muçulmano, o senhor Moosavi seguia o costume de nunca olhar nos olhos uma namahram - uma mulher que não fosse parente próxima.
- Babah, já discutimos essa questão um milhão de vezes - protestou Ali.
- Pois já, mas, que eu me lembre, a Marina nunca esteve presente em nenhuma dessas discussões. Por conseguinte, tens de ter paciência e tens de me deixar falar com a minha futura nora.
- Está bem, Babah.
- Minha querida, tens de saber que eu entendo as tuas dificuldades. Preciso de te fazer algumas perguntas e preciso que me respondas com sinceridade. Isto é aceitável para ti?
- Sim, senhor.
- O meu filho tem-te tratado bem?
- Tem, sim, senhor - respondi, olhando para Ali, que me sorriu.
- Desejas casar com ele?
- Não desejo casar com ele - respondi -, mas ele deseja casar comigo. Fez tudo o que pôde para me salvar a vida. Tenho noção da minha situação. Ele prometeu tomar conta de mim.
Fiquei com esperança de não ter dito nada inconveniente.
O senhor Moosavi disse que eu era uma rapariga inteligente e com muita maturidade para a idade que tinha. Disse-me que tinha sido uma inimiga de Deus e do governo islâmico, e que havia merecido morrer, mas que Ali tinha intervindo pois acreditava que eu era capaz de aprender com os meus erros e de me modificar. O senhor Moosavi tinha esperança de que eu me desse conta de que a pessoa que havia sido antes de ir para Evin estava morta. Acrescentou que em breve eu iria iniciar uma nova vida como muçulmana e que a minha conversão lavaria os meus pecados. Disse ainda que considerava o filho responsável pelas promessas que me havia feito. Tentara dissuadi-lo da decisão de casar comigo, mas Ali recusara dar-lhe ouvidos. Sempre tinha sido um bom filho e nunca fizera nada contra a vontade do pai. Ali nunca insistira muito em nada, pelo que o senhor Moosavi concordara em permitir que o casamento se realizasse na condição de eu me converter ao Islão. Compreendia que a minha família me pudesse rejeitar se eu me convertesse e prometeu que, enquanto me mantivesse fiel à minha nova fé, me comportasse de uma forma respeitável e conforme às regras do Islão, e fosse uma esposa fiel ao seu filho, seria também sua filha, e ele encarregar-se-ia pessoalmente de me proteger e de assegurar o meu bem-estar.
- Estamos todos de acordo em relação a este assunto? - perguntou, para pôr termo à conversa.
- Sim - responderam todos.
Fiquei surpreendida com os esforços do pai de Ali no sentido de resolver uma situação difícil. Embora as nossas perspectivas fossem completamente opostas, decidi que respeitava o senhor Moosavi. Via que ele amava o filho e queria que este fosse feliz. Se o meu irmão tivesse querido casar com uma rapariga e os meus pais não estivessem de acordo, o meu pai nunca teria convocado uma reunião de família, mas teria dito ao meu irmão que, se ele casasse com aquela rapariga, nunca mais o queria ver.
- Então, Marina - disse o senhor Moosavi - sê bem-vinda a esta família. Agora és minha filha. Devido às circunstâncias invulgares, vamos ter uma cerimónia privada, aqui nesta casa, e tu, minha querida, por agora não precisas de te apressar a informar a tua família. Nós seremos a tua família e proporcionar-te-emos tudo de que necessitares. Tu, meu filho, sempre foste bom para nós e desejamos-te felicidades no casamento. Tens a nossa bênção.
Ali pôs-se de pé, beijou o pai e agradeceu-lhe. A mãe dele chorava quando me abraçou.
- Que tal te pareceu a minha família? Gostaste deles? - perguntou-me Ali no caminho de regresso a Evin.
- São muito bons para ti. A minha família é diferente.
- Que entendes por “diferente”?
Disse-lhe que amava os meus pais e que sentia a falta deles, mas que eles tinham sido sempre muito distantes em relação a mim; nunca tínhamos tido uma verdadeira conversa acerca de nada.
Ali replicou que lamentava ouvir isso e contou-me que o pai havia falado a sério quando dissera que eu fazia parte da família.
- Daqui a uma semana, vamos ter uma pequena cerimónia em Evin para tu te converteres, e o nosso casamento vai ser numa sexta-feira, duas semanas depois disso - declarou.
Tudo estava a acontecer a um ritmo que eu não conseguia acompa-nhar. Ele disse-me que não havia motivo para me preocupar - só precisava de pensar em decorar a casa. Ele estava a pensar levar-me às compras no dia seguinte. Eu não conseguia perceber como seria possível ir às compras.
Estava à espera de que a família dele fosse mesquinha e cruel para mim. Mas tinham sido muito bondosos. Tinham sido tudo o que a minha família nunca fora. Parecera-me difícil encarar Ali como um filho, mas agora sabia que ele amava e era amado.
- A propósito, todos os que se convertem ao islamismo têm de frequentar aulas de religião e de estudo do Corão e de escolher um nome muçulmano. Tu já andas a estudar o Islão desde que foste detida, por isso só precisas de um nome. Quero que saibas que acho o teu nome lindo, que o adoro e que vou recusar tratar-te de outra maneira, mas tens de escolher outro nome qualquer só para o registo - disse-me.
Ia mesmo ter um nome novo. Era como se me estivessem a desmontar, peça a peça; esravam a dissecar-me em vida. Ele podia chamar-me o que bem entendesse.
- Podes ser tu a escolher o meu nome - disse eu.
- Não. Quero que sejas tu a fazê-lo.
O primeiro nome que me ocorreu foi Fatemeh, e disse-o em voz alta.
- O nome da minha mãe! Ela vai ficar contentíssima!
Eu ia voltar as costas a Cristo. Não havia saída possível. Pensei em Judas. Também ele havia traído Jesus. Estaria eu a seguir os seus passos? Só no fim ele se apercebeu do terrível erro que cometera e por isso pôs termo à vida. Desesperado, perdeu toda a fé e esperança e rendeu-se às trevas. Esse não teria sido o seu maior erro? Se tivesse enfrentado a verdade, se tivesse pedido perdão a Deus, talvez pudesse ter salvo a alma. Quando Jesus foi preso, São Pedro afirmou três vezes que não O conhecia, mas São Pedro acreditava no Seu perdão e procurou obtê-lo. Deus era amor. Jesus foi torturado, e morreu de uma morte dolorosa, terrível. Eu não precisava de Lhe explicar nada. Ele já sabia.
Tinha de me despedir de André, apenas de lhe dizer adeus e nada mais. Ele não precisava de saber tudo. Tinha também de dizer aos meus pais, mas podia começar por lhes dizer que me tinha convertido ao Islão para ver a sua reacção. Além disso, queria ver a minha igreja pela última vez. Talvez então pudesse avançar com a minha nova vida.
Na manhã seguinte, Ali levou-me pão barbari fresco com queijo para o pequeno-almoço.
- Estás pronta para ires às compras? - perguntou-me, depois de termos acabado de comer.
- Sim, mas antes de irmos, tenho de te perguntar uma coisa.
- O quê?
- Queres mesmo ajudar-me a amar-te?
- Quero, sim - respondeu ele, com um ar surpreendido.
- Então leva-me à igreja, só uma vez, para me despedir.
- Está bem, levo-te. Mais alguma coisa?
Disse-lhe que havia mais uma coisa, que sabia que não iria agradar-lhe. Expliquei-lhe que entendia que nós tínhamos um acordo. Eu ia cumprir a minha palavra e fazer o possível por ser uma boa esposa, mas precisava de dizer adeus a André. Se o não fizesse, nunca me libertaria do passado.
Vi nos olhos dele que não estava zangado.
- Bem, suponho que tenho de aceitar que o teu coração não pode mudar de um dia para o outro. Vou deixar-te vê-lo uma única vez, mas quero que saibas que vou fazê-lo contra vontade e só para te tornar feliz.
- Obrigada.
- Vou tomar as disposições necessárias. Ele vai ser autorizado a vir ver-te à hora da visita, provavelmente não a esta, mas na próxima.
Agradeci-lhe e disse-lhe que estava a planear falar aos meus pais sobre a minha conversão na visita seguinte.
- Também lhes vais falar do nosso casamento?
- Não, ainda não. Vou fazer as coisas gradualmente.
- Faz como entenderes que é melhor para ti - disse ele.
Converti-me ao Islão uma semana mais tarde. A cerimónia teve lugar depois da oração da sexta-feira, que foi celebrada numa zona calma e arborizada, no exterior de Evin. Carpetes cobriam o chão atapetado de erva.
Os funcionários e guardas de Evin estavam sentados em filas, primeiro os homens e depois as mulheres, mas a maioria eram homens. Toda a gente estava virada para um estrado de madeira onde o Ayatollah Ghilani, que era, nesse dia, o imam-eh Jomeh - o líder da oração da sexta-feira - ia fazer um discurso e dirigir o namaz. Segui Ali até às últimas duas filas, onde se encontravam as mulheres. Toda a gente estava sentada, à excepção de uma mulher alta, que, de pé, olhava à volta. Era a Irmã Maryam. Esta sorriu, pegou-me na mão e disse-me que podia sentar-me ao seu lado. Daí a pouco, chegou o Ayatollah Ghilani que deu início ao seu discurso. Informou a multidão sobre os malefícios dos Estados Unidos e elogiou tudo o que os guardas revolucionários e os funcionários dos Tribunais da Revolução Islâmica estavam a fazer com vista a proteger o Islão. Em seguida, após o namaz, chamou-me e pediu-me para me dirigir ao estrado. A Irmã Maryam apertou a minha mão e levantei-me, um pouco estonteada. Toda a gente tinha os olhos postos em mim. Com passos vacilantes, dirigi-me ao Ayatollah, que me pediu para proferir uma frase muito simples: “Declaro que não existe nenhum Deus excepto Alá e que Maomé é o seu profeta.” Para mostrar a sua aprovação, a multidão gritou três vezes “Allaho akbar”. Eu deixara de ser cristã.
Os pardais continuavam a chilrear alegremente nos ramos das árvores das imediações e a brisa da montanha agitava as folhas, fazendo a luz do sol tremeluzir no seu percurso até ao solo. O céu continuava tão azul como antes. Eu estava à espera da ira de Deus. Desejava que um raio caísse e me fulminasse naquele preciso momento. Ali estava sentado na primeira fila e a expressão de amor no seu rosto teve sobre mim um efeito mais fulminante do que qualquer raio poderia ter tido. Encheu-me o coração de dor e de culpa. “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, dissera Jesus. Estaria ele à espera que eu amasse Ali? Como podia Ele esperar uma coisa dessas?
Ali levantou-se e entregou-me um chador preto, dobrado.
- A minha mãe chorou de alegria e rezou por ti enquanto costurava isto. Estamos muito orgulhosos de ti.
Desejei conseguir sentir o mesmo.
No dia da visita, informei os meus pais da minha conversão. Não estava à espera que me perguntassem por que motivo me tinha convertido, e eles não o fizeram. Ninguém se atrevia a pôr em questão o que se passava em Evin. Fitaram-me e choraram. Suspeitei que sabiam que um prisioneiro de Evin não era filho nem filha, marido nem mulher, mãe nem pai de ninguém - era apenas um prisioneiro, e nada mais.
Uns dias mais tarde, Ali cumpriu a sua promessa e levou-me à igreja. O seu amigo Mohammad acompanhou-nos, pois, como Ali me informou, nunca havia estado numa igreja e sentia curiosidade em ver o interior de uma. Ali estacionou o carro defronte do edifício, que não mudara minimamente, embora eu me sentisse uma total desconhecida. Saí do carro e dirigi-me a porta principal. Estava fechada à chave. Fui até à porta do lado e toquei à campainha.
- Quem é? - perguntou o padre Martini, pelo intercomunicador. Tive um sobressalto.
- É a Marina - respondi.
Passos rápidos aproximaram-se da porta. Quando esta se abriu, o padre Martini ficou paralisado de espanto e de incredulidade.
- Marina, estou tão feliz por te ver. Entra, por favor - disse finalmente.
Atravessei o jardim atrás dele até à pequena sacristia. Ali e Mohammad iam atrás de nós.
- Posso telefonar à mãe dela e ao André, um dos seus amigos, para virem vê-la aqui? - perguntou o padre Martini a Ali.
Ali e eu trocámos um olhar rápido. O meu coração quase parou.
- Pode, sim - respondeu ele e pediu a Mohammad para o acompanhar até ao exterior.
Mohammad regressou decorrido um momento, mas não vi Ali. Era provável que estivesse à espera no carro. Desconfiei que não queria ver André. O padre Martini perguntou-me como estava e eu disse-lhe que estava óptima. Os seus olhos deslocaram-se de mim para Mohammad e regressaram a mim. Apercebi-me de como o aterrorizava ver-me ali. Eu lunca pensara no temor que a minha presença podia inspirar. Sabia que não tinha posto os padres em perigo, mas eles não tinham meio de o saber. Estava à espera de me sentir feliz e segura naquele lugar, mas agora percebia que a minha felicidade e segurança tinham morrido no dia da minha detenção.
A minha mãe e André chegaram em poucos minutos. Como gostaria de lhes contar toda a história! No entanto sabia que o mais provável era nunca ter oportunidade de o fazer. Seria sequer possível pôr tanto sofrimento em palavras? Tinha ido ali para dizer adeus. Essa era a única coisa certa a fazer. Tinha de lhes conceder, e também a mim mesma, a oportunidade de cura e esquecimento. Tinha de fechar as portas sobre o passado.
A minha mãe tinha um grande lenço azul-marinho, que lhe cobria a cabeça, um manteau islâmico preto e calças pretas. Abraçou-me como se nunca mais me fosse largar. Senti as suas costelas sob os meus dedos; tinha perdido peso e, como sempre, cheirava a tabaco.
- Estás bem? - segredou-me ao ouvido.
As mãos dela acariciaram-me docemente as costas e os braços; estava a tentar certificar-se de que não me faltava nenhum membro. Finalmente afastei-me dela, e os seus olhos examinaram-me da cabeça aos pés, embora não conseguisse ver grande coisa devido ao chador preto que me cobria - só o meu rosto estava visível.
- Estou bem, mãe - respondi com um sorriso. Ela esboçou um sorriso forçado.
- Onde arranjaste o chador?- perguntou. Respondi-lhe que fora uma amiga a dar-mo.
- Sabem que a Marina se converteu ao Islão, não sabem? - A voz grave de Mohammad ressoou na câmara.
- Sabemos - responderam a minha mãe e o padre Martini em uníssono. A minha mãe abriu a bolsa, tirou um lenço de papel e enxugou as lágrimas.
- Tens a certeza de que estás bem? - perguntou André, olhando primeiro para mim e depois para Mohammad.
- Estou óptima. - Tinha tanto a dizer, mas não conseguia pensar-
- Que se passa? - perguntou André, que percebera a luta que se travava nos meus olhos.
As palavras estavam perdidas no fundo de mim. Os últimos meses da minha vida haviam criado em meu redor um círculo de dor e confusão, mantendo-me cativa, não só dentro das paredes de Evin, mas dentro de mim mesma. Abri a boca, mas não saiu um som.
- Quando voltas para casa? - perguntou André.
- Nunca mais - murmurei.
- Eu espero por ti - respondeu, com um sorriso convicto. Pela expressão dos seus olhos, percebi que, apesar de tudo, me amava. Eu não precisava de dizer mais nada. Sabia que, ainda que lhe suplicasse que me esquecesse, ele nunca o faria. Quando alguém espera por nós, isso significa que ainda resta esperança. André era a minha vida tal como esta havia sido antes de Evin e tinha de me agarrar a ele para sobreviver. Com lágrimas silenciosas a correrem-me pelo rosto, virei-me e saí do edifício. Mohammad e eu entrámos no carro e Ali arrancou, mas voltou a estacionar decorridos poucos minutos.
- Porque paraste? - perguntei.
- Nunca te vi assim tão pálida.
- Estou óptima. Obrigada por me teres trazido. Não eras obrigado a deixá-los virem ver-me. Estou-te muito grata. Sei que não foi fácil para ti.
- Esqueceste-te de que te amo.
- Não sei como te heide agradecer.
- Sabes, sim - disse ele.
No dia do nosso casamento, a 23 de Julho de 1982, depois do namazà-à manhã, Ali foi buscar-me à cela de isolamento do 209, onde eu passara quase um mês sem ter o menor contacto com outras reclusas. Não tinha dormido na noite anterior. O meu medo era o meu salvador, pois paralisava-me os pensamentos e deixava-me entorpecida. Sentei-me a um canto, de olhos fixos na minha pequena janela gradeada, na maneira como as suas linhas cinzentas de metal cortavam em pequenos rectângulos planos a vastidão azul-escura para além delas. Sempre adorara as horas da manhã em que a luz se substituía lentamente à escuridão da noite: um azul profundo infiltrava-se nas trevas do céu, como chuva a infiltrar-se no corpo do deserto. Mas vista dali, aquela beleza parecia irreal.
Ali bateu à porta de mansinho. Com as mãos trémulas, cobri-me com o chador e pus-me de pé. A olhar-me a direito nos olhos, ele entrou e fechou a porta. Baixei os olhos.
- Não vais arrepender-te disto - disse ele, aproximando-se mais de mim. - Dormiste na noite passada?
- Não.
- Eu também não. Estás pronta?
Fiz que sim com a cabeça.
Seguimos até à casa dos pais dele em silêncio. Mal chegámos, Ali e o pai saíram de casa. A mãe abraçou-me e beijou-me, insistindo para que eu tomasse um bom pequeno-almoço. Não estava com fome, mas ela não quis dar ouvidos aos meus protestos. Segui-a até à cozinha. Disse-me para me sentar e partiu uns quantos ovos, que pôs numa frigideira. Ao contrário da cozinha da minha mãe, a dela era espaçosa e bem iluminada. Um grande samovar de aço inoxidável zumbia suavemente, quebrando o silêncio desconfortável.
- Toda a família e amigos quiseram vir ao casamento - disse ela após alguns minutos. - Tenho três irmãs e dois irmãos e todos eles têm filhos, na maioria também casados e com filhos. O senhor Moosavi tem três irmãos e uma irmã, que também têm filhos, e por aí adiante. Há ainda tias, tios, primos e amigos da família. Ficariam muito desapontados se soubessem que ninguém os tinha convidado para o casamento do Ali. Mas nós explicámos o que se passava, e a maioria compreendeu e enviou desejos de felicidades. Logo que tu e o Ali estejam dispostos a isso, convido-os para te conhecerem.
Proferiu tudo isto lentamente e fez algumas pausas, tentando escolher as palavras com todo o cuidado.
Seguiu-se um novo silêncio desconfortável, durante o qual só se ouvia a colher de pau a raspar no fundo da frigideira.
- Sei que estás assustada - prosseguiu a mãe de Ali com um suspiro, sempre em frente do fogão de costas para mim. - Lembro-me do dia em que casei com o senhor Moosavi. Era mais nova do que tu. Foi um casamento combinado, e eu estava aterrorizada. O Ali disse-me que tu és muito corajosa e, pelo que vi e ouvi, sei que isso é verdade. Mas também sei que hoje estás assustada, e é natural que te sintas assim, principalmente sem teres a tua família ao teu lado. Mas deixa-me que te diga que o Ali é um homem bondoso. Parece-se muito com o pai.
Quando se virou, estávamos as duas a chorar. Aproximou-se de mim, apertou a minha cabeça contra o peito e acariciou-me o cabelo. Não havia ninguém que me confortasse assim desde a morte da minha avó. Depois sentámo-nos juntas e comemos os ovos mexidos. Ela explicou-me que, segundo a tradição, a futura noiva devia tomar um banho prolongado, e também referiu que estava à espera de que a bandandaz, que era uma amiga íntima dela, chegasse daí a duas horas. Havia meses que eu não tomava um banho, só duches rápidos. Recordei-me do banho que não tivera ocasião de tomar na noite em que fora detida.
Antes de me conduzir à casa de banho, a mãe de Ali levou-me a um dos quartos, que havia sido desimpedido para o sofreh-yeh-aghd, o que significa “o pano do casamento”. Uma toalha de mesa de seda branca estava estendida no chão e, no meio dela, via-se um grande espelho com uma moldura de prata, ladeada por dois grandes castiçais de cristal, cada um com uma vela branca; em frente do espelho encontrava-se um exemplar do Corão. Bandejas de prata, cheias de doces e frutos, cobriam o resto da toalha. Eu sabia que era hábito o mullah realizar a cerimónia do casamento com a noiva e o noivo sentados junto do sofreh-yeh-aghd.
Na casa de banho, os dispendiosos azulejos de cerâmica reluziam. Enchi a banheira e mergulhei na água fumegante. Embora fosse Verão, sentira frio de manhã. Quando o calor inebriante me rodeou, os meus músculos contraídos começaram a relaxar-se. Fechei os olhos. Deus concedera-me uma capacidade que era para mim uma tábua de salvação: em geral conseguia desligar os pensamentos quando eram demasiados para os poder suportar. Não ia pensar no que iria acontecer naquela noite.
Um bom bocado mais tarde, quando a água começou a arrefecer, ouvi umas pancadinhas leves na porta, e Akram disse-me que a bandandaz, a Shirin Khanoom, havia chegado. Não precisas do hejab. Os homens ainda não chegaram e só vão regressar ao fim da tarde - acrescentou. Vesti-me e saí da casa de banho. No antigo quarto de Akram, uma mulher corpulenta estava a estender no chão um lençol branco. Mal entrei no quarto, os olhos dela percorreram-me de alto a baixo.
- Linda rapariga - comentou ela, com um aceno de aprovação. - Mas demasiado magra. Tens de a alimentar, Fatemeh Khanoom. Ainda vai ficar mais bonita cheia de curvas. - Aproximou-se de mim, pôs-me um dedo debaixo do queixo e examinou-me o rosto. - Que bela pele. Mas temos de dar um jeito nestas sobrancelhas.
- A Akram e eu estamos na cozinha se precisares de alguma coisa - disse a mãe de Ali a Shirin Khanoom e dirigiu-me um sorriso quando saiu com a filha.
Shirin Khanoom sentou-se no lençol e disse:
- Muito bem, querida, estou pronta. Despe-te e vem sentar-te diante de mim.
Não me mexi.
- De que estás à espera? Anda - disse ela com uma gargalhada. - Não precisas de ficar envergonhada. Isto tem de ser feito. Queres pôr-te bonita para o teu marido, não queres?
Não, não quero, pensei eu, mas não disse nada.
Trémula, despi-me lentamente, sentei-me no lençol e flecti os joelhos até os encostar ao peito. Shirin Khanoom disse-me para esticar as pernas. Obedeci. Ela pegou num longo pedaço de fio, enrolou uma extremidade várias vezes à volta dos dedos, segurou a outra entre os dentes e, cur-vando-se sobre as minhas pernas, depilou-as, movendo o fio como se fosse uma tesoura, a uma velocidade espantosa. Aquilo doía. Quando acabou, mandou-me tomar um duche frio. A seguir, entrançou-me o cabelo, que me chegava quase à cintura, e apanhou-o num rolo atrás da cabeça.
Ao meio-dia, a voz do muezim ressoou pela vizinhança, vinda da mesquita, a convidar os fiéis para se prepararem para o segundo namaz do dia. Cumprimos o ritual do vozoo, o lavar das mãos, braços e pés; quando terminámos, saí da casa de banho e encontrei a mãe de Ali à minha espera, com um rolo branco acetinado nas mãos. Estendeu-mo: era um belo tapete de oração que ela própria havia feito. Senti-me aconchegada na sua gentileza.
Os pais de Ali tinham uma sala de namaz. A excepção dos espessos tapetes persas que cobriam o chão, a divisão encontrava-se completamente vazia. Aí, virados para Meca, cada um de nós desenrolou o seu tapete de oração, sobre o qual nos instalámos para rezar: o meu tinha um bordado delicado, feito com fios de prata e ouro e com contas. A mãe de Ali devia ter passado muitas horas a fazê-lo.
Depois da oração, Akram pôs a mesa com a melhor loiça de porcelana, e sentámo-nos para almoçar beringelas e carne de vaca estufada com arroz. Consegui engolir alguma coisa. Depois do almoço bebemos chá, e enquanto ia sorvendo o meu em pequenos goles, reparei que a mãe de Ali me olhava, pensativa, como se tivesse alguma coisa importante para dizer mas não soubesse como começar. Baixei os olhos.
- Marina, não tenho a certeza se estás a par de uma coisa sobre o Ali - acabou ela por dizer. - Ele contou-te que, no tempo do Xá, foi prisioneiro em Evin?
- Não, nunca me disse nada - respondi, atónita.
- A SAVAK, a polícia secreta, prendeu-o três anos e três meses antes da revolução. Eu fiquei desesperada - prosseguiu ela. - Pensei que ele não ia sobreviver. Era muito dedicado ao Imã e odiava o Xá e o seu governo corrupto. Também fiquei à espera de que viessem prender o senhor Moo-savi, mas não o fizeram. No entanto, o Ali desapareceu. Sabia que ele estava a ser torturado. Fomos a Evin e pedimos para o ver, mas durante três meses não nos deixaram. Quando finalmente nos autorizaram a visitá-lo, encontrámo-lo terrivelmente magro e debilitado. O meu filho, que era tão belo e forte.
As lágrimas corriam lentamente pelo rosto de Fatemeh Khanoom.
- Libertaram-no três meses antes do êxito da revolução. Não nos tinham dito que iam soltá-lo. Nesse dia, eu estava aqui na cozinha quando ouvi a campainha. Era um dia de Outono, nublado, e o jardim estava coberto de folhas. Corri para a porta e perguntei, “Quem é?” Não houve resposta. E percebi que era ele. Não sei como, mas percebi. Abri a porta, e lá estava ele. Sorriu e abraçou-me de tal modo que parecia que nunca mais nos íamos apartar. Vi que estava magríssimo. Sentia os ossos dele sob os dedos. E o seu sorriso tinha-se modificado. Eu estava triste e pesarosa. Percebi que ele tinha visto coisas terríveis. Sabia que a tristeza dos seus olhos não ia desaparecer. Regressou lentamente à vida, mas estava mudado. A dor que trazia com ele nunca desapareceu por completo. Às vezes, à noite, ouvia-o andar pela casa. Depois, há uns meses, chegou a casa do trabalho, encheu um saco e partiu para a frente de batalha, para combater os iraquianos. Sem mais nem menos. Sem qualquer explicação. Fiquei surpreendida. Aquilo não parecia dele. Não me interpretes mal: o facto de ele ir para a frente não me surpreendeu; já lá tinha estado antes, mas a altura era estranha. Percebi que tinha acontecido qualquer coisa, mas ele não me disse o quê. E durante os quatro meses que esteve longe, mal dormi. Finalmente, um dia, telefonaram a dizer que tinha sido atingido numa perna e estava no hospital. Agradeci a Deus um milhão de vezes. Quando fui vê-lo, sorriu-me como nos velhos tempos, como o rapazinho que fora outrora, e disse-me que lhe tinha acontecido uma coisa maravilhosa. Comecei por pensar que tinha perdido o juízo.
Então Ali tinha sido prisioneiro em Evin e fora torturado. Talvez essa fosse uma das razões por que, depois de me terem chicoteado e levado para o isolamento, ele me perguntara se precisava de alguma coisa para acalmar as dores e chamara o médico para me ver. Talvez tivesse feito isso por ter sofrido tanto como eu.
Depois da revolução, Ali quis vingar-se, e por isso começou a trabalhar em Evin. Durante os primeiros meses após a revolução, a maioria dos reclusos em Evin eram antigos agentes da SAVAK e ele tivera oportunidade de ajustar contas com eles. Olho por olho. Eles eram não só inimigos do Islão, mas seus inimigos pessoais. Porém, as coisas mudaram. Aqueles que tinham lutado ao lado dele nos tempos do Xá, os Mojahe-din e os Fadayan, esravam agora a ser presos. Eu tinha a certeza de que, de início, não lhe era difícil justificar estas prisões - os seus antigos companheiros de cela e seus seguidores haviam-se tornado inimigos do estado islâmico e, como Khomeini tinha afirmado, eram inimigos de Deus e do seu profeta, Maomé. Ali fora educado como um muçulmano devoto e seguiria o seu Imã até à morte, mas provavelmente começou a ver que o que agora faziam em Evin em nome do Islão estava errado. Todavia, devido à sua devoção religiosa, era-lhe difícil aceitar esta verdade e não sabia como lidar com ela. A sua fé tinha-o cegado, mas, talvez em virtude da sua experiência pessoal, por vezes via a situação da perspectiva dos detidos. E os pais sentiam-se orgulhosos dele por se encontrar na linha da frente da batalha contra os inimigos do Islão. Para eles, o facto de o filho ser um interrogador era uma das coisas mais nobres que um muçulmano podia fazer. Na sua perspectiva, tudo o que se passava em Evin depois da revolução era completamente justificado, pois protegia o seu estilo de vida e os seus valores. No fundo, acreditavam que se tratava de uma guerra entre o bem e o mal.
Depois de termos levantado a mesa, a mãe de Ali perguntou-me se eu sabia cozinhar.
- Sei, mas não tão bem como a senhora e a Akram. Aprendi em livros de culinária. A minha mãe não gostava de me ter na cozinha.
- Queres ajudar-nos a fazer o jantar? Temos de começar imediatamente. O Agha (referia-se ao mullali) chega às cinco horas e nós comemos depois do casamento.
Ajudei-as na cozinha. Akram e eu picámos e salteámos as cebolas, a salsa, o cebolinho e outras ervas aromáticas. A mãe de Ali cortou a carne de vaca em cubos e fez o arroz agulha. Já tinha posto a marinar pedaços de frango numa mistura de iogurte, gemas de ovos e açafrão. Fizemos khoresh-eh ghormeh sabzi - carne estufada com ervas aromáticas - e tachin - uma mistura de frango, arroz, iogurte, gemas de ovos e açafrão.
O senhor Moosavi, Ali e Massood, o marido de Akram, chegaram por volta das quatro horas. A mãe de Ali empurrou-me para a casa de banho, dizendo que eu tinha de tomar outro duche porque cheirava a cebola.
Depois do duche, pus o manteau islâmico branco, um grande lenço branco, calças brancas e o chador branco que a mãe de Ali me tinha deixado em cima da cama. Dentro em pouco ouvi bater à porta.
- Marina, são horas - chamou Akram.
Abri a porta e saí sem me conceder tempo para pensar. Ali já estava sentado junto do sofreh-yeh aghd. Sentei-me ao lado dele, perguntando-me se alguém teria reparado como eu estava a tremer. O mullah entrou na sala. Entoou umas frases em árabe, que eu teria conseguido compreender se me concentrasse. Depois, perguntou-me em persa:
- Fatemeh Khanoom-eh Moradi-Bakht, está disposta a aceitar como esposo Seyed Ali-eh Moosavi?
Sabia que, segundo a tradição, a noiva não costumava responder a esta pergunta a primeira vez que ela era feita. O mullah iria esperar por uma resposta e, não a recebendo, repeti-la-ia mais duas vezes. Porém, respondi “sim” logo da primeira vez, pois só queria acabar com aquilo tudo.
Depois do jantar, Ali e eu seguimos no carro até à casa que ele comprara para irmos morar. Ele pegou-me na mão esquerda, que eu tinha poisado no colo, e segurou-a bem apertada até chegarmos. Era a primeira vez que me tocava assim.
Quando entrei na minha nova casa e naquela nova vida desconhecida, prometi a mim mesma não olhar para trás e não pensar no passado, embora fosse uma promessa difícil de manter. Ali conduziu-me até ao nosso quarto, onde as prendas haviam sido empilhadas em cima da cama.
- Abre-as - disse. - Algumas são minhas e as restantes são da minha família.
Havia muitas peças de joalharia, taças e copos de cristal, pratos e salvas de prata. Ali ficou sentado na cama, ao meu lado, a ver-me abrir as prendas.
- Agora sou teu marido e já não precisas de usar o hejab - declarou.
Só senti vontade de me esconder nalgum sítio. Ele puxou o grande lenço que me cobria a cabeça e eu estendi a mão para o tornar a pôr.
- Compreendo que te sintas pouco à vontade, mas não precisas dele. Vais habituar-te a mim.
Desfez o meu cabelo entrançado e correu os dedos ao longo dele.
- Tens um cabelo lindo. Macio como seda.
Pôs-me um colar ao pescoço e um bracelete no pulso. Olhei para o meu anel de casamento, que tinha um grande diamante cintilante.
- Desejei-te desde o momento em que te vi - disse Ali, rodeando-me com os braços e beijando-me o cabelo e o pescoço. Afastei-o de mim. - Marina, está tudo bem. Sabes quanto tempo esperei por ti. Finalmente és minha e posso tocar-te. Não precisas de ter medo. Não vou fazer-te mal. Vou ser meigo, prometo.
Desabotoou a camisa e, paralisada de terror, fechei os olhos. Não tardei a sentir os dedos dele a desabotoarem-me o manteau. Abri os olhos e tentei repeli-lo, mas o seu peso pregava-me ao colchão. Supliquei-lhe que parasse, mas ele disse que não podia. Arrancou-me a roupa. Gritei. Aquela pele nua colada à minha e o calor estranho, desconhecido, do corpo dele contra o meu. Ele cheirava a champô e a sabonete. Fazendo apelo a todas as minhas forças, tentei afastá-lo, mas de nada serviu; ele era demasiado grande e forte. Cólera, medo e uma terrível sensação de humilhação agitavam-se, giravam e subiam dentro de mim, como uma tempestade que não encontrava sítio para ir até não me restar energia, até eu aceitar que não havia para onde fugir, até me render. Doeu-me. A dor não foi a mesma que sentira ao ser chicoteada. Quando me torturaram, tinha conseguido manter uma sensação de autoridade, um estranho tipo de poder que o tormento físico nunca me poderia roubar. Mas agora, pertencia-lhe. Ele possuía-me.
Chorei toda a noite. As minhas entranhas ardiam. Ali tinha os braços à minha volta e apertava-me com força. Antes do nascer do dia, levantou-se para o namaz e eu fiquei na cama.
Ele sentou-se à beira da cama ao meu lado e beijou-me a face e o braço.
- Tenho de te tocar para acreditar que és minha mulher. Doeu-te?
- Doeu.
- Vai melhorar.
Adormeci depois de ele se levantar; o sono era a minha única possibilidade de fuga.
- O pequeno-almoço está pronto - gritou ele da cozinha por volta das oito horas.
O sol brilhava através das portas de correr. Levantei-me e abri-as, deixando penetrar a brisa que trazia até mim o chilrear dos pardais. O jardim estava lindo, com os gerânios e as calêndulas em flor. Senti-me como se estivesse a viver a vida de outra pessoa qualquer. A vizinha do lado chamava os filhos para tomarem o pequeno-almoço. Estava um dia de Verão perfeito e não havia uma nuvem no céu, mas ansiei por neve que cobrisse a terra; desejei que o seu frio e o seu contacto honesto tocassem e envolvessem a minha pele quente; desejava que os meus dedos, profundamente enterrados no gelo, perdessem o sentido do tacto e me doessem. Queria que todas as tonalidades de verde e de vermelho desaparecessem sob o peso do Inverno e dos seus matizes de branco, de modo a poder sonhar e dizer a mim mesma que, quando a Primavera chegasse, as coisas iriam ser diferentes.
- Está tudo pronto - ouvi-o dizer atrás de mim. - O pequeno-almoço está feito e o teu chá está a arrefecer. Há pão fresco em cima da mesa.
Vi-me de novo nos seus braços.
- Não podes imaginar como estou feliz - murmurou-me ao ouvido.
Segundo afirmou, a primeira vez que me vira, eu estava sentada no chão de um corredor, mas ao contrário de todas as outras mulheres que tinham chadores pretos, eu tinha a cabeça coberta por um xaile de caxemira bege. Embora ele visse que eu era pequena e magra, tinha as costas apoiadas à parede e parecia mais alta do que todas as outras à minha volta. Acrescentou que, com a cabeça inclinada, o rosto virado para o tecto e os lábios a moverem-se ligeiramente no que parecia ser uma oração, eu tinha um ar calmo no meio de um mundo de medo e desespero que me rodeava. Disse ainda que quis desviar os olhos, mas não conseguiu.
Durante os dias que se seguiram, mimou-me ao ponto de me sentir incomodada. Sempre tomara conta de mim própria. Não queria ser tratada como uma criança. A rapariguinha que eu fora desaparecera. Agora era uma mulher casada. Não podia esconder-me debaixo da cama como em tempos fizera. Talvez Ali fosse a minha cruz e eu tivesse de a aceitar. Ou, pelo menos, podia tentar. Só queria que ele me deixasse em paz na cama. Cada vez que se despia e me tocava, suplicava-lhe que parasse. Umas vezes ele dava-me ouvidos, outras não, dizendo-me que eu tinha de me habituar àquilo, que era uma parte importante da vida de casados e que se deixasse de resistir me doeria menos.
Por fim, cerca de uma semana depois do dia do casamento, levantei-me da cama de madrugada e decidi tentar viver a minha vida e parar de me condoer de mim mesma. O que estava feito estava feito, e eu não o podia mudar. Comecei a limpar a casa e a preparar o pequeno-almoço e disse a Ali que queria que ele convidasse os pais e a irmã para jantar. Ele pensou que eu tinha perdido o juízo e disse-me que achava que eu não sabia cozinhar. Disse-lhe que sabia, e ele acedeu.
- Está bem, telefono aos meus pais e à minha irmã - respondeu-me. - Depois vamos fazer as compras... Marina?...
- Sim?
- Obrigado.
- Porquê?
- Por tentares.
Senti o coração um pouco mais quente, como já não o sentia há muito tempo. Comecei a preparar o jantar logo a seguir ao almoço. Ali tinha saído e ia estar fora durante umas horas e, quando regressou, a casa estava cheia dos odores de lasanha, de carne estufada com cogumelos e arroz. Eu tinha começado a fazer um bolo de maçã. Ele entrou na cozinha e disse-me que o cheiro da comida lhe tinha dado fome. Queria saber se a minha mãe me tinha ensinado a cozinhar e eu disse-lhe que ela não era suficientemente paciente para me ensinar fosse o que fosse - como eu gostava de cozinhar, tinha aprendido nos livros de cozinha. Ele ofereceu-se para fazer chá e deitou água no samovar. Em seguida, depois de pôr umas folhas de chá num bule de porcelana, aproximou-se de mim. Eu estava a partir um ovo para uma taça. Ele ainda me aterrorizava. Cada vez que se abeirava de mim, cada vez que eu sentia o seu hálito na minha pele, cada vez que ele me tocava, só me apetecia fugir. Segurou-me o rosto nas mãos e beijou-me a testa, e perguntei-me se alguma vez me iria habituar ao seu contacto.
Os pais de Ali, Akram e Massood mostraram-se muito satisfeitos com tudo o que eu tinha preparado. Como a mãe dele estava um pouco constipada, depois do jantar e de termos comido a sobremesa preparei-lhe um chá de limão e dei-lhe um cobertor para ela poder repousar no sofá. Akram foi para a cozinha ajudar-me com a loiça.
- O jantar estava delicioso - disse ela com um sorriso forçado. Senti o mal-estar que a sua voz deixava transparecer; estava a tentar ser simpática comigo e fiquei-lhe grata por isso.
- Obrigada. Não sou boa cozinheira, mas tentei. Tenho a certeza de que tu cozinhas muito melhor do que eu.
- Nem por isso.
O silêncio encheu o espaço entre nós. Comecei a arrumar os restos no frigorífico.
- Porque casaste com o meu irmão? - perguntou ela de súbito. Fitei-a nos olhos, mas ela desviou o olhar.
- O teu irmão contou-te alguma coisa do que se passou entre nós? - perguntei.
- Não me contou grande coisa.
- Então porque não lhe perguntas?
- Ele não me responde, e eu quero ouvi-lo da tua boca.
- Casei com ele porque ele quis que o fizesse.
- Isso não é suficiente.
- Porquê? Porque casaste com o teu marido?
- O meu casamento foi combinado. Segundo o acordo que os meus pais fizeram com os pais do meu marido quando eu era criança, eu devia casar com o filho deles mal tivesse idade suficiente. Tu tens um tipo de família diferente, uma cultura diferente. Se não querias casar com ele, podias ter recusado.
- Porque pensas que eu não queria casar com ele?
- Eu sei. Uma mulher sente esse tipo de coisas.
Soltei um grande suspiro.
- Não te esqueças de que sou uma prisioneira. O Ali ameaçou fazer mal aos que me são queridos se eu não casasse com ele.
- O Ali nunca faria uma coisa dessas!
- Vês? Era por isso que não queria dizer-te. Sabia que não ias acreditar em mim porque amas o teu irmão.
- És capaz de pôr a mão em cima do Sagrado Corão e de dizer que ele fez isso?
- Sim, estou a dizer a verdade.
Ela deixou-se cair numa cadeira e abanou a cabeça.
- Isso é terrível! Odeia-lo por causa disso?
Fiquei sem saber o que responder. Não por não querer dizer a verdade, mas por perceber que não sabia exactamente a verdadeira resposta para aquela pergunta. Uns dias antes, teria respondido, com convicção, que o odiava. Mas agora já não estava tão segura. Qualquer coisa tinha mudado, não profunda, mas superficialmente, e não compreendia por que motivo os meus sentimentos para com Ali eram agora diferentes. Mas tinha todo o direito de o odiar.
- Não, não sei. Odiava-o, mas já não o odeio. Ódio é uma palavra muito forte.
Ela fitou-me nos olhos.
- Também te converteste ao Islão porque foste obrigada?
- Sim.
- Então, não querias mesmo fazê-lo?
- Não, mas não te esqueças de que só te contei isto porque tu insististe em saber e eu não quis mentir. Agora está tudo arrumado. Sou muçulmana. Sou mulher do teu irmão, prometi ser-lhe fiel e vou sê-lo. Não quero falar mais no assunto. O que está feito, está feito.
- Que Deus te dê força - disse ela. - Sei como isso deve ser difícil.
- Pelo menos é bom saber que alguém compreende.
Um sorriso sincero, não forçado, iluminou-lhe o rosto.
- Há quanto tempo estás casada? - perguntei.
- Há sete anos.
- Amas o teu marido?
Surpreendida, olhou-me, como se nunca tivesse pensado nos sentimentos que alimentava para com ele.
- Amor é uma palavra tão forte! - respondeu ela com uma gargalhada, de olhos fixos no anel de casamento, percorrendo com um dedo o seu diamante refulgente. - Creio que só existe nos contos de fadas. O meu marido é bom, é-me fiel e eu tenho uma vida confortável. Acho que se pode dizer que sou feliz, só que...
O seu olhar perdeu-se ao longe e reconheci a dor e a nostalgia que a perda deixa na sua esteira. Isso apertou-me o coração.
- Só que o quê? - perguntei num murmúrio.
- Não posso ter filhos - disse ela com um suspiro, como se aquela fosse a frase mais difícil que já proferira na vida. - Tentei tudo. De início, toda a gente estava sempre a perguntar-me se estava grávida, mas decorridos uns anos, desistiram. Agora sou apenas uma mulher que não pode ter filhos. Mas, como te disse, o meu marido é bom para mim. Sei como é importante para ele ter um filho, um rapaz, mas ele disse-me que não vai casar com outra mulher.
- Que estão as senhoras a fazer aqui? Nunca mais acabam? - perguntou a mãe de Ali ao entrar na cozinha. - Os vossos maridos queriam mais chá.
Mal nos sentámos na sala, o telefone tocou. Ali foi atender. Percebi que era de Evin. Ele passou quase todo o tempo a escutar, com um ar preocupado. Toda a gente se mantinha em silêncio. Quando a conversa terminou, perguntei-lhe se havia algum problema.
- Sabemos há algum tempo que os Mojahedin têm planos para assassinar umas quantas pessoas que detêm cargos importantes em Evin - disse ele. - Temos andado a tentar descobrir os responsáveis para os prender. Uns quantos foram detidos há pouco tempo e já foram interrogados. Foi o Mohammad que telefonou. Ligou para me informar que, segundo a informação que obteve, parece que eu consto da lista de pessoas a assassinar. Os meus colegas e amigos pensam que seria mais seguro eu e a Marina ficarmos em Evin durante algum tempo. Não é por mim que me preocupo, mas não quero pôr em perigo a vida da Marina.
Eu imaginara que ele era importante em Evin e aquilo confirmava essa impressão.
- Penso que ficarem em Evin é uma boa ideia. Mais vale prevenir do que remediar - disse o senhor Moosavi, com um ar preocupado.
Na altura não estava ao corrente, pois não tinha acesso à televisão, ao rádio e aos jornais, mas nos últimos tempos uns quantos funcionários do governo tinham sido assassinados, e todas essas mortes haviam sido atribuídas aos Mojahedin.
- Marina, estás de acordo em que fiquemos em Evin durante algum tempo? É bastante mais seguro - disse Ali.
- Claro - respondi, sabendo que não me restava alternativa.
- Recompenso-te quando as coisas melhorarem.
Depois de os nossos convidados partirem, fomos para a cama.
- Ali, vês o que a violência faz às pessoas? Tu mata-los e eles matam-te. Isto só irá acabar depois de toda a gente estar morta?
- És ingénua - respondeu ele. - Achas que se lhes pedirmos gentilmente, eles deixam de combater o nosso governo? Temos de proteger o Islão, a lei de Deus e o povo de Deus das forças do mal que estão de novo a actuar contra eles.
- Deus não necessita de protecção. Só estou a dizer que a violência provoca mais violência. Não sei qual é a solução, mas sei que matar não é a resposta.
Ele puxou-me para os seus braços e disse:
- Nem toda a gente é tão bondosa como tu. Vivemos num mundo cruel.
- Pois é, só porque somos cruéis uns para os outros.
- Tu não desistes, pois não? - perguntou ele a rir.
- Quando voltamos para Evin?
- Amanhã de manhã. Espero que compreendas que, uma vez de regresso a Evin, embora sejas minha mulher, não vais ser tratada de uma forma diferente da que eras antes. Oficialmente, ainda és uma prisioneira. Queres ficar numa cela no isolamento ou ir para o 246?
Respondi que tanto me fazia e ele afirmou que as celas de isolamento eram uma opção melhor pois poderia passar mais tempo comigo. Não discuti. Continuava a não me apetecer dar explicações a ninguém do 246.
- Ultimamente tem havido muitas detenções? - perguntei.
- Sim.
- Pobrezinhos. Devem estar aterrorizados.
- Muitas dessas pessoas são terroristas, Marina.
- Algumas delas, talvez, mas sabes que a maioria são apenas crianças, e muitos deles não fizeram nada de mal. Se eu ficar numa cela do isolamento, deixas as mais novas ficarem comigo durante o período dos interrogatórios? Naquelas celas há espaço suficiente para duas pessoas. Detesto sentir-me inútil, Ali. Posso ajudá-las a sentirem-se melhor e eu própria vou sentir-me melhor.
- Isso vai ser interessante. Muito bem, está combinado - respondeu ele com um sorriso.
- Mas não lhes digas que eu sou tua mulher para não terem medo de mim.
Se não havia nenhuma bondade à minha volta, talvez me coubesse a mim fazer algo de bom.
- Ali, onde está a Sarah Farahani? - perguntei.
- Esteve muito tempo no hospital-prisão. Mas não no mesmo onde tu estiveste. Há outro para os reclusos com problemas psicológicos. Agora está numa cela, no 209.
- Ela precisa de ir para casa. Já passou o suficiente. Não fez nada, a não ser falar demais. Não irá sobreviver em Evin.
- É o Hamehd que está encarregado do caso dela, e sabes como ele pode ser difícil. Não me parece que a Sarah vá para onde quer que seja nos tempos mais próximos.
- É verdade que o irmão dela, o Sirus, foi executado?
- É. Ele era membro activo dos Mojahedin e não colaborou mesmo nada - respondeu ele num tom indiferente.
- Então, a tua política é matar quem quer que se atravesse no teu caminho.
- Se o Sirus tivesse tido oportunidade, ter-me-ia dado um tiro na cabeça.
- Podias tê-lo mantido na prisão em vez de o matares.
- Essa decisão não foi minha e não vou discuti-la.
- Posso ver a Sarah?
- Quando voltarmos, levo-te à cela dela.
Tive de lhe fazer a pergunta que há já algum tempo tinha em mente. Não havia uma altura certa para a fazer, por isso tanto podia ser naquele como em qualquer outro momento.
- Ali, alguma vez mataste alguém? Não me refiro à frente de batalha, mas em Evin.
Ele saiu da cama e dirigiu-se à cozinha. Segui-o. Abriu a torneira, encheu um copo de água e bebeu uns goles.
- Mataste, não mataste?
- Marina, porque insistes nisso?
- Odeio-te!
Senti o peso tremendo das minhas palavras, mas não as lamentei. Queria magoá-lo. Tratava-se de vingança, e ele merecia-a. Eu tinha tentado aceitar a minha situação e compreendê-lo, mas não podia fingir que não sabia as coisas terríveis que ele tinha feito.
Ali poisou lentamente o copo em cima da mesa e fitou-o. Quando ergueu os olhos, estes estavam escuros, com um estranho misto de cólera e de sofrimento. Aproximou-se de mim. Recuei uns passos e fui esbarrar com um armário. Mesmo que corresse, não podia ir longe. Ele agarrou-me nos braços e os seus dedos enterraram-se na minha carne.
- Estás a magoar-me - disse eu.
- Eu é que te estou a magoar?!
- Sim. Tens-me magoado desde que te conheci. E tens magoado outras pessoas, e tens-te magoado a ti próprio.
Ele ergueu-me do chão e transportou-me para o quarto. Foi em vão que gritei e esperneei.
Na manhã seguinte, recusei sair da cama. Ali chamou-me três vezes da cozinha, a dizer que o pequeno-almoço estava pronto. Tapei a cabeça com os cobertores, a soluçar tanto que fazia ranger a cama. Abri os olhos e, através do véu branco do lençol de algodão fino, vi-o ao meu lado. Estava sentado de lado na beira da cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos apertadas uma na outra. Não me mexi.
- Marina? - chamou, decorridos minutos. Não respondi. - Desculpa ter ficado furioso contigo. Tens todo o direito de me criticares. Mas tens de compreender que as coisas são assim. O mundo é um lugar desagradável e violento, e há coisas que nós precisamos de fazer. Sei que não concordas comigo, mas as coisas são como são e não fui eu que as fiz dessa maneira. Podes odiar-me se quiseres, mas eu amo-te. Ontem à noite, não foi minha intenção magoar-te. Anda. Vamos tomar o pequeno-almoço.
Não reagi.
- Vem. Por favor. Que posso fazer para me perdoares?
- Deixa-me ir para casa.
- És minha mulher, Marina. A tua casa é onde eu estiver. Tens de te habituar a isso.
Os meus soluços tornaram-se mais fortes e ruidosos. Ele afastou o lençol que me cobria e tentou apertar-me nos braços. Repeli-o.
- Tens de te habituar à maneira como as coisas são agora. Há alguma coisa razoável que eu possa fazer para te pôr feliz?
Eu tinha de encontrar algo de bom naquele sofrimento ou ele iria afogar-me.
- Ajudar a Sarah.
- Vou fazer-te a vontade.
Ali tinha vestidas as calças de pijama, mas estava sem camisa. Linhas delgadas, brancas, cobriam-lhe de lado a lado as costas nuas. Cicatrizes. Em grande número. Marcas de chicotadas. Ainda não tinha reparado nelas porque fechava sempre os olhos quando ele se despia.
Toquei-lhe nas costas.
- Tens cicatrizes...
Ele levantou-se e vestiu a camisa.
Pela primeira vez, senti uma proximidade entre nós, uma relação. Não queria que isso existisse. Mas era tão tangível como o lençol que me cobria, tão real como as cicatrizes dele e as minhas: uma triste compreensão que não precisava de palavras para existir, que transmitia tudo o que havia para dizer num olhar silencioso ou num ligeiro toque.
- Anda. Vamos comer - sugeriu. Tomámos o pequeno-almoço.
Cerca de três horas mais tarde, estava de regresso à minha velha cela do isolamento. Não podia dizer que tivesse sentido a falta dela. Ali levou-me uma grande pilha de livros - todos acerca do Islão - e disse-me que ia estar muito ocupado. Recordei-lhe que me tinha prometido levar-me a visitar Sarah, e ele conduziu-me à sua cela, mas avisou-me que ela estava sob o efeito de medicamentos muito fortes e que não iria reagir muito.
- Podes ficar com ela durante uma hora ou duas, mas não mais. Não quero aborrecer o Hamehd.
Quando entrei na cela, Sarah estava a escrever na parede. Tinha perdido mais peso e a sua pele havia adquirido uma tonalidade amarela. Pus-lhe as mãos nos ombros, mas ela não manifestou a menor reacção.
- Sarah, tive saudades tuas.
As paredes encontravam-se cobertas de palavras que me transportaram para as nossas vidas de outrora: a casa de Sarah com o canteiro de flores, a mãe sentada num baloiço do jardim, o pai a recitar poemas de Hafez, Sirus a jogar futebol com os amigos, a nossa escola com as suas janelas altas, o regresso a casa, vinda da loja de Agha-yeh Rostami, a lamber um cone de gelado. E por aí fora. Ela até tinha escrito sobre o meu estojo dos lápis. Eu não queria recordar-me. Olhar para trás fazia-me sofrer e sentir umas saudades terríveis de casa. A minha casa. Sentia-me a oceanos e a mundos de distância. Mas ela existia. Algures para lá de Evin. Se o meu lar fosse para lá do monte Evereste, tê-lo-ia trepado. Nem que fossem dez montes Evereste, seria capaz de os transpor.
- Sarah, sei que me estás a ouvir. Muito do que escreveste são também recordações minhas. As nossas casas ainda existem e tens de sobreviver para saíres de Evin e lá voltares. A tua casa está lá, à tua espera. Não te esqueças de que o amanhã chega sempre, mas tens de estar lá para o ver. O Sirus quer que o vejas. Trava esta batalha por ele, pela tua mãe, pelo teu pai.
Agarrei-a pelos ombros e virei-a de frente para mim.
- O Hamehd quer que fiques assim, que percas. Não lhe dês essa satisfação. Vais voltar para casa. Se tu soubesses o que eu fiz! É tão duro dormir na cama do Ali, embora ele não seja como o Hamehd. Existe nele alguma bondade, e ele ama-me... Mas é tão duro! Nem podes imaginar.
Os braços de Sarah rodearam-me e apertaram-me com mais e mais força. Ficámos abraçadas a chorar.
Decorridas duas semanas, que passei praticamente a ler, excepto quando Ali estava comigo, recebi a minha primeira companheira de cela. Sima tinha grandes olhos cor de avelã e, embora não aparentasse mais de treze anos, tinha quinze. Antes de sair e fechar a porta, o guarda que a levou à minha cela mandou-a tirar a venda. Ela assim fez, esfregou os olhos, franziu-os e fitou-me com uma expressão de espanto e de terror.
Perguntou-me quem era. Disse-lhe o meu nome e que era uma prisioneira. Ela pareceu um pouco aliviada e sentou-se, a uma distância segura em relação a mim. Tinha os pés um pouco inchados. Perguntei-lhe se lhe doíam.
- Eles torturaram-me! - exclamou.
Aproximei-me e disse-lhe que eu também tinha sido torturada, mais do que ela. Sima perguntou-me há quanto tempo estava em Evin e eu respondi-lhe que havia sete meses.
- Há sete meses? Isso é imenso tempo. Passaste esse tempo todo nesta cela?
Expliquei-lhe que tinha estado no 246 e que depois do seu período de interrogatório chegar ao fim, podiam também mandá-la aguardar julgamento para aí. Perguntou quanto tempo iria isso demorar, e eu respondi-lhe que podiam ser dias ou meses. Ela quis saber se eu tinha sido julgada.
- Foi uma espécie de julgamento - respondi.
- Qual foi a tua sentença?
- Prisão perpétua.
- Oh, meu Deus!
Acrescentou que não conseguia imaginar permanecer em Evin mais do que uma semana. Perguntei-lhe quem a tinha interrogado e ela respondeu que havia sido Ali e que ele era muito mau.
- As vezes é mau - retorqui. - Mas há outros que são muito piores do que ele.
Contar-lhe a verdade não teria ajudado nada.
Sima queria saber tudo sobre Evin e o 246 e eu contei-lhe tudo o que podia.
Por volta das oito horas, Ali bateu à porta da cela e chamou-me pelo nome. Peguei no chador e fui à porta.
- Que quer ele de ti? - segredou Sima.
- Não te preocupes. Ele não vai fazer-me mal - respondi, ao mesmo tempo que punha o chador e saía da cela.
Ali queria saber como estavam a correr as coisas com Sima e respondi-lhe que ela se sentia um pouco melhor. Perguntei-lhe porque a tinha chicoteado, e ele respondeu-me que não lhe restara alternativa; o irmão dela era membro dos Moja-hedin e estava envolvido no assassínio de um funcionário do governo. Ali andava há meses a tentar encontrá-lo para o prender. Disse que precisara de se certificar de que Sima desconhecia o paradeiro do irmão.
- Por favor, diz-me que não vais tornar a chicoteá-la, está bem?
- Não vou. Ela não sabe nada. Vou mandá-la para o 246. Deixamo-la ir logo que o irmão se entregar.
Perguntei-lhe aonde me levava.
- Para outra cela. Estou exausto. Preciso mesmo de ti - respondeu.
Quando regressei à minha cela, depois da oração da manhã, Sima estava quase a dormir.
- Quando voltaste ontem à noite? - perguntou-me ela mal acordou. - Fiquei imenso tempo à tua espera e depois acho que adormeci.
- Voltei muito tarde.
- Que estiveste a fazer durante esse tempo todo?
- Nada de importante.
- Não queres falar nisso, pois não?
- Não. Não te preocupes comigo.
Ela estava a chorar. Abracei-a e disse-lhe que iria sentir-se bem desde que não perdesse a esperança. Acrescentei que ouvira Ali dizer que a ia mandar para o 246, onde faria amigas que a ajudariam. Pedi-lhe para lhes dizer que eu estava bem.
No dia seguinte, Sima foi enviada para o 246, e a minha vida tornou-se dolorosamente enfadonha e solitária. Pedi a Ali para me levar uns livros de poesia, e ele acedeu. E assim, passava o tempo a ler, a decorar as obras de Hafez, Sadi e Rumi e a dormir.
Uns dias mais tarde, Ali foi buscar-me à minha cela ao entardecer para ir a casa dos pais. Chegados aos portões da prisão, parámos, à espera que os guardas deixassem passar o carro. Ali baixou o vidro da janela a fim de saudar os guardas, que, embora fossem simpáticos para com ele, me ignoravam sempre como se eu não existisse. Mas daquela vez, depois de desejarem a Ali uma boa noite, o guarda responsável fez um aceno de cabeça na minha direcção e disse:
- Boa noite, senhora Moosavi.
Intrigada, olhei em redor e, decorrido um momento, apercebi-me de que ele se havia dirigido a mim. Ali tocou-me na mão. Dei um salto.
- Estás com um ar assustado - notou.
- Eles sempre se comportaram como se eu fosse invisível.
- Estão a aceitar-te. Sabem que somos casados.
Mal chegámos a casa dos pais dele, Akram e a mãe abraçaram-me.
- Ainda estás pele e osso - lamentou-se a mãe de Ali, abanando a cabeça.
Segui-a até à cozinha para a ajudar a preparar o jantar. Akram começou a regar com molho o borrego assado que estava no forno. A mãe de Ali serviu chá aos homens e, quando se dirigia para a sala, pediu-me se podia fazer salada. Havia alface lavada, tomates e pepinos num passador ao pé do lava-loiça. Peguei numa faca e, enquanto estava a cortar os legumes, recordei-me de que na noite anterior tinha sonhado com Akram.
- Sonhei contigo na noite passada - disse eu.
- Que sonho foi?
Fiz uma pausa, tentando decidir se lhe contava ou não.
- Vá lá, conta-me! Aconteceu alguma coisa má?
- Não, não. De modo nenhum.
- Então o que foi? Acredito nos sonhos. Recordas-te?
Disse-lhe que tinha sido um sonho estranho: ela estava na minha igreja, a acender uma vela, e disse-me que eu a tinha mandado rezar a “ave-maria” nove vezes por dia durante nove dias para ter um bebé.
Surpreendida, Akram perguntou-me o que era a “ave-maria” e eu disse-lhe.
- Acreditas mesmo que Maria era a Mãe de Deus? - perguntou ela, depois de ouvir a oração.
Expliquei-lhe que os cristãos acreditavam que Deus decidira que o Seu filho Jesus se tornasse carne no ventre de Maria e que Esta não era uma mulher vulgar, pois nascera com essa finalidade.
- Nós acreditamos que Maria foi uma mulher formidável, mas não a Mãe de Deus! - disse Akram.
- Não estou a pedir-te que acredites em nada. Perguntaste-me como tinha sido o meu sonho e eu disse-te - retorqui com brusquidão.
Ela baixou os olhos, a tentar tomar uma decisão.
- Vou fazer isso. Dizer essa oração. Não perco nada, pois não?
Uns dias mais tarde, ao princípio da tarde, Ali foi à minha cela, o que era invulgar, pois era sempre ao fim da tarde que aparecia. Eu estava a dormir a sesta e acordei sobressaltada. Ele sentou-se ao meu lado, encos-tou-se à parede e fechou os olhos.
- Estás bem? - perguntei.
- Estou óptimo - respondeu. E abraçou-me.
- Que se passa?
- Os guardas trouxeram uma rapariga há umas noites. Tem uns dezassete anos. Foi apanhada a escrever com spray “Morte a Khomeini”, “Khomeini é um assassino” e outras coisas semelhantes numa parede da Avenida Enghelab. Quando a prenderam, disse que odiava o Imã porque ele tinha matado uma irmã dela ainda novinha. Agora está aqui a dizer as mesmas coisas. Acho que está de cabeça perdida. O Hamehd espancou-a, mas ela continua a dizer o mesmo. Se não começa a portar-se bem e a cooperar, vai ser executada. Podias falar com ela? Do que precisa é de apoio psicológico ou uma coisa assim, mas isso não vai acontecer. - Soltou um suspiro e prosseguiu: - Não digas nada. Sei que não é justo. Sei que muito possivelmente não vais ter hipótese de a chamar à razão. Detesto fazer-te isto. Mas não consigo lembrar-me de mais nada.
- Eu falo com ela. Onde está?
- No edifício dos interrogatórios. Vou buscá-la.
Cerca de meia hora mais tarde, Ali entrou na minha cela a empurrar uma cadeira de rodas. A rapariga sentada nela ia coberta com um chador azul-escuro e estava inclinada para um lado, com a cabeça apoiada ao ombro.
- Agora podes tirar a venda, Mina - disse Ali. Mas ela não se moveu.
Foi ele a tirar-lhe a venda e ela entreabriu os olhos. Tinha a face direita roxa e inchada. Eu sabia que ela não conseguia ver, ouvir nem entender grande coisa. Tudo lhe iria parecer um pesadelo sem sentido.
- Chamo-me Marina - disse eu ajoelhando-me diante dela. - Sou uma prisioneira. Estás numa cela. Eu ajudo-te a sair da cadeira. Não tenhas medo. Não vou fazer-te mal.
Peguei-lhe pelos braços, puxei-a para cima e ela caiu nos meus braços. Ajudei-a a sentar-se no chão. Ali pegou na cadeira de rodas e saiu da cela.
- A Layla morreu - murmurou Mina.
- O quê?
- A Layla morreu.
- Quem é a Layla?
- A Layla morreu.
Enquanto estendia um cobertor no chão, para ela poder deitar-se, vi-lhe os pés e tive um sobressalto. Ainda estavam mais inchados do que os meus tinham ficado.
- Vou tirar-te os chinelos. Com muito jeitinho.
A pele dos pés dela parecia um balão demasiado cheio, mas os chinelos saíram facilmente.
Deitei água num copo de plástico e aproximei-o dos seus lábios secos e gretados. Ela bebeu alguns goles.
- Bebe mais.
Ela abanou a cabeça. Ajudei-a a deitar-se e a tirar o chador e o lenço. Como estava a tremer, estendi mais dois cobertores por cima dela, e Mina em breve adormeceu. Sentei-me ao seu lado e vi que era alta e magra. Tinha o cabelo castanho e encaracolado sujo e empastado por ter estado sempre coberto pelo lenço desde a sua detenção. Pensei nos seus pés inchados e comecei a sentir os meus a latejar. A dor que evoquei dos primeiros dias que passei em Evin não era apenas uma recordação, mas algo que vivia dentro de mim.
Umas quatro horas mais tarde, Mina começou a gemer. Fui buscar um copo de água e ajudei-a a sentar-se
- Escuta. Sei como te sentes. Sei que te dói tudo, mas também sei que te irás sentir melhor se beberes isto. Não desistas.
Ela bebeu uns golinhos e os seus olhos fixaram-se em mim.
- Quem és tu? - perguntou.
- Sou uma prisioneira. Chamo-me Marina.
- Pensei que estava morta e que tu eras um anjo ou uma coisa assim.
- Garanto-te que não sou um anjo - respondi a rir -, e podes crer que estás viva e bem viva. Tenho pão e tâmaras. Precisas de comer. O teu corpo precisa de forças para recuperar.
Ela comeu algumas tâmaras e um bocadinho de pão. Mal se deitou, bateram à porta da cela.
- Marina, põe o chador e anda cá - disse a voz de Ali do lado de fora.
Levou-me para outra cela. Comemos pão com queijo que ele levara. Não me fez perguntas acerca de Mina.
- Não queres saber se falei com a Mina? - perguntei.
- Para falar com franqueza, não quero saber nada neste momento. Preciso de desligar de tudo isto. Só quero dormir.
Quando regressei à minha cela, pelas quatro da manhã, Mina ainda dormia. Acordou quando o sol rompeu.
- Quem é a Layla? - perguntei-lhe.
Ela quis saber como estava a par da existência de Layla. Repeti as palavras que ela proferira quando havia chegado.
- A Layla é a minha irmã.
- Como morreu ela?
- Num comício de protesto. Foi atingida por uma bala.
Disse ainda que uma amiga de Layla, chamada Darya, um dia havia sido atacada pelo Hezbollah por ter o cabelo a aparecer por baixo do lenço. A mãe de Mina, que tinha saído para ir às compras, assistiu ao espancamento. Em seguida, os homens do Hezbollah atiraram Darya para dentro de um carro e partiram. Os pais da jovem tinham-na procurado por todo o lado, em todos os hospitais e em todos os comités islâmicos, mas ela havia desaparecido. Uns meses mais tarde, Layla ouviu falar num comício de protesto e decidiu que tinha de ir. Encorajou a irmã a acompanhá-la. Mina tentou dissuadi-la, mas Layla disse que ia quer ela fosse quer não. Perguntou a Mina o que teria feito se o que acontecera a Darya tivesse acontecido com ela. Por fim, Mina cedeu e decidiu acompanhá-la. Layla obrigou-a a prometer que não contava nada aos pais sobre o comício.
- Por isso fomos juntas - disse Mina. - Havia tantas pessoas! Os guardas revolucionários atacaram e abriram fogo. Toda a gente começou a correr. Agarrei na mão de Layla e tentei fugir para um sítio seguro, mas ela caiu. Voltei-me e ela estava morta.
Falei a Mina do comício da Praça Ferdosi, do rapaz que tinha sido abatido e da minha decisão de me suicidar quando chegasse a casa depois do comício. E disse-lhe que, em vez de tomar os comprimidos para dormir da minha mãe, decidira fazer alguma coisa sobre aquilo a que acabara de assistir; decidira fazer a coisa acertada.
- Que fizeste? - perguntou Mina.
- Fiz um cartaz sobre o comício e afixei-o numa parede da escola. Depois comecei com um jornal da escola.
- Fui para a rua à noite muito tarde durante três noites numa semana - disse Mina - e escrevi com spray nas paredes sobre o que tinha acontecido à Layla. Também escrevi slogans contra o Khomeini e o governo. São todos uns assassinos.
- Mina, estive muito perto de ser executada. Se continuares a dizer coisas contra o Khomeini e o governo eles executam-te. Perdi amigos e sei como te sentes. Mas a tua morte não irá resolver nada.
- Então tu colaboraste e ficaste viva - disse ela com os olhos franzidos.
- Não foi exactamente assim. Eles ameaçaram fazer mal à minha família e àqueles que amo. Nunca os poderia pôr em perigo.
- Estou a perceber. Mas de qualquer modo, a minha família está destruída. O meu pai sofre de diabetes e tem problemas cardíacos e está há algum tempo no hospital. A minha mãe não fala com ninguém desde que a Layla morreu. Passei os últimos tempos em casa da minha avó e tem sido ela a cuidar da minha mãe. Os guardas podem ameaçar-me o que quiserem. Não é possível as coisas ficarem piores do que já estão. E parte disso é por minha culpa. Podia ter impedido a Layla de ir ao comício. Se o tivesse feito, ela estaria bem. Todos nós estaríamos bem.
Disse-lhe que discutir com os interrogadores não era muito diferente de se suicidar, mas ela discordou:
- Não vou colaborar com pessoas que mataram a minha irmã.
- Nunca se sabe como será o dia de amanhã, o que acontecerá daqui a dois, cinco ou dez meses. Devias conceder uma oportunidade a ti mesma. Deus deu-te a vida para a viveres.
- Não acredito em Deus. E se Ele existe, é cruel.
- Bem, eu acredito em Deus e não penso que Ele seja cruel; às vezes, nós é que somos cruéis. Quer tu existisses ou não, a Layla teria vivido e morrido da mesma maneira. Mas Deus concedeu-te a dádiva de seres irmã dela, de a conheceres e de a amares, das boas recordações que partilharam. E agora podes recordá-la. Podes viver e fazer coisas boas em memória dela.
- Não acredito em Deus - repetiu ela, desviando os olhos de mim.
Mina dormiu o resto do dia. Eu compreendia a sua amargura. A sua cólera havia-se Transformado num ódio que a consumia. A minha fé em Deus dera-me esperança. Ajudara-me a acreditar na bondade apesar de todo o mal que me rodeava.
Ao fim da tarde, Ali apareceu à porta da cela a chamar-me. Mina não se mexeu nem abriu os olhos. Mais uma vez, Ali levou-me para outra cela. Tentei falar sobre Mina, mas ele não queria falar.
Foi antes do namaz matinal, quando ainda estava escuro que ele me reconduziu à minha cela. Depois de a porta se fechar atrás de mim, ficou escuro como breu. Não conseguia ver nada. Sentei-me imediatamente no chão para não tropeçar em Mina. Não se ouvia um som. Avancei de gatas, a tactear o caminho com as mãos. Mina não se encontrava ali.
- Mina? - chamei.
As luzes acenderam-se quando a voz do muezim encheu o ar: “Allaho akbar...”
- Mina!
- “Allaho akbar...”
Mina tinha desaparecido. O Ali passou toda a noite comigo na outra cela. Santo Deus! O Hamehd levou-a e Ali não sabe. Tentei pensar. Talvez ela ainda estivesse viva. Que podia fazer? Tinha a certeza de que Ali estava a caminho do edifício dos interrogatórios. Podia bater à porta da cela e pedir a um guarda que o fosse chamar. Por outro lado, isso só afastaria Ali do edifício dos interrogatórios. Tinha de esperar.
Pus-me a andar de um lado para o outro na cela; só precisava de dar cinco ou seis passos para percorrer todo o seu comprimento e a largura não era muito mais do que três passos. Ocorreram-me imagens da noite em que me tinham levado para ser executada. Assistira aos últimos momentos das vidas de dois rapazes e de duas raparigas. Nem sequer sabia os seus nomes. Teriam informado as famílias de que aqueles jovens a quem amavam tinham sido executados? Onde estavam enterrados? A mesma coisa podia acontecer a Mina. Bati à porta da cela com os punhos cerrados com tanta força quanto podia.
- Há algum problema? - perguntou uma voz de homem.
- Por favor, pode ir à procura do Irmão Ali e de lhe dizer que preciso de falar com ele imediatamente?
O outro acedeu.
Caminhei durante mais um bocado, com o coração aos saltos. Não tinha relógio e não sabia quanto tempo tinha esperado. O muezim ainda não havia anunciado o namaz seguinte, por isso ainda não era meio-dia. Senti vertigens e cambaleei de um lado para o outro, a embater contra as paredes. Havia outra coisa mais que podia fazer. Comecei a pedir ajuda a todos os santos que conhecia. São Paulo, ajuda a Mina. São Marcos, ajuda a Mina. São Mateus, ajuda a Mina. São Lucas, ajuda a Mina. Santa Bernardette, ajuda a Mina. Santa Joana d'Arc, ajuda a Mina. Quando não consegui lembrar-me de mais nenhum santo, tornei a bater à porta.
- Já lhe dei o recado - disse a mesma voz.
- Que respondeu ele?
- Disse que vinha logo que pudesse.
Sentei-me num canto a soluçar.
“Allaho akbar...” O muezim anunciava a hora da oração do meio-dia. “Allaho akbar...”
A porta da minha cela abriu-se. Ali entrou e fechou a porta atrás de si. Permaneceu de pé, a fitar-me, durante alguns segundos.
- Cheguei tarde demais - disse por fim. - Ela morreu a noite passada durante o interrogatório.
- Como?
- O Hamehd disse que ela lhe respondeu mal, ele esbofeteou-a e ela caiu e bateu com a cabeça em qualquer sítio.
- Meu Deus! Acreditas nele?
- Não interessa no que acredito.
Apetecia-me chorar e não podia. Apetecia-me gritar e não podia. Ape-tecia-me impedir que coisas atrozes acontecessem e não podia. Ali sentou-se ao meu lado.
- Eu tentei - disse-me.
- Não o suficiente - exclamei.
Ele saiu.
Depois disso, Ali não foi ver-me durante cinco ou seis dias e eu passei a maior parte do tempo a dormir, deprimida devido à morte de Mina. Por fim, uma manhã, ele levou à minha cela uma jovem chamada Bahar, que ia com um bebé ao colo. Continuou sem proferir palavra, mas os nossos olhos cruzaram-se e tive a sensação de que queria falar comigo, mas saiu imediatamente.
O bebé de Bahar tinha cinco meses, e era um lindo rapazinho chamado Ehsan. Bahar era de Rasht, uma cidade no norte do Irão, perto da costa do mar Cáspio, não muito distante da nossa casa de férias. Tinha cabelo ondulado, curto e preto e, embora eu visse a sombra negra da preocupação nos seus olhos, movia-se e falava de uma forma calma e confiante. Ela e o marido haviam sido apoiantes dos Fadayian. Tinham sido detidos em casa e levados para Evin. Bahar não fora chicoteada nem torturada durante o interrogatório.
Nessa noite, Ali chamou-me do outro lado da porta fechada. Antes de eu partir, Bahar tomou as minhas mãos nas suas e disse-me que sabia que eu não iria ter problemas. Ela tinha as mãos maiores que eu já vira numa mulher e senti-as quentes contra a minha pele fria.
Como de costume, Ali, que estava muito calado, levou-me para outra cela de isolamento. Sentou-se a um canto, a ver-me tirar o chador.
- Não me julgues com tanta dureza - disse ele de súbito.
- A Mina morreu. Uma rapariga inocente está morta e tu estás preocupado com o que penso de ti? Claro que te julgo com dureza. Que outra coisa posso fazer? És tu quem manda aqui.
- Não mando. Tentei fazê-lo, mas não sou eu.
- Então quem é?
- Marina, esrou a fazer tudo o que posso. Tens de confiar em mim. Não é fácil. E quero que compreendas que não me apetece falar deste assunto.
Quando regressei à minha cela, às quatro da manhã, estava tudo em silêncio, pelo que fui em bicos de pés até ao meu lugar.
- Estás bem? - A voz de Bahar encheu a escuridão.
- Estou óptima. Desculpa se te acordei.
- Não acordaste. Já estava acordada. Queres falar?
- De quê?
- De alguma coisa que te preocupe. Até agora quase só falámos de mim, agora é a tua vez, e não me digas que estás óptima, porque eu sei que não estás.
Tentei combater as lágrimas. Ela apanhara-me desprevenida. Por onde poderia começar?
- Queria dizer-te, mas não consigo.
- Tenta. Não precisas de me dizer tudo.
- Sou casada com o Ali.
- Não estás a falar a sério.
- Estou.
- Como é possível? Ele prendeu a sua própria esposa?
- Não. Eu não o conhecia antes de me trazerem para aqui. Ele foi um dos meus interrogadores. Quando o outro, o Hamehd, me levou para ser executada, o Ali impediu que isso acontecesse e depois ameaçou-me que, se não casasse com ele, se vingaria naqueles que amo. Não tive alternativa.
- Isso é violação!
- Não contes isto a ninguém. As minhas amigas do 246 não sabem.
- És a sigheh dele?
- Não, ele quis um casamento permanente.
- Dadas as circunstâncias, não sei se o casamento permanente é melhor ou pior. Com o sigheh ao menos sabes que ele te vai deixar em paz ao fim de algum tempo. Mas assim...
- Eu estou bem.
- Como podes estar bem?
Pronto, nada a fazer. Comecei a soluçar. O bebé acordou. Bahar pegou-lhe, embalou-o e cantou-lhe uma canção de embalar que fora ela mesma a inventar. Falava do mar Cáspio, das densas florestas do Norte e das crianças que aí brincavam despreocupadas.
Foi fácil conversar com Bahar. Falei-lhe de Cita, de Taraneh e de Mina e de como me odiava por não ter sido capaz de as ajudar. Ela contou-me que também tinha perdido amigos e que se censurava por estar viva.
Perguntei-lhe como estavam as coisas fora de Evin antes de ser presa e ela respondeu-me que pouco havia mudado durante o último ano. O governo islâmico ainda se tornara mais rígido e tirara dividendos disso. Pessoas sem nenhuma ou com pouca instrução seguiam cegamente Khomeini porque queriam ir para o paraíso, e a multidão instruída mantinha-se silenciosa a fim de evitar a prisão, a tortura e a execução. Havia ainda aqueles que não acreditavam nos mullahs e na sua propaganda, mas que os seguiam a fim de conseguirem melhores empregos e melhores salários.
Quando Bahar foi para o 246, depois de passar três semanas na minha cela, comecei a sentir-me sozinha. Uma noite, em meados de Setembro, pedi a Ali para me deixar voltar para o 246 e ele concordou. Tinha-me levado arroz e frango assado e estávamos a jantar.
- Amanhã é o dia da repetição do teu julgamento - disse ele.
Não me senti feliz nem excitada. Sabia que, mesmo que fosse absolvida, isso não iria modificar grande coisa; era casada com Ali e tinha de ficar com ele para sempre.
Ele informou-me de que estava autorizada a assistir àquele julgamento.
- Vou ter de dizer alguma coisa?
- Não, a menos que te perguntem qualquer coisa. Eu vou lá estar, não te preocupes.
Tinha outra novidade: a Sarah estava melhor e tinham voltado a pô-la no 246. Fora condenada a oito anos de prisão.
- Oito anos? Prometeste-me que a ias ajudar!
- E ajudei-a, Marina. Teria sido muito pior se não tivesse interferido. Ela não vai ficar aqui durante esse tempo todo. Vou tentar pôr o nome dela na lista da liberdade condicional.
- Desculpa, Ali. Tens razão. Não sei que teria feito sem ti.
- Acho que isso foi a coisa mais gentil que já me disseste - retorquiu ele com uma gargalhada. E apercebi-me de que tinha razão.
Na manhã seguinte, Ali foi buscar-me à minha cela. A sala do tribunal ficava noutro edifício, a dez minutos de caminho a pé. Os empregados e os guardas corriam de um edifício para o outro, às vezes arrastando uns quantos reclusos atrás de si. Quase toda a gente que víamos cumprimentava Ali, fazendo uma ligeira vénia e levando a mão direita ao coração. Depois, de olhos baixos, dirigiam-me um aceno de cabeça. As mulheres muçulmanas não deviam fixar os homens directamente nos olhos, excepto os maridos, pais, irmãos e alguns parentes próximos, e eu seguia esta regra com satisfação. Ali também fazia uma vénia a amigos e colegas e saudava-os com palavras simpáticas. Entrámos no tribunal, um edifício de tijolo de dois andares com janelas gradeadas e corredores escuros. Ali bateu a uma porta fechada, e uma voz grave disse “entre”. Assim fizemos. Mal entrámos na sala, três mullahs, sentados atrás de três secretárias, puseram-se de pé e apertaram a mão a Ali. Eu baixei os olhos e limitei-me a dizer “saiam aleikom” quando eles me cumprimentaram. Convidaram-nos então a sentar.
- Em nome de Deus, o bondoso e misericordioso - disse o mullah sentado ao meio - a sessão está agora aberta neste tribunal de justiça islâmica. A menina Marina Moradi-Bakht foi condenada à morte e a ser executada em Janeiro de 1982, mas recebeu o perdão do Imã, e a sua sentença foi reduzida para prisão perpétua. Desde então, a sua situação modificou-se consideravelmente. Converteu-se ao Islão e casou com o senhor Ali-eh Moosavi, que sempre envidou todos os esforços para proteger o Islão e, em muitas ocasiões, deu provas de grande sacrifício pessoal ao serviço do Imã. A luz de todas estas modificações, este tribunal reabriu o processo e reduziu a sentença para três anos de prisão, dos quais ela já cumpriu oito meses.
Todos os mullahs se puseram de pé, apertaram de novo a mão de Ali e convidaram-nos a ficar para tomarmos chá. A repetição do julgamento estava terminada.
Uns dias mais tarde, regressei à camarata 6 no primeiro andar do 246. Mal entrei na sala, vi Sheida e Sarah de pé à minha frente. Abraçámo-nos como irmãs que há muito não se viam e, antes que eu me desse conta, Sima e Bahar estavam a apertar-nos com tanta força que tivemos de suplicar que nos largassem. Era incrível o quanto Kaveh, o rapazinho de Sheida, agora com seis meses, tinha crescido.
- Que estás a fazer cá em baixo? - perguntei a Sheida logo que nos sentámos num canto sossegado.
- Mudaram-me para aqui há umas semanas. Onde estiveste?
- Nas celas de isolamento do 209.
- Porquê?
- Estava a ter muitas enxaquecas e como não suportava o ruído aqui, mudaram-me para o 209.
- Estou a perceber.
Sabia que ela não acreditava em mim, mas que não queria fazer perguntas. Disse-me que a sua sentença havia sido reduzida para prisão perpétua, mas que o marido continuava condenado à morte.
- Estou a pensar mandar o Kaveh para casa dos meus pais. Tenho autorização para o manter aqui comigo até ter três anos, mas acho que é egoísmo da minha parte ficar com ele ao pé de mim. Nunca viu uma árvore, uma flor, um baloiço nem outra criança - disse ela.
Era verdade: o mundo da criança era rodeado por muros altos, arame farpado e guardas armados. Ele não merecia aquilo. Mas cada vez que Sheida pensava enviá-lo para casa dos pais, quase ficava com o coração partido. Não sabia se seria capaz de o deixar partir.
Sarah e eu fomos trabalhar para uma pequena fábrica de costura que começara a funcionar na prisão. Fazíamos camisas de homem e gostávamos do trabalho, porque nos mantinha activas o dia inteiro. Os guardas disseram-nos que seríamos pagas pelo nosso trabalho quando estivéssemos prestes a ser libertadas, mas o salário era tão baixo que nem sequer valia a pena pensarmos nele. Sarah parecia estar a sentir-se melhor. Mesmo assim, quando tinha oportunidade, escrevia no corpo e em todas as superfícies em que fosse possível escrever, mas enquanto trabalhava concentrava-se no que fazia.
Entretanto, eu rezava para que Ali se fartasse de mim, o que não acontecia. O meu nome era chamado pelo altifalante cerca de três vezes por semana e, depois de passar a noite com ele numa cela do 209, voltava ao 246 a tempo do namaz matinal. A maioria das raparigas nunca me perguntava aonde ia à noite, mas se alguma o fizesse, diria que me tinha oferecido como voluntária para trabalhar no hospital da prisão. Três ou quatro outras raparigas do 246 eram chamadas à noite com regularidade. Tal como eu, era habitual regressarem antes do nascer do sol. Evitávamos falar umas com as outras. Suspeitava de que, provavelmente, a sua situação era semelhante à minha.
As rotinas diárias de Evin prolongaram-se ao longo de dias, semanas, meses. A cada momento que passava, as nossas vidas antes da prisão afas-tavam-se um pouco mais, mas embora a esperança de regressarmos a casa se tornasse mais ténue e mais irreal, acalentávamo-la secretamente e recusávamos deixá-la morrer.
- Tenho boas notícias - disse-me Ali certa noite de Fevereiro, o rosto iluminado por um sorriso infantil. - A Akram telefonou-me esta manhã. O médico disse que está grávida!
A notícia deixou-me muito feliz.
- Ela também me falou do teu sonho e da oração. Acredita que te deve a felicidade, e fez-me prometer que te levava imediatamente a casa dela.
Não respondi. Ali olhou para mim a sorrir e perguntou:
- Que mais tens andado a fazer nas minhas costas?
- Não fiz nada nas tuas costas.
- Porque não me falaste disto?
- Era um assunto de mulheres.
- Já não tens medo de mim, pois não?
- Devia ter?
- Não, nunca. É verdade que pensamos de forma diferente, mas, de certo modo, confio mais em ti do que em mim próprio. Se este bebé viver, a Akram vai considerar-se eternamente em dívida para contigo.
- Deus respondeu às orações de Akram. Isso nada teve a ver comigo.
Akram estava radiante. Nunca a vira tão feliz.
- Quando o Ali me telefonou a dizer que vinhas cá, pedi ao Mas-sood para ir à padaria comprar uns folhados com creme para ti. Lembrei-me de como gostas deles - disse Akram enquanto estávamos a preparar o jantar. Tirou duas grandes caixas do frigorífico.
- Meu Deus, Akram, tens aqui bolos suficientes para alimentar um exército.
- O Massood está tão feliz que, se eu lhe tivesse pedido, era capaz de ter comprado a padaria inteira.
- Falaste-lhe da oração? - perguntei, chocada com a hipótese de ela ter podido fazê-lo.
- Falei a toda a gente!
- Ele não ficou furioso comigo?
- Furioso? Porquê?
- Bem, sabes que é uma oração cristã.
- Ele quer lá saber! A oração deu resultado, não foi? Vamos ter um bebé! É só isso que importa. Ele diz que Maria é referida no Corão como sendo uma grande mulher, e não faz mal nenhum pedir-lhe ajuda.
A felicidade de Akram era como uma bofetada na minha face. Mas não queria sentir-me infeliz por causa da alegria dela.
- Que se passa, Marina? O Ali está zangado contigo? Porque se está, eu...
- O Ali não está zangado.
Comecei a pôr os bolos num prato. Tinham um cheiro fresco e doce, mas eu não estava com fome. Akram não tinha direito de estar tão feliz quando jovens mães como Sheida sofriam em Evin. Não era justo.
- Mas estás com um ar tão triste, Marina! Que se passa?
- Desculpa. Estou muito feliz por ti, mas não posso deixar de pensar na Sheida, uma amiga minha. Estava grávida quando ela e o marido foram presos e foram ambos condenados à morte. Ela deu à luz na prisão. O Kaveh, o filho dela, está quase a fazer um ano. É adorável. A sentença da Sheida foi reduzida para prisão perpétua, mas o marido continua condenado à morte. A Sheida quer mandar o Kaveh para casa dos pais, mas não consegue separar-se dele. Ele é tudo o que ela tem na vida. Mas o pobre rapazinho foi criado em Evin. Nunca viu o mundo exterior.
- Isso é terrível. Porque está ela na prisão?
- Não sei ao certo. Não falamos nisso, mas creio que é apoiante dos Mojahedin.
- Os Mojahedin são terroristas, Marina. São uns malvados.
- A Sheida não é malvada. É uma mulher muito triste, uma mãe. Acreditar que uma pessoa é malvada não nos dá o direito de lhe fazer o que nos apetece, de fazermos também nós coisas más. O que está errado está errado, seja como for que se encare. Estou certa de que a Sheida não merece prisão perpétua.
- Vou falar com o Ali. Talvez ele possa fazer qualquer coisa por ela.
- Bem, não faz mal perguntar-lhe, mas não creio que haja alguma coisa que ele possa fazer. Ele não é o interrogador dela. Tem tentado ajudar pessoas, mas nem sempre consegue.
O samovar começou a borbulhar.
- Anda, Marina, vamos beber chá e comer bolos.
Abracei-a e disse-lhe que a estimava muito. Acrescentei que havia tanta dor e tristeza em Evin que tinha esquecido como era ser feliz.
Uns quatro meses mais tarde, no aniversário do nosso casamento, os pais de Ali convidaram-nos para irmos jantar a casa deles. Durante os últimos onze meses visitávamo-los de quinze em quinze dias e eles tinham sido sempre gentis para comigo. A gravidez de Akram estava a correr muito bem e o bebé devia nascer dentro de três meses.
- Vais dar uma prenda à tua mulher no vosso primeiro aniversário de casamento? - perguntou o senhor Moosavi a Ali depois do jantar naquela noite.
Ali respondeu que decidira levar-me a passar uns dias à beira do mar Cáspio.
- Mas isso não é perigoso? - perguntei.
- Só os meus pais sabem aonde vamos. Ficamos na casa de férias dos meus tios, que é no meio de nenhures, e nem sequer ele vai saber que lá estamos. Pensa que os meus pais vão e não vai lá estar porque anda em viagem de negócios. Então, que dizes? Queres ir?
Fiz que sim com a cabeça. Ele disse que podíamos partir imediatamente, pois a mãe tinha feito uma mala para mim.
Levámos o carro do senhor Moosavi, um Peugeot branco, e antes das dez horas já estávamos na estrada.
- Como te ocorreu esta ideia? - perguntei a Ali.
- Uma vez disseste que adoravas o mar Cáspio, e eu queria passar um tempo especial contigo. Precisávamos ambos de sair de Evin. A casa pertencia a um dos ministros do Xá antes da revolução. Esse homem saiu do país com a família mais ou menos quando o Xá partiu. Os Tribunais da Revolução Islâmica confiscaram a casa, ou melhor dizendo, o palácio dele em Teerão, e a casa de praia perto de Ramsar e puseram-nas à venda. O meu tio comprou a casa de praia por um preço muito vantajoso.
- Deve ser linda.
- Pois é. Vais ver. Diz-me porque gostas tanto do mar Cáspio.
Disse-lhe que havia passado muitos Verões felizes aí. Tudo em Teerão
era tristonho e insípido, mas no mar era tudo cheio de vida.
O ar frio batia-me no rosto através da janela aberta. No início da viagem, só sentia o cheiro de poeira e dos escapes, mas à medida que prosseguíamos caminho pela estrada sinuosa que trepava pelas montanhas Alborz, a noite ia-se enchendo da fragrância dos cursos de água límpidos, dos choupos e dos aceres. Para mim, aquele era o odor de um mundo perdido, de liberdade, de felicidade e de todas as coisas boas que já não existiam.
- Quando estavas na frente e eu no 246, descobri que uma amiga minha, a Taraneh Behzadi, tinha sido condenada a ser executada - disse eu.
- Taraneh Behzadi? Esse nome não me diz nada.
- Não foste tu que a interrogaste. Ela disse-me que o nome do interrogador dela era Hossein, da quarta divisão. Pensei que poderias ajudá-la. Pedi à Irmã Maryam para falar contigo, e ela disse-me que estavas na frente.
- Marina, não posso interferir com os assuntos das outras divisões. Embora fosse um dos teus interrogadores, mesmo assim não me foi fácil reduzir a tua pena.
- Ela morreu. Foi executada.
- Lamento muito.
- Lamentas?
- Sim. Lamento que as coisas tenham chegado a esse ponto. Mas o Islão tem leis, ela infringiu-as e foi punida.
- Mas os crimes dela seriam suficientes para justificar a execução?
- Não é a mim que compete decidir isso. Nem sequer a conhecia. Não sei o que fez.
- Deus dá a vida e Ele é o único que pode tirá-la.
- Marina, tens todo o direito de estar perturbada. Ela era tua amiga, e tu quiseste ajudá-la. Mas ainda que eu lá estivesse, é provável que me tivesse sido impossível salvá-la. Os interrogadores e mesmo os tribunais cometem erros. Consegui ajudar pessoas que considerei terem sentenças severas, mas nem sempre posso fazê-lo. Tentei ajudar a Mina, não tentei? Mas não funcionou.
- A Taraneh não merecia morrer.
Tudo o que me parecia ver eram os grandes olhos cor de âmbar de Taraneh e o seu sorriso triste. Ali mantinha os olhos postos na estrada.
- Ouvi uma coisa terrível, e tenho de te perguntar se é verdade ou não - disse eu.
- O que é?
- Acreditas que as virgens vão para o paraíso quando morrem?
- Marina, sei aonde queres chegar com isso.
- Por favor, responde-me.
- Não, não acredito nisso. E a decisão de quem vai para o céu e quem vai para o inferno é de Deus, e não minha. As jovens não são violadas antes da execução. Não devias acreditar em tudo o que ouves.
Estava demasiado escuro para poder ver o rosto dele com nitidez, mas a sua respiração tinha-se tornado mais acelerada.
- Tu estiveste prestes a ser executada. Foste violada? - perguntou.
- Não - respondi, com vontade de acrescentar, “antes não, mas seis meses depois fui”. No entanto, decidi calar-me.
- Compreendo como estás perturbada por causa da tua amiga, Marina. Mas asseguro-te que ela não foi violada.
Aquelas palavras não me consolaram.
Chegámos à casa de férias por volta das duas da manhã. Ali saiu do carro, abriu um grande portão de ferro forjado e, sob uma abóbada de árvores, seguimos um caminho alcatroado que conduzia à casa. A propriedade arborizada, à beira do mar Cáspio, embora estranhamente semelhante à dos meus pais, era muito maior. O trilar dos grilos entrava pelas janelas abertas. O vento fazia remoinhos por entre as folhas e os ramos, espalhando vagas de sombras prateadas contra o pára-brisas. Só quando estacionámos ouvi, finalmente, o mar - as ondas rebentavam na praia, enchendo a noite com o seu ritmo familiar.
O edifício branco, de dois pisos, era o dobro da casa de férias dos meus pais e tinha um leão de pedra, do tamanho de um cão grande, de cada lado da entrada. Ali abriu a porta da rua e entrámos. O mobiliário da sala era constituído por cadeiras de estilo francês e mesas de café com tampo de vidro, e todo o chão estava coberto por tapetes persas de seda. Uma escada ampla, que me fez lembrar E Tudo o Vento Levou, conduzia ao primeiro andar, onde havia seis quartos. Ali escolheu o maior, que deitava para o mar. O meio do quarto era ocupado por uma cama enorme, que fazia lembrar um trenó. Havia um grande toucador com gavetas de diversos tamanhos, um roupeiro e duas mesas-decabeceira. Não havia vestígios de pó e tudo estava imaculadamente limpo, pelo que suspeitei de que o tio de Ali e a família deviam lá ter estado há pouco tempo. Corri as cortinas de renda branca, abri uma das duas janelas e o ar marinho, impregnado de sal, roçou-me no cabelo. Perguntei-me o que teria acontecido aos primeiros proprietários da casa. Deviam tê-la adorado e, onde quer que estivessem, de certeza que sentiam terrivelmente a falta dela.
- O teu nome está na lista dos presos em liberdade condicional - disse Ali, de pé atrás de mim.
- Que significa isso?
- Significa que vais estar oficialmente livre daqui a cerca de três meses.
Oficialmente livre. Que termo tão estranho. Alguma vez iria ser verdadeiramente livre? Não conseguia perceber o que significava a palavra “livre” para ele. Tinha-me roubado a liberdade para sempre. Não dei resposta.
- Não ficas feliz por ouvir isto?
- Não sei, Ali. Já não sei o que pensar. Ainda que fique oficialmente livre, não posso ir para parte nenhuma.
- Podes, sim. Vamos para a nossa casa. As coisas estão a melhorar. Quando fores libertada, será seguro ir para casa.
Agarrou-me nos ombros, virou-me de frente para ele e tocou-me na face.
- Porque estás a chorar?
- Não sei. Recordações, acho eu. Não consigo impedir-me.
Em geral os olhos dele eram opacos, mas por vezes deixavam transparecer uma ânsia estranha, intensa, que me aterrorizava. Baixei os olhos. Quando os voltei a erguer, ele estava a olhar pela janela, de costas para mim.
- Continuas a odiar-me, Marina? - perguntou, virando-se para mim.
- Não, já não te odeio. Odiei-te ao princípio, mas já não te odeio.
- Alguma vez irás amar-me?
- Não sei, mas sei que, enquanto trabalhares em Evin e parte do teu trabalho consistir em fazer mal a pessoas, não serei capaz de te amar. E não te esqueças de que me forçaste a casar. Sou tua cativa.
- Não quero que penses em mim como teu captor.
- Mas essa é a verdade.
- Não, é a tua percepção de verdade.
- Que queres dizer?
- Não percebes? Quase morreste e eu salvei-te a vida. Pensavas mesmo que podias escapar? Julgaste que o Hamehd e os outros iam ceder? És uma ingénua. Eu queria-te, mas não sou egoísta. Se houvesse uma maneira, ter-te-ia deixado partir e depois é provável que me tivesse suicidado com um tiro na cabeça. De certo modo, somos ambos cativos. - Rodeou-me com os braços. - Antes da revolução, fui preso político durante três anos. Sei o que significa querer voltar para casa. Mas deixa-me que te diga uma coisa: a tua “casa” não é a mesma que deixaste ou, ainda que seja, tu não és a mesma. A tua família nunca te compreenderá, estarás sozinha até ao fim da tua vida. Provavelmente, estou a perder tempo a dizer-te tudo isto, pois ainda és demasiado jovem e bondosa. Não há nenhum sítio para onde possas ir. O único lugar que te resta neste mundo é comigo, e o único lugar para mim é junto de ti.
Fomos para a cama, mas, sem conseguir dormir, fiquei a ver a luz alastrar no soalho. Ali dormia de costas para mim. O seu ombro esquerdo subia e descia cada vez que respirava. Dissera a Taraneh que não me tinham violado antes de me levarem para ser executada, e isso era verdade. Mas Hamehd e os guardas sabiam que eu era cristã e, na sua opinião, virgem ou não, de qualquer modo teria ido para o inferno. E Taraneh sabia isso, mas havia-me feito a pergunta, porque, embora tivesse aceitado a condenação à morte, ansiava desesperadamente porque lhe dessem a mais ínfima garantia de que iria morrer com dignidade. Ali dissera-me que as jovens não eram violadas antes de se apresentarem perante os pelotões de execução. Mas ele não considerava que me tinha violado. Da sua perspectiva, forçara-me a casar com ele para meu próprio bem. Talvez tivesse violado raparigas a pretexto do sigheh, sem voltar a pensar no assunto. Eu queria acreditar que ele nunca tinha feito nada disso, que eu era a única que alguma vez forçara a casar, mas não tinha maneira de saber a verdade.
Saí da cama e caminhei em direcção ao mar. Pequenas vagas murmuravam contra as rochas da praia e as estrelas flutuavam entre nuvens cinzento-prateadas, com as suas luzes nacaradas reflectidas na superfície da água. O mar Cáspio chamava-me como um velho amigo. Pensei que estava pronta, que podia suportar o peso da perda que pesava sobre mim. Mas nada era como devia. Agora o mar chamava-me e eu desejava ir. Essa tremenda necessidade, esse desejo feroz de desaparecer. Avancei contra as ondas. Eram tão cálidas quanto as recordava. No seu seio, podia tornar-me uma recordação, mas tudo o que possuía no coração estaria perdido.
“A vida é preciosa, não desistas, vive de novo.” Era a voz do anjo.
- Estava a precisar de ti e chamei-te. Não vieste. E agora dizes-me para não desistir? Não desisto de quê?
“A vida é preciosa, não desistas, vive de novo.”
- Que farás se eu mergulhar e respirar água em vez de ar? Desta vez deixas-me morrer e acusas-me de ceder ao desespero e à tristeza? Ou sorris e fazes-me sentir culpada por tudo o que fiz e que não fiz e envias-me de volta a este tormento?
Senti o vento acariciar-me e seguir para os bosques e para o vale do rio Branco. Depois deslizou silencioso através da serenidade do deserto, a caminho do oceano.
Regressei a casa, a pingar água. Ali encontrava-se junto do portão que dava para a praia. Estava a chorar. Porque não conseguia eu amá-lo e esquecer o passado? Tinha de me entregar ao ritmo da vida, como uma criança que descobre pela primeira vez como se flutua na água.
- Acordei e tu não estavas lá - disse ele, erguendo-me da areia húmida e transportando-me para casa como se eu fosse uma criança.
Regressámos a Evin depois de passarmos cinco dias na casa de férias. Nada tinha mudado. Decorridas quatro semanas, no final de Agosto, comecei a sentir-me terrivelmente agoniada. Depois de ter vomitado durante uns quantos dias, Ali decidiu levar-me à médica da mãe. Esta mandou-me fazer algumas análises e disse-me que eu estava grávida de oito semanas. Nem sequer me tinha ocorrido que podia estar à espera de bebé. Quando acedi em casar com Ali só pensei nos efeitos da minha decisão sobre a minha própria vida, a vida dos meus pais e a de André. Nunca pensara em filhos. Agora, havia outra vida afectada: a de uma criança inocente. Uma criança ia precisar de mim, confiar em mim, e, quer isso me agradasse quer não, ia precisar do pai.
Ali estava à minha espera no carro. Ficou muito entusiasmado quando lhe contei a novidade.
- Estás feliz? - perguntou-me.
Essa pergunta perturbou-me. Eu não estava feliz e isso não era justo. O bebé dentro de mim não sabia nada da minha vida. Tudo de que precisava era do meu amor e atenção. De certo modo, eu era o seu anjo-da-guarda. Como poderia voltar as costas a isso?
- Estou feliz - respondi. - Mas também estou em estado de choque.
- Vamos a casa dos meus pais. Quero que eles saibam imediatamente.
Achava que os meus pais também precisavam de saber, e que o mesmo se passava com André. Quem iria atirar a primeira pedra?
Mal chegámos a casa dos pais dele, Ali telefonou a Akram. Os pais ficaram radiantes e fiquei contente por vê-los felizes. Durante toda a noite, a mãe deu-me conselhos relativos às fases da gravidez. Já me parecia conhecer a mãe de Ali melhor do que conhecia a minha própria mãe. Estava de tal modo desesperada por encontrar alguma normalidade e felicidade que desejava esquecer-me de mim mesma e amar Ali. Mas isso era impossível. Nunca lhe poderia perdoar o que havia feito, não só a mim, mas aos outros.
- Devias ficar aqui connosco - disse-me a mãe de Ali. - Precisas de repousar e de te alimentar bem.
Recusei a oferta, mas ela insistiu. O senhor Moosavi interveio:
- Ela fica onde quiser. Se quiser ficar aqui, será bem-vinda. Esta é a casa dela, do mesmo modo que é a casa do Ali, mas talvez ela prefira ficar com o marido. A gravidez não é uma doença. Vai correr tudo bem.
Akram chegou e deu-me abraços e beijos. Esperava o filho daí a quatro semanas e, atendendo ao facto de ser baixa, a barriga dela parecia enorme. Fomos para o seu antigo quarto de modo a podermos falar em privado.
- Marina, nunca fui tão feliz na vida! Isto é maravilhoso! Os nossos filhos vão crescer juntos. Vão ter quase a mesma idade.
Afastei-me dela.
- Que se passa? - perguntou-me Akram.
- Nada. Só que tenho náuseas durante o tempo todo.
- Sentes-te feliz por estares grávida?
Não queria ouvir aquela pergunta, e muito menos responder-lhe. Deixava-me desesperada, pois sabia que não era feliz. Tinha tentado ser, mas não era. Não queria aquele bebé, que me incomodava.
- Não queres o bebé, pois não?
- Não, não quero, mas também não quero sentir-me assim. Deus sabe que tentei.
- A culpa não é tua. Estás assustada. Olha, vem sentir o bebé a mexer-se.
Pôs a minha mão sobre a sua barriga e senti o filho dela dar um pontapé.
- O teu vai crescer e mexer-se assim dentro de ti. É a melhor sensação do mundo. Dá-lhe uma hipótese. Tenho a certeza de que o vais amar mais do que imaginas. Eu estou aqui para te ajudar em todos os aspectos. Não precisas de te preocupar. E o Ali ama-te, Marina, tu és tudo para ele.
Akram tinha-se tornado verdadeiramente minha irmã e, quer isso me agradasse quer não, eu passara a fazer parte da família de Ali. Com eles sentia-me mais amada e estimada do que me sentira em toda a minha vida, e o amor deles fazia-me sentir culpada porque me dava conta de que também os amava. Mas o amor não devia fazer uma pessoa sentir-se envergonhada. O amor não era pecado, embora para mim tivesse passado a sê-lo. Isso não significaria que um dia iria também amar Ali? Quereria dizer que tinha traído completamente os meus pais e André?
Nessa noite, Ali e eu ficámos acordados na escuridão de uma cela.
- Marina, amanhã vou pedir a demissão do meu trabalho - anunciou.
Embora não fosse totalmente inesperado, fiquei surpreendida ao ouvi-lo proferir essas palavras. Ainda que fosse raro Ali falar-me do trabalho, eu vivia em Evin e tinha visto como ele se sentia frustrado. Reparara nisso particularmente depois da morte de Mina. Acusara-o de tudo o que lhe acontecera e acreditava que ele devia ter feito mais para a salvar, mas também sentira a sua impotência. Ele perdera a batalha em favor de Hamehd.
- Porquê? - perguntei.
Ele não queria falar do assunto, mas eu disse-lhe que merecia saber. Contou-me que tivera uma grande discussão com Assadollah-eh Ladjevardi, o promotor público de Teerão, que estava encarregado de Evin.
- Assadollah e eu fomos amigos durante anos - explicou-me Ali. - Ele também esteve preso em Evin durante o tempo do Xá. Mas ele foi demasiado longe. Tentei mudar as coisas em Evin, e não fui capaz. Ele não quis dar-me ouvidos.
Eu vira Ladjevardi duas vezes. Numa delas, ele dera uma volta pela fábrica de costura onde eu trabalhava. E outra vez, quando eu ia a sair do carro de Ali, Ladjevardi, que ia a entrar noutro carro, aproximara-se para nos saudar calorosamente. Ali apresentou-nos e ele disse que tinha ouvido falar de mim e estava contente por me conhecer. Desejava-nos felicidades e afirmou sentir-se orgulhoso por eu me ter convertido ao islamismo.
- Prometi-te uma boa vida quando casámos - disse Ali - e vamos tê-la, mas longe deste lugar. Vou trabalhar com o meu pai e havemos de ter uma vida normal. Tens sido forte, paciente e corajosa, tal como eu sabia que irias ser. Agora está na altura de ires para casa. Só preciso de três semanas para pôr tudo em ordem.
De súbito, deixar Evin estava a tornar-se uma realidade, mas o que eu sentia não era felicidade. Sabia que, enquanto esposa de Ali, seria sempre uma prisioneira.
- Tenho de contar aos meus pais - disse eu. Não podia manter o meu casamento secreto para sempre, sobretudo com o bebé a caminho.
Ouvimos alguns tiros à distância. Ali disse-me que pensava muitas vezes na noite em que eu quase fora executada.
- Se eu tivesse chegado uns segundos mais tarde, já estarias morta - disse ele. - Nunca te contei isto, mas às vezes tenho pesadelos com essa noite. É sempre o mesmo: chego lá, mas já é tarde de mais. Encontro-te morta e coberta de sangue.
- Era o que devia ter acontecido.
- Não, não é! Deus ajudou-me a salvar-te.
- E os outros? Há pessoas que os amavam e que não queriam que morressem, tal como tu não querias que eu morresse.
- Na sua maior parte, foram responsáveis por isso - disse ele.
Apeteceu-me sacudi-lo.
- Não, estás enganado! És apenas um ser humano. Podes dizer que sabias tudo sobre eles? Tomar decisões sobre a vida e a morte exige uma compreensão completa do mundo que nós não temos. Só Deus pode tomar decisões dessas, pois Ele é o único que sabe tudo.
Estava lavada em lágrimas e tive de me sentar para conseguir respirar.
- Desculpa - disse ele. - Não estou a defender a violência, mas às vezes não existe alternativa. Se alguém te encosta uma pistola à cabeça e tu tens oportunidade de disparar e de te defenderes, fazes isso, ou morres sem ripostar?
- Não iria matar outro ser humano
- Então os maus ganham e tu perdes.
- Se ganhar implica matar, prefiro perder. Mas, nesse caso, outros que assistam à minha morte ou oiçam falar dela vão saber que morri porque recusei ceder ao ódio e à violência, e irão recordar-se; e talvez um dia encontrem uma maneira pacífica de derrotar o mal.
- Vives no teu mundo idealista que nada tem a ver com a realidade, Marina.
Nessa noite, fiquei acordada depois de ele ter adormecido. Parecia-me que Ali começara a compreender que a violência era inútil - torturar e executar adolescentes nunca poderia levar a nada de bom nem agradar a Deus, fosse de que maneira fosse. E talvez fosse por esse motivo que ele me salvara da morte e casara comigo - eu era a sua maneira estranha, desesperada, de se rebelar contra tudo o que se passava em Evin.
Na segunda-feira, dia 26 de Setembro, fomos jantar a casa dos pais dele. Tinham passado duas semanas desde que Ali apresentara a sua demissão e, durante o jantar, disse-me que íamos deixar Evin dentro de uma semana e mudarmo-nos para a casa que ele comprara para nós.
Por volta das onze horas, despedimo-nos de todos e saímos. Como estava uma noite fria, os pais de Ali não saíram para se despedirem de nós. A porta de metal que ligava o jardim à rua rangeu quando Ali a abriu e a fechadura deu um estalido sonoro quando a fechou. Caminhámos em direcção ao carro, que estava estacionado a uns vinte e cinco metros, no sítio onde a rua era um pouco mais larga. Um cão ladrou ao longe. De súbito, o estrépito de uma moto encheu a noite. Ergui os olhos e vi-a dobrar a esquina e avançar para nós. Duas silhuetas negras iam sentadas nela e, mal as vi, percebi instintivamente o que ia acontecer. Ali também percebeu, e empurrou-me. Perdi o equilíbrio e caí ao chão. Ouviram-se disparos. Durante o instante que se estendeu entre a vida e a morte, uma escuridão imponderável envolveu-me no seu corpo liso como seda. Em seguida, uma luz ténue alastrou e penetrou-me nos olhos e uma dor surda encheu-me os ossos. Ali estava deitado por cima de mim. Movendo-me a custo, consegui virá-lo.
- Ali, estás bem?
Ele gemeu, a fitar-me com uma expressão de surpresa e de dor. Senti o corpo e as pernas estranhamente quentes, como se estivessem embrulhados numa manta.
Os pais deles corriam na nossa direcção.
- Uma ambulância! - gritei. - Chamem uma ambulância!
A mãe dele voltou a correr para dentro de casa. O seu chador branco tinha-lhe caído sobre os ombros, deixando descoberto o cabelo grisalho. O pai ajoelhou-se ao nosso lado.
- Estás bem? - perguntou-me Ali.
Tinha o corpo um pouco magoado, mas a dor não era intensa. Estava coberta pelo sangue dele
- Sim, estou bem.
Ali agarrou-me na mão e conseguiu articular:
- Pai, leve-a à família dela.
Apertei-o contra mim, com a cabeça apoiada no meu peito. Se ele não me tivesse empurrado, eu teria sido atingida. Mais uma vez, Ali salvara-me a vida.
- Meu Deus, por favor, não o deixes morrer! - exclamei. Ele sorriu.
Odiara-o, sentira-me encolerizada com ele, tentara perdoar-lhe e, em vão, tentara dar-lhe amor.
Ele respirava com grande dificuldade. O seu peito subia e descia e, em seguida, ficou imóvel. O mundo movia-se à nossa volta, mas nós havíamos ficado para trás, um de cada lado de uma linha divisória implacável. Queria ser capaz de alcançar as negras profundezas da morte e trazê-lo de volta.
As luzes intermitentes de uma ambulância... Uma dor aguda no abdómen... E o mundo em meu redor desapareceu na escuridão.
Eu estava numa floresta luxuriante com o meu bebé nos braços. Era um lindo rapazinho, com grandes olhos escuros e faces rosadas. Estendeu a mãozinha, agarrou-me no cabelo e soltou uma pequena gargalhada. Também ri e, ao erguer os olhos, avistei o Anjo da Morte. Corri ao seu encontro. Ele sorriu-me, da forma calorosa que eu tão bem conhecia e a sua doce fragrância envolveu-me. Senti como se o tivesse visto na véspera, embora ele nunca me tivesse abandonado.
“Vamos dar um passeio”, disse ele, e começou a caminhar por uma vereda que desaparecia no interior da floresta. Segui-o. Estava um dia lindo e parecia ter acabado de chover: as folhas das árvores em redor brilhavam, cobertas por grandes gotas de água. Havia roseiras carregadas de flores cor-de-rosa por toda aparte e o ar era doce e cálido. Eu ficara para trás. Ele desapareceu atrás de uma árvore, pelo que caminhei mais depressa afim de o alcançar. Dei com ele sentado na minha Rocha da Oração e sentei-me ao seu lado.
“Tens um filho lindo”, disse ele.
O bebé começou a chorar. Fiquei sem saber o que fazer.
“Deve estar com fome. Devias dar-lhe de mamar”, disse o anjo.
Como se tivesse feito aquilo um milhão de vezes, pus o bebé ao peito e ele pegou-lhe com a sua boca quente e minúscula.
Abri os olhos. Uma a uma, grandes gotas redondas caíam de um saco de plástico transparente para dentro de um tubo. Ping Ping. Ping. Segui o tubo com os olhos e vi que terminava na minha mão direita. A sala estava escura, à excepção de uma débil luz de presença. Encontrava-me deitada numa cama branca e limpa. Havia um telefone em cima de uma mesinha ao lado da cama. Estendi a mão esquerda e senti uma dor aguda na barriga. Deixei-me cair para trás e respirei fundo. A dor desapareceu. Encostei o auscultador ao ouvido. Não dava sinal. As lágrimas brotaram-me dos olhos.
A porta abriu-se e uma luz ofuscante alastrou até me alcançar. Uma mulher de meia-idade, com um lenço branco na cabeça e um manteau também branco, entrou.
- Onde estou? - perguntei-lhe.
- Está tudo bem, minha querida. Está num hospital. De que se recorda?
- O meu marido morreu.
O meu marido morreu. Santo Deus, porque me magoa isto tanto?
A mulher saiu do quarto, e fechei os olhos. Ele morreu, partiu, e eu sinto-me sozinha. Terrivelmente sozinha. Sinto quase o mesmo que senti quando vi os soldados lançarem o corpo de Arash para dentro de um camião. Mas eu amava Arash e nunca amei Ali. Que se passa comigo?
Aquilo era sofrimento, negado, mas presente e forte.
Ouvi alguém chamar o meu nome. Abri os olhos e vi um homem de meia-idade, calvo e com uma barba grisalha. Disse que era o médico e perguntou-me se sentia dores, e eu respondi que não. Em seguida disse-me que eu perdera o bebé. O pouco que restava dentro de mim desmoronou-se.
Durante dois dias, voguei à deriva entre pesadelos, sonhos e realidade, sem saber onde me encontrava. Algures, entre imagens desfocadas e vozes indistintas, vi o senhor Moosavi sentado na minha cama. Toquei-lhe no ombro e ele ergueu os olhos para mim. No quarto havia manchas de luz.
- Isto é demasiado para todos nós - disse ele, a chorar. - Mas temos de nos conformar com a vontade de Deus.
Desejei conseguir compreender a vontade de Deus, mas não fui capaz.
O senhor Moosavi continuou a falar, mas a sua voz foi-se tornando cada vez mais ténue até se desvanecer por completo. Sonhei que André e eu íamos a passear na praia, de mãos dadas. Taraneh estava lá e também Sarah, Gita e Arash. Um momento mais tarde, encontrava-me à porta da casa de férias dos meus pais, a olhar para o caminho de acesso. Ali afastava-se de mim e acenava-me com a mão a despedir-se. A gritar o seu nome, corri que nem louca para o alcançar, mas ele havia desaparecido.
Acordei com qualquer coisa fria na testa. Akram estava junto da minha cama e fora a sua mão fria que eu sentira. Tinha círculos escuros à volta dos olhos e chorava baixinho. Não me conseguia lembrar onde me encontrava. Ela recordou-me que estava num hospital. Perguntei-lhe se era verdade que Ali estava morto e ela disse que sim. A soluçar, meteu-se na cama ao meu lado e pôs-me o braço à volta do ombro.
Quando, finalmente, fiquei suficientemente lúcida, o senhor Moosavi disse-me que iria fazer o que fosse necessário para a minha libertação, mas tinham-lhe dito que, de momento, eu tinha de regressar a Evin. Também disse que Ali fizera um testamento uns dias antes de morrer e que me deixava tudo o que tinha. Respondi-lhe que não me parecia justo ficar com o que quer que pertencesse a Ali.
- Não queres contar à tua família que te casaste, pois não? - perguntou ele.
Não respondi.
- Fizeste o meu filho muito feliz. Mereces recomeçar uma nova vida.
Sentou-se numa cadeira ao lado da minha cama, com um rosário de contas de âmbar na mão, que eu reconheci, como sendo de Ali. Perguntei-lhe como estava Fatemeh Khanoom a aguentar-se e ele respondeu que ela se tinha mostrado muito forte.
- Como está Akram? - perguntei.
- Veio ver-te há uns dias e tentou falar contigo, mas tu não estavas bem.
- Sim, ela esteve aqui - recordei-me.
- Já teve o bebé, um rapazinho - disse o senhor Moosavi com um ligeiro sorriso orgulhoso.
- Quando?
- Entrou em trabalho de parto depois de lhe termos contado o que se passou com o Ali.
Akram encontrava-se no mesmo hospital em que eu estava. Tinha perdido muito sangue, embora isto já estivesse sob controlo, e o bebé tivera um pouco de icterícia, mas agora estava melhor.
Antes de me reconduzir a Evin, o senhor Moosavi levou-me a ver Akram e o bebé, a quem ela dera o nome de Ali. A caminho do quarto de Akram, passámos por uma grande janela por trás da qual cerca de trinta bebés, em pequenos berços, dormiam ou choravam. O senhor Moosavi apontou para um bebé minúsculo, com uma carinha vermelha e enrugada, que gritava muito zangado. Era o pequeno Ali. Pedi para lhe pegar, e a enfermeira trouxe-mo. Parou de chorar mal lhe peguei ao colo e comecei a embalá-lo e pôs-se a chupar o meu manteau; estava com fome. Incapaz de suster as lágrimas, levei-o a Akram e ela pô-lo ao peito.
O meu bebé tinha morrido. Se estivesse vivo, eu tê-lo-ia amado. Mas nunca iria amamentá-lo, mudar-lhe as fraldas, brincar com ele nem vê-lo crescer.
Quando entrei no escritório do 256 e tirei a venda, uma guarda a quem nunca vira olhou para mim. Tinha quarenta e tal anos e um sorriso zombeteiro.
- A famosa Marina, ou deverei dizer Fatemeh Moradi-Bakht? Finalmente conhecemo-nos. Lembra-te de uma coisa: agora quem manda aqui sou eu, e a partir deste momento não vais receber nenhum tratamento especial. És como todos os outros. Entendido?
Fiz que sim com a cabeça.
- Onde está a Irmã Maryam?
- As Irmãs dos Guardas da Revolução em Evin foram substituídas. Sou a Irmã Zenab, membro dos Comités Islâmicos, e sou a responsável por isto. Mais alguma pergunta?
- Não.
- Vai para o teu quarto.
O mundo tinha a sua maneira de provar que eu estava enganada. As coisas ainda podiam ficar piores. Mas sentia-me demasiado cansada para verter mais uma lágrima que fosse. Na camarata 6, toda a gente se reuniu à minha volta. A voz de Bahar ergueu-se acima de todas as outras.
- Deixem-na respirar, meninas. Marina, estás bem?
Olhei-a nos olhos e todas as vozes se calaram.
Quando recuperei os sentidos, estava deitada no chão a um canto, com uma manta a tapar-me, e Bahar encontrava-se sentada ao meu lado, a ler o Corão.
- Bahar.
Ela sorriu.
- Pensei que estavas em coma, ou uma coisa assim. Onde tens estado?
Contei-lhe que Ali tinha sido assassinado. Ela ficou surpreendida e comentou:
- Ele teve o que merecia.
- Não, Bahar. Ele não merecia isto.
- Não o odiavas pelo que te fez?
Porque me perguntava toda a gente o mesmo?
- Ele não era má pessoa. Tinha um lado bom. Era uma pessoa triste e solitária, e queria mudar, ajudar os outros, mas não sabia exactamente como, ou talvez soubesse mas não podia, porque as pessoas como o Hamehd não o deixavam.
- O que estás a dizer não faz sentido. Ele violou-te inúmeras vezes.
- Casei com ele.
- Quiseste casar com ele?
- Não.
- Ele obrigou-te.
- Pois foi.
- A violação legal continua a ser violação.
- Nada faz sentido, Bahar. Tenho a sensação de que sou a culpada de tudo.
- Não tens culpa de nada.
Perguntei-lhe por Ehsan, o filho, e ela respondeu-me que estava a dormir. Não tinha notícias do marido.
Duas semanas mais tarde, ouvi chamar o meu nome pelo altifalante. O senhor Moosavi estava à minha espera no escritório. A Irmã Zeinab pediu-lhe para assinar um papel que dizia que eu tinha de estar de volta antes das dez da noite.
- Vou levar-te a jantar a minha casa - disse ele, mal saímos do escritório. - Estas novas Irmãs não são muito simpáticas.
- Pois não, não são mesmo nada.
Enquanto nos dirigíamos ao carro, o senhor Moosavi caminhava com um ar distraído.
Quando transpusemos os portões, ele perguntou-me se me sentia melhor e eu respondi que sim. Ele disse que a família também se estava a recompor; Deus tinha-lhes dado forças e o bebé de Akram mantinha-os ocupados. Em seguida, deu um suspiro profundo e disse que, segundo informações que recebera, o assassinato de Ali tinha sido um trabalho interno. Custou-me a acreditar.
- O Hamehd? - perguntei.
- Sim, é um deles, mas não é possível prová-lo.
Contei-lhe que Ali me dissera que estava a ter problemas com Assa-dollah-eh-Ladjevardi, e o senhor Moosavi respondeu que estava convencido de que havia sido Ladjevardi a ordenar o assassinato.
- Há alguma coisa que possa fazer para os responsáveis terem de responder perante a justiça? - perguntei.
- Não, como te disse, não é possível provar nada. As testemunhas nunca se disporão a depor.
O senhor Moosavi perdera o seu único filho, e os assassinos, que eram colegas de Ali, iam escapar. Para ele isso era terrivelmente doloroso. Pareceu-me tristemente irónico Ali ter morrido quase da mesma maneira que os rapazes e raparigas executados em Evin: membros dos mesmos pelotões de execução que tinham matado Gita, Taraneh e Sirus haviam puxado o gatilho que pusera termo à sua vida.
- Há mais uma coisa que precisas de saber, Marina - disse o senhor Moosavi. - Tenho estado a tentar libertar-te, mas não tem sido possível.
- Porquê?
- Porque radicais, como Ladjevardi, que têm uma grande influência em Evin, dizem que tu não deves ser autorizada a retomar o teu antigo estilo de vida, pois, segundo eles, isso iria afectar a tua fé no Islão. Dizem que és a esposa de um mártir, que o teu marido foi assassinado pelos Mojahedin e que deves ser protegida contra os infiéis e casar com um bom muçulmano o mais depressa possível.
Não podia acreditar no que ouvia.
- Preferia morrer - respondi.
Ele abanou a cabeça
- Não há necessidade de ir tão longe, Marina. Prometi ao meu filho que te levaria para casa e assim farei. Tenho de ir ver o Imã. Estou certo de que conseguirei convencê-lo a dar ordem para a tua libertação. Algumas pessoas irão ficar irritadas e farão o possível por arranjar complicações, pelo que isto pode demorar mais tempo do que esperava, mas levaremos a nossa avante. Tens de ser forte. Posso não conseguir que os assassinos de Ali respondam perante a justiça, mas heide proteger-te, pois isso era o que o meu filho havia de querer que eu fizesse.
- Importa-se de me levar à sepultura de Ali? - pedi-lhe.
Prometeu-me que o faria.
- Amavas o meu filho, Marina? - perguntou-me ele de súbito.
Fiquei surpreendida ao ouvir aquela pergunta, pois nunca esperara que ele fosse tão aberto comigo.
- Pouco tempo antes de morrer ele perguntou-me se eu o odiava e respondi-lhe que não. Não, não posso dizer que o amava, mas gostava dele.
Nunca estivera em casa dos pais de Ali sem ele. De minuto a minuto, tinha uma forte sensação de que o iria ver entrar na sala.
Depois do jantar, a mãe de Ali disse que queria falar comigo em privado e fomos para o antigo quarto de Akram. Ela fechou a porta, sentou-se na cama e fez-me sinal para me sentar ao seu lado. Contou-me que o senhor Moosavi estava a fazer o possível para me mandar para casa dos meus pais e eu disse-lhe que já sabia isso.
- Sei que ele te contou, mas queria ser eu própria a dizer-te. O último desejo de Ali foi que tu voltasses para casa e isso significa muito para nós.
Disse ainda que nunca esperara que Ali sobrevivesse quando foi detido pela SAVAK e levado para Evin antes da revolução. Sabia que era uma honra ser mãe de um mártir, mas ficara aterrorizada, pois não queria perder o filho. Quando ele partiu para a frente, tinha ficado outra vez com medo, e sentira-se aliviada com o seu regresso, por acreditar que ele estaria a salvo em Teerão.
- Mas olha o que aconteceu - disse por entre soluços. - As pessoas com quem trabalhava e que deviam protegê-lo apunhalaram-no pelas costas. Aqueles em quem confiava. E não podemos fazer nada. Ali sobreviveu ao Xá e à guerra para ser morto assim. Tudo o que podemos fazer é cumprir a sua última vontade. E vamos fazê-lo, garanto-te. Sabemos muito bem que é a ti que a Akram deve o bebé dela. O Ali pequenino é o nosso milagre. É a nossa esperança.
Ouvimos umas pancadas na porta e Akram entrou com o bebé nos braços. Tinha crescido desde que eu o vira no hospital. Era lindo, com umas faces rosadas e rechonchudas e grandes olhos escuros. Peguei-lhe e pensei no meu bebé. Senti-me grata por ter tido oportunidade de pegar no meu filho, ainda que apenas num sonho.
Uns dias mais tarde, o senhor Moosavi levou-me ao cemitério de Behesht-eh Zahra, onde Ali fora sepultado, e que fica situado ao sul de Teerão, à saída da estrada para Quom, uma cidade famosa pelas suas escolas religiosas islâmicas. Akram tinha ido connosco. Sentou-se ao meu lado no banco de trás e, durante as duas horas de viagem, fomos de mãos dadas em silêncio. A estrada era uma linha escura e nítida a cortar o deserto ao meio. Tinha chovido na véspera à noite, mas agora o céu estava a ficar desanuviado. Encostei a cabeça às costas do assento e deixei-me percorrer pelas vagas de sombra e luz. Já tinha perdido amigos e pessoas que amava, mas Ali nada tinha a ver com eles. Não se assemelhava a ninguém que eu tivesse conhecido. Não podia modificar o que ele me tinha feito ou o que acontecera entre nós. Morreu quando começava a afastar-se da pessoa que havia sido. Tantos inocentes tinham perdido a vida por trás das paredes de Evin e estavam sepultados em campas sem nada a assinalá-las e Ali era responsável pelas coisas terríveis que tinham acontecido naquele lugar. Mas a verdade é que morrera injustamente. Os radicais responsáveis pela sua morte tinham-no assassinado por ele se ter convertido numa ameaça para eles, por ter tentado tornar as coisas melhores e se ter esforçado por se libertar.
No cemitério, a minha mente recusou fixar-se. O mundo havia-se tornado uma amálgama de imagens sem relação entre si. Recuperei plena consciência quando Akram me disse que tínhamos entrado em Golzar-eh Shohadah, a parte de Behesht-eh Zahra dedicada aos mártires. Era quase meio-dia e, embora tivesse começado a soprar uma brisa fresca e suave, o sol quente fazia-me suar. Havia pequenas árvores aqui e ali mas, tanto quanto a vista alcançava, a terra estava coberta de pedras tumulares de mármore e de cimento colocadas horizontalmente em cima das campas. Em nosso redor viam-se pequenos escrínios de estanho e vidro em memória dos mortos. Na sua maioria, as pessoas ali sepultadas tinham sido mortas na guerra e quase todas elas eram muito jovens quando faleceram.
Finalmente, o senhor Moosavi e Akram pararam. Tínhamos chegado ao túmulo de Ali. O pai ajoelhou-se e poisou as mãos no mármore branco. Os seus ombros começaram a tremer e as lágrimas caíram sobre a superfície luzidia da pedra, depositando-se nas letras gravadas que diziam:
Seyed Ai-eh Moosavi
Bravo Soldado do Islão
21 de Abril de 1954 - 26 de Setembro de 1983
Akram pôs as mãos nos ombros do pai e cobriu o rosto com o chador.
No interior do escrínio que se encontrava na cabeceira da campa havia três fotografias de Ali. Na primeira, tinha oito ou nove anos e estava de pé, a sorrir, com o pé direito apoiado numa bola de futebol e as mãos nas ancas. Na segunda, tinha cerca de dezasseis anos, uma barba rala e um ar muito sério. Na terceira, estava como eu o havia conhecido: um homem de cabelo escuro, com uma barba espessa e aparada, um nariz bastante grande e olhos escuros, tristes e com uma expressão intensa. Havia uma cercadura de rosas artificiais à volta das fotografias e de cada lado do escrínio via-se um vaso com gerânios. As lágrimas cegaram-me. Sentei-me no chão coberto de gravilha ao lado do túmulo e rezei dezenas de ave-marias por ele, pelo meu marido, um muçulmano sepultado em Golzar-eh Sho-hadah, que significa jardim florido dos mártires. Queria conceder-lhe o meu perdão, mas sabia que este não surge de repente e todo pronto, muito bem embalado e atado com uma fita vermelha, mas que aparece pouco a pouco. E o facto de o perdoar não apagaria o sofrimento que ele me causara; esse sofrimento iria permanecer comigo enquanto eu vivesse, iria ajudar-me a superar o passado e a enfrentar tudo o que tinha acontecido. Tinha de o deixar partir para me poder libertar a mim mesma.
Uns túmulos à nossa direita, uma mulher de idade, pequenina e corcunda, esfregava uma pedra tumular de mármore com uma esponja amarela a pingar água com sabão. Depois, despejou uma garrafa com água limpa por cima da pedra e enxugou-a com um pano branco. Quando a pedra ficou impecável, passou à campa seguinte e seguiu o mesmo ritual. Um homem idoso e magro, de camisa branca e calças pretas, sentado na terra entre as duas campas, contemplava a mulher enquanto cantarolava qualquer coisa, movendo as contas de rezar entre os dedos.
Nunca ninguém iria lavar as lápides de Taraneh, de Sirus ou de Gita nem fazer-lhes escrínios de metal no cemitério, onde amigos, família e desconhecidos pudessem parar, evocá-los e oferecer-lhes uma oração. Mas eu recordava-os e agora, que tinha sobrevivido, precisava de encontrar uma maneira de manter viva a sua recordação. A minha vida pertencia mais a eles do que a mim própria.
Pus-me de pé, abri a janela de vidro do escrínio de Ali, tirei o meu rosário do bolso e deixei-lho na sepultura.
- O que é isso? - perguntou Akram, olhando para o rosário.
- As minhas contas de rezar.
- São lindas. Nunca vi nenhumas iguais.
- São para orar à Virgem.
Quando nos dirigíamos ao carro, olhei para as lápides que a velhota tinha lavado com tanto cuidado. Ela e o velho tinham-se ido embora. Uma das sepulturas pertencia a Reza Ahmadi e a outra a Hassan-eh Ahmadi. Tinham nascido no mesmo dia e morrido no mesmo dia; eram gémeos que tinham sido mortos juntos na frente.
Apercebi-me de como me habituara à morte. E, no meu mundo, isso acontecia mais aos velhos do que aos jovens.
Depois de deixar Akram em casa, o senhor Moosavi levou-me de regresso a Evin e disse-me que faria o que pudesse para eu voltar a casa tão depressa quanto possível.
No final de Outubro, durante uma visita, Sheida enviou Kaveh para casa dos pais. Ele tinha cerca de dezanove meses, e era um bebé enérgico e meigo que nos proporcionara a todas muita alegria. Não sabia pronunciar o meu nome e chamava-me tia Manah. Quando Sheida voltou da visita sem ele, parecia ter perdido a alma. Sentou-se a um canto a embalar-se a si mesma para trás e para a frente, até que finalmente adormeceu.
Uns dias mais tarde, entreguei todos os bens de Taraneh, que ela me pedira para fazer chegar aos pais, a uma amiga chegada, cuja sentença de dezoito meses estava prestes a chegar ao fim. Eu começava a perder a esperança de algum dia voltar para casa.
No dia de Natal de 1983 nevou. De manhã cedo, através da janela com grades da nossa camarata, fiquei a ver os flocos leves como plumas deslizarem ao sabor do vento. Dentro em pouco, as cordas da roupa e todas as peças de vestuário penduradas nelas estavam brancas e geladas. Quando chegou a nossa vez de usarmos o pátio, a maioria das raparigas voltou imediatamente para dentro depois de recolher a roupa por estar demasiado frio. Os nossos chinelos de borracha não proporcionavam grande protecção contra os elementos. Ofereci-me como voluntária para levar para dentro a roupa de Bahar e de Sarah. Esrava mais frio do que havia pensado, mas dava-me prazer sentir os flocos de neve no rosto. Não havia ninguém no exterior. Tirei as peúgas e os chinelos e fiquei de pé, tão imóvel quanto possível. As curvas brancas do Inverno absorveram-me, cobrindo-me e enchendo os pequenos interstícios entre os meus dedos dos pés. Dia de Natal. O dia em que Cristo nascera. Um dia de alegria e de celebração, de cânticos natalícios, de grandes repastos e de embrulhos de prendas que se abriam. Como podia o mundo continuar como se nada tivesse acontecido, como se tantas vidas perdidas nunca tivessem existido?
Daí a algum tempo, os pés começaram a doer-me e depois ficaram insensíveis. Vi-me a mim mesma na noite da execução, quando devia ter perdido a vida, de pé no meio da escuridão, à espera da morte. Evin afas-tara-me de casa, da pessoa que eu fora; conduzira-me até um reino para além do medo; mostrara-me mais sofrimento do que qualquer ser humano alguma vez deveria suportar. Anteriormente já havia sofrido perdas e desgostos. Mas aqui a dor tornava-se um manto de escuridão interminável e violento que mantinha as suas vítimas num perpétuo estado de sufocação. Como podia uma pessoa viver depois disso?
Tinha de parar de pensar. Esses pensamentos não me levariam a nada que não fosse o desespero. Tinha de acreditar que um dia iria regressar a casa.
Três meses mais tarde, na manhã de 26 de Março de 1984, ouvi o estalido do altifalante e uma voz a chamar o meu nome.
- Marina Moradi-Bakht, vem ao escritório.
Aquilo podia significar tudo e mais alguma coisa. Podiam deixar-me partir ou pôr-me diante de um pelotão de fuzilamento; ou então o senhor Moosavi podia ter ido visitar-me.
- Vais para casa, Marina, eu sei - disse Bahar.
- Aqui não se pode prever nada.
- A Bahar tem razão, Marina. É isso - disse Sheida.
Sarah abraçou-me, a rir, com as lágrimas a correr-lhe pelo rosto.
- Fala com a minha mãe, Marina. Diz-lhe que estou bem. Diz-lhe que um dia vou voltar para casa.
- Vai, Marina! Corre! - gritaram as raparigas, empurrando-me pelo corredor fora.
Transpus a porta com grades e, antes de subir a escada que conduzia ao escritório, olhei para trás e vi as mãos das minhas amigas estendidas entre as grades, a acenarem adeus. Respondi a esse aceno. Mal entrei no escritório, a Irmã Zeinab chamou a responsável pela camarata 6 pelo altifalante e disse-lhe para me levar os meus pertences.
- Ganhaste - disse a Irmã Zeinab. - Nunca pensei que te deixassem voltar para casa tão cedo.
- Perdi muitos amigos, perdi o meu marido e perdi o meu bebé. Acha que ganhei?
Ela baixou os olhos.
Ia voltar para casa. Finalmente, ia regressar a casa.
Os pais de Ali, Akram e o bebé estavam à minha espera numa pequena sala junto dos portões. O senhor Moosavi sorriu-me.
- Não cumpri a promessa que te fiz? - perguntou.
- Sim, cumpriu. Como conseguiu isto?
- Falei com o Imã. O Ladjevardi tinha falado mal de ti, mas acabei por convencer o Imã de que a coisa certa a fazer era deixar-te partir. - Fez uma pausa. - Vais ficar com uma boa recordação de mim?
- Vou, sim. E o senhor? Com que recordação vai ficar de mim?
- Vou recordar-te como uma filha forte e corajosa - respondeu, enxugando as lágrimas. Pediu-me para lhe telefonar se alguma coisa corresse mal. Disse-me que iria guardar no banco, durante um ano, todo o dinheiro que Ali lhe deixara para mim, para o caso de eu mudar de ideias e decidir que afinal o queria. Tentara tornar as coisas mais fáceis para mim, mas explicou-me que eu não tinha autorização para sair do país durante alguns anos; era essa a norma para as pessoas que saíam de Evin.
Contei ao senhor Moosavi que Ali prometera ajudar Sarah. Pedi-lhe para intervir junto de Mohammad no sentido de olhar por ela e ele prometeu que o faria.
- Só tenho um conselho a dar-te - disse o senhor Moosavi. - Não vás visitar as famílias de todas as tuas amigas da prisão. Talvez não faça mal visitares uma ou duas, mas não mais. O Hamehd vai estar de olho em ti e, se lhe dás o mais ligeiro pretexto para te voltar a prender, fá-lo-á. E se isso acontecer, não vou poder ajudar-te. Fica em casa. Não chames a atenção.
- Vou ficar em casa.
O senhor Moosavi ofereceu-se para me levar ao Luna Park, onde a minha família estaria à minha espera, mas agradeci-lhe a gentileza e disse que preferia ir a pé. Precisava de ar puro e de algum tempo para me preparar para enfrentar os meus pais.
O Luna Park, situado a cerca de dois quilómetros a sul de Evin, era um parque de diversões. O governo tinha-se apossado de uma parte para usar como terminal dos autocarros que transportavam os visitantes da prisão. Quando um recluso era libertado, a família tinha de o esperar no parque.
Saí do carro. Saber que podia ir a pé até casa era uma sensação estranhíssima. Ainda não me atrevia a ser feliz. Uma rajada de vento pesado de gotas frias de chuva fustigou-me. Aconcheguei-me no chador preto e desci com cuidado os degraus que conduziam à rua estreita e sossegada. Em seguida, fiz uma pausa, ergui os olhos e fiquei a ver as nuvens deslocarem-se arrastadas pelo vento forte; durante um instante, avistei uma pequena mancha de céu azul-claro, deslumbrante. Embora de uma tonalidade desmaiada, mesmo assim era vibrante e linda, em contraste com os diferentes matizes de cinzento. Os meus olhos seguiram a estrada e um carro branco dobrou a esquina. O condutor, um homem de meia-idade, abrandou e fitou-me, mas seguiu caminho. As minhas peúgas estavam encharcadas dentro dos chinelos de borracha, e tinha os pés gelados.
Interpelei um guarda armado que observava a estrada do alto de uma torre de vigia:
- Irmão, qual é o caminho para o Luna Park?
Ele apontou para a estrada. Havia poças de água por todo o lado. Uma pequena ondulação alastrava pela superfície, fazendo os reflexos estremecer, misturar-se, desvanecer-se. Não havia muitos peões mas, de quando em quando, alguém passava com passos rápidos e firmes. Um guarda-chuva preto dançou no ar, afastando-se de mim com determinação. A uma esquina, um velhote magro, envergando um fato esfarrapado, estava postado em frente de um muro de argila a desmoronar-se. Tinha as mãos ossudas abertas à frente da cara, como se estivesse a rezar.
O que iria dizer aos meus pais? Que durante os últimos dois anos havia sido torturada, que quase tinha morrido, que tinha casado e enviuvado e que perdera um filho? Como poderia pôr tudo isso em palavras? E André... Ainda me amaria, apesar do fosso aberto no tempo que nos separava?
Reparei numa rapariga que caminhava à minha frente, não muito distante. Levava um grande saco de plástico semelhante ao meu e os seus chinelos de borracha eram pelo menos três números acima do que deveria usar. Após uns quantos passos, parava e olhava de relance para as montanhas atrás de nós. Não parecia dar pela minha presença. Quando chegou à estrada principal, de onde se avistava o Luna Park, embora o semáforo estivesse verde para os peões, não atravessou. Parei uns passos atrás dela. Permaneceu junto da passagem de peões a ver o semáforo mudar do verde para o vermelho e voltar ao verde. Os carros desfilavam a toda a velocidade, paravam e voltavam a arrancar.
- Porque não atravessas a estrada? - perguntei.
Sobressaltada, ela virou-se e fitou-me através da chuva.
- Também saí de Evin e estou de regresso a casa - disse-lhe com um sorriso. - Podemos atravessar juntas.
Ela esboçou um sorriso hesitante. De mãos dadas, atravessámos a estrada. A mão dela ainda estava mais fria do que a minha.
Mal chegámos aos portões do Luna Park, um guarda revolucionário deteve-nos, ao mesmo tempo que praguejava contra a chuva fria. Perguntou-nos o nome, tirou do bolso um papel molhado, verificou-o e dei-xou-nos passar. Olhámos em redor. À excepção de umas grandes cabinas ao fundo, o local parecia um parque de estacionamento vazio com guardas revolucionários a protegê-lo. Não avistei nenhum rosto familiar, mas a minha nova amiga correu em direcção a um homem e uma mulher que tinham acabado de chegar e estavam ambos a chorar. Uns minutos mais tarde, vi os meus pais. Corri e abracei-os, sem conseguir desprender-me deles. Enquanto nos dirigíamos ao carro, a minha mãe debatia-se com o guarda-chuva, que se recusava a abrir.
- Mãe, que está a fazer?
- Este estúpido guarda-chuva emperrou.
- Estamos quase no carro.
- Estás encharcada. Não quero que apanhes uma constipação.
Queria proteger-me da chuva. Durante os últimos dois anos, não tinha podido fazer nada para me ajudar. Sentira-se impotente, possivelmente ainda mais do que eu. Por fim o guarda-chuva abriu-se e, embora estivéssemos quase no carro, peguei-lhe.
A pingar, entrei no carro do meu pai e deparei-me com André ao volante. Virou-se e sorriu. A sua presença queria dizer que mantivera a promessa de aguardar o meu regresso e que ainda me amava. Finalmente, senti-me feliz. Era estranho que, antes da minha detenção, não soubéssemos ao certo se nos amávamos e só o termos descoberto depois de nos perdermos um ao outro.
A voz da minha mãe encheu o carro:
- Com um tempo destes porque não nos deixam ir até aos portões da prisão? Olha como tu estás! De certeza que vais ficar doente. Descalça as peúgas.
- Não se preocupe, Maman. Estou bem. A sério. Mudo-me mal cheguemos a casa.
- Fiz-te roupa nova. Está tudo pendurado no teu armário.
Enquanto eu estava na prisão, os meus pais tinham-se mudado para casa de uma velha amiga, uma mulher simpática chamada Zenia, que vivia sozinha numa grande casa com cinco divisões, construída num terreno desnivelado, num bairro fino da cidade. Essa decisão tinha sido boa para ambas as partes. Zenia deixara de estar sozinha e os meus pais já não tinham de pagar uma renda elevada por um pequeno espaço. O preço da habitação aumentara incrivelmente durante os anos que se sucederam à revolução e muitas famílias da classe média que não possuíam casa própria estavam a ter dificuldade em pagar a renda.
- Que tal a mudança? - perguntei à minha mãe.
- Óptima. Tivemos de vender umas coisas. A Zenia tem uma quantidade de móveis e não havia espaço para tudo. O André foi um anjo e ajudou-nos no dia da mudança. Por sorte tem uma carrinha. Não sei o que teríamos feito sem ele.
- Ainda tens a carrinha? - perguntei a André.
- Sim.
Fiquei surpreendida por ele ainda ter o mesmo carro, mas depois dei-me conta de que, embora o tempo que passara em Evin me parecesse uma eternidade, só tinham sido dois anos, dois meses e doze dias.
Na casa de Zenia, eu tinha um quarto com uma janela que abrangia quase uma parede inteira e que deitava para o jardim. As paredes e as cortinas eram cor-de-rosa, a minha cor preferida, e havia duas poltronas junto da janela. Quando passava os dedos sobre o tecido macio e aveludado que as cobria, imaginava-me sentada numa, a ler um romance ou um livro de poesia. Havia mesmo um pequeno toucador, embutido numa parede, e sobre ele, em molduras de Isfahan feitas à mão, viam-se duas fotografias minhas. Numa delas, tinha cerca de oito anos e estava encostada ao velho Oldsmobile azul cintilante do meu pai, com um vestido de Verão branco, a olhar fixamente para a câmara, com um sorriso hesitante e interrogador estampado no rosto. Alguma vez tinha sido assim tão jovem? Na outra, tinha treze anos e estava montada na minha bicicleta em frente da casa de férias da minha tia, com uma T-shirt azul e uns calções brancos, impaciente por ir para a praia encontrar-me com Arash. Tinha sido o meu irmão a tirar ambas as fotografias.
A um canto via-se um sofá-cama forrado com um tecido de tweedcastanho, em vez da minha antiga cama. Tudo parecia real. Porque me sentia como se estivesse a sonhar? De certo modo, a minha vida real ainda existia em Evin e este outro mundo onde tinha entrado, este lugar a que tinha chamado o meu mundo e para onde tinha ansiado voltar, era intangível e alheio. Isto é real. Estou em casa. Estou de regresso. Acabou-se. O pesadelo chegou ao fim. É bom termos mudado de casa. Isto é um novo começo. Tenho de esquecer o passado.
Tirei a roupa dobrada do saco de plástico que trouxera de Evin. Pensei em atirar para o lixo tudo o que ele continha, mas sabia que não era capaz. O lenço branco que usara no dia do casamento estava no cimo da pilha e, enrolada nele, a minha aliança. Com um suspiro, desembrulhei o lenço de seda e abri cada uma das suas dobras. Vi Ali nos meus braços, a respirar a custo. Tomada pelo desejo de que o mundo fosse um lugar diferente, onde as pessoas fossem boas ou más, voltei a envolver o anel e escondi-o num canto escuro do roupeiro. Em seguida, dirigi-me à janela. Tinha parado de chover e a luz do sol rompia as nuvens em fitas douradas rendilhadas. O quintal era muito recatado, rodeado por muros altos de tijolo. Muitas roseiras nuas rodeavam a piscina vazia. Ouvi alguém bater de mansinho à porta do quarto.
- Entre - disse, sem tirar os olhos do jardim tranquilo.
André entrou, ficou atrás de mim e pôs-me os braços nos ombros. Senti o perfume da sua água-decolónia e o calor do seu corpo.
- Estava pronto para te ver voltar para casa com um bebé nos braços, e ter-te-ia amado da mesma maneira - disse ele. - Nada se teria modificado para mim.
Não esbocei um movimento. Não era possível ele saber do bebé, mas tinha dito o que eu mais precisava de ouvir. Calculei que ouvira dizer que as raparigas eram violadas na prisão. Fiz o possível por conter as lágrimas.
- Não estou grávida.
- Foste torturada?
- Fui. Queres saber porque me converti?
Queria que ele soubesse o que tinha acontecido, mas não sabia como lhe havia de contar.
- Para mim não é importante, mas sei que só o fizeste porque não tinhas alternativa. Não foi?
- Sim.
- Amo-te.
- Eu também te amo - disse, virando-me para ele. Era a primeira vez que dizíamos aquilo um ao outro.
Ele rodeou-me com os braços. Os seus lábios tocaram os meus e, por instantes, Evin converteu-se numa mera recordação, incapaz de me manter cativa.
Nessa noite, sentámo-nos todos à mesa de jantar. A minha mãe tinha feito carne de vaca estufada com aipo e arroz. De início, o silêncio que reinava na sala de jantar era apenas quebrado pelo som da prata contra a porcelana ou por um pequeno acesso de tosse.
- Graças a Deus que choveu hoje. Havia seca há tanto tempo! O relvado estava com mau aspecto, mas agora já está muito melhor. - Foi Zenia a quebrar o silêncio com a sua voz quente e musical. Tinha cerca de um metro e cinquenta e cinco de altura, pesava uns sessenta quilos e tinha o cabelo louro e curto e olhos escuros.
- Quanto mais chover agora, melhor será para as rosas - acrescentou Hooshang Khan, um amigo de família de Zenia, que estava a jantar connosco.
Sisi, um dos três gatos de Zenia, estava debaixo da mesa, a esfregar-se contra a minha perna. Estendi a mão, procurei-lhe a cabeça, acariciei-a e ela ronronou.
Durante a maior parte do tempo o meu pai não tirou os olhos da comida mas, de vez em quando, o seu olhar deslocava-se lentamente pela mesa e, por breves instantes, detinha-se em mim. Tentei decifrar a expressão do seu rosto, mas este mantinha-se tão inexpressivo como de costume. Estava com um ar arrasado quando me fora visitar, mas agora eu estava de regresso e as coisas tinham voltado à normalidade. Provavelmente era mais fácil para toda a gente fingir que a minha ida para a prisão nunca tinha acontecido. Mas seria aquele silêncio a sua maneira de me protegerem ou de se protegerem a si mesmos?
Na noite em que Ali fora assassinado, a mãe dele tinha feito carne de vaca estufada com aipo e arroz. Como podia falar à minha família de Ali, do meu casamento e da morte dele? Sentia-me uma estranha, uma hóspede com quem, no fundo, ninguém se preocupava, mas a quem tinham convidado movidos por um sentimento de obrigação. Uma vez terminada a visita, deveria dizer boa noite e ir para casa. Mas para que casa? Para a dos Moosavis, ou para Evin?
Nessa noite, sem conseguir dormir, fiquei a observar as sombras familiares na parede. Ali salvara-me duplamente na noite em que tinha morrido: uma vez quando me empurrara para baixo e depois, com as suas últimas palavras, quando pedira ao pai para me levar à minha família. Se não tivesse tido o apoio do senhor Moosavi teria passado o resto da vida em Evin ou, muito pior do que isso, como o senhor Moosavi me dissera, Hamehd ter-me-ia dado como esposa a um dos seus amigos e eu não teria podido fazer nada a não ser suicidar-me.
Quando regressou da frente, Ali dissera-me que se eu não casasse com ele, mandaria prender André e os meus pais. Nessa altura tinha acreditado nele, mas agora um murmúrio de suspeita alastrava dentro de mim. E se não tivesse passado apenas de uma ameaça? Se assim fosse, poderia ter recusado sem pôr ninguém em perigo. Que teria acontecido se tivesse recusado?
Agora, ali deitada na minha cama, em segurança, tinha-se tornado muito mais fácil ser corajosa.
No dia seguinte, passei revista à casa em busca da caixa dourada com a história da minha avó e dos meus livros, a maior parte dos quais haviam sido ofertas de Albert, o velho proprietário da livraria. Não os encontrei. Fui ter com a minha mãe, que estava sentada na sala de estar, a fumar um cigarro.
- Maman, não consigo encontrar os meus livros. Onde estão?
Ela abanou a cabeça e olhou-me como se aquela fosse a pergunta mais disparatada que jamais ouvira.
- Os teus livros. Ainda não aprendeste a lição, pois não? Os teus livros eram tão perigosos como uma bomba-relógio. Lembras-te de como ficaste aterrorizada quando te prenderam? Destruí todos os livros que os guardas não levaram. Demorei dias, mas livrei-me deles.
Não podia tê-los queimado, porque não tínhamos lareira nem quintal. Então, pouco a pouco, tinha-lhes rasgado as páginas, metera-as na máquina de lavar roupa e, aos poucos, fora misturando com o lixo a pasta daí resultante.
Deixei-me cair numa cadeira, a pensar nas belas palavras a transformarem-se numa feia pasta.
Livros lavados. A palavra escrita afogada, silenciada.
As Crónicas de Narnia, que Albert tinha assinado, eram aqueles cuja falta mais sentia.
- Havia uma caixinha dourada debaixo da minha cama. Que lhe aconteceu? - perguntei à minha mãe.
- Os escritos da tua avó. Pensa, Marina! Se os guardas voltassem à nossa casa e encontrassem esses papéis escritos em russo, que te parece que teriam pensado? Levaríamos anos a provar que não éramos comunistas.
Não censurei a minha mãe - ela tinha ficado assustada. Era este o resultado da revolução islâmica.
A dor era uma coisa estranha. Tinha várias formas e feitios, muitas variedades, e perguntei-me se alguém as teria identificado a todas e lhes teria dado nomes pomposos.
Pouco tempo depois fiz dezanove anos e a minha mãe convidou alguns amigos e parentes. Antes de os convidados chegarem, provei a roupa pendurada no meu roupeiro: preta, azul-escura e castanha, tudo de manga comprida e deprimente. Já não tinha oito anos. Queria um vestido sem mangas, deslumbrante; queria senti-lo deslizar pelo meu corpo quando o enfiasse, olhar-me ao espelho e descobrir a rapariga que fora em tempos. Queria usá-lo e entrar na minha vida no ponto em que a tinha deixado.
Fui ter com a minha mãe e disse-lhe que, embora a roupa que me tinha feito fosse muito bonita e eu a adorasse, queria qualquer coisa mais vistosa e animada para a festa do meu aniversário. Pedi-lhe para me emprestar um dos seus antigos vestidos de festa; ela tinha um cor-de-rosa, sem alças, que eu adorava. Sabia que provavelmente me estava um nadinha grande, mas podia arranjá-lo, pois em Evin aprendera a costurar. A minha mãe concordou. Depois de ter passado cerca de meia hora atrás da máquina de costura, o vestido ficou a assentar-me que nem uma luva. Enfiei os pés num par de sapatos de salto alto. Ia ao encontro da minha vida e exigir-lhe o que me era devido.
A sorrir, os convidados abraçaram-me, beijaram-me e disseram-me que estava com um aspecto magnífico. Fiquei feliz por vê-los a todos, mas havia uma distância tangível entre nós, entre a rapariga que desaparecera e aqueles que tinham levado uma vida normal. Em todas as conversas havia pausas desconfortáveis.
- Estás encantadora, Marina. Como tens passado? - perguntava-me alguém.
- Bem, obrigada - respondia eu.
Em seguida, esboçavam um sorriso forçado e tentavam ocultar o mal-estar que era tão visível como a cor dos seus olhos.
- Oh, aqueles bolinhos têm um ar delicioso. Foi a tua mãe que os fez?
A culpa não era deles. Toda a gente era delicada e gentil, mas não mais do que isso. Ninguém queria saber. Um dos sacerdotes, o padre Nicola, fora reunir-se a nós; tocava canções russas no acordeão e os meus pais acompanhavam-no a cantar. Era bom sentir-me rodeada pelos rostos familiares de amigos e parentes e pelas melodias que haviam sido o pano de fundo da minha infância. Ali tinha razão. O meu mundo tinha-se modificado, já não era o mesmo. A inocência confortável e segura, da minha infância havia desaparecido para sempre.
Depois do jantar, Siran, a minha madrinha, sentou-se ao meu lado. Era uma mulher sabedora e sempre me agradara conhecer os seus pontos de vista.
- Como estás? - perguntou-me.
- Como nova.
- Fico contente por não teres perdido a energia - comentou com uma gargalhada. Estava vestida com a elegância de sempre, com uma blusa creme e uma saia castanha bem cortada. - Tens de te orgulhar de ti. Quase todas as pessoas que são libertadas de Evin fecham-se num quarto e durante muito tempo não falam com ninguém. Herdaste essa força da tua avó.
Estavam a tocar uma valsa e as pessoas dançavam à nossa volta.
- Porque não há ninguém que me faça perguntas sobre os últimos dois anos?
- A resposta é muito simples. Temos medo de perguntar, porque temos medo de saber. Penso que se trata de qualquer tipo de defesa natural. Se não falarmos no assunto, se fingirmos que nunca aconteceu, talvez consigamos esquecê-lo.
Tinha esperado que o meu regresso a casa tornasse as coisas de novo simples, mas isso não acontecera. Odiava o silêncio que me rodeava. Queria sentir-me amada. Mas como podia o amor abrir caminho por entre o silêncio? O silêncio e a escuridão eram muito semelhantes: a escuridão era a ausência de luz e o silêncio era a ausência do som de vozes. Como podia uma pessoa navegar através de um tal esquecimento?
Depois do meu aniversário, decidi trabalhar a fim de tentar acabar o curso do liceu. Tinha de prosseguir com a minha vida. Podia estudar em casa e propor-me a exame. Embora André estivesse a terminar a licenciatura em engenharia electrotécnica, ia visitar-me todos os dias e ajudava-me com o cálculo e com a física. Falava-me das suas aulas, dos professores e dos amigos e às vezes levava-me a reuniões e a festas de aniversário em casa destes últimos. Estranhamente, esse foi o nosso período de “namoro”.
Nessa época, os guardas revolucionários tinham postos de controlo por toda a cidade. Costumavam fazer parar os carros a diferentes horas do dia, mas especialmente à noite, e procediam a buscas aleatórias. Era considerado crime um homem e uma mulher que não fosse parentes próximos ou que não fossem noivos ou estivessem para casar irem juntos no mesmo carro. Por isso, por uma questão de segurança, embora não falássemos de casamento, André pediu ao padre para nos dar uma carta a explicar que estávamos noivos, e andava sempre com ela no carro para o caso de nos mandarem parar e nos interrogarem.
Eu estudava cerca de dez horas por dia, quer no meu quarto, ou a andar de um lado para o outro, de livro na mão, à volta da piscina vazia. Talvez inconscientemente preenchesse o tempo com a matemática e as ciências, a fim de evitar falar no passado. O meu pai passava o dia inteiro no trabalho, seis dias por semana - ainda trabalhava como empregado de escritório para o tio Partef- e a minha mãe passava a maior parte do tempo nas filas das mercearias, na cozinha ou a tricotar, e eu mantinha-me longe dela.
Num dia de calor, estávamos sentados no jardim e André aproximou a cadeira da minha e pôs-me um braço à volta dos ombros. Os pardais esvoaçavam à nossa volta e rosas vermelhas, cor-de-rosa e brancas perfumavam o ar com a sua fragrância.
- Quando nos casamos? - perguntou.
Em Evin, Mohammad tinha-me avisado de que eu não tinha autorização para casar com um cristão. Segundo a lei islâmica, uma muçulmana não está autorizada a casar com um cristão, embora um muçulmano possa casar com uma cristã. O facto de eu me ter convertido ao Islão obrigada e em circunstâncias muito especiais era irrelevante perante o governo. Se confessasse que tinha renunciado ao Islão e regressado ao cristianismo, segundos os costumes islâmicos merecia morrer.
- Sabes que se casarmos e eles descobrirem, eu, e talvez tu também, somos condenados à morte - expliquei-lhe.
O vento fez virar as folhas do livro de matemática que se encontrava em cima da mesa.
- Recordas-te de quando nos conhecemos? Daquele dia na sacristia da igreja? Foi amor à primeira vista - disse ele. - A partir desse momento, percebi que eras a pessoa certa para mim. E senti que tinha de te proteger. E, quando te levaram, soube que voltavas. Fomos feitos um para o outro. Foi assim que quis que as coisas se passassem.
Toquei no seu cabelo loiro e macio e no seu rosto e beijei-o.
- Durante todos aqueles dias que passei em Evin, só queria voltar para junto de ti. Embora soubesse que era possível tal nunca vir a acontecer, não perdi a esperança.
Então, pela primeira vez, ele disse-me que a 19 de Março, uma semana antes de eu ser libertada, a minha família tinha recebido um telefonema de Evin de manhã cedo, a informar que me libertariam naquele dia. Ele e os meus pais dirigiram-se imediatamente à prisão e ficaram o dia inteiro à espera, mas mandaram-nos voltar para casa sem qualquer explicação. Fiquei chocada ao ouvir aquilo - porque não me tinha ninguém falado do assunto? Teria esse atraso sido mais uma vez o resultado da luta de poder entre Ladjevardi e o senhor Moosavi? Se assim era, não havia dúvida de que este tinha travado uma grande luta, que não teria tido hipótese de ganhar sem o apoio do Ayatollah Khomeini.
- Ficámos preocupadíssimos - disse André. - Não sabíamos por que motivo eles tinham mudado de opinião e os guardas não quiseram dizer-nos nada. Depois voltaram a telefonar no dia 26 de Março e corremos para a prisão. Quando chegámos aos portões, disseram-nos para irmos até ao Luna Park e ficarmos lá à tua espera. Deixei o carro num parque de estacionamento perto do Luna Park e os teus pais fizeram o resto do caminho a pé. Eu fiquei à espera no carro. Estava muito entusiasmado, mas sabia que nada era certo, por isso tentei não alimentar grandes esperanças. Uns minutos depois de os teus pais partirem, um homem de barba e vestido à civil apareceu ao pé do carro e disse-me: “Saiam aleikom.” Retribuí-lhe o cumprimento. Pensei que provavelmente me ia perguntar alguma direcção ou uma coisa assim. Mas ele inclinou-se para mim e disse: “Não te esqueças de que não podes casar com a Marina”. Perguntei-lhe quem era e como me conhecia e ele limitou-se a responder: “Estou a avisar-te: ela é muçulmana e tu és cristão, por isso não podem casar.”
Em seguida, virou-se e partiu.
Depois de falar com ele, André ficou perturbado e inquieto. Embora soubesse que, devido ao facto de ter ido à igreja encontrar-se comigo quando me deixaram sair de Evin, os guardas estavam ao corrente da nossa relação, só nesse momento se apercebeu de que as autoridades prisionais o tinham andado a vigiar. Depois, o seu medo converteu-se em cólera. Ninguém tinha nada a ver com quem ele queria casar. Amava-me e só isso é que importava.
- Compreendo a situação, Marina - disse ele. - Sei que casar contigo é perigoso. Mas é isso que quero fazer. Não podemos ceder. Não vamos fazer nada de mal. Estamos apaixonados e queremos casar. Até onde vamos deixar que eles nos dominem? Temos de ser firmes.
Ele tinha razão.
Suspeitei de que o homem da barba devia ser Mohammad. Sabia muito bem que aquele casamento podia ser a minha sentença de morte, mas, ironicamente, tinha de arriscar a vida a fim de a recuperar.
Falei aos meus pais da minha decisão de casar com André e eles pensaram que eu tinha perdido o juízo. Ainda que a maioria dos sacerdotes fosse de opinião que não devíamos casar, marcámos a data para 18 de Julho de 1985, dezasseis meses após a minha libertação de Evin. Amigos e família envidaram esforços reiterados no sentido de nos levarem a mudar de opinião. Como última tentativa, os meus pais pediram a Hooshang Khan para falar comigo. Tratava-se de um homem bondoso e culto e eles sabiam que eu o respeitava. Quando, uma noite, ele bateu à porta do meu quarto, eu estava sentada no sofá-cama a ler. Ele entrou, fechou a porta e sentou-se numa cadeira. Inclinou-se, apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou-me a direito.
- Não faças isso.
- O quê?
- Não cases com o André. Sei que vocês se amam, mas estamos a atravessar tempos difíceis. Podes vir a morrer por causa disto. Dá tempo ao tempo. As coisas podem mudar. Não vale a pena perderes a vida.
As suas palavras libertaram a cólera que eu reprimira dentro de mim.
- Não tem o direito de me dizer com quem posso ou não casar! Nem o senhor, nem os meus pais, e muito menos o governo! Farei o que bem entender! Farei o que é certo fazer! Basta de compromissos!
Nunca na minha vida levantara a voz assim. Nunca fora tão mal-educada para uma pessoa mais velha. Sabia que tinha procedido mal. Hooshang Khan empalideceu e saiu do meu quarto ao mesmo tempo que eu rompia num pranto. Não ia deixar o governo decidir a minha vida. Tinham-me aprisionado e torturado emocional e fisicamente. Fora forçada a converter-me ao Islão e a casar com um homem que não conhecia. Vira os meus amigos sofrer e morrer. O que agora importava era fazer a coisa certa, mostrar-lhes que, embora tivesse sido forçada a converter-me, iria casar com o homem que amava, ainda que isso me fizesse voltar para a prisão e pusesse a minha vida em risco. Desta vez não iria fazer compromissos. Eles não me tinham destruído e nunca haviam de conseguir fazê-lo.
No dia em que eu e André fomos comprar as alianças de casamento, tentei falar-lhe de Ali. Sabia que ele iria compreender. Percorremos a joalharia, a olhar para os expositores. Ele merecia saber e eu queria contar-lhe. Uma aliança de ouro que parecia dois anéis soldados atraiu-me a atenção e pedi para a ver. Agradou-nos a ambos. Quando voltámos para o carro, havia uma multa de estacionamento no pára-brisas. André disse que era a primeira que recebia, e rimos ambos.
No caminho de regresso a casa, pensei por onde iria começar. Tinha de começar pelo princípio, pelo momento em que entrara em Evin. Depois, tinha de lhe falar de cada segundo, de cada coisa isolada que tinha acontecido. Não, não era capaz de o fazer. Não podia voltar atrás e tornar a viver tudo aquilo.
Nesse Verão, os meus pais foram passar uns dias à casa de férias e eu e André acompanhámo-los. A casa estava tão linda e calma como eu a recordava, mas a alegria que estar ali sempre me proporcionara transformara-se numa simples recordação. Na primeira manhã, ainda cedo, quando toda a gente ainda dormia, corri até à Rocha da Oração. Tudo parecia igual. As antigas árvores roçavam o céu e os raios do sol nascente impregnavam as folhas. Fiquei com os sapatos e as calças molhados de orvalho. Deitei-me na rocha, senti a sua superfície áspera e húmida contra a pele e pensei no dia em que Arash e eu tínhamos rezado ali. Tantas coisas se haviam modificado desde então! Tirei do bolso a minha primeira aliança de casamento, ajoelhei-me junto à rocha e tentei extrair uma das suas pedras, mas esta nem se mexeu. Repeti a tentativa, mas todas as pedras estavam bem fixas. Doíam-me os dedos. Voltei a correr para casa. Não se ouvia um som, à excepção do meu pai a ressonar. Entrei em bicos de pés na cozinha, peguei numa faca e voltei a correr para junto da rocha. Desta vez, consegui retirar três pedras e pus o anel dentro da cavidade escura. Imaginei-o rodeado por milhares de orações.
Quando regressámos a Teerão, a minha mãe disse-me que, quando eu me tinha tornado muçulmana, o meu pai dissera que eu deixara de ser sua filha. Estava a lavar os pratos e nem sequer olhou para mim enquanto falava. Não fiquei surpreendida, mas senti-me magoada. Estava à espera de encontrar protecção em casa, mas as portas estavam fechadas para mim. A distância entre nós parecia aumentar. Ela enxugou as mãos e saiu da cozinha. Mesmo que lhe tivesse contado os meus segredos, a minha mãe não teria conseguido dar-me aquilo de que eu precisava, ou seja, a sua compreensão. Ela era como era. A sua perspectiva do mundo e do que realmente importava era completamente diferente da minha e não me atrevia a dizer que estava certa e ela errada. Éramos diferentes e tinha de deixar de esperar que ela pensasse como eu. Tinha de a aceitar como era, pois era isso que desejava que ela fizesse comigo. Não percebia por que motivo me tinha contado a reacção severa do meu pai em relação à minha conversão. Ele não me dissera uma palavra a esse respeito, mas suspeito que ela decidira que eu precisava de saber quais eram os seus verdadeiros sentimentos em relação ao assunto.
No dia do meu casamento com André, a minha mãe ajudou-me a maquilhar. Uma das minhas tias tinha-me feito o vestido. Quando o tirei do armário, não consegui suster as lágrimas. Era difícil acreditar que tudo aquilo era real. Pela janela do quarto contemplei as rosas cor-de-rosa no jardim e ofereci uma oração por cada um dos meus amigos que havia amado e perdido. Sentia a falta de todos eles.
Pus o vestido sobre uma cadeira ao pé da janela, pensei em Ali no dia do nosso casamento e em como me sentira aterrorizada. Mas este dia era diferente e pertencia-me.
Perguntei-me se André e eu alguma vez teríamos um filho. Aterrori-zava-me tornar a engravidar. Pensava com frequência no sonho e nos momentos que passara com o meu bebé. Os seus olhos sorridentes, as suas risadinhas, a mãozinha a agarrar-me o cabelo e a boca pequenina e esfomeada a sugar o meu leite.
André saíra de manhã cedo para comprar fruta e bebidas leves para levar para a igreja. Tínhamos dito aos convidados para ficarem depois da cerimónia e da missa a fim de comerem bolo e tomarem umas bebidas na sacristia. De modo a não atrair demasiado as atenções, decidimos que eu iria para a igreja mais cedo e ali colocaria o vestido de noiva.
Quando começaram a tocar a marcha nupcial, o meu pai conduziu-me pela nave da igreja repleta de pessoas e senti-me mais feliz do que alguma vez na vida. Sobre o altar viam-se grandes cestos de flores a transbordar de gladíolos brancos e estávamos rodeados por rostos sorridentes.
Tirámos fotografias dentro da igreja e no jardim por trás do edifício. Comemos bolo e conversámos com os convidados, e dentro em pouco, estava na hora de irmos para casa, para o pequeno apartamento que André alugara depois de o pai ter falecido e de a tia que o havia criado ter partido para a Hungria. Com vista para as montanhas Alborz, o apartamento ficava no norte de Teerão, num edifício alto nos montes da Jordânia, virado para a estrada da Jordânia. Mesmo antes de sair da igreja, pus o lenço e o manteau islâmico por cima do vestido de noiva e em seguida dirigimo-nos os dois para o Fiat azul-escuro de André. Estávamos ambos felizes e assustados, mas, como é natural, também cheios de esperança. Tínhamos decidido viver as nossas vidas.
Quase logo a seguir ao casamento, André arranjou trabalho na central eléctrica de Teerão e, uns meses mais tarde, alugámos um andar com os meus pais para partilharmos as despesas. A guerra Irão-Iraque, agora no seu quinto ano, tinha entrado numa escalada. Desde o início das hostilidades, em Setembro de 1980, a guerra praticamente não atingira Teerão, pois a distância que separava a cidade do Iraque tinha-nos protegido. Os nomes das ruas dos bairros residenciais eram agora os nomes dos jovens mortos na frente. Antes da minha estadia em Evin, este processo de mudança de nome fora lento e quase não se dava por ele. Mas depois da minha libertação, via que muitos nomes de ruas eram uma forma de recordar as vidas perdidas na guerra.
Pouco tempo antes de André e eu casarmos, Teerão e outras cidades importantes começaram a ser atingidas por ataques aéreos. Sem qualquer aviso, a primeira explosão teve lugar de manhã muito cedo - um míssil rebentou numa zona residencial a menos de três quilómetros da casa de Zenia. Estremecemos com o estrondo e eu acordei. Embora nesse momento não soubesse qual a causa daquele ruído, percebi que acontecera qualquer coisa horrível. Daí em diante, ouviam-se as sirenes de aviso contra raides aéreos umas quantas vezes por dia e em plena noite e, embora ninguém tivesse um abrigo anti-bombas propriamente dito e o governo nunca se tivesse preocupado em construí-los, as pessoas tentavam abrigar-se em locais seguros, que deviam ser longe de janelas. A cada míssil que caía, muitas pessoas ficavam feridas e magoadas devido aos vidros partidos.
A morte passara a fazer parte da vida quotidiana. Quem podia deixar a cidade e partir para pequenas vilas e aldeias fazia-o, mas a maioria das pessoas não tinha nenhum sítio para onde ir. Porém, como um rio que, ainda que tenha de abrir desfiladeiros, encontra sempre o caminho para um terreno mais baixo, a vida conseguia encontrar o caminho mais curto para a “normalidade”, lutando obstinadamente contra o medo. Os pais iam trabalhar e mandavam os filhos para a escola, mas abraçavam-nos durante mais tempo e despediam-se deles com mais paciência. Algumas escolas tinham sido arrasadas durante os ataques aéreos e centenas de crianças haviam perdido a vida enquanto estavam sentadas nas carteiras ou brincavam no pátio. Na frente de batalha, Saddam Hussein tinha começado a usar armas químicas como gás sarin e gás mostarda, fazendo milhares de vítimas. Quando André e eu atravessávamos a cidade para irmos à igreja ou a casa de um amigo, costumávamos ver uma grande brecha onde na véspera se erguia uma casa. As vezes, uma escada recusara ruir, indo juntar-se às ruínas da vida de uma família e, fantasmagórica, conduzia ao vazio por trás dela, ou então uma parede coberta de papel lançava a sua sombra sobre a poeira de vidas perdidas.
Numa quarta-feira de manhã, dois anos depois de eu ter sido libertada de Evin, o telefone tocou. Ia sair para fazer compras à mercearia e tinha a mala na mão.
- Posso falar com a Marina? - perguntou uma voz desconhecida.
- É a própria.
- Marina, estou a falar de Evin.
O mundo parou. Poisei a mala no chão e encostei-me à parede.
- Queríamos que viesse a Evin no sábado para responder a umas perguntas. Deve estar no portão principal às nove da manhã, e não se atrase.
- Que perguntas?
- Depois verá. Não se esqueça, às nove da manhã.
Fiquei paralisada. Nem sequer consegui poisar o auscultador. A minha vida depois de Evin não passava de um sonho. Estava na altura de acordar e de voltar à realidade. Pelo menos eles não tinham perguntado por André. Finalmente desliguei e dirigi-me ao nosso quarto. Não estava ninguém em casa, e tinha tempo de me recompor. Tentei pensar no que poderia acontecer. Tentei convencer-me de que não havia problema e de que estavam apenas a proceder a investigação de rotina a meu respeito. Mas não conseguia. Exausta, deitei-me na cama e adormeci. Acordei com a minha mãe a chamar-me, a tocar-me no ombro e a perguntar:
- Porque estás a dormir com o lenço e o manteau?
Durante um segundo, não consegui recordar-me. Depois contei-lhe.
- O quê?
Pela sua expressão, era como se não tivesse compreendido o que eu acabara de dizer.
Repeti tudo e ela empalideceu.
Para não pensar em Evin, a única coisa que podia fazer era dormir. Pensar não ia ajudar-me. Às vezes, quando acordava para ir à casa de banho ou para beber água, encontrava André sentado ao meu lado, com os olhos perdidos no vazio, o rosto branco e pálido e o corpo terrivelmente imóvel. Sabia que nada podia fazer, que tinha de me deixar partir. Não havia um som na casa. O silêncio havia-nos engolido como uma baleia.
No sábado de manhã, disse um breve adeus a André, sem o olhar nos olhos. Não queria abraçá-lo, pois sabia que não seria capaz de o largar. Tínhamos feito uma escolha e precisávamos de nos manter firmes. Afinal, eu estava ciente que aquilo podia acontecer. Uma vez que eu decidira que era demasiado perigoso ser André a levar-me, foi o meu pai a conduzir-me de carro até à entrada principal de Evin. Manteve-se todo o tempo muito calado. Disse-lhe para se ir embora imediatamente e fiquei a ver o carro dobrar a esquina e desaparecer. Perguntei-me se me iriam torturar. Mas porque haveriam de o fazer? Para eles, eu era uma muçulmana que se convertera ao cristianismo e casara com um cristão, pelo que merecia a morte. Não me queriam arrancar informações - o que eu fizera merecia a pena capital. “Morrerei com dignidade”, pensei, e só nesse momento me dei conta de que isso era verdade, desde que fizesse a coisa certa e na medida em que seguisse as minhas convicções. E não tinha dúvida de que, fosse o que fosse que tivesse acontecido a Taraneh, ela também morrera com dignidade.
Aconcheguei-me no chador, dirigi-me a um dos guardas postados em frente do portão e informei-o do telefonema. Ele perguntou-me o nome e entrou no edifício. Decorridos alguns minutos, regressou e disse-me para o seguir. As pesadas portas de metal fecharam-se atrás de mim. Entrámos para uma pequena sala, onde ele pegou num telefone e marcou um número.
- Ela está aqui. - Foi tudo o que disse.
Aquele podia ser o último dia da minha vida. Provavelmente, Hamehd estava a caminho para me receber. Prometi a mim mesma manter a cabeça erguida. A porta abriu-se e Mohammad entrou. Soltei um suspiro de alívio.
- Marina, é bom tornar a ver-te. Como tens passado?
- Muito bem, obrigada, e o senhor?
- Estou óptimo, graças a Deus. Vem comigo.
Segui-o. Ele não me disse para pôr uma venda. Havia flores plantadas por toda a parte, o que parecia completamente deslocado em Evin. Mohammad conduziu-me a uma sala de um edifício, mobilada com uma secretária e seis cadeiras. Um retrato de Khomeini enfeitava a parede.
- Senta-te, por favor. Diz-me o que tens andado a fazer desde que saíste daqui.
- Não tenho feito grande coisa. Passei a maior parte do tempo a estudar e acabei o curso do liceu.
- Isso é muito bom. Mais alguma coisa?
- Nada de especial.
Ele sorriu e abanou a cabeça.
- Estás outra vez metida num grande sarilho e creio que sabes do que estou a falar, mas tens a sorte de ter alguns amigos aqui. O Hamehd tinha planos para ti, mas conseguimos dissuadi-lo.
- A que se refere?
- Ele descobriu que tinhas casado pela segunda vez e tentou que o Tribunal da Revolução Islâmica te condenasse à morte. Mas tu sabias que isto podia acontecer, não sabias?
- Sabia.
- E mesmo assim fizeste-o?
- Sim.
- Chamas a isso bravura ou estupidez?
- Nem uma coisa nem outra. Fiz apenas o que considerei certo.
- Bem, desta vez tiveste sorte. Os radicais como o Hamehd têm estado a perder força em Evin. Penso que o assassinato de Ali levou as pessoas a aperceberem-se de que os extremistas tinham ido longe de mais. O Ali pediu-me que olhasse por ti se alguma coisa lhe acontecesse e, embora seja contra o que fizeste, cumpri a minha promessa. Mas não voltarei a fazê-lo. Chamei-te aqui para te avisar que reflictas um pouco antes de agires da próxima vez.
- Fico-lhe muito agradecida.
- Os Moosavi perguntaram por ti. Disse-lhes que vinhas cá hoje. Estão aqui para te ver.
A porta abriu-se, dando entrada à família de Ali. Fiquei contente por vê-los. O pequeno Ali tinha crescido. Era um bebé adorável, que me fitava com ar desconfiado. Akram abraçou-me. Sentámo-nos todos.
- Estou feliz por te ver, Marina. Está tudo bem contigo? - perguntou o senhor Moosavi.
- Sim, obrigada.
- Então, voltaste a casar. És feliz?
- Sou, sim.
- És muito obstinada. Podias ter arranjado um grande sarilho se nós não estivéssemos a olhar por ti.
- Eu sei e fico-lhe muito agradecida.
- Não toquei no teu dinheiro e, se o quiseres, é teu.
- Não, obrigado. Não me faz falta.
- Esta é a tua tia Marina, Ali. Vai dar-lhe um beijo - disse Akram ao rapazinho, que se aproximou de mim muito devagar.
- Anda cá, Ali - disse eu. - Já estás um homenzinho!
Ele aproximou-se, deu-me um beijo na face e voltou a correr para a mãe.
A senhora Moosavi chorava e eu abracei-a. A minha vida teria sido muito diferente se Ali não tivesse morrido. Nesse caso, eles teriam continuado a ser a minha família, como tinham sido durante quinze meses. Nunca desejei nenhum mal a Ali. Sentia-me culpada por não o amar e por não o odiar, mas tudo tinha acabado e eu nada podia fazer a esse respeito. Os meus sentimentos para com ele sempre tinham sido, e continuariam a ser, um misto de cólera, frustração, medo e incerteza.
Quando saí de Evin, segui a pé até à estrada e mandei parar um táxi. Não tinha morrido. Era como se a morte estivesse a tentar empurrar-me, para me proteger, e eu não conseguisse compreender por que razão o fazia. O mundo movia-se e cintilava diante dos meus olhos. Porque tinha sobrevivido quando tantas pessoas haviam morrido? Sarah não fora libertada e eu devia ter perguntado por ela ao senhor Moosavi, mas não conseguira pensar como devia ser. Perguntei-me se ele teria podido fazer alguma coisa por ela.
Em casa, quando abri a porta do jardim, caí nos braços de André, que me apertou com muita força, a tremer.
- Graças a Deus, graças a Deus! Estás bem? Não posso acreditar que te deixaram sair! Que aconteceu?
Disse-lhe que tinham feito uma verificação de rotina, como era costume fazerem para toda a gente que tinha estado em Evin.
- Perguntaram-te se tinhas casado?
- Não - menti, pois não queria preocupá-lo nem dar-lhe explicações. - Ou não sabem, ou sabem e não se importam.
- Isto significa que não vão voltar a incomodar-nos?
- Não sei, mas pelo menos durante algum tempo não devemos ter problemas. Mas não te esqueças que eles são imprevisíveis. É difícil dizer o que farão amanhã.
Sabia que, se os extremistas como Hamehd obtivessem mais poder e apoios em Evin, a minha situação se modificaria radicalmente.
Sentia-me aterrorizada com a guerra, não só devido aos ataques de mísseis, mas porque, dentro de poucos meses, André teria de partir para cumprir o serviço militar obrigatório. Foi então que ouvi falar de um programa especial do governo que permitia àqueles que tivessem um mestrado irem dar aulas em universidades de cidades distantes durante três anos em vez de cumprirem o serviço militar. Essa era a nossa única esperança de manter André afastado da frente - ele tinha acabado de obter o diploma do mestrado. Candidatou-se ao programa e foi aceite.
Tivemos de nos mudar para Zahedan, uma cidade localizada no sudeste do Irão, próxima das fronteiras do Paquistão e Afeganistão. André ia dar aulas nas universidades de Sistan e Baluchestan. Antes de começar a trabalhar, tinha de passar cerca de um mês em Zahedan a ocupar-se de burocracias e a fazer os preparativos necessários. Fomos juntos, pois eu nunca tinha estado nessa zona do país e sentia curiosidade por conhecer a minha futura casa.
O voo de Teerão para Zahedan levava cerca de hora e meia. Quando o avião começou a descer, olhei pela janela. Era como se a terra estivesse em repouso, coberta por um manto de areia. Reparei num pequeno ponto esverdeado, à distância, e vi-o crescer entre a serenidade do deserto infinito. Edifícios de argila e de tijolo brotavam da areia, estendendo-se em direcção à sombra preciosa das raras árvores.
O avião aterrou e apanhámos um táxi para ver a cidade. A luz do sol, sem ser filtrada pela poluição e pela humidade, era tão intensa que me pareceu estranha e hostil. A estrada que ligava o aeroporto à cidade era tão boa que me surpreendeu, cortando a paisagem plana como uma velha cicatriz. No centro de Zahedan, pequenas lojas ladeavam as ruas estreitas, e os passeios estavam pejados de homens e mulheres com trajes tradicionais - eles com calças largas e camisas compridas e elas com vestidos pelos tornozelos, bordados à mão, e lenços a cobrir a cabeça. Nunca vira um camelo de perto e ali, ao lado da estrada, lá estava um a ruminar qualquer coisa lenta e pachorrentamente, a observar o tráfego com os seus grandes olhos enfadados, que pareciam já ter visto tudo aquilo. Em zonas mais modernas e prósperas, havia grandes casas construídas com tijolos de boa qualidade, mas à medida que nos deslocávamos para norte, os edifícios iam-se tornando mais pequenos e, na sua maioria, eram feitos de tijolos de argila. No limite norte da cidade erguiam-se montes rochosos que pareciam ter buracos semelhantes a entradas de cavernas e o motorista do táxi disse-nos que as pessoas tinham escavado aquelas grutas para viverem nelas. Sob um sol escaldante, vi um grupo de rapazes descalços a rir e a correr atrás de uma bola de plástico rasgada. O motorista perguntou-nos qual o motivo da nossa visita e André explicou-lhe que ia dar aulas para a universidade.
- O Xá construiu a universidade aqui - disse o motorista -, e isso tem sido bom para nós. Agora pessoas instruídas vêm de Teerão e de outras grandes cidades para ensinarem aos nossos filhos e aos filhos dos que vêm para aqui de lugares distantes.
Em Março de 1987, André e eu metemos as nossas coisas no carro e demos início à viagem de mil e quinhentos quilómetros até Zahedan. Ao cabo de uma ou duas horas, o nosso pequeno Renault 5, amarelo, parecia estar sozinho no mundo. O vento quente, que entrava pelas janelas abertas, fustigava-me o rosto. Um mar de areia dançava sobre a estrada em ondas douradas e um pouco mais adiante, mais perto do horizonte, a terra desvanecia-se sob a miragem de um oceano prateado, a tremeluzir. Durante horas, a paisagem não se modificou e a estrada não descreveu uma curva. Às vezes, quando parávamos para esticar as pernas, dávamo-nos conta de como o deserto era silencioso sem o ruído constante do carro. Perto do mar, mesmo num dia calmo, ouvia-se sempre o murmúrio da água, e numa floresta, ainda que todos os animais tivessem decidido não emitir um som, ouvia-se o restolhar das folhas. Mas ali o silêncio era absoluto. Ao crepúsculo, o sol dissolveu-se no extremo vermelho e escaldante da terra e a noite chegou lenta e silenciosamente, arrefecendo o vento abrasador. Tive a impressão de poder tocar nas estrelas rutilantes que enchiam o céu nocturno com os seus corpos minúsculos e palpitantes. Ali, numa zona tão remota e esquecida que parecia para além do limite do tempo, não havia ecos nem reflexos.
A universidade de Zahedan tinha construído dentro dos seus terrenos uma área residencial para os professores. Embora não fossem luxuosas, as casas eram bem construídas, cómodas e limpas e com todo o conforto de que necessitávamos. No entanto, a água da torneira estava carregada de minerais e não era potável, pelo que duas ou três vezes por semana tínhamos de ir até à fábrica de purificação da água, que ficava a cerca de dez minutos, a fim de enchermos grandes contentores com água própria para bebermos.
André andava muito atarefado com o seu trabalho. Dava aulas ou, quando se encontrava em casa, preparava-as e corrigia trabalhos. A solidão e o silêncio do deserto ajudavam-me a afastar o passado. Durante o dia inteiro, fazia coisas banais, como limpar a casa e cozinhar, e quando o trabalho ficava pronto, fazia-o de novo. Era raro ouvir rádio e não ligava a televisão nem lia livros. Não tinha nenhuns que ainda não tivesse lido mas, estranhamente, não me faziam falta. Sentia-me simplesmente exausta, como um maratonista que, depois de correr durante horas, tivesse chegado de rastos à meta e finalmente tivesse caído por terra. A minha mente só se ocupava das coisas de que tinha de se ocupar. Lembrava-me de cumprir as obrigações simples: a roupa estava sempre lavada, o soalho impecável e punha a comida na mesa à hora certa.
André tinha colegas maravilhosos na universidade. Às vezes reu-níamo-nos com eles e com as famílias e eram todos muito simpáticos connosco. Não sabiam nada acerca do meu passado e eu tagarelava com eles sobre novas receitas e ideias de decoração.
A guerra não atingira Zahedan, que ficava muito distante da fronteira Irão-Iraque, mas os ataques de mísseis a Teerão e a mais sete cidades prosseguiam. Telefonava à minha mãe quase todos os dias para ter a certeza de que estavam bem. Embora fosse bom dormir a noite inteira sem explosões a ameaçarem fazer-nos em pedaços, sentia-me uma traidora. Supliquei aos meus pais que fossem passar algum tempo connosco a Zahedan, mas o meu pai recusou, a pretexto de ter de ir trabalhar. Pedi-lhe que, pelo menos, deixasse ir a minha mãe e ele respondeu que não havia necessidade de me preocupar: Teerão era uma cidade muito grande e as hipóteses de se ser atingido por um míssil eram diminutas. Depois, uma manhã, a minha mãe telefonou-me.
- Maman, está bem?
- Estou óptima. Vim passar uns dias com a Marie. Aqui é mais seguro.
Marie morava num prédio alto, não muito longe do andar dos meus pais em Teerão. Aquilo não fazia sentido.
- Que está a dizer, Maman? Aqui em Zahedan é que é mais seguro. Em Teerão não há segurança, estejam onde estiverem.
- Confia em mim. Aqui é melhor.
- Maman, diga-me imediatamente o que se passa, ou meto-me no próximo avião e vou aí ver com os meus próprios olhos.
- A nossa rua foi atingida ontem de manhã.
Os meus pais viviam num pequeno pátio. Se um míssil tivesse atingido a rua deles enquanto a minha mãe estava em casa, não percebia como saíra ilesa.
- Onde acertou, exactamente?
- Na primeira casa depois da esquina.
Quatro casas mais adiante e ela não fora atingida?
- A casa deles desapareceu. Agora só há um grande buraco escuro como se nunca tivesse existido. Não os conhecia muito bem. Eram pessoas sossegadas, da nossa idade. O marido estava no trabalho. A mulher e o neto morreram. Duas pessoas que iam a passar num carro também morreram. Alguns vizinhos foram atingidos, mas nada de grave. Não estava quase ninguém em casa: as pessoas ou estavam no emprego ou tinham ido às compras.
Tentei imaginar a cena que a minha mãe acabara de descrever, mas não fui capaz.
- O homem chegou a casa e a família tinha desaparecido - prosseguiu a minha mãe - Havia apenas um buraco. Uns minutos antes de ele chegar a sirene tocou. Eu estava na cozinha, ao telefone com a tua tia Negar. Ela disse: “A sirene está a tocar. Desliga e vai para qualquer sítio seguro.” Enfiei-me entre o frigorífico e o armário. E foi então que aquilo aconteceu. Que barulho! Buum! Pensei que tinha ido pelos ares. Depois, fez-se um silêncio de morte, como se tivesse ficado surda. Saí de casa. Havia vidros por toda a parte. Alguns estavam transformados em poeira. E os pedaços maiores tinham-se enterrado nas paredes, como setas. A casa estava de pé, mas numa confusão. Encontrei bocados da porta do teu armário no jardim.
Finalmente, a guerra terminou em Agosto de 1988, quando eu estava grávida de quatro meses. O governo do Irão aceitou a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e foi anunciado um cessar-fogo entre o Irão e o Iraque. Ninguém saíra vencedor de uma guerra que fizera mais de um milhão de vítimas.
Em meados, ou já no final, de 1980, a Organização Mojahedin-e Khalgh reuniu cerca de sete mil dos seus membros no Iraque para combaterem ao lado do exército de Saddam e enfraquecerem o governo do Irão. Não pude compreender como os Mojahedin apoiaram um homem como Saddam, que tinha chacinado tantos iranianos. Pouco depois do cessar-fogo, os Mojahedin, que tinham a sua base no Iraque, atacaram a província de Kermanshah, na parte ocidental do Irão, convencidos de que aí conseguiriam reunir apoios suficientes para derrubar o regime islâmico, mas os guardas revolucionários derrotaram-nos com facilidade. Muitos deles foram mortos e os que sobreviveram retiraram-se para o Iraque. Depois disso, centenas de prisioneiros de Evin, que haviam sido acusados de simpatizarem com os Mojahedin, foram executados.
Embora durante os três primeiros meses de gravidez me sentisse muito enjoada e fosse frequente vomitar, a partir do quarto mês passei melhor. O bebé crescia. Em breve comecei a senti-lo mexer-se dentro de mim e essa experiência fez-me chorar, porque me dei conta de que o amava ainda mais do que alguma vez imaginara ser possível. Queria dar a André um filho saudável.
A minha mãe tinha-se oferecido para ir passar uns dias comigo quando o bebé nascesse. O berço estava pronto e as roupinhas do bebé muito bem dobradas dentro de um armário.
Fui ao hospital fazer uma ecografia no final do oitavo mês. Zahedan era uma pequena cidade e, por casualidade, o meu ginecologista encontrava-se lá quando estavam a fazer-me o exame. A cabeça do bebé era demasiado grande. O ginecologista ficou convencido de que a criança sofria de hidrocefalia, uma doença grave em que a água se acumula dentro do crânio do feto. No entanto, o radiologista que fazia a ecografia estava convencido de que o tamanho excessivo da cabeça não era suficiente para se pressupor a existência de hidrocefalia. Devia haver outros sintomas, que estavam ausentes. Fiquei deitada, a ouvir os dois médicos falarem do meu bebé.
- Não vale a pena fazer uma cesariana. Devíamos abrir um furo na cabeça do bebé e tirá-lo para fora - disse o ginecologista.
André e eu perdemos a paciência. Eu sentia-me assustada e furiosa. Não ia deixar morrer o meu bebé, não ia perder outro filho. Queria ir à capital ouvir uma segunda opinião, mas a minha gravidez estava demasiado avançada e a companhia aérea não me permitiria voar. Ir de carro até Teerão era demasiado arriscado. E se o bebé decidisse nascer no meio de nenhures?
Um dos colegas de André tinha um amigo na companhia de aviação e, usando da sua influência, conseguiu comprar-nos bilhetes. Dentro de pouco tempo, íamos a caminho de Teerão, onde uma das minhas primas pediu ao seu ginecologista para me observar.
Fui directamente do aeroporto ao hospital. O médico mandou-me fazer uma nova ecografia, após o que me informaram de que o bebé estava óptimo - só que era cabeçudo. Porém, um parto natural não era recomendável, pelo que marcámos uma data para a cesariana: 31 de Dezembro de 1988. Não fiquei totalmente descansada. E se eles estivessem enganados? Precisava desesperadamente de pegar ao colo naquele bebé, aqui, neste mundo. Precisava de o amamentar e de o ouvir chorar. Precisava que aquela nova vida estivesse em segurança dentro de mim, nascesse e vivesse.
O nosso filho, Michael, nasceu a 31 de Dezembro de 1988. Quando abri os olhos depois da operação, senti muitas dores, náuseas e a boca seca e amarga. André disse-me que o bebé estava bem. Quando peguei ao colo no meu filho, pensei em Sheida e na sua tristeza depois de enviar o filho dela para casa dos pais. Nesse momento percebi como se devia ter sentido desesperada.
O Ayatollah Khomeini morreu a 3 de Junho de 1989. Tinha um cancro e acabara de ser submetido a uma intervenção cirúrgica. As pessoas sabiam que a sua morte estava eminente. Quando ouvi a notícia na rádio, estava sentada na minha cama em Zahedan, a dar de mamar a Michael, que tinha cinco meses. O locutor chorava. Os dois anos que passara em Evin vieram-me ao pensamento. Acreditava-se que a revolução seria o fim de Evin, mas em vez disso, reforçara o horror silencioso da prisão e tor-nara-a ainda mais sangrenta do que fora no passado. Khomeini era responsável pelas coisas terríveis que aconteciam por trás daquelas paredes. Era responsável pelas mortes de Gita, de Taraneh, de Sirus, de Layla, de Mina e de milhares de outros. Mas, sem que soubesse bem porquê, não fiquei feliz ao ouvir que ele tinha morrido. De certo modo, senti piedade dele. Que sentido fazia julgar um morto? Estava certa de que, tal como Ali, nem tudo nele era mau. Tinha ouvido dizer que apreciava poesia e que ele próprio era poeta. Mudara o mundo, mas ninguém ia dar-se conta da profundidade do impacto que tivera sobre ele até a história ter oportunidade de olhar para trás, de uma distância segura, e analisar as suas acções e as consequências. Rezei pelas almas daqueles que tinham perdido a vida depois da revolução e pedi para encontrarem a paz e para as suas famílias terem a coragem e a força de prosseguirem com as suas vidas e fazerem do Irão um lugar melhor.
Michael tinha adormecido. Era um bebé lindo. Não fazia ideia de que um homem chamado Khomeini mudara a vida dos pais e eu perguntava-me que efeito iria ter a morte desse homem sobre nós e sobre o Irão. Muitos estavam convencidos de que o governo islâmico não iria sobreviver à sua morte, que uma luta pelo poder entre as diferentes facções do governo poria termo à República Islâmica.
No dia do funeral de Khomeini, um dia escaldante, um oceano de cerca de nove milhões de pessoas, todas vestidas de preto, invadiu as ruas de Teerão até ir desembocar na estrada que conduzia ao cemitério de Behest-eh Zahra. Vimos a cobertura do acontecimento na televisão. Nem eu, nem ninguém, vira nunca uma multidão tão grande. As pessoas choravam, carpiam, batiam no peito, como os xiitas costumam chorar os seus mártires. A única coisa em que eu conseguia pensar era em Evin e nas vidas de jovens inocentes perdidas na revolução. Mas os que lamentavam a morte de Khomeini não pareciam preocupar-se com isso. Aquele era o seu imã, o seu líder e o seu herói, o homem que, num estilo arrogante e inflexível, fizera frente ao Ocidente. “Mas porque o amam tanto?” era o que eu tentava compreender. O ódio que nutriam pelo Ocidente seria tão profundo que não se importavam que jovens inocentes fossem aprisionados e assassinados? Talvez a sua relação com ele nada tivesse a ver com o amor, mas fosse uma admiração atemorizada e reverente por um homem oriundo de uma família pobre e através do qual eles haviam conseguido poder e autoridade para enfrentarem um mundo que durante muito tempo os havia agredido.
A multidão rodeou o camião que transportava o caixão de madeira de Khomeini. Toda a gente queria tirar-lhe um pedaço da mortalha, vislumbrá-lo pela última vez. Aquela multidão negra parecia ir submergir o camião. Com jactos de mangueiras, as forças de segurança esforçavam-se por manter as pessoas afastadas, mas era inútil. Sob um véu de neblina, de poeira e de calor, o rugido de um helicóptero abafou os gritos e lamentos, aproximando-se do camião e aterrando diante dele. A urna foi retirada do camião e passada para o helicóptero, mas a multidão apoderou-se dela e fê-la rebentar. Mãos estendidas arrancaram pedaços da mortalha branca, deixando à mostra uma das pernas de Khomeini. Finalmente o corpo foi colocado no helicóptero e este teve de andar para cima e para baixo a fim de se libertar das pessoas penduradas nele.
Umas horas mais tarde, foi feita uma tentativa mais organizada no sentido de sepultar o corpo de Khomeini, desta vez bem sucedida. Alguns helicópteros do exército aproximaram-se do local. De um deles saiu uma urna de metal, da qual foi retirado o corpo, amortalhado - na tradição xiita o corpo é sepultado apenas com a mortalha -, que foi finalmente enterrado entre os milhares de mártires do país.
Os meses passaram e o regime islâmico sobreviveu à morte de Khomeini. O seu lugar foi ocupado pelo Ayatollah Ali-eh Khamenei como Líder Supremo do país. Este já tinha sido presidente durante dois mandatos. O reinado de terror prosseguiu. O número de prisões reduziu-se, não porque houvesse mais liberdade, mas porque toda a gente sabia o preço elevado de falar contra o regime. Em geral, quem ousava abrir a boca era silenciado imediatamente. As mulheres passaram tempos “melhores” e “piores”. Praticamente todos os meses, os guardas revolucionários apertavam o controlo e deixavam de mostrar tolerância para com a maquilhagem ou os hejabs imperfeitos. Seguiu-se um período de poucas semanas durante o qual era possível sair com batom e algumas madeixas de cabelo à mostra.
Embora André e eu soubéssemos que nunca estaríamos em segurança no Irão, não tínhamos sido capazes de abandonar o país. Quando fui libertada de Evin, tinham-me dito que não estava autorizada a sair para o estrangeiro durante três anos. Essa restrição não era automaticamente levantada pelo facto de esse período de tempo ter sido ultrapassado. Primeiro tinha de pedir um passaporte. A repartição que os emitia dar-me-ia uma carta que eu tinha de levar a Evin a fim de pedir autorização para me ausentar do país. André não estava autorizado a viajar para o estrangeiro até ter completado os seus três anos como professor em Zahedan. A minha situação era mais complicada, mas só poderia saber o que aconteceria depois de tentar.
Pedi um passaporte e, como esperava, este foi recusado. Levei a carta que me deram na repartição a Evin. Aí disseram-me que, a fim de garantir o meu regresso, só poderia sair do país se deixasse um depósito de 500 000 tomam - cerca de 3500 dólares. Se regressasse dentro de um ano, o dinheiro ser-me-ia restituído. De outro modo, iria parar aos cofres do governo. Na época, o salário mensal de André era de cerca de 7000 tomam - aproximadamente sessenta dólares. Não tínhamos dinheiro que chegasse.
Pedi ao meu pai para nos emprestar dinheiro. Para os ajudar, tínhamos pago metade da renda dos meus pais depois de nos mudarmos para Zahedan. O meu pai vendera a casa de férias e tinha no banco o dobro da quantia de que eu necessitava.
- Papa, só lhe estou a pedir para nos empresrar dinheiro. É a primeira vez que lhe faço um pedido destes. Logo que um país livre nos aceitar e mal arranjemos trabalho, vou-lhe pagando aos poucos.
- Achas que as coisas são fáceis nos outros países? A vida é difícil. Como sabes que vai tudo correr bem?
- Sei, porque somos trabalhadores e porque Deus é grande. Ele há-de ajudar-nos.
O meu pai riu e prosseguiu:
- Deixa-me contar-te uma pequena história. Um dia, dois pescadores fizeram-se ao mar numa pequena embarcação. Quando partiram, fazia bom tempo e as águas estavam calmas. Mas, quando chegaram ao mar alto, o tempo mudou e não tardaram a ver-se no meio de uma grande tempestade. “Que fazemos agora?” perguntou um deles, assustado, enquanto o barco baloiçava violentamente. “Temos de pedir a Deus que nos salve. Ele é grande e poderoso, e vai conseguir salvar-nos desta encrenca”, retorquiu o outro. “Deus pode ser grande, meu querido amigo, mas o nosso barco é pequeno”, replicou o primeiro. E afo-garam-se os dois.
Eu não podia acreditar no que ouvia. Embora não soubesse tudo o que me tinha acontecido na prisão, ele sabia que eu tinha sido presa política e que não tinha futuro no Irão. Tinha de viver no medo e, devido ao meu cadastro político, não estava autorizada a frequentar a universidade. Precisava da ajuda do meu pai, ele estava em condições de me ajudar, mas recusava fazê-lo.
- Preocupa-se mais com o dinheiro do que comigo! - exclamei.- Disse-lhe que lhe pago e vou fazê-lo. Não lho pedia se não estivesse desesperada.
- Não - foi a resposta dele.
Por fim, tive de enfrentar a amarga verdade sobre o meu pai: ele nunca faria nenhum sacrifício por mim. Não sei porque era ele assim. Toda a minha vida sentira que havia uma distância entre nós, mas ignorara-a sempre, convencida de que, simplesmente, ele era o género de pessoa que não mostra os seus verdadeiros sentimentos. Não me recordava de o ter visto mostrar amor ou afeição fosse por quem fosse, nem sequer pela minha mãe ou o meu irmão. Toda a minha vida observara pelo canto do olho pais que amavam as filhas e manifestavam abertamente os seus sentimentos - pais que fariam sacrifícios tremendos pelos filhos. Tinha-me recusado a pensar que o meu pai era diferente. Fingira sempre que ele era bondoso, generoso e dedicado.
Pensei no senhor Moosavi. Sabia que podia pegar no telefone e marcar o número dele e não tinha dúvida de que me daria o dinheiro que Ali me deixara. Mas não queria fazer isso, precisava de pôr um ponto final nessa parte da minha vida. Desejava que a minha família me tratasse como a família de Ali me havia tratado. Mas sabia que o meu desejo nunca se iria realizar.
Durante os últimos anos da sua vida, o pai de André tinha trabalhado numa fábrica de mobílias. Com a ajuda do proprietário da fábrica, ele e alguns dos outros trabalhadores tinham investido numa parcela de terreno para construir um pequeno prédio. Quando o pai dele faleceu, este projecto ainda não tinha sido iniciado, mas André continuava a contribuir para a sua concretização. Um dia, recebemos um telefonema de uma senhora que trabalhava na fábrica e que nos informou de que os trabalhos de construção tinham começado. Dissemos-lhe que tínhamos o projecto de sair do país, mas que estávamos com problemas financeiros. Ela ofereceu-se para comprar a nossa parte e para nos pagar mais 500 000 tomans do que já tínhamos investido. Isso era tudo de que necessitávamos.
André recebeu o passaporte logo que terminaram os três anos que tínhamos de passar em Zahedan. Eu fui a Evin, fiz o depósito, e obtive o meu. Tínhamos ouvido falar de uma agência católica de refugiados em Madrid, e decidimos ir para Espanha. Comprámos os bilhetes de avião, vendemos tudo o que tínhamos, que não era muito, e comprámos dólares. Ainda não estava garantido que pudéssemos partir. No aeroporto, os guardas revolucionários impediam muitas pessoas que tinham passaportes válidos de abandonarem o país. Só iríamos sentir-nos livres quando o avião atravessasse a fronteira iraquiana.
O nosso voo era de manhã cedo, numa sexta-feira, 26 de Outubro de 1990, e os meus pais iam levar-nos ao aeroporto de Teerão por volta da meia-noite. Michael, que tinha vinte e dois meses, choramingava e contor-cia-se enquanto eu tentava vesti-lo, mas adormeceu confortavelmente ao meu colo mal o carro se pôs em movimento. A cidade estava deserta. Fiquei a ver passar as ruas que me eram familiares. Primeiro as ruas estreitas, residenciais, de Davoodieh, onde vivemos depois de regressarmos de Zahedan, depois as artérias amplas do centro, ladeadas de lojas. Tinha recordações de quase cada rua e esquina. A minha vida no Irão tinha-me tornado no que eu era. Estava a deixar para trás partes do meu coração, partes da minha alma. Aquele país era onde repousavam aqueles que eu amara - e eu tinha de o deixar. Ali, não havia futuro para nós, mas apenas passado. Queria que os meus filhos vissem a pátria que em tempos fora minha. Queria mostrar-lhes a estrada que conduzia à minha escola, o parque onde brincara, e a igreja que me fizera a dádiva da fé e da paz. Queria que eles vissem o mar Cáspio azul, a ponte que ligava os dois lados do porto e os arrozais aninhados entre as altas montanhas. Queria que conhecessem o deserto, a sua sabedoria e solidão. Mas sabia que provavelmente isso nunca iria acontecer. Para nós, não havia hipótese de regresso.
Uma vez passada a Praça Azadi, com o seu alto monumento - um símbolo de Teerão que fora construído no tempo do Xá e que se tinha tornado a entrada da cidade - percebi que aquilo se tratava de um adeus derradeiro. Deitei uma última olhadela aos picos cobertos de neve das montanhas Alborz, que mal se divisavam recortadas contra o céu nocturno.
No aeroporto, estacionámos o carro e, em silêncio, dirigimo-nos ao terminal. Uma vez que sabíamos haver longos controlos de segurança, chegámos com horas de avanço. Os guardas revolucionários abriram toda a bagagem e revistaram-na até ao mínimo pormenor. Era ilegal fazer sair do país antiguidades, demasiadas peças de joalharia ou grandes somas de dinheiro. Tudo decorreu sem atritos e fiz um aceno de despedida aos meus pais. Estávamos todos a chorar.
O nosso avião da Swissair descolou no ar frio e escuro das primeiras horas da manhã. Dentro de pouco tempo, atravessámos a fronteira, e a maioria das mulheres tirou os hejabs e pôs alguma maquilhagem. A ouvir o zumbido constante e tranquilizador dos motores, fechei os olhos e perguntei-me se o paraíso teria uma secção de “Perdidos e Achados”. Deixara muitas coisas para trás. Uma delas era um pequeno guarda-jóias de prata que a minha avó, como mulher prática que era, tinha em cima da mesa da cozinha a servir de açucareiro. Fora uma prenda do marido. Não pude deixar de pensar que cada vez que adoçava o chá, isso lhe recordava tudo o que tinham feito juntos. Havia também a flauta de Arash, o colar que ele nunca tivera oportunidade de me oferecer e a aliança do meu primeiro casamento. Talvez não estivessem perdidos e um dia viesse a encontrá-los todos debaixo das pedras cobertas de musgo da minha Rocha da Oração, numa floresta desconhecida habitada por anjos.
No dia 28 de Agosto de 1991, depois de termos passado oito dias em Madrid e, em seguida, dez meses em Budapeste à espera dos papéis, um avião da Swissair conduziu-nos ao aeroporto de Zurique, onde ficámos numa fila, à espera de embarcarmos no voo com destino a Toronto. Tinha ensinado um pouco de inglês a Michael e falara-lhe de um belo país chamado Canadá, onde nevava imenso no Inverno, o que nos permitia fazer grandes bonecos de neve, e onde o Verão era cálido e verdejante e podíamos ir nadar em lagos azuis. Ele mantinha-se ao meu lado, de mão dada comigo, com os olhos muito abertos de excitação. Uns quantos estudantes canadianos encontravam-se à nossa frente na mesma fila. Invejei-os e perguntei-me qual seria a sensação de ser canadiano.
—- Estou impaciente por chegar a Toronto - disse um deles.
- Eu também - disse outro. - Divertimo-nos imenso aqui e tudo isso, mas não há lugar como a nossa casa.
Nesse momento, ao observar aqueles adolescentes com os seus sorrisos radiosos e despreocupados, percebi que tudo iria correr bem no Canadá. Seria a nossa nova pátria, onde nos iríamos sentir livres e seguros, onde criaríamos os nossos filhos e os veríamos crescer e o sítio onde iríamos passar a pertencer.
Nota da Autora
Zahra Kazemi morreu em Evin a 11 de Julho de 2003.
A 23 de Junho de 2003, esta fotojornalista canadiana-iraniana foi presa quando tirava fotografias no exterior de Evin, durante uma manifestação de estudantes. Em breve foi divulgada a informação de que estava em coma.
Durante os dias que se seguiram à sua morte, o presidente iraniano Mohammad-eh Khatami, mandou proceder a uma investigação interna. O filho de Zahra e membros do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá exigiram a devolução do corpo a este país. O Irão admitiu que ela fora espancada até à morte, mas, ignorando a pressão internacional, sepul-tou-a no Irão. Nenhum médico independente foi autorizado a examinar o corpo. As autoridades iranianas prenderam alguns agentes de segurança que afirmavam poderem ter sido responsáveis pela morte de Zahra, mas estes em breve foram libertados.
Por fim, Mohammad Reza Aghdam Ahmadi, um funcionário do Ministério dos Serviços Secretos iraniano, encarregado dos interrogatórios, foi acusado da sua morte e compareceu a tribunal, acabando por ser ilibado. Os advogados da família de Zahra Kazemi, incluindo Shirin Ebadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz, ficaram convencidos de que Aghdam Ahmadi fora um bode-expiatório.
A 31 de Março de 2005, o Dr. Shahram Azam, um médico das urgências do hospital Baghiattulah de Teerão, divulgou os pormenores atrozes que, um ano antes, na Suécia, já comunicara a um funcionário do Minis- tério dos Negócios Estrangeiros canadiano: Zahra fora brutalmente violada, arranhada e espancada, tinha dois dedos e o nariz partidos, três unhas arrancadas, uma fractura no crânio, o dedo grande do pé esquerdo fracturado e os pés tinham marcas de vergastadas.
Não conheci Zahra Kazemi. Em meados de Julho de 2003, por volta das oito horas da manhã, abri a porta da frente de casa para recolher o jornal do alpendre. Estava um dia lindo: o sol brilhava e as minhas rosas e clematites estavam em flor, pelo que decidi ler o jornal fora de casa. Tirei-o do saco de plástico que o protegia e, ao desdobrá-lo, deparei-me com uma fotografia de uma mulher atraente, com um grande sorriso e olhos de expressão viva. Perguntei-me quem seria, e li o artigo imediatamente. Cada palavra era como uma corda a apertar-me a garganta.
Tinha começado a trabalhar nas minhas memórias em Janeiro de 2002 e acabara de escrever o terceiro rascunho, pelo que as minhas recordações de Evin estavam muito frescas. Sabia que o que eu tinha passado em Evin ainda estava a acontecer por trás das suas paredes, mas ver a fotografia de Zahra e o seu belo sorriso conferiu a esse conhecimento uma força dolorosa e chocante que me trespassou. Ela tinha morrido como Mina. Mas a fotografia de Mina nunca fora publicada na primeira página de nenhum jornal. O mundo dera atenção a este facto por Zahra ser canadiana. Se o mundo tivesse prestado atenção mais cedo, se se tivesse preocupado, Zahra não teria morrido e muitas vidas inocentes teriam sido poupadas. Mas o mundo permanecia em silêncio, em parte porque testemunhas como eu tinham tido medo de falar. Mas já bastava. Não iria permitir que o medo me mantivesse cativa durante mais tempo.
A 31 de Março de 2005, Michelle Shephard, uma grande amiga minha que é repórter do Toronto Star e escreve sobre o Médio Oriente, sobre terrorismo e temas de segurança actuais, telefonou-me de manhã. Fiquei muito contente ao ouvir a sua voz, mas ela disse que tinha novidades.
- Talvez seja melhor sentares-te para ouvires isto - disse.
Assim fiz. E ela falou-me do relatório do Dr. Shahram Azam sobre os danos infligidos a Zahra, a quem eu desejava ter podido salvar. Gostaria de ter morrido com ela. Mas a minha morte não teria ajudado ninguém. Tinha uma história para contar. Zahra dera aos presos políticos do Irão um nome e um rosto - agora era a minha vez de lhes dar voz.
Marina Nemat
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















