



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Dois anos depois de desaparecer no deserto do Sudão, o professor Harold McCabe aparece a cambalear saído das areias do deserto, mas morre antes de contar o que aconteceu. A autópsia revela que alguém tinha começado a mumificar o professor em vida. Não tarda que todos os médicos envolvidos na autópsia adoeçam e morram, e uma estranha doença arrasa o Cairo. Painter Crowe, diretor da Força Sigma, é chamado a agir. O professor McCabe desapareceu enquanto procurava vestígios das dez pragas de Moisés. Será que as pragas estão a ganhar vida de novo? A filha do arqueólogo, Jane McCabe, ajudará a desvendar o mistério que remonta a milénios atrás. A Força Sigma terá de enfrentar uma ameaça do passado tornada possível pela ciência moderna, e que poderá causar uma vaga de pragas que pode matar todos os seres humanos.
NOTAS DO ARQUIVO HISTÓRICO
Moisés disse ao povo: «Recorda-te deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois foi com mão forte que o Senhor te fez sair daqui.»
— ÊXODO 13, 3
São poucas as histórias da Bíblia tão fascinantes e tantas vezes contadas — quer em livros quer no cinema — como a história de Moisés. Desde a salvação providencial em criança nas margens do Nilo, quando flutuou num cesto de junco ao encontro dos braços da filha do faraó, ao derradeiro confronto com o filho deste, Moisés tornou-se uma figura lendária. A fim de libertar as tribos de judeus, lançou dez pragas sobre o Egito, dividiu as águas do mar Vermelho e conduziu o seu povo pelo deserto durante quarenta anos, entregando-lhes dez mandamentos de Deus que serviriam de base a um novo sistema de leis.
Mas será que foi assim mesmo que aconteceu? A maioria dos historiadores, incluindo chefes religiosos, prefere olhar para o Êxodo como um mito; uma lição de moral em vez de realidade histórica. Como apoio a essa convicção, os arqueólogos mais céticos sublinham a inexistência de registos egípcios sobre pragas ou um êxodo maciço de escravos; sobretudo na data indicada na Bíblia.
Contudo, descobertas recentes ao longo do rio Nilo sugerem que a opinião dos céticos poderá estar errada. Será que existem provas concretas que sustentam a história de Moisés? De um êxodo em massa, milagres e maldições? As dez pragas do Egito poderão ter realmente acontecido? As respostas surpreendentes que se encontram nestas páginas são baseadas em factos tão sólidos como a palavra «Israel» encontrada gravada na pedra tumular do neto de Ramsés.
E se as pragas do Egito tivessem realmente acontecido, será que podem acontecer de novo a uma escala global?
A resposta a essa pergunta é um assustador... sim.
NOTAS DO ARQUIVO CIENTÍFICO
Clima é aquilo que esperamos e tempo atmosférico é o que temos.
— Atribuído a Mark Twain
As coisas têm aquecido ultimamente, não só as temperaturas globais, mas também o próprio debate em torno das alterações climáticas. Nos últimos anos, a discussão evoluiu de «será que o aquecimento global é real?» para «quais as causas e o que poderemos fazer para o evitar?». A verdade é que os antigos céticos se viram obrigados a reconhecer que o planeta está a mudar, seja pelo degelo de glaciares por toda a parte, pelo desaparecimento acelerado da placa de gelo da Gronelândia ou pela subida progressiva das temperaturas dos oceanos. O próprio clima tornou-se mais extremo, com períodos de seca persistentes e inundações maciças. Tal como foi anunciado em fevereiro de 2016, o território do Alasca registou o segundo inverno mais quente de sempre, tendo-se verificado valores na ordem dos 12 graus Celsius acima da temperatura média habitual. Em maio do mesmo ano, medições via satélite deram conta de uma diminuição do gelo ártico para novos níveis mínimos.
Porém, a questão mais assustadora — e uma que exploro neste romance — é esta: para onde estamos a caminhar? Pouco discutida, a resposta é surpreendente, embora baseada em dados concretos e científicos. Mais chocante, ainda, já aconteceu no passado. Céticos ou crentes, estarmos avisados significa estarmos preparados para o que aí vem. Está na altura de conhecer a verdade assombrosa sobre o futuro do nosso planeta.
O Senhor disse a Moisés: «Diz a Aarão: “Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre os seus lagos e sobre todos os seus depósitos de água — e que elas se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nos recipientes de madeira como nos de pedra.”»
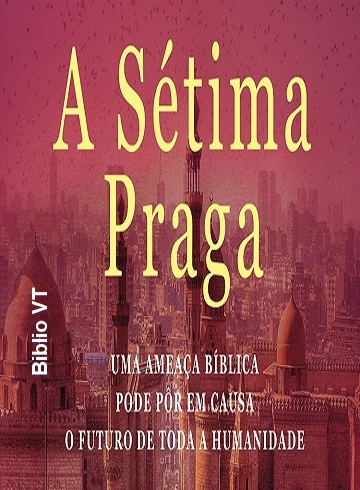
Primavera, 1324 a.C.
Deserto da Núbia, sul do Egito
A alta sacerdotisa ajoelhou-se nua na areia e soube que o momento havia chegado. Os presságios tinham-se acumulado, cada vez mais prementes, tornando-se uma certeza. A oeste, levantou-se uma tempestade de areia em direção ao sol, transformando o céu azul num manto negro empoeirado, entrecortado pelo clarão de relâmpagos.
O inimigo encontrava-se cada vez mais perto.
Em preparação, Sabah rapara todos os pelos do corpo, incluindo as sobrancelhas por cima dos olhos pintados. Banhara-se nas águas à esquerda e à direita, dois afluentes que saíam do deserto profundo e corriam para norte, para depois se juntarem nessa sagrada confluência que dava origem ao poderoso rio a que os antigos reis dos heqa khasewet chamavam Nahal. Imaginou o seu curso sinuoso que banhava as cidades de Luxor, Tebas e Mênfis, a caminho do grande mar azul que se estendia para lá das terras férteis do delta.
Apesar de nunca ter visto a região com os próprios olhos, ouvira histórias.
Da nossa antiga casa, esse lugar de campos verdes, palmeiras e de uma vida pautada pelas inundações cíclicas do Nahal.
Essas eram as terras que os antepassados de Sabah tinham abandonado há mais de um século, para escaparem ao período das pragas, fome e morte, acossados por um faraó entretanto desaparecido. A maioria das outras tribos do delta procurara refúgio nos desertos a leste, conquistando essas terras e erguendo um reino que fosse deles, mas o povo de Sabah vivera numa área mais a sul ao longo do rio, perto de Djeba, no distrito egípcio de Wetjes-Hor, conhecido como o Trono de Hórus.
Durante o período das trevas e morte, a tribo cortara as raízes que os ligavam àquele lugar, fugindo rio acima, para lá dos domínios do reino egípcio, rumo ao deserto núbio. Eram uma tribo de estudiosos, escribas, sacerdotes e sacerdotisas, guardiões de grande conhecimento. Tinham-se refugiado na vastidão do deserto com o propósito de protegerem esse saber durante os tempos turbulentos que se seguiram às pragas, quando o Egito fora invadido por um inimigo a leste, um povo de guerreiros com bigas velozes e armas de bronze superiores, que logo conquistaram as cidades egípcias enfraquecidas, quase sem disparar uma única flecha.
Porém, o tempo das trevas estava prestes a terminar.
O Egito reerguera-se das cinzas, empurrando os invasores e construindo monumentos que comemoravam as inúmeras vitórias, à medida que avançavam nessa direção.
— Hemet netjer... — murmurou Tabor, o jovem servo núbio, porventura sentindo a inquietação da sacerdotisa, ou apenas para lhe recordar o seu papel como hemet netjer, aia de Deus. — Temos de ir.
Sabah anuiu e levantou-se.
Tabor mantinha o olhar fixo na tempestade de areia a oeste, obviamente a fonte da sua preocupação, mas Sabah reparara na coluna de fumo a norte, assinalando a destruição de uma vila junto à quinta catarata do Nahal, a mais recente conquista do exército egípcio. Não faltaria muito para que essas mesmas forças chegassem ali, àquela sagrada confluência.
Antes que isso acontecesse, Sabah e os outros da sua ordem precisavam de esconder o que haviam protegido ao longo de mais de um século, um prodígio como nenhum outro: uma bênção de Deus, uma cura escondida no coração de uma maldição.
Perante o avanço inexorável dos egípcios, vendo-os consumir cidade após cidade ao longo do rio, Sabah e os seus haviam-se preparado ao longo de mil dias, executando atos de purificação que lhes permitiriam tornarem-se recetáculos imortais dessa bênção de Deus.
Sabah fora a última do seu povo a quem tinha sido concedida autorização para se submeter à transformação, tendo ela própria supervisionado e ajudado muitos dos seus irmãos a percorrerem o mesmo caminho. À semelhança dos outros, abstivera-se de comer cereais no último ano, subsistindo à conta de raízes, bagas, casca de árvores e de um chá à base de uma resina trazida de outras paragens. Ao longo das estações, a carne secara-lhe nos ossos, e os seios e as nádegas haviam mirrado, afundando-se na pele. Apesar de contar somente três décadas de vida, dependia agora da ajuda dos braços fortes de Tabor para se deslocar, até mesmo para cobrir a cabeça com o seu robe de linho.
Enquanto se afastavam da confluência, Sabah observou a tempestade de areia que continuava a avançar, disparando relâmpagos do interior da densa nuvem de pó. Sentia a energia fluir pelo deserto. Conseguia cheirá-la no ar, sentia-a tocar-lhe na penugem dos braços. Com a graça de Deus, a tempestade encarregar-se-ia de ocultar o trabalho que tinham feito, enterrando-o sob as dunas.
Mas, primeiro, precisavam de alcançar as colinas distantes.
Concentrou-se em pôr um pé à frente do outro. Porém, receava ter-se demorado demasiado junto ao rio. A tempestade iria certamente apanhá-los antes de alcançarem a ravina entre as colinas, uivando então acima deles e fustigando-lhes a pele exposta com areia escaldante.
— Depressa, senhora — reiterou Tabor, fazendo o que podia para ajudá-la a avançar. Carregada por Tabor, Sabah sentiu os dedos dos pés tocarem ao de leve a superfície da areia, como se deixasse para trás um rasto indecifrável de glifos suplicantes.
Não posso falhar...
No instante seguinte, tinham já transposto a entrada escura e desciam pelo longo e íngreme corredor que os conduziria à maravilha maior, esculpida em arenito. O caminho encontrava-se iluminado por tochas, projetando sombras trémulas nas paredes, revelando lentamente o que se encontrava escondido, o que fora criado em conjunto por artesões e estudiosos ao longo de sete décadas.
Tabor ajudou-a a passar pela arcada ornamentada com enormes dentes e uma língua de pedra esculpidos ao pormenor. Mais adiante, a câmara dividia-se em dois túneis: um deles mergulhava na rocha em direção ao estômago de pedra que existia mais abaixo, o outro, decorado com protuberâncias circulares em toda a extensão, conduzia ao espaço cavernoso que constituía a cavidade torácica.
Seguiram pelo segundo túnel, sem perderem mais tempo.
Enquanto Tabor a auxiliava, Sabah visualizou o complexo subterrâneo que existia sob aquelas colinas. Fora idealizado e esculpido para reproduzir o interior de uma figura sem feições, cujo corpo tivesse sido ali enterrado. Apesar de a escultura não possuir uma carapaça exterior — o mundo era a sua pele —, os pormenores que reproduziam a anatomia interna do corpo humano haviam sido meticulosamente talhados em arenito, desde o fígado aos rins, da bexiga ao cérebro.
Sob aquelas colinas, a ordem de Sabah criara o seu próprio Deus de pedra, suficientemente grande para poderem habitá-lo, para poderem utilizá-lo como um vaso, onde preservariam o que precisava de ser salvaguardado.
Como eu tenho de fazer, agora. Transformar o meu corpo num templo, para que possa receber a grande bênção divina.
Tabor conduziu Sabah pelo túnel com as protuberâncias até ao ponto onde se dividia de novo em duas passagens mais pequenas, representando a bifurcação das vias aéreas que existia no interior do seu próprio peito. Tabor seguiu pela esquerda, o que os obrigava a curvarem-se devido à altura reduzida do teto. De qualquer modo, a distância que lhes faltava percorrer não era grande.
A luz das tochas tornou-se mais intensa, assinalando o fim do túnel e o início de um espaço cavernoso, cujo teto dava a ilusão de ser suportado por costelas de pedra que se erguiam do chão, culminando numa impressionante coluna vertebral. O centro do espaço era dominado por um imenso coração de pedra, quatro vezes mais alto do que ela e perfeitamente simétrico, de onde saíam grandes vasos sanguíneos que se curvavam para fora.
Sabah olhou de relance para o punhado de servos núbios que a aguardavam no interior da câmara, todos eles ajoelhados.
Fixou a atenção nas colunatas de costelas de pedra. Nos intervalos entre elas, tinham sido colocados tijolos frescos, para selar as várias alcovas que ali se escondiam. Assinalavam os túmulos dos irmãos e irmãs que a tinham precedido. Imaginou-os sentados ou afundados nas cadeiras, os corpos terminando lentamente as respetivas transformações, a fim de se tornarem recetáculos da bênção.
Sou a última... a serva escolhida por Deus.
Virou-se para o coração de pedra. Num dos lados, existia uma abertura para aceder ao interior da escultura, um lugar de grande honra.
Libertou-se do braço de Tabor e deu os últimos passos sozinha. Baixou-se e entrou no coração. A palma da sua mão sentiu a superfície fria da pedra quando se endireitou. No interior, aguardava-a um trono de prata, igualmente gélido, onde se sentou. Num dos lados, encontrava-se uma bacia esculpida em lazulite, com o rebordo em prata. Estava cheia de água. Pegou na bacia e pousou-a nas suas coxas magras.
Tabor espreitou pela abertura, demasiado consternado para proferir uma única palavra, mas a expressão no rosto, repleta de desgosto, esperança e medo, falava por si. O peito de Sabah agitou-se com o mesmo turbilhão de emoções, juntamente com uma dose considerável de dúvida.
Fitou Tabor e fez-lhe sinal com a cabeça.
— Que assim seja.
O desgosto venceu a batalha que se desenrolava no rosto de Tabor, mas o jovem núbio anuiu com uma vénia e retirou-se.
Os outros servos avançaram e começaram a selar a abertura com tijolos de lama seca e palha. A escuridão abateu-se sobre ela, porém, nesse último instante de luminosidade que lhe chegava do exterior, baixou os olhos para a bacia pousada no colo, reconhecendo o brilho negro na superfície da água. Estava tingida com um tom vermelho profundo. Sabah sabia o que segurava. Era água do Nahal, da época em que o rio fora amaldiçoado e se transformara em sangue. A água fora recolhida séculos antes e preservada pelos membros da ordem — juntamente com a bênção contida no seu coração amaldiçoado.
Assim que foi posto o último tijolo, engoliu com dificuldade, sentindo a garganta subitamente seca. Ouviu os outros aplicarem uma camada final de lama fresca sobre os tijolos, assim como o som inconfundível de madeira a ser empilhada ao redor da base do coração.
Fechou os olhos, consciente do que iria acontecer a seguir, e visualizou as tochas a lançarem fogo a toda aquela madeira.
A confirmação dessa imagem fez-se sentir lentamente, à medida que a pedra começou a aquecer sob os seus pés. O ar no interior do coração — já de si abafado — não tardou a tornar-se sufocante. Qualquer vestígio de humidade evaporou-se rapidamente pelos vasos sanguíneos no topo do coração, que funcionavam como condutas. Por instantes, teve a sensação de que respirava areia quente. Gemeu de dor, quando a pedra começou a queimar-lhe a sola dos pés. O próprio trono de prata tornou-se tão quente quanto a crista de uma duna sob o sol do deserto.
Mesmo assim, Sabah não se moveu. Por essa altura, os outros teriam já abandonado aquele mundo subterrâneo, selando o caminho atrás deles. Deixariam aquelas terras a coberto da tempestade, desaparecendo para todo o sempre, permitindo que o deserto apagasse qualquer vestígio daquele lugar.
Enquanto aguardava o seu fim, as primeiras lágrimas começaram a correr, apenas para lhe secarem de imediato no rosto. Entreabriu os lábios gretados e soluçou de dor e pela consciência do seu destino. Então, um brilho suave rompeu a escuridão. Erguia-se da bacia pousada no colo, cuja superfície de água carmesim rodopiava com uma leve tremura.
Sabah não sabia se contemplava uma miragem causada pela dor, mas retirou consolo daquele brilho, concedendo-lhe a força necessária para completar o último ato. Pegou na bacia e, levando-a aos lábios, bebeu. A água vivificante desceu-lhe pela garganta ressequida e encheu-lhe o estômago vazio.
Quando voltou a pousar a bacia no colo, o interior do coração de pedra tornara-se um inferno agonizante. Sorriu, apesar da dor, sabendo o que guardava dentro de si.
Sou o teu recetáculo, meu Deus... agora e sempre.
2 de março, 1895, 21h34 CEST
Nova Iorque
Agora, sim, estamos a conversar melhor...
Com o objetivo à vista, Samuel Clemens — mais conhecido pelo seu heterónimo, Mark Twain — conduziu o relutante companheiro ao longo do Gramercy Park. Diretamente em frente, os candeeiros a gás brilhavam ao fundo da rua, iluminando a fachada adornada do edifício do Players Club. Os dois homens eram membros desse estabelecimento exclusivo.
Atraído pela promessa de umas boas gargalhadas, muita bebida e boa companhia, Twain estugou o passo, caminhando com mais propósito e arrastando atrás de si uma nuvem de fumo de charuto através do ar frio da noite. Virou-se para o companheiro:
— O que achas, Nikola? Segundo o meu relógio e o meu estômago, devem estar a servir o jantar. Além disso, este charuto merece um bom brandy para o acompanhar.
Duas décadas mais novo, Nikola Tesla vestia um fato com um corte austero, cujo tecido se encontrava gasto nos cotovelos. Passava o tempo a correr a mão pelos cabelos escuros e a lançar olhares irrequietos por toda a parte. Quando estava nervoso, como era o caso, o sotaque sérvio tornava-se tão cerrado como o seu bigode.
— Samuel, meu bom amigo, a noite vai longa e tenho muito trabalho para terminar no laboratório. Agradeço-te os bilhetes de teatro, mas tenho de ir andando.
— Deixa-te disso. Demasiado trabalho torna-nos aborrecidos, sabias?
— Deves ser a alma da festa, nesse caso, já que levas uma vida tão descontraída.
Twain deitou-lhe um olhar exageradamente enfastiado.
— Ficas a saber que estou a escrever um novo livro.
Nikola sorriu-lhe.
— Deixa-me adivinhar, Huck Finn e Tom Sawyer metem-se outra vez em sarilhos.
Twain riu-se.
— Quem me dera! Talvez assim eu conseguisse pagar aos meus credores.
Ainda que poucos o soubessem, Twain declarara falência no ano anterior, concedendo os direitos de autor da sua obra à mulher, Olivia. Para ajudar a pagar as dívidas, preparava-se para partir numa digressão mundial de conferências ao longo dos próximos doze meses.
Ainda assim, a menção de assuntos financeiros azedara o momento, e Twain repreendeu-se de o ter feito. Apesar de o amigo ser nada menos do que um verdadeiro génio, um polímata que tinha tanto de inventor como de engenheiro elétrico e físico, Nikola atravessava dificuldades semelhantes. Twain havia passado muitas tardes no laboratório do outro, na South Fifth Avenue, e os dois tinham-se tornado grandes amigos.
— Bom, talvez beba um copo... — concedeu Nikola, suspirando.
Atravessaram a rua em direção ao pórtico iluminado pelas luzes silibantes. Porém, antes que conseguissem alcançá-lo, uma figura surgiu das sombras e abordou-os.
— Graças a Deus! — disse o homem. — O teu porteiro disse-me que devias estar por aqui.
Momentaneamente surpreendido, Twain reconheceu por fim o sujeito. Deu-lhe uma palmada no ombro, satisfeito de o ver ali.
— Stanley! Bons olhos te vejam! Que fazes por aqui? Julgava-te em Inglaterra.
— Cheguei ontem.
— Que bom. Creio que a ocasião merece ser celebrada com uma bebida ou duas. Ou três.
Twain avançou, a fim de arrastar os outros para o interior do clube, mas Stanley deteve-o antes de alcançar a porta.
— Segundo sei, és amigo pessoal de Thomas Edison.
— Sim... calculo que seja — hesitou Twain, consciente da feroz rivalidade entre Edison e o seu companheiro dessa noite, Nikola Tesla.
— Tenho um assunto urgente para discutir com ele — continuou Stanley. — Na verdade, uma coisa para lhe mostrar, a pedido da Coroa britânica.
— Estás a falar a sério? Isso é por demais fascinante...
— Talvez eu possa ajudar? — sugeriu Nikola.
Uma vez que os outros dois não se conheciam, Twain encarregou-se de fazer as apresentações, assumindo o papel de potencial casamenteiro em tão estranha circunstância.
— Nikola, apresento-te Henry Morton Stanley, ou Sir Stanley, caso os rumores se confirmem. Um reconhecido explorador por direito próprio, mas também pela descoberta do paradeiro de David Livingstone, outro explorador notório, que havia desparecido no coração de África.
— Ah! — disse Nikola —, lembro-me bem dessa história. Sobretudo da maneira como o cumprimentou... «Doutor Livingstone, calculo?»
— Nunca disse essas palavras... — resmungou Stanley.
Twain sorriu e virou-se para o outro amigo.
— E este é Nikola Tesla, um génio tão brilhante como o Edison, ou mais até...
Stanley arregalou os olhos.
— Claro que sim. Peço desculpa, deveria tê-lo reconhecido.
O comentário fez ruborizar as faces pálidas de Nikola.
— Posto isto, meu caro Stanley — continuou Twain —, que missão é essa que te foi atribuída pela Coroa britânica?
Stanley passou a palma da mão húmida pelos cabelos ralos e grisalhos.
— Como sabem, o Livingstone perdeu-se em África enquanto procurava a fonte do rio Nilo, algo que eu próprio tentei descobrir no passado.
— Sim, tu e uma série de compatriotas teus. Parece que, para vocês, ingleses, é uma demanda tão importante quanto a do Santo Graal.
Stanley franziu o sobrolho, mas não descartou a comparação.
Twain suspeitava que o interesse por trás de tamanho esforço tinha menos que ver com a curiosidade geográfica e mais com as ambições coloniais britânicas em África. Todavia, mordeu a língua e deixou-se ficar calado, receando melindrar o amigo antes que o mistério se revelasse.
— Bom, e qual é o interesse da Coroa britânica na origem do Nilo? — insistiu Twain.
Stanley puxou-o para mais perto de si e retirou um objeto do bolso. Era um frasco de vidro, com um líquido escuro.
— Isto foi recentemente descoberto entre as relíquias que fazem parte do espólio de Livingstone. Um guerreiro núbio, alguém a quem David ajudou a salvar o filho doente, ofereceu-lhe um talismã ancestral: um pequeno recipiente selado com cera e decorado de hieróglifos. Este frasco contém uma amostra da água que se encontrava no interior do talismã. Segundo as alegações da tribo do homem, terá sido recolhida no rio Nilo.
Twain encolheu os ombros.
— E daí? Que tem isso de tão especial?
Stanley recuou um passo e ergueu o frasco contra a luz dos candeeiros. O líquido no interior adquiriu um tom vermelho-vivo.
— De acordo com as anotações de Livingstone, esta amostra de água tem milhares de anos. Por outras palavras, terá sido recolhida quando as águas do Nilo se transformaram em sangue.
— Em sangue? — perguntou Nikola. — Como no Velho Testamento?
Twain sorriu, convencido de que o amigo estava a tentar pregar-lhe uma partida. O outro sabia do seu profundo desdém pelas instituições religiosas, assunto sobre o qual haviam tido inúmeras discussões no passado. Algumas delas bem acesas, diga-se de passagem.
— Estás a sugerir, portanto, que isso tem alguma coisa que ver com as pragas bíblicas de Moisés... com a primeira das dez que lançou sobre os egípcios?
A expressão de Stanley manteve-se inalterável.
— Sei que parece uma conversa de malucos...
— Eu acho que não fazes a mais pequena ideia do que parece.
— Vinte e dois membros da Royal Society estão mortos. Foram chacinados quando o talismã foi aberto pela primeira vez, para testar o conteúdo em laboratório.
Fez-se um momento de silêncio.
— Que aconteceu? — perguntou por fim Nikola. — O talismã continha algum tipo de veneno?
O rosto de Stanley tornara-se pálido como cal. Ali estava um homem que, sem nunca mostrar uma ponta de receio, enfrentara predadores temíveis, febres debilitantes e canibais selvagens. No entanto, nesse momento, parecia nada menos do que aterrorizado.
— Não era veneno...
— O que era, então? — quis saber Twain.
— Uma maldição... — respondeu Stanley, com a expressão mais séria do mundo. — Uma praga do passado distante. — Apertou os dedos contra o frasco. — Porque isto é o que sobrou da antiga ira de Deus sobre o povo egípcio. E apenas o começo do que está para vir, se não fizermos nada.
— Que queres dizer com isso? — perguntou Twain.
— Preciso que regressem comigo a Inglaterra.
— A Inglaterra? Para quê?
— Para impedir a praga que se segue...
PRIMEIRA PARTE
MUMIFICAÇÃO
1
Presente
28 de maio, 11h32 EET
Cairo, Egito
Pelo comportamento nervoso do médico-legista, Derek Rankin percebeu que havia qualquer coisa de errado.
— Mostre-nos o corpo.
O doutor Badawi anuiu com a cabeça e ergueu um braço na direção do elevador.
— Sigam-me, por favor.
Enquanto o médico indicava o caminho, Derek olhou de relance para as duas mulheres que o acompanhavam, pouco certo de como iriam lidar com o desfecho daquela viagem sombria. A mais velha, Safia al-Maaz, era uns vinte centímetros mais alta do que a sua jovem companheira, Jane McCabe. O grupo voara de Londres nessa manhã a bordo de um jato privado, aterrando no aeroporto do Cairo antes de ser levado para as instalações da morgue municipal, um aglomerado indistinto de edifícios azuis nas margens do Nilo.
Enquanto caminhavam atrás do médico, Safia pousara um braço protetor e maternal por cima do ombro de Jane, que contava apenas vinte e um anos de idade.
O olhar de Derek cruzou-se com o de Safia, perguntando-lhe silenciosamente:
A Jane consegue lidar com isto?
Safia respirou fundo e fez que sim com a cabeça. Era chefe dele e curadora principal no Museu Britânico. Derek juntara-se à equipa do museu há alguns anos, como curador assistente. Era doutorado em arqueologia biológica, e nutria um interesse especial pela investigação da saúde humana ao longo da história. Pelo estudo de dentes, ossadas e tecidos, o seu trabalho consistia em determinar um quadro fidedigno da condição física de povos antigos, calculando até, por vezes, a causa de morte de certos indivíduos. Nos tempos em que trabalhara como investigador na Universidade de Londres, estudara algumas das mais funestas epidemias da história, como a Peste Negra ou a Grande Fome na Irlanda.
O seu atual projeto no Museu Britânico envolvia a análise de múmias que haviam sido descobertas na região em torno da Sexta Catarata do Nilo, no Sudão, onde começara a ser erguida uma nova barragem. Aquela zona árida encontrava-se pouco estudada, porém, com os trabalhos de construção a avançarem a todo o vapor, a Sociedade Arqueológica do Sudão solicitara a ajuda do Museu Britânico, a fim de salvar os vários tesouros arqueológicos que ali se escondiam, antes que se perdessem para sempre. Só nos últimos meses, o projeto permitira a recuperação de quantidades significativas de peças de interesse arqueológico, o que incluía a recuperação e o transporte de trezentos e noventa blocos de pedra de uma pequena pirâmide núbia.
Fora precisamente esse projeto que os conduzira até ali; um projeto que muitos consideravam amaldiçoado por causa do desaparecimento do investigador principal, dois anos antes, juntamente com uma equipa inteira de colaboradores. Depois de meses de buscas infrutíferas, o desaparecimento do grupo acabou por ser atribuído a ato criminoso, em parte pela instabilidade política e social vivida na região no seguimento das revoluções da Primavera Árabe. Ainda que metade dos membros da equipa fossem sudaneses, a presença de estrangeiros continuava a ser desaconselhada, sobretudo em áreas tão remotas, dominadas por rebeldes e bandidos. A hipótese de ataque terrorista chegou a ser posta em cima da mesa, mas nenhum grupo reivindicou o ato, tão-pouco se registou qualquer pedido de resgate.
Fosse como fosse, o museu inteiro ficara abalado por tamanha perda. Apesar de pouco querido, por causa da sua natureza quezilenta, o investigador principal, o professor Harold McCabe, era um profissional bastante respeitado na sua área. Tinha sido por ele, aliás, que Derek decidira juntar-se ao projeto. McCabe fora professor e mentor de Derek nos primeiros anos na Universidade de Londres e, mais tarde, ajudara-o a conseguir a posição de investigador na instituição.
A verdade é que a morte daquele homem atingira Derek profundamente. Todavia, em nada se comparava com o golpe que representava para a jovem mulher que o acompanhava nesse momento.
Observou Jane McCabe enquanto ela entrava no elevador. A jovem mantinha-se em silêncio, os braços cruzados e o olhar perdido num qualquer lugar a milhares de quilómetros de distância. Era filha de Harold. Derek notou a fina camada de suor na testa e no lábio superior. O calor que se fazia sentir lá fora era sufocante, e o ar condicionado no interior da morgue pouco ajudava. Ainda assim, Derek suspeitava que o suor de Jane tinha menos que ver com a temperatura e mais com o que a jovem se preparava para enfrentar.
Antes de as portas do elevador se fecharem, Safia pousou a mão no cotovelo dela.
— Jane, ainda podes esperar aqui... Conheço o teu pai o suficiente para fazer a identificação sozinha.
Derek concordou com a cabeça, esticando prontamente o braço para impedir as portas de se fecharem.
O olhar de Jane estabilizou e endureceu.
— Preciso de fazer isto. Depois de dois anos sem saber o que aconteceu ao meu pai, ou ao meu irmão, não posso pura e simplesmente...
A voz fugiu-lhe antes de completar a frase, o que apenas pareceu irritá-la. O seu irmão, Rory, acompanhara o pai no dia da fatídica expedição, desaparecendo com todos os outros e deixando Jane sozinha no mundo. A mãe morrera há seis anos, no seguimento de uma longa batalha contra um cancro nos ovários.
Inclinou-se e deu uma palmada no braço de Derek, permitindo que as portas do elevador se fechassem.
Safia suspirou, resignada com a decisão da jovem.
Derek não esperava um desfecho diferente. Jane era demasiado parecida com o pai: teimosa, determinada e igualmente brilhante, por mérito próprio. Conhecia-a há anos, tantos quantos os que conhecia o pai. Na altura, Jane tinha apenas dezasseis anos e frequentava já a mesma universidade, graças a um programa acelerado de bacharelatos. Com dezanove anos, concluíra um doutoramento em antropologia, e encontrava-se agora a fazer um pós-doutoramento, nitidamente determinada a seguir as pegadas do pai.
Em vez disso, o destino conduzira-a até ali.
Enquanto o elevador descia, Derek continuou a observar as duas mulheres. Ambas partilhavam a mesma paixão por antiguidades, no entanto, não podiam ser mais diferentes. A herança do Médio Oriente era bem patente em Safia, quer pela tez morena quer pelos cabelos negros, parcialmente cobertos por um lenço de seda. Vestia umas simples calças pretas e uma blusa azul de mangas compridas. O tom de voz era suave; todavia, era o tipo de pessoa capaz de imprimir a mais absoluta autoridade sobre os outros. Aqueles olhos verde-esmeralda conseguiam gelar o coração de um homem, caso fosse necessário.
Jane, por seu turno, tinha muito do pai, escocês de gema. O cabelo era ruivo incandescente, penteado com um corte curto e masculino. Para mal dos pecados de quem a rodeava, a sua personalidade era tão fogosa quanto a cor de cabelo. Derek ouvira várias histórias das discussões acesas com colegas, até com professores, caso discordassem dela. Era claramente filha de quem era, mas havia uma diferença ou outra entre ela e o pai. A pele do rosto de Harold tinha sido curtida pelo sol do deserto ao longo de décadas, enquanto a de Jane era pálida e suave dos anos que passara enfiada em bibliotecas. As únicas marcas naquele rosto de alabastro eram as pequenas sardas no nariz e maçãs do rosto, conferindo-lhe um ar de menina que alguns tomavam por ingenuidade.
Derek não fazia parte desse grupo.
Assim que o elevador parou na cave e as portas se abriram, a cabina foi invadida por um cheiro intenso a lixívia, juntamente com um leve, embora presente, odor fétido. O doutor Badawi avançou e conduziu-os por um corredor com paredes de cimento deslavadas e o chão forrado a linóleo. O médico-legista caminhava depressa, a sua pequena estatura envolta por uma bata de laboratório branca, cujo comprimento lhe dava pelo joelho. Era óbvio que queria livrar-se daquele assunto o mais rápido possível, mas havia mais qualquer coisa a enervá-lo.
Badawi chegou ao final do corredor e desviou uma cortina de plástico que dava acesso a uma pequena sala. Os outros seguiram-lhe os passos. No centro da divisão, havia uma marquesa de aço inoxidável com um cadáver coberto por um lençol.
Apesar de ter insistido para estar presente, Jane hesitou. Safia deixou-se ficar para trás, junto dela, enquanto Derek seguia o médico até à marquesa. Nas suas costas, Derek ouviu Jane murmurar que estava tudo bem.
Badawi olhou por cima do ombro para as duas mulheres, esbarrando nervosamente contra uma balança pendurada na marquesa.
— Se calhar, é melhor o senhor ver primeiro — sussurrou a Derek. — Talvez seja impróprio para uma mulher estar aqui numa altura destas.
Jane ouviu o comentário e reagiu de imediato ao tom misógino daquelas palavras.
— Não! — disse, avançando prontamente com Safia. — Preciso de ter a certeza de que é o meu pai.
Derek olhou para o rosto dela, retirando um pouco mais da leitura da sua expressão. Jane queria respostas, uma explicação para os anos de incerteza e de falsas esperanças. Mais do que isso, precisava de se libertar do fantasma do pai.
— Acabemos com isto — instou Safia.
Badawi anuiu com a cabeça. Aproximou-se da marquesa, levantou a metade superior do lençol e dobrou-a para trás, expondo a cabeça e o tronco nu do cadáver.
Derek recuou em reflexo, horrorizado. A primeira reação foi de negação. Aquilo não podia ser o corpo de Harold McCabe. O cadáver na marquesa parecia algo retirado das areias do deserto, depois de ter permanecido enterrado durante séculos. A pele afundara-se e colara-se aos contornos aguçados dos ossos do rosto e costelas. Ainda mais estranho, a cor era castanho-escura, com um toque de brilho, como se tivesse sido envernizada. Contudo, ultrapassado o choque inicial, Derek notou os fios de cabelos ruivos no escalpe do cadáver, assim como na barba, igualmente ruiva, e soube que a sua primeira avaliação estava errada.
Jane também o percebera.
— Pai...
Derek olhou para as duas mulheres. O desespero e a angústia haviam tomado conta da expressão de Jane. A jovem virou costas e afundou o rosto no peito de Safia. O semblante desta mostrava-se quase tão triste quanto o da rapariga. Safia conhecia Harold há muito mais tempo do que ele. Porém, Derek também lhe notara o vinco de perplexidade entre as sobrancelhas.
Derek conseguia adivinhar o motivo da consternação de Safia. Procurou obter respostas junto do médico-legista.
— Pensava que o professor McCabe ainda se encontrava vivo, quando o descobriram há dez dias...
Badawi fez que sim com cabeça.
— Uma família de nómadas encontrou-o aos tropeções no deserto, semi-inconsciente, mais ou menos a um quilómetro de Rufaa. — Deitou um olhar solidário a Jane. — Levaram-no numa carreta para a vila, mas acabou por morrer antes que conseguissem pedir ajuda.
— Isso não faz sentido — notou Safia. — Deve estar morto há mais tempo.
Derek concordava com Safia, já que tivera a mesma reação visceral. Mesmo assim, voltou a observar o cadáver, intrigado com outro mistério.
— Disse que o corpo chegou há dois dias numa carrinha e ninguém o embalsamou, que apenas o envolveram em plástico. O veículo possuía sistema de refrigeração?
— Não. Mas o corpo foi guardado numa câmara frigorífica mal chegou à morgue.
Derek olhou para Safia.
— Passaram dez dias, a maior parte deles com o cadáver exposto a temperaturas sufocantes. Apesar disso, não encontro sinais claros de decomposição, nenhum inchaço nem gretas na pele. É como se tivesse sido preservado.
O único dano visível resultara da autópsia: a famosa incisão em forma de Y ao longo do tronco. Derek estudara o relatório do médico-legista durante o voo de Londres. A causa de morte não fora confirmada, mas a exposição ao calor e a desidratação pareciam ser os prováveis culpados. Ainda assim, esse diagnóstico de pouco ou nada servia para explicar a verdadeira história por trás do desaparecimento e morte do professor McCabe.
Onde estivera ele aquele tempo todo?
Safia deu voz a essa mesma pergunta.
— Conseguiu alguma informação da parte dessa família de nómadas? O professor McCabe forneceu alguma explicação sobre o seu paradeiro antes de ser encontrado no deserto? Houve alguma novidade acerca do filho ou dos outros?
Badawi baixou a cabeça e fitou os dedos dos pés.
— Nada que faça sentido — respondeu. — Ele estava demasiado fraco, delirante, e o grupo que o encontrou apenas falava o dialeto árabe sudanês.
— O meu pai era fluente em vários dialetos árabes — pressionou Jane.
— É verdade — confirmou Safia. — Se há alguma coisa que tenha comunicado antes de morrer...
O médico suspirou.
— Não incluí nada disto no relatório, mas um dos nómadas afirmou que o professor McCabe disse qualquer coisa acerca de ter sido engolido por um gigante.
Safia franziu o sobrolho.
— Engolido por um gigante?
Badawi encolheu os ombros.
— É como lhes disse, ele encontrava-se severamente desidratado e delirante.
— Não disse mais nada? — insistiu Safia.
— Apenas uma palavra... murmurou-a repetidamente enquanto era levado para a vila de Rufaa.
— E que palavra foi essa?
O médico fez um sinal com a cabeça na direção da mulher mais jovem.
— Jane.
A jovem estremeceu perante aquela revelação, mostrando-se tão ferida quanto perdida.
Enquanto Safia a consolava, Derek aproveitou a ocasião para examinar discretamente o cadáver. Beliscou e testou a elasticidade da pele. Parecia endurecida, como se fosse couro. Em seguida, segurou uma das mãos ossudas e examinou as unhas. Apresentavam uma tonalidade amarela peculiar.
Virou-se para Badawi.
— O relatório diz que encontrou pedras no interior do estômago, todas do mesmo tamanho e formato.
— Sim. Pareciam ovos de codorniz.
— Também encontrou pedaços do que julga ser casca de árvore.
— Correto. Creio que o professor se viu obrigado a comer tudo o que podia encontrar no deserto, quando mais não fosse para atenuar as dores da fome.
— Ou talvez exista outra razão para justificar a presença destes objetos.
— Que razão? — perguntou Safia, ainda a amparar Jane.
Derek afastou-se da marquesa.
— Preciso de fazer mais testes para confirmar a minha suspeita: biópsias à pele, por exemplo, e com toda a certeza um estudo toxicológico dos conteúdos gástricos. — Percorreu uma lista mental dos exames que queria ver feitos. — Mais importante do que tudo, preciso de uma ressonância magnética cerebral.
— Qual é a tua teoria? — insistiu Safia.
— Daquilo que vejo, pelo aspeto antigo e o peculiar estado de preservação do cadáver, diria que o professor McCabe foi sujeito a um processo de mumificação.
O médico-legista estremeceu, mostrando-se tão ultrajado quanto desgostoso.
— Posso garantir-lhe que ninguém molestou o corpo deste homem depois de morto. Ninguém se atreveria...
— Não foi isso que eu quis dizer, doutor Badawi. Não acredito que o professor tenha sido mumificado depois de morto — Derek fitou Safia —, mas sim antes...
16h32
Cinco horas depois, Derek debruçou-se sobre uma fileira de ecrãs de computadores. Acima dele, havia um painel de janelas com vista para uma unidade de IRM, com a sua longa mesa e o gigante tubo branco magnético.
Por causa de problemas burocráticos, não lhes fora permitido levar o corpo de McCabe de volta para Inglaterra até ao dia seguinte. Em resultado disso, Derek procurara obter o máximo de pormenores do cadáver antes que o estado de decomposição se agravasse. Recolhera amostras de pele e cabelo, e pedira ao doutor Badawi para guardar e selar o estranho conteúdo do estômago: as pedras semelhantes a ovos de codorniz e o que parecia ser casca de árvore por digerir. Por fim, o médico também lhe facilitara o acesso à unidade de IRM do hospital vizinho.
Derek estudou os resultados da segunda ressonância magnética. O ecrã exibia uma imagem parassagital da cabeça de McCabe, mostrando um corte lateral do crânio do professor. O arco do crânio, a passagem nasal e as órbitas encontravam-se bem definidas pelas poderosas forças magnéticas e ondas de rádio do aparelho. O cérebro, porém, não passava de uma mancha cinzenta impercetível. Não era bem o que esperava encontrar.
— Estes resultados são ainda menos conclusivos do que os primeiros — declarou Safia, espreitando por cima do ombro dele.
Derek assentiu. A primeira imagem de ressonância magnética apanhara alguns pormenores da superfície do cérebro, como os sulcos e giros. Ainda assim, Derek ficara insatisfeito e requisitara uma repetição do exame, antes de o corpo ser devolvido à morgue. Para mal dos seus pecados, os resultados do segundo exame eram ainda mais dececionantes.
Derek recostou-se na cadeira.
— Não sei se é um problema de calibração da máquina ou apenas a degradação natural do processo de decomposição do corpo.
— E se tentássemos outra vez?
Derek fitou a unidade de IRM vazia e abanou a cabeça. O corpo tinha sido devolvido à morgue.
— A partir daqui, creio que a única opção é conservarmos o que pudermos antes que a decomposição se agrave. Pedi ao doutor Badawi para recolher uma amostra de líquido cefalorraquidiano, e também para remover o cérebro, para que possamos preservá-lo em formol e examiná-lo convenientemente, assim que regressarmos a Londres.
Safia franziu o sobrolho.
— A Jane sabe disso?
— Pedi-lhe autorização antes de ela voltar para o hotel.
Depois de identificar os restos mortais e de preencher a papelada obrigatória, o estado de espírito de Jane atingira um novo ponto baixo. Mesmo assim, Derek informara-a de tudo o que pretendia fazer antes de repatriarem o corpo para Inglaterra. Jane concordara, uma vez que queria tanto respostas quanto ele, ou mais até. Só não fazia nenhuma tenção de estar presente durante esses procedimentos. Havia limites para o que conseguia suportar.
Safia suspirou.
— Bom, nesse caso, não podemos fazer mais nada, acho eu.
Derek esticou as costas e anuiu.
— Vou regressar à morgue e certificar-me de que está tudo em ordem. Talvez queiras voltar ao hotel para veres como está a...
O toque de um telefone cortou-lhe a palavra. O técnico da unidade de IRM pegou no auscultador, disse algumas palavras e, em seguida, virou-se para Derek.
— É o doutor Badawi. Precisa de falar consigo.
Derek franziu o sobrolho, intrigado. Pegou no auscultador.
— Doutor Badawi?
— Preciso que venha imediatamente! — disparou o médico, o tom de voz urgente, desesperado. — Tem de ver isto com os seus próprios olhos!
Derek quis saber o que se passava, mas Badawi recusou-se a adiantar pormenores, reforçando apenas a urgência do seu pedido. Derek desligou o telefone e explicou a situação a Safia.
— Vou contigo! — disse ela.
Os dois abandonaram o hospital e apressaram-se a percorrer os dois quarteirões que os separavam da morgue. Lá fora, a luz do sol parecia capaz de cegar depois de terem passado tantas horas dentro de portas, e o calor, praticamente insuportável, ameaçava escaldar-lhes os pulmões a cada inspiração.
Enquanto atravessavam as ruas apinhadas de gente, Safia parecia pouco incomodada com a temperatura tórrida, caminhando ao lado dele sem mostras de nenhum esforço físico.
— Derek, disseste que acreditavas que o Harold fora sujeito a um processo qualquer que poderia explicar o estado invulgar do corpo. O que querias dizer quando sugeriste que ele pode ter sido «mumificado» antes de morrer?
Derek tentara evitar aquela conversa, e repreendeu-se novamente por ter aberto a boca demasiado cedo. Até serem confirmadas, as suas palavras apenas tinham servido para aumentar a ansiedade de Jane. Como tal, não devia ter falado no assunto.
Sentiu o rosto enrubescer, e não só por causa do calor.
— É apenas uma hipótese... e um pouco louca, para ser sincero. Não devia tê-la mencionado. Pelo menos, por enquanto.
— Seja como for, diz-me o que estás a pensar.
Derek suspirou.
— Chama-se automumificação. É um processo que permite preparar deliberadamente o corpo em vida, a fim de preservá-lo após a morte. É uma prática comum entre os monges do Extremo Oriente. Sobretudo na China e no Japão. No entanto, o ritual também já foi observado em alguns cultos na Índia e entre ascetas do Médio Oriente.
— Mas... para quê sujeitarem-se a uma coisa dessas? Parece-me uma forma de suicídio, para dizer o mínimo.
— Pelo contrário. Para a maioria deles, trata-se de um ato espiritual, um caminho para a imortalidade. Uma vez preservados, os restos mortais tornam-se objeto da adoração dos seus pares. Estes homens acreditam que os corpos mumificados são recetáculos milagrosos, capazes de albergar poderes divinos e de conceder bênçãos a quem os venera.
Safia aclarou a garganta, em jeito de escárnio.
Derek encolheu os ombros.
— Se pensarmos bem, não estamos apenas a falar de cultos obscuros. Os católicos também olham para a incorruptibilidade de um cadáver como uma prova de santidade.
Safia fitou-o.
— Muito bem. Partindo do princípio de que isso é tudo verdade, como é que alguém se «mumifica» a si mesmo?
— O processo varia de cultura para cultura, mas existem elementos comuns. Primeiro, não é coisa que se faça do dia para a noite, como é bom de ver. Demora anos. Começa com uma alteração drástica nos hábitos alimentares, evitando o consumo de todo o tipo de cereais e mantendo um regime exclusivo de nozes, agulhas de pinheiro, bagas e uma casca de árvore rica em resina. No Japão, os praticantes desta arte ancestral, conhecidos por sokushinbutsu, ou budas de carne e osso, chamam a esta dieta mokujikyo, ou «comer árvores».
— Estás a dizer que a tua suspeita se deve a o doutor Badawi ter encontrado cascas de árvore no estômago do Harold?
— As cascas e as pedras... existem radiografias de múmias sokushinbutsu que revelaram a presença destas nos seus estômagos.
— Mas como é que alguma dessas coisas preserva um corpo depois de morto?
— A teoria aceite é que certas ervas, toxinas e resinas, depois de infundidas nos tecidos pelo consumo prolongado, têm um efeito antimicrobiano, inibindo o desenvolvimento de bactérias após a morte e agindo como um agente natural de embalsamamento.
Safia pareceu agoniada com essa imagem. Derek prosseguiu:
— A última etapa do processo consiste em enclausurar o sujeito numa câmara funerária com uma pequena abertura para permitir a entrada de ar. No Japão, os monges que se sujeitavam ao processo entoavam cânticos e tocavam uma sineta até morrerem. Só então os outros selavam o túmulo, aguardando pelo menos três anos antes de o voltarem a abrir para confirmar se o monge fora bem-sucedido.
— Para confirmar o bom estado do cadáver, portanto.
Derek assentiu.
— Se estivesse em condições, defumavam o corpo com incenso para garantir ainda mais a sua preservação.
— E acreditas que o Harold fez isso a si mesmo?
— Não sei. Pode ter sido obrigado pelos seus captores. Seja como for, o ritual não foi concluído. Diria que o procedimento de Harold foi iniciado há dois ou três meses.
— Se estiveres certo, pode dar-nos alguma pista acerca de quem raptou a equipa.
— E alguma esperança de que os outros estejam vivos. Talvez estejam a ser mantidos em cativeiro e a passar pelo mesmo processo. Incluindo o irmão de Jane, Rory. Se conseguirmos encontrá-los rapidamente, podemos tratá-los a tempo de recuperarem por completo.
Safia mordeu os lábios por uns segundos.
— Achas que consegues identificar o tipo de árvore pelos pedaços de casca? Se soubermos a espécie, pode ajudar-nos quanto à localização.
— Não tinha pensado nisso. Mas, sim, é uma possibilidade.
Por esta altura, já se encontravam à porta da morgue. Subiram os degraus e entraram. No interior do edifício, a temperatura do ar era cem vezes mais fresca. Uma mulher, pequena, vestida com um uniforme verde, apressou-se a atravessar o átrio e veio ao encontro deles.
Cumprimentou Derek com um breve movimento de cabeça, depois Safia.
— O doutor Badawi pediu-me para os conduzir diretamente até ele.
Antes que a mulher pudesse virar costas, Derek notou-lhe uma centelha de medo no olhar. Talvez se sentisse intimidada pelo seu chefe, mas Derek suspeitava de que se tratava de algo mais sombrio. Deu consigo a apressar-se atrás dela, interrogando-se sobre o que estava a acontecer.
A mulher desceu uma escadaria que dava acesso a outra secção da morgue e levou-os para uma sala com arquibancadas e uma enorme janela com vista para o interior de um laboratório de patologia.
No outro lado do vidro, uma mesa de aço inoxidável ocupava o centro do espaço, com um candeeiro de halogéneo suspenso sobre ela. Tanto a morgue como o hospital vizinho estavam afiliados com a Universidade de Medicina do Cairo, pelo que a sala destinava-se claramente à observação de autópsias por parte dos estudantes de medicina.
Naquele momento, porém, Derek e Safia constituíam a única audiência, juntamente com a mulher que os acompanhava. No laboratório, um grupo de homens atarefava-se ao redor da mesa, vestidos com batas de cirurgia e com os rostos obscurecidos por máscaras de papel. Apercebendo-se da chegada de ambos, Badawi ergueu um braço e alcançou um microfone sem fios, aproximando-o dos lábios escondidos. As suas palavras fizeram-se ouvir através de um pequeno altifalante acima da janela de observação.
— Não sei qual é o significado disto tudo, mas, antes de continuar com a remoção do cérebro, quero que testemunhem o que encontrámos. Tomei, além disso, a liberdade de filmar o procedimento.
— Que foi que encontrou? — perguntou Derek, elevando o tom de voz. A mulher apontou para o intercomunicador ao lado da janela. Derek aproximou-se do aparelho, carregou no botão e repetiu a pergunta.
Badawi fez sinal aos outros para que recuassem um pouco. O corpo do arqueólogo sexagenário encontrava-se nu sobre a mesa, banhado pela luz intensa das lâmpadas de halogéneo. Por uma questão de pudor, os órgãos genitais estavam cobertos com um pedaço de tecido. Um segundo pano cirúrgico cobria-lhe o topo do crânio, que se encontrava virado para a janela de observação, devido ao posicionamento da mesa.
— Recolhemos uma amostra do líquido cefalorraquidiano, tal como pediu — explicou Badawi —, e tínhamos começado a remover o cérebro.
O médico retirou o pano cirúrgico, para mostrar que a equipa removera o escalpe e serrara toda a circunferência do crânio. Retirou o topo do crânio, o qual deveria ter sido recolocado depois de Badawi ter acedido pela primeira vez ao cérebro.
Derek olhou de relance para Safia, a fim de se certificar que ela estava em condições de assistir a uma coisa daquelas. A postura parecia um pouco rígida, os punhos cerrados à altura da cintura, mas não parecia disposta a arredar pé.
Badawi pousou a secção do crânio na mesa e recuou. Expostos, os dois hemisférios cinza-rosa do cérebro cintilaram sob a luz das lâmpadas, cobertos pelas dobras de tecido meníngeo.
Para Derek, era uma visão incompreensível. Afinal de contas, estava a olhar para a fonte do génio do seu mentor. Vieram-lhe à memória as inúmeras ocasiões em que conversara com o seu amigo pela noite dentro, cobrindo assuntos tão diferentes como a análise dos últimos artigos científicos ou quais as seleções que reuniam as melhores condições para vencer o Mundial de Futebol. Aquele homem tinha uma gargalhada que lembrava um urso ferido, e um temperamento a condizer, diga-se de passagem. Porém, era também um dos homens mais gentis que conhecera, cujo amor pela mulher e pelos filhos tinha tanto de inesgotável como de inquestionável.
Agora, tudo isso desaparecera...
A voz de Badawi despertou-o dos seus pensamentos.
— ... por isso, termos reparado no fenómeno foi nada menos do que um golpe de sorte.
Qual fenómeno?, pensou Derek, uma vez que não registara as primeiras palavras do médico.
Badawi fez sinal a um dos elementos da equipa. O outro apagou o candeeiro cirúrgico e diminuiu a intensidade das restantes luzes da sala. Derek foi obrigado a pestanejar várias vezes, antes que conseguisse acreditar nos próprios olhos. Ao seu lado, Safia soltou uma exclamação de espanto, confirmando a mesma visão.
Do interior das ruínas do crânio do seu mentor, o cérebro e os tecidos meníngeos trespassavam suavemente a escuridão com um brilho rosado, semelhante aos primeiros tons da alvorada.
— O brilho era bem mais intenso há pouco — sublinhou Badawi. — O efeito parece estar a desvanecer-se.
— Que está a causar isto? — perguntou Safia, dando voz à questão que também ecoava na cabeça de Derek.
Derek esforçava-se por compreender. Recordou as palavras que trocara com Safia há momentos, quando lhe dissera que um dos objetivos da automumificação era criar um recetáculo incorruptível, um cálice imortal, capaz de preservar o divino.
Será o que estou a testemunhar?
Safia virou-se para ele.
— Chega de exames! Precisamos de embalar e selar o cadáver. Quero transportá-lo para Londres imediatamente.
Derek ficou sem reação perante o tom abrupto e urgente de Safia.
— Mas... não temos autorização para isso... pelo menos, até amanhã.
— Eu trato disso! — retorquiu Safia, segura de si.
— Mesmo assim, o que estamos a ver encontra-se para lá das minhas competências — notou Derek. — Vamos precisar de ajuda.
— Não te preocupes. — Safia apressou-se em direção à porta. — Conheço a pessoa indicada para isso.
— Quem?
— Um velho amigo que me deve um favor.
2
30 de maio, 11h45 EDT
Washington, D.C.
Painter Crowe encontrava-se sentado à secretária a olhar para uma miragem do passado. O rosto de Safia al-Maaz preenchia a totalidade do ecrã do computador. A última vez que o vira fora há uma década, sob o sol escaldante do deserto de Rub ‘al Khali, o vasto Quarteirão Vazio da península Arábica. Um turbilhão de velhos sentimentos agitavam-lhe o peito, sobretudo quando ela sorria. Os olhos dela cintilavam de entusiasmo; parecia igualmente feliz de o ver.
Os dois tinham-se conhecido quando Painter era apenas um operacional da Força Sigma, no tempo em que a recém-criada agência se encontrava sob o comando do seu mentor, Sean McKnight. A organização clandestina que operava sob a égide da DARPA, a agência de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa, era composta por ex-elementos das Forças Especiais que haviam sido treinados em várias disciplinas científicas, a fim de poderem servir a DARPA como operacionais no terreno.
Dez anos passados, Painter encontrava-se agora ao leme da Sigma. Porém, não era a única coisa que tinha mudado.
Safia ajeitou uma madeixa dos seus cabelos negros.
— Não estava a par da novidade — disse, mantendo os dedos junto à orelha.
Painter tocou no próprio cabelo, que se tornara totalmente branco nessa mesma zona em consequência de um episódio traumático ocorrido há muito tempo. Continuava a contrastar com o resto da espessa cabeleira negra, dando a ideia de que usava uma pena branca entalada por trás da orelha. Quando mais não fosse, servia para reforçar a sua herança nativo-americana.
Ergueu uma das sobrancelhas.
— Calculo que também tenha umas rugas a acompanhar.
Antes que pudesse baixar a mão, Safia apercebeu-se de outra mudança.
— O que é isso? Uma aliança?
Painter sorriu, rodando o anel de metal dourado no dedo anelar.
— Que queres que te diga? Finalmente houve alguém que aceitou casar-se comigo.
— É uma mulher de sorte.
— Não, eu é que tive sorte. — Painter baixou a mão e desviou o assunto. — E o Omaha, como está?
Safia suspirou e lançou-lhe um olhar exasperado por ter mencionado o nome do marido, o doutor Omaha Dunn, um arqueológo que, vá lá saber-se como, conquistara o afeto daquela mulher brilhante.
— Está com o irmão, Danny, numa escavação na Índia. Está lá há um mês. Tenho tentado falar com ele, mas, como é seu apanágio, deve ter-se enfiado num buraco qualquer onde a comunicação é, no mínimo, impossível.
— Foi por isso que me ligaste, portanto — disse Painter, tentando desanuviar o ambiente. — Estou condenado a ser a tua segunda escolha.
— Neste caso, não. — A postura de Safia tornou-se mais séria, o rosto ensombrado pela preocupação. Terminada a conversa de circunstância, avançou para o verdadeiro motivo do telefonema urgente. — Preciso da tua ajuda.
Painter endireitou-se na cadeira
— Claro, o que quiseres. Que se passa?
Safia baixou o olhar, provavelmente à procura da melhor maneira de começar.
— Não sei se estás a par de que o Museu Britânico está a supervisionar um projeto de salvamento de vestígios arqueológicos no norte do Sudão.
Painter esfregou o queixo. Aquilo soava-lhe familiar. Então, lembrou-se:
— Não houve um acidente qualquer logo no início?
Safia anuiu.
— Uma das nossas equipas desapareceu no deserto.
Recordado dos pormenores, Painter lembrava-se de ter recebido um memorando dos serviços secretos sobre o assunto.
— Se bem me lembro, o consenso geral foi que a equipa terá cruzado caminhos com os rebeldes da região, resultando na morte de toda a gente.
Safia franziu o sobrolho.
— Era o que pensávamos. No entanto, há dez dias, o chefe da equipa, o professor Harold McCabe, reapareceu do deserto profundo. Infelizmente, morreu antes de chegar ao hospital. As autoridades locais demoraram uma semana a identificá-lo pelas impressões digitais. Na verdade, regressei do Egito há apenas dois dias. O Harold era um bom amigo, e eu queria acompanhar o corpo no regresso a Londres.
— Lamento a tua perda.
Safia baixou os olhos.
— Também fui na esperança de que houvesse alguma pista do paradeiro dos outros, incluindo do filho dele, que fazia igualmente parte da equipa.
— E havia?
Safia suspirou.
— Nada. Pior do que isso, tropecei num mistério ainda maior. O corpo de Harold encontrava-se numa condição inexplicável. Um dos peritos do museu que me acompanhou acredita que o Harold foi sujeito a um processo qualquer de automumificação, cujo objetivo era preservar-lhe a carne depois de morto.
Painter franziu a testa perante essa imagem tão grotesca. Milhares de perguntas assomaram-lhe ao pensamento, todas ao mesmo tempo, mas permitiu que Safia prosseguisse o seu relato.
— Recolhemos amostras de pele e estamos a finalizar alguns testes para determinar o que aconteceu. Esperamos conseguir identificar algumas das ervas e plantas usadas no processo, já que podem ajudar-nos a descobrir onde o Harold esteve este tempo todo, ou de onde veio, pelo menos.
Bem visto, pensou Painter.
— No entanto, deparámo-nos com um pormenor que nos deixou boquiabertos. Uma estranha alteração nos tecidos do cérebro e sistema nervoso.
— Como assim?
— É melhor veres com os teus próprios olhos. — Safia executou um comando no teclado do computador. — Estou a enviar-te um vídeo. Foi filmado na morgue do Cairo por um assistente do médico-legista, há cerca de quarenta e oito horas.
Assim que o ícone do vídeo surgiu no seu computador, Painter clicou duas vezes para abrir o ficheiro. As primeiras imagens mostravam um qualquer alvoroço em torno de uma mesa de aço inoxidável. O vídeo não tinha som, porém, uma vez que ninguém falava, parecia-lhe evidente que havia algo que prendera a atenção do grupo. Uma das figuras, provavelmente o médico-legista, fez sinal para que os outros se afastassem, ao mesmo tempo que indicava ao operador da câmara para se aproximar. A imagem tremeu durante uns instantes para logo se fixar no cadáver em cima da mesa. O crânio tinha sido aberto, expondo a parte superior do cérebro. Subitamente, as luzes da sala apagaram-se. A causa de toda a agitação tornou-se imediatamente óbvia.
Painter inclinou-se sobre o ecrã.
— Estou a ver bem? — perguntou. — O interior do crânio deste homem está mesmo a brilhar?
— Sim — confirmou Safia. — Eu própria testemunhei o efeito, embora estivesse já a desvanecer-se quando cheguei à morgue.
Assim que o vídeo terminou, Painter voltou a concentrar a atenção em Safia.
— Sabes o que causou o efeito?
— Não. Ainda estamos a analisar os fluidos e os tecidos, mas estamos convencidos de que se trata de um agente químico ou biológico, algo a que o Harold foi exposto, com ou sem intenção. Seja o que for, a necessidade de descobrir a fonte do problema tornou-se essencial.
— Porquê?
— Por duas razões. A primeira tem que ver com um telefonema que fiz esta manhã para o doutor Badawi. Queria pressioná-lo por causa de uns relatórios que não chegaram aos nossos laboratórios. Em vez disso, fiquei a saber que ele e os outros elementos da sua equipa estão gravemente doentes. Os sintomas incluem febre alta, vómitos e tremores musculares.
Painter recordou que Safia lhe tinha dito que regressara do Egito há pouco mais de quarenta e oito horas.
— Ficaram assim em tão pouco tempo?
— O primeiro sintoma, a febre alta, surgiu oito horas depois de terem aberto o crânio do Harold. Agora, os familiares de todos os que estiveram expostos começaram a manifestar os mesmos sintomas iniciais. Foi instaurado um período de quarentena, mas, de momento, não temos maneira de saber quantas pessoas terão sido contagiadas.
Painter conhecia bem a cidade do Cairo. Sabia como seria difícil isolar um lugar tão densamente povoado e caótico, sobretudo se o pânico tomasse conta das ruas.
Uma preocupação mais imediata sobreveio-lhe ao pensamento.
— E tu? Estás bem?
— Sim. Assisti à autópsia de uma sala de observação. Ou seja, nunca meti um pé no interior do laboratório. No entanto, quando nos deparámos com a estranha condição do cadáver, dei instruções para que o corpo fosse imediatamente selado, juntamente com as amostras de tecido.
— E quando o corpo chegou a Londres?
O rosto de Safia fechou-se.
— Tomámos as precauções necessárias, mas infelizmente houve alguns lapsos antes de percebermos a natureza e a extensão dos perigos envolvidos. As autoridades alfandegárias de Heathrow informaram-nos que o invólucro do caixão se danificara durante a viagem, ou no aeroporto do Cairo.
Painter sentiu um nó no estômago. Os aeroportos internacionais das duas capitais eram dos mais concorridos do mundo. Se tivesse ocorrido contaminação num desses locais, corriam o risco de se verem a braços com uma pandemia à escala global.
O medo nos olhos de Safia revelava que ela também estava ciente do risco.
— Dois técnicos que lidaram com o corpo nos nossos laboratórios manifestaram sintomas. Pusemo-los em quarentena, juntamente com todas as pessoas com quem estiveram em contacto. Além dessa medida, as agências de saúde dos dois países estão a questionar todo o pessoal de terra e ar dos dois aeroportos, a fim de se certificarem de que não apresentam sintomas. Estou à espera de novidades a qualquer momento, mas, com o nível de burocracia envolvido, parece-me que devo ser a última a saber.
— Vou ver o que consigo fazer para te conseguir essa informação.
A cabeça de Painter funcionava já a todo o vapor. Lera recentemente um relatório do MIT acerca do papel dos aeroportos na disseminação de doenças. O documento sublinhava o exemplo da pandemia de gripe H1N1, em 2009, que matara trezentas mil pessoas em todo o mundo.
Safia parecia inconsolável.
— Pergunto a mim mesma se não deveria ter sido mais cuidadosa...
Painter notou-lhe a culpa no olhar.
— Fizeste o que podias, dadas as circunstâncias. Em bom rigor, se não fosse pelo teu discernimento e as ordens para selar tudo tão rapidamente, sabe-se lá quantos mais teriam ficado expostos.
Safia abanou ligeiramente a cabeça, refutando o apoio dele.
— Agi por instinto, apenas isso... no entanto, quando percebi o que estava a acontecer, veio-me à cabeça um motivo pelo qual o Harold poderá ter sido sujeito a esse processo de mumificação.
Pelo que conhecia de Safia, Painter sabia que as deduções dela tendiam a confirmar-se.
— Que motivo é esse?
— Penso que se destinava a proteger o que se encontrava na cabeça de Harold, fosse lá o que fosse. Acredito que o processo de mumificação visava transformar o corpo dele num recipiente para este agente desconhecido, para preservar a sua carne, sobretudo depois de morto, tornando-o num cofre incorruptível.
Um cofre que foi inadvertidamente aberto.
Painter lembrou-se de algo que Safia lhe dissera antes.
— Mencionaste que havia duas razões para estares preocupada. Qual é a segunda?
Safia fitou-o.
— Estou convencida de que não é a primeira vez que isto acontece.
17h02 BST
Londres, Inglaterra
Safia fez um compasso de espera, permitindo que Painter absorvesse a recente informação antes de continuar.
— Quando fiquei a saber do reaparecimento do Harold, vasculhei toda a documentação, estudos e até alguns diários pessoais que ele guardava no museu. Tinha esperança de encontrar alguma pista que nos tivesse escapado, algo que ajudasse a explicar o seu desaparecimento e regresso súbitos.
— Descobriste alguma coisa?
— Talvez... algo que só me pareceu relevante em virtude do que aconteceu.
— O quê?
— Primeiro, precisamos de ter em linha de conta que o Harold era uma daquelas personagens grandiosas, quer no trabalho que desenvolvia no museu, quer no mundo académico em geral. Como arqueólogo, adorava desafiar dogmas, sobretudo os que diziam respeito à egiptologia. Era igualmente admirado e odiado pelas suas teorias pouco convencionais, bem como pela ferocidade com que as defendia. Estava sempre disponível para ouvir opiniões discordantes, mas era capaz de atacar com ferocidade os colegas, caso se mostrassem demasiado tacanhos.
Um sorriso formou-se-lhe nos lábios ao recordar alguns desses debates acesos. Havia poucos homens como Harold — com talvez a exceção do seu filho, Rory, que parecia ser o único capaz de lhe fazer frente. Discutiam frequentemente, por vezes noite dentro, cada um defendendo com unhas e dentes o seu ponto de vista em relação a um dado histórico ou científico. No entanto, mesmo nessas alturas, com o sangue a ferver-lhe de tanto discutir, Harold era incapaz de esconder o orgulho que sentia do filho. Era algo que lhe transbordava no olhar.
O sorriso de Safia desvaneceu-se, dando de novo lugar à consternação.
Não posso acreditar que perdi ambos...
Sacudiu a imensa mágoa, substituindo-a por uma determinação de aço. Enquanto houvesse uma hipótese de Rory estar vivo, por ínfima que fosse, continuaria a fazer o que estivesse ao seu alcance para o encontrar. Devia-o a Harold. A Jane, que ao longo dos últimos dois anos se recusara com determinação a aceitar a ideia de que o pai e o irmão estavam mortos. Safia suspeitava, aliás, que o que levara Jane a estudar tão arduamente era a intenção de os procurar, de descobrir a verdade.
Painter desviou a atenção dela para o assunto em mãos.
— Que tem o feitio peculiar do professor McCabe que ver com tudo isto?
Safia recuperou o fio à meada.
— O Harold tinha um interesse especial por um episódio concreto da história do Egito. Na verdade, era onde discordava da maioria dos colegas. Estou a falar da história bíblica do Êxodo.
— Como assim? A fuga de Moisés e dos judeus do Egito?
Safia assentiu.
— A maioria dos arqueólogos considera o episódio um mito, uma alegoria, em vez de factos históricos.
— Ao contrário do professor McCabe...
— Exato. O Harold acreditava que a história era verdadeira. Um pouco exagerada, porventura, ou mesmo adulterada pela passagem do tempo, porém, verdadeira. — Safia olhou para a pilha de diários de campo em cima da secretária, repletos de especulações, teorias e apontamentos de apoio, alguns deles bastante crípticos. Pertenciam a Harold. — Estou convencida de que uma das razões que o levaram ao Sudão foi a procura de provas que apoiassem as suas teorias.
— Porquê o Sudão?
— O Harold era assim. Enquanto a maioria dos arqueólogos bíblicos procurava provas a leste, sobretudo na península do Sinai, Harold acreditava que obteria melhores resultados nos territórios a sul do Egito. Estava convencido de que alguns judeus teriam fugido nessa direção, ao longo do rio Nilo.
— Procurava alguma coisa em concreto?
— Indícios de uma praga, sobretudo nos corpos das múmias recuperadas nessa região remota do Egito. Na verdade, contratou especificamente para a tarefa o doutor Derek Rankin, um especialista em arqueologia biológica, com um vasto conhecimento em doenças antigas.
Painter recostou-se na cadeira.
— E, agora, dois anos volvidos, o professor McCabe surge do deserto infetado com uma doença qualquer, depois de ter sido sujeito a um bizarro ritual de automumificação. O que pensas disso tudo?
— Não faço ideia...
— Disseste que as características da doença tinham sido observadas antes, algures no passado. Estavas a falar das pragas do antigo Egito?
— Não — disse Safia, agarrando num dos cadernos e abrindo-o numa secção que marcara com uma nota adesiva. — Antes de partir, o Harold procurou referências que sugerissem episódios anteriores de doenças contagiosas na região. Acabou por descobrir qualquer coisa nos nossos arquivos que remontava aos tempos de Henry Morton Stanley e David Livingstone, os famosos exploradores britânicos. Ambos chefiaram expedições que os conduziram ao coração do Sudão e mais além, enquanto procuravam a nascente do rio Nilo.
— Se bem me lembro das minhas aulas de história, Livingstone desapareceu nas selvas de África e foi dado como morto.
— Até Stanley o encontrar seis anos depois, doente e a viver na miséria numa aldeia africana situada nas margens do lago Tanganica.
— E que tem isso que ver com a expedição do professor McCabe?
— O Harold tornou-se obcecado pelos dois homens, não tanto pelo famoso encontro em África, mas pelo que aconteceu na fase mais tardia das suas vidas.
— Porquê? Que aconteceu de tão especial?
— Livingstone permaneceu em África até à data da sua morte, em 1873. Harold estava especialmente interessado no facto de os nativos terem mumificado o corpo do explorador, antes de o entregarem às autoridades britânicas.
— Ele foi mumificado?
Safia fez que sim com a cabeça, sublinhando a estranha coincidência desse pormenor.
— O corpo encontra-se sepultado na Abadia de Westminster.
— E Stanley?
— Acabou por regressar à Grã-Bretanha, casou com uma galesa e exerceu funções no Parlamento. Foi por essa fase da sua vida que Harold se interessou.
— Porquê?
— É preciso ver que a fama de Stanley ficou para sempre associada a Livingstone. Em resultado disso, era frequentemente consultado em assuntos que diziam respeito ao legado do outro. Depois de morrer em África, a maioria dos artefactos reunidos no decurso das suas viagens acabou aqui, no Museu Britânico. Porém, alguns objetos de maior significado pessoal continuaram a fazer parte da coleção privada do explorador. Foi somente desde o final do século dezanove, quando a coleção foi desmantelada, que o museu tomou também posse desses objetos. Foi o registo de uma dessas peças que chamou a atenção de Harold.
— De que se tratava?
— Um talismã que fora oferecido por um nativo a quem Livingstone salvou a vida do filho. O objeto exibia hieróglifos egípcios e, de acordo com a história do nativo, continha água do Nilo, do tempo em que o rio se transformara em sangue.
— Sangue? — Painter não conseguiu disfarçar o ceticismo. — Estás a falar do tempo de Moisés?
Safia compreendia bem as reservas de Painter. A sua primeira reação fora idêntica.
— Pode não passar de uma história da carochinha, claro. Além de explorador, Livingstone era um reconhecido missionário, que nunca se coibiu de pregar onde e quando podia. Como tal, é possível que o nativo tenha inventado a história para agradar ao amigo cristão. Seja como for, devido à autenticidade dos hieróglifos, Harold estava convencido de que a origem do objeto era, de facto, egípcia.
— Certo. Mas qual é a parte da história que tu consideras significativa? Que tem esse talismã que ver com o que está a acontecer agora?
— Além de uma ilustração nuns papéis pessoais de Livingstone, existe apenas uma outra referência ao talismã. Que Harold tenha encontrado, isto é. Menciona a existência de uma maldição associada ao artefacto.
— Uma maldição?
— Depois de adquirido pelo museu, o talismã foi trazido para as nossas instalações, onde foi aberto e estudado. Em poucos dias, todos os que trabalhavam no projeto adoeceram e morreram de... — Safia leu o trecho no caderno de Harold, que ele próprio copiara do único registo do trágico acontecimento — «febres altas, acompanhadas de convulsões violentas».
Pousou o caderno e olhou para Painter, que parecia agora seguir-lhe o raciocínio.
— Os mesmos sintomas observados no Cairo — disse ele. — Que aconteceu a seguir?
— É tudo. O Harold tentou descobrir mais informação. Porém, apesar de terem morrido vinte e duas pessoas, não conseguiu encontrar nenhuma prova que corroborasse o surto.
— Parece-me suspeito. Mesmo tratando-se de arquivos do século dezanove. Dir-se-ia que alguém tentou desfazer-se de qualquer registo da tragédia.
— O Harold pensava o mesmo. Mesmo assim, conseguiu descobrir que Stanley chegou a ser convocado pela Royal Society, que o questionou sobre o assunto.
— Porquê?
— Ao que parece, Stanley permaneceu em contacto com Livingstone até o outro morrer em África.
Painter franziu a testa.
— Onde Livingstone foi também mumificado...
Safia arqueou uma sobrancelha.
— A não ser que as circunstâncias da sua morte não estejam exatamente corretas.
— Como assim?
— E se o Livingstone tivesse sido sujeito ao processo de mumificação ainda em vida, à semelhança de Harold? — Safia encolheu os ombros. — Os arquivos apenas dão conta de que o corpo chegou a Londres nessa condição. Na época, era natural que pensassem que o procedimento teria sido executado depois da morte dele.
— É uma hipótese interessante. Mas, mesmo que estejas certa, de que nos serve?
— Tenho esperança de que nos possa ajudar a descobrir o local onde o Harold e os outros desapareceram. Ele pode ter descoberto alguma coisa aqui no museu, ou no terreno, que o conduziu à origem da doença. Não faço ideia do que terá acontecido a seguir, mas estou convencida de que a melhor aposta para descobrir o paradeiro dos outros passa por descobrir a localização da fonte.
— Além de que pode ser vital, caso não consigamos conter o surto. — Painter fitou-a. — Que posso fazer para ajudar?
— Qualquer coisa — Safia deitou-lhe um olhar sincero, tentando dar voz ao nó que sentia no estômago. — Chama-lhe intuição, palpite ou o que quiseres, mas julgo que isto é apenas a ponta do icebergue.
— Acho que tens razão.
— E também acho que estamos a ficar sem tempo. Passaram quase duas semanas, desde que o Harold reapareceu do deserto.
Painter anuiu.
— O que significa que o rasto está a arrefecer de dia para dia.
— A Jane McCabe, a filha do Harold, tem estado de volta dos papéis do pai, a ver se descobre mais pistas. Entretanto, resta-nos o trabalho das agências de saúde, que continuam a tentar isolar a causa da doença.
Painter fez que sim com a cabeça.
— Posso enviar uma equipa para te ajudar em Londres. E também precisamos de gente no terreno, para reconstruir os passos do professor no deserto do Sudão.
Safia fitou Painter, notando-lhe as engrenagens do cérebro em pleno funcionamento. Antes que pudessem discutir mais pormenores do plano, a porta do gabinete abriu-se.
Pensei que a tinha trancado...
Safia rodou a cadeira na direção da porta, relaxando imediatamente assim que viu entrar a figura de Carol Wentzel, uma jovem curadora que estava a fazer uma pós-graduação no museu.
— Em que te posso aju...
Uma segunda figura entrou de rompante atrás da rapariga. Ergueu uma pistola e apontou-a a Safia.
Safia levantou um braço para se proteger, mas era demasiado tarde.
O cano da arma relampejou duas vezes. A dor explodiu-lhe no peito. Ofegante, rodou o corpo na direção do ecrã do computador, na direção da expressão de pânico no rosto de Painter. Estendeu a mão para lhe tocar, como se este a pudesse ajudar.
Ouviu-se um terceiro disparo mais forte. A bala assobiou ao passar-lhe rente à orelha, estilhaçando o vidro do ecrã sob a palma da sua mão. A imagem apagou-se imediatamente e, no instante seguinte, também o resto do mundo.
3
30 de maio, 18h24 BST
Ashwell, Hertfordshire, Inglaterra
Jane McCabe enfrentava os fantasmas que habitavam o sótão da casa dos pais, sentindo-se uma intrusa. Para onde quer que se virasse naquele espaço apertado, coberto de teias de aranha, deparava-se com recordações dos que haviam partido. Num dos cantos, o roupeiro de madeira carcomida ainda guardava as roupas da mãe. Noutra ponta, atirado ao acaso, encontrava-se algum do equipamento desportivo do irmão, Rory: um taco empoeirado de críquete, uma bola de futebol meio vazia e até uma camisola de râguebi, toda esfarrapada, dos tempos de escola.
Ainda assim, um espectro em particular reinava acima de todos os outros. Uma sombra da qual nenhum deles escapara em vida, ou mesmo agora, na morte. O seu pai dominava aquele espaço. Velhas caixas de arquivos, algumas remontando aos tempos de universidade, erguiam-se como montanhas por todo o sótão, juntamente com pilhas de livros e cadernos de campo.
A pedido da doutora Al-Maaz, Jane tinha separado as caixas mais recentes, aquelas que diziam respeito aos últimos dois ou três anos de trabalho do pai, antes de desaparecer no deserto. Fizera-as descer do sótão para o andar de baixo e entregara-as a Derek Rankin, que se encontrava na cozinha a vasculhar o conteúdo de cada uma, à procura de uma pista para o que acontecera.
A tarefa parecia-lhe inglória, mas era melhor do que estar sozinha, de braços cruzados, sem nada para fazer que não fosse aceitar a morte do pai e os mistérios que rodeavam a estranha condição do cadáver.
É melhor manter-me em movimento...
Esticou as costas e dirigiu o olhar para a pequena janela do sótão, com vista para a aldeia de Ashwell. A povoação era uma mistura idílica de casinhas e edifícios medievais com telhados de colmo e paredes de estuque e madeira. Do seu ponto de observação privilegiado, Jane conseguia ver a torre quadrada da igreja paroquial, datada do século catorze. Elevando-se dessa direção, chegava-lhe aos ouvidos o som ténue de acordes musicais. O Festival Anual de Música de Ashwell decorria há dez dias. Terminaria nessa mesma noite, com mais uma edição do Choral Evensong, a tradicional atuação do coro de Saint Mary.
Fitou a antiga torre, que se erguia com as suas secções de ameias, campanário e encimada por um pináculo de chumbo, apontando aos céus. Recordava-se de o pai a ter levado a visitar o interior da igreja quando tinha nove anos, mostrando-lhe as inscrições medievais ao longo das paredes de pedra. Os textos, em latim e inglês antigo, davam conta da calamidade que atingira a aldeia no ano de 1300, durante a Peste Negra. Jane fizera impressões de algumas dessas inscrições com folha de papel vegetal e lápis de carvão, e sentira uma estranha afinidade com aqueles escribas há muito desaparecidos. De certa forma, teriam sido esses momentos que haviam plantado as sementes que a inspiraram a seguir as pegadas do pai e a perseguir uma carreira em arqueologia.
Desviou a atenção da janela e dos sons alegres do festival, fixando o olhar na outra ponta do sótão preenchido com a presença do pai. Recordava-se de uma inscrição em particular que copiara da lateral de um pilar. Não tinha nada que ver com a Peste Negra, mas parecia-lhe especialmente apropriada naquele momento.
— Superbia precidit fallum — disse para si mesma, visualizando as palavras gravadas em latim. O orgulho antecede a queda.
O amor que sentia pelo pai não impedia Jane de reconhecer os seus defeitos. Era um homem teimoso, obstinado nas suas crenças, e certamente não estava isento do pecado da soberba. Jane sabia que a arrogância conduzira-o tanto àquele deserto como a procura pelo conhecimento. A posição que assumira em relação ao êxodo bíblico deixara-o vulnerável ao escárnio dos colegas e, apesar da confiança e indiferença que sempre demonstrara perante o burburinho de críticas, Jane sabia que aquilo deixara-lhe marcas. Mais do que isso, alimentara-lhe a necessidade de provar que tinha razão. A bem da verdade histórica, e pelo orgulho.
E vê onde isso te levou, pai... e ao Rory.
Cerrou um punho, sentindo a raiva agigantar-se momentaneamente sobre o desgosto. Debaixo desse sentimento, porém, encontrava-se outro mais profundo, que a consumira nos últimos dois anos: culpa. Constituía uma das razões de raramente ter regressado àquela casa, deixando-a inabitada, os móveis cobertos com lençóis. O trajeto entre Ashwell e Londres demorava menos de uma hora, mas Jane optara por alugar um pequeno apartamento no centro da cidade. Convencera-se a si mesma de que era pela conveniência de estar perto da universidade, mas sabia que não era o caso. Voltar àquela casa era demasiado doloroso, e só a necessidade a trazia de volta a Ashwell, como era o caso do pedido da doutora Al-Maaz.
Um grito irrompeu da cozinha.
— Acho que encontrei alguma coisa!
Aliviada por se ver livre dos fantasmas em redor, Jane atravessou a escuridão em direção à luz que provinha do piso inferior, pelo alçapão aberto. Desceu o escadote e apressou-se a atravessar a zona dos quartos, cujas portas se encontravam fechadas, até alcançar as escadas para o rés do chão.
Quando passou pela área que dava acesso à cozinha, notou que Derek abrira todos os cortinados da casa. Depois de tanto tempo enfiada no sótão, a luz do dia fê-la semicerrar os olhos. Pestanejou duas vezes, tentando adaptar-se à claridade intensa. Aquele banho de luz parecia-lhe demasiado alegre, dadas as circunstâncias.
À sua frente, Derek estava sentado à mesa da cozinha, rodeado de caixas do sótão. Junto aos cotovelos, encontravam-se pilhas de livros e cadernos, bem como uma série de papelada solta. Derek despira o blusão e arregaçara as mangas da camisa.
Aquele homem era seis anos mais velho do que Jane. O pai recebera-o, atuando como mentor dele durante os anos de universidade e acabando por conduzi-lo às areias do deserto. Como tantos outros, Derek fora incapaz de resistir à força gravitacional do pai. Sem surpresa, era frequente vê-lo a trabalhar no escritório lá de casa, por vezes durante dias a fio e a dormir no sofá.
Nessa época, Jane não se sentia incomodada pela presença dele, sobretudo quando a mãe ficou doente. Derek sempre fora o tipo de pessoa com quem era fácil falar, alguém que podia ouvi-la quando não havia mais ninguém para o fazer. Infelizmente, Rory não partilhava os mesmos sentimentos. O irmão nunca vira com bons olhos a presença do jovem protegido no seio familiar, ressentindo-se de Derek ser um sério concorrente à atenção e elogios do pai.
Naquele instante, Derek encontrava-se debruçado sobre o que parecia ser um arquivador de couro. Pelas rachas na superfície da pele, parecia bem mais antigo do que qualquer coisa que pudesse ter sido escrita pelo pai. Assim que se juntou a ele, Jane notou a barba por fazer de Derek, que lhe preenchia o queixo e bochechas. A verdade é que nenhum deles dormira grande coisa desde que haviam regressado do Egito.
— Que encontraste? — perguntou.
Derek olhou para ela e sorriu-lhe, o que serviu para lhe iluminar o rosto bronzeado e acentuar as rugas de expressão. Estendeu o braço e ergueu o enorme volume no ar.
— Acho que o teu pai surripiou isto de uma biblioteca em Glasgow.
— Glasgow? — Jane franziu o sobrolho. Recordava-se de o pai ter feito uma série de viagens à Escócia, antes de virar a sua atenção para o Sudão.
— Anda ver — insistiu Derek.
Jane espreitou-lhe por cima do ombro enquanto ele abria o volume numa secção assinalada com uma tira de papel. Ao inclinar-se, Jane sentiu a fragrância da água de colónia dele, ou talvez fosse apenas o champô, se calhar. Uma coisa ou outra, o aroma servira-lhe para limpar o nariz do odor bolorento do sótão.
— Segundo a etiqueta de catálogo — disse Derek —, este livro pertence aos arquivos de David Livingstone, na Universidade de Glasgow, onde está guardada a maioria dos documentos do explorador. Este volume contém a correspondência pessoal, desde os primeiros anos de exploração do rio Zambeze, no sul de África, à fase mais tardia da carreira, enquanto procurava a nascente do rio Nilo. A secção assinalada pelo teu pai cobre as cartas que Livingstone enviou a Henry Morton Stanley, o homem que de maneira tão célebre o encontrou nos confins mais obscuros do continente africano.
Curiosa, Jane puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele.
— E o que dizem as cartas? Porque estava o meu pai tão interessado nelas?
Derek encolheu os ombros.
— A maioria do conteúdo parece inconsequente, apenas dois velhos amigos a lamentarem-se disto e daquilo, mas, se olharmos para estas páginas assinaladas, também encontramos alguns desenhos anatómicos e biológicos feitos por Livingstone. O teu pai marcou esta página em particular. Chamou-me a atenção por causa da taxinomia deste inseto. Ora vê.
Jane encostou o seu ombro ao dele para ver melhor. Os esboços, desenhados à mão, pareciam ser de um escaravelho.
O grau de pormenor captado por Livingstone era deveras impressionante. Os esboços mostravam o inseto com as asas abertas e fechadas. Jane leu o nome científico em voz alta, coçando a ponta do nariz.
— Ateuchus sacer... Não percebo. Que tem este escaravelho de tão importante?
— Primeiro, foi descoberto pelo grande Charles Darwin. — Derek fitou-a e ergueu uma sobrancelha. — Segundo, o naturalista também lhe chamava «o escaravelho sagrado dos egípcios».
— É o escaravelho sagrado do antigo Egito! — disse Jane, compreendendo subitamente.
— Classificado nos dias de hoje como Scarabaeus sacer — explicou Derek.
Jane começou a perceber o interesse do pai naquele desenho. Os antigos egípcios veneravam o pequeno escaravelho coprófago, cuja maior particularidade era fabricar e fazer rolar pequenas bolas de excremento. Acreditavam que a prática do inseto era uma analogia com o trabalho do deus Khepri — a versão matutina do deus Rá —, responsável por fazer mover o Sol pelo céu. O símbolo do escaravelho sagrado pode ser encontrado na arte e escrita egípcias.
Debruçou-se sobre o velho livro.
— Se o meu pai estava a investigar a origem do talismã oferecido a Livingstone, é natural que estivesse interessado em qualquer coisa relacionada com o Egito nas notas e diários do explorador. Só não entendo porque roubou este livro da biblioteca de Glasgow. Custa-me a crer que tivesse sido capaz de violar tal confiança.
— Não sei o que te diga. Seja como for, o teu pai assinalou mais páginas. Estava especialmente interessado nas cartas que continham este tipo de esboços. — Derek fechou o livro e pegou num dos cadernos de campo de Harold. — Mas o que me parece mais invulgar é ele, nos meses anteriores à partida para o Sudão, ter ficado claramente obcecado pela questão do talismã. No entanto, nunca me disse uma palavra sobre o assunto. Pediu-me apenas que procurasse algum padrão de doença nas múmias recuperadas no Sudão.
— Encontraste alguma coisa?
— Não... — suspirou Derek. — Sinto que desiludi o teu pai.
Jane pousou a mão no braço dele.
— A culpa não é tua. Ele queria... aliás, precisava de reunir provas que apoiassem a sua teoria do Êxodo. Nunca permitiria que nada se atravessasse no seu caminho.
Ainda insatisfeito, Derek abriu o caderno.
— O teu pai escreveu extensas notas acerca do talismã. Perante tantas mortes sem explicação, a direção do museu entendeu por bem destruir o artefacto, incinerando-o por completo. Ainda assim, ele descobriu um desenho a carvão do objeto, juntamente com uma cópia dos hieróglifos gravados na base, e registou algumas das suas conclusões neste caderno.
Derek mostrou-lhe a página. Jane reconheceu a caligrafia cuidada. No topo da página, o pai colara uma pequena fotocópia do desenho a carvão.
— Parece ser um aríbalo, um vaso de óleo — notou Jane. — E com duas efígies: uma de um leão, e a outra de uma mulher egípcia. Estranho...
— De acordo com as notas do teu pai, o artefacto foi elaborado com faiança egípcia e esmalte azul-turquesa.
— Faz sentido... sobretudo se foi feito para conter água. A faiança egípcia era um tipo ancestral de cerâmica, elaborada com uma pasta de quartzo, sílica e argila. Depois de cozida, e comparada com a olaria tradicional, exibia características mais próximas do vidro. De que tamanho era a peça?
— Segundo o que diz aqui, tinha à volta de quinze centímetros de altura e capacidade para conter praticamente um litro de água. Para aceder ao reservatório interior, o pessoal do museu teve de partir o selo de pedra, que fora colado com uma cera resinosa.
— Para tornar o aríbalo estanque...
Derek assentiu.
— E, se reparares aqui, no final da página, o teu pai também copiou os hieróglifos gravados na base do artefacto.
Jane reconheceu a sequência de figuras e traduziu-as em voz alta, sem precisar de consultar um manual:
— Iteru.
— A palavra egípcia para rio.
— E que servia igualmente para dar nome ao Nilo. — Jane coçou a testa. — Acho que confere alguma consistência à história do nativo que ofereceu o aríbalo a Livingstone.
— Que a água provinha do Nilo...
— Da época em que se transformara em sangue — sublinhou Jane. — A primeira das dez pragas de Moisés sobre o Egito.
— Por falar em pragas, olha bem para isto.
Derek virou a página do caderno. Ficaram a olhar para uma lista das dez pragas, escrita pela mão de Harold.
A lista encontrava-se por ordem cronológica, porém, por alguma razão desconhecida, o pai de Jane desenhara um círculo à volta da sétima praga: uma tempestade de granizo e fogo.
Derek notou a expressão intrigada de Jane.
— Que pensas disto?
— Não faço ideia.
O telefone de casa tocou, fazendo com que ambos se sobressaltassem.
Jane levantou-se com cara de poucos amigos, convencida de que era a doutora Al-Maaz a pressioná-los para obter respostas. A verdade é que apenas se tinham deparado com mais mistérios. Dirigiu-se ao velho telefone em cima da bancada e levantou o auscultador.
Antes que conseguisse dizer uma única palavra, uma voz urgente antecipou-se:
— Jane McCabe?
— Sim, quem fala?
— O meu nome é Painter Crowe. Sou amigo de Safia al-Maaz. Alguém a atacou no museu, há pouco mais de uma hora.
O homem no outro lado da linha falava depressa, o sotaque distintamente americano.
— O quê? Como? — Jane debatia-se para retirar sentido do que estava a ouvir.
— Existem mais vítimas. Se isto é por causa do seu pai, a Jane poderá ser a próxima. Saia de casa e esconda-se num lugar seguro.
— Mas...
— Não perca tempo! Procure a esquadra de polícia mais próxima.
— A nossa aldeia não tem nenhuma...
As esquadras mais próximas ficavam nas povoações vizinhas de Letchworth ou Royston. Além disso, Jane e Derek não tinham carro, já que haviam chegado de comboio.
— Nesse caso, procure um local público — sugeriu a voz. — Mantenha-se rodeada de pessoas. Isso diminuirá as probabilidades de ser atacada. Tenho uma equipa a caminho para ajudá-la. Até lá, mantenha-se a salvo.
— Que se passa? — perguntou Derek, ainda sentado à mesa.
Jane fitou-o com os olhos muito abertos, a mente num turbilhão.
— Há um bar-restaurante... o Bushel and Strike. Fica já ali na esquina — disse para a voz no outro lado da linha.
Olhou para o relógio: passavam uns minutos das sete. O local deveria estar apinhado de gente.
— Vá para lá — insistiu a voz. — Agora!
A chamada foi desligada.
Jane respirou fundo, tentando sacudir o pânico.
Se este homem estiver certo acerca do meu pai...
Apontou para a mesa.
— Derek, agarra no caderno, no arquivador... traz tudo o que achares relevante.
— Porquê? Diz-me o que se passa.
Jane apressou-se a ajudá-lo a guardar toda a documentação na pasta de cabedal dele.
— Estamos em apuros...
19h17
Derek abriu a porta de casa a Jane, ainda a retirar sentido do que acabara de ouvir. Aquilo parecia-lhe impossível de estar a acontecer.
Aguardou enquanto ela se detinha no alpendre, os seus olhos perscrutando o jardim descurado do acesso à casa, bem como a extensão da rua estreita, para lá da pequena cerca de tijolo. Quase a desaparecer no horizonte, a luz rasante do sol projetava longas sombras por toda a parte.
— Tens de me dizer o que se passa, Jane. Por que carga de água alguém havia de querer fazer-te mal?
— Não sei. Ninguém, se calhar... — retorquiu Jane, sem detetar nenhum sinal de uma ameaça, e encaminhando-se para o portão de ferro que dava acesso a Gardiners Lane. — Ou então os mesmos que atacaram a doutora Al-Maaz e os outros.
Derek ajeitou a alça da sacola de cabedal que trazia ao ombro, seguindo-lhe os passos até ao portão e, por fim, até à rua. De certa forma, a preocupação pelos amigos e colegas do museu endurecera a sua determinação em manter Jane a salvo.
— Achas que podes confiar no homem que te ligou? — perguntou.
Jane deitou-lhe um olhar apreensivo.
— Acho que sim... ele sugeriu que nos rodeássemos de pessoas. Não me parece o tipo de coisa que alguém dissesse, caso tivesse a intenção de nos conduzir a uma armadilha.
Isso é verdade, pensou Derek.
— Na pior das hipóteses — continuou ela, concedendo um sorriso —, aproveito para beber uma cerveja. Ou duas... para acalmar os nervos.
Derek sorriu-lhe de volta.
— Bom, uma vez que é por razões médicas, a primeira rodada é por minha conta. Afinal de contas, estás a olhar para alguém que é doutor.
Jane deitou-lhe um olhar de soslaio.
— Doutorado em arqueologia, queres tu dizer...
— Arqueologia biológica, minha cara — corrigiu Derek. — O que significa que sou praticamente médico.
Jane revirou os olhos, fazendo um gesto largo com o braço.
— Por quem é, senhor doutor. Pode passar a receita, nesse caso.
Depois de caminharem um pouco, chegaram por fim a um beco que conduzia à esplanada nas traseiras do bar, que se situava em plena Mill Street, frente ao imponente edifício de Saint Mary’s e respetivos parques circundantes. De onde se encontravam, Derek e Jane conseguiam ver a metade superior da torre da igreja agigantar-se acima do telhado do Bushel and Strike, com o seu pináculo de chumbo a resplandecer sob os últimos raios de luz.
Nas traseiras do bar, porém, era como se a noite tivesse já caído. Clientes com os rostos obscurecidos ocupavam a maioria das mesas, cujas vozes se juntavam ao burburinho que lhes chegava do interior do bar, pelas portas abertas.
A cadência familiar das vozes, pontuada pelas gargalhadas ocasionais, ajudou Derek a sacudir o receio de uma ameaça invisível. Passara inúmeros serões no Bushel and Strike, na companhia do pai de Jane, por vezes até à hora do fecho. Depois, cambaleavam de volta para casa.
Em virtude disso, regressar ao bar era uma experiência por demais familiar.
Também conseguia ouvir uma mulher a cantar, a voz ecoando do pátio da igreja no outro lado da rua, recordando-o de que aquela era a última noite do festival de música de Ashwell.
Não admirava que o bar estivesse tão cheio.
No entanto, considerando as circunstâncias, talvez seja melhor assim.
Atraídos pelos sons de diversão, Derek e Jane apressaram-se a atravessar o beco e o portão da cerca que delimitava o pátio. Conseguiram avançar até às portas traseiras do bar sem serem abordados por alguém desconhecido e, no minuto seguinte, encontravam-se já encostados ao balcão do bar, cada um com uma caneca de Guiness à frente. Alguns dos clientes habituais reconheceram Jane e ofereceram-lhe as respetivas condolências. A história do reaparecimento e morte inexplicáveis do pai enchera as páginas de todos os grandes jornais, e tornara-se, com alguma dose de certeza, no principal assunto da coscuvilhice local.
Curvada sobre o balcão, Jane ia beberricando a cerveja, sentindo-se cada vez mais desconfortável pelas repetidas lembranças da sua perda. Sem ser indelicada, colocara um sorriso falso no rosto, assentindo ligeiramente com a cabeça enquanto ouvia mais uma história engraçada acerca do pai. A certa altura, Derek encostou-se mais a ela, usando o próprio corpo para escudá-la do assédio dos outros e garantir-lhe alguma privacidade.
Fez também questão de se manter atento à porta principal do bar. Com um olhar clínico, estudou cada pessoa que entrava, notando o imenso volume de estranhos que por ali circulavam à conta do festival. Ainda assim, decorridos quarenta e cinco minutos, deu por si a pensar se tudo não passara de um engano ou excesso de zelo do homem que lhes ligara. Afinal de contas, parecia não haver nenhuma ameaça ou sinal de qualquer inimigo.
Então, quando Derek menos esperava, um homem irrompeu pelo bar, frenético.
— Fogo! — gritou ele, apontando para a rua.
No mesmo instante, os clientes que se encontravam no pátio traseiro correram também para o interior, dando o mesmo sinal de alarme. Numa questão de segundos, o bar apinhado esvaziou-se na Miller Street. Jane e Derek seguiram a torrente de pessoas e, no meio da confusão, entre empurrões e puxões, deram por si separados um do outro.
— Jane! — gritou Derek.
Por essa altura, a noite caíra finalmente, trazendo consigo uma queda abrupta de temperatura. Derek avançou titubeante até ao meio da rua e olhou em volta. Ao fundo do quarteirão, as chamas lambiam o céu noturno, iluminando uma coluna espessa de fumo negro.
Não pode ser...
Avistou finalmente Jane, que se encontrava a poucos metros, de costas viradas para ele. Derek abriu caminho por entre a multidão, distribuindo empurrões e cotoveladas até chegar junto dela e pôr-lhe um braço à volta da cintura.
Jane virou-se, o rosto assustadoramente inexpressivo. Tal como Derek, reconhecera a origem provável do incêndio.
— É a nossa casa — murmurou.
Derek agarrou-a com mais força.
— Pegaram-lhe fogo.
Derek olhou em redor, desconfiado de toda a gente. O fulgor das chamas inundara a rua e a multidão com uma luz vermelha infernal. As sirenes dos veículos dos bombeiros ecoaram por toda a aldeia, adicionando uma nova camada ao sentimento de perigo e urgência.
— Temos de sair daqui! — disse, arrastando Jane e forçando-a a avançar.
Se alguém tivesse incendiado a casa dos pais de Jane, a intenção deveria ter sido a destruição dos arquivos de Harold. Subitamente, a sacola que trazia pendurada no seu ombro tornou-se mais pesada. O conteúdo que carregava era agora mais importante do que nunca, porém, continuava a ser a menor das suas preocupações. Se o inimigo queria eliminar todas as pontas ligadas à vida e ao trabalho de Harold McCabe, restava-lhes um último alvo — um alvo que era seguramente importante.
A sua filha.
Derek pegou no braço de Jane e fê-la dar meia-volta, virando as costas às chamas.
— Temos de...
Subitamente, alguém lhe agarrou no ombro e empurrou-o com força. Apanhado de surpresa, Derek cambaleou uns quantos passos, tentando recuperar o equilíbrio. Uma figura corpulenta agigantou-se sobre Jane. O atacante parecia qualquer coisa saída de um pesadelo, com feições embrutecidas e um físico impressionante.
Ainda assim, Derek recusou-se a ceder. Avançou para o atacante, disposto a defender Jane com unhas e dentes, porém, a única coisa que conseguiu foi esbarrar contra o punho fechado do homem. A cabeça foi atirada para trás e a dor explodiu-lhe no rosto com um estalar de ossos; luzes cintilaram e dançaram à frente dos olhos.
Tombou pesadamente no pavimento.
Através de uma névoa de confusão mental, assistiu, impotente, enquanto Jane era arrastada.
Não...
4
30 de Maio, 15h54 EDT
Washington, D.C.
Kathryn Bryant nunca vira o chefe tão enervado. O seu gabinete ficava paredes-meias com o centro de comunicações do quartel-general subterrâneo da Sigma. Por uma janela, passara os últimos minutos a observar o diretor Crowe a caminhar de um lado para o outro na sala contígua. Em forma de U, a bancada repleta de aparelhos de telecomunicações e monitores iluminava o rosto do homem, como se escarnecesse da sua impotência.
— Se não parar com aquilo, acho que vai acabar por fazer um buraco no chão — notou o marido de Kat. — Se calhar, devias meter-lhe um Valium na próxima chávena de café.
— Podes estar a brincar, Monk, mas, se queres que te diga, a tua sugestão nem é assim tão disparatada.
Kat passou a ponta dos dedos na pequena cicatriz ao longo do queixo. Era um tique nervoso, uma indicação do seu desejo de fazer mais do que gerir chamadas telefónicas e monitorizar as conversas de várias agências de serviços secretos por todo o mundo. Porém, como número dois na linha de comando, sabia meter-se no seu lugar. Tinha sido recrutada para a Sigma diretamente dos serviços secretos da Marinha, e havia poucas pessoas no mundo com o seu grau de competências.
— Alguma novidade do Cairo? — quis saber Monk.
— Apenas más notícias.
Kat olhou para o marido. Com uma constituição física que lembrava um buldogue, Monk Kokkalis era um pouco mais baixo do que ela. A somar à imagem, usava a cabeça rapada e nunca se preocupara em corrigir o pequeno desvio no nariz, consequência de uma antiga fratura. Quatro horas atrás, quando tudo acontecera, Monk encontrava-se no ginásio. Em virtude disso, vestia umas calças de treino e uma t-shirt com um padrão de camuflado e o emblema dos Boinas Verdes — duas setas cruzadas e um sabre — esticado sobre o peito. Só de olhar para ele, seriam poucos os que duvidariam do seu passado nas Forças Especiais, porém, eram muitos os que subestimavam a inteligência por trás do ar de pugilista.
A Sigma aprendera a valorizar os conhecimentos de Monk nas áreas da medicina e biotecnologia — assim como a DARPA, aliás. Porém, para estes, Monk era uma espécie de cobaia residente. O operacional perdera uma das mãos em missão, e sujeitara-se a uma série de próteses, cada uma mais avançada do que a anterior, à medida que a tecnologia evoluía. O modelo atual encontrava-se ligado a um implante neurológico, que lhe permitia um comando ainda mais preciso do movimento dos dedos.
Tocou na secção que conectava a mão artificial ao pulso, ainda a acostumar-se ao novo modelo.
— Que queres dizer com «más notícias»?
— Que é o caos total no Cairo neste momento.
— A quarentena não está a resultar?
Kat suspirou.
— As infraestruturas médicas daquela cidade nunca foram as melhores, e o mesmo se passa como os serviços de emergência. Se as coisas piorarem, será como tentar apagar um fogo florestal com uma pistola de água.
— E os casos na Inglaterra?
— Por enquanto, não...
Um memorando prioritário interdepartamental surgiu no monitor do computador de Kat. Tinha sido emitido pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. Kat leu-o na diagonal.
— Mais más notícias? — perguntou Monk, notando uma diferença na postura corporal da mulher.
— Sim. Foram observados casos de febres altas em vários funcionários dos aeroportos de Londres e do Cairo. — Kat olhou de relance para o marido. — Incluindo uma hospedeira da British Airways.
— Pelos vistos, o gato já começou a meter as garras de fora do saco.
— O relatório é preliminar. Ainda não há maneira de saber se estamos ou não a falar da mesma doença que vitimou o pessoal da morgue no Egito. Mesmo assim, não podemos continuar de braços cruzados. Preciso mesmo de começar a mobilizar e coordenar vários organismos de saúde pública, tanto aqui como no estrangeiro.
Kat abanou a cabeça. Quando se tratava de organizar este tipo de esforços, os trâmites e a burocracia internacional só serviam para atolar qualquer iniciativa. Deu por si a tocar outra vez na cicatriz no queixo. Forçou aquela mão errante de volta para o teclado do computador.
No lado de lá da janela, Painter atravessou de novo a sala contígua. Kat sabia que o diretor preferia estar em Londres em vez de enfiado no centro de comando da Sigma. O quartel-general fora construído numa secção dos abrigos antibomba da época da Segunda Guerra Mundial, situados por debaixo do Castelo Smithsonian. A localização permitia à Sigma o acesso fácil aos corredores do poder, bem como às mais preeminentes instituições científicas do país e respetivos laboratórios. Porém, para Painter, nada disso importava naquele momento. Ele desejava estar lá fora, no terreno, a dirigir a caça aos responsáveis pelo ataque ao Museu Britânico.
Daquilo que lera num velho dossiê de missão, Kat estava a par da história de Painter e Safia al-Maaz. Aquela mulher era importante para ele. Como se lhe adivinhasse a linha de raciocínio, Painter dirigiu-se a um dos computadores e tornou a ver a gravação da videoconferência com a doutora Al-Maaz.
Kat assistira ao vídeo quatro vezes. Mostrava Safia a ser alvejada por um homem mascarado que lhe invadira o escritório. O atacante utilizara uma arma que fora identificada como uma pistola de dardos tranquilizantes Palmer Cap-Chur. Os dois projéteis tinham-lhe acertado no peito. A seguir, o homem utilizara uma pistola convencional para disparar sobre o ecrã do computador, a mesma que usara para assassinar dois funcionários do museu, incluindo uma mulher, uma jovem curadora, que também aparecia nas imagens.
No tempo que demorara até que alguém chegasse em auxílio, Safia desaparecera.
No centro de comunicações, Painter parara o vídeo na última imagem de Safia, aquela em que ela erguia a mão na direção do ecrã, como se lhe pedisse ajuda.
— Se quisessem matá-la — observou Monk —, tê-lo-iam feito. É óbvio que precisam dela para qualquer coisa.
— E depois de conseguirem o que querem? — perguntou Kat.
Monk considerou a probabilidade desse cenário.
— Oxalá seja possível encontrá-la antes disso.
Kat consultou as horas no monitor.
— O Gray já deveria ter chegado, não? O vosso voo para Londres está previsto para daqui a quarenta e cinco minutos.
Monk encolheu os ombros.
— Está no hospital com o pai e o irmão. Disse que nos encontrávamos no aeródromo.
— Como está o pai dele?
— Nada bem. — Monk passou a palma da mão artificial pela cabeça rapada. — Mas, se queres que te diga, o verdadeiro problema é o irmão.
16h14
Se não é uma coisa, é outra...
O comandante Grayson Pierce encontrava-se sentado à cabeceira do pai. Acabavam de regressar de uma série de exames no Holy Cross Hospital, e estava agora a ajudá-lo a instalar-se numa casa de repouso, onde gozaria de maiores cuidados. A própria viagem de ambulância fora o suficiente para deixar o pai arrasado.
Gray observou a enfermeira a aconchegar os lençóis da cama. Procurou um vislumbre do rijo prospetor de petróleo nascido e criado no Texas, que regera a família com mão pesada. O pai sempre fora um homem ríspido e ferozmente independente, mesmo depois do acidente que lhe arrancara metade de uma perna. Durante a maior parte da sua vida, a convivência entre os dois pautara-se pelas constantes discussões. Ambos eram demasiado teimosos, demasiado orgulhosos. O conflito constante acabou por afastar Gray de casa, primeiro para o Exército, depois para os Rangers e, finalmente, para a Força Sigma.
Sentado naquela cadeira, estudava agora o mapa de rugas no rosto do pai, notando a compleição pálida e os olhos encovados. Enquanto a enfermeira lhe ajeitava a almofada, o pai bufou entredentes. Normalmente, seria o tipo de gesto que daria azo a uma enxurrada de protestos e asneiras. Jackson Pierce não era homem para mimos. Porém, em vez disso, o peito apenas se afundou com um suspiro derrotado. Encontrava-se demasiado exausto para protestar.
Gray falou em nome do pai e indicou à enfermeira que se retirasse.
— Deixe estar — disse —, o meu pai não gosta desse tipo de coisas.
A jovem mulher deu um passo atrás e virou-se para Gray.
— Ainda tenho de lhe limpar o cateter.
— Pode dar-nos um minuto ou dois? — retorquiu Gray, consultando o relógio.
É o tempo que tenho.
A pressão para se meter a caminho começava a desgastá-lo. Precisava de seguir para o aeródromo. Olhou por cima do ombro.
Onde raio anda o Kenny?
Calculava que o irmão deveria ter parado algures no regresso do hospital, porventura para aproveitar os últimos momentos de liberdade. Assim que Gray partisse, Kenny seria obrigado a «entrar ao serviço», como os dois lhe chamavam, uma responsabilidade que parecia pesar-lhes cada vez mais, conforme o tempo passava.
Impaciente, Gray assimilou as condições do novo quarto. Apesar de privado, apenas poderia ser generosamente descrito como espartano. Além da cama, o mobiliário resumia-se a um roupeiro, uma cortina de privacidade e uma pequena mesa de cabeceira sobre rodas. Aquilo seria a casa do pai nas próximas seis semanas.
Na sequência de uma queda no mês anterior, o pai fizera um corte profundo no coto da perna amputada. Depois de uma ida às urgências e de uma pequena cirurgia, tudo parecia estar bem, porém, o episódio originara uma pequena febre persistente. O diagnóstico apontara para uma infeção óssea secundária e septicemia leve, uma complicação habitual em pacientes mais velhos. Após nova cirurgia e novo internamento, o pai acabara ali, para se submeter a uma terapia de seis semanas de antibióticos por via intravenosa.
E talvez seja melhor, pensou Gray, sentindo-se culpado. Pelo menos, terá a atenção necessária enquanto eu estiver fora.
Mesmo nos melhores dias, Kenny não era das pessoas mais responsáveis para cuidar do pai.
Um arquejo elevou-se da cama.
— Estou pronto. Podemos ir embora — disse o pai.
Gray olhou para ele.
— Tem de ficar aqui, pai. Ordens do médico.
Nos últimos tempos, o pai de Gray possuía pouco menos do que uma noção da realidade. O que começara como episódios esporádicos de esquecimentos — perder as chaves do carro, repetir as mesmas perguntas ou confundir direções — tornara-se num diagnóstico de Alzheimer, outro duro golpe num homem que continuava a tentar agarrar-se aos últimos resquícios de independência. No ano passado, Gray arriscara fazer do pai cobaia para um medicamento experimental, uma droga que roubara de um laboratório, e que se mostrava promissora no tratamento de neuropatias degenerativas. Incrivelmente, resultara. As ressonâncias magnéticas ao cérebro haviam demonstrado a inexistência de novos depósitos amiloidais e, clinicamente, o declínio do pai parecia ter sido interrompido.
Infelizmente, a terapia não conseguia reverter os danos existentes — o que representava uma faca de dois gumes. O pai mantivera-se um tudo-nada coerente e lúcido, mas nunca voltaria a ser o mesmo homem. Encontrava-se, portanto, preso entre dois mundos, perdido numa névoa que nunca se dissiparia.
A voz dele fez-se ouvir de novo, dessa vez mais autoritária.
— Quero ver a tua mãe.
Gray respirou fundo. A mãe morrera há alguns anos. Explicara isso mesmo ao pai repetidas vezes, e não tinha dúvidas de que ele absorvera parte dessa informação, quer demonstrando a sua mágoa, quer partilhando alguma história engraçada acerca dela. Gray acarinhava esses momentos. Contudo, quando se encontrava exausto ou nervoso — como era o caso —, o pai costumava perder a noção da passagem do tempo.
Gray pousou a mão no ombro dele, interrogando-se se deveria permitir-lhe a ilusão de que a mãe estava viva ou explicar-lhe a dura realidade uma vez mais. Em vez disso, fitou os olhos azuis do pai, iguais aos seus. Algures nas profundezas daquele olhar, reconheceu o brilho cristalino da lucidez.
— Pai?
— Estou pronto para me ir embora, filho — repetiu o pai, as palavras claras como água. — Tenho muitas saudades da Harriet... quero vê-la de novo.
Gray sentiu-se congelar, momentaneamente incapaz de retirar sentido do que acabara de ouvir. Ali estava um homem que nunca fazia concessões e sempre retaliara contra o mundo, contra qualquer hipotética falta de respeito, e até contra o próprio filho, tão casmurro quanto ele. Gray não conseguia associar aquela absoluta resignação ao homem duro que o criara.
Antes que pudesse responder, Kenny irrompeu pelo quarto como um comboio desgovernado. As parecenças físicas saltavam à vista, desde a altura, os densos cabelos negros e a compleição rosada, tipicamente galesa. A única diferença residia no facto de Gray se manter em boa forma. O irmão, por seu turno, exibia uma proeminente barriga de cerveja, característica resultante de um trabalho sedentário numa empresa de software e de muitas noites de farra.
Kenny ergueu um saco de plástico com o logótipo de uma cadeia de lojas de conveniência.
— Comprei algumas revistas para o pai, a Sports Illustrated e a Golf Digest. Também lhe comprei umas coisitas para comer... batatas fritas e chocolates.
Kenny arrastou outra cadeira para junto da cabeceira e sentou-se pesadamente, como se tivesse acabado de correr a maratona. Gray notou-lhe de imediato o bafo a whisky. Pelos vistos, o irmão mais novo não tinha comprado apenas revistas e chocolates.
Kenny apontou na direção da porta.
— Podes ir, Gray. Já cá estou. Eu certifico-me de que o pai é bem tratado — disse. Depois, com uma ligeira nota de acusação na voz, acrescentou: — Alguém tem de o fazer, certo?
Gray cerrou os dentes. O irmão sabia perfeitamente que ele trabalhava para o governo, porém, os trâmites de segurança ditavam que Gray o mantivesse às escuras no que dizia respeito à própria existência da Força Sigma, ou à importância do seu trabalho. Apesar disso, a verdade é que Kenny nunca se mostrara demasiado curioso em relação ao irmão mais velho.
Gray levantou-se. O pai deitou-lhe um olhar dos dele, acompanhado de um ligeiro menear com a cabeça. A mensagem era clara: não queria que Gray dissesse uma palavra acerca do que lhe dissera momentos antes. Pelos vistos, aquela confissão pungente destinava-se apenas aos ouvidos do filho mais velho.
Tudo bem... que diferença faz mais um segredo?
Gray curvou-se sobre a cabeceira e deu um último abraço ao pai. Foi um momento estranho, tanto pela posição meio reclinada da cama, como pela demonstração pública de afeto, coisa rara entre os dois.
Ainda assim, o pai libertou um braço e deu-lhe uma palmadinha nas costas.
— Fá-los pagar caro — disse-lhe ao ouvido.
— Sempre — Por causa de incidentes no passado, o pai conhecia a verdadeira natureza do trabalho de Gray. — Venho vê-lo assim que regressar.
Gray endireitou as costas e virou-se. Dentro de si, conseguia sentir a mudança na maré conforme se preparava para a missão. Os anos nos Rangers haviam-lhe ensinado a passar de zero para mil à hora em segundos, quer fosse a saltar da cama ao som do assobio característico de um projétil de morteiro, ou a mergulhar de cabeça para se esquivar ao disparo de um francoatirador.
Como soldado, quando era altura de mexer o traseiro, as pessoas mexiam o traseiro.
Aquele era um desses momentos.
Encaminhou-se para a porta, porém o pai deteve-o, a voz surpreendentemente forte, lembrando o homem de outrora:
— Promete-me — disse ele.
Gray olhou para trás, arqueando uma sobrancelha.
— Prometo o quê?
O pai pestanejou, o olhar meio perdido. Conseguira apoiar-se sobre um cotovelo, mas o esforço fora o suficiente para o deixar a tremer. Deixou-se cair de costas no colchão, a expressão dominada por uma confusão familiar.
— Pai? — insistiu Gray.
Uma mão acenou-lhe debilmente, autorizando-o a retirar-se.
O irmão mais novo reforçou a ideia.
— Por amor de Deus, Gray, se te vais embora, vai! Deixa o pai descansar. Não sei porque estás a arrastar isto.
Gray cerrou um punho, pronto para esmurrar qualquer coisa. Em vez disso, deu meia-volta e saiu porta fora. Respirou fundo várias vezes, enquanto abandonava a casa de repouso, e atravessou o parque de estacionamento em direção à sua moto, uma Yamaha V-Max. Içou o corpanzil para cima da máquina, enfiou o capacete na cabeça e ligou o potente motor, que logo se fez ouvir com um rugido gutural.
Deixou-o bramir por instantes, dando voz à frustração. Com a trepidação a percorrer-lhe os ossos, rodou o punho e arrancou. Descreveu uma curva apertada à saída do parque, inclinando a moto num ângulo extremo, e acelerou pela estrada fora.
Mesmo assim, as últimas palavras do pai continuaram a persegui-lo.
Promete-me...
Gray não sabia o que o pai queria dizer com aquilo. Sentiu a culpa consumi-lo, em parte por estar de partida, mas também porque, lá bem no fundo, se sentia aliviado por o fazer. Depois de meses a lidar com os altos e baixos da saúde do pai, de lutar com demónios invisíveis, precisava de um adversário de carne e osso, algo que pudesse agarrar com as próprias mãos.
Focando-se nisso, ligou para o comando da Sigma.
— Estou a caminho do aeródromo. Devo chegar em quinze minutos.
A voz de Kat fez-se ouvir no interior do capacete.
— O Monk encontra-se contigo lá. Ele tem o relatório completo da missão.
Gray recebera os contornos gerais diretamente da boca do diretor. Painter tinha um interesse pessoal em jogo naquela missão e solicitara a presença de Gray em Londres.
— Qual é o ponto de situação?
— O museu foi isolado. Infelizmente, as câmaras de videovigilância na ala dos funcionários não conseguiram apanhar imagens dos atacantes. A polícia está no terreno, à procura de eventuais testemunhas.
— E o outro alvo potencial? Novidades?
— A Jane McCabe? Continuamos à espera de notícias.
Gray rodou o acelerador, sentindo que a situação tendia a agravar-se de hora para hora. Para complicar as coisas, o seu voo só aterraria em Northolt na madrugada seguinte, numa base da Força Aérea a oeste de Londres.
Por causa desse atraso, Painter Crowe ativara os dois operacionais que estavam mais próximos do local. Um deles encontrava-se numa conferência em Leipzig, na Alemanha; o outro em Marráquexe, a investigar uma venda de antiguidades roubadas no Médio Oriente. Os dois operacionais formavam uma parelha pouco convencional, mas a necessidade assim o ditara.
O desvio para o aeródromo privado surgiu mais à frente. Gray acelerou em direção à entrada, visualizando a dupla de colegas no terreno.
Quase que sentia pena dos que se atravessassem no caminho deles.
Se os dois não se matarem primeiro um ao outro...
5
30 de maio, 21h22 BST
Ashwell, Hertfordshire, Inglaterra
Este gajo não pode ser assim tão estúpido...
Seichan agarrou e torceu o pulso de Joe Kowalski, pressionando-lhe a terminação de nervos na base do polegar. O grandalhão gemeu de dor, mas acabou por soltar o braço de Jane McCabe.
A jovem recuou um passo, atarantada. Antes que desatasse a correr, Seichan ergueu as mãos e bloqueou-lhe a fuga.
— Jane McCabe? Peço desculpa, não queríamos assustá-la.
Jane ficou a olhar para os dois, boquiaberta. Ao redor, a multidão continuava a passar, alheia à cena que acabara de se desenrolar. Não era assim tão estranho, já que a maioria das atenções continuava focada no incêndio.
— Fomos enviados por Painter Crowe — explicou Seichan, sob o coro de sirenes. — Estamos aqui para a levar para um lugar seguro.
Jane massajou o braço maltratado. Não parecia muito convencida. Desviou o olhar para Kowalski. O homem lembrava-lhe um defesa de futebol americano viciado em esteroides. Com mais de um metro e noventa, nem sequer a gabardina de pele preta, pela altura do joelho, conseguia disfarçar aquele corpanzil. Além disso, pior do que tudo, o rosto era uma mistura brutal de cicatrizes, sobrancelhas espessas e lábios grossos, tudo centrado ao redor de um nariz espalmado e suportado por um queixo quadrado.
Porém, naquele momento, a sua expressão era a de um cordeirinho.
— Lamento imenso — disse Kowalski, erguendo uma manápula do tamanho de uma luva de basebol —, pensei que aquele tipo estava a atacá-la.
Jane olhou por cima do ombro.
— Derek...
Como que convocada, uma figura alta e desajeitada irrompeu da multidão. Dois fios de sangue pingavam-lhe do nariz partido, e os olhos começavam a inchar. Avançou na direção de Jane, disposto a continuar a defendê-la.
Seichan permitiu que ele se juntasse à jovem. Reconhecera a figura do doutor Derek Rankin pela fotografia incluída no dossiê de missão, um pormenor que, pelos vistos, escapara ao colega.
Derek fitou Kowalski com cara de poucos amigos, como se lhe fosse bater; depois, desviou os olhos para Jane.
— Estás bem? — perguntou, com uma voz nasalada devido ao nariz partido.
Jane fez que sim com a cabeça.
Seichan aproximou-se.
— Houve um mal-entendido, apenas isso.
Só então o arqueólogo reparou nela. Tirou-lhe as medidas dos pés à cabeça. Seichan estava habituada àquele tipo de reação. Sabia que as suas feições euroasiáticas — os cabelos negros, o tom de pele amendoado, as maçãs do rosto proeminentes e os olhos cor de esmeralda — eram muito hipnotizantes. Em bom rigor, faziam parte do seu arsenal nos tempos em que trabalhara como assassina profissional para a Guild, uma organização terrorista que fora erradicada pela Sigma. O seu corpo era esguio e musculado, e vestia umas simples calças de ganga pretas, botas de pele, blusa vermelha e um casaco de ganga.
Derek alternou o olhar entre ela e Kowalski.
— Que... quem são vocês?
— Foram enviados pelo homem que ligou — explicou Jane, ainda de pé atrás.
— Pode não parecer, mas estamos aqui para ajudar — disse Seichan, estendendo a mão com uma fotografia que Painter lhe entregara.
Jane pegou na fotografia e chegou-se para mais perto de um dos candeeiros de rua. Derek espreitou-lhe por cima do ombro. Era um retrato antigo de Painter Crowe e Safia al-Maaz. Os dois sorriam para a câmara, o deserto de Omã a servir de pano de fundo com um lago a resplandecer sob a luz do luar.
— É o nosso chefe — explicou Seichan. — Ele ajudou a doutora Al-Maaz há uns anos.
Derek levantou os olhos para ela.
— Lembro-me de ver uma fotografia deste tipo no gabinete da Safia. Ela contou-me a história de como se conheceram. — Fez uma pausa. — Se bem me recordo, fiquei com a nítida impressão de que havia ali mais qualquer coisa.
Jane notou a mudança na postura corporal de Derek.
— Achas que podemos confiar neles? — perguntou-lhe.
Derek fez um sinal com a cabeça na direção das chamas e da coluna de fumo.
— Acho que não temos escolha, Jane. — Tocou na ponta do nariz e arqueou uma sobrancelha para Kowalski. — Para a próxima, basta dizer-me olá. Pode ser?
Jane cruzou os braços. Não parecia disposta a ceder tão depressa.
— Não esperem que eu...
Seichan mergulhou na direção dela. O disparo soou com estrépito, cortando a cacofonia de sirenes. Sempre atenta ao ambiente em redor — um instinto de sobrevivência adquirido nas ruas de Banguecoque e Pnom Pen — Seichan notara uma figura obscura a levantar um braço na direção do grupo, reagindo ao gesto ameaçador ainda antes do vislumbre do cano de uma arma.
Jane tropeçou, mas Seichan deitou-lhe um braço à volta da cintura e amparou-a.
— Mantenham-se baixos! — avisou, rodando sobre si mesma e alcançando a SIG Sauer que trazia num coldre por baixo do casaco.
Apontou-a na direção do atirador, mas a multidão reagira ao disparo, permitindo ao assassino desaparecer no meio da confusão.
Ao lado dela, Kowalski empurrara Derek para o chão, usando o seu próprio corpo como escudo. Também sacara da sua arma. Num primeiro olhar, parecia uma caçadeira de canos cerrados, mas tratava-se de uma Piezer, uma nova arma desenvolvida pelo Projeto de Pesquisa Avançada do Departamento de Segurança Interna. Em vez de disparar os habituais cartuchos de calibre .12, recheados de chumbos, as munições continham cristais piezoelétricos, que eram carregados pela bateria da arma. Quando disparados, aqueles cartuchos libertavam uma chuva de cristais eletrificados, cada um com uma voltagem equivalente à descarga de uma Taser. A arma não letal possuía um alcance de quase cinquenta metros, tornando-a perfeita para refrear multidões.
Porém, numa rara demonstração de contenção, Kowalski abstivera-se de abrir fogo.
Tanto melhor... A última coisa de que precisamos é de mais pânico nas ruas. Pelo menos, por enquanto.
Seichan arrastou Jane na direção oposta ao atirador, reunindo Kowalski e Derek pelo caminho e mantendo-se atenta à eventual presença de um segundo atacante. Infelizmente, a rota de fuga afastava-os do local onde tinham deixado o carro. Seichan e Kowalski haviam chegado à aldeia minutos antes, sensivelmente na mesma altura em que deflagrara o incêndio, o que os forçara a abandonar o veículo a montante do rio de gente e prosseguirem a pé até ao Bushel and Strike.
— Para onde vamos? — quis saber Derek.
— Para qualquer sítio melhor do que este — retorquiu Seichan. — Estamos demasiado expostos.
Jane apontou para lá de uma cerca de pedra, na direção das portas abertas da velha igreja, onde se encontrava reunido um grupo de figuras com túnicas brancas.
— O Choral Evensong é esta noite.
Seichan franziu o sobrolho, sem saber de que raio estava a outra a falar.
— Quer dizer que a igreja vai estar à pinha — explicou Derek.
Okay. Pode ser.
Seichan conduziu o grupo nessa direção, mantendo a pistola escondida sob o casaco.
— Existe alguma saída nas traseiras? — perguntou, na esperança de que isso oferecesse uma oportunidade para iludirem os perseguidores.
— Podemos sair pelo lado norte — adiantou Jane, quase sem fôlego. — Vai dar ao cemitério.
— Um cemitério à noite... — resmungou Kowalski entre dentes. — Fico contente em saber que os tipos vão ter vida facilitada no que toca a livrarem-se dos nossos corpos.
Seichan ignorou o comentário, apressando o grupo enquanto transpunham o portão e atravessavam o pátio da igreja.
— E a seguir ao cemitério, o que há? — perguntou a Jane.
— Árvores. O parque estende-se ao redor de um conjunto de nascentes que alimentam o rio Cam. — Jane apontou para mais adiante. — No entanto, a estrada da estação de comboios fica a cerca de quatrocentos metros para lá desses terrenos pantanosos. Podemos tentar arranjar boleia para a estação. São apenas uns minutos de carro.
Seichan assentiu.
Parece-me um bom plano.
Derek consultou o relógio.
— O próximo comboio para Londres parte daqui a menos de uma hora.
Melhor ainda.
Seichan estugou o passo.
— A ver se não perdemos esse comboio, então.
Mais adiante, os elementos do grupo coral conversavam ruidosamente, ora excitados, ora preocupados. Encontravam-se recortados pela luz que escapava das portas abertas da igreja e inundava o alpendre no lado sul. Os acordes robustos de um órgão de tubos faziam-se ouvir do interior do edifício, enquanto os músicos se preparavam para a celebração dessa noite. A maioria deveria estar a interrogar-se se o evento iria realizar-se ou não. Ser-lhes-ia difícil — para não dizer impossível — competir com os uivos das sirenes dos bombeiros.
Mal alcançaram o alpendre, Seichan abriu caminho por entre os elementos do coro até transporem as portas da igreja, cintadas a ferro. Uma vez lá dentro, estudou a disposição do edifício. A entrada abobada para a torre situava-se no lado esquerdo. À direita, a nave estendia-se até ao amplo altar encimado por um crucifixo de ferro, iluminado com luz de velas. Encontrava-se ali outro grupo de pessoas, a maioria junto à área reservada ao coro e ao redor da base do impressionante órgão de tubos.
Sem identificar nenhuma ameaça iminente, Seichan focou-se no objetivo. Existia outra porta no lado oposto, semelhante à da entrada principal, também aberta.
Deve ser a saída que conduz ao cemitério.
Jane confirmou isso mesmo, apontando.
— Por ali.
Seichan avançou, mas uma agitação fê-la olhar por cima do ombro. As figuras no alpendre sul gritavam zangadas. No segundo seguinte, as suas vozes foram abafadas pelo rugido crescente de um motor. O grupo dividiu-se ao meio, cada metade desaparecendo atrás de cada um dos lados da porta aberta. Uma silhueta negra avançava a todo o gás, direita à igreja. Era uma moto com dois homens. O passageiro mantinha uma pistola apontada por cima do ombro do condutor.
Assim que o veículo atravessou o alpendre em direção à porta aberta, Seichan virou-se e apontou para a escadaria em espiral na entrada da torre.
— Kowalski, agarra neles e leva-os para cima!
Kowalski anuiu e arrancou, mas apenas para se virar outra vez e perguntar:
— O que vais...
Seichan já estava em movimento.
Correu na direção contrária e mergulhou de cabeça por cima de um dos bancos corridos da igreja. Rodou o corpo no ar para aterrar sobre o ombro e assumiu de imediato uma posição defensiva. Protegida pela madeira grossa das costas do banco, apontou a SIG Sauer na direção da entrada no preciso momento em que a moto passou por baixo da arcada e entrou na igreja. O rugido do motor ressoou pela nave, um coro infernal de potência e escape. O condutor apertou os travões com força, deixando atrás de si um rasto de fumo e borracha queimada.
Apontou para a entrada da torre.
Devem tê-los visto.
O passageiro apeou-se, nitidamente com a intenção de perseguir a sua presa a pé. Seichan fez pontaria à base do capacete e disparou. O estrépito da arma fez-se ouvir acima do rugido do motor. A cabeça do homem foi atirada para trás, juntamente com um esguicho de sangue do pescoço. Caiu redondo no chão, o capacete a ressaltar com um baque seco no pavimento de pedra.
Antes que pudesse oferecer a mesma gentileza ao condutor da moto, o outro rodou no assento e fez surgir a metralhadora de assalto que trazia num coldre no joelho. Uma chuva de chumbo quente atravessou a nave. Seichan mal teve tempo de se baixar. As balas roeram as costas do banco, projetando farpas de madeira por toda a parte. Pelo espaço disponível entre o assento e o chão, viu o condutor apear-se e usar a moto como escudo, a fim de alcançar a entrada da torre.
Seichan fez pontaria às pernas e disparou várias vezes, mas não lhe conseguiu acertar. Praguejou entre dentes, embora fosse obrigada a conceder algum crédito ao engenho do inimigo.
O tipo é bom sob pressão... demasiado bom para ser um amador.
Temendo o pior, saltou de trás do banco e avançou de pistola apontada à entrada da torre, mantendo-se atenta a qualquer movimento nas sombras da arcada. Antes que conseguisse lá chegar, um novo coro ergueu-se do exterior.
Uma cacofonia de motores, cada vez mais próxima.
Olhou na direção do barulho. Para lá do alpendre, uma formação de silhuetas negras acelerava pelo pátio da igreja.
Chegou a cavalaria...
Prestes a ficar sem mãos a medir, desviou o olhar para a torre. Visualizou o assassino a desaparecer escadaria acima, determinado a perseguir o alvo e a completar o objetivo. Infelizmente, não podia fazer nada para o impedir. Se quisessem ter alguma hipótese de saírem dali com vida, tinha de tratar da saúde à nova vaga de atacantes.
Deitou um último olhar à torre, juntamente com uma prece silenciosa.
Kowalski, não faças nada estúpido...
21h44
Para combater o pânico, Jane mantinha a mão em contacto com a parede enquanto subia a escadaria ao som do tiroteio. A solidez da pedra ajudava-a a acalmar os nervos. A torre fora construída com blocos de calcário retirados de uma pedreira local. Os séculos de chuva haviam desgastado a fachada, mas continuava ali, de pé, indiferente à passagem do tempo. Retirou força desse pensamento.
O contacto dos dedos com a pedra permitia-lhe também sentir as inscrições gravadas no calcário. Constituíam um lembrete das pessoas que haviam ali vivido em tempos de pragas, guerras e fome.
Tenho de ser tão firme quanto eles.
Os dedos passaram sobre outra inscrição, dessa vez recordando-a das vezes que ali estivera com o pai. Recusava-se a permitir que alguém apagasse o que restava da passagem dele pelo mundo, como se nunca tivesse existido. Podiam assassiná-lo, queimar-lhe a casa, o que quisessem. Lutaria até às últimas forças para os impedir
Não só pelo pai, mas também pelo irmão.
Enquanto houver uma hipótese, não irei desistir de o procurar.
Acelerou o passo.
Derek seguia à frente dela; o gigante americano, Kowalski, cobria a retaguarda.
— Aonde é que isto vai dar? — perguntou o grandalhão.
— Ao campanário — respondeu Jane, olhando para cima.
O toque dos sinos era uma constante na vida da aldeia. Fazia-se ouvir de quinze em quinze minutos, desde há mais de um século. Porém, nos últimos tempos, os protestos de alguns habitantes em relação ao ruído tinham resultado na instalação de abafadores nos badalos durante as horas noturnas, uma decisão que Jane considerava particularmente triste, como se estivessem a abafar a história da povoação.
Um novo som — bem mais moderno — irrompeu da nave da igreja. O rugido de múltiplos motores ressoou nas paredes de pedra, evocando a imagem de uma horda de demónios a correr pela escadaria acima. Hesitando, o americano olhou por cima do ombro, nitidamente preocupado com a parceira.
— O que fazemos? — perguntou Derek.
— Continuem a subir — disse Kowalski, agitando a arma. — Devemos ficar em segurança até...
Um disparo cortou o rugido dos motores.
Kowalski estremeceu e baixou-se. A bala passou-lhe junto à cabeça e esmagou-se na parede, atingindo-o com fragmentos da pedra.
— Corram! — berrou para os outros, precipitando-se na direção deles.
Jane virou-se e correu à frente com Derek.
Uma forte explosão fê-la sobressaltar-se. Kowalski disparara às cegas, na esperança de atingir o adversário. Os chumbos — ou o quer que fosse que se encontrava carregado naquela arma estrambólica — espalharam-se e ricochetearam na pedra, formando uma cascata de faíscas azuis.
O choque fez Jane falhar um degrau; Derek deitou-lhe o braço e amparou-a.
— Não pares.
— Que foi aq...
— Não sei nem me interessa. Continua.
Derek continuou a segurar-lhe no braço enquanto corriam. Pela leitura que fazia da expressão dele, parecia haver uma única preocupação na sua mente. Transbordava-lhe no rosto. Derek não receava pela própria vida, apenas pela dela.
Não querendo desiludi-lo, Jane correu mais depressa.
Muito mais abaixo, na nave da igreja, os motores silenciaram-se subitamente. Apenas as respirações pesadas preenchiam a escadaria. Aquela quietude enervou-a, e olhou por cima do ombro, interrogando-se sobre o que estava a acontecer.
O silêncio era bom ou mau sinal?
21h50
Seichan inclinou-se sobre o guiador da moto roubada e continuou a acelerar ao longo do relvado. Mantinha o farol da frente apagado, à semelhança do trio que a seguia.
Momentos antes, enquanto a formação de motos inimigas carregava em direção ao alpendre no lado sul da igreja, Seichan retirara o capacete do homem que abatera e enfiara-o na própria cabeça, a fim de esconder o rosto. A seguir, montara-se na moto tombada e, com o motor ainda quente, rodara o punho e acelerara para a saída no lado norte. Passando as portas abertas, apertou os travões e fez deslizar a moto até se imobilizar nas sombras para lá da ombreira, mesmo a tempo de ver o primeiro dos atacantes irromper pela igreja.
— Por aqui! Eles foram por aqui! — gritou da sua posição meio obscurecida, erguendo um braço.
Tinha esperança de que o capacete lhe tornasse a voz indistinta e de que o inimigo falasse inglês. Pelo menos, o homem que abatera era caucasiano.
Rodando o punho, desapareceu na noite.
Olhou pelos espelhos retrovisores, certificando-se de que o chamariz resultara. Suspirou de alívio.
Três motos, todas a rolar às escuras, espalharam-se pelo relvado. Mais atrás, para lá do telhado da igreja, um clarão tingia os céus de vermelho. Por ora, as chamas haviam mantido as atenções desviadas do que se passava na igreja.
Melhor assim...
A última coisa de que precisava era de civis a atrapalhá-la. Focando-se no objetivo em mãos, estudou o terreno à frente enquanto subia uma pequena encosta. Para lá do topo, o relvado descia em direção à linha de árvores que se estendia a uns duzentos metros. Infelizmente, entre uma coisa e outra, o terreno encontrava-se pejado de pedras tumulares e jazigos.
Era o cemitério que Jane mencionara.
Sem perder velocidade, apontou o guiador e continuou em frente. O que se propunha fazer era quase suicidário, mas não tinha outra opção. Assim que transpôs os limites do velho cemitério, fez o possível para evitar os vários obstáculos, mas os espaços disponíveis entre as campas depressa se tornaram cada vez mais exíguos. Apesar disso, enrolou o punho, acelerando ainda mais.
Arriscou uma espreitadela rápida pelos espelhos retrovisores. Os outros continuavam a segui-la, convencidos de que perseguiam os alvos. Fez um compasso de espera, permitindo que terminassem de descer a encosta e entrassem no cemitério. Então, apertou com força os travões e guinou o guiador, fazendo a traseira deslizar cento e oitenta graus.
De frente para o inimigo, acendeu os faróis na potência máxima. O feixe luminoso cortou a escuridão. Subitamente cegos pela luz, os perseguidores não tinham maneira de evitar os obstáculos.
Uma das motos embateu contra um jazigo, catapultando o condutor contra a parede. O corpo tombou no chão, o pescoço dobrado num ângulo pavoroso.
Outra raspou numa sepultura. O condutor perdeu o comando, inclinando a moto para um dos lados e rolando pelo chão. Seichan seguiu-lhe as cambalhotas com a mira da SIG Sauer, disparando assim que ele se tentou pôr de pé, ainda desorientado. A viseira do capacete estilhaçou-se, e o corpo caiu redondo no chão.
O terceiro condutor mostrou-se mais exímio. Desviou-se do feixe de luz, descrevendo uma curva larga e ziguezagueando com destreza por entre as sepulturas.
Seichan disparou na sua direção, mas as manobras rápidas do outro dificultavam a pontaria, permitindo-lhe pôr-se em fuga. Sempre a praguejar, Seichan enrolou o punho e deu início à perseguição. Receava que o adversário desse meia-volta assim que recuperasse a visão. Precisava de aproveitar a vantagem enquanto podia.
O condutor abandonou o cemitério com alguma distância de avanço. Assim que se apanhou em terreno aberto, possuía a confiança necessária para rodar o corpo no assento. Foi o único aviso que Seichan teve. Erguendo uma pistola, o adversário despejou o carregador na direção dela.
Seichan colou o peito ao depósito, mantendo-se abaixo da linha do para-brisas. As balas crivaram o chão de ambos os lados; uma delas atingiu o guarda-lamas dianteiro. Injetou o motor, oscilando a moto de um lado para o outro para dificultar a tarefa ao adversário, porém, um tiro de sorte acertou no farol da frente. A escuridão desceu sobre ela, cegando-a momentaneamente.
Praguejando, Seichan moderou a velocidade.
Mas era demasiado tarde.
Uns metros à frente, o mundo desapareceu numa explosão de luz. Seichan sabia perfeitamente o que tinha acontecido. O inimigo recorrera ao mesmo truque, rodando a moto cento e oitenta graus e apontando-lhe os faróis à cara.
Receando que ele aproveitasse o momento para recarregar a arma, Seichan acelerou. Sacou da pistola e fez pontaria ao centro da luz. O tiro revelou-se certeiro, e a escuridão desceu de novo sobre ela. Infelizmente, apenas revelou uma contrariedade ainda pior. A moto do outro encontrava-se abandonada e encostada a uma árvore.
Perante a colisão iminente, Seichan inclinou-se para um dos lados e fez deslizar a moto pelo chão, largando o guiador no último instante antes do embate. Sem perder tempo para recuperar o fôlego, aproveitou o embalo da última cambalhota e pôs-se de pé, abrigando-se na floresta próxima.
Colou as costas ao tronco de um enorme freixo. A perseguição terminara numa pequena clareira que avistara do topo da encosta acima do cemitério.
Porém, onde estava o inimigo?
Deixou-se ficar à escuta de qualquer sinal da sua presença: um restolhar de folhas secas, um galho a partir-se. Das profundezas da florestas, chegou-lhe aos ouvidos o som de água a borbulhar. Jane mencionara que aquele bosque se estendia ao redor das nascentes que alimentavam o rio Cam.
Então, vindo dessa mesma direção, ouviu um chapinhar, depois outro.
O inimigo estava a tentar fugir.
Seichan avançou na direção do ruído. Não podia permitir que o outro chamasse reforços ou tentasse uma nova emboscada. Ainda assim, prosseguiu com cautela, não fosse dar-se o caso de aquilo ser um chamariz, uma forma de a conduzir a uma armadilha. Caminhava com um silêncio felino, respirando pausadamente pelo nariz, atenta a cada passo.
Conforme os olhos se ajustavam às sombras espessas das copas das árvores, reparou num carreiro de gravilha que deveria conduzir às nascentes. Avançou paralela ao trilho. Mais adiante, um brilho ténue rompeu a folhagem. Passados uns metros, viu surgir uma enorme extensão de água, a superfície negra a refletir a lua e as estrelas. O lago era alimentado pelas nascentes, e ocupava uma área equivalente a metade de um campo de futebol, com bancos de jardim espalhados ao longo das margens.
Um movimento no lado mais distante captou-lhe a atenção.
Uma figura obscurecida corria pelo lago, praticamente sem perturbar a superfície da água.
Seichan pestanejou duas vezes.
Só então reparou nas lajes quadradas ao nível da água, formando uma linha pontilhada entre as duas margens. Servia para os visitantes do parque atravessarem para o outro lado.
Reparou também no capacete que flutuava ali perto. O atacante deveria tê-lo descartado enquanto atravessava, porventura incomodado com o reduzido ângulo de visão.
Seichan apontou a pistola, mas a figura encontrava-se demasiado longe. Antes de desaparecer na floresta, virou-se. O reflexo da lua nas águas iluminou-lhe as feições.
Seichan ficou a olhar boquiaberta.
O assassino era uma jovem mulher com cabelos brancos como neve, cortados pela altura dos ombros. Apesar da distância, notou as tatuagens que lhe cobriam metade do rosto. Logo a seguir, a figura virou costas e desapareceu nas sombras.
Seichan pesou o risco de lhe seguir os passos e dar continuidade à perseguição, porém, sabia que ficaria demasiado exposta, tornando-a um alvo fácil. Considerou a hipótese de contornar o lago, mas isso demoraria demasiado tempo, o que também não lhe serviria de nada.
Mesmo assim, hesitou.
Um novo som despertou-a daquele torpor, erguendo-se nas suas costas.
Era o toque dos sinos da igreja, ecoando à distância através da floresta. O toque era diferente de qualquer outro que tivesse ouvido. Não havia ali nenhuma melodia ou compasso, apenas dissonância e alarme.
Olhou nessa direção, adivinhando a fonte de tamanha cacofonia.
Kowalski...
22h04
— Despachem-se com isso! — berrou o gigante americano, agachado no cimo da escadaria e disparando a sua estranha arma, projetando uma chuva de cristais pelos degraus abaixo.
Enquanto recarregava, olhou para Derek e ergueu dois dedos no ar.
Restavam-lhe dois cartuchos.
Sabendo que não resistiriam por muito mais tempo, Derek fez força e continuou a rolar o sino de bronze pelo chão. A ansiedade apertava-lhe a garganta, dificultando-lhe a respiração — ou talvez fosse o simples facto de que estava a tentar mover uma coisa que pesava uns bons duzentos quilos.
Minutos antes, depois de voltas e voltas pela escadaria acima, o grupo alcançara por fim o campanário. A divisão ocupava toda a área superior da torre, com a enorme estrutura de madeira do carrilhão a preencher a maioria do espaço acima das cabeças. Albergava seis sinos, o mais antigo datado do século dezassete. Tinham tamanhos diferentes, todos pendurados com cordas que caíam por buracos no chão de madeira.
Enquanto Kowalski se ocupava em manter o atacante à distância, Derek e Jane tinham seguido as instruções dele para soltarem um dos sinos.
A justificação do americano fora um singelo «eu depois explico».
Como tal, Derek pegara numa escada enquanto Jane se atarefava de volta de uma caixa de ferramentas a um canto. Com o suor a arder-lhe nos olhos e o sangue a pingar do nariz partido, Derek desaparafusara um dos sinos mais pequenos do seu arco de madeira, o qual caíra pesadamente no chão, com um enorme estrondo.
Naquele momento, Derek e Jane esforçavam-se por empurrar aquela monstruosidade de metal na direção do americano.
Um novo disparo ecoou pela escadaria. Kowalski ripostou com mais uma descarga de cristais.
Restava-lhe um único cartucho.
O americano virou-se e correu para o campanário. Todos juntos, empurraram o sino até ao limite da entrada, em direção ao primeiro degrau da escadaria.
O plano tornara-se óbvio.
— Está na hora de sairmos daqui — declarou Kowalski, ao lado de Derek.
Num último esforço conjunto, empurraram o sino pelas escadas abaixo, que logo rolou e ressaltou ao longo dos degraus com um barulho ensurdecedor.
— Vamos! — berrou Kowalski, desatando a correr.
Jane seguiu-lhe o exemplo, assim como Derek, que apenas fez uma curta pausa para recolher a sacola de pele largada no chão. Compreendia a urgência daquilo tudo. A avalancha de metal poderia ser o suficiente para escorraçar o inimigo da torre, mas nada o impedia de os aguardar lá em baixo, mal se visse em segurança.
Todavia, Kowalski parecia ter outros planos.
Curva após curva, continuaram a correr escadaria abaixo, acompanhando a descida tumultuosa do sino. Numa delas, Derek conseguiu um vislumbre da figura sombria que procurava desesperadamente escapar ao monstro de metal. Kowalski disparou o último cartucho. Os cristais voaram por cima do sino, ricocheteando na curvatura da parede. Dessa vez, porém, alguns deles atingiram as costas do atacante, que logo urrou de dor.
A cambalear e atordoado, o homem olhou por cima do ombro uma última vez, ainda a tempo de ver os duzentos quilos de bronze ressaltarem na parede e esmagá-lo contra os degraus, como se fosse um inseto.
Imperturbável, o monstro de metal seguiu o seu caminho.
— Não olhes — disse Derek, passando o braço à volta da cintura de Jane enquanto contornavam o corpo partido do homem e a poça de sangue nos degraus.
Kowalski recolheu a arma do atacante e incentivou-os:
— Continuem!
Derek leu a apreensão no rosto dele. Estava preocupado com o que poderiam encontrar lá em baixo. Continuaram a seguir o sino até ao fundo da escadaria. Assim que atingiu a base, o objeto maciço catapultou-se da entrada da torre e rolou pela nave da igreja. Embateu contra a primeira fila de bancos corridos, destruindo-a, até que se deteve, finalmente, contra a segunda.
Permaneceram abrigados na segurança da torre. Kowalski fez sinal aos outros para que aguardassem e perscrutou a nave, procurando sinais de qualquer ameaça. Na ponta mais afastada, alguns elementos do coro tinham-se escondido, aterrorizados, atrás do órgão de tubos.
As sirenes continuavam a ecoar do exterior, e uma nuvem de fumo deslocou-se pelo alpendre e fez a sua primeira aparição no interior da igreja, convidada pelas portas abertas no lado sul. Derek olhou nessa direção. O fogo deveria estar a alastrar-se. Numa aldeia de telhados de colmo e paredes de madeira e estuque, as fagulhas levadas pelo vento constituíam uma ameaça para tudo e todos.
Um assobio estridente desviou a atenção do grupo para o lado oposto. Uma figura emergiu das sombras do alpendre a norte.
Era a parceira de Kowalski.
— Se já terminaste de armar confusão — disse Seichan —, está na hora de sairmos deste maldito lugar.
Jane empurrou os outros e abandonou de imediato a torre.
— Acho que é a coisa mais inteligente que ouvi esta noite.
6
31 de maio, 07h22 BST
Mill Hill, Inglaterra
Alguém está mesmo determinado em arrumar a casa...
Atrás do cordão policial, Gray estudava as ruínas incandescentes do laboratório. O Instituto Francis Crick, subsidiário do Instituto Nacional Britânico de Investigação Médica, localiza-se em Mill Hill, nos arredores de Londres. Bem no centro do vasto complexo, erguia-se um grande edifício de tijolo com quatro alas. O fumo escapava-se pelas janelas partidas viradas a noroeste, onde uma divisão de veículos dos bombeiros continuava a lançar jatos de água sobre a estrutura danificada.
Painter alertara Gray e Monk acerca do incêndio assim que o avião deles aterrara numa base da Força Aérea, instruindo-os para se dirigirem diretamente para Mill Hill, onde se encontrariam com alguém que poderia fornecer-lhes algumas informações.
Estavam à espera há mais de trinta minutos, o que aumentava a frustração de Gray. Queria manter-se em movimento, caçar os responsáveis não só por aquele incêndio, mas também pelo ataque em Ashwell. Painter informara-o da tentativa de sequestro de Jane McCabe. Seichan e Kowalski haviam conseguido manter a filha do professor em segurança, assim como o colega que a acompanhava. O grupo encontrava-se escondido num hotel discreto no centro de Londres, e Gray estava ansioso por se juntar a eles.
Monk baixou a mão prostética do auricular que trazia na orelha.
— Quais são as últimas da Sigma? — perguntou Gray.
— Nada boas. A Kat confirmou o que receávamos — retorquiu Monk. Indicou com a cabeça as ruínas fumegantes. — O cadáver, as amostras... foi tudo consumido pelas chamas.
Gray abanou a cabeça. O corpo do professor fora mantido em quarentena num dos laboratórios de risco biológico do instituto, onde os técnicos procuravam isolar e identificar o agente patogénico escondido nos restos mortais mumificados.
Monk franziu o sobrolho.
— Não percebo... Porquê todo este esforço para se livrarem do cadáver? Existem mais pessoas infetadas com a doença.
E, de acordo com a Kat, muitas delas já morreram.
Gray fitou a coluna de fumo que manchava o ar límpido da manhã.
— Não creio que estivessem preocupados com o agente patogénico, mas, sim, com a necessidade de eliminarem pistas.
— Como assim?
— A par da questão da doença, o plano inicial era podermos analisar o conteúdo do estômago do professor, como a casca de árvore. Talvez nos ajudasse com uma possível localização do lugar onde o mantiveram prisioneiro durante este tempo todo. Bem como aos restantes membros da equipa, que ainda poderão lá estar.
Incluindo o filho do professor.
Monk suspirou.
— Voltámos à estaca zero, portanto.
— Não só aqui. Também não estamos mais perto de descobrir quem sequestrou a doutora Al-Maaz.
Segundo os relatórios iniciais, os responsáveis pelo ataque no Museu Britânico não haviam deixado pistas. Similarmente, as autoridades em Ashwell tinham revistado os corpos dos atacantes abatidos, mas nenhum trazia nenhum tipo de identificação. As fotografias dos rostos e as impressões digitais estavam já a circular, e fora lançada uma caça ao homem para o sobrevivente que escapara a pé.
Gray não alimentava grandes esperanças. Quem quer que fossem, os responsáveis por aquilo tudo pareciam dispor de amplos recursos, além de um conhecimento considerável acerca dos seus alvos. Os ataques demonstravam uma precisão cirúrgica, todos com o objetivo de erradicar quaisquer pistas relativas aos mistérios que rodeavam o trabalho e a morte do professor McCabe.
Porquê? E que razões teriam para sequestrar a doutora Al-Maaz? Teria sido apenas para interrogá-la? Para descobrirem o que ela sabia?
Gray sentia que lhe estava a escapar qualquer coisa importante. Uma espécie de comichão que não podia coçar. Uma das razões porque fora recrutado para Sigma era a habilidade para resolver enigmas, a capacidade de encontrar padrões onde mais ninguém os via. Porém, até o seu extraordinário talento tinha os seus limites.
Como nesse preciso momento.
Abanou a cabeça, consciente de que precisava de mais peças antes de alimentar qualquer esperança de resolver aquele mistério.
A potencial fonte para essas peças surgiu por fim no outro lado da rua. Doutora Ileara Kano. Caminhava na sua direção. Gray reconheceu-a pela fotografia que Kat enviara. Como responsável pelos serviços de informação da Sigma, Kat desenvolvera uma rede de contactos por todo o globo. Gray perguntara-lhe de onde ela conhecia aquela mulher, mas Kat respondera-lhe com um enigmático «ela depois explica-te».
A doutora Kano tinha trinta e poucos anos, a mesma idade de Gray. Vestia umas calças de ganga e um blusão branco com o fecho meio corrido, revelando um chamativo colar de contas de coral. O cabelo era preto e curto, e as feições delicadas, quase aristocráticas. De acordo com a sua biografia, emigrara da Nigéria com os pais aos doze anos de idade, e acabara com um doutoramento em Epidemiologia, disciplina que se focava no estudo dos padrões de disseminação de doenças contagiosas. Presentemente, trabalhava para uma entidade britânica denominada Serviço de Identificação e Aconselhamento.
Apesar de ter passado a maior parte da noite a pé, a mulher não aparentava sinais de cansaço. Os seus olhos negros brilharam intensamente, apesar das pálpebras semicerradas, enquanto avaliava os dois americanos.
— Comandante Pierce, calculo? — disse, com um forte sotaque britânico. Depois, virando-se para Monk, abriu um pequeno sorriso e acrescentou: — E o infame doutor Kokkalis... A Kat falou-me muito de si.
— Não me diga — retorquiu Monk, estendendo a mão. — Quando regressar a casa, tenho de explicar novamente à minha mulher o significado da palavra «confidencialidade».
— Não se preocupe — disse ela, alargando o sorriso enquanto lhe apertava a mão —, ela só me contou coisas boas. — Encolheu os ombros. — A grande maioria, pelo menos.
— Essa é a parte que me preocupa.
Gray desviou a conversa para o assunto em mãos.
— A Kat disse que tem uma teoria sobre o que está a acontecer.
Ileara olhou de relance para as ruínas do laboratório e suspirou.
— «Teoria» é uma expressão demasiado forte. Tenho algumas respostas, mas, infelizmente, apenas levantam mais perguntas.
— Por esta altura, contento-me com qualquer coisa.
Monk anuiu com a cabeça.
Ileara fez sinal para que a seguissem.
— Deixei o meu carro ao virar da esquina, no parque de estacionamento.
Gray manteve-se ao lado dela, acompanhando-lhe a passada comprida.
— Onde vamos?
Ileara franziu o sobrolho.
— A Kat não disse? Preciso de falar com a Jane McCabe.
— Porquê?
— A Kat informou-me que ela está na posse de alguns documentos do pai, nomeadamente apontamentos que sugerem que esta não é a primeira vez que a doença atinge território britânico.
Gray estava a par do surto que ocorrera há mais de um século no Museu Britânico. Embora estivesse ansioso para se juntar aos outros, os anos no terreno haviam-lhe ensinado a nunca baixar a guarda. A Kat podia confiar naquela mulher, porém, aos seus olhos, a doutora Kano não passava de uma estranha. Decidiu pressioná-la mal chegaram ao parque de estacionamento.
— Que tem essa história de tão importante para o que se está a passar agora? — perguntou, pousando a palma da mão sobre a porta do carro, impedindo-a de a abrir.
Ileara deitou-lhe um olhar exasperado, como se ele tivesse obrigação de saber a resposta.
— Não sei se está a par disto, eu própria só soube há umas horas, mas há indicação de novos casos no Cairo e em cidades vizinhas. Aqui em Londres, estamos a fazer o possível para evitar um padrão semelhante, mas pode ser demasiado tarde. Estamos a receber relatórios surreais de pessoas que, pelos vistos, apenas viajaram pelos aeroportos de Heathrow e do Cairo. Todas apresentam os mesmos sintomas: febres altas e alucinações.
— Alucinações? — interveio Monk.
Ileara fez que sim com a cabeça.
— É um novo sintoma observado nos estágios mais avançados da doença, nos pacientes mais próximos da hora da morte. Acreditamos que é consequência de uma meningite avançada.
Monk aproximou-se. Com os seus conhecimentos de medicina, ficara intrigado pelo que acabara de ouvir e queria mais informações.
Gray interrompeu aquela linha de investigação.
— Não tenho dúvidas de que isso é tudo muito interessante, mas ainda não me disse qual é a relevância do surto anterior para o que estamos a assistir agora.
Ileara olhou para ele e começou a contar pelos dedos.
— Temos novos casos em Berlim, no Dubai e em Cracóvia. Temos três casos em Nova Iorque e outro em Washington.
Gray deitou um olhar preocupado a Monk.
— Mas o pior cenário continua a ser no Cairo. O pânico começou já a alastrar-se, o que só complica os esforços das autoridades para terem mão na situação. — Ileara afastou a mão de Gray da porta do carro e fitou-o. — Quer saber porque estou tão interessada no surto anterior? Porque os meus colegas do século dezanove conseguiram conter a doença. Se houver alguma pista nos papéis do professor acerca de como o fizeram, precisamos de descobri-lo o quanto antes.
— Ela tem razão — disse Monk.
Gray manteve-se irredutível.
— Mesmo assim, quem lhe encomendou o serviço? — insistiu. — Porque está a investigar isto sozinha?
Ileara cedeu à curiosidade de Gray e fez um sinal na direção da coluna de fumo.
— Porque as pessoas no Conselho de Pesquisa Médica, as responsáveis pela supervisão da análise do agente patogénico, são cegas. Depositam todas as esperanças na ciência moderna, nos microscópios eletrónicos, análises de ADN e cartografia genética. Não olham para o trabalho dos cientistas que os precederam, e isso está errado.
— Conheço muita gente assim — anuiu Monk —, e não só no campo científico. É como o velho ditado: «aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la».
— Precisamente. É uma das razões pelas quais decidi juntar-me ao Serviço de Identificação e Aconselhamento — explicou Ileara.
— Qual é o vosso trabalho? — perguntou Gray.
— A nossa unidade está ligada ao Museu Britânico de História Natural. Investigamos fenómenos inexplicáveis, sobretudo mistérios científicos que desafiem o estudo convencional. Vasculhamos os arquivos do museu à procura dos casos mais enigmáticos, para que possamos olhar para eles à luz das metodologias mais modernas.
Monk ergueu uma sobrancelha.
— Deixe-me adivinhar, dois dos seus colegas chamam-se Mulder e Scully.
Ileara sorriu e abriu a porta do carro.
— Acreditem, a verdade anda por aí... basta não termos medo de a procurar.
Gray revirou os olhos enquanto ela se sentava ao volante.
Monk sorriu.
— Não admira que a Kat goste dela.
Gray olhou-o de relance.
— Ah, sim? Porquê?
— É tão maluca quanto nós.
08h39
Derek esfregou os olhos com uma das mãos e suprimiu um bocejo com a outra. À sua frente, espalhados por toda a mesa da cozinha, encontravam-se os livros, cadernos e demais papelada que conseguira reunir e enfiar na sacola de pele, antes de abandonar a casa dos pais de Jane.
Tem de haver alguma coisa importante no meio disto tudo, disse para si mesmo, pela enésima vez.
Esse pensamento era o mantra que o mantivera acordado a maior parte da noite. Não é que conseguisse dormir, claro. Depois da fuga de Ashwell, chegara a Londres com os nervos ainda à flor da pele, os músculos saturados de adrenalina. O nariz, grosseiramente realinhado com fita adesiva, continuava a pulsar e a doer-lhe horrores, desafiando a eficácia da mão-cheia de analgésicos que engolira.
Desviou a atenção da mesa e olhou em redor. Jane conseguira adormecer no sofá, vá lá saber-se como; assim como Seichan, que dormitava sentada numa cadeira com o queixo encostado ao peito e a pistola no colo. Derek tinha a certeza de que ao mínimo sinal de perigo aquela mulher seria capaz de se pôr de pé enquanto o diabo esfrega um olho. O último elemento do grupo, um gigante chamado Kowalski, cumpria o seu turno de sentinela junto à janela. Depois da chegada de comboio, a altas horas da noite, tinham alugado aquele quarto de hotel utilizando nomes falsos, porém, não estavam dispostos a facilitar a vida ao inimigo.
Derek voltou a concentrar-se no material em cima da mesa. Tinha o arquivador de couro com a correspondência de Livingstone aberto à frente dele. Deu por si a olhar para outra das páginas assinaladas pelo professor McCabe. Era mais uma carta dirigida a Henry Morton Stanley, onde o outro lhe dava conta da fauna e flora que encontrara nos pântanos circundantes ao lago Bangweulu, enquanto procurava a fonte do Nilo. A carta continha outro dos desenhos naturalistas feitos por Livingstone: uma borboleta e a respetiva crisálida.
Apesar de não ser entomólogo, Derek reconhecera o nome daquele inseto em particular: Danaus chrysippus. Era a monarca-africana, uma espécie indígena da bacia do Nilo. Como arqueólogo, conhecia aquele espécime de grandes dimensões porque se tratava das primeiras borboletas que haviam sido representadas em peças de arte antiga, como era o caso de um fresco egípcio descoberto em Luxor, com cerca de três mil e quinhentos anos.
Voltou a esfregar os olhos cansados.
Que significa isto tudo?
Incapaz de encontrar algo que justificasse o interesse de McCabe naquelas velhas cartas, folheou o enorme volume uma última vez e regressou à primeira ilustração que mostrara a Jane, o desenho de um escaravelho, o escaravelho sagrado egípcio.
Tentou concentrar-se, mas o cansaço turvava-lhe a visão.
Suspirou profundamente, pronto para desistir.
Isto não passa de uma caça aos gambozi...
Então, reparou.
O que lhe escapara a noite inteira revelara-se nesse instante à conta do cansaço. Emocionado, levantou-se de um salto, arrastando ruidosamente a cadeira.
O barulho repentino acordou Jane.
— Que se passa? — perguntou ela, levantando a cabeça.
Derek não estava preparado para lhe contar. Pelo menos, por enquanto.
Preciso de ter a certeza.
Esticou o braço e pegou no iPad, a fim de desfazer as dúvidas. Tirou uma fotografia do desenho e, ato contínuo, usou a Internet do hotel para fazer uma busca no Google.
Vá lá, faz com que esteja certo.
Jane suspeitou imediatamente de que algo se estava a passar.
— Que raio estás a fazer?
Derek olhou para ela.
— Acho... acho que sei onde o teu pai esteve...
Uma voz rouca cortou o momento.
— Temos companhia — disse Kowalski, afastando-se da janela. — Está na hora de sairmos daqui.
08h51
Seichan levantou-se de um salto, o coração a bater forte. Amaldiçoou-se por ter sido tão desleixada e imaginou as várias maneiras como o inimigo poderia tê-los seguido até ali. Porém, nenhuma fazia sentido. Visualizou a assassina da noite anterior, o rosto pálido iluminado pelo reflexo do luar nas águas do lago. Não deveria ter caído no erro de subestimar aquele adversário em particular.
Kowalski notou a SIG Sauer apertada entre os dedos dela. Franziu o sobrolho.
— Eh, lá. Calma... é apenas o Gray e o Monk — disse, fazendo sinal com a cabeça na direção da janela. — Trazem alguém com eles.
Seichan ficou a olhar para ele, interrogando-se se deveria dar-lhe um tiro por conta do susto desnecessário. Respirou fundo e olhou em redor, apercebendo-se das expressões de pânico nos rostos dos outros dois. Guardou a pistola.
— Está tudo bem — assegurou-lhes —, são os colegas que esperávamos.
Derek assentiu, humedecendo os lábios. Jane colara-se a ele, escondendo-se parcialmente nas suas costas.
Seichan apontou para a mesa.
— Arrumem tudo. O Kowalski tem razão. Está na hora de nos pormos a andar daqui.
Derek não se mexeu.
— Mas eu penso que...
— Pense enquanto se despacha! — ordenou Seichan. — Quanto mais tempo aqui ficarmos, maiores as probabilidades de nos encontrarem!
O plano imediato passava por alojarem Derek e Jane numa casa segura junto à costa, disponibilizada pelo diretor Crowe. As coisas estavam a correr como previsto, o que apenas fazia o coração de Seichan bater com mais força. A imagem da assassina tatuada veio-lhe outra vez à cabeça. Sentiu-se aliviada pela presença de Gray. Precisava de falar com ele, de que ele a ajudasse a ordenar as ideias.
Ainda não consigo acreditar...
A ansiedade continuava a consumi-la desde o instante em que ficara especada na margem do lago. De lá para cá, visualizara a cena um sem-número de vezes. O seu primeiro instinto fora continuar a perseguição, mas sabia que ficaria demasiado exposta ao atravessar o lago, pondo-se em sério risco. Mesmo assim, considerara a hipótese. Pelo menos, até ao momento em que ouviu os sinos tocarem, recordando-a do seu dever, de que não era mais uma assassina a soldo da tenebrosa Guild. A sua nova vida acarretava outras responsabilidades, vidas que tinha de proteger. Porém, no seu íntimo, desejara continuar. Independentemente de tudo.
Observou os rostos de Derek e Jane. Conseguia cheirar-lhes o medo enquanto arrumavam a papelada em cima da mesa e sentiu-se invadida por um profundo desprezo pelos dois. Era um reflexo automático. Como a agulha de um gira-discos, deslizando sobre os sulcos de uma faixa demasiado gasta. A reação apenas a fez sentir-se mais revoltada. Consigo própria. Com eles.
Desviou o olhar.
Que faço eu aqui?
Ouviu-se uma batida na porta do quarto. Kowalski deslocara-se da janela para a zona da entrada, antecipando-se à chegada dos colegas. O grandalhão abriu a porta e os recém-chegados entraram no quarto.
Seichan captou de imediato a atenção de Gray, à cabeça do trio. Ele sorriu-lhe, o que ajudou a amainar a tempestade dentro de si, embora muito pouco. Assim que passou a entrada, Gray estudou rapidamente o espaço, absorvendo toda a informação em redor. Monk e uma mulher negra alta seguiram-lhe os passos com as cabeças quase coladas uma à outra, absortos numa conversa a dois.
Seichan fez sinal a Gray, a fim de o chamar à parte. Precisava de lhe confessar o que testemunhara, sobretudo antes de prosseguirem para a casa segura.
A voz de Monk interrompeu o momento, o tom agudizado pelo choque.
— Acha que foi isso que matou o professor McCabe!? — disse, mantendo os olhos na interlocutora.
A mulher respondeu-lhe.
— Isso ou o processo de mumificação. Não tivemos tempo de completar a análise antes de o corpo ser destruído.
Jane empurrou Derek e avançou para os dois, o rosto lívido pelo que acabara de ouvir.
— O que estão para aí a dizer?
Monk pareceu aperceber-se por fim de que havia mais gente ao redor. Hesitou, nitidamente embaraçado por ter sido apanhado a falar daquela maneira do pai da jovem.
— Peço desculpa... foi sem querer.
Gray interveio.
— Alguém pegou fogo ao laboratório onde se encontrava o corpo do seu pai — explicou.
Jane recuou um passo, mas Derek deitou-lhe um braço à cintura e amparou-a.
— Mas... porquê? — perguntou ela.
— Provavelmente pela mesma razão por que destruíram a vossa casa — respondeu-lhe Derek. Querem desfazer-se de todas as pistas.
Gray anuiu e preparava-se para adiantar mais informação, mas Jane cortou-lhe a palavra.
— Disse qualquer coisa acerca da causa de morte do meu pai — insistiu, fitando Monk e a desconhecida.
Monk trocou um olhar demorado com a outra.
— Ela tem o direito de saber — disse, indicando Jane com a cabeça.
— Nesse caso, penso que é melhor mostrar-lhe — disse a mulher. Fez descair a sacola que trazia ao ombro e dirigiu-se para a mesa. Retirou um portátil e pousou-o. — De qualquer maneira, tenham em conta de que se trata de resultados preliminares.
Enquanto o grupo se reunia ao redor da mesa, Seichan puxou Gray à parte.
— Preciso de te contar uma coisa acerca da noite passada... algo que não mencionei ao diretor Crowe.
Uma ruga de preocupação formou-se entre as sobrancelhas de Gray.
— Do que se trata?
Seichan evitou olhá-lo nos olhos, não só pelo receio do que ele poderia pensar acerca de ter omitido aquela informação, mas também com medo de que ele vislumbrasse uma ponta do desejo soterrado nas profundezas do seu peito. Uma vez mais, visualizou a assassina a escapar-se despreocupadamente pelo lago, fazendo apenas uma curta pausa para olhar para trás, como se estivesse a desafiá-la. Não havia medo no rosto daquela mulher, nem sequer raiva. Apenas uma expressão de liberdade, um abandono selvagem que lhe falava direto ao coração, revolvendo tudo aquilo que se esforçara tanto por manter adormecido.
Lembrava-se bem demais da sensação de ser aquela mulher. De viver no fio da navalha, para lá do certo ou errado, apenas para si.
— Que se passa? — insistiu Gray.
Resistindo olhá-lo nos olhos, Seichan manteve o rosto virado, mesmo quando ele lhe acariciou suavemente o rosto com os nós dos dedos. Não estavam juntos há mais de um mês, e tinha saudades daquele toque, do seu cheiro, da respiração dele no seu pescoço. Sabia que ele a amava, e que esse amor era a âncora à qual se agarrara durante aqueles últimos anos. Não obstante, seria isso justo... para ele? A necessidade de responder a essa pergunta levara-a a aceitar a missão anterior em Marráquexe, permitindo-lhe algum espaço para respirar.
Em vez disso, apenas conseguira ir ao encontro do passado.
— A mulher da noite passada — disse por fim —, a das tatuagens...
— O que tem? — perguntou Gray.
Seichan virou o rosto e fitou-o, disposta a confrontá-lo com a verdade.
— Reconhecia-a. Ou, melhor dizendo, sei quem ela é.
— Como assim?
Seichan recusou-se a desviar o olhar.
— É uma assassina da Guild.
7
31 de maio, 09h14 BST
Londres, Inglaterra
Impossível...
Gray considerou as implicações das palavras de Seichan, pronto para as refutar, porém, a certeza naqueles olhos verdes dizia-lhe que não valia a pena.
— Isso não faz sentido — notou. — Nós destruímos a Guild.
Seichan desviou o olhar para a janela.
— Eu ainda aqui estou... — respondeu-lhe, dando um tom amargo à voz —, e pertencia ao mesmo grupo criminoso.
Gray pousou a mão no ombro dela.
— Isso foi no passado.
Seichan virou-se e aconchegou-se nos braços dele.
— Por vezes, não conseguimos escapar ao nosso passado — murmurou, com o corpo inteiro a tremer. — Cortámos a cabeça da serpente, mas quem nos garante que outra não tomou o seu lugar?
— Fomos meticulosos.
— Pode até ter sido substituída por outra coisa inteiramente nova... algo que preenchesse esse vazio de poder. — Seichan ergueu os olhos para ele, o rosto fechado, como se encobrisse qualquer coisa. — Seja como for, a Guild empregava outros como eu, igualmente brutalizados e treinados para servirem a organização... e que terão desaparecido nas sombras, depois do que aconteceu.
— Onde poderiam encontrar novos amos a quem servir... — concedeu Gray.
— Tal como eu fiz, é isso?
Seichan libertou-se do abraço dele.
— Seichan...
— Uma vez nas sombras, nunca mais podemos sair completamente... O meu nome continua em várias listas de terroristas, como bem sabes. A própria Mossad mantém a minha cabeça a prémio. As ordens são para atirar a matar.
— Tens a proteção da Sigma. Estás farta de saber.
— Enquanto for útil, queres tu dizer.
— Não é verdade.
Seichan fitou-o.
— Acreditas mesmo nisso?
Gray refletiu sobre a questão. Sabia que todos aqueles que se moviam no círculo imediato às chefias da Sigma, incluindo o diretor, nunca trairiam Seichan. Porém, não podia negar que o passado dela fora escondido dos restantes. O que incluía os responsáveis pela DARPA, a quem a Sigma prestava contas. O que aconteceria, se a verdade viesse a lume?
Antes que pudesse responder à pergunta, a voz da doutora Kano interrompeu-lhe os pensamentos.
— É contra isto que estamos a lutar — anunciou ela, endireitando as costas depois de ter passado os últimos minutos curvada sobre o portátil. — E a razão pela qual precisamos de agir rápido!
Gray tocou no cotovelo de Seichan, prometendo-lhe silenciosamente que continuariam a conversa mais tarde. Apesar de enervada, Seichan aquiesceu e acompanhou-o para se juntarem aos outros.
— Estamos a olhar para o quê, em concreto? — perguntou Derek, inclinando-se sobre as costas de uma cadeira para ver melhor a janela que Ileara abrira no ecrã do computador.
— É uma projeção tridimensional da imagem de uma célula nervosa, captada por um microscópio eletrónico — explicou Ileara. — As «raízes» fluorescentes são as terminações de um dos neurónios recolhidos no cérebro do professor McCabe, e estes corpos estranhos, cobertos de filamentos, são o agente patogénico desconhecido. Encontrámo-los por toda a extensão dos tecidos neurais inflamados do professor.
— Quer dizer que o contágio não é viral — disse Monk, parecendo surpreendido — mas sim bacteriano.
Ileara abanou a cabeça.
— Infelizmente, nem uma coisa nem outra.
Monk franziu o sobrolho.
— Como assim?
— Este micróbio unicelular não é uma bactéria. Não possui um núcleo nem nenhum outro organito. Também difere das bactérias comuns do ponto de vista bioquímico, bem como da maioria das formas de vida, aliás.
— O que é? — quis saber Jane, desgastada pela conversa em torno da morte do pai.
— Trata-se de um membro desconhecido do domínio das arqueas.
— Ah... claro — anuiu Monk, compreendendo perfeitamente. Pelas expressões confusas dos outros, parecia ter sido o único.
Ileara tratou de explicar melhor.
— A vida na Terra assenta em três ramos principais, ou domínios. Temos as bactérias, que todos conhecemos. E depois temos os eucariotas, que incluem todos os restantes seres vivos, desde algas, fungos, plantas ou nós próprios. Porém, foi só em meados dos anos setenta que as arqueas foram identificadas e classificadas como membros de um domínio à parte, apresentando um percurso evolucionário divergente do lodo primordial que originou a vida na Terra. São uma das formas de vida mais antigas que se conhece... e das mais estranhas, há que dizê-lo.
— Em que aspeto? — quis saber Gray.
— Reproduzem-se de forma assexual, por fissão binária, e são extremamente eficientes em incorporarem outras formas de vida na sua bioquímica e construção genética, incluindo vírus. Alguns biólogos evolucionários acreditam que as arqueas e os vírus se desenvolveram pari passu numa relação de codependência que remonta a mais de dois biliões de anos. Na verdade, o espécime no ecrã encontra-se pejado de partículas de vírus desconhecidos.
Gray estudou a imagem do organismo.
Com que raio de coisa estamos a lidar?
— Essa bizarra construção genética permitiu aos micróbios arqueanos sobreviverem e prosperarem nos ambientes mais extremos do planeta — prosseguiu Ileara. — Fontes hidrotermais, tundras geladas, assim como em meios altamente ácidos ou alcalinos.
Gray apontou para o ecrã.
— E esta espécie em particular? — perguntou, pressentindo que a doutora Kano estava por fim a chegar à parte que interessava.
Ileara pôs as mãos nas ancas, franzindo o sobrolho para o ecrã, como se estivesse a medir o adversário.
— Para gozarem de tamanha capacidade de sobrevivência, as arqueas utilizam diferentes fontes de energia, desde açúcares, amónia, iões metálicos, até sulfato de hidrogénio. Algumas alimentam-se de carbono; outras, da luz do sol.
— Como as plantas? — perguntou Derek. — Fotossíntese?
— Não. Utilizam um processo químico que lhes é único como espécie. Como disse, estamos a falar de organismos particularmente engenhosos. É o caso deste pequeno malandro.
— Sobrevive à base de quê, então? — perguntou Gray.
— Algum de vós já ouviu falar das bactérias Geobacter ou Shewanella?
Monk arregalou os olhos, compreendendo a intenção daquela pergunta.
— Não está a querer dizer que...
— Isso mesmo.
Kowalski, que se mantinha junto à janela, interveio.
— Monk, deixa-te de tretas e desembucha...
O comentário encontrou eco na cabeça de Gray, que cravou os olhos em Monk, à espera de respostas.
— São duas bactérias que se alimentam de eletricidade — explicou o outro.
Ileara anuiu com a cabeça.
— Na verdade, existem dez espécies de bactérias com esta particularidade, todas diferentes e espalhadas por todo o mundo, e creio que haverá muitas mais por descobrir. No entanto, no que toca ao domínio das arqueas, trata-se de uma estreia.
Seichan franziu o sobrolho.
— Está a dizer que estas coisas comem, de facto, eletricidade?
— Não é muito diferente daquilo que as nossas células fazem — explicou Monk. — Nós obtemos energia decompondo moléculas de glicose e convertendo-as em trifosfato de adenosina, ou ATP, o combustível que utilizamos para as nossas funções vitais. As bactérias elétricas dispensam este processo intermédio, recolhendo a energia diretamente do meio ambiente.
— Sim, mas de onde? — quis saber Derek.
Ileara encolheu os ombros.
— Da superfície de minerais, por exemplo, ou da voltagem eletroquímica que percorre os leitos marinhos. Os cientistas utilizam um método simples para descobrirem novas espécies. Basicamente, o que fazem é espetar elétrodos na lama. Depois, ficam à espera de ver «quem aparece para jantar».
Gray estudou a imagem no ecrã.
— E este espécime faz isso?
— Confesso que não faço ideia de como este organismo recolhe a eletricidade disponível no meio ambiente. Mas talvez pudesse responder a essa questão se soubéssemos de onde veio.
Jane e Derek trocaram um olhar cúmplice, que não passou despercebido a Gray.
Será que estes dois sabem mais do que querem dizer?
— Por outro lado, há uma coisa que sei — prosseguiu Ileara. — Esta coisa não se alojou no cérebro do professor McCabe por acaso. Acredito, em vez disso, que o micróbio utiliza a corrente sanguínea para se instalar na parte da nossa anatomia onde a atividade elétrica é abundante.
Gray anuiu com a cabeça, visualizando a cascata ininterrupta de energia gerada pelos impulsos bioelétricos dos milhões de neurónios no cérebro.
— Uma vez no cérebro — continuou Ileara —, estes filamentos minúsculos aderem às células nervosas como vampiros, sugando-lhes a energia. Naturalmente, a reação do corpo origina uma inflamação dos tecidos enquanto tenta combater o invasor.
— O que se traduz no quadro clínico de meningite e alucinações que mencionou — acrescentou Monk.
Ileara assentiu, o semblante carregado.
— Sim. Porém, em vez de uma «simples» meningite de origem bacteriana, já de si difícil de tratar, estamos a lidar com uma doença completamente nova, uma vez que tem origem num organismo das arqueas. E isso não é o pior.
— Como assim? — perguntou Gray.
— Quando o micróbio encontra um lugar ideal para crescer, multiplica-se rapidamente. É por isso que os sintomas evoluem tão rápido. No entanto, a cada nova multiplicação, as células divididas libertam os vários vírus que transportam no interior, todos de diferentes estirpes. A verdadeira dimensão das consequências implicadas é uma autêntica incógnita.
— O que significa que qualquer esperança de encontrarmos uma cura obriga a várias frentes de batalha — notou Monk. — Não só vamos precisar de um antibiótico capaz de eliminar o organismo, como de um arsenal de drogas antivíricas.
— Exato. Por enquanto, não nos foi possível determinar a taxa de mortalidade e a forma de transmissão da doença, mas estamos convencidos de que se propaga através do ar. Além disso, as nossas previsões dizem-nos que os animais também poderão ser suscetíveis ao organismo.
— Faz sentido — concordou Monk. — Qualquer coisa com um sistema nervoso pode sucumbir à doença. Cães, gatos, ratos... até insetos, se calhar. Seja lá o que for, isto vai atingir-nos rápido e com força.
— De que tipo de cenário estamos a falar? — quis saber Gray.
Ileara tentou responder.
— O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças desenvolveu uma escala que classifica o grau de gravidade de uma pandemia. A escala tem cinco categorias de perigosidade, de acordo com a facilidade de propagação dos diferentes agentes patogénicos.
— Mais ou menos como os furacões.
— Correto. Neste caso, e recorrendo a essa comparação, estamos a olhar para uma tempestade de categoria 5. — Ileara virou-se e fitou Jane. — É por isso que precisamos de saber se o seu pai descobriu alguma coisa acerca do surto anterior, quando o artefacto do doutor Livingstone foi aberto no Museu Britânico.
Jane olhou de relance para Derek.
— Tem alguma coisa que queira partilhar connosco? — perguntou Gray.
— Nada que diga respeito a uma potencial cura — retorquiu Derek, hesitante. — No entanto, acho que posso ter uma ideia de onde o professor poderá ter estado este tempo todo.
— O quê? Como? — disse Gray, incapaz de disfarçar a surpresa no tom de voz.
Derek virou-se para a pilha de papéis em cima da mesa.
— É melhor mostrar-lhes.
09h55
Faz com que esteja certo, meu Deus... para bem dela.
Derek viu os olhos de Jane encherem-se de esperança mal pegou no arquivo roubado pelo professor McCabe na biblioteca de Glasgow. Sabia que os pensamentos dela se concentravam no irmão, Rory, na remota possibilidade de se encontrar ainda vivo. Derek não fazia ideia se as teorias que haviam discutido há instantes eram válidas ou apenas um ponto de partida para uma nova desilusão. Ainda assim, sabia que não podia manter o silêncio, sobretudo depois de tudo o que ouvira da boca da doutora Kano acerca daquele patogénico.
Pousou o volume em cima da mesa, deixando uma das mãos sobre a capa de couro.
— Antes de começar, quero que percebam que o professor estava determinado a desenterrar qualquer prova que sustentasse a história relatada no Livro do Êxodo. Terá sido essa a razão pela qual acabou por tropeçar neste relato de Livingstone, onde dá conta de um artefacto que lhe fora oferecido por um nativo em África.
Derek abriu o caderno de McCabe e mostrou ao grupo a página com a ilustração do aríbalo, o recipiente de óleo com o perfil do rosto de uma mulher de um lado e um leão no outro. Mostrou também a palavra egípcia para o rio Nilo inscrita nos hieróglifos que decoravam a base.
Ileara inclinou-se para ver melhor.
— Portanto, este é o famoso artefacto que foi aberto no museu, causando a morte de todos os envolvidos no processo?
— Sim — anuiu Derek. — Ou segundo reza a história, pelo menos. É preciso ter em conta que a mesma narrativa também dá conta de que o conteúdo do objeto era nada menos do que uma amostra da água do Nilo, da época em que o rio se transformara em sangue.
— Verdade ou mentira, uma história dessas teria certamente intrigado o meu pai — notou Jane.
— Exato, o suficiente para o conduzir a esta coleção de cartas entre Livingstone e o homem que o salvou, Henry Morton Stanley. — Derek abriu o volume de couro. — O professor McCabe parecia especialmente interessado em meia dúzia dessas cartas, sobretudo as que continham desenhos naturalistas feitos por Livingstone.
Derek mostrou a carta com a ilustração do escaravelho sagrado.
— De início, pensei que o professor assinalara esta carta por causa da ligação evidente ao antigo Egito. No entanto, quando menos esperava, acabei por notar algo estranho no desenho e decidi fotografá-lo, a fim de poder manipulá-lo.
Derek alcançou o iPad e abriu a fotografia que tinha tirado.
— Estava precisamente a trabalhar a imagem quando vocês apareceram.
Os outros acotovelaram-se nas suas costas, a fim de verem melhor enquanto ele rodava a imagem do escaravelho, posicionando-o verticalmente, como se estivesse equilibrado sobre a ponta da asa.
— E então? — perguntou Monk, coçando a ponta do nariz.
— Os veios das asas pareceram-me estranhos; não é que eu seja nenhum perito em morfologia de insetos, longe disso. Porém, reparem no que acontece quando faço isto.
Derek utilizou o programa de edição de imagem para apagar as asas até restar apenas a parte que lhe interessava.
Gray endireitou-se.
— Meu Deus...
Derek deitou-lhe um olhar de relance, surpreendido por o americano parecer ter já descortinado o objetivo daquele exercício.
— Vamos, mostra-lhes o resto — incitou Jane, com algum orgulho na voz, alimentando-lhe a confiança.
Derek apagou também o corpo do escaravelho e, a seguir, deslocou os veios das asas, unindo-os num só.
Ileara semicerrou os olhos para o ecrã.
— Parece um rio...
— Sim, mas não um rio qualquer — sublinhou Derek. — Reparem na secção do topo que parece um delta, e nos dois lagos, um grande, outro pequeno, nas pontas dos afluentes.
— É um mapa do Nilo — disse Gray, deitando um olhar de admiração a Derek.
Para reforçar a sua conclusão, Derek fez surgir um mapa de satélite da região, onde destacara o curso do rio. Dispôs as duas imagens lado a lado.
— Como podem ver, as duas imagens são praticamente idênticas — declarou.
Ainda assim, Gray levantou uma questão pertinente:
— Alguém consegue explicar-me como terá o Livingstone produzido um mapa tão exato do Nilo, sobretudo naquela época?
Jane respondeu.
— Não é assim tão difícil de explicar. Por essa altura, já tinha cartografado largas secções do continente africano, todas com sucesso, incluindo a maior parte do rio Zambeze. Todo esse trabalho valeu-lhe, diga-se de passagem, uma medalha de ouro da Royal Geographic Society.
— Livingstone era perfeitamente capaz de fazê-lo — reforçou Derek. — Na verdade, a maior parte do curso do rio Nilo foi cartografada antes da sua morte.
— Mas qual a razão disto tudo? — perguntou Monk. — Por que carga de água se lembrou de desenhar o rio nas asas de um escaravelho?
Ileara ofereceu uma explicação.
— Este tipo de subterfúgio era usado por alguns espiões britânicos, mais ou menos pela mesma altura. Recordo-me de Robert Baden-Powell, por exemplo, um oficial dos serviços secretos que se fez passar por entomólogo. Usava ilustrações de insetos, folhas e outros elementos naturais para camuflar pormenores de instalações militares e arsenais. Tudo isso nas barbas do inimigo.
Gray franziu o sobrolho.
— Esse nome diz-me qualquer coisa.
Ileara sorriu.
— É natural. Estamos a falar do homem que mais tarde viria a tornar-se no pai do escotismo.
Monk riu-se.
— Faz sentido.... — Apontou para o iPad. — No entanto, nada nos diz acerca dos motivos de Livingstone para esconder o mapa nas asas do escaravelho.
Derek suspirou.
— A minha aposta vai no sentido de que ele queria partilhar alguma coisa importante com o seu amigo Stanley, indicando-lhe onde procurar.
— Como assim? — perguntou Seichan.
Derek regressou à imagem original do escaravelho.
— Reparem na forma como dividiu o rio, posicionando o corpo do inseto entre as duas metades. Além disso, esta espécie de escaravelho seria particularmente relevante para Stanley.
— Porque se trata de um escaravelho egípcio — notou Gray.
— Exato. Ambos nutriam grande interesse pelo antigo Egito, e acredito que Livingstone usou o corpo do inseto para demarcar uma secção específica do rio que escondia algo de grande importância, algo diretamente relacionado com os antigos egípcios.
— Se essa foi também a conclusão do meu pai — disse Jane —, é natural que se sentisse tentado a conduzir uma equipa até ao local.
Derek desenhou um X no local exato onde Livingstone separara o curso do rio com o corpo do inseto. A marca assinalava a região onde o Nilo se dividia nos seus dois afluentes: o Nilo Azul e o Nilo Branco.
Derek apontou para o X.
— Reparem que não fica muito longe do local onde estão a erguer a nova barragem. Acho perfeitamente plausível que o professor McCabe utilizasse os trabalhos no Sudão como desculpa para explorar a região.
— Pelo estado do corpo, é seguro deduzirmos que encontrou qualquer coisa — sublinhou Gray.
— Ou qualquer coisa o encontrou a ele — acrescentou Monk.
Ileara debruçou-se sobre a mesa para estudar melhor a ilustração do aríbalo no caderno de McCabe.
— Uma coisa ou outra, a verdade é que o professor regressou do deserto infetado com o mesmo organismo preservado no artefacto de Livingstone. — Virou-se para os outros. — Não sabemos se os restantes membros da equipa estão vivos, porém, se houver a mínima hipótese de estas pistas nos conduzirem à origem da doença, poderá deixar-nos um passo mais perto de a compreender... e de descobrirmos uma cura.
Gray não precisava de ouvir mais nada.
— Nesse caso, está na altura de vermos até aonde isto nos leva.
Os outros anuíram em uníssono. Todos, exceto um.
— Parece-me tudo muito bem — disse Seichan —, mas isso não nos deixa mais perto de resolvermos outro mistério.
— O que aconteceu a Safia al-Maaz... — disse Gray, a expressão e o tom um pouco mais sóbrios.
Derek sentiu uma ponta de culpa. A excitação dos últimos minutos permitira-lhe esquecer o sequestro de Safia.
Jane cruzou os braços, preocupada.
— Que podemos fazer?
— Por enquanto, nada — admitiu Gray. — A investigação no museu não revelou novas pistas. Até novo cenário, trabalhamos com o que temos.
Derek desviou o olhar para a janela, consternado por abandonar Safia à sua sorte, mas Gray tinha razão. Resignado com a decisão, fez a única coisa que lhe era possível em abono da amiga: rezar.
Por favor, faz com que ela esteja bem...
8
31 de maio, 10h04 EDT
Arquipélago Ártico
Safia encostou a palma da mão contra a janela, sentindo o frio cortante através do painel de vidro triplo. Apesar da inexistência de grades, aquelas acomodações eram sem dúvida uma cela de prisão. Para lá da janela, debaixo de um céu carregado de nuvens baixas, uma paisagem gelada estendia-se até à linha do horizonte. Mais perto, uma extensão de granito negro marcada pela deslocação de glaciares encontrava-se pintada com faixas de neve imaculada, enquanto, à distância, os penhascos desciam em direção a um mar coberto de placas de gelo solto.
Onde estou?
A pergunta continuava a persegui-la desde o momento em que acordara a bordo de um helicóptero. Dera por si amarrada a uma maca, o pensamento toldado por memórias turvas dos acontecimentos, imagens fugidias enquanto perdia e recuperava a consciência. Alguém a atacara no seu gabinete no museu, drogando e sequestrando-a. Enquanto estivera inconsciente, tinham-na despido para lhe vestirem um macacão cinzento. Cruzou os braços, abraçando-se a si própria, sentindo-se violada. Virou as costas à janela e observou a pequena divisão de cimento onde apenas cabia uma cama, uma sanita e um lavatório.
Deu graças por os seus captores lhe terem deixado o relógio de pulso, um presente do marido pelo terceiro aniversário de casamento. Deu por si a apertá-lo com a outra mão, como se procurasse agarrar-se àquele pedaço de si própria. Pela posição dos ponteiros, sabia que haviam passado menos de vinte e quatro horas desde o início do sequestro.
Recuperara lentamente as faculdades ao longo das últimas horas, ainda que continuasse a sentir a cabeça latejar e a boca seca como algodão. Pela câmara de videovigilância montada no teto, os sequestradores saberiam certamente que já não se encontrava sedada, porém, ninguém aparecera até ao momento. Na verdade, ninguém lhe dissera sequer uma palavra.
Que será que pretendem de mim?
A porta da cela era de aço reforçado, com uma pequena abertura junto ao chão. Safia calculava que servisse para lhe passarem um tabuleiro de comida, o que ainda não tinha acontecido. Havia também uma escotilha minúscula ao nível dos olhos, presentemente fechada.
Voltou a focar a atenção na janela polvilhada de cristais de gelo. As vistas forneciam-lhe as únicas pistas acerca daquele lugar. Estudou a tundra álgida, as placas de gelo sobre a superfície do mar.
Estou algures no Ártico, calculou.
Não fazia ideia do fuso horário aplicável, mas mantivera-se atenta ao movimento do sol nas últimas quatro horas. O astro mantivera-se praticamente na mesma posição, pairando sobre a linha do horizonte como se ali estivesse estado durante todo o dia; o que Safia suspeitava ser o caso. Se estivesse certa, significava que se encontrava algures a norte do Círculo Polar Ártico, na terra do «sol da meia-noite».
Encostou o punho fechado à garganta e estudou uma outra característica da paisagem. Parecia nada menos do que uma floresta de aço, estendendo-se pela tundra ao longo de centenas de hectares. Cada árvore assumia a forma de uma antena com uma altura de dez andares, os ramos em forma de X junto ao topo. Cabos corriam ao longo da superfície de granito, formando uma rede maciça de ligações.
Semicerrou os olhos para a estranha instalação, calculando que deveria tratar-se de um sofisticado sistema coletivo de antenas.
Com que propósito?
No centro da instalação, havia sido escavada uma imensa cratera, cuja boca deveria exceder os quatrocentos metros de largura. O buraco parecia mais antigo do que as antenas, apresentando aquele aspeto característico de uma mina abandonada.
Safia sabia que a região do Ártico era uma importante fonte de recursos geológicos como petróleo, minerais raros e metais preciosos. Com a vastidão a norte cada vez mais acessível por conta dos invernos quentes, e subsequente redução da crosta de gelo, a atividade mineira estava a aumentar por toda a região. Em bom rigor, nos últimos anos, o Ártico tornara-se o palco de uma verdadeira corrida ao ouro, causando uma série de tensões internacionais.
Ainda assim, apesar das evidências de que aquele lugar servira para exploração mineira, Safia sabia que o propósito atual servia um objetivo bem diferente.
Mas qual? E porque me trouxeram até aqui?
Ouviu um zumbido ténue atrás de si e virou-se.
Acima dela, a câmara de videovigilância rodou na sua direção.
Safia engoliu o medo e fitou o olho de vidro com uma expressão determinada.
Algo que me diz que estou prestes a conhecer todas as respostas.
10h22
— Não vai ser fácil convencê-la a cooperar — determinou Simon Hartnell.
Encontrava-se de pé com as mãos cruzadas atrás das costas, acariciando os punhos do seu elegante fato Armani, sentindo o toque delicado da seda. Era um gesto contemplativo que o ajudava a refletir quando enfrentava um desafio. Presidira a muitos conselhos de administração com aquela mesma pose. Naquele momento, porém, estudava as imagens que lhe chegavam por via do monitor na parede, notando a expressão desafiante no rosto da prisioneira, avaliando a sua adversária.
Uma voz carregada com sotaque russo fez-se ouvir nas suas costas.
— Talvez possamos utilizar o mesmo tipo de incentivo que oferecemos ao professor McCabe.
Simon virou-se e fitou o responsável de segurança da base. Anton Mikhailov tinha uma constituição física magra e musculada, acentuada por umas calças justas de treino pretas e casaco a condizer. O cabelo platinado era curto e meticulosamente penteado para trás com gel, o que lhe acentuava as entradas em V por cima das sobrancelhas. Depois de meses no Ártico, a sua pele era pálida, quase translúcida. Não é que uns dias de sol equatorial fizessem grande diferença na sua compleição: Anton, tal como a irmã mais velha, Valya, sofria de albinismo. Não obstante, os dois irmãos desafiavam o estereótipo de que todos os albinos tinham olhos vermelhos; em vez disso, as íris de ambos eram pintadas de azul-cristalino.
O único contraste nas feições de Anton provinha de uma tatuagem negra no lado esquerdo do rosto. Retratava meio sol, com raios que se estendiam pelas bochechas e se projetavam acima do olho. A irmã, Valya, exibia a outra metade no lado direito do rosto.
Simon tentara saber o significado por trás daqueles símbolos, mas nunca obtivera uma resposta satisfatória de nenhum dos dois, apenas uma referência ligeira de que as tatuagens tinham que ver com as ocupações anteriores de cada um. Simon recrutara os dois mercenários no rescaldo da queda da anterior organização para quem os dois irmãos trabalhavam.
Desde então, a dupla provara várias vezes o seu valor, mostrando-se implacável, ardilosa e, mais importante do que tudo, leal. Simon também não esperava nada menos do que isso, tendo em conta a pequena fortuna que lhes pagava. Claro que não passava de trocos, já que o valor estimado da sua fortuna situava-se entre os quatro e os cinco biliões de dólares, dependendo da flutuação diária em bolsa das ações da Clyffe Energy. Simon fundara a empresa depois de ter desistido da Universidade de Wharton, ansioso por perseguir a sua verdadeira paixão, cujo derradeiro objetivo se encontrava naquele momento à mão de semear.
Estou tão perto...
O seu quinquagésimo aniversário era já no mês seguinte, e Simon estava determinado a fazer da data um marco histórico, nem que para isso tivesse de abanar as próprias fundações do planeta. Tencionava provar aos seus detratores que estavam enganados, aqueles que zombavam das suas ambições, considerando-as meras excentricidades de um bilionário que não teria mais que fazer do que alimentar a vaidade com um qualquer projeto megalómano.
Esse pensamento fê-lo sentir uma raiva familiar dentro de si.
Aqueles eram os mesmos idiotas que haviam ridicularizado Richard Branson e o seu projeto de viagens espaciais privadas, ou que tinham escarnecido de Yuri Milner, o bilionário russo que procurava responder à pergunta fundamental: será que existem outras formas de vida no universo?
No passado, visionários como esses haviam alterado o curso da humanidade. No início do século vinte, quando o governo americano se encontrou de mãos atadas e incapaz de lidar com as ameaças globais que se erguiam por toda a parte, tinham sido esses empreendedores abastados, grandes barões da indústria como Howard Hughes, Henry Ford ou John Rockefeller, quem arrebatara o poder das mãos de políticos complacentes e enfrentara esses desafios de frente, antecipando a grande revolução tecnológica.
No entanto, empurrado por governos apáticos, o mundo voltara a estagnar. Os políticos tinham chegado a mais um impasse, incapazes de responder a uma pletora de novos perigos. Estava mais do que na altura para uma nova vaga de visionários intervir, de se avançar com tecnologias alternativas.
Os noruegueses tinham uma expressão para esse tipo de ambições: stormannsgalskap, «a loucura dos grandes homens». Apesar de o termo ter sido criado com uma conotação negativa, Simon assumira-o como um lema de vida. A história provava que o stormannsgalskap era frequentemente o verdadeiro motor por trás da mudança. Mais do que nunca, o mundo precisava desse tipo de inovação. De grandes homens, dispostos a desafiar governos e a fazer o que era necessário, assumindo escolhas duras, ousadas.
E eu tenciono ser um desses homens.
Mas havia um obstáculo.
Simon fitou as imagens no ecrã na parede, o brilho determinado nos olhos daquela mulher inglesa, e tomou uma decisão.
— Apesar de a sua irmã não ter sido capaz de apanhar a Jane McCabe em Inglaterra, a verdade é que nos enviou este presente. Não seria de bom tom desperdiçá-lo.
— Sim, senhor.
Simon fitou Anton.
— Agora, trate de obrigá-la a compreender. Faça a doutora Al-Maaz entender o que está em jogo... e quais as consequências, no caso de recusar.
10h38
Safia ouviu o trinco da porta deslizar e preparou-se para o pior. Porém, não estava pronta para a figura que viu ser empurrada para o interior da cela. O jovem cambaleou junto à porta, vestido com um macacão cinzento semelhante ao dela.
Reconhecendo aquele rosto, o choque fê-la aproximar-se.
— Rory?
Era o filho de Harold McCabe. Estava mais pálido desde a última vez que o vira, as maçãs do rosto mais vincadas, os olhos encovados. O cabelo acobreado, por norma curto e cuidado, caía desgrenhado pela altura do colarinho, dando-lhe um ar acriançado.
Safia também conseguia ler o medo nos seus olhos verdes.
— Não queria que nada disto acontecesse, doutora Al-Maaz — disse Rory, olhando de relance para o homem que o empurrara.
O desconhecido permanecia junto à ombreira da porta, bloqueando qualquer hipótese de fuga. Uma das mãos repousava no coldre que trazia à cintura, mas era o seu olhar de aço que assustava verdadeiramente. A tatuagem negra, obscurecendo metade do rosto, apenas exacerbava essa sensação.
Aquele era um homem habituado a matar.
Ainda assim, Safia ignorou a sua presença e chegou-se mais perto, pousando a mão no ombro de Rory.
— Estás bem? O que se passa aqui?
O corpo dele tremia sob a palma da sua mão.
— Não sei por onde começar, tenho tanto para lhe contar...
— Isso pode esperar! — rosnou o homem na entrada. — Cá para fora os dois. Vamos!
Rory obedeceu de imediato, baixando a cabeça como um cão agredido. Safia apressou-se a segui-lo. O homem tatuado acompanhou-os, a mão sempre em contacto com a coronha da pistola à cintura. Safia reparara no sotaque russo. Visualizou a paisagem gelada para lá da janela.
Quer isso dizer que estamos algures na Rússia? Talvez num gulag na Sibéria?
Manteve-se junto a Rory, a fim de obter respostas.
— Sabes onde estamos?
— Canadá — retorquiu Rory, surpreendendo-a. — Mais a norte, no Arquipélago Ártico, um lugar chamado ilha de Ellesmere.
Safia franziu o sobrolho, tentando retirar sentido daquela revelação.
Porquê o Canadá?
— A culpa de a terem trazido para aqui é minha — murmurou ele. — Toda minha.
— Que queres dizer com isso?
Rory olhou por cima do ombro, reduzindo ainda mais o tom de voz.
— Eles mantiveram-me aqui para conseguirem a cooperação do meu pai. Se ele não os ajudasse no Sudão...
Rory ergueu a mão esquerda. Faltava-lhe o dedo mindinho.
Meu Deus...
— O meu pai não teve escolha — declarou, a expressão consumida de tristeza. — E eu também não. Fui obrigado a colaborar no projeto aqui mesmo, sob pena de que fizessem o mesmo ao meu pai. E também ameaçaram a Jane.
— Fizeste o que podias — disse Safia, tentando atenuar-lhe a culpa.
— Então, um dia, o meu pai fugiu. — Rory esfregou a testa com a palma da mão. — Não sei porque tomou esse risco ao fim de tanto tempo.
Safia fizera a mesma pergunta a si mesma, chegando a uma possível conclusão.
— Pode ter descoberto alguma coisa. Algo que precisava de manter escondido dos vossos captores.
Rory estreitou os olhos.
— Foi o que eles pensaram. Ou, pelo menos, consideraram essa possibilidade. Quando por fim receberam a notícia da sua morte, concentraram as atenções em mim. Precisavam de alguém para o substituir, e obrigaram-me a fornecer-lhes nomes, uma lista de pessoas com conhecimentos suficientes para continuar o trabalho dele.
— E deste-lhes o meu nome — compreendeu Safia.
— Pu-la no topo da lista. A doutora conhecia o trabalho do meu pai melhor do que ninguém — justificou Rory, deitando-lhe um olhar de contrição. — A única alternativa seria a minha irmã, mas insisti que era demasiado inexperiente... Eu... eu só queria protegê-la.
Como qualquer irmão faria.
Para mal de Safia, essa decisão implicava atirá-la aos lobos.
— Depois de a raptarem a si, o plano deles consistia em destruírem todos os indícios daquilo em que o meu pai estava a trabalhar, quer presentemente quer no passado, e transferirem o objeto do seu estudo para estas instalações, a fim de o proteger.
— E esse objeto de estudo veio do Sudão? — Safia imaginou a figura de Harold a surgir cambaleante das areias do deserto. — Foi onde o mantiveram prisioneiro?
— Penso que sim... — anuiu Rory, com uma ponta de revolta. — A ele e ao resto da equipa.
— Estavam a trabalhar em quê?
— Chega de conversa! — avisou o guarda, pondo fim ao diálogo.
Por essa altura, encontravam-se nos últimos metros de um corredor branco sem janelas. Terminava num conjunto de portas duplas.
O homem tatuado passou um cartão de acesso, desbloqueando a passagem e, de seguida, fez sinal a Rory para avançar. Instruído pelo seu captor, Rory estendeu o braço e abriu a porta. O gesto fez-se acompanhar pelo sibilar suave da quebra de um selo hermético.
Rory foi à frente, transpondo as portas e entrando diretamente para uma antecâmara com bancos corridos e cacifos. Para lá de uma parede de vidro, a divisão seguinte continha um sofisticado laboratório topo de gama. O acesso fazia-se por antecâmaras estanques onde se encontravam pendurados fatos de biossegurança amarelos, como se fossem balões vazios. No interior do laboratório, as paredes encontravam-se preenchidas de equipamentos em aço inoxidável, unidades de refrigeração e congeladores. A maior parte dos instrumentos encontrava-se para lá do alcance da compreensão de Safia.
No entanto, percebia o motivo pelo qual fora trazida até ali.
No centro do espaço existia um enorme cubo de vidro selado. Continha o que parecia ser um trono preto manchado, cujas características eram nitidamente egípcias. A parte de cima das costas suportava duas figuras esculpidas, os perfis de um leão e de uma mulher, porventura uma rainha egípcia.
Porém, tinha sido a figura sentada no trono que captara toda a atenção de Safia, nada menos do que os restos mortais de uma mulher. O cadáver mumificado dava a impressão de estar fundido com a cadeira, notando-se a pele queimada ao longo das extremidades. Ainda assim, enquanto admirava aquela mulher sentada com o queixo caído sobre o peito afundado, as suas feições murchas pareciam estranhamente serenas.
— Quem é? — perguntou.
A voz de Rory encheu-se de amargura.
— Alguém de quem precisamos de obter respostas.
Safia franziu o sobrolho.
— Que se passa aqui, afinal? Que significa tudo isto?
A explicação foi-lhe oferecida por uma figura desconhecida que se materializou nas suas costas. Deu um passo em frente e deixou-se ficar ao lado do homem tatuado. O recém-chegado era mais velho, com os cabelos grisalhos e vestido de forma elegante com um fato de bom corte. Parecia vagamente familiar, mas Safia estava demasiado perturbada para associar um nome àquele rosto.
O homem ergueu um braço na direção do cubo de vidro.
— Precisamos da sua ajuda para resolver este mistério, doutora Al-Maaz.
— E se eu recusar?
O homem sorriu-lhe, exibindo uns dentes perfeitos.
— Nesse caso, prometo-lhe que não lhe acontecerá nada de mal.
O homem olhou de relance para Rory, que logo recuou um passo.
Safia sentiu o sangue ferver perante aquela ameaça velada, mas manteve-se firme.
— Nesse caso, diga-me o que estão aqui a fazer.
O sorriso dele alargou-se.
— Oh, nada de mais. Estamos apenas a tentar salvar o mundo.
SEGUNDA PARTE
O OVO DE COLOMBO
9
2 de junho, 13h15 EET
Cairo, Egito
— Trago boas e más notícias — declarou Monk.
Gray ergueu os olhos e interrompeu a verificação do equipamento da equipa: mochilas, armas, munições — tudo espalhado em cima da mesa e debaixo da sombra da tenda aberta. Para lá do abrigo, uma faixa de alcatrão estendia-se em direção ao avião de transporte militar, um C-130.
Estava previsto subirem a bordo da potente aeronave movida a turbo-hélices para um voo de duas horas que os levaria do Cairo a Cartum. A capital do Sudão ficava a mil e seiscentos quilómetros para sul, junto à confluência do Nilo Azul e do Nilo Branco, os dois afluentes que formavam o poderoso rio Nilo.
Daí, o grupo procuraria em toda a região envolvente por uma pista que os conduzisse ao local onde Harold McCabe teria sido feito prisioneiro. Visualizou o professor a cambalear pelo deserto, quase morto, meio mumificado, carregando uma praga no interior do seu cérebro febril.
Que teria acontecido àquele homem?
Para ajudar a responder a essa pergunta, Jane e Derek encontravam-se alojados num hotel próximo do aeródromo, às voltas com páginas e páginas de cadernos e a pesquisarem referências históricas. Gray deixara-os a trabalhar à guarda de Seichan e Kowalski.
Gray protegeu os olhos contra o brilho intenso do sol egípcio. O alcatrão ondulava sob o calor tórrido do início de tarde, com as temperaturas a rondarem a barreira dos quarenta graus. Observou Monk a esgueirar-se para o interior da tenda, seguido da doutora Kano.
— Boas e más notícias? — ponderou em voz alta. — Não tenho bem a certeza quais são as que quero ouvir primeiro.
Monk enxugou a testa húmida com a palma da mão igualmente suada. Abanou a cabeça, dando a entender que ele próprio não sabia por onde começar.
Assim que se viu no interior da tenda, Ileara suspirou de alívio.
— Não admira que os meus tenham emigrado da Nigéria. Lembrem-me de nunca mais me queixar da chuva e nevoeiro londrinos.
O par passara a maior parte da noite e manhã na NAMRU-3, a Unidade de Pesquisa Médica da Marinha dos Estados Unidos, localizada na cidade do Cairo. A base fora estabelecida em 1942 para combater um surto de tifo durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, a unidade crescera e tornara-se num dos maiores laboratórios de pesquisa dos Estados Unidos além-fronteiras, cujo objetivo era estudar e combater doenças emergentes.
Em virtude disso, a NAMRU-3 estava já a funcionar como centro de operações para monitorizar e investigar a nova pandemia que eclodira no próprio quintal. Os médicos e cientistas da unidade estavam a trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde egípcio, a Organização Mundial de Saúde e o Departamento para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a fim de coordenarem um esforço global para impedir a propagação da doença e descobrir uma cura.
Monk e Ileara tinham estado ocupados a assistir a reuniões e a falar com os homens e as mulheres na linha da frente do combate ao novo agente patogénico, um misterioso organismo que subsistia à base de eletricidade. Pelos olhos inchados e vermelhos, os dois davam ares de quem dormira muito pouco ou nada.
— Bom, comecemos pelas boas — decidiu Gray.
A verdade é que já tinha a sua conta de más notícias. Além disso, tudo indicava que as coisas podiam piorar, mesmo no plano pessoal. O irmão deixara-lhe uma mensagem de voz no telemóvel, pedindo-lhe para lhe ligar de volta assim que o dia amanhecesse. Com uma diferença de seis horas entre o Cairo e Washington, faltava pouco mais de uma hora para fazer essa chamada. Gray sabia que o telefonema repentino do irmão deveria ter que ver com a saúde do pai, e essa preocupação continuava a pesar-lhe sobre os ombros.
Uma coisa de cada vez... Logo se vê que tipo de desastre vem por aí.
— As boas notícias — começou Monk — são que alguns pacientes estão a dar sinais de melhoras. O que significa que a doença não é cem por cento fatal.
— Por outro lado, não sabemos por que razão uns parecem recuperar e outros não — acrescentou Ileara.
— Não deixam de ser boas notícias, apesar de tudo — admitiu Gray.
— Diria que são mais ou menos boas. — Monk trocou um olhar preocupado com Ileara. — Apesar da existência de sobreviventes, as estimativas atuais apontam para uma taxa de mortalidade na ordem dos quarenta e cinco a cinquenta por cento. Temos sorte de a taxa não ser mais elevada, claro, mas as doenças infeciosas com níveis de fatalidade de cem por cento são raras. O próprio vírus do Ébola não mata toda a gente que toca. Tem, aliás, a mesma taxa de mortalidade deste micróbio, à volta de cinquenta por cento.
Gray estreitou as sobrancelhas.
— Seja como for, é cedo para tirarmos conclusões definitivas — notou Ileara. — O primeiro caso surgiu há cinco dias. É preciso aguardar.
— Okay. Se essas foram as notícias «mais ou menos boas», quais são as más?
Monk olhou para Ileara, que respondeu por ele:
— Comprovámos que a doença é transmissível por via aérea. Basta uma pequena inspiração para o micróbio se alojar nos nervos no interior do nariz, de onde viaja diretamente para o cérebro, causando uma encefalite. Porém, mais assustador, demora menos de duas horas desde o instante da exposição ao alojamento do organismo no cérebro, onde o tratamento se torna problemático.
Monk massajou as palmas das mãos.
— À semelhança da gripe, este filho da mãe transmite-se fácil e rapidamente. A previsão é que esta pandemia irá escalar para um grau de calamidade num abrir e fechar de olhos.
Gray não estava surpreendido. Recordava-se bem do que observara no dia anterior, durante a viagem de carro do aeroporto para o hotel. O Cairo era uma cidade fervilhante, mas deparara-se com as ruas desertas. A mão-cheia de transeuntes que encontrara pelo caminho usava máscaras de papel ou lenços sobre o nariz e a boca. Caminhavam apressados, com os ombros descaídos e evitando-se uns aos outros. Segundo as notícias, havia já uma corrida por bens essenciais. Havia tumultos, e a contagem de cadáveres não parava de aumentar, quer por medo dos que estavam doentes, quer por confrontos durante as pilhagens.
Tudo indicava que o pânico estava a revelar-se tão mortal e contagiante como a própria doença. Mesmo naquele instante, Gray conseguia ouvir o som de disparos à distância.
— Mas tudo isto levanta outro mistério — disse Ileara.
— Qual?
— Não deixa de ser estranho que os primeiros indivíduos infetados tenham sido aqueles que estiveram presentes na autópsia do professor McCabe.
Gray recordava-se bem do vídeo chocante do acontecimento.
— Porque diz isso? A equipa da morgue esteve em contacto direto com o organismo.
— É verdade — admitiu Ileara —, mas desconfio que a estimulação eletromagnética resultante dos exames na unidade de imagiologia por ressonância magnética pode ter exacerbado a situação ao avivar os micróbios alojados no cérebro. O que provavelmente explica o efeito luminescente observado nas imagens. Sabemos que estes organismos se alimentam de eletrões, porém, em circunstâncias ideais, conseguem também libertá-los. Como tal, talvez seja mais adequado olharmos para este organismo como um ser vivo que respira eletricidade, em vez de a consumir.
— A doutora tem razão, Gray — reforçou Monk. — Fiz alguma pesquisa e descobri que existe investigação em curso para dar uso prático a este tipo de micróbios. Um laboratório dinamarquês produziu várias culturas destas bactérias elétricas, demonstrando que são capazes de formar cadeias e de conduzir eletrões de um ponto para outro, à semelhança de fios elétricos.
Ileara assentiu.
— As arqueas são organismos verdadeiramente notáveis do ponto de vista biológico. São autênticos metamórficos. Alguns são capazes de se fundirem em supercélulas; outros, de se interligarem em cadeia, formando minúsculos filamentos.
Gray visualizou as células intricadas que Ileara lhes mostrara no computador. Imaginou-as a interligarem-se, metodicamente, umas a seguir às outras.
— Acredito que este micróbio é capaz de fazer a mesma coisa — continuou Ileara —, o que poderá explicar os episódios de alucinações nos pacientes infetados. Estes filamentos vivos podem estar a restruturar as ligações neurais no cérebro das vítimas, estimulando a ocorrência desses sintomas. Quem sabe se de propósito.
— De propósito? Como assim? — quis saber Gray.
— Talvez as alucinações sirvam como uma ferramenta para infligir medo, a fim de aumentar a atividade cerebral, o que resultaria numa maior fonte de energia disponível para o micróbio.
— Mais ou menos como engordar um ganso para fazer foie gras — acrescentou Monk.
Gray sentiu o estômago às voltas com essa ideia.
— Seja como for — concluiu Ileara —, são conclusões preliminares.
— E porventura extemporâneas — disse Gray, desviando a conversa para o tópico inicial. — Ainda não me explicou porque considera estranho que as primeiras vítimas tenham sido os membros da equipa da autópsia.
— Tem razão — disse Ileara, esboçando um sorriso. — Acho estranho porque, pela lógica das coisas, não deveriam ser os primeiros. Lembra-se do grupo de nómadas que encontrou o professor no deserto? Eles transportaram-no numa carreta durante horas, cuidando dele até à morte. No entanto, continuam todos de boa saúde. Nenhum adoeceu.
— O que não faz sentido — sublinhou Monk —, tendo em conta o grau de contágio desta coisa.
— Existe alguma possibilidade de serem imunes?
— Isso seria o melhor que nos poderia acontecer — disse Ileara. — A família encontra-se de quarentena e fizeram-se testes, mas os médicos ainda não encontraram uma explicação válida.
Gray notou um brilhozinho no olhar dela.
— Mas a doutora tem uma ideia, certo?
Ileara assentiu.
Gray refletiu depressa, tentando descobrir por si mesmo.
Qual poderá ser a razão para não...
Então, fez-se luz.
Endireitou as costas.
— Está convencida que tem que ver com a estranha condição do corpo do professor McCabe.
Pelo ar surpreendido da doutora Kano, Gray percebeu imediatamente que acertara em cheio.
Monk riu-se.
— Não se preocupe, Ileara. Vai ver que acaba por se habituar a estas malditas deduções do Gray. Irrita um bocadinho, de início, mas aprendemos a lidar com isso. Peço-lhe é que nunca o desafie para um jogo de póquer. Vá por mim... É uma péssima ideia.
Gray achou graça ao comentário do colega, porém, manteve-se focado. O único pormenor que continuava a não fazer sentido era o estado do corpo do professor. A suposição inicial era que teria sido forçado a submeter-se àquele processo, acabando por fugir antes de o terminar.
E se não foi nada disso?
Gray fitou Ileara.
— Está convencida de que o bizarro processo de mumificação poderá ter sido autoinfligido. Que o professor poderá tê-lo feito pelas próprias mãos.
— Possivelmente. Sobretudo depois das conversas que tive com a filha nestes dois dias. Apesar de teimoso e obstinado com as suas teorias, fiquei com a ideia de que o professor era um bom homem. Isso fez-me pensar nas razões que o levariam a regressar do deserto infetado com uma doença capaz de gerar uma pandemia global. A resposta que me ocorreu foi que ele nunca arriscaria uma coisa dessas, e que mais depressa se sacrificaria antes de pôr outros em perigo.
— A não ser que estivesse convencido de que o poderia fazer em segurança.
Ileara anuiu:
— Talvez o processo de conservação visasse eliminar a presença do organismo nos tecidos periféricos, empurrando-o para o único local onde poderia sobreviver.
— O cérebro.
— Onde ficou aprisionado, sem ter por onde escapar.
Gray associou àquelas palavras a imagem de uma cobra enrolada no interior do crânio do professor.
Ileara estreitou os olhos na direção do alcatrão escaldante.
— Se calhar, decidiu-se por atravessar o deserto apenas na esperança de viver o suficiente para nos contar a sua história, para nos avisar de uma potencial ameaça, algo que os seus captores estariam a planear fazer.
Gray sentiu o coração bater mais forte ao considerar essa hipótese. Aquela região era um ninho de atividade terrorista. Além disso, lembrava-se bem do relato de Seichan acerca da assassina que atacara o grupo em Ashwell. A mulher tatuada tinha ligações à Guild, uma organização conhecida por manipular e distorcer descobertas científicas em seu proveito. Se alguém quisesse planear um ataque de bioterrorismo, aquele organismo reunia todas as condições para ser uma arma de eleição.
Refletiu como bastara um único paciente infetado — o professor McCabe — para dar origem a tantas mortes e pânico.
Quem sabe o que poderia acontecer, caso o inimigo resolvesse infetar um sem-número de pessoas, todas ao mesmo tempo.
A voz de Monk interrompeu-lhe os pensamentos:
— Bem, Gray, já estás a par das mais ou menos boas e más notícias. Queres saber as realmente más?
Gray não estava à espera daquilo.
— Estás a dizer que há piores?
Monk alternou o olhar entre o colega e Ileara.
— Parece que sim. Ainda só falámos da primeira praga. Há outras a caminho.
Ileara virou costas.
— Sim, mas essa é uma conversa que a Jane McCabe precisa de ouvir.
13h48
Isto só vai piorar...
Jane encontrava-se aninhada na ponta do sofá do quarto de hotel, abraçada aos joelhos, enquanto assistia às notícias na televisão. O almoço repousava esquecido num tabuleiro na mesa de apoio. Segurava uma chávena de café entre as palmas das mãos, como se necessitasse do seu calor para combater a certeza fria do que estava para vir.
Ao longo da última hora, não fizera outra coisa senão mudar constantemente de canal, alternando entre a BBC e as estações locais. Dominava o suficiente da língua árabe egípcia para poder acompanhar as várias emissões do Cairo. Havia atualizações constantes que davam conta do caos à solta, da ausência de lei nas ruas. Todavia, não necessitava de o saber pelas notícias no ecrã. As sirenes continuavam a uivar no exterior e, quando muito, bastava-lhe olhar pela janela. As vistas do quarto andar eram mais do que suficientes para observar o céu manchado pelas múltiplas colunas de fumo negro.
A cidade estava a desfazer-se pelas costuras.
E tudo por causa do meu pai.
A culpa pesou-lhe na consciência. Precisava de arranjar maneira de corrigir o que fora feito. O pai sempre procurara deixar a sua marca no mundo, forjar um legado que pudesse transmitir aos filhos. Era a força motriz que o levara a perseguir inexoravelmente a crença de que os acontecimentos relatados no Livro do Êxodo eram mais do que uma simples alegoria. Em última instância, queria ver o seu nome reconhecido em toda a parte.
Bem, pai, acho que conseguiste o que querias.
O nome de Harold McCabe continuava a ser mencionado em todos os blocos noticiosos, por vezes acompanhado do seu rosto sorridente com a pele bronzeada e enrugada pelo sol. Volta e meia, eram mostrados segmentos de filmagens antigas, captadas pouco antes do desaparecimento da equipa. Ver essas imagens, ouvir de novo a sua voz, doía-lhe na alma. Porém, não conseguia desviar o olhar. Uma fotografia mostrava os elementos da equipa desaparecida, incluindo um firme e determinado Rory.
A imagem recordava-a de que havia mais em jogo do que o legado do pai.
Pela milionésima vez, rezou para que o irmão se encontrasse ainda vivo.
Uma gargalhada áspera desviou-lhe a atenção para a janela. Kowalski encontrava-se encostado ao vidro, a observar as ruas lá em baixo. Tinha o pescoço inclinado para um dos lados, equilibrando o telemóvel entre o ombro e o ouvido.
— Maria — disse ele —, posso estar no mesmo continente, mas não tenho tempo de ir ver como está o Baako. Tenho a certeza de que o matulão está na maior e fez uma carrada de amigos peludos.
Jane deixou-se ficar à escuta, agradecida pela distração. Por essa altura, conhecia o gigante americano um pouco melhor graças às conversas que haviam tido nos últimos dias. Sabia, por exemplo, que tinha uma namorada na Alemanha, e que ela trabalhava com a irmã num laboratório qualquer. Kowalski aproveitara para visitá-la quando fora chamado a Londres.
A colega de armas, Seichan, encontrava-se de sentinela no átrio do hotel.
Sentiu o sofá afundar-se sob o peso de alguém. Virou-se e deu de caras com Derek, que acabara de se sentar. Ele esfregou os olhos e estendeu as pernas sobre a mesa de apoio. Jane olhou para os pés dele, reparando no buraco na zona do dedo grande numa das meias que trazia calçadas. Por alguma razão, achou que aquilo lhe dava um certo charme, já que era um testemunho da despreocupação de Derek com as miudezas do quotidiano, como comprar meias novas de tempos a tempos.
Derek notou o olhar dela e dobrou os dedos dos pés, a fim de disfarçar o buraco. Depois, sorriu-lhe.
— Como te deverás lembrar, não tivemos muito tempo para fazer malas.
Aquilo teve o condão de lhe arrancar uma pequena gargalhada. Ficou surpreendida ao dar por si a rir-se.
Derek alargou o sorriso.
— Pelo menos, estou a usar meias.
Jane juntou os seus pés descalços, escondendo-os o mais possível debaixo de si.
Derek abanou ligeiramente a cabeça.
— Que vergonha, menina McCabe. É tudo o que tenho para lhe dizer.
Uma voz zangada desviou a atenção de ambos para a televisão. Um homem de túnica gritava em arábico, apontando um dedo ao apresentador. Era um imã local, e estava visivelmente irritado.
— O que está a dizer? — perguntou Kowalski.
Jane traduziu:
— Está a insistir que as pessoas devem ignorar os avisos do Ministério da Saúde para evitarem locais públicos. Em vez disso, apela para que se reúnam em oração nas mesquitas da cidade. Diz, inclusive, para se fazerem acompanhar de quem esteja infetado, para que possam ser abençoados por Deus em vez de procurarem ajuda médica. É uma loucura absoluta. Uma coisa dessas pode infetar milhares de uma só vez.
Derek sentou-se direito.
— Ele acredita que isto é um castigo divino. Na sua cabeça, as pessoas só poderão salvar-se pedindo o perdão de Deus.
Jane continuou a ouvir com atenção.
— Agora está a dizer que rezou com um dos infetados. Ouviu o homem a falar línguas desconhecidas enquanto experimentava visões de gafanhotos a escurecerem o céu, de pessoas a morrerem nas margens de rios tingidos de vermelho e de relâmpagos a destruírem o mundo.
Derek abanou a cabeça.
— Calculei que não faltasse muito até que aparecesse alguém a colar esta epidemia às pragas bíblicas.
Jane ouviu mencionarem o nome do pai.
— Cala-te...
Enquanto ouvia, sentiu o sangue gelar-lhe nas veias.
Derek chegou-se para junto dela e passou-lhe um braço por cima dos ombros.
— Desliga isso. O tipo é obviamente louco.
— Que é que ele disse? — quis saber Kowalski.
Derek pegou no comando remoto e cortou o som da televisão.
Jane afundou-se no sofá, praticamente apática.
— Disse que o meu pai transportava a ira de Deus. Que entrou no deserto à procura de provas do Êxodo e regressou de lá carregando essas pragas de outrora, a fim de castigar o nosso mundo pela sua infâmia.
Derek olhou para ela.
— Jane, o tipo é um idiota, um incendiário, um oportunista. Está a aproveitar que as convicções do teu pai são conhecidas. Sabes bem que as teorias dele foram mencionadas em todos os noticiários quando a equipa desapareceu. Nessa altura, estes mesmos fanáticos afirmaram que eles tinham desaparecido porque se atreveram a procurar a verdade acerca do Êxodo pela ciência, não pela fé. Agora estão a dar a volta ao texto, a ver se a coisa pega ao contrário.
A porta do quarto abriu-se, sobressaltando todos.
Seichan entrou.
— O Gray vem aí — anunciou, com a mão sobre o auricular.
Kowalski franziu o sobrolho.
— Já estamos de saída?
— Ainda não. O Monk e a doutora Kano estão com ele. Querem discutir um assunto qualquer primeiro.
Derek pôs-se de pé:
— Que assunto?
Seichan olhou para Jane:
— Qualquer coisa relacionada com pragas.
Jane desviou o olhar para a televisão. O imã estava de pé, com o rosto vermelho de raiva e a gritar a plenos pulmões com o apresentador. A fotografia do pai ocupava parte do ecrã. Queria acreditar nas palavras de Derek, que aquilo não passava de um delírio oportunista, porém, um pensamento teimava em persistir.
Fitou a figura tempestuosa no ecrã.
E se ele estiver certo?
10
2 de junho, 14h07 EET
Cairo, Egito
Gray sentiu a tensão no ar assim que entrou no quarto de hotel. Jane McCabe encontrava-se de pé, com os braços cruzados. Derek mantinha-se junto dela, visivelmente preocupado. Kowalski e Seichan trocavam impressões em surdina, os dois com os olhos postos no ecrã da televisão, que estava ligada, embora sem som.
No instante em que Monk e Ileara surgiram na divisão, Jane descruzou os braços e deu um passo em frente:
— Que história é essa de uma nova praga?
Gray virou-se para os seus dois acompanhantes:
— Ponham-nos ao corrente e avisem-me quando terminarem — disse, dirigindo-se para o quarto contíguo, a fim de gozar de uns minutos de privacidade. Consultou o relógio e alcançou o telefone de satélite. Passava pouco das oito da manhã em Washington. Estava na hora de ligar ao irmão.
Assim que entrou no quarto, encostou parcialmente a porta e digitou o número de Kenny.
— Q... quem fala?
— Kenny? É o Gray...
— Hã-hã... estás bom? — O irmão aclarou a garganta. — Que horas são?
— Deixa lá as horas — respondeu Gray, tentando não se irritar. — Deixaste-me uma mensagem a pedir para te ligar. Que se passa? O pai está bem?
— Sim... não... quer dizer, não sei.
Gray apertou o telefone entre os dedos.
— Kenny, diz-me o que se passa de uma vez por todas.
— Estive ontem com ele. O pai está em isolamento. Tens de usar luvas, máscara e uma bata para entrares no quarto. Uma carga de trabalhos, se queres que te diga.
Gray revirou os olhos.
— Dizem que tem uma infeção... estafilorresistente, ou qualquer coisa do género.
Gray sentou-se na cama, preocupado.
— Estafilococos? Estás a falar de SARM?
— Hã?
— Staphylococcus aureus resistentes à meticilina.
— Sim, isso. Os médicos têm medo de que evolua para uma infeção no sangue e estão a enchê-lo de antibióticos novos. O que quer dizer que o pai pode ter de ficar mais tempo internado.
É tudo o que me faltava...
— Como está ele?
— Volta e meia está consciente. A pressão arterial também não anda bem, e os médicos estão atentos a uma irritação na pele por causa do tempo que passa deitado.
Gray sentiu uma pontada de culpa por não estar presente. Visualizou o pai deitado naquela cama, a sua frágil figura ligada a todos aqueles tubos e máquinas. Podia apenas imaginar a ansiedade que o pai deveria sentir, perdido no nevoeiro, incapaz de compreender o que se estava a passar.
As suas últimas palavras continuavam a assombrá-lo.
Promete-me.
Gray suspeitava que o pai não estava a pedir-lhe que jurasse regressar para o ver uma última vez antes de morrer. Em vez disso, lembrava-se bem das palavras anteriores do velhote:
Estou pronto para partir.
Aquela frase fora acompanhada de um pedido silencioso que transbordava no seu olhar. Quando chegasse a altura, o pai queria que ele tomasse a difícil decisão de não lhe prolongar a vida.
Serei capaz?
— E é tudo... — disse Kenny, pronto para terminar a chamada. — Depois digo-te qualquer coisa, se houver novidades.
— Obrigado, Kenny... Obrigado por estares aí com ele.
Houve uma longa pausa. Quando o irmão voltou a falar, a voz tornara-se mais suave, o tom livre da habitual amargura.
— Não te preocupes. Eu tomo conta do forte até regressares.
Kenny desligou, e Gray baixou o telefone. Deixou-se ficar sentado durante uns segundos, a ouvir o murmúrio dos outros no quarto ao lado. Suspirando, pôs-se de pé. Virou-se e notou a presença de uma figura parada no lado de lá da porta entreaberta. Parecia aguardar junto à ombreira, hesitante em entrar.
— Está tudo bem? — perguntou Seichan.
Gray guardou o telefone no bolso.
— Nem por isso, mas não há nada que eu possa fazer.
Pelo menos, por enquanto.
Seichan avançou, passou-lhe os braços à volta da cintura e encostou o rosto ao seu peito, confortando-o. Gray abraçou-a com força, sabendo que ela também lutava com fantasmas do passado. Ainda assim, ambos aproveitaram o breve instante de tréguas para partilharem aquele momento juntos.
Pouco depois, uma voz ergueu-se do quarto ao lado:
— Gray! — gritou Monk. — Acho que vais querer ouvir isto.
Seichan afastou a cabeça do peito dele e fitou-o com uma expressão divertida.
— Podemos virar costas e ir embora, sabes? — murmurou. — Agora mesmo. Reparei numas escadas de emergência enquanto estudava o hotel.
Apesar de não passar de um comentário para desanuviar o ambiente, Gray notou uma camada de sinceridade naquelas palavras. Deu por si a considerar essa hipótese. Como seria virar costas a tudo e nunca mais olhar para trás? Descer essas escadas de incêndio e tornar-se verdadeiramente livre?
Seichan interrompeu-lhe os pensamentos ao libertar-se do seu abraço. Virou-lhe as costas rapidamente, porventura receando que ele tivesse conseguido um vislumbre da dimensão do seu próprio desejo.
— O dever chama-nos — disse-lhe, afastando-se na direção da porta.
Preso às responsabilidades que aguardavam no quarto contíguo, e em casa, Gray seguiu-lhe os passos.
Promete-me.
14h22
Derek manteve-se junto de Jane, sentindo a nuvem de desespero ao redor dela.
Durante os últimos minutos, tinham feito pouco mais do que ouvir Monk e Ileara fazer o ponto de situação da pandemia, porém, no meio de todo aquele cenário negro, havia também um ponto de luz.
Dizia respeito ao pai de Jane.
— Acredita mesmo que o meu pai se tenha submetido ao processo de mumificação para nos proteger? — perguntou Jane num tom de voz aliviado e esperançoso.
— Acredito — respondeu Ileara, pousando-lhe a mão no ombro. — Infelizmente, sem o corpo, não há maneira de o confirmar.
— Pode até ser um dos motivos pelo qual pegaram fogo ao laboratório em Londres — notou Monk. — Para esconderem este pormenor.
Jane engoliu em seco.
— Mas também mencionou qualquer coisa acerca de existirem novas pragas a caminho.
Monk suspirou.
— Sim, parece que é a próxima bola a sair do saco — Virou-se e cumprimentou Gray e Seichan enquanto os dois se juntavam ao grupo. — Chegaram mesmo a tempo.
Gray olhou para Ileara:
— Bom, diga-nos lá o que se passa.
A doutora Kano contraiu o rosto, nitidamente à procura da melhor forma de se explicar:
— Alguém aqui já ouviu falar de genética dirigida? — perguntou, olhando em redor. Na ausência de respostas, acrescentou: — E do vírus Zika?
Gray franziu o sobrolho.
— Está a falar do vírus que varreu a América do Sul e agora ameaça os Estados Unidos?
— Esse mesmo.
O próprio Derek estava a par dessa doença. Causava malformações congénitas, incluindo microcefalia nos recém-nascidos. Recordava-se de ter visto fotografias dessas crianças.
— Alguns países, incluindo os Estados Unidos, estão a considerar a hipótese de combaterem a propagação da doença recorrendo a manipulação genética, dirigida especificamente aos mosquitos que transportam o vírus.
— Como é que isso se faz?
— Introduzindo ou modificando os genes de forma que o resultado afete toda a população de uma espécie. Na Florida, os cientistas estão a libertar na natureza enxames geneticamente modificados de Aedes aegypti, os mosquitos que carregam o Zika. Quando estes novos espécimes procriarem com os restantes, a geração seguinte será constituída de fêmeas estéreis. Os machos, por sua vez, continuam a transportar os genes modificados, o que permite repetir o processo as vezes que forem necessárias. As estimativas apontam para que o Aedes aegypti poderá extinguir-se na Florida no prazo de um ano, erradicando consigo a presença do vírus Zika na região.
— Certo, mas está a sugerir essa tecnologia como uma forma de combater esta epidemia? — perguntou Derek.
— Pelo contrário. — Ileara olhou em redor. — Penso que esta doença é uma «versão natural» deste processo. Porém, neste caso, o alvo de extinção somos nós, em vez de um mosquito.
Ileara virou-se e alcançou o portátil.
— Eu mostro-lhes. — Enquanto ligava o computador, continuou: — Lembram-se de ter mencionado que as arqueas tinham evoluído pari passu com os vírus, e que este espécime em particular encontrava-se pejado de diferentes partículas víricas que eram libertadas nos sujeitos infetados?
Monk interveio:
— Imaginem o organismo como uma espécie de cavalo de Troia. Uma vez dentro do castelo, descarrega a ameaça que traz escondida no interior.
— Felizmente para nós — prosseguiu Ileara —, a maior parte destes vírus são inofensivos. Exceto um, que descobrimos pertencer à mesma família de flavivírus do Zika. E bastante desagradável, pelo que observámos.
— O que faz?
— Ataca as células durante a meiose. A maior parte do nosso corpo regenera-se e cresce pelo processo de mitose, quando as células se dividem para produzir duas idênticas. Por sua vez, a meiose ocorre nos ovários e testículos com o propósito de produzir gâmetas, ou seja, espermatozoides e óvulos, os quais transportam apenas metade do código genético da célula-mãe.
— Estamos a falar de que tipo de danos? — quis saber Derek, cada vez mais inquieto com o rumo da conversa.
Ileara afastou-se do computador.
— O ataque é muito específico, já que visa um único cromossoma. Tal como a maioria dos mamíferos, nós, humanos, temos um par de cromossomas que determina o nosso sexo: XX para as fêmeas, e XY para os machos. — Apontou para o ecrã. — Esta imagem é uma representação volumétrica desses genes num indivíduo saudável. Como podem observar, o cromossoma X é significativamente maior e mais robusto do que o seu companheiro Y.
Ileara apontou para a imagem mais pequena. O vírus em questão ataca apenas o cromossoma Y. Não sabemos porquê. Pode ser por se tratar de um alvo mais fácil ou apenas um acaso. Seja como for, a próxima imagem revela bem a quantidade de danos que é capaz de infligir.
A nova imagem exibia o cromossoma Y, faltando-lhe um bom bocado.
— O formato faz lembrar uma luva de forno — notou Kowalski.
— Calculo que sim — disse Ileara.
O gigante americano sorriu, aparentemente satisfeito com o seu contributo para a discussão.
Ileara prosseguiu com a explicação:
— Os geneticistas analisaram a secção afetada do cromossoma. Acreditam que os homens infetados, aqueles que sobreviverem, passarão a produzir espermatozoides que carregam este cromossoma Y defeituoso, o que terá impacte nos filhos que vierem a gerar. Os bebés do sexo feminino estarão salvaguardados, já que carregam um par de cromossomas X, porém, os meninos, partindo do princípio de que chegam a nascer, provavelmente morrerão numa questão de meses.
Derek começou a ter noção da dimensão da ameaça:
— Isso significa que poderemos estar condenados como espécie... mesmo que consigamos sobreviver à pandemia.
Jane deu um passo atrás, o rosto visivelmente pálido.
— Estás bem? — perguntou Derek.
— É a décima praga — murmurou.
— O que estás a...
Jane virou costas e correu para a mesa apilhada de livros. Pegou na Bíblia do pai e leu um trecho do Livro do Êxodo:
— «E morrerá todo o primogénito na terra do Egito, desde o primogénito do faraó, que se sentará no seu trono, até ao primogénito da escrava, que está atrás da mó, e todo o primogénito dos animais.»
Baixou o livro.
— E todo o primogénito dos animais... — repetiu. — Doutora Kano, disse que este micróbio também poderia infetar animais, correto?
— Sim. Tudo o que tenha um sistema nervoso, basicamente.
— Nesse caso, este vírus pode ser a explicação científica para a décima praga — notou Jane. — Uma calamidade que afeta tanto homens como animais. No antigo Egito, a alteração nas águas do Nilo teria demorado meses até se diluir na bacia hidrográfica, porém, esta condição genética poderia ter subsistido muito mais tempo. Não é difícil de imaginar como a morte de bebés e de crias de animais poderia ter sido reescrita e incluída na narrativa das pragas como a última das maldições.
Ileara fez que sim com a cabeça, como se soubesse que Jane havia de chegar a essa conclusão.
— O professor McCabe tinha a sua própria teoria acerca das restantes pragas — acrescentou Derek, captando a atenção de todos. — Foi o tema de conversa de muitas noites que passámos juntos, esse possível fundo de verdade por trás da narrativa das pragas bíblicas. A explicação de Harold não era muito diferente disto de que estamos a falar.
— Qual era a teoria dele? — perguntou Gray.
Jane antecipou-se e respondeu por Derek:
— O meu pai acreditava que tudo terá começado com uma qualquer alteração ambiental que tingiu as águas do Nilo de vermelho. Como fenómeno, não é assim tão invulgar que um curso de água possa mudar espontaneamente de cor. Tal deve-se à proliferação de algas, ao desenvolvimento de bactérias, até mesmo à contaminação por metais pesados.
Ileara anuiu.
— Um dos exemplos mais drásticos ocorre periodicamente no Médio Oriente. No Irão, as águas do lago Úrmia adquirem um tom vermelho-vivo todos os verões, graças ao desenvolvimento de um organismo que dá pelo nome de Halobacteriaceae. — Ergueu uma sobrancelha para Gray. — Uma arquea, por sinal.
Gray semicerrou os olhos.
— Como o patogénico que enfrentamos. Significa que existe um precedente na região para este tipo de fenómeno.
— Não é só aqui — corrigiu Ileara. — O vosso lago salgado, no Utah, também fica cor-de-rosa de tempos a tempos. Uma vez mais, deve-se à ação de uma arquea.
— Okay — concedeu Gray —, mas que tem isso que ver com as restantes nove pragas?
Derek encarregou-se de responder:
— Se a água do Nilo, a base de toda a vida naquela região, se tornasse tóxica, as pragas seguintes poderiam ser explicadas sem recorrer à mão de Deus.
Derek dirigiu-se à mesa e abriu o caderno de McCabe na página onde ele apontara a sequência de pragas. Percorreu a lista com a ponta do dedo, enquanto partilhava os pensamentos do professor acerca do assunto.
— As três pragas seguintes, as rãs, os piolhos e as moscas, podem ter sido desencadeadas depois de as águas se tornarem vermelhas. As rãs abandonariam o rio, acabando por morrer aos magotes. Evidentemente, o decréscimo súbito destes animais permitiria uma explosão do número das suas presas habituais, nomeadamente mosquitos, moscas e piolhos.
Jane interveio:
— Não podemos esquecer que qualquer inseto parasita é um potencial veículo de disseminação de doenças. Logo, o gado na região seria diretamente atingido pela explosão de insetos. Além disso, as pessoas ficariam cobertas de mordidelas, daí as pústulas.
— O que explicaria as pragas número cinco e seis — disse Gray, espreitando a lista por cima do ombro de Derek.
Derek apontou para os três itens seguintes.
— O granizo, os gafanhotos e as trevas têm uma explicação diferente, que nada tem que ver com as águas do Nilo.
— Qual é? — perguntou Gray.
— Esta próxima sequência começa com a erupção do vulcão Tera, nas ilhas gregas, há três mil e quinhentos anos. O acontecimento registou uma força explosiva nunca antes vista, lançando biliões de toneladas de cinzas vulcânicas na atmosfera que facilmente atingiriam o Egito. Na verdade, ao longo do tempo, vários arqueólogos encontraram pedra-pomes em ruínas egípcias, uma rocha vulcânica formada pelo arrefecimento dos materiais em fusão.
— No caso de não saberem, o Egito não tem vulcões — lembrou Jane.
Derek continuou:
— O cogumelo da erupção teria produzido fenómenos atmosféricos extremos, sobretudo se coincidisse com a época das chuvas, já que a presença de cinza vulcânica no interior de nuvens de tempestade pode desencadear potentes trovoadas e queda de granizo. Nada que os meteorologistas não saibam, aliás.
— E calculo que essa mesma cinza fosse o suficiente para obscurecer o céu do Egito — disse Gray. — E a praga de gafanhotos, qual é a explicação?
— Os gafanhotos preferem condições húmidas para porem os seus ovos — explicou Jane. — O derretimento de todo esse granizo, aliado às mudanças nas condições atmosféricas, seriam suficientes para a proliferação de gafanhotos.
— O que nos leva à décima praga — disse Derek. — Harold atribuía-a ao facto de, na altura, os primogénitos serem venerados junto do seio familiar. Tinham direito a comer mais do que os outros, por exemplo. Se os gafanhotos arrasassem as colheitas e o que restasse estivesse bolorento, os primogénitos seriam os primeiros a adoecer, acabando por morrer de envenenamento fúngico.
Jane virou-se para Ileara:
— Mas o meu pai não estava muito convencido com esta última explicação. Haveria com certeza muitos outros a adoecerem por causa dos mesmos cereais contaminados, já que todos os comiam. E certamente não justificaria a morte das crias do gado.
Derek fitou o ecrã do portátil.
— Talvez tenhamos agora uma explicação melhor, um caminho mais claro entre a primeira e a última praga.
A voz de Seichan fez-se ouvir pela primeira vez:
— Alguém conhece o motivo pelo qual o professor destacou a sétima praga? — perguntou, apontando para o círculo que McCabe desenhara à volta do sétimo item, uma tempestade de granizo e fogo.
Derek encolheu os ombros e olhou para Jane, que apenas abanou a cabeça.
— Não faço ideia — admitiu.
Gray levantou outra questão:
— Bom, vamos então partir do princípio de que isso é tudo verdade, que este micróbio terá desencadeado a maior parte das pragas, incluindo a última. Como foi que os egípcios resolveram o problema?
— O mundo era diferente naquela altura — lançou Jane —, mais isolado. A doença poderia ter progredido pela região localmente, acabando por se anular a si própria.
Ileara franziu o sobrolho, pouco convencida:
— A não ser que exista outra razão. Qualquer coisa que o seu pai encontrou escondida no deserto.
Gray deitou-lhe um olhar cético:
— Acredita mesmo que um povo antigo pode ter encontrado a cura para uma doença que desafia o conhecimento médico atual?
Ileara encolheu os ombros:
— Não seria a primeira vez. As infeções por SARM são um bom exemplo disso.
Gray ficou imediatamente alerta.
— Como assim?
— Apesar de esta bactéria ultrarresistente continuar a ser o pesadelo de muitos hospitais, um investigador da Universidade de Nottingham testou uma receita de uma pomada ocular encontrada num texto médico do século nove, chamado Bald’s Leechbook. Consiste basicamente num preparado à base de alho, cebola, vinho e bílis de vaca.
— Bílis de vaca? — comentou Kowalski. — Acho que preferia continuar doente.
Gray ignorou-o e fez sinal para que Ileara prosseguisse com a explicação.
— E o que aconteceu?
— A mistela foi testada por microbiólogos em culturas de SARM. Verificaram que eliminava até noventa por cento do total de bactérias.
— Quer dizer que resultou — sintetizou Gray.
Ileara anuiu.
— Quem nos garante que os egípcios não tropeçaram numa cura semelhante? Mesmo que seja uma possibilidade ínfima, temos obrigação de a procurar.
Gray verificou as horas.
— Nesse caso, é melhor metermo-nos a caminho. O nosso voo está marcado para daqui a quinze minutos.
O grupo atarefou-se a arrumar as coisas.
Enquanto Derek reunia os seus pertences, Monk chamou o colega à parte.
— Falei com o Painter, ele quer que eu fique aqui com a Ileara a acompanhar os progressos na NAMRU-3.
— Deixa-me adivinhar. Quer que sejas os olhos e ouvidos da Sigma no epicentro da pandemia.
— Está também preocupado com a instabilidade política. Os grupos religiosos andam a subir pelas paredes, alguns a apregoar o apocalipse. Como podes calcular, essa retórica é pouco recomendável numa região que já é um barril de pólvora.
— Nesse caso, o melhor é ires buscar o teu equipamento de bombeiro.
Monk deu-lhe uma palmada no ombro.
— Deixa lá, continuo convencido de que te calhou pior em rifa.
— Porquê?
— Mal ou bem, vou continuar a ter ar condicionado.
Seichan juntou-se a eles, interrompendo a conversa.
— Monk, o Painter conseguiu identificar a mulher que nos atacou em Ashwell?
A pergunta captou a atenção de Derek, ainda preocupado com a presença de um assassino à solta algures.
Monk abanou a cabeça.
— Ainda está a trabalhar nisso com a Kat. De qualquer forma, o diretor tem bons motivos para querer esse mistério resolvido. Essa mulher tatuada pode ser a única pista para o paradeiro da doutora Al-Maaz.
Seichan deitou-lhe um olhar gelado.
— Nesse caso, é bom que eu não a encontre primeiro.
11
2 de junho, 15h22 EET
Cairo, Egito
No seu quarto alugado, Valya Mikhailov pousou os binóculos no parapeito da janela e continuou a observar o Hercules C-130 a rasgar o céu azul, virando como um pássaro pesado, em direção a sul. Momentos antes, utilizara os binóculos para espiar os alvos enquanto subiam a rampa de acesso à traseira da aeronave. Precisava de se certificar de que Jane McCabe continuava com o grupo.
Satisfeita, encostou o recetor Bluetooth aos lábios.
— Estão a caminho de Cartum — comunicou ao irmão mais novo.
A voz de Anton segredou-lhe ao ouvido:
— Quer dizer que as coisas estão a correr como planeadas. A melhor maneira de apanharmos a filha do professor sem alarido é no deserto. Vou enviar uma equipa ao teu encontro no local de extração.
— Afirmativo.
Valya terminou a ligação.
Nos últimos dois dias, mantivera-se na peugada das suas presas. Seriam poucos os que partilhavam o seu grau de competência nessa matéria, um talento aprimorado por décadas de treino ao serviço da Guild. Valya carregava nas costas as cicatrizes que o comprovavam, o castigo que os seus mestres lhe aplicavam quando era detetada a seguir-lhes o rasto. Para evitar tal punição, aprendera a tornar-se o verdadeiro fantasma que a sua pele pálida evocava.
Ao emparelhar essa competência com os vastos recursos do novo empregador, conseguira seguir os alvos desde a estação de comboios em Ashwell até ao hotel no Cairo. Em cada passo, procurara uma maneira de separar Jane da manada, mas o treino ensinara-lhe a ser paciente. A precipitação apenas lhe conseguiria um novo conjunto de cicatrizes.
Porém, havia outra razão para tais cautelas.
Moya sestra...
Valya estudara a oponente que quase lhe trocara as voltas em Ashwell e despachara de forma tão eficiente os seus companheiros. Conseguira um vislumbre do rosto dela nas margens do lago por trás da igreja, mas apenas a reconhecera muito depois, enquanto lhe seguia os passos até ao Cairo. Não tanto pelas feições, mas pelos maneirismos e competências. Por três vezes, essa mulher estivera a uma nesga de conseguir detetá-la.
Ninguém se comportava daquela maneira... a não ser que partilhassem o mesmo passado.
Então, pouco a pouco, a suspeita cristalizou-se em absoluta certeza.
Sabia quem enfrentava: uma irmã das sombras, um reflexo de si mesma.
Valya ouvira as histórias de uma mulher que traíra a Guild. Uma mulher de origem euroasiática que era também um dos assassinos mais competentes da organização. A consequência desse ato deixara Valya e o irmão destituídos de funções, praticamente arruinados e obrigados a fugir àqueles que procuravam purgar o mundo da presença da Guild.
Felizmente, sei bem como esconder-me.
Valya e o irmão conseguiram escapar à purga, e encontraram um novo empregador, mas as coisas nunca mais seriam as mesmas. Valya devia àquela traidora o seu sofrimento, a sua perda, e a fúria incendiara-lhe o peito, juntamente com alguma excitação.
Há muito que aguardava um desafio como aquele.
Finalmente, encontrara-o.
Atravessou o quarto em direção à mesa onde repousavam as suas adagas, recentemente afiadas até à perfeição. Pegou na mais antiga. Pertencera à avó, que vivera numa pequena aldeia na Sibéria até ser recrutada para combater os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. A avó pertencera a uma unidade composta exclusivamente de mulheres, o Regimento de Bombardeiros Noturnos 558. Pilotavam antigos aviões bimotores como o Polikarpov Po-2 Kukuruznik, demasiado lentos para missões diurnas. Em virtude disso, essas mulheres descolavam depois de o Sol se pôr, avançando silenciosamente acima das baterias antiaéreas nazis para bombardearem os acampamentos inimigos. A eficiência mortal que demonstravam granjeou-lhes a alcunha de Nochnye Vedmy, as Bruxas Noturnas.
Valya sorriu, consciente da razão pela qual a avó se sentira tão atraída por essa unidade em particular. Rodou a velha lâmina nas mãos e passou o dedo sobre o cabo negro. A avó esculpira-o de um abeto-siberiano numa noite de lua cheia. Era um athamé, um punhal utilizado em rituais mágicos. A avó fora uma respeitada bakka, ou curandeira, que passara os seus conhecimentos e ferramentas à filha, a mãe de Valya e Anton.
Essa decisão revelara-se pouco acertada.
As regiões rurais da Rússia eram tremendamente isoladas e carregadas de superstições. Debaixo de um clima extremo, umas colheitas más eram o suficiente para que as pessoas procurassem alguém a quem apontar o dedo. E uma viúva com duas crianças albinas era um alvo à mão de semear. Tinham sido forçados a abandonar a sua casa, rumando a Moscovo. Sem um tostão no bolso, a mãe recorrera à prostituição. Para bem dela, morrera passado um ano, assassinada por um cliente. Valya dera de caras com a cena do crime e, num acesso de raiva, esfaqueara o homem com o punhal da avó, tornando aquela ferramenta de cura num instrumento de morte.
Logo a seguir, ela e o irmão, com doze e onze anos respetivamente, haviam ocupado as ruas de Moscovo, crescendo sem lei nem grei até ao momento em que a Guild os acolheu, tirando proveito dessa raiva e convertendo-a em perícia.
Valya olhou para o espelho acima da secretária. Disfarçara a tatuagem com base, embora aquele sol negro nunca pudesse ser verdadeiramente escondido. O seu rosto, tal como o do irmão, havia sido desfigurado daquela maneira como uma promessa de que estariam sempre presentes um para o outro.
Mas nada dura para sempre, pensou com amargura.
Anton substituíra-a.
Desviou os olhos do seu reflexo, ainda a segurar o punhal cerimonial da avó. A ponta da lâmina servia para gravar símbolos poderosos em velas e totens. Ela dera-lhe um uso bem mais tenebroso, gravando as testas das suas vítimas com um símbolo igualmente especial, um símbolo que derivava daquelas mesmas paragens, uma versão estilizada do Olho de Hórus.
Visualizou essa mulher que destruíra a Guild, que a lançara a ela e ao irmão de novo para as ruas, e espetou a ponta da lâmina no tampo da secretária. Lentamente, gravou uma nova promessa na madeira, determinada a deixar a mesma marca na traidora.
Assim que terminou, deixou-se ficar a admirar o desenho.
Ao contrário do meu irmão, cumprirei esta promessa.
12
2 de junho, 11h44 EDT
Washington, D.C.
— O Gray e companhia aterraram em segurança em Cartum — anunciou Kat, assim que entrou no gabinete do diretor, notando os vários copos de plástico do Starbucks em cima da secretária.
É capaz de ser cafeína a mais para uma manhã.
Painter ergueu uma das mãos, pedindo-lhe silenciosamente que aguardasse um momento. Encontrava-se sentado, as mangas da camisa arregaçadas, debruçado sobre um dossiê volumoso. Atrás dele, os três ecrãs montados na parede exibiam diferentes transmissões de vídeo. Um deles, sem som, estava sintonizado na emissão regular da BBC, enquanto outro apresentava um mapa atualizado em tempo real pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, recheado de informações. O terceiro, porém, deixara Kat intrigada. Parecia ser uma transmissão via webcam, de um escritório vazio. A estranheza daquilo chamou-lhe a atenção, já que mostrava apenas uma secretária com a cadeira arredada. Reparou numa estante a um dos cantos, com livros cujos títulos eram ingleses e árabes.
Então, de repente, uma figura familiar sentou-se na cadeira. Kat suspendeu por um instante a respiração, totalmente apanhada de surpresa. Era o seu marido.
Do lado de lá, Monk reparou nela e inclinou-se para a frente, sorrindo:
— Olá, querida. Cheguei.
Kat contornou a secretária de Painter, aproximando-se do ecrã e do microfone.
— Onde estás?
Monk olhou em redor.
— Os tipos da NAMRU-3 fizeram a gentileza de nos deixar usar este gabinete. Enfiaram-nos na cave, mas fica perto da biblioteca médica da base, o que sempre dá jeito.
Monk recostou-se na cadeira e assobiou para o lado.
Kat franziu o sobrolho.
— O que estás a...
Outro rosto surgiu no ecrã.
— Olá, Kat!
Era a doutora Ileara Kano. Estava vestida com uma bata de laboratório pela altura da cintura. O cabelo negro encontrava-se modestamente coberto por um lenço, e carregava uma pilha de cadernos debaixo do braço.
Kat sorriu para a amiga.
— Ileara, que bom ver-te. Espero que o meu marido não te esteja a dar muito trabalho.
— Nada disso — respondeu a outra. Fez uma pausa. — Bom, se lhe puderes dizer para deixar de engolir gomas como se não houvesse amanhã, agradeço-te. Com a falta de provisões que anda por aqui, estas coisas tornaram-se bens essenciais.
Monk encolheu os ombros.
— Que querem que lhes diga? Sou um rapaz em fase de crescimento.
Kat sentiu uma pontada de afeto.
— O meu marido tem este problema com o açúcar. Não há nada a fazer.
— Pois tenho, foi por isso que casei com a mulher mais doce que conheço.
Já cá faltava...
— Ileara, faz-me um favor e dá-lhe um murro no nariz por mim.
— Talvez mais tarde. Sobretudo se o frasco das gomas estiver vazio quando eu regressar da biblioteca.
Ileara despediu-se e abandonou a divisão.
Kat olhou para o marido. Havia tanta coisa que gostaria de partilhar naquele momento; acerca das filhas, acerca das saudades que sentia dele. Haviam passado poucos dias, mas não podia negar a presença que o marido tinha na sua vida, o quanto precisava dele; quando mais não fosse para se sentar em silêncio com ela, depois de as miúdas irem dormir.
— Também tenho saudades tuas — disse Monk, o sorriso dando lugar a um olhar sincero.
A vontade de abraçar o marido fez Kat aproximar-se do ecrã, mas não estava sozinha.
Painter arrastou a cadeira e pôs-se de pé. Esticou as costas com um esgar dolorido. Kat sabia que o diretor passara ali a noite. A sua mulher, Lisa, encontrava-se na Califórnia a visitar o irmão, oferecendo a Painter um pretexto para não abandonar o comando das operações durante aquela crise.
Ainda assim, Kat suspeitava que o verdadeiro motivo nada tinha que ver com a casa vazia, mas com algo que carregava no coração.
Safia al-Maaz continuava a ser um fantasma do passado, e o diretor não descansaria enquanto não a soubesse em segurança.
Painter aproximou-se, cobrindo um bocejo com o punho fechado.
— O Monk estava a pôr-me a par dos acontecimentos no Cairo. Depois teve de...
— ... ir dar água às plantas — acrescentou Monk. — Com ou sem pandemia, quando a natureza chama, um homem tem de responder.
— Certo. Seja como for — continuou Painter —, a pausa revelou-se oportuna. Recebi um relatório da Interpol de Moscovo. Não sei se é relevante, mas quero que averigues.
— Claro.
— Bom, já vi que têm mais o que fazer — disse Monk. — E eu tenho uma reunião com a Diretoria de Investigação Científica que começa daqui a dez minutos. Em caso de novidades, volto a ligar.
Monk deitou uma piscadela de olho a Kat, agarrou numa mão-cheia de gomas e terminou a transmissão.
Kat abanou a cabeça e virou-se para Painter:
— Que novidades são essas de Moscovo?
Calculou que dissesse respeito à identificação da assassina tatuada que Seichan apontara como tendo ligações passadas à Guild, porém, não fazia muita fé de que houvesse algum avanço. Nas últimas quarenta e oito horas, apenas esbarrara em sucessivos becos sem saída. Seichan só conhecia a mulher pela sua reputação como assassina e caçadora ao serviço da Guild, à semelhança de si mesma.
Kat lembrava-se bem das últimas palavras de Seichan acerca da competência da mulher.
No momento em que ele te apanha o cheiro, é como se estivesses morta.
Seichan explicara que a única razão pela qual o grupo sobrevivera em Ashwell se devia ao simples facto de a assassina não contar com a presença da Sigma. «Um erro que não voltará a repetir», garantira-lhe.
Painter retirou uma folha do dossiê que estivera a estudar e entregou-a a Kat.
— Acho que tinhas razão quanto ao significado deste símbolo.
Kat reconheceu a ilustração desenhada na página. Após o ataque, Seichan transmitira um esboço da tatuagem da mulher. Parecia a metade de um sol estilizado. O símbolo preto era a única pista que poderia identificar aquela mulher pálida, e Kat correra a informação pelas várias bases de dados da polícia e de outras forças de segurança. Porém, não conseguira um único resultado.
Vinte e quatro horas depois, sem novas pistas, experimentara manipular o símbolo, interrogando-se se poderia ser a metade de um todo. Como tal, fizera duas cópias da mesma metade, espelhando uma delas para formar um sol completo, o que resultara no desenho que se encontrava na página:
Os raios do sol encontravam-se dobrados nas pontas, formando uma espécie de roda, e não demorou muito até que Kat identificasse o novo ícone. Era um kolovrat, um símbolo solar pagão dos países eslavos. Estivera associado em tempos a práticas de bruxaria, mas seria mais tarde repescado por partidos nacionalistas, incluindo grupos neonazis.
Utilizando esses dados para estreitar os parâmetros de busca, Kat concentrara a investigação nos territórios eslavos. Por intermédio da vasta rede de contactos na comunidade dos serviços de informação, fizera chegar um pedido às delegações da Interpol nesses treze países, solicitando-lhes que procurassem nos arquivos policiais de pequenas localidades, uma vez que esses ficheiros poderiam não estar incluídos na principal base de dados, em Lyon. Para cobrir todas as hipóteses, solicitara o mesmo à delegação de Moscovo. Afinal de contas, muitos desses países haviam pertencido ao bloco soviético.
Naquele momento, tinham decorrido vinte e quatro horas.
— Conseguiram uma correspondência? — perguntou a Painter. — Alguém encontrou um registo de uma mulher com metade deste símbolo tatuado no rosto?
— Não — retorquiu Painter, desfazendo-lhe a réstia de esperança.
— Nesse caso, o que...
— Os tipos em Moscovo encontraram um único registo de um jovem, um rapaz de dezasseis anos, para ser exato, com metade deste símbolo tatuado no rosto. Foi condenado por roubo simples e conduta imoral há cerca de uma década, numa pequena localidade de Dubrovitsy, não muito longe de Moscovo. Acabou por fugir antes de ser preso.
Kat suspirou, pressentindo outro beco sem saída.
— Não creio que nos sirva de muito. Calculei que pudéssemos ter uma série de falsas correspondências, sobretudo com a popularidade que os grupos neonazis deram ao kolovrat. Basta uma busca na Internet para darmos de caras com centenas de imagens de supremacistas brancos, na maioria homens, com este ícone tatuado no corpo.
— Neste caso, estamos a falar de alguém com apenas metade do símbolo — sublinhou Painter.
Kat tinha de admitir que era uma coincidência estranha.
Painter prosseguiu:
— De qualquer forma, também temos isto. — O diretor abriu o dossiê e retirou uma fotografia do rapaz e respetivo cadastro. Linhas de carateres cirílicos ocupavam a parte inferior do documento, provavelmente os crimes que lhe eram imputados. Bateu com a ponta do dedo na fotografia. — Parece-te familiar?
Kat estudou o rosto do rapaz. A sua pele era visivelmente pálida, o cabelo branco como neve. As feições eram agradáveis, com uns lábios finos e nariz afiado. Infelizmente, a gigantesca tatuagem na face esquerda desfazia essa impressão, conferindo-lhe um ar animalesco.
Painter pousou o dedo numa palavra cirílica destacada com um retângulo.
— Diz aqui que o rapaz é albino.
Kat arregalou os olhos, recordando as palavras de Seichan em relação à compleição fantasmagórica da assassina.
— Okay, acho que vale a pena investigar melhor. Qual é o nome do rapaz?
— Anton Mikhailov.
Kat estendeu o braço.
— Vou ver o que consigo descobrir acerca dele.
Enquanto recebia o ficheiro das mãos de Painter, não conseguiu evitar notar o brilho de preocupação nos olhos do diretor.
Painter não precisava de o verbalizar.
Para Safia al-Maaz, o tempo era cada vez mais escasso.
12h10 EDT
Ilha de Ellesmere
A culpa é toda minha..., pensou Safia.
Consumida pelos remorsos, custava-lhe cada vez mais olhar para os olhos de Rory McCabe. Nesse momento, um metro ao lado, o filho de Harold despira o macacão cinzento até ficar de boxers e debatia-se para se enfiar dentro de um dos fatos de biossegurança amarelos. Safia mantinha o olhar desviado, não tanto pelo pudor em relação à nudez parcial do rapaz, mas pela própria vergonha. Roxo e inchado, o olho direito de Rory encontrava-se praticamente fechado.
No dia anterior, Safia tentara ser mais esperta do que os seus captores. Forçada a cumprir um rigoroso horário, intentara uma espécie de protesto passivo, fingindo-se exausta e apenas simulando que continuava a estudar os vários volumes de apontamentos do professor McCabe. Em vez disso, aproveitara o tempo para estudar as instalações, a fim de descobrir um ponto fraco que lhe permitisse engendrar um plano de fuga. O exercício revelara-se inútil.
Não existe maneira de sair daqui.
O complexo na ilha de Ellesmere encontrava-se rodeado de hectares de tundra a perder de vista, apenas delimitados a noroeste pelo mar coberto de gelo quebradiço. Durante a noite, incapaz de dormir, ouvia o murmúrio estaladiço das placas de gelo, juntando-se num coro contínuo, ao sabor da corrente. Calculava que apenas se silenciassem durante a escuridão do inverno, quando o sol desaparecia por meses a fio e o oceano Ártico solidificava de novo.
Mesmo que tentasse atravessar aquela imensidão gelada, havia outros perigos à espreita. Da janela da cela, avistara silhuetas esbranquiçadas que se moviam lentamente sobre o granito. Os ursos-polares faziam daquelas margens a sua casa, caçando focas e tudo o mais a que pudessem deitar o dente. Nessa manhã, antes de ser chamada ao serviço, reparara numa mão-cheia de homens a trabalhar no campo de antenas, verificando cabos e anotando informações. Todos carregavam espingardas como medida de proteção.
Continuava sem entender o propósito daquele bosque de aço, bem como do gigantesco buraco a céu aberto no centro. Do ponto de vista privilegiado de uma das janelas da biblioteca da base, conseguira um vislumbre de alguma coisa a espreitar no centro do buraco. Observara apenas parte do topo, mas parecia ser uma enorme esfera prateada, cujo diâmetro chegaria facilmente aos vinte metros.
Tentara inquirir Rory acerca de tudo aquilo, mas ele apenas baixara a cabeça e desviara o olhar para o homem pálido que os vigiava constantemente, Anton. Ao que parecia, essa informação encontrava-se acima do seu estatuto como «convidada» daquelas instalações. Não obstante, as reticências de Rory não a surpreendia. Já tinha compreendido que o trabalho na base era altamente compartimentado. Tudo se processava numa lógica de «necessidade de saber», atribuindo tarefas específicas a cada grupo de colaboradores. Os técnicos que volta e meia cruzavam os corredores mantinham-se juntos nos seus afazeres, todos com uniformes da mesma cor, assinalando a respetiva função.
Safia desviou o olhar para o macacão cinzento em cima do banco à frente dela. Era igual ao de Rory. Pelo modo como o restante pessoal da base os evitavam, recusando até qualquer contacto visual, conseguia adivinhar as implicações de usarem aquela cor em particular.
Prisioneiros.
Ou talvez a expressão fosse «colaboradores à força», com ênfase no à força.
Rory deixou escapar um pequeno gemido de dor ao pôr a máscara do fato sobre a cabeça, roçando o plástico contra o olho magoado. Anton dera-lhe um soco à revelia na noite anterior, apanhando-o desprevenido. Rory acabara estendido no chão, demasiado aturdido para falar. O olhar de Anton nunca deixara Safia, as palavras curtas, contraídas pelo sotaque.
Amanhã trabalhas melhor.
Pelos vistos, o seu desempenho deixara muito a desejar.
Essa manhã, Safia fizera tudo o que lhe fora pedido, o que basicamente consistira em aprender e memorizar os procedimentos de segurança de um laboratório de biossegurança. Como seria de esperar, Anton encarregara-se de confirmar se ela trazia a lição bem estudada. Dessa vez, o russo assentira com a cabeça, satisfeito.
Safia reviu as principais instruções enquanto vestia o seu próprio fato:
— É obrigatório o uso de um fato pressurizado no interior do laboratório
— As amostras biológicas devem ser duplamente seladas e passadas pelo tanque ou câmara de descontaminação.
— Todas as superfícies de trabalho devem ser desinfetadas.
— À saída, os fatos exteriores devem ser limpos com um duche de descontaminação.
Havia um manual inteiro de procedimentos, recheado de pormenores, e Safia sabia que o castigo por qualquer erro recairia sobre os ombros de Rory.
Partindo do princípio, claro, de que esse erro não nos mata primeiro.
Tentou sacudir os tremores quando enfiou a cobertura do fato sobre a cabeça, selando-o. Por um breve instante, sentiu uma onda de pânico claustrofóbico. Refletindo com rapidez, agarrou na mangueira de ar e encaixou-a no bocal de alimentação do fato. O sibilar do fluxo de ar pressurizado ajudou-a a recuperar o comando das emoções. Inspirou profundamente, notando o odor metálico.
Rory avançou primeiro, lembrando-lhe um astronauta preso por uma corda.
— Sente-se bem? — perguntou ele, usando o sistema de rádio ativado por voz.
Safia assentiu com a cabeça, porventura demasiado solícita.
— De certeza?
— Sim — conseguiu por fim dizer. Mais confiante, acrescentou: — Está tudo bem, Rory. Vamos lá despachar isto.
Safia não queria passar a ideia de que estava a esquivar-se às responsabilidades. Sempre presente, Anton observava-os da antecâmara exterior, com as mãos atrás das costas e um auricular no ouvido para escutar as conversas entre os dois.
— Vamos — insistiu.
Rory transpôs o conjunto seguinte de portas, passando depois pela estação de duche químico até se encontrarem por fim na divisão principal do laboratório. A condição das estações de trabalho sugeria que teriam sido utilizadas nessa manhã. Safia calculou que os técnicos tivessem recebido ordens para abandonar a instalação, a fim de os deixarem sozinhos com o objeto de estudo.
O enorme cubo de vidro hermético aguardava-os no centro da divisão, assim como o seu conteúdo.
Apesar de aterrorizada, Safia deu por si fascinada pela figura da mulher mumificada sentada no trono de prata envelhecida. A serenidade transmitida pela posição da cabeça repousada sobre o peito ajudou-a a acalmar os nervos. Absorveu toda a informação, notando os pormenores apenas visíveis a curta distância. O escalpe da mulher era liso, sem um único fio de cabelo à vista. No entanto, Safia desconfiava de que aquela princesa egípcia não perdera as suas madeixas negras pelo efeito da decomposição.
A cabeça havia sido rapada.
Assim como o resto do corpo, aliás, já que não existia um único pelo na superfície da pele; nem sequer as sobrancelhas.
A curiosidade fê-la aproximar-se.
— Isto deve ter sido uma morte cerimonial — disse para si mesma, mas o aparelho de rádio captou as palavras e transmitiu-as.
— O meu pai pensava o mesmo — respondeu Rory. — Acreditava que fora enclausurada no seu túmulo. Pior do que isso, havia um anel de cinza ao redor da base, sugerindo que teria sido «cozida» viva, depois de aprisionada.
— Não creio que tivesse sido aprisionada. Acho que se submeteu de livre vontade. Repara como está sentada, tão serena. Além disso, não está agrilhoada nem amarrada. — Safia inclinou a cabeça, estudando as zonas onde a pele queimara do contacto com o trono de prata escaldante. — A dor teria sido excruciante, para dizer o mínimo, no entanto, nunca abandonou o seu lugar.
Safia esticou o braço para alcançar as trancas que abriam a parte da frente do cubo.
— Eu abro — disse Rory.
Safia assentiu e recuou para lhe conceder espaço. Sentiu uma pontada de impaciência. No dia anterior, fora destacada para rever o trabalho do professor; ou o que restava dele, pelo menos. Apesar de desconhecer os pormenores da história, ficara a saber que Harold tentara destruir toda a sua pesquisa antes de se pôr em fuga. Fora parcialmente bem-sucedido, já que pedaços do trabalho haviam sobrevivido, pontas soltas, aqui e ali. A sua missão, com a ajuda de Rory, era reconstruir esse estudo exaustivo.
Todavia, os seus captores continuavam a fazer segredo de algumas matérias.
Continuava sem saber, por exemplo, de onde viera aquela mulher, nem porque era tão importante para eles.
Rory libertou por fim a última das trancas e abriu a parte da frente do cubo.
Ansiosa por respostas, Safia aproximou-se até se encontrar cara a cara com a princesa. Os seus olhos examinaram a figura dos pés à cabeça, notando os pormenores que haviam escapado do lado de lá do vidro. Os dois ornamentos esculpidos no topo do trono eram exemplos extraordinários de arte egípcia, desde o pormenor do focinho arreganhado do leão — como se estivesse a rugir — à candura tímida na face da rainha no lado oposto.
Ainda assim, os olhos de Safia fixaram-se na verdadeira maravilha diante de si. Aquele trabalho singular desvanecera-se um pouco com o tempo, mas a sua beleza era inquestionável.
Não admira que o seu corpo tenha sido rapado.
A pele da mulher encontrava-se decorada com tatuagens de hieróglifos. Desciam pelo corpo, fila após fila, do topo do crânio aos pés descalços.
Meu Deus...
Desesperada por poder ler o que ali estava escrito, Safia lutou para dominar a respiração. Sabia que aquela mulher morrera para preservar aquela história por toda a eternidade.
Fixou de novo o olhar no seu semblante plácido e sussurrou-lhe:
— Conta-me tudo, bela princesa.
14h13 EDT
Washington, D.C.
— Consegui outra correspondência! — anunciou Jason, na sala ao lado.
Kat rodou na secretária. A janela do gabinete dava para o núcleo do centro de comunicações da Sigma. Um único monitor brilhava na divisão escurecida, iluminando o rosto do seu analista principal, Jason Carter. Tal como Kat, Jason pertencera à Marinha, embora fosse dez anos mais novo. Kat recrutara-o para a Sigma depois de o miúdo ter acedido aos servidores do Departamento da Defesa com nada mais do que um telemóvel BlackBerry e um simples iPad. Apesar da farta cabeleira e aparência jovial, Jason era um génio, sobretudo no que dizia respeito à análise de dados.
Kat levantou-se e dirigiu-se para a sala contígua.
— Mostra-me.
Nas últimas duas horas, tinham conseguido outras três correspondências em relação ao alvo que procuravam, Anton Mikhailov, porém, nenhuma os levara a bom porto.
Jason inclinou-se sobre o teclado do terminal, os dedos debitando uma série de comandos.
— Acho que esta promete.
— Eu logo te digo se promete ou não — retorquiu Kat, o tom soando mais ríspido do que tencionara. Tocou-lhe no ombro. — Desculpa.
— Não há problema. — Jason olhou de relance para ela. — Consigo imaginar a pressão que tens em cima. Encontrei o diretor no corredor. Pareceu-me... qual é a palavra? Intenso.
— Está preocupado. Estamos todos.
Jason fez que sim com a cabeça.
— Talvez isto ajude — disse, fazendo surgir no ecrã uma fotografia de passaporte.
Pô-la ao lado de uma imagem do rosto de Anton Mikhailov, processada com um poderoso software de envelhecimento facial. Fora criada da fotografia do cadastro, a fim de obterem uma imagem das suas feições atuais. Kat submetera o resultado para uma análise comparativa numa base de dados de reconhecimento facial, na esperança de conseguir uma correspondência. Como precaução, enviara duas versões da imagem criada, uma com a tatuagem e a outra sem. O homem poderia ter disfarçado ou removido o desenho para melhor se esconder.
A decisão de enviar duas versões revelara-se acertada. O homem na fotografia de passaporte não tinha nenhuma tatuagem na cara.
Kat comparou os dois rostos. A semelhança era notória. Leu o nome do dono do passaporte:
— Anthony Vasiliev.
Jason ergueu uma sobrancelha.
— Anthony... Anton... grande coincidência, não? Seja como for, adiantei serviço e fiz uma pesquisa de verificação de antecedentes ao senhor Anthony Vasiliev. Encontrei isto.
Era uma identificação de funcionário.
Kat aproximou o rosto do ecrã e leu o nome da empresa:
— Clyffe Energy.
— Segundo o ficheiro dele, Anthony Vasiliev é o chefe de segurança numa base de pesquisa no Ártico, a Estação Aurora.
No Ártico...
Kat interrogou-se se estaria enganada. Talvez a semelhança física fosse apenas uma coincidência. A Clyffe Energy era um conglomerado multinacional com centenas de patentes no setor das energias sustentáveis e cuja atividade se estendia em várias frentes. Simon Hartnell, o presidente da empresa, era um exemplo de sucesso, um magnata tecnológico que procurava esticar os limites das energias solar, eólica e geotérmica. Além disso, enquanto outros bilionários compravam equipas de básquete ou viviam vidas glamorosas, Simon Hartnell era um reconhecido filantropo, doando milhões de dólares a instituições de caridade, especialmente em África.
— Se este Anthony for realmente o nosso homem, a nova identificação deve ser à prova de bala — disse Kat. — Caso contrário, nunca teria passado na verificação de antecedentes da empresa. A Clyffe Energy detém múltiplos contratos governamentais, incluindo com a DARPA. Talvez estejamos a olhar na direção errada.
Em vez de responder, Jason executou um comando no teclado e fez surgir o que parecia ser o historial médico do homem.
— Como é que?... — Kat abanou a cabeça. — Esquece, prefiro não saber. Que estamos a ver?
Jason apontou para uma linha no ecrã.
— Ele tem uma receita em aberto para nitisinona, que toma regularmente.
— Para que serve?
Jason abriu uma página de Internet do Instituto Nacional de Saúde e começou a ler em voz alta:
— «É recomendada no tratamento do albinismo oculocutâneo tipo um-B, uma deficiência congénita na produção de tirosina, essencial para pigmentação da pele e olhos.» Por outras palavras, Anthony Vasiliev é albino.
Kat endireitou as costas.
— Tenho a certeza de que é o nosso homem — reforçou Jason. — Mas há mais.
— Tens mais provas?
— Melhor do que isso — Jason executou outro comando no teclado. Recostou-se na cadeira, esticou os braços e fez estalar os nós dos dedos. — O nosso Anthony também tem uma irmã.
No ecrã, encontrava-se outro cartão de funcionário da Clyffe Energy. A fotografia mostrava uma mulher austera, com a mesma compleição pálida e cabelos brancos. Uma vez mais, não havia sinal de nenhuma tatuagem, mas aquele sol negro podia ser camuflado com uma boa camada de maquilhagem.
— O nome dela é Velma Vasiliev, mas aposto que é tão falso como o do irmão — disse Jason.
Kat sentiu uma pontada de excitação.
— Envia a fotografia para o telefone da Seichan, para ver se ela consegue fazer uma identificação positiva. Depois, emite um alerta para os serviços de estrangeiros e fronteiras na Europa e norte de África. Preciso de saber se Velma Vasiliev fez alguma viagem recente ao Reino Unido e, em caso afirmativo, onde poderá estar agora.
Jason anuiu com a cabeça e voltou a atenção para o terminal.
Mesmo que Seichan não conseguisse confirmar que se tratava da assassina, a equipa de Gray deveria ficar alerta em relação àquela mulher.
Virou costas, pronta para partilhar a descoberta com Painter, porém, deu uma última instrução a Jason.
— Enquanto estiver a falar com o diretor, tenta recolher o máximo de informação possível acerca dessa estação no Ártico onde o irmão trabalha.
— Certo.
Movida a adrenalina, Kat dirigiu-se a passos largos para o gabinete de Painter. A porta encontrava-se entreaberta, mas ouviu-o a falar com alguém. Bateu com o nó dos dedos na madeira.
— Posso?
Painter estava junto à secretária, virado para a parede de monitores. Fez-lhe sinal para que entrasse.
— Entra, Kat.
Uma outra voz encorajou-a a fazer o mesmo.
— Agora, sim, temos festa a sério!
Kat entrou no gabinete para encontrar de novo a carantonha do marido num dos ecrãs. A reunião com a Diretoria de Pesquisa Científica na NAMRU-3 teria terminado, pelo que Monk deveria estar a dar conta das novidades ao diretor.
O marido sorriu-lhe, o que fez milagres para lhe aliviar a ansiedade.
— Olá, linda.
— Olá, para ti também.
Monk semicerrou o olho esquerdo.
— Que se passa?
Como sempre, o marido era capaz de a ler como um livro aberto.
— Acho que identificámos a mulher que atacou a Seichan e os outros em Ashwell. E que pode até estar envolvida no sequestro da doutora Al-Maaz.
Painter virou-se para ela.
— O que descobriste?
Kat deu-lhe conta de todo o processo de pesquisa e análise, interrompendo o relato esporadicamente para responder a uma ou outra pergunta do diretor ou de Monk. Quando terminou, a dúvida nos olhos de Painter transformara-se em certeza absoluta.
— Bom trabalho — disse o diretor.
Kat não podia assumir os louros sozinha.
— A maioria do trabalho foi feita pelo Jason Carter.
Painter anuiu, esfregando o lábio inferior com uma expressão contemplativa.
— Mesmo assim, independentemente de quem fez o quê, parece-me um tiro em cheio — disse Monk.
Painter contornou a secretária.
— Conheço essa instalação no Ártico, a Estação Aurora. Ou, pelo menos, estou familiarizado com o trabalho que lá fazem.
— Como assim?
— O projeto é parcialmente financiado pela DARPA.
Monk riu-se.
— A sério? Porquê?
— Má publicidade... — retorquiu o diretor, enigmaticamente, sentando-se à secretária. Começou a escrever no computador portátil. — Em 2014 — explicou —, a Força Aérea dos Estados Unidos encerrou as suas instalações da HAARP, no Alasca, um acrónimo para High Frequency Active Auroral Research Program. Fundado pela DARPA, o projeto visava estudar a ionosfera da Terra, a cobertura de plasma ao redor do planeta a centenas de quilómetros de altitude, vital para as comunicações de rádio e satélite. As experiências envolviam o envio de sinais de baixa frequência para o espaço a partir do sistema de antenas instalado na base. Isso permitia aos cientistas da HAARP estudar uma solução para melhorar a capacidade de comunicação dos nossos submarinos, juntamente com uma batelada de outros testes. Num dos projetos, a Experiência de Eco Lunar, os cientistas conseguiram rebater esses sinais na superfície lunar.
— Para quê? — quis saber Monk. — Estavam a ver se explodiam a Lua?
Kat riu-se, mas Painter levou aquele comentário muito a sério.
— Não, mas essa foi uma das acusações menos loucas que foi levantada contra o projeto. As coisas complicaram-se sobremaneira, quando a opinião pública tomou conhecimento de uma base remota, algures no subártico, onde os cientistas se entretinham a disparar raios invisíveis para o céu. As pessoas começaram a dizer que era uma arma espacial, um sistema para comandar as mentes das pessoas, uma máquina para controlar o clima. Até o terramoto que ocorreu no Japão, em 2011, tinha o dedo da HAARP, disseram alguns.
— Daí a má publicidade — disse Kat.
— Tanta que a HAARP nunca mais conseguiu sacudi-la.
— E o que tem essa história que ver com a Estação Aurora? — perguntou Monk.
— A Estação Aurora é basicamente uma réplica do projeto HAARP, embora a uma escala muito superior. O sistema de antenas é dez vezes maior, a tecnologia para lá dos limites do imaginável. Sendo uma instalação privada, em vez de militar, o complexo tem passado despercebido, sobretudo pela localização remota. Em virtude disso, a DARPA tem financiado parte do projeto, permitindo a continuação das experiências iniciadas na HAARP. Tudo isso longe do escrutínio público, claro.
Kat conseguia perceber o interesse de Painter naquele projeto. Antes de se tornar diretor, a sua área de competência na Sigma sempre fora a alta tecnologia, basicamente tudo o que tivesse um botão para ligar e desligar. Painter não só possuía um doutoramento em engenharia elétrica, como também detinha várias patentes em seu nome.
O diretor transferiu uma imagem do computador para o ecrã na parede. Era o familiar logótipo da empresa que geria a Estação Aurora. O símbolo retratava um ovo inclinado,
coberto de nomenclatura científica.
— Este símbolo diz-lhes praticamente tudo o que precisam de saber acerca da empresa e do seu presidente, Simon Hartnell — disse Painter. — Em bom rigor, grande parte do secretismo destas novas instalações não seria possível sem ele.
— Como assim? — perguntou Monk.
— Com todo o trabalho de caridade que desenvolve, Simon Hartnell construiu uma personalidade pública imaculada. Além disso, todas as pessoas usam a sua tecnologia, desde carregadores sem fios às poderosas baterias. Com tanta boa vontade, dificilmente aparecerá alguém a acusá-lo de ter construído uma máquina para comandar mentes.
Monk ergueu uma sobrancelha.
— Certo, mas o que quis dizer quando mencionou que o símbolo da empresa nos diria tudo o que precisássemos de saber acerca dele?
Painter olhou por cima do ombro para o logótipo da Clyffe Energy.
— Porque supostamente representa o ovo de Colombo.
— E isso é o quê? — quis saber Monk.
— Segundo reza a lenda, Colombo afirmou um dia que conseguia equilibrar um ovo na vertical, desafiando os seus críticos a fazerem o mesmo. Quando todos tentaram e falharam, Colombo pegou no ovo e pousou-o com um gesto rápido em cima da mesa, aplicando força suficiente para quebrar e achatar um pouco a base. Isto, escusado será dizer, permitia que o ovo se mantivesse de pé.
— Fez batota, portanto — notou Monk.
Kat riu-se.
— A história pretende ser uma lição de criatividade, exemplificando como o pensamento não convencional permite encontrar soluções para problemas aparentemente impossíveis de resolver.
— O que diz tudo acerca da filosofia de vida de Simon Hartnell — concluiu Painter. — No entanto, o logótipo tem também uma segunda leitura. Hartnell vê-se a si mesmo como o herdeiro intelectual de Nikola Tesla, idolatrando-o desde sempre.
Monk apontou na direção do logótipo.
— E que tem isso que ver com o ovo?
— Na exposição mundial de 1893, Tesla propôs-se repetir o feito de Colombo, dessa vez cientificamente. Pôs um ovo feito de cobre a rodopiar sobre si mesmo com forças magnéticas. As forças giroscópicas ao longo do eixo ergueram o ovo na vertical, mantendo-o naquela posição enquanto rodopiava. O que lhe valeu ganhar a aposta de Colombo.
— E sem fazer batota — notou Monk, parecendo impressionado.
— O Colombo não fez... — Kat desistiu de completar a frase e virou-se para Painter.
— Bom, e que trabalho desenvolve a Clyffe Energy nessa base melhorada no Ártico?
— Uma série de novos projetos, como cartografar a deslocação do polo magnético norte, ou testar nuvens de plasma na atmosfera superior. Todavia, o principal foco de estudo prende-se com as alterações climáticas. A instalação utiliza sinais de baixa frequência, normalmente usados na comunicação com submarinos, para monitorizar a espessura da placa de gelo do Ártico.
— Isso está a abrir caminho a toda uma nova indústria para esses lados — comentou Kat, apreensiva.
— E a uma possível tempestade política. Com o contínuo degelo, a riqueza de recursos até agora impossível de explorar tornou-se disponível para quem a quiser agarrar. O Canadá, a Rússia, a Dinamarca, todos lutam pelo seu quinhão do tesouro. Não há de faltar muito até que alguém pise os calos de outro.
O som de passos apressados, seguidos de um bater urgente na porta, desviou a atenção de todos.
Jason Carter entrou de rompante no gabinete.
— Têm de ver isto.
14h39
Painter desviou-se para o lado, permitindo ao jovem analista utilizar o computador. Era nítido que a cabeça do rapaz estava a mil à hora por causa de qualquer coisa.
Jason tratou de explicar o motivo enquanto teclava.
— A Kat pediu-me para recolher informações acerca daquela base no Ártico. A região encontra-se toda debaixo de apertada vigilância. Satélites militares, estações de meteorologia da NOAA, o diabo a sete. O programa de vigilância do Canadá, o Northern Watch, tem drones no ar, no gelo e debaixo de água, todos a monitorizarem o que se passa na região, a fim de protegerem os seus interesses. As coisas estão num ponto em que um urso polar não pode soltar gases sem que um sensor sísmico seja ativado.
— Jason... — advertiu Kat.
— Okay, okay. Deem-me um segundo.
Painter e Kat trocaram um olhar, reconhecendo silenciosamente como as palavras de Jason descreviam bem a realidade que estavam a discutir há momentos.
— Pensei comigo mesmo — prosseguiu Jason —, porque não tirar proveito de toda essa vigilância? Se assim o pensei, melhor o fiz, e estabeleci um protocolo de busca de imagens ao redor da Estação Aurora, sobretudo das vinte e quatro horas subsequentes ao sequestro da doutora Al-Maaz.
Painter cerrou um punho.
— E encontrei isto num satélite do Instituto Polar Norueguês.
Jason transferiu o ficheiro de vídeo para o terceiro ecrã da parede. A filmagem mostrava a vista superior de um helicóptero pousado numa extensão de neve e rocha negra. Os rotores estavam a girar, enquanto um grupo de figuras se atarefava ao redor do aparelho. Então, uma maca coberta foi retirada do porão de carga da aeronave e carregada por dois homens até um conjunto de edifícios quadrados.
Jason olhou de relance para o diretor.
— Não consegui uma imagem aproximada da pessoa deitada na cama, mas parece-me estranho que estivessem a transportar alguém nessas condições para uma base tão remota.
Painter reviveu o instante em que Safia fora alvejada pelos dardos tranquilizantes, a expressão de choque no rosto, a mão esticada, como se lhe pedisse ajuda.
— Qual é a vossa opinião?
A raiva contida dentro de Painter explodiu finalmente. Estreitou os olhos e a garganta. Não conseguia dizer uma palavra, apenas observar o vídeo que entretanto se reiniciara. Uma vez mais, viu a maca a ser transportada, para desaparecer logo depois, no interior do edifício.
— Diretor? — pressionou Kat.
— Vou tirar isto a limpo pessoalmente — disse Painter, bruscamente, sem descerrar os dentes. — Nem que tenha de revirar aquela base do avesso!
— Alguém deve ir investigar o que se passa — admitiu Kat —, mas temos muita gente que pode...
— Está decidido! — Painter virou costas ao ecrã e olhou para os outros. Respirou fundo, mas a expressão manteve-se rígida. — A DARPA tem uma batelada de dinheiro investida naquela estação. Está mais do que na altura de alguém fazer uma inspeção às instalações.
Kat fitou-o, compreendendo qual era o plano do diretor. Não era nada mau.
— Podemos falar com o general Metcalf. Porque pertence à DARPA, parece-me a pessoa indicada para orquestrar uma história de cobertura como essa.
— Mesmo assim, para ser convincente, seria sempre necessário alguém com sólidos conhecimentos técnicos.
Kat olhou para Monk. Ambos estavam nitidamente preocupados com o interesse pessoal de Painter no que estava em jogo. Por fim, o marido fez que sim com a cabeça, e Kat virou-se de novo para Painter.
— Nesse caso, também vou.
— É melhor eu tratar disto sozi...
Dessa vez, foi ela quem o interrompeu.
— Está decidido — Kat fez um sinal na direção do seu analista principal. — O Jason pode ficar a tomar conta do forte. Caso haja necessidade, o Monk ajuda-o do terreno.
— Podem contar comigo — disse Monk.
Painter era obrigado a admitir que precisava da ajuda de Kat. Isto se tivesse qualquer intenção de resgatar Safia sã e salva. Podia ser o diretor da Sigma, porém, em muitos aspetos, era ela quem mexia os cordelinhos ali dentro.
Sem outra alternativa que não fosse aceitar essa realidade, Painter anuiu com a cabeça e disse:
— É melhor levares um agasalho.
13
2 de junho, 19h18 EAT
Cartum, Sudão
Enquanto o Sol se afundava no horizonte, Gray, de pé, contemplava o berço da civilização.
A faixa de arvoredo repousava tranquila entre os dois rios. À esquerda de Gray, o Nilo Branco corria taciturnamente, envolto em espuma leitosa dos sedimentos de argila esbranquiçada que lhe dera esse nome. À sua direita, o Nilo Azul seguia o exemplo do outro, fluindo na mesma direção no seu curso fino e negro.
Porém, era a visão que se mostrava diante dele que mantinha Gray paralisado no mesmo lugar.
Os dois afluentes juntavam-se mais à frente, misturando as águas para formarem a poderosa artéria que originara e alimentava a vida naquela região, o rio Nilo.
Gray fitou a extensão daquele caudal serpenteando em direção a norte, rumo ao Egito. Conseguia sentir a intemporalidade daquele lugar, acentuada pelo eco do chamamento espectral à oração, assinalando o final do dia em Cartum. Suspensa acima dele, uma lua em forma de foice ocupava o seu lugar no lusco-fusco, projetando o seu reflexo nas águas a cada lado, como um par de cornos prateados.
Seichan juntou-se a ele e passou-lhe um braço à volta da cintura. Gray recordou as palavras dela no Cairo, quando lhe sugerira que virassem costas e partissem. Naquele momento, absorto naquele instante infindo, o apelo dessa ideia pareceu-lhe mais forte do que nunca.
Seichan suspirou a seu lado, como se partilhasse o mesmo sonho acordado. Sabia que não passava de uma fantasia; pelo menos, por enquanto.
— O Kowalski ligou — disse ela, chamando a atenção de Gray para o presente. — Vem a caminho com o nosso transporte. Deve chegar dentro de dez minutos.
Painter e Kat tinham conseguido arranjar-lhes um veículo robusto o suficiente para os levar ao deserto profundo. Kowalski fora buscá-lo, juntamente com os mantimentos e a gasolina extra necessários à expedição. Tendo em conta o destino imediato, sabiam que ficariam entregues a si mesmos nos próximos tempos.
Se tudo correr pelo melhor.
Seichan mostrara-lhe a fotografia que Kat enviara de uma mulher de rosto fantasmagórico, cabelos brancos e olhos sem vida. Em Ashwell, Seichan conseguira um mero vislumbre da assassina, pelo que não tinha a certeza de se tratar da mesma mulher.
Fosse como fosse, esse encontro deixara Seichan na ponta dos pés, o olhar atento a tudo o que se mexia. Para alarmar alguém como Seichan, Gray sabia que aquela mulher era uma ameaça a ter em conta.
Um riso estridente explodiu nas costas dele. Gray olhou por cima do ombro. Uma roda gigante — que de gigante só tinha o nome — girava uns metros atrás, um dos divertimentos de uma pequena feira que retirara o seu nome daquela localização: Al-Mogran, «confluência».
Olhou para Jane e Derek enquanto os dois davam voltas e voltas com as cabeças juntas e sorrisos na cara. Talvez não fosse a maneira mais inteligente de ocuparem o tempo, ou talvez fosse a melhor de todas, tendo em conta o que tinham pela frente.
O grupo aterrara em Cartum há duas horas. O final de tarde fora insuportavelmente quente. O plano consistia em partirem ao anoitecer, quando as temperaturas do deserto desciam. A primeira etapa da viagem, um trajeto de cento e vinte quilómetros para sul, iria deixá-los na pequena aldeia de Rufaa, onde vivia a família de nómadas que encontrara o professor. Encontravam-se em quarentena por causa do contacto que haviam tido com McCabe, porém, um dos aldeões — que era também primo da família — concordara em servir-lhes de guia daí em diante.
A roda gigante parou por fim e os passageiros começaram a apear-se. Seichan mantinha-se por perto, estudando o ambiente à procura de ameaças.
Gray foi ao encontro de Derek e Jane. Ambos pareciam mais relaxados, mais novos até, diga-se de passagem. Derek ajudou Jane a descer da roda, segurando-lhe na mão mais tempo do que seria necessário.
— Até que foi divertido — disse Jane —, as vistas são fabulosas.
Derek assentiu.
— Tinha esperança de conseguir avistar o local da construção da barragem, onde tudo isto começou. Mas fica demasiado longe, cerca de cento e sessenta quilómetros para noroeste.
Gray sabia que o local do projeto — junto à sexta catarata do Nilo — era o ponto de onde o professor McCabe e a sua equipa haviam iniciado a trágica viagem, dois anos antes. O grupo desaparecera num terreno árido de rochas partidas, areias fustigadas pelo vento e gigantescas dunas. Uma paisagem desolada que cobria milhares de quilómetros quadrados.
E nós estamos a preparar-nos para fazer o mesmo.
— O Kowalski deve estar a chegar — anunciou, a fim de pôr toda a gente a mexer. — Esperamos por ele na estrada.
Enquanto atravessavam o parque de diversões, Jane olhou para trás, na direção da confluência argêntea dos dois rios.
— Li tanto sobre esta região, mas estar a vê-la com os meus próprios olhos é... é qualquer coisa.
A expressão dela era de verdadeiro assombro.
Gray recordou-se a si mesmo da idade de Jane: tinha apenas vinte e um anos, tão novinha! Apesar de inegavelmente esperta, a maior parte do seu conhecimento fora absorvido entre paredes de bibliotecas e salas de aula, pouco ou nada no terreno. Ainda assim, depois de tudo o que acontecera, aquela miúda estava a aguentar-se muitíssimo bem.
Caminhou um pouco ao seu lado.
— Jane, uma vez que estamos prestes a recriar os passos do seu pai, é uma boa altura para sabermos um pouco mais acerca da teoria que ele tentava provar. Disse-nos que a maioria dos colegas considerava as conclusões dele acerca do Livro do Êxodo controversas.
— Não eram apenas os colegas, os rabis judeus também não viam a coisa com bons olhos. — Jane olhou para os pés enquanto caminhava, pouco confortável com o assunto. — Muitas pessoas creem que a história de Moisés não passa de uma alegoria. Baseiam essa convicção no facto de Ramsés, o Grande, ser mencionado no texto do Êxodo. Como nunca foram encontrados indícios de nenhumas pragas ou revolta de escravos durante o seu reinado, os arqueólogos relegaram a história de Moisés para a categoria dos contos de fada.
— Parece-me uma decisão radical. E o seu pai, o que pensava disso tudo?
— Ele e outros colegas apontavam algumas incoerências no texto do Êxodo em torno do nome de Ramsés, questionando-se se Ramsés, o Grande, teria sido de facto o faraó amaldiçoado por Moisés com as dez pragas. É complicado de explicar.
— E por que razão isso tem importância?
— É importante porque lhes dava a liberdade para procurarem provas do Êxodo fora do período de reinado de Ramsés.
— E essa liberdade permitiu-lhes encontrar alguma coisa?
— Não só alguma coisa. Na verdade, encontraram tudo. — Jane fitou as colinas distantes do deserto. — Só olharmos para uma época quatrocentos anos antes do reinado de Ramsés, encontramos todas as provas do Êxodo. — Jane começou a contar pelos dedos. — Vestígios de uma cidade de escravos semitas, sinais de uma praga maciça, de uma fuga generalizada dos habitantes; até uma cripta semelhante ao túmulo de José descrito na Bíblia. Bate tudo certo.
— E era isso que o seu pai tentava comprovar?
— Chama-se a Nova Cronologia. O meu pai acreditava que poderia autenticar esta teoria, caso encontrasse provas sólidas da ocorrência de uma série de pragas nessa altura.
Não admira que estivesse tão obcecado com as pragas bíblicas.
Jane suspirou, dando a entender que não desejava falar mais do assunto, o que não trazia mal ao mundo.
A estrada que delimitava o parque de diversões ficava logo à frente. Kowalski parecia ter chegado primeiro do que eles ao ponto de encontro. Um veículo monstruoso encontrava-se parado na berma, o motor a trabalhar com um ronronar pesado, como se estivesse cansado. Era um Mercedes Unimog restaurado, verde-escuro; uma autêntica besta de tração às quatro rodas. Possuía uma espaçosa cabina dupla, com caixa aberta atrás, tudo assente em gigantescos pneus cardados. Era um veículo concebido para enfrentar o mais duro dos terrenos e, se alguma vez se visse atolado, o sistema de guincho que equipava o para-choques frontal era mais do que suficiente para o retirar de sarilhos.
Kowalski encontrava-se sentado ao volante, o cotovelo apoiado na fresta da janela aberta, envolto por uma nuvem de fumo de charuto.
— Isto, sim, é um carro! — declarou, batendo com a palma da mão aberta na chapa.
Gray percebia bem a admiração de Kowalski por aquele monstro de metal. Faziam uma dupla perfeita. Ambos eram lentos, ruidosos e brutos como tudo.
Seichan fez sinal para que todos entrassem, mantendo um olhar atento ao que se passava em redor.
— Tudo em ordem? — perguntou Gray.
— Por enquanto.
Até ver, é quanto basta.
20h08
No banco de trás, Derek atarefava-se de volta do iPad.
Depois de quarenta e cinco minutos de viagem numa estrada de duas faixas que acompanhava as curvas do Nilo Azul, acabara por perder o interesse na paisagem. Há muito que as luzes de Cartum haviam ficado para trás, e viajavam nesse momento rumo ao passado. A maioria do cenário envolvente era o mesmo de há séculos: quadrados negros de culturas intercalados por canais de irrigação prateados, filas de palmeiras, silhuetas de búfalos e a ocasional cabana de argila.
No entanto, o Nilo Azul era somente uma pálida imagem do poderoso curso de água que fluía para norte, ao longo do Egito, e que tão bem servira aquele reino com a sua dádiva. O afluente era bem menos generoso. As quintas e plantações não se estendiam a perder de vista, obrigadas a aninharem-se alinhadas junto às margens, cada uma dependendo do seu quinhão do diminuto caudal.
Derek conseguia observar facilmente as colinas baixas à distância, banhadas pelo luar, estéreis e vazias. Lembravam-lhe pedintes de costas vergadas, morrendo de sede. Para lá desses montes, o deserto queimado pelo sol aguardava-os, estendendo o seu domínio tórrido ao longo de milhares de quilómetros.
Para o atravessarem, precisavam de um plano.
Era nisso que estava a trabalhar, a afinar as linhas gerais do que fora discutido anteriormente. Depois de alcançarem a aldeia de Ruffa, o grupo seguiria viagem por essa paisagem inóspita, até ao local onde o professor fora resgatado. Daí em diante, o plano não passava de um grande ponto de interrogação. Porém, Derek tinha uma ideia.
Jane ajeitou a posição no assento. O ronronar do motor, o estremecer da suspensão e o cansaço dos últimos dias tinham-na mergulhado numa espécie de sono acordado.
— Que estás a fazer? — perguntou, suprimindo um bocejo.
Assim que se inclinou para ver melhor, o ecrã do iPad iluminou-lhe o rosto com um brilho suave. Derek deu por si hipnotizado pela curvatura delicada das pestanas dela.
Derek aclarou a garganta.
— Estou a ver se consigo estabelecer uma possível rota para nós. Mas só estou a perder o meu tempo.
Jane encostou-se mais um pouco.
— Mostra-me.
Derek ficou surpreendido com o quanto queria partilhar aquilo com ela. Além disso, duas cabeças pensavam melhor do que uma.
— Sabemos que o teu pai deixou a sexta catarata do Nilo com a equipa e reapareceu dois anos depois, não muito longe da aldeia de Ruffa. Infelizmente, não sabemos onde esteve esse tempo todo, nem qual foi o percurso que ele e a equipa fizeram pelo deserto. Porém, a pista escondida no escaravelho de Livingstone deu-nos uma ideia aproximada da região que lhe teria despertado o interesse.
Derek inclinou o iPad para Jane ver melhor.
— Descarreguei um mapa de satélite dessa região, e desenhei uma linha a atravessar os dois afluentes do Nilo, correspondendo ao local onde Livingstone dividiu os rios com o corpo do escaravelho.
Derek mostrou o resultado:
— De seguida, desenhei uma segunda linha tracejada a ligar o ponto de partida do teu pai, a sexta catarata do Nilo, ao local onde acabou por ser resgatado, a aldeia de Rufaa. — Derek tocou com a ponta do dedo onde as duas linhas se intercetavam, formando um X. — Acho que devemos iniciar a busca aqui mesmo.
— Ena! Isso é brilhante! — disse Jane, dando-lhe uma palmada no joelho.
Não era a única com essa opinião.
— Ela tem razão — disse Gray, na outra ponta do banco traseiro.
Derek sentiu as faces ruborizarem. Não se tinha apercebido de que Gray estava a ouvir a conversa.
— Obrigado.
Gray estendeu a mão.
— Posso ver isso?
Derek passou-lhe o iPad, e Gray inclinou-se para mostrar o trabalho do arqueólogo a Seichan e Kowalski, sentados nos bancos da frente.
A avaliação de Seichan foi menos entusiasta:
— Bom, sempre é melhor do que andar às voltas no deserto sem destino.
Ao volante, Kowalski apontou para o fundo da estrada.
— Temos luzes lá à frente.
Gray consultou o mapa no telefone de satélite.
— Dever ser a tal aldeia.
Jane tirou a mão do joelho de Derek, sentindo-se subitamente nervosa. Derek conseguia adivinhar a causa dessa ansiedade. O pai dela morrera a tentar chegar àquela aldeia.
— Vai correr bem, Jane — murmurou-lhe.
Depois, para si mesmo, rezou para que estivesse a dizer a verdade.
20h28
A aldeia era maior do que Jane imaginara. Visualizara um aglomerado de cabanas modestas, rodeadas de muros feitos de milhete, mas Rufaa revelara-se uma povoação de tamanho considerável, aninhada numa curva do Nilo.
— Acho que vai ser fácil perdermo-nos aí dentro — comentou Derek.
Jane concordou.
O que se encontrava diante deles era um autêntico labirinto de prédios quadrados com telhados planos, intercalados por ruelas de terra, que tão depressa comunicavam com passagens estreitas como terminavam em pequenos pátios murados. Tudo parecia construído com o mesmo tipo de tijolos de argila, conferindo uma uniformidade ao lugar que confundia o olhar. O único marco que se destacava era a mesquita local, cujo minarete branco saltava à vista como um farol iluminado.
Jane sabia que os habitantes daquele lugar, cuja etnia dava o nome à aldeia, Rufaa, eram de ascendência árabe, praticando uma forma sunita do islão. Muitas das famílias tinham ali raízes, mas mantinham um estilo de vida nómada. Isso era especialmente verdade para o grupo que encontrara o pai dela. Pertenciam à tribo dos Ja’alin, que ainda cruzavam o deserto como sempre o haviam feito desde o início dos tempos, proclamando-se descendentes diretos de Abbas, um dos tios do profeta Maomé.
Conforme a besta da Mercedes abrandava e percorria os limites da aldeia, as crianças lançavam-lhes olhares da berma da estrada, enquanto as cabras se afastavam do caminho, balindo de irritação. Finalmente, uma figura magra acenou-lhes e atravessou a estrada ao encontro deles.
— Este é o nosso guia? — perguntou Kowalski.
— Calculo que sim — respondeu Gray. — Tinham instruções para estarem à nossa espera.
Assim que o carro parou, o guia dirigiu-se à janela aberta no lado de Kowalski. Deveria ter uns dezasseis ou dezassete anos, com um tom de pele achocolatado. Vestia uma camisola de futebol com quadrados roxos, calções beges e sandálias.
— Sou Ahmad — disse o rapaz. — Bem-vindos.
Kowalski olhou de relance para Gray, que anuiu com a cabeça, parecendo reconhecer o nome.
— Levar vocês à minha família. — O rapaz levou os dedos à boca. — Primeiro comer. Depois ir. Sim?
Kowalski encolheu os ombros.
— Já comia qualquer coisa.
— Deixar carro aqui. Não precisar de ir longe — sugeriu Ahmad, apontando para uma faixa de terreno descampado. Notando os olhares preocupados, acrescentou: — Sem problema. Muito seguro.
Seichan franziu o sobrolho.
— É melhor eu ficar no carro, não vá o diabo tecê-las.
Gray anuiu e disse a Kowalski para estacionar. Assim que o motor se silenciou, apeou-se e enfiou o auricular na orelha.
— Seichan, ao mínimo sinal de problemas, comunica.
Preocupada, Jane manteve-se colada a Derek, saindo pela porta do lado oposto. Mantinha os olhos no rapaz.
— Achas que podemos confiar nele?
— Tendo em conta que está prestes a levar-nos para os confins do deserto sudanês, mais vale começar agora.
Com toda a gente pronta, Ahmad começou a conduzi-los para a aldeia, mas não sem soltar antes um curto, porém estridente, assobio. Em resposta, um cão esquelético surgiu das sombras e correu para se juntar a ele, com a cauda a abanar vigorosamente. Parecia ser jovem, com pelo espesso preto e dourado e umas orelhas largas e tesas.
— Ela muito boa menina — disse Ahmad, orgulhoso.
Jane estendeu a mão para a cadela cheirar.
— Como se chama?
— Anjing — retorquiu o rapaz, todo sorridente.
Jane pareceu confusa.
— Que quer isso dizer? — perguntou Kowalski.
Jane sabia o suficiente de sudanês para lhe poder responder.
— Quer dizer «cão».
Kowalski encolheu os ombros.
— Faz sentido, pelos vistos.
Derek chegou-se para mais junto dela enquanto caminhavam.
— Acho que o «bichinho de estimação» dele é um cão-selvagem-africano, ou coisa que o valha.
Jane olhou para o animal com mais respeito. Conhecia as histórias das infames matilhas de mabecos. De repente, a ideia de ter oferecido a mão a cheirar ao animal pareceu-lhe muito pouco inteligente.
Felizmente, ainda tenho os dedos todos.
Uns metros à frente, Ahmad dava ideia de poder desatar a correr a qualquer momento, tal era a excitação. Continuava a falar pelos cotovelos, desempenhando orgulhosamente o papel de guia turístico.
— Deste lado — disse o rapaz, apontando para uma estrutura verde abobadada —, túmulo de xeque Tana. Muito importante. E naquele canto, um dia um homem comer uma cabra inteira. — O miúdo olhou para todos. — Verdade.
Kowalski foi o único que pareceu impressionado com aquela história.
Chegaram por fim a uma passagem arqueada, não muito alta, para o interior de um pátio. Enquanto avançavam curvados, o aroma de pão acabado de cozer agitou o estômago de Jane, despertando-lhe uma fome da qual não estava a par. O chiar de um grelhador também a fez avançar. Um grupo de figuras vestidas com túnicas, homens e mulheres, aproximou-se para os receber, como se fossem velhos amigos. Um punhado de crianças descalças mantinha-se à margem, observando-os timidamente.
Ahmad dirigiu-se a um burro amarrado, passou os braços à volta do pescoço grosso do animal e abraçou-o, apresentando o seu novo amigo, Kalde.
Kowalski olhou de relance para Jane.
Jane traduziu.
— Quer dizer «burro».
O grandalhão abanou a cabeça.
— Não percebo. O miúdo não tem imaginação ou está a tentar ensinar-nos a língua dele?
As apresentações e cumprimentos continuaram. Quando o nome de Jane foi mencionado, o grupo tornou-se menos efusivo, percebendo quem ela era. Avançaram um por um, as cabeças inclinadas, oferecendo as condolências. A sinceridade deles comoveu-a. Sentiu os olhos humedecerem e teve de virar o rosto por um momento.
Derek manteve-se junto dela.
Jane chegou-se mais perto e encostou-se a ele.
— Desculpa. Não sei porque fiquei assim de repente.
Derek passou-lhe o braço por cima dos ombros.
— O desgosto tem dessas coisas. Faz-se sentir quando menos esperamos.
Jane respirou fundo algumas vezes para se acalmar.
— Já estou melhor. Não podemos ser indelicados com estas pessoas.
Uns metros ao lado, a mesa a céu aberto começou a encher-se de comida, um verdadeiro festim de gastronomia sudanesa: suculentos e aromáticos guisados com especiarias e carnes, um espesso puré de sorgo, travessas de tâmaras, salada de cenoura e iogurte, assim como pilhas e pilhas de pão ázimo para acompanhar.
Acotovelaram-se todos ao redor da mesa, enquanto Gray conversava com um ancião que falava fluentemente inglês, a fim de conseguir o máximo de informação possível acerca do local para onde se dirigiam.
Jane evitou ouvir a conversa. Preferia apreciar a refeição, agradecer às mulheres, partilhar um pedaço de fígado de borrego grelhado com Anjing, a cadela, que parecia ser tão bem-vinda à mesa como qualquer convidado. De estômago cheio, inclinou-se para trás. Pequenas luzes decoravam a extensão dos muros do pátio, mas em nada se comparavam com o manto de estrelas acima delas.
Por um breve instante, sentiu-se em paz consigo mesma, porventura feliz.
Contudo, no seu íntimo, sabia que essa sensação não iria durar.
21h22
Já não era sem tempo...
Seichan encontrava-se deitada de barriga no telhado de uma casa abandonada, a cerca de um quarteirão de distância do local onde haviam estacionado o Unimog. Dez minutos depois de os outros partirem, saíra do veículo e, levando uma mão à orelha, fingira estar a receber uma comunicação via rádio. No instante seguinte, respondera à transmissão imaginária, dando continuidade ao golpe de teatro: «Compreendido. Tudo tranquilo por aqui. A caminho.»
Agarrando no seu equipamento, apressara-se na direção que os companheiros haviam tomado. Caminhara uns quarteirões, como se fosse ao encontro deles. Uma vez certa de que não estaria a ser seguida, dera meia-volta e subira para o telhado de uma casa que oferecia um ponto de vista desobstruído para o Unimog.
Depois, deixara-se ficar à espreita, a ver se alguém mordera o isco.
O carro poderia ser uma tentação para algum gatuno da aldeia, mas Seichan não estava preocupada com ladrões. Ahmad parecera confiante de que nada aconteceria ao veículo. Ao longo dos anos, Seichan aprendera que aldeias como aquela regiam-se por um estrito código de conduta. Era permitido roubar forasteiros, porém, a partir do momento em que se encontravam sob a proteção de uma família da aldeia, ninguém lhes poderia tocar.
Como tal, ninguém se aproximara do Unimog nos últimos quarenta minutos.
Até agora.
Uma figura surgiu do lado direito de Seichan. Vestia uma jalabiya, uma túnica branca pela altura dos tornozelos sem colarinho e mangas compridas, e um turbante a condizer. A maioria dos homens da aldeia usava a mesma vestimenta, já que a cor clara e o corte folgado ajudava a suportar o calor. Como tal, aquela presença não era de estranhar. Caminhava despreocupadamente, como se estivesse curioso em relação à besta de metal estacionada.
Ainda assim, havia qualquer coisa nele que fez disparar as campainhas de alarme na mente de Seichan. O desconhecido olhou para ambos os lados, focando depois toda a atenção no veículo. Trazia qualquer coisa na mão, mas o tecido da manga não permitia descortinar o que era.
Seichan aguardou até ele se encontrar em campo aberto, incapaz de retroceder e desaparecer com facilidade nas ruelas labirínticas da aldeia. Satisfeita, rolou silenciosamente sobre si mesma e desceu do telhado na ponta mais afastada do edifício, fora de vista. Mantendo-se baixa, contornou a casa e aproximou-se do homem pelas costas.
Empunhava a SIG Sauer pronta a disparar, caso fosse necessário. Percebeu que o homem não trazia uma arma, mas continuava sem conseguir identificar o que trazia na mão. Sentiu os nervos dançarem à flor da pele. Por um breve instante, considerou a hipótese de abatê-lo pelas costas.
E se estiver enganada?
Matar um inocente a sangue-frio não lhe traria a simpatia dos nómadas do deserto, muito menos a sua cooperação. Deu mais um passo na direção dele, depois outro. Apesar de caminhar em absoluto silêncio, sem perturbar um único grão de areia, algo alertou o homem da sua presença.
O desconhecido virou-se subitamente, os olhos brilhando, o rosto negro exibindo uma expressão fria e calculista.
Seichan percebeu logo que não se tratava de um vulgar ladrão. Disparou, mas o homem mergulhou para um dos lados, rolou sobre um dos ombros e pôs-se de pé, desatando a correr sem um instante de hesitação.
Seichan correu em perseguição, mantendo-o debaixo de mira. Evitou disparar quando ele passou frente às janelas iluminadas de uma casa, receando atingir as pessoas no interior.
O homem retirou vantagem dessa preocupação e escapou-se por uma viela que conduzia ao interior da aldeia, desaparecendo. Seichan não era parva ao ponto de arriscar segui-lo por aquele labirinto negro de becos e travessas, onde facilmente poderia ser emboscada.
Em vez disso, tocou no microfone do auricular e chamou Gray. Quando ele respondeu, Seichan sabia que lhes restava uma única alternativa.
— Está na hora de nos pormos a andar — disse.
Gray não pediu explicações. O tom dela dizia-lhe o suficiente.
Três minutos depois, Gray chegou com os outros, todos em fila indiana. Trazia a SIG Sauer na mão, protegendo Jane e Derek. Kowalski cobria a retaguarda, empunhando uma caçadeira automática.
Gray olhou para ela. Seichan indicou que o caminho estava livre e apontou-os para o Unimog.
— Que aconteceu? — perguntou por fim Gray.
Seichan contou-lhe.
— Tens a certeza de que não era um simples ladrão? — retorquiu ele.
— Não era um ladrão — disse Seichan, visualizando aqueles olhos, o modo como o homem escapara.
Gray tomou as palavras delas como certas.
Uma figura surgiu repentinamente a correr na direção deles. Seichan sacou da pistola, mas era apenas o rapaz, Ahmad.
— Esperem! Eu ir com vocês! — gritou o miúdo.
Gray parecia disposto a recusar tal ideia, preocupado com a segurança do rapaz.
Seichan recordou-o do plano original.
— Mal ou bem, continuamos a precisar de alguém que conheça o deserto.
Ahmad assentiu vigorosamente com a cabeça.
— Conheço deserto muito bem!
Gray suspirou e endireitou as costas, como se retirasse de cima dos ombros parte do peso da responsabilidade pela vida do rapaz.
— Certo, todos para dentro do carro. Vamos embora.
Ahmad sorriu, rodou a cabeça e assobiou.
A cadela correu para se juntar a ele.
Gray autorizou a adição daquele último elemento à equipa, virando pura e simplesmente as costas e entrando no Unimog.
Kowalski não foi tão discreto.
— Pelo menos o puto não se lembrou de trazer o burro.
21h41
O rugido do motor fez-se ouvir no esconderijo de Valya. Os alvos estavam em movimento. A ruidosa partida do grupo ecoou por toda a aldeia, acentuando a má disposição da assassina.
Maldita mulher!
Escondida no interior de uma das casas, Valya despiu a túnica e atirou-a para um canto junto com o turbante que usara para esconder os cabelos brancos. Toda nua, respirou fundo. Por ora, continuaria a usar a base castanho-escura que lhe cobria a compleição pálida e a tatuagem. Precisaria dela para o próximo passo: vestir a pele de uma mulher idosa. Parte do seu treino consistira em aprender a fundir-se com o ambiente que a rodeava, tornando-se invisível, arte que dominava na perfeição. Gostava de olhar para a sua forma pálida como uma tela em branco onde podia adicionar um sem-número de rostos.
Duas horas antes, viajara direta de Cartum para a aldeia, onde ficara a aguardar pelas suas presas.
A equipa enviada por Anton encontrava-se no deserto profundo, a preparar a verdadeira armadilha. Valya tentara aumentar as probabilidades de êxito da missão. O Unimog era de fabrico anterior à era dos sistemas de GPS, pelo que não havia maneira de monitorizar os alvos à distância, sobretudo quando partissem rumo à imensidão de areia. Valya alimentara a esperança de resolver o problema, escondendo um transmissor no veículo. Era uma solução simples, porém, uma vez mais, vira os seus esforços frustrados por aquela mulher.
A única vantagem que retirara daquele confronto fora a circunstância de ter ouvido alguém mencionar o nome da adversária.
Seichan...
Valya sentiu-se mais animada. O nome retirava um certo mistério à adversária, como se perdesse um pouco da condição de mito, tornando-se de carne e osso, alguém que podia matar.
Fosse como fosse, jurara que não voltaria a subestimá-la.
Virando-se, atravessou a divisão na direção dos dois cadáveres a um canto. Ambos os corpos estavam caídos no chão de terra, as gargantas cortadas e rodeados de uma poça de sangue.
O casal de idosos eram os proprietários daquela casa. Valya seguira-lhes os passos até à porta da habitação, coberta dos pés à cabeça com uma burca, fingindo-se uma pedinte. No último segundo, livrara-se do manto, revelando o seu verdadeiro rosto pálido e forçando a entrada. Aproveitara o choque inicial para despachar silenciosamente os dois, apreciando os seus olhares horrorizados. Em muitos sítios de África, os albinos eram vistos como seres mágicos, carregando boa fortuna nos seus ossos. Esse tipo de superstição resultava na chacina de muitas crianças albinas em todo o continente africano, onde partes dos seus corpos acabavam por ser vendidas no mercado negro.
Valya fitou os dois cadáveres caídos.
Pelos vistos, não trazemos assim tanta sorte.
Com tempo para gastar, fez deslizar o punhal cerimonial da avó, o athamé de cabo negro, da bainha que trazia presa no antebraço. Ajoelhou-se junto do corpo da mulher idosa e usou a lâmina para gravar a sua marca na testa do cadáver. Lentamente, o olho de Hórus começou a ganhar forma na carne exangue, fitando-a de volta, como se aprovasse o ato.
Mais calma, Valya sentiu um sorriso aflorar-lhe o canto dos lábios. Não faltaria muito para que outra mulher exibisse essa marca, alguém realmente digno de usá-la.
Valya murmurou o seu nome.
— Seichan...
14
2 de junho, 21h22 EDT
Algures sobre a baía de Baffin
Painter estudou o destino próximo, enquanto o Gulfstream se inclinava para um dos lados, descrevendo uma curva acima das águas da baía de Baffin. Mesmo em frente, envolta num manto de espesso nevoeiro gelado, encontrava-se a ilha de Ellesmere. A linha costeira escarpada era uma mistura de enseadas irregulares, pequenas baías, amontoados de rocha e praias de xisto quebrado. Encalhadas, algumas placas de gelo entravam terra adentro nalgumas secções, empilhadas de viés umas por cima das outras como cartas de jogar.
— Não se pode dizer que tenha um ar hospitaleiro — disse Kat, espreitando da janela da cabina.
— O homem encontra sempre maneira de chegar onde quer, sejam quais forem as condições — retorquiu Painter. Estivera a ler um pouco sobre o historial da ilha durante o voo. — Os primeiros ocupantes chegaram há quatro mil anos, grupos de caçadores indígenas. Depois foi a vez dos viquingues, seguidos dos europeus, no século dezassete.
— E agora nós os dois — disse Kat, tentando aligeirar o ambiente.
Painter limitou-se a fazer que sim com a cabeça. Ainda sentia o estômago às voltas pela ansiedade. Em Washington, não perdera tempo a alinhavar os contornos da missão com o general Metcalf, o seu chefe na DARPA. O homem questionara-o acerca da necessidade de uma excursão de mil e seiscentos quilómetros para lá do Círculo Polar Ártico, mas Painter mantivera-se inflexível. Acompanhado de Kat, voara para norte, empurrando os motores do Gulfstream G150 ao limite com uma única escala para reabastecimento na base aérea de Thule, na costa oeste de Gronelândia, a unidade militar americana mais a norte das fronteiras do país.
Se Painter guardasse algumas dúvidas acerca da importância estratégica da região, a base de Thule desfazia-as. Administrada por dois esquadrões de ramos diferentes da Força Aérea, a unidade albergava um sistema de deteção de mísseis balísticos e uma rede de gestão global de satélites. Também servia como centro de operações regional para uma dúzia de instalações científicas espalhadas pelo território da Gronelândia e ilhas adjacentes, incluindo a Estação Aurora, em Ellesmere.
Naturalmente, tudo isso referia-se apenas à presença dos Estados Unidos.
O Canadá possuía bases adicionais, incluindo uma unidade na ilha de Ellesmere, chamada Alert, um posto avançado sazonal militar e científico, a cerca de oitocentos quilómetros do polo norte.
Painter tentou avistar o local enquanto o jato voava acima da região interior da ilha, mas as paisagens eram incrivelmente vastas. O piloto seguia as coordenadas previamente estabelecidas entre o Parque Nacional de Quttinirpaaq, que ocupava o lado norte da ilha, e a cascata de glaciares a sul. Abaixo das asas, as montanhas Challenger erguiam-se numa desordem de picos nevados.
— Devemos estar a chegar — disse Kat.
A Estação Aurora fora construída na costa norte, no limite do oceano Ártico. De acordo com a pesquisa de Painter, o local fora escolhido por diferentes razões, mas sobretudo pela proximidade do polo norte magnético, o objeto de estudo de muitas pesquisas da estação. Enquanto o polo norte geográfico se mantinha relativamente fixo, o polo magnético andava à deriva há séculos, deslocando-se vagarosamente ao longo da costa da ilha de Ellesmere e em direção ao oceano Ártico.
A voz do piloto fez-se ouvir na cabina:
— Estamos a vinte milhas de distância. Devemos aterrar em dez minutos. Tivemos sorte de a viagem ter sido tão curta, tendo em conta o tempo que se está a levantar.
Painter desviou a atenção do solo para os céus. Acima deles havia apenas umas nuvens dispersas, porém, a noroeste, o mundo terminava numa muralha de nuvens negras. Painter tinha conhecimento de uma tempestade a caminho, mas os boletins meteorológicos constantes davam conta de um cenário cada vez mais negro, prevendo o isolamento da região durante dias, ou, porventura, semanas. Fora uma das razões pela qual pressionara tanto o general Metcalf. Se perdesse a janela de oportunidade, as probabilidades de resgatar Safia diminuiriam dia após dia.
Não podia permitir que isso acontecesse.
Contudo, existia um problema evidente.
— Assim que a tempestade se abater sobre nós, ficaremos encurralados sabe-se lá até quando — disse Kat.
Com as previsões a anunciarem ventos ciclónicos, o jato aterraria na Estação Aurora apenas para os deixar, levantando imediatamente de regresso a Thule, onde aguardaria em terra a passagem da tempestade. O comandante da base aérea, coronel Wycroft, recebera ordens confidenciais para estar preparado para uma evacuação de emergência, caso o resgate fosse bem-sucedido. Porém, o próprio avisara que tal missão poderia ficar comprometida por causa da tempestade.
Mesmo assim, Painter não se demoveu.
— Não temos alternativa senão continuar — respondeu.
Kat olhou para ele de relance, como se tencionasse rebater esse argumento, mas pensou melhor e desviou a atenção de volta para a janela. Painter sabia que estava a conduzir a missão com o pé no acelerador. Ela, por sua vez, fazia os possíveis para o ajudar a refrear o ímpeto, apelando para uma abordagem com mais conta e medida. Por enquanto, ainda não tinham batido de frente um contra o outro. No seu íntimo, Painter sabia que ela tentava apenas fazer o melhor possível, tanto por eles como por Safia.
Kat deixou escapar uma exclamação de espanto.
— Que foi? — perguntou ele.
— As fotografias não lhe fazem justiça — retorquiu Kat, incapaz de desviar os olhos da janela.
Painter virou-se para olhar, focando de novo a atenção no solo enquanto o jato fazia a aproximação à pista que servia a estação. Reparou no punhado de Cessnas — os aviões mais utilizados naquelas paragens — parado ali perto. Os aparelhos estavam a ser ancorados por causa da tempestade. Outro jato estava a ser conduzido para o interior de um hangar de aço.
De qualquer modo, aquela não era a visão que espantara Kat, mas, sim, a maravilha de engenharia para lá de um aglomerado de edifícios. A Unidade de Pesquisa Ionosférica, UPI, ocupava mais de trezentos hectares de tundra. Embora o coração se encontrasse escondido debaixo de terra, o rosto visível da maciça instalação geradora de sinais era constituído por duas mil antenas interligadas. Cada uma com uma altura de dez andares, com secções de aço transversais que se estendiam como braços abertos.
— Faz lembrar a Via Láctea — disse Kat.
Painter anuiu. Enquanto as cento e oitenta antenas do projeto HAARP tinham sido dispostas em linha, o sistema da Estação Aurora assumia a forma de uma espiral, o que lhe conferia um aspeto fluido. Era uma obra de arte da engenharia, igualmente bela e prática.
No centro da constelação de aço encontrava-se um enorme buraco a céu aberto. Era uma antiga mina, apenas uma de muitas espalhadas por todo o arquipélago Ártico. A região inteira encontrava-se marcada por crateras semelhantes, de onde os homens retiravam cobre, ouro, chumbo, zinco, até diamantes. Os recursos minerais no Ártico eram vastos e praticamente inexplorados, situação que estava a mudar a olhos vistos com o contínuo degelo e subsequente acessibilidade a novos pedaços de território.
— Que é aquilo no centro do buraco? — quis saber Kat.
Painter estreitou os olhos para a torre de andaimes de aço em forma de pináculo. Apontava para o céu, suportando uma enorme esfera no topo. O globo brilhante encontrava-se aninhado numa série de anéis de cobre, todos interligados com cabos grossos e conectados a ímanes trapezoidais, cada um do tamanho de um Volkswagen Carocha.
— Diria que é um hino à obsessão de Simon Hartnell — retorquiu Painter. — É a tentativa dele de replicar e melhorar o trabalho do seu maior ídolo, Nikola Tesla.
— O que é, exatamente?
— A versão de Hartnell da Torre de Wardenclyffe, um dos projetos mais ambiciosos de Tesla.
Apesar de superficiais, Painter estudou as parecenças com o projeto original. Usou o iPad para abrir uma imagem e comparou as duas torres, entregando-o depois a Kat.
— O Tesla comprou dois hectares de terreno em Long Island, onde construiu uma central elétrica que alimentava uma torre de madeira com uma altura de dezoito andares, encimada por uma gigantesca cúpula. O sonho dele era construir o primeiro sistema de comunicação global sem fios, o que implicava a construção de outras trintas torres iguais ao redor do planeta. Mais tarde, Tesla ficou convencido de que as torres lhe permitiriam aceder ao que ele chamava frequência de ressonância da terra. Se fosse bem-sucedido, a intenção de Tesla era usar esta rede de torres como um sistema global de distribuição de energia sem fios.
— Parece-me uma ideia ambiciosa, no mínimo.
— E extemporânea, se calhar. O projeto fracassou por falta de financiamento, e o local foi abandonado e demolido anos depois. — Painter desviou os olhos para o terreno abaixo. — De qualquer forma, mesmo na derrota, tais aspirações inspiraram outros. O nome do império de Simon Hartnell, Clyffe Energy, é uma homenagem ao projeto Wardenclyffe, um reconhecimento das esperanças e sonhos que representou.
— E esta torre? — perguntou Kat. — Para que serve?
Painter franziu o sobrolho.
— É uma boa pergunta.
Devido à urgência da situação, Painter apenas deitara uma vista de olhos rápida aos vários projetos em curso na Estação Aurora. Daquilo que lera, a torre funcionava como um amplificador de sinal para o sistema de antenas. A forma da estrutura era apenas uma homenagem a Tesla. Segundo os relatórios, a torre destinava-se a ampliar o alcance do mesmo sinal de estimulação ionosférica conseguido no projeto HAARP. No entanto, o acréscimo de energia também permitia expandir a capacidade de pesquisa das antenas, resultando na obtenção de mais e melhores resultados. Por outras palavras, tratava-se de uma versão a esteroides do projeto HAARP, servindo os mesmos objetivos a uma escala nunca antes conseguida.
Mesmo assim, agora que estou a ver isto com os meus próprios olhos...
Painter sentiu o nó no estômago apertar-se. Estivera tão focado em Safia que fizera vista grossa de algumas inconsistências que detetara no relatório do projeto. Diziam respeito a especificações e protocolos.
Ou então estou a ficar tão maluquinho como aqueles que olhavam para as misteriosas antenas da HAARP e só viam intenções malignas e obscuras.
A voz do piloto fez-se de novo ouvir.
— Apertem os cintos. Vamos iniciar a descida.
Painter recostou-se no assento, consciente de uma única certeza.
Seja como for, é demasiado tarde para pensar nisso.
22h22
Kat preparou-se para o frio, porém, assim que desceu as escadas do Gulfstream, foi como se mergulhasse nua num lago de montanha. Um vento constante soprava do oceano Ártico, cobrindo-lhe os lábios de sal e gelo e descendo pelo interior do colarinho da parca.
Tremeu de frio e encolheu-se face às rajadas de vento gelado, apertando a base do capuz junto ao pescoço com uma das mãos e arrastando atrás de si uma mala de rodas com a outra. As temperaturas que se faziam sentir rondavam novos mínimos históricos para o início de junho, alguns graus abaixo de zero, e prometiam continuar a descer com a aproximação da tempestade.
Desviou os olhos na direção do mar, para lá da secção de gelo partido, fitando a muralha de nuvens negras no horizonte. O Sol pairava abaixo da ponta oeste da tempestade, como se tentasse esconder-se da ameaça, mas não havia fuga possível. Naquela latitude polar, o Sol não desceria abaixo da linha do horizonte até à primeira semana de setembro.
À sua esquerda, uma forma branca atravessou a correr a largura do alcatrão da pista, desaparecendo na neve encardida amontoada na berma. Era uma lebre do Ártico, um lembrete de que, apesar da aparência desolada daquele lugar, a vida encontrava maneira de prosperar, tanto em terra como no mar. Aquele era o domínio dos ursos polares, focas, narvais e belugas, assim como dos caribus e bois-almiscarados, cujas manadas continuavam a cruzar aqueles terrenos selvagens. Na verdade, o antigo nome do povo inuíte para a ilha era Umingmak Nuna, ou «Terra do Boi-Almiscarado».
Para lá da pista, o manto de neve era quebrado de quando em quando por montículos de ervas azuis e faixas de silte e terra, de onde brotavam papoilas amarelas e vegetação de floração branca.
Kat retirou força da resistência desses seres que ali continuavam a sobreviver contra todas as probabilidades.
Desviou o olhar para o aglomerado de edifícios de cimento, todos eles pintados de cor de laranja, para se destacarem dos tons do terreno. Painter caminhava uns metros à frente, praticamente alheado do ambiente ao redor.
Enquanto o Gulfstream se posicionava para descolar e regressar à base aérea de Thule, Kat olhou por cima do ombro à procura da lebre que desaparecera na berma.
A ver vamos se temos metade da tua competência para sobreviver neste lugar.
Virou-se e continuou a seguir o diretor. Mais adiante, um comité de boas-vindas aguardava-os na entrada principal da estação. O grupo encontrava-se parado no limite das portas abertas, envolto no bafo quente que escapava do interior das instalações. Painter estugou o passo. Aos olhos dos outros, talvez desse a impressão de que queria fugir ao vento gélido, mas Kat sabia que era Safia quem o fazia caminhar com tamanha determinação.
Acelerando também o passo, Kat não deixou de reparar na azáfama que decorria ao redor, enquanto o pessoal da base ultimava os preparativos para a chegada da tempestade. Um par de veículos de neve descia devagar e pesadamente uma rampa de acesso a uma garagem subterrânea. Os Cessnas que observara do ar encontravam-se já cobertos por lonas e ancorados com cordas e cavilhas. Pelos vistos, não havia espaço nos vários hangares para aviões tão modestos. Num deles, Kat conseguiu um vislumbre de um elegante Learjet, enquanto noutro, enquanto as portas se fechavam, a cauda de um Boeing de carga.
A estação é praticamente um aeroporto.
Porém, tratando-se de uma base tão remota, talvez não fosse assim tão invulgar.
Alcançaram por fim as portas abertas e foram de imediato conduzidos para o interior. Kat não estivera lá fora mais do que uns minutos, mas a sensação imediata de conforto foi o suficiente para lhe arrancar um suspiro.
As portas fecharam-se nas costas dos dois. Ato contínuo, a figura do homem responsável deu um passo em frente, exibindo um largo sorriso. Era o próprio Simon Hartnell. Vestia uma camisola de lã de gola alta, calças de ganga e umas botas de trabalho que já tinham visto melhores dias. Kat ficou especialmente surpreendida de ver o todo-poderoso presidente da Clyffe Energy desempenhar uma tarefa tão simples como vir recebê-los à porta.
— Bem-vindos ao fim do mundo! — disse Simon. Fez uma pausa e indicou com o braço em direção a norte. — Okay, talvez não seja o fim, mas garanto-lhes que conseguimos vê-lo daqui.
Kat calculava que aquilo fosse uma velha piada, um cumprimento bem ensaiado para deixar as pessoas mais à vontade. Mesmo assim, fez o seu papel e sorriu.
— Obrigada — disse, puxando para trás o capuz da parca. — Por pouco não conseguíamos vir devido à tempestade.
Painter dirigiu-lhe um cumprimento com a cabeça.
— Obrigado por nos receber com tão pouca antecedência, gostaríamos de ter avisado mais cedo — disse, a sua voz evidenciando um tom mais formal.
Hartnell ergueu uma das mãos.
— As inspeções de última hora fazem parte de qualquer organização, e a DARPA é sempre bem-vinda. A Estação Aurora não existiria sem o vosso trabalho anterior no projeto HAARP. — Alargou o sorriso. — Além disso, a vossa presença oferece-me a oportunidade de me gabar um pouco. Estamos muito orgulhosos dos nossos resultados. Penso que mostram bem o potencial do que estamos a fazer.
— Combater as alterações climáticas? — perguntou Kat, como quem não quer a coisa.
— Exatamente. Neste momento, temos trinta e quatro projetos ativos, todos diferentes, mas o objetivo principal da estação é estudar, monitorizar e testar modelos teoréticos para combater o aquecimento global.
— Um esforço nobre — disse Painter.
Simon encolheu os ombros.
— E rentável, esperemos. Apesar dos meus vastos recursos, tenho um quadro de administradores a quem tenho de prestar contas. — Virou costas e começou a conduzi-los para o interior das instalações. — Seja como for, podemos discutir este e outros assuntos amanhã de manhã. O sol pode continuar a brilhar, mas o dia já vai longo. Sigam-me, eu mostro-lhes onde vão ficar.
Hartnell conduziu-os por um corredor azul-pastel, que dava acesso aos elevadores.
— Construímos a área de alojamento no piso mais inferior da estação — explicou, enquanto entravam no elevador. — É a secção mais fácil de manter quente devido ao isolamento natural do subsolo.
Simon carregou no botão B4.
Kat estudara a planta da base. O edifício exterior assentava em quatro pisos subterrâneos que albergavam os laboratórios, salas de trabalho, espaços de arrumação e até uma área recreativa, que incluía um campo de ténis interior, piscina e cinema.
Era uma autêntica cidade.
Não seria fácil encontrar Safia naquele labirinto.
Kat também reparara nas várias câmaras de videovigilância instaladas na entrada e corredor, e não tinha dúvidas de que o complexo inteiro se encontrava vigiado. Visualizou o rosto pálido do homem responsável pela segurança: Anthony Vasiliev ou, melhor dizendo, Anton Mikhailov.
Se Hartnell empregava Anton e a irmã, duas pessoas com passados ligados à Guild, quantas mais poderiam ter sido contratadas, com antecedentes igualmente obscuros, para proteger aquela base?
Kat quase podia sentir aqueles olhos azuis a estudarem-na pelas câmaras.
Não tinha dúvidas de que Hartnell teria investigado os seus dois visitantes, juntamente com a história de cobertura. Ele fez questão de o demonstrar assim que as portas do elevador se abriram.
Virou-se para o diretor:
— Painter Crowe. Já ouvi falar de si.
— Ah, sim? — retorquiu Painter, nada surpreendido.
Com um horário tão apertado, nenhum dos dois se dera ao trabalho de esconder as verdadeiras identidades. Ambos detinham um longo historial na DARPA, o que ajudava a corroborar a história da inspeção. Por sua vez, o papel de ambos na Sigma, a própria existência da agência, resistiria sempre ao mais apurado dos escrutínios, uma vez que não existiam registos nem de uma coisa nem de outra. Além disso, o mesmo horário apertado teria dado à equipa de segurança de Hartnell pouco mais do que umas horas para se prepararem para a inspeção-surpresa. Qualquer investigação que tivessem feito teria sido meramente superficial.
— Sim — disse Simon —, é o mesmo Painter Crowe que patenteou um microcontrolador de circuitos de temperatura controlada, certo?
Painter ergueu uma sobrancelha.
— Exatamente.
Hartnell sorriu.
— Temos mais de setenta mil desses circuitos instalados nesta base. Um notável mecanismo de microengenharia, devo dizê-lo. O modo como resolveu a dissipação de calor... genial. — Olhou por cima do ombro. — Se calhar, vou acabar por roubá-lo à DARPA um dia destes.
Deves estar cá com uma sorte..., pensou Kat.
Hartnell continuou a conduzi-los por uma sala de convívio, praticamente vazia àquela hora. Alguns dos poucos rostos presentes ergueram-se dos respetivos tabuleiros de comida enquanto passavam. A cozinha contígua ainda fumegava no lado mais afastado da divisão, impregnando o ar com o odor a alho. Hartnell apontou nessa direção.
— Se tiverem fome, a cozinha funciona vinte e quatro horas por dia. A ementa é limitada a esta hora, mas servimos o melhor café do mundo.
Kat assentiu, sentindo-se tentada pela última oferta.
Hartnell seguiu por um corredor à esquerda.
— Peço desde já desculpas pelas acomodações. São um pouco espartanas. Mas consegui instalá-los em quartos contíguos.
— Qualquer coisa serve — disse Painter —, estamos de saída em menos de nada.
Espero que isso seja verdade.
Hartnell entregou-lhes dois cartões de acesso.
— Toda a estação é controlada eletronicamente. Por norma, estes cartões de acesso conseguem até «aprender» os vossos horários habituais de trabalho, ajustando automaticamente a temperatura do termóstato dos quartos antes de se deitarem. Em bom rigor, estas coisas mantém um registo de tudo.
Kat considerou esse último pormenor um pouco enervante. Interrogou-se se ele o teria mencionado de propósito.
Simon ergueu as duas mãos.
— Mas, como disse, podemos falar disso tudo amanhã e mostrar à DARPA que o seu dinheiro está a ser bem empregue.
— Obrigada — disse Kat, suprimindo um bocejo que nada tinha de falso.
— Vou deixá-los à vontade — rematou Hartnell, com um ligeiro cumprimento de cabeça, depois virou costas e afastou-se.
Painter passou o cartão de acesso na fechadura eletrónica, deitando um olhar de relance para a câmara instalada no teto do corredor.
— É melhor dormirmos um pouco — disse.
— Parece-me uma ótima ideia — retorquiu Kat, alinhando no teatro.
Cada um entrou no seu quarto. Kat percebeu imediatamente que a sua definição de espartano era o oposto da de Hartnell. Aquele era o tipo de quarto que esperava encontrar num hotel de categoria superior como o Four Seasons. Tinha chão de madeira aquecido, assim como uma cama de casal com lençóis e colcha de seda. Uma das paredes apresentava umas cortinas penduradas semiabertas, revelando um enorme ecrã que exibia a imagem de uma praia tropical, as ondas beijando suavemente a areia branca, oferecendo a ilusão de que se encontrava a olhar por uma janela nas Caraíbas. Havia música ambiente a tocar, e um vislumbre da casa de banho revelava uma banheira de hidromassagem e uma cabina de duche vaporizada.
Abanou a cabeça, interrogando-se se Hartnell tencionara proporcionar-lhes uma surpresa.
Nós também temos a nossa própria caixinha de surpresas.
Dirigiu-se à cama e pousou a mala em cima da colcha. A mala continha compartimentos secretos onde escondera uma SIG Sauer desmontada. Absteve-se de mexer na mala e usou o tempo disponível para inspecionar o resto do espaço.
Finalmente, ouviu uma batida na porta que comunicava com o quarto de Painter. Atravessou a divisão e passou o cartão de acesso na fechadura do lado dela, para lhe permitir a entrada. Painter entrou silenciosamente. Enquanto aguardava de braços cruzados, o diretor percorreu a divisão inteira de uma ponta à outra, incluindo a casa de banho. Segurava um pequeno aparelho na mão, parando de quando em quando para o aproximar de uma parede ou respiradouro.
Assentiu com a cabeça, satisfeito.
— Parece estar tudo em ordem, podemos falar à vontade.
— E agora, o que se segue? — perguntou Kat, alcançando a mala, pronta para retirar e montar a pistola.
— Procuramos a Safia.
Kat notou o brilho de preocupação no olhar do diretor. Precisava que ele se mantivesse focado. Para bem de todos.
— Ela está viva — assegurou-lhe. — Caso contrário, não a teriam trazido para aqui. Precisam dela por algum motivo.
— Sim, mas que motivo será esse?
— É uma boa pergunta. Se descobrirmos a resposta, teremos melhores probabilidades de encontrá-la. — Desviou o olhar para a porta. — O problema é sabermos por onde devemos começar.
Com a ansiedade estampada no rosto, Painter refletiu uns instantes. Por fim, apontou na direção do corredor.
— Acho que devemos começar por uma chávena ou duas do melhor café do mundo... depois tratamos de conhecer melhor os nossos vizinhos.
23h26
Não faz sentido.
Sentada na biblioteca, Safia esfregou os olhos cansados. Com a ajuda de Rory, passara a maior parte do dia a copiar os hieróglifos tatuados no corpo da princesa egípcia. A idade do cadáver e a condição da pele mumificada tornavam o processo especialmente moroso, e também não ajudava terem de usar os fatos de biossegurança enquanto trabalhavam.
Algumas passagens eram de leitura fácil, como se tivessem sido aplicadas na pele há poucos anos, em vez de milénios. Outras obrigavam ao uso de lâmpadas ultravioletas. Como se não bastasse, havia ainda a considerar as dificuldades inerentes à própria anatomia, como o interior das coxas, de difícil leitura, ou os dedos dos pés, onde as tatuagens eram minúsculas.
Depois de nove horas exaustivas, tinham conseguido recriar uma cópia parcial de toda a superfície tatuada, que haviam digitalizado, a fim de poderem manipulá-la e transformar cada uma das imagens envelhecidas em versões de leitura mais fácil. Safia tinha uma secção do ficheiro no ecrã do portátil. A imagem lembrava um tecido devorado por traças, cheia de falhas e pedaços em falta.
Apesar de todo o esforço, algumas das tatuagens continuavam a mostrar-se irrecuperáveis. Como última tentativa, Safia e Rory haviam posicionado um scanner topográfico 3D ao redor da figura sentada no trono. Os quatro lasers do aparelho iriam cartografar cada recanto e fissura, penetrando fundo na camada da epiderme. O poderoso software de imagem conseguia até estender a pele como uma tela, o que poderia, com alguma sorte, revelar o que não era possível descortinar de outra forma.
Infelizmente, era um processo que demoraria horas a concluir.
Deixando o sistema a operar sozinho, Safia e Rory assentaram arraiais na biblioteca, onde se encontravam nesse momento a tentar traduzir as poucas secções que haviam recuperado intactas. Porém, não havia grandes sinais de progresso.
— Não encontro nada que faça sentido — disse Safia, debruçada sobre o ecrã.
Rory ocupava o lado oposto da mesa. Estava a estudar a mesma imagem no seu próprio portátil.
— Não pode ser. Por que razão esta mulher decoraria o corpo todo com tatuagens, se não tivessem um significado?
— Podem ser meros ornamentos. Já ouvi falar de muita gente que tatuou caracteres chineses sem fazer ideia de que estava a gravar na pele um disparate sem sentido.
— Não me convence.
Safia suspirou.
— Nem a mim... Tem de haver alguma coisa importante que tentava preservar.
Mas o quê?
— Se calhar, mais vale tentarmos de novo amanhã, de cabeça fresca — sugeriu Rory. — É tarde e estamos demasiado cansados.
Safia anuiu com a cabeça, frustrada.
— Isto é como tentar ler um livro onde faltam metade das palavras em todas as frases, e metade das letras nas palavras que sobram.
— Pois, para não falar das secções de pele queimada, como as costas — lembrou Rory. — Só essa zona equivale a uma boa porção de texto irrecuperável.
— É verdade.
Rory tentou suprimir um bocejo mas não conseguiu.
Safia sorriu.
— Bom, tentamos de novo quando voltarmos a conseguir manter os olhos abertos.
— Um deles, pelo menos — disse Rory, apontando para o olho negro e inchado, uma recordação dolorosa do preço a pagar pelo falhanço.
O responsável pelo lembrete encontrava-se sentado junto à porta da biblioteca. O olhar de Anton raramente se desviava dos dois.
— Vamos acabar por conseguir, amanhã logo se vê — prometeu Safia.
Recolheram os computadores, dando o dia por terminado. Apesar de algumas funções nos portáteis se encontrarem trancadas, ambos podiam usá-los para comunicarem um com outro via e-mail ou por videochamada, caso houvesse necessidade de discutirem alguma ideia emergente a qualquer hora da noite.
— Antes que me esqueça — disse Safia —, o pedaço de pele que falta, aquele retângulo. Disseste que acreditavas que o teu pai o tinha retirado para fazer testes, certo?
— Sim, ele queria identificar a natureza exata do processo de mumificação. Considerava-o estranho, ou invulgar.
— Como assim?
— Estava convencido de que havia algo único no ritual a que ela se sujeitara, antes de ser emparedada viva. Seja como for, nunca adiantou pormenores acerca disso. Só podíamos falar um com o outro durante uma hora por semana. — Rory olhou de relance para Anton. — Se fizéssemos o que nos competia, escusado será dizer.
Safia visualizou a secção em branco correspondente na reconstrução que haviam feito dos hieróglifos.
— O teu pai fez alguma cópia do que estava escrito no pedaço que retirou?
— Não faço ideia. Se o fez, deve ter sido destruída como tudo o resto.
— Que será que o Harold tentava esconder? — murmurou Safia, para si mesma.
Rory ouviu-a.
— Pelos vistos, algo por que valia a pena morrer.
Safia tocou-lhe no braço.
— Desculpa, não foi isso que quis dizer.
Rory olhou para os pés.
— E deixou-me a mim para apanhar os cacos — disse, dando à voz um tom amargo.
Rory encaminhou-se para a porta. Safia apressou-se atrás dele, a cabeça às voltas com palavras que o pudessem consolar. Não conseguia imaginar como seria estar no lugar dele. Além do desgosto pela morte do pai, havia também o ressentimento por se ter visto abandonado à sua sorte. Afinal de contas, Harold escolhera arriscar a vida, deixando o filho nas mãos dos captores. Sozinho. Forçado a concluir o trabalho que deixara por terminar.
Safia interrogou-se sobre o propósito desse ato final de Harold.
Teria sido por egoísmo ou desespero?
No instante em que alcançou Rory, alguém bateu à porta da biblioteca. Anton fez-lhes sinal para recuarem e abriu uma nesga da porta, bloqueando a vista com o próprio corpo. Depois de uma curta troca de palavras, alguém passou uma pasta ao russo.
Anton fechou a porta e estendeu o braço:
— Resultados dos testes.
Safia ficou momentaneamente confusa, mas aceitou a pasta das mãos de Anton. Abriu-a e verificou que continha as conclusões de uma análise de ADN da mulher egípcia. Era apenas mais um de uma batelada de testes, desde amostras de tecido a datação por carbono. Não estava à espera de receber aqueles resultados tão depressa, mas talvez não devesse ficar assim tão surpreendida, tendo em conta quem financiava a operação.
Afastou-se da porta, levando Rory consigo. Não contava encontrar nenhuma revelação particularmente surpreendente. Solicitara uma análise genética ao ADN autossómico e mitocondrial da múmia, a fim de estabelecer a ascendência da princesa. Esperava que isso lhe desse alguma pista em relação à região do antigo Egito em que ela vivera.
O ficheiro continha mais de trinta páginas de informação pormenorizada, incluindo gráficos e tabelas, mas o sumário encontrava-se logo no topo da primeira página. Leu a última linha em voz alta.
— «O sujeito possui vários alelos e marcadores corroborativos, porém, o mais significativo é a presença do haplogrupo Klalbla, sugerindo uma ascendência em linha com a região do Levante, carecendo, ao mesmo tempo, da presença do subclado I2, que seria de esperar de uma origem egípcia.»
Rory franziu o sobrolho.
— A arqueologia genética nunca foi o meu forte. Que raio quer isso dizer?
Safia engoliu em seco, visualizando o corpo sofrido da mulher sentada no trono.
— Diz aqui que ela não é egípcia.
— O quê?
Safia voltou a ler para si mesma a frase mais importante: «... sugerindo uma ascendência em linha com a região do Levante...»
Olhou para Rory.
— Acho... acho que a nossa princesa, afinal, é judia.
23h55
Saindo todo nu da piscina, Simon deu por findo o mergulho gelado. Com o corpo a tremer de frio, retirou uma toalha do suporte aquecido e enxugou-se.
Era um ritual diário antes de dormir. A piscina privada tinha apenas noventa centímetros de largura e três metros e meio de profundidade, com a água a uma temperatura fixa de doze graus. Todas as noites, Simon saltava lá para dentro e mergulhava até alcançar um anel de metal aparafusado no fundo. Segurando-se ao anel, deixava-se aí ficar a suster a respiração o tempo que lhe fosse possível, voltando depois para cima.
O efeito calmante do mergulho não tardou a fazer-se sentir, apenas um dos muitos benefícios do ritual. Havia quem dissesse que melhorava a circulação linfática, fortalecia o sistema imunitário e promovia a queima de gordura castanha, ajudando à perda de peso. Quando mais não fosse teria benefícios cardiovasculares, já que o coração continuava a martelar-lhe no peito.
A tremer, vestiu o roupão.
Hartnell descobrira que dormia melhor graças àquele ritual de crioterapia, ajudando-o a libertar o corpo da confusão inerente à vida naquela região, onde o dia ou a noite se prolongavam durante meses a fio.
Também o ajudava a pensar melhor, libertando a mente das preocupações diárias.
Como a visita surpresa dos dois inspetores da DARPA.
Porquê neste preciso momento?
Faltavam menos de quarenta e oito horas para a realização de um importante teste. As condições eram perfeitas. A tempestade que se avizinhava era seca, uma autêntica raridade naquela latitude, porém, mais importante, coincidiria com a ocorrência de uma tempestade geomagnética, fruto de uma erupção solar registada há dois dias. Simon não podia pedir um cenário melhor para aquele teste, e não suportava a ideia de o adiar.
Com a cabeça às voltas com as possíveis variáveis do problema, abandonou a zona da piscina e dirigiu-se descalço para a biblioteca. Os seus aposentos pessoais ocupavam toda a extensão de um quinto subnível, cujo acesso era limitado a meia dúzia de pessoas. Entrou na biblioteca, sentindo o calor irradiado pelo elegante soalho de tábuas corridas. A divisão era uma mistura eclética de antigo e moderno, com estantes de mogno embutidas nas paredes. Continham uma impressionante coleção de livros, alguns com vários séculos, juntamente com uma série de artefactos e tesouros, todos eles protegidos por expositores de vidro.
Uma das paredes era exclusivamente dedicada a Nikola Tesla. Tratava-se de um verdadeiro museu da vida e obra do inventor. Até o plasma montado no centro — que se acendeu automaticamente com a chegada de Simon — exibia uma vista de Manhattan captada da janela do quarto 3327 do New Yorker Hotel, a antiga suíte de Tesla, onde ainda existia uma placa na porta em memória do inventor.
O quarto onde a vida dele terminou e a minha paixão começou.
Simon desviou os olhos para o seu bem mais precioso. Um livro preto e grosso, que se encontrava protegido e iluminado pela luz suave de um expositor de vidro.
Nas primeiras horas da manhã seguinte à morte de Tesla em 1941, o sobrinho, Sava Kosanovic, correu para o hotel apenas para se deparar com o quarto vazio e saqueado. O cadáver fora removido, e faltavam volumes e volumes de documentos técnicos, incluindo um caderno pessoal que Sava fora incumbido de preservar após a morte do tio. Chamado a investigar, o FBI confiscou os restantes documentos, alegando tratar-se de um assunto de segurança nacional.
Não admira.
Simon olhou de relance para um exemplar emoldurado do New York Times, datado de 11 de julho de 1934. O título da primeira página dizia: AOS 78 ANOS, TESLA INVENTA NOVO RAIO MORTAL. O artigo dava a conhecer aos leitores uma nova arma de raios de partículas, capaz de abater dez mil aviões de uma só vez a centenas de quilómetros de distância. Porém, em vez de uma arma, Tesla estava em crer que a sua invenção poderia trazer a paz ao mundo, afirmando que, se todos os países a possuíssem, não haveria mais guerras. Tesla também acreditava que o engenho poderia ser usado para transmitir energia sem fios, ou mesmo para aquecer as camadas superiores da atmosfera, criando uma espécie de aurora boreal artificial, que iluminaria os céus noturnos ao redor do planeta.
Simon sorriu.
Aquele homem era um visionário, alguém que vivera séculos à frente do seu tempo. Porém, esse tempo chegara finalmente.
Fitou o caderno preto, visualizando cada página escrita em sérvio, a língua materna de Tesla. Simon descobrira aquela preciosidade enquanto ajudava a financiar a renovação e expansão do museu do inventor, em Belgrado. Em 1952, o governo libertara finalmente o espólio de Tesla e entregara-o ao sobrinho. A grande maioria desses documentos encontrava-se preservada no museu, porém, o próprio Sava tinha conhecimento de que o governo dos Estados Unidos sonegara uma boa porção, mantendo-a em seu poder, mais especificamente nas mãos do Comité de Investigação do Departamento de Defesa, na altura dirigido por John G. Trump, tio de um certo magnata do imobiliário de Nova Iorque.
No fim de contas, a história encarregara-se de dar razão à convicção de Sava.
Simon gastara uma fortuna a procurar esses documentos. Descobriu que por ocasião da morte de John Trump, em 1985, parte do testamento do milionário incluía uma série de documentos científicos que deveriam ser entregues à sua antiga universidade, o Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Simon enviou um investigador ao MIT, a fim de passar a pente fino os caixotes de papelada, procurando especificamente tudo e mais alguma coisa relacionada com Tesla.
Não era um pedido estapafúrdio da parte de Simon. Numa fase mais posterior da vida, John Trump fundara a High Voltage Engineering Corporation, que produzia os geradores Van de Graaff, um engenho produtor de corrente elétrica em tudo semelhante à famosa bobina de Tesla. Na verdade, Trump chegara a ser condecorado pela Academia Nacional de Engenharia como um pioneiro no «uso de equipamentos de alta tensão ao serviço da ciência, engenharia e medicina».
Um título que assentaria como uma luva a Tesla.
Suspeitando de que toda a história cheirava mal, sobretudo porque fora o próprio John Trump quem supervisionara o desmantelamento do Comité de Investigação do Departamento de Defesa, Simon enviara aquele investigador ao MIT. Soterrado nas profundezas de todos esses documentos, o homem encontrara um caderno, cujas páginas se encontravam escritas à mão na língua sérvia.
Simon admirou o livro no expositor.
O caderno perdido de Tesla.
O desprezo do comité pelo conteúdo daquelas páginas era mais do que compreensível. Não era um manual de construção para uma arma assombrosa — não de forma direta, pelo menos —, mas, sim, um relato louco que remontava a 1895. Mais tarde, durante uma entrevista, Tesla havia de deixar uma pista dos segredos guardados naquele caderno, declarando que descobrira a verdadeira fonte de poder «a partir de uma origem insuspeita».
Se as pessoas soubessem como isso era verdade...
Trump e o comité tinham descartado o conteúdo do caderno como um produto da imaginação e vaidade do inventor, mas Simon tomara-o como realidade. Para verificar a autenticidade de tais alegações, despejara milhões de dólares em obras de caridade por toda a África, incluindo o financiamento de projetos de construção de casas ao longo do Nilo, que por sua vez se transformavam em levantamentos arqueológicos das zonas em questão. Com as universidades a fazerem fila de mão estendida para verem os seus próprios projetos de investigação financiados, sobretudo os sempre dispendiosos trabalhos de campo, não lhe fora difícil manipular esses esforços em proveito próprio.
Então, dois anos antes, depois de uma década de busca alimentada por pequenas pistas, Simon encontrara finalmente o que Tesla havia jurado nunca revelar.
Era uma verdadeira maravilha; contudo, acarretava sérios riscos.
A pandemia que ameaçava tomar conta do planeta era um testemunho disso.
Simon franziu o sobrolho para o livro, consciente das razões que teriam levado Tesla e os seus dois companheiros a jurarem silêncio. O que haviam descoberto encontrava-se muito além das suas capacidades, o risco de falhar era demasiado grande.
Como tal, tinham-no deixado sob as areias do deserto, na esperança de que um dia o mundo estivesse pronto para lidar com tamanho poder.
Simon cerrou o punho, dando forma à sua determinação.
Realizarei o que Tesla não foi capaz de fazer.
A bem do mundo.
Custe o que custar.
Ouviu um sinal sonoro nas costas. Virou-se para a única parede que não se encontrava coberta de estantes. Exibia uma disposição de monitores, os seus olhos digitais sobre tudo o que se passava na estação. Atravessou a divisão e aceitou a videochamada. Recebia aquela mesma transmissão todos os dias, à meia-noite em ponto.
O rosto de Anton surgiu no centro do ecrã, pronto para lhe dar conta do resumo diário das operações.
— Os prisioneiros já estão a dormir? — perguntou Simon.
— A doutora Al-Maaz está fechada no quarto — retorquiu Anton. — Fez bons progressos, incluindo uma descoberta que poderá ter escapado ao próprio professor McCabe.
— Acerca de?
— A mulher mumificada não é egípcia, mas descendente do povo judeu.
— Judeus?
Anton encolheu os ombros.
— A relevância da informação está ainda por apurar. Talvez amanhã.
Simon sentou-se na cadeira em frente aos monitores, refletindo sobre o que acabara de ouvir. Depois de descobrir o caderno e os planos de Tesla para aquele micróbio elétrico, procurara a todo o custo uma solução que lhe permitisse ter mão num organismo tão virulento, quer por via científica quer histórica.
Tesla sugeria uma possível solução no caderno, mas a ideia assustava-o em demasia — tanto que fora o suficiente para que nunca tentasse aplicá-la.
Para Simon, esse problema era o último obstáculo à conclusão do trabalho que visionara. Do ponto de vista teórico, a ideia de Tesla não deixava de fazer sentido. Porém, se corresse mal, significava ver-se a braços com um desastre ecológico de proporções épicas, algo que poria o derrame de petróleo do Exxon Valdez ao nível de uma chávena de leite entornada.
No entanto, o mundo enfrentava uma ameaça ainda maior.
A própria ilha onde se encontrava era um bom exemplo disso, onde as consequências do aquecimento global eram bem visíveis. As alterações químicas nos lagos e terrenos pantanosos tinham conduzido à perda de inúmeras espécies e habitats. E isso era apenas a ponta do icebergue — um icebergue que, nesse caso, derretia a olhos vistos. Se nada fosse feito, os investigadores estimavam que toda a biosfera global poderia colapsar ainda nesse século.
A não ser que um verdadeiro visionário intervenha.
Simon considerou os desafios que se erguiam à frente dele. O teste que deveria começar nos próximos dois dias era o primeiro passo, um ensaio localizado. Serviria como prova de conceito. Mas será que poderia arriscar? Sobretudo na presença dos convidados inesperados?
— E os representantes da DARPA? — perguntou Simon. — Onde param?
— A última vez que os vi estavam na cafetaria.
— Não existem dúvidas em relação a quem dizem ser, pois não?
Anton abanou a cabeça.
— Trabalham para a DARPA. Há mais de uma década, para ser exato.
Ótimo.
Simon não precisava de mais dores de cabeça.
— Amanhã oferecemos-lhes a visita guiada e, a seguir, despachamo-los o mais rápido possível — disse Simon, arrumando o assunto na sua cabeça.
Ainda assim, havia qualquer coisa que o incomodava. Não sabia bem o quê, mas estava habituado a dar ouvidos ao instinto. Tesla tinha uma frase para isso: «O instinto é o que transcende o conhecimento.»
— Anton, mantenha-os debaixo de olho.
— Claro.
— E novidades do Sudão? A Valya está a resolver o outro problema?
— Está tudo a correr de acordo com o planeado. O assunto deverá ficar resolvido a qualquer instante.
— Muito bem.
Depois de discutir mais uns pormenores, Simon terminou a chamada.
Deixou-se ficar sentado durante um breve instante e, a seguir, fez surgir no ecrã uma nova transmissão, desta vez de um dos sinais de vídeo das câmaras de videovigilância instaladas na estação. Estudou a imagem que preenchia o monitor, uma vista de uma caverna iluminada por projetores de halogénio. Fazia parte do velho complexo da mina Fitzgerald, que operara em tempos na ilha, extraindo níquel e chumbo. A caverna fora inundada há séculos, e permanecia assim porque as águas não congelavam àquela profundidade devido ao isolamento do subsolo. Recordava-se da primeira vez que vira aquele lago subterrâneo. Acontecera no decorrer das obras de construção da estação. As águas eram de um azul cristalino, como se espelhassem o céu.
Quem diria que, no final, aquele velho poço serviria como um perfeito tanque de contenção?
Estudou a superfície do lago, notando o reflexo do passadiço de metal uns metros acima, estendendo-se de uma ponta à outra do poço. As águas já não eram azuis e cristalinas, mas, sim, vermelhas, como se ali tivessem sido derramados litros e litros de sangue.
Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, recordando-se de outra citação de Tesla.
Poderemos viver o suficiente para assistir a horrores inimagináveis, criados pela mão do homem.
Apenas por essa vez, Simon rezou para que o homem que idolatrava estivesse errado.
TERCEIRA PARTE
O DEUS SONHADOR
15
3 de junho, 06h18 EAT
Deserto sudanês
Os primeiros raios de sol fizeram-se sentir com a violência de uma marreta.
Gray praguejou entre dentes e baixou a pala do para-brisas com uma palmada, semicerrando os olhos contra a luz brilhante que recortava as dunas rochosas à direita. O céu clareara progressivamente ao longo da última hora, mas não contava que o dia nascesse daquela maneira impetuosa.
Enquanto cumpria o seu turno ao volante, os outros dormiam ou dormitavam de olhos meio abertos meio fechados. No banco de trás, Jane aninhara-se encostada a Derek, que adormecera de boca aberta com a cabeça inclinada para trás. Sentado com o queixo encostado ao peito, Kowalski ressonava ruidosamente, competindo com o rugido do motor. Seichan partilhava o banco da frente, com a cabeça encostada ao vidro da janela.
O único elemento da equipa ainda acordado acelerava à frente do pachorrento Unimog. Ahmad conduzia uma velha moto todo-o-terreno, uma Suzuki Tracker, ziguezagueando com destreza de um lado para o outro com o pneu traseiro cardado a revolver o piso traiçoeiro. Ahmad fora buscar a moto antes de o grupo deixar a aldeia. Kowalski ajudara-o a pô-la na caixa aberta do jipe, onde a cadela do rapaz, Anjing, dormia enroscada entre as mochilas de todos.
Três horas antes, o rapaz guiara-os até ao local onde a família do primo encontrara o professor McCabe. Tinham parado para examinar a área em redor, mas não havia nada para ver. Os ventos fortes e as areias há muito que teriam apagado quaisquer indícios que não tivessem sido pisados e repisados pelas equipas de busca. E o mesmo se aplicava a um eventual rasto deixado pelos pés do professor.
Sabendo que nada mais havia que fazer naquele sítio, tinham partido na direção do local assinalado no mapa por Derek. Ahmad descarregara a moto da traseira do Unimog e mostrara o caminho, varrendo o terreno umas dezenas de metros à frente, atento a eventuais sinais da passagem do professor. Preferia guiar a moto às escuras, afirmando que lhe bastava a luz da lua e das estrelas.
Gray tentara a mesma proeza enquanto o seguia pela noite dentro, mas não possuía o olhar treinado de um nómada do deserto e tornara a acender os faróis. No decorrer da última hora, tinham atravessado uma zona de colinas onduladas, desgastadas pela ação do sol e do vento.
Ao lado de Gray, Seichan esticou os braços e arqueou as costas. Ergueu a mão aberta sobre os olhos, incomodada com a súbita claridade.
— Que horas são? — perguntou.
— Horas de procurarmos abrigo. Daqui a umas horas isto vai tornar-se um autêntico forno.
— Estamos muito longe do local assinalado pelo Derek?
Gray consultou o mapa de GPS no telefone de satélite.
— Faltam uns trinta quilómetros... tudo por caminhos de cabras.
Avaliando as condições do terreno que tinham pela frente, as colinas quebradas intercaladas por leitos de rios secos chamados wadis e os cumes esculpidos pelo vento, Gray compreendeu as razões que haviam levado à escolha daquele veículo. O Unimog dificilmente ultrapassaria os noventa quilómetros hora, mas compensava o ritmo lento com as extraordinárias capacidades fora de estrada. Ainda assim, estava mais do que na altura de desentorpecerem as pernas e de meterem alguma comida no estômago, antes de atacarem os obstáculos que se avizinhavam.
Ahmad parecia ter tido a mesma ideia. À distância, apertou os travões e fez deslizar a moto, levantando uma nuvem de pó. Ergueu um braço e apontou para um penhasco que se curvava contra o sol, criando um oásis de sombra fresca na base.
Gray pisou o acelerador e seguiu nessa direção, à medida que os outros começavam também a despertar, cada qual com a sua razão de queixa.
— Vamos fazer uma curta paragem — anunciou Gray. — Deixar o motor arrefecer antes de atacarmos a última etapa.
Kowalski bufou ruidosamente.
— Até que enfim! Preciso de tratar de um assunto pendente. Bebi demasiada água.
Ahmad estacionou a moto e esperou por eles, saltitando e fazendo-lhes sinal para que se despachassem.
Este puto tem umas pilhas que não acabam mais.
Gray alcançou por fim a sombra e estacionou o Unimog. A cadela ladrou e saltou das traseiras, correndo ao encontro do dono. Enquanto Ahmad e Anjing festejavam efusivamente o reencontro, o resto do grupo apeou-se.
— Aqui! Venham ver! — gritou o rapaz.
Gray dirigiu-se com os outros na direção dele. Kowalski virou costas e procurou um local resguardado para tratar do tal assunto pendente.
— Vejam! — disse Ahmad, apontando para a areia. — Pegadas!
Gray esticou o braço, indicando aos outros para manterem a distância. Estudou a secção de terreno revolvido.
— São marcas de botas. E alguém fez uma pequena cova para passar a noite.
— Ou o dia — notou Jane. — O meu pai conhecia bem o deserto, de certeza que só viajaria depois de o Sol se pôr.
Derek anuiu com a cabeça.
— O Harold era um tipo rijo, e esperto.
— Sim, mas por essa altura estaria a delirar — lembrou Seichan. — Estas marcas podem ser de qualquer pessoa.
— Não. Estas pegadas são do meu pai. Tenho a certeza.
Jane ajoelhou-se e começou a revolver a areia com as mãos.
Derek tocou-lhe no ombro.
— Jane, pode ter sido o teu pai ou não. Nunca poderemos ter a certeza.
Jane sacudiu-lhe a mão.
— Foi o meu pai, ele pode ter deixado...
Os seus dedos puseram a descoberto qualquer coisa enterrada na areia. Apanhada de surpresa, Jane retirou a mão e endireitou as costas. Parecia um pequeno frasco de vidro, com tampa de borracha.
Gray ajoelhou-se ao lado dela.
— Espere...
Esticou um braço e retirou o objeto da areia. Era um tubo de ensaio. Guardava qualquer coisa enrolada no interior.
Jane sentou-se sobre os calcanhares, os olhos arregalados de espanto.
— O meu pai deve ter querido manter isto a salvo dos captores e enterrou-o aqui, no caso de ser apanhado.
— O que é? — perguntou Seichan.
Gray considerou o risco de abrir o tubo, consciente da virulência do organismo que Harold carregava. Porém, os familiares de Ahmad não tinham adoecido, e o professor teria certamente escondido aquilo por um motivo, porventura na esperança de que fosse encontrado pelas pessoas certas.
A ver vamos.
Desenroscou a tampa e fez deslizar o conteúdo para a palma da mão. Parecia um pedaço de pergaminho. Os outros aproximaram-se para ver melhor. Gray desenrolou-o com cuidado, sentindo-lhe a textura antiga.
Segurou-o esticado entre os dedos, revelando uma linha de hieróglifos inscrita de uma ponta à outra.
Jane inclinou-se para a frente e estendeu a mão.
— Deixe-me ver.
Derek espreitou-lhe por cima do ombro enquanto ela recebia o pedaço de pergaminho das mãos de Gray.
— Repara no estilo das inscrições: a cria de codorniz, a vara... parecem-me da altura do Império Novo.
Jane anuiu com a cabeça.
— Sim, talvez da décima sétima ou décima oitava dinastia.
— O que diz? — perguntou Gray.
Jane fez uma careta.
— A gramática e a sintaxe são um pouco estranhas... diz qualquer coisa acerca de levar um barco até à boca do rio. Depois fala de ossos de elefantes.
Jane ergueu os olhos para Derek, que apenas encolheu os ombros, igualmente confuso.
Gray franziu o sobrolho.
— Por que razão o seu pai se daria a todo este trabalho para esconder este pedaço de pergaminho?
— Primeiro, não é um pedaço de pergaminho — notou Jane, sentindo a textura do material com a ponta dos dedos. — Parece couro. Talvez até pele humana.
— E reparem nas margens. Dá ideia de ter sido cortado com um bisturi.
Jane estreitou os olhos.
— Pelo aspeto dessecado, diria que veio de uma múmia.
— Sim, mas com que objetivo? — insistiu Gray.
Jane rodou a estranha relíquia nas mãos. Só então reparou.
— Talvez por causa disto — disse, estendendo a mão.
Gray olhou com mais atenção. Havia qualquer coisa escrita na margem inferior, uma sequência de números e letras rabiscados à pressa.
— São coordenadas! — exclamou Gray.
Enquanto todos olhavam para ele, Gray retirou o telefone de satélite do bolso e digitou a sequência de números conforme Jane os lia em voz alta. Passado um instante, um ponto vermelho luminoso surgiu no mapa no ecrã.
— Onde é que isso fica? — perguntou Seichan.
Gray ergueu os olhos para o horizonte.
— Fica apenas a três quilómetros do local indicado pelo Derek.
Jane pôs-se de pé num salto.
— Temos de ir até lá. Imediatamente.
Gray anuiu. Enrolou o pedaço de pele e voltou a guardá-lo no tubo.
— Preparem-se para partirmos.
Kowalski veio ao encontro deles. Caminhava rapidamente, o rosto levantado para o céu, como se procurasse alguma coisa. Com a pressa, esquecera-se de correr o fecho da braguilha das calças.
— Passa-se alguma coisa? — quis saber Gray.
— Acho que estamos a ser vigiados.
— O quê?
— Estava a tratar do meu assunto quando notei uma silhueta a mover-se no céu, junto ao horizonte. Um segundo depois, desapareceu.
— Talvez fosse uma ave... — disse Derek. — Um falcão, um abutre, um milhafre. Não é assim tão incomum vê-los caçar nesta zona do deserto. Sobretudo a esta hora da manhã.
Gray fitou Kowalski.
— O que achas?
Kowalski esfregou a nuca.
— Talvez, não tenho a certeza. Mas, se queres que te diga, senti-me observado ainda antes de ter reparado na coisa.
— Que fazemos? — perguntou Jane.
Gray considerou os diferentes cenários. Kowalski podia não ser o tipo mais sagaz que conhecia, mas possuía bons instintos de sobrevivência. Por outro lado, havia demasiado em jogo para pura e simplesmente virarem costas e fugirem em direção ao Nilo, afugentados pela sombra de um abutre esfomeado.
— Vamos continuar. Mas com olhos nas costas a partir deste momento.
— E em cima da cabeça, já agora — acrescentou Kowalski, apertando finalmente a braguilha das calças.
Seichan trocou um olhar preocupado com Gray. Na aldeia, fora perentória em relação à convicção de que o estranho que intercetara não era um simples ladrão. O avistamento de Kowalski poderia representar uma nova confirmação dessa certeza. Se assim fosse, significava uma única coisa.
Vamos direitinhos a uma armadilha.
07h02
Valya praguejou enquanto aterrava o drone nas imediações do local onde a equipa acampara. O veículo de vigilância aérea não tripulado — um RQ-11B Raven — tinha uma envergadura de asa de um metro e vinte e pesava menos de cinco quilos. Era um dos dois aparelhos que a equipa de Valya utilizava. Cada aparelho tinha uma autonomia de noventa minutos de voo, o que obrigava a alternar entre um e o outro, a fim de manter a vigilância sobre os alvos durante as trocas de baterias.
Depois de ter chegado de Rufaa a meio da noite, observara o progresso lento do inimigo pelo deserto, acompanhando cada passo a partir de uma pequena estação terrestre escondida sob uma tenda de deserto camuflada. O acampamento fora montado nas colinas que ofereciam vistas para o terreno plano que se estendia até ao Nilo. Valya avaliara corretamente a situação ao prever que o grupo se deslocaria primeiro para o local onde o professor havia sido resgatado.
Consciente de que existiria sempre a ínfima possibilidade de estar enganada, tentara instalar um localizador no Unimog. Tal dispositivo ser-lhe-ia especialmente útil nesse momento. Com o Sol já bem alto, não podia continuar a usar os drones. Arriscara demasiado no último voo, permitindo que durasse mais do que seria desejado. Por um breve instante, a câmara do aparelho captara o gigante do grupo a olhar diretamente na direção da objetiva de longo alcance.
Mesmo que o Raven não tivesse sido detetado, Valya arrependeu-se de não o ter retirado antes. Tomara esse risco na esperança de descobrir o motivo que agitara o grupo momentos antes. Conseguira um vislumbre do instante em que se tinham reunido ao redor de qualquer coisa no chão, porém, a face rochosa que se erguia acima deles não lhe permitira ver muito mais.
Que terão encontrado?
Valya estava especialmente preocupada pelo que observara a noite toda. O Unimog e a moto avançavam direitos à sua posição, mantendo um curso estável, como se soubessem perfeitamente para onde iam. Esperava vê-los às voltas para trás e para diante, varrendo o terreno em todas as direções enquanto tentavam apanhar o rasto do professor.
Em vez disso, a certeza que revelavam era inquietante.
É impossível saberem o que se encontra aqui escondido. Como poderiam?
— Estão de novo em movimento — ouviu no auricular.
A voz era do batedor que enviara para contornar a face rochosa, de maneira a vigiá-los à distância assim que abandonassem o refúgio daquela sombra.
Olhou para o lado direito. Observou a nuvem de pó que se erguia a uns três quilómetros para oeste, assinalando a partida do grupo. Tinha outros seis homens espalhados por aqueles desfiladeiros e colinas, sem contar com o chefe da equipa.
— O que fazemos? — perguntou Kruger, ao lado dela.
Willem Kruger — tal como o resto dos seus homens escolhidos a dedo — era um antigo operacional das Forças Especiais Sul-Africanas. Tinha sido expulso do Exército, juntamente com os seus homens, todos eles acusados de fornecerem apoio armado a grupos de tráfico humano. Valya não sabia se as histórias eram verdade, mas conhecia-lhes a reputação de serem brutais, eficientes e inflexíveis.
Kruger estreitou os olhos na direção da nuvem de poeira em movimento.
— Atacamo-los agora?
Enquanto refletia sobre a questão, Valya fitou o emblema no camuflado dele, um punhal negro, sobreposto a uma coroa de louros verde. Era o símbolo da antiga unidade das Forças Especiais. A faca, porém, lembrava-lhe o athamé da avó.
Recordou a promessa que fizera na noite anterior, o juramento gravado na carne fria, e deu por si a acariciar o cabo negro do punhal embainhado por baixo da manga.
As ordens que recebera apenas diziam respeito à captura de Jane McCabe. Os outros pouco importavam.
— Não — decidiu por fim. — Vamos aguardar.
Kruger deitou-lhe um olhar inquisitivo.
— Sei para onde se dirigem — explicou Valya, mais confiante. — Vão direitos a um beco sem saída.
Sobretudo, se descobrirem o que se encontra aí escondido.
08h08
Jane agarrou-se à pega da porta enquanto o Unimog passava por cima de um penedo, inclinando-se precariamente sobre duas rodas. Há mais de uma hora que marcavam passo por aquele terreno acidentado.
— Acho que consigo andar mais depressa do que isto — comentou Derek, segurando-se na outra ponta do banco traseiro. O jipe endireitou-se e caiu, pesadamente, sobre a suspensão.
Sentada entre os dois, Seichan inclinou-se para diante para fazer uma pergunta a Gray, enquanto Kowalski conduzia.
— Falta muito?
Boa pergunta.
Gray apontou em frente.
— Estás a ver a passagem entre as próximas duas colinas? O local assinalado pelas coordenadas do professor deve ficar no lado de lá.
Jane avistou Ahmad, que seguia mais adiante, ainda a mostrar o caminho. A figura dele e da moto desapareceram nas sombras entre as duas faces rochosas. Anjing correu atrás do dono. O ritmo era tão lento que a própria cadela não tivera dificuldade em acompanhá-los. Volta e meia, desaparecia para perseguir o cheiro de um animal ou aliviar-se, apanhando-os mais à frente.
Continuaram a seguir o rapaz e a moto, mas o andamento tornou-se ainda mais lento, à medida que as condições do terreno pioravam. Quando alcançaram o início da passagem, era como se estivessem parados.
Mesmo assim, Jane não se queixou enquanto o Unimog forçava o avanço ao longo da fenda, centímetros mais larga do que o jipe. Imaginou o veículo entalado entre as duas paredes de rocha. Sem escotilha traseira ou teto de abrir, ficariam encurralados no interior da cabina, à espera que o Sol atingisse o ponto mais alto no céu e os cozesse vivos.
O som arrepiante de metal a raspar na rocha fê-la ranger os dentes, convencendo-a de que esse receio estaria prestes a confirmar-se.
O próprio Gray parecia preocupado, alternando o olhar entre um lado e o outro.
— Kowalski...
— Passa à vontade — insistiu o outro.
— Nesse caso, porque estás a arrancar metade da tinta do meu lado?
Kowalski encolheu os ombros.
— Deixa lá isso, umas cicatrizes de guerra só lhe dão caráter.
Depois de mais cinco minutos de tensão, a passagem começou por fim a alargar, permitindo ao Unimog ganhar velocidade.
— O que vale é que tenho sempre razão... — disse Kowalski entre dentes.
A passagem desembocava numa clareira que lembrava uma gigantesca tigela de areia, rodeada de faces rochosas por todos os lados. Tinha mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Uma rajada de vento agitou os grãos que cobriam o chão. Pequenas dunas acumulavam-se junto às paredes, lembrando a ondulação nas margens de um lago.
Ahmad estacionara a mota na sombra que cobria metade da clareira àquela hora do dia. Encontrava-se apoiado sobre um joelho, a dar de beber à cadela com o cantil.
Kowalski fez avançar o jipe até à sombra e desligou o motor.
— Bom, fiz a minha parte e trouxe-nos até aqui — disse. — E agora?
Seichan franziu o sobrolho.
— Não há aqui nada.
— Tem de haver alguma coisa — disse Jane, como se precisasse de defender o pai, de ser a sua voz no grupo.
— A Jane tem razão — reforçou Derek. — O Harold não arriscaria tudo para esconder estas coordenadas, se não fossem importantes.
— Vamos dar uma vista de olhos — disse Gray. — Dividimo-nos em duas equipas e começamos por examinar as paredes.
— Ou, se calhar, podemos ir ver o que deixou o puto tão excitado — alvitrou Kowalski, indicando com a cabeça na direção do rapaz.
Ahmad estava a acenar para eles e a apontar para a cadela. Anjing acabara de beber e teria corrido para uma das paredes, provavelmente atraída por algum cheiro. Naquele momento, cavava vigorosamente com o focinho afundado junto à base da rocha, projetando largos jatos de areia por entre as patas traseiras.
Curiosos, Gray e os outros saíram do jipe. Mesmo resguardados pela sombra, o calor parecia já insuportável. Apressaram-se na direção do rapaz.
— Anjing encontrou — disse Ahmad. — Venham ver.
Jane olhou para o motivo de interesse da cadela e percebeu imediatamente o que deixara o rapaz tão agitado. Havia uma porta de metal embutida na rocha. Parecia ter sido esfregada com ácido, a fim de dissimular a sua presença entre os tons vermelho e cinza das formações de arenito.
Derek focara a atenção noutro pormenor. Pousou um joelho no chão e passou a mão numa das rochas mais pequenas.
— Isto não são pedras soltas... são tijolos antigos. Ainda se consegue sentir o cinzelado.
Jane alternou o olhar entre os tijolos e a porta.
— Devem ter servido para selar a entrada, antes da existência desta porta.
Jane imaginou o pai a abrir aquela passagem dois anos antes. Aquilo não tinha nada que ver com a sua forma de trabalhar. Alguém rompera por ali adentro com a subtileza de uma bola de demolição, manifestando uma total falta de respeito ou preocupação pela preservação da história, mesmo tratando-se de uma pilha de tijolos.
A cadela continuava a cavar freneticamente, retirando a areia acumulada contra a soleira da porta. Era evidente que apanhara o cheiro do que quer que fosse que se encontrava para lá daquela abertura. Jane recordou-se da terrível doença carregada pelo pai.
— Ahmad, é melhor afastares a cadela até sabermos com o que estamos a lidar. — Virou-se para Gray. — Vamos buscar as pás e o resto do equipamento.
Conscientes do risco que enfrentavam, utilizavam equipamento que incluía máscaras de proteção semelhantes às dos bombeiros. A diferença é que essas se encontravam equipadas com filtros antibacterianos. Ou antiarqueanos, nesse caso.
Depois de cavarem uns minutos e de desimpedirem o acesso, cada um pôs um capacete e uma máscara. Com calma, dispensaram alguns segundos a verificarem se todos as tinham posto corretamente. Seichan manteve-se à parte, com a máscara pendurada no pescoço e os olhos postos no céu, perscrutando o topo das paredes rochosas ao redor da clareira.
Para cobrir a retaguarda, aguardaria ali com Ahmad e a cadela.
Jane mal se lembrava de que poderiam estar a ser seguidos. O resto do caminho revelara-se tranquilo. Não houvera novas ocorrências de estranhos avistamentos no céu, e o deserto continuava igual a si mesmo, sereno, imperturbável. Mesmo naquele momento, o único som que rompia a calmaria era o assobio fantasmagórico do vento entre as rochas, acompanhado do arranhar persistente da deslocação da areia.
Bem como o som do seu próprio coração.
Porém, esse bater apressado não se alimentava de medo; não inteiramente, pelo menos. Alimentava-se, isso sim, do entusiasmo da descoberta. Afinal de contas, encontrava-se prestes a saber o que acontecera ao pai. Estranhamente, sentiu-se mais próxima dele do que em muitos anos. Imaginou a excitação que ele deveria ter sentido ao deparar-se com aquela entrada secreta. Tinha a certeza de que o seu coração teria batido com tanta força como o dela.
Todavia, viu esse momento de comunhão ser ensombrado por uma profunda melancolia. A dimensão da sua perda pareceu-lhe mais profunda do que nunca. As lágrimas correram-lhe no rosto, recordando-a do comentário anterior de Derek, de que o desgosto se fazia sentir quando menos se esperava.
Com a máscara, não podia sequer enxugar as lágrimas. Virou as costas para os outros, a fim de esconder o rosto enquanto tentava dominar-se. Passado um breve instante, o som do metal a raspar na areia fê-la olhar por cima do ombro.
Gray e Kowalski tinham conseguido abrir a porta.
Assim que se afastaram, Jane acendeu a lanterna do capacete e fez incidir o feixe luminoso para lá da soleira da porta, para o interior do túnel escuro.
— Pronta? — perguntou Gray.
— Mais do que pronta — anuiu Jane, dando um passo em frente. — Há dois anos que espero por este momento.
08h40
Com Gray à frente, Derek seguiu atrás de Jane, com a luz da sua lanterna a iluminar as pernas dela. A altura da passagem era reduzida, obrigando-os a caminharem curvados. Atrás de Derek, Kowalski, o mais alto de todos, seguia praticamente com as mãos no chão, lembrando um gorila.
O túnel apresentava um ligeiro ângulo, mergulhando cada vez mais fundo no interior das colinas envolventes.
Jane passou a ponta dos dedos ao longo das paredes.
— Isto foi feito pela mão do homem, alguém escavou este túnel através do arenito — disse para Derek, a voz abafada pela máscara. — Aonde será que vai dar? Achas que nos vamos deparar com outra Derinkuyu?
Derek recordava-se de ter lido acerca da descoberta de Derinkuyu, uma vasta cidade subterrânea na região da Anatólia, na Turquia. Fora construída há cinco mil anos e estendia-se ao longo de seis quilómetros de túneis, galerias, saídas de emergência e habitações, tudo disposto em múltiplos níveis. Era mais uma prova de que os povos antigos conseguiam produzir autênticas maravilhas da engenharia, apesar das ferramentas limitadas. As próprias pirâmides de Gizé eram um bom exemplo disso, constituindo apenas a ponta visível do incrível mundo que ainda se encontrava escondido no subsolo, à espera de ser revelado.
Derek ajustou o foco da lanterna.
Que terá sido construído aqui debaixo? E para quê?
— A passagem termina ali à frente — avisou Gray.
Passados uns metros, o túnel deu lugar a uma galeria abobadada, igualmente talhada da rocha.
Assim que Jane entrou na câmara atrás de Gray, os seus pés pisaram um lábio de pedra. Endireitou as costas, olhou em redor e soltou uma exclamação de espanto.
Derek juntou-se a ela. Compreendeu de imediato o motivo daquela reação.
— Meu Deus...
— É magnífico — murmurou Jane.
Derek olhou para os pés. O lábio de pedra era isso mesmo: um lábio. Curvava-se delicadamente ao redor deles, acompanhando o contorno de uma fileira de dentes de pedra, nada menos do que uma representação perfeita de uma arcada inferior de incisivos e molares, rompendo o chão arenoso. Alguns dos dentes estavam rachados ou partidos. Os danos pareciam recentes, o que suscitou em Derek um profundo sentimento de raiva. Parecia-lhe inacreditável que alguém fosse capaz de mostrar tamanha desconsideração por um achado arqueológico daquele calibre.
Olhou em redor, fazendo incidir o feixe da lanterna sobre os restantes elementos da escultura. Acima dele, primando pelo mesmo nível de pormenor, a arcada de dentes superiores e respetivo lábio pendiam do teto de arenito abobadado, representando o palato duro. Debaixo dos pés, o chão elevava-se e descia suavemente na forma de uma língua de pedra.
Kowalski surgiu do túnel e endireitou as costas. Olhou em volta e sorriu:
— A ver vamos se não acabamos mastigados e cuspidos por esta coisa.
Jane avançou cautelosamente, explorando cada recanto do espaço.
— Os pormenores anatómicos são impressionantes — disse, apontando a lanterna para uma protuberância de rocha partida. — Calculo que aquilo fosse a úvula. E aquelas protrusões em ambos os lados das paredes devem ser as amígdalas.
— Dá-me ideia que o lado esquerdo foi alvo de uma amigdalectomia — comentou Kowalski, notando mais estragos.
Derek avançou e iluminou a parte posterior da câmara. Encontrava-se ligada a outros dois túneis. Não lhe era difícil adivinhar o que representavam.
— O esófago e a traqueia... — murmurou.
De facto, o interior de um dos túneis parecia suave e musculoso, enquanto o outro era coberto de protuberâncias circulares, tal qual os anéis de cartilagem ao longo de uma via aérea humana. Derek conseguia distinguir os contornos da laringe para lá de uma aba triangular no chão, reproduzindo a epiglote.
— Que significa tudo isto? — perguntou Kowalski.
Gray encontrava-se a pouco mais de um metro. Mantinha a lanterna apontada para o teto, iluminando a zona onde o palato duro dava lugar ao palato mole.
— Há aqui inscrições... mais hieróglifos.
Derek aproximou-se. Aquele pormenor escapara-lhe no meio de tantos focos de interesse. Três filas de hieróglifos decoravam a arcada de pedra.
Jane apontou a lanterna para a primeira linha.
Derek traduziu.
— Aquele que vem a quem o chama...
— Neste caso, calculo que sejamos nós — disse Kowalski, admirando a boca gigante. — Mas quem é ele? De quem é esta boca?
Jane apontou para os hieróglifos.
— A resposta encontra-se nas linhas seguintes. Representam o nome de um deus egípcio, escrito de duas maneiras diferentes.
— Que deus é esse? — quis saber Gray.
— Tutu, o protetor de túmulos. Uma divindade do panteão tardio — explicou Jane.
— Maravilha — resmungou Kowalski.
Jane ignorou-o.
— Tornou-se mais tarde no protetor de sonhos, o guardião do sono.
— E mestre dos demónios — acrescentou Derek.
Kowalski ajustou a máscara no rosto.
— Esta história está cada vez melhor.
— Se for esta a origem do patogénico, a doença pode muito bem ser o demónio que a escultura de Tutu guardava.
Derek desviou o olhar para os túneis que desciam mais adiante. Visualizou a extensão de um corpo inteiro deitado sob aquelas colinas. Um deus subterrâneo, dormindo e sonhando desde há milénios, protegendo aquele organismo devastador.
Havia, no entanto, qualquer coisa na explicação de Jane que o incomodava, algo que lhe escapava. Quando mais não fosse por um pormenor que não batia certo.
Derek fez questão de apontá-lo.
— Jane, repara no último hieróglifo, a figura sentada. Por norma, o nome de Tutu termina com a figura de um leão ou de um homem.
Jane anuiu com a cabeça.
— Sim, a figura dele é representada como uma besta com cabeça de homem e corpo de leão.
— Exato — Derek apontou para o teto. — Porém, se reparares bem na última figura, percebes que não se trata de um homem, mas de uma mulher.
Jane aproximou-se.
— Tens razão...
— Do que estão a falar? — perguntou Gray.
Derek retirou o iPad da mochila para explicar melhor. Além disso, queria tirar algumas fotografias ao que estava a ver. Abriu um ficheiro de consulta rápida de hieróglifos e mostrou-o a Gray, apontando-lhe os símbolos para homem e mulher.
— Repare como a figura masculina está de pernas cruzadas com um braço erguido no ar, enquanto a feminina se ajoelha com recato. — Derek apontou para o teto. — Decididamente, aquilo é uma mulher.
Gray franziu o sobrolho por trás do visor da máscara.
— Qual é a importância disso?
Derek encolheu os ombros e abanou a cabeça.
— Não sei.
— Espera — disse Jane, tocando-lhe no ombro. — A ilustração no caderno do meu pai, o vaso de óleo egípcio.
— O aríbalo com as duas cabeças? — Então, percebeu. — Meu Deus, claro!
— Claro o quê? — perguntou Gray, confuso.
Derek fez surgir uma imagem do recipiente, sentindo-se satisfeito por ter tido o cuidado de digitalizar o caderno do professor.
— Isto é o talismã que foi oferecido a Livingstone, um presente por ter salvado a vida do filho de um nativo. É também o recipiente que supostamente continha água do Nilo, da época em que o rio se transformou em sangue. Quando foi aberto no Museu Britânico, o organismo selado no interior matou mais de vinte pessoas.
Gray assentia.
— No entanto, a doença foi contida antes de se espalhar por Inglaterra.
— Pode ter acontecido o mesmo no tempo de Moisés — lançou Jane. — Talvez os antigos tenham encontrado uma cura. Uma cura que os meus colegas do século dezanove conseguiram replicar. A resposta pode estar aqui mesmo.
— Porque diz isso? — perguntou Gray.
Derek respondeu por Jane.
— Repare nas duas efígies que decoram o aríbalo: um leão e uma mulher. — Derek apontou para o teto. — São as mesmas figuras que terminam as duas últimas linhas de hieróglifos, representando duas versões do nome do deus Tutu. Uma termina com um leão; a outra, com uma mulher.
— Não pode ser uma coincidência — notou Jane. — O aríbalo deve ter vindo daqui. O que reforça a hipótese de este ser o local de origem do organismo. E, quem sabe, da respetiva cura.
Derek reparou na expressão de Gray. Apesar da máscara, dava para perceber que estaria às voltas com alguma ideia. Um segundo depois, os seus olhos alargaram-se, como se tivesse chegado a uma conclusão.
— Será? — murmurou Gray, para si mesmo.
— No que está a pensar? — perguntou Derek.
Gray abanou a cabeça e apontou a lanterna para os dois túneis seguintes.
— É melhor continuarmos.
Ficaram os três parados, todos a pensar a mesma coisa.
— Qual deles? — disse Jane. — Esófago ou traqueia?
Baixou-se e espreitou o interior da zona que correspondia à faringe, a fim de avaliar melhor as duas alternativas possíveis. Inclinou o pescoço, olhando diretamente para cima.
— Jane?
— Há aqui uma abertura — disse ela, endireitando-se, o que fez com que a sua cabeça desaparecesse pelo buraco no teto. Rodou os pés e deu meia-volta sobre si mesma. — Meu Deus... Venham ver isto!
Jane desviou-se para um dos lados, permitindo que Gray e Derek se juntassem a ela.
Endireitando-se, Derek espreitou também pelo buraco. Conduzia a uma pequena caverna superior. Havia um lençol de plástico transparente a cobrir a entrada, preso com fita adesiva, mas os feixes das lanternas eram suficientemente fortes para conseguirem ver o que se encontrava para lá desse véu de proteção.
— É a caixa craniana — disse Jane.
— Tens razão — anuiu Derek, notando os sulcos esculpidos nas paredes, replicando as pregas do cérebro. A divisão entre os dois hemisférios também se encontrava representada por uma linha ao longo do teto côncavo.
Gray varreu a base da caverna com o feixe da lanterna.
— Vejam... ali... no lado direito e lado esquerdo.
O foco iluminou várias fileiras de pequenos nichos esculpidos na rocha. Albergavam maravilhosos exemplos de cerâmica egípcia, mais ou menos do tamanho de uma toranja. Alguns encontravam-se desfeitos em pedaços desde há muito tempo, e alguns dos nichos encontravam-se vazios. Porém, os objetos que restavam tinham todos uma forma familiar: recipientes selados, decorados com os perfis de um leão e de uma mulher.
Jane fixou o foco da lanterna num dos nichos vazios.
— São iguais ao aríbalo de Livingstone. Deve ter sido retirado daqui. Se calhar, há muito tempo.
— Não admira que tenham selado este lugar — disse Gray, iluminando os cacos de cerâmica espalhados pelo chão da caverna. Alguns dos recipientes pareciam ter sido partidos recentemente.
Será que houve um acidente?
Jane virou-se para Derek.
— Terem guardado os recipientes nesta caverna sugere que tinham conhecimento de que o organismo atacava o cérebro. Não vejo outra explicação.
— Concordo.
Jane agachou-se no túnel.
— Se sabiam isso, é provável que soubessem muito mais.
— Como a possível cura — disse Derek, seguindo-lhe o exemplo.
Jane anuiu com a cabeça enquanto Gray se juntava a eles. Virou-se para os dois túneis que se prolongavam pelas profundezas da terra.
— O que quer que se esconda aqui mais, deverá estar lá em baixo. O que nos traz de volta à questão anterior: esófago ou traqueia?
Derek desviou o foco da lanterna para a amígdala danificada.
— Dá ideia de que este túnel foi mais utilizado — notou, apontando também para o chão pisado. — Na minha opinião, ignoramos a lição de Robert Frost e escolhemos a estrada mais utilizada.
Gray assentiu.
— Vamos a isso.
Kowalski parecia ser o único pouco entusiasmado com a decisão.
— Sim, vamos. Não há nada como um bom passeio pelas entranhas de um deus lutador de demónios. Afinal, como poderia uma coisa dessas correr mal?
16
3 de junho, 02h41 EDT
Ilha de Ellesmere, Canadá
— Pronta? — perguntou Painter.
Kat assentiu e afastou a cadeira da mesa, rezando para que o plano do diretor resultasse.
— Vamos a isso.
Depois de terem chegado à Estação Aurora, Kat e Painter tinham ocupado a maior parte do tempo a avaliar o local. Tinham começado pela cantina, debruçados sobre canecas de café. A bebida energética era uma necessidade primordial. Apesar de ter dormido um pouco durante a viagem de avião, o relógio interno de Kat lutava para acertar o passo. A cafeína ajudara a manter o foco.
Kat gostaria de ter tido mais tempo para se preparar, porém, a tempestade iria atingir a ilha na próxima hora, o que estreitava a janela de oportunidade disponível. Se quisessem agir a tempo de serem evacuados para a base de Thule, precisavam de se antecipar à chegada do mau tempo.
Por outras palavras, é agora ou nunca.
Kat fitou o alvo, aguardando a altura certa.
Revigorados pelo café, encontravam-se nesse momento na zona recreativa da estação, onde tinham ocupado dois lugares junto a três mesas de bilhar. À direita, um conjunto de portas duplas dava acesso a uma sala de cinema. No lado oposto havia um ginásio, bem como uma piscina, na ponta mais afastada, visível por uma janela, onde um nadador solitário fazia voltas lentas há mais de vinte minutos, evocando a imagem de um tigre enjaulado.
Como operacional treinada, Kat sabia o suficiente de psicologia humana para reconhecer os sinais de stresse no punhado de funcionários que cirandavam por ali àquela hora da madrugada. As causas eram fáceis de identificar. Estes homens viviam isolados, privados das respetivas famílias e amigos durante tempos a fio. Depois, havia ainda a questão dos meses bipolares de dias e noites eternas, mais do que suficientes para baralhar o ciclo circadiano de toda a gente, algo que nem o melhor café do mundo poderia ajudar a resolver. Finalmente, a estação era gerida ao segundo, noite e dia, oferecendo pouco ou nenhum alívio no que tocava às funções de cada um.
Kat abanou ligeiramente a cabeça.
A natureza humana era o que era, e não havia plasmas com vistas de praias ensolaradas ou paredes coloridas que pudessem compensar tudo o resto.
Tal como seria de esperar, os colaboradores mais atingidos por estes males eram aqueles relegados para os turnos da noite. Kat calculava que estes indivíduos fossem os mais antissociais, os mais difíceis de trabalhar em equipa.
E os melhores alvos.
Kat escolhera para si um brutamontes de ombros largos, cujas unhas encardidas davam a entender que deveria trabalhar como mecânico de manutenção. Estava entretido a jogar bilhar com alguns colegas. Os macacões verdes sugeriam que fariam parte da mesma equipa e que aquele era um momento de descontração após uma jornada de trabalho. A fila de latas de cerveja pousadas no rebordo da mesa continuava a aumentar e, de quando em quando, o brutamontes desviava o olhar na direção de Kat, ora comentando qualquer coisa com os outros, ora trocando sorrisos cúmplices.
Kat calculou que não houvesse muitas mulheres a trabalhar na estação.
Esperou que ele pousasse o taco e se dirigisse para a casa de banho. O trajeto obrigava-o a passar junto à mesa onde se encontrava sentada com Painter. Enquanto o homem se aproximava, Kat levantou-se, dizendo a Painter que ia à casa de banho. De seguida, calculou o instante exato para se virar e esbarrar de frente com o brutamontes. Fê-lo da maneira mais dramática possível, esbracejando freneticamente, para logo recuar com uma expressão de afronta e medo.
Chamou-lhe meia dúzia de nomes, levou uma mão ao peito e olhou para Painter, que já se encontrava de pé.
— Este homem... este homem apalpou-me o peito!
Painter avançou para o brutamontes, que logo ergueu as mãos no ar, sem fazer ideia do que estava a acontecer.
— O que pensa que está a fazer? — berrou Painter.
O brutamontes tentou negar as acusações, porém, antes que conseguisse dizer qualquer coisa, Painter empurrou-o com força. O homem caiu desamparado sobre a mesa do lado, o que arrancou alguns risos aos colegas.
Com o orgulho ferido e demasiado confuso para pensar duas vezes, o brutamontes puxou a mão atrás e tentou atingir Painter com um soco. O diretor esquivou-se, e a luta estava lançada. As cadeiras voaram enquanto os punhos eram arremessados de um lado e do outro e, no segundo seguinte, os dois homens rebolavam já pelo chão. Os companheiros do outro deixaram-se ficar a assistir, a maioria acreditando que aquele forasteiro não era um adversário à altura do amigo.
Kat fazia o possível para se convencer do contrário.
Onde é que anda o...
Finalmente, as portas da sala de convívio abriram-se de rompante. Três homens com uniformes e bonés pretos entraram na divisão. O verdadeiro alvo de Kat e Painter encontrava-se à cabeça do trio, a aranha que esperavam fazer descer da teia à conta daquela confusão. Anton Mikhailov avançou determinado, as faces pálidas enrubescidas, a tatuagem negra realçada pela expressão furibunda. Pelos vistos, não tinha razões para escondê-la naquele lugar.
— Acabem já com isto! — berrou a plenos pulmões, o sotaque russo carregado de irritação.
Kat e Painter contavam que Simon Hartnell tivesse ordenado ao chefe da segurança da estação para se manter atento aos movimentos dos dois inspetores da DARPA, sobretudo quando não se encontravam nos quartos. Em virtude disso, bastara-lhes aquela pequena encenação para o obrigarem a revelar-se.
Os dois seguranças lançaram-se para o meio da confusão, tentando separar os dois homens.
Painter aproveitou o momento para dar por fim uso ao seu verdadeiro talento como pugilista. Desferiu dois socos consecutivos no rosto do adversário, um cruzado de direita, seguido de um potente gancho. A cabeça do brutamontes foi arremessada para trás, e o homem caiu redondo no chão, inconsciente.
Painter ficou a olhar para ele, sacudindo a mão ensanguentada.
Kat esforçou-se por conter um sorriso.
Não sei porque estava preocupada.
— Que vem a ser isto? — perguntou Anton.
Painter lançou-lhe um olhar dos dele.
— Isso pergunto eu! Este homem atacou a minha colega! — Indicou com a cabeça na direção dos colegas junto às mesas de bilhar. — E aqueles também não fizeram nada para o impedir.
O comentário foi o suficiente para arrancar um coro de protestos aos outros.
Kat recuou na direção de Anton.
— Por favor... acompanhe-me até ao meu quarto. Não quero ficar aqui mais tempo.
— Claro. — Anton virou-se para os dois seguranças e apontou para o homem caído. — Levem-no daqui! Depois tratamos disto.
— Obrigada — disse Kat, tremendo ligeiramente e fingindo-se aliviada.
Anton conduziu prontamente os dois inspetores para fora da sala de convívio, a fim de os acompanhar até aos quartos.
— Peço desculpa pelo que aconteceu — disse, enquanto caminhava muito direito à frente deles. — Garanto-lhes que haverá repercussões e que aquele homem responderá pelos seus atos.
Assim que chegaram à porta do quarto de Kat, Anton passou o próprio cartão de acesso para destrancar a fechadura. Era evidente que ele podia aceder a qualquer zona da estação.
Ótimo.
Kat posicionou-se nas costas dele, de forma a obstruir a linha de visão da câmara do corredor. Não sabia se restara algum homem no centro de segurança da estação, mas não estava disposta a correr o risco de que alguém visse o que iria acontecer a seguir.
Quando Anton abriu a porta, Painter empurrou-o pelas costas e entrou no quarto. Kat seguiu-lhe os passos, fechando a porta atrás de si.
Assim que o russo recuperou o equilíbrio e se virou, Painter apontou-lhe a SIG Sauer P229 ao nariz.
— Prazer em conhecê-lo, Anton Mikhailov.
O russo ficou sem reação, quer pela presença da arma quer por ouvir o seu nome verdadeiro, mas depressa se recompôs do choque.
— O que querem?
Painter engatilhou a pistola.
— Queremos que nos leve à presença da doutora Safia al-Maaz.
03h04
— O que achas? — perguntou Safia.
Rory inclinou-se na direção da webcam e o rosto dele preencheu a totalidade do ecrã do portátil de Safia.
— Acho que tem pernas para andar — respondeu.
Safia assentiu.
— Desculpa ter-te acordado, mas sabia que não iria conseguir dormir depois de ficar a saber que a múmia pode ser judia. Dei voltas e voltas à cabeça, e cheguei à conclusão de que podemos ter estado a fazer tudo errado desde o início.
Safia desviou os olhos para a imagem dos hieróglifos tatuados que tinha no ecrã.
— O desafio de decifrar as tatuagens era suficientemente difícil por si só, tendo em conta a quantidade de texto em falta. Mesmo assim, deveríamos ter conseguido ler as secções completas, mas estávamos a partir do princípio de que ela era egípcia.
— O que agora sabemos não ser o caso — disse Rory, sentando-se mais direito.
Safia fez surgir no ecrã o ficheiro em que estivera a trabalhar sozinha a noite toda, a fim de obter uma segunda opinião.
— Sabemos que os egípcios usavam os hieróglifos de duas maneiras distintas. Alguns símbolos eram meramente ilustrativos, como o símbolo de um gato para representar a palavra gato. No entanto, volta e meia, os escribas representavam as palavras foneticamente. Na língua egípcia antiga, a palavra oral para gato era miw.
Rory anuiu com a cabeça.
— Como o miar de um gato.
Safia sorriu.
— Exato. Como tal, usavam três símbolos diferentes para escrever essa mesma palavra. Assim...
Safia fez surgir uma imagem com os dois exemplos.
— Se esta mulher for judia, quer dizer que poderia falar uma forma antiga da língua hebraica. O que nos obriga a repensar a maneira como estamos a ler estes hieróglifos. Em vez de soletrar foneticamente palavras egípcias, talvez estivesse a usar a única forma de escrita que conhecia para soletrar palavras na sua língua materna.
Rory estreitou os olhos.
— Mas porque não se tatuou em hebraico? Sabemos que a linguagem escrita surgiu há cerca de oito mil anos. A múmia tem pouco mais de três mil, segundo a datação por carbono.
— Talvez esta mulher tenha sido criada no Egito. Pode ter sido ensinada a escrever hieróglifos. Na verdade, talvez fosse a única língua escrita que conhecia. O que me fez pensar numa teoria.
— Qual?
— E se esta mulher fosse descendente daqueles que fugiram das pragas no tempo de Moisés? Parte de uma tribo de judeus que se pôs em fuga para sul, em vez de seguirem para leste, como o resto do seu povo? Isso explicaria o facto de saberem escrever hieróglifos egípcios, embora falassem hebraico.
Rory inclinou-se para a frente, visivelmente mais excitado.
— Se esse grupo tivesse aprendido a escrever, o que era raro, significaria que eram uma tribo de escribas.
Safia anuiu.
— Uma tribo que mantinha registos. O que quer dizer que poderiam ter preservado conhecimentos acerca desta praga.
— E de uma possível cura — murmurou Rory. — Acho que podemos estar perto de descobrir a resposta.
Safia sabia que o seu papel ali era olhar para o passado e tentar descobrir uma cura para a doença que Harold trouxera do deserto. Enquanto ela seguia essa abordagem, os outros investigadores na estação atacavam o mesmo problema com a ciência. Todavia, continuava sem saber qual era o interesse de Simon Hartnell nessa cura. Quando o conhecera, ele dissera-lhe que os seus esforços poderiam salvar o mundo.
Então, porquê todo o secretismo e derramamento de sangue?
Rory desviou-lhe a atenção para o assunto em mãos.
— Existe alguma forma de podermos ter a certeza de que estamos no caminho certo?
Em resposta, Safia fez surgir uma nova imagem no ecrã.
— Estes três hieróglifos foram retirados da testa dela, junto à zona onde ficaria a linha do cabelo. Estavam isolados por uma cartela, como se fossem importantes. Porém, a junção destas três letras, S, B e H, não quer dizer nada em egípcio. Mas, e se soletrassem o nome dela, foneticamente? — Safia pronunciou a junção dos três caracteres em voz alta — Sah-bah.
— Que tem isso de tão especial?
— Sabah é um nome hebraico que deriva de Sheba ou talvez de Bathsheba.
— Como na Bíblia.
Safia assentiu. Ela própria tinha uma ligação a essa herança, mas isso era uma história para outra altura.
— O significado habitual para esse nome é filha do juramento, o que pode ser interpretado como alguém bom a guardar segredos.
— E que parece ser o caso da nossa princesa — anuiu Rory, deixando escapar um bocejo. — Se calhar, é melhor deixarmos isto para amanhã, não?
Safia sorriu.
— Tens razão. É melhor ires dormir, e eu vou tentar fazer o mesmo.
Despediram-se um do outro. Com relutância, Safia fechou o computador. Não sabia se conseguiria dormir, mas devia tentar. Pôs-se de pé, espreguiçou-se e deu um passo em direção à cama, porém, ficou paralisada ao ouvir o trinco da cela ser corrido.
Virou-se, recuando um passo, esperando o pior.
A porta abriu-se e Anton entrou na cela, o rosto vermelho de fúria.
Sentiu o coração bater na garganta.
Fiz alguma coisa errada?
Então, subitamente, Anton foi empurrado pelas costas.
Duas figuras seguiram-lhe os passos para o interior da cela. Uma delas era uma mulher desconhecida, mas a outra deixou-a à beira das lágrimas.
— Painter...
03h23
Painter deixou Anton à guarda de Kat e avançou para Safia. Abraçou-a, sentindo-lhe o corpo tremer nos seus braços.
— Estás bem?
— Agora estou melhor — murmurou ela.
— E se saíssemos daqui?
— Parece-me fabuloso.
Painter desfez o abraço e encaminhou-a para a porta.
— Espera! — Safia deu meia-volta e foi buscar o portátil à secretária. — E o Rory?
Kat deitou um olhar incrédulo na direção dela, mantendo a pistola apontada ao pescoço de Anton.
— Rory McCabe? Ele encontra-se aqui na estação?
Safia fez que sim com a cabeça.
— Um prisioneiro, como eu. É uma longa história.
Painter franziu o sobrolho. Não admira que o russo se tivesse mostrado tão disponível para os trazer até aqui, mesmo sob ameaça de arma.
O filho da mãe tinha um ás na manga.
— Sabe onde ele está? — perguntou Kat.
— Não... eles deixam-me na minha cela quando acabamos o trabalho. Não sei onde fica a dele.
Painter virou-se para Anton.
— Pelos vistos, vamos ter de fazer mais uma paragem.
Anton desviou os olhos para a câmara instalado no teto.
— Não — retorquiu, com um sorriso gelado.
A expressão do russo era clara como água. Ele sempre tivera um plano. Estava apenas a queimar tempo. Tinham conseguido trazê-lo até ali sob ameaça de arma, evitando a presença das câmaras o mais possível.
Até agora...
Painter avançou para ele. Anton ergueu o queixo, pronto para qualquer tipo de coação física, mas Painter tinha outras intenções.
Quando temos uma mão fraca, a melhor jogada é o bluff.
— Gosta da sua irmã, Anton? Sabemos que o nome dela não é Velma.
O russo estreitou os olhos. Painter dera-lhe a saber que conhecia o nome dele. Não seria difícil levá-lo a acreditar que possuía o mesmo tipo de conhecimento acerca da irmã.
Painter continuou ao ataque.
— Sabemos que partilham algo em comum... o mesmo gosto por tatuagens, pelo menos. — Painter tocou no próprio rosto. — Fizeram-nas antes ou depois de a Guild os contratar?
Anton estremeceu, claramente perturbado por esse conhecimento íntimo do seu passado.
E agora, para finalizar...
— Temos a sua irmã, Anton — mentiu Painter. — A Interpol apanhou-a há uma hora. Foi por isso que decidimos avançar já. Se quer tornar a vê-la, sugiro que nos leve até ao Rory e nos indique a saída mais próxima.
Para lá da janela da cela, as nuvens cinzentas começavam já a obscurecer a luz do dia, conforme a frente da tempestade se abeirava da ilha. Assim que se vissem no exterior, Painter tencionava usar o telefone de satélite para chamar os reforços na base aérea de Thule. Se não fosse possível, o plano alternativo passava por roubarem um veículo e fugirem para as montanhas próximas, onde aguardariam o resgate a coberto da tempestade.
Porém, nesse momento, qualquer um dos planos dependia do quanto Anton se preocupava ou não com o bem-estar da irmã.
O russo fitou Painter, deitando-lhe um olhar incendiário.
— Ele não está longe — rosnou por fim, contrariado.
Kat cravou-lhe o cano da pistola nas costelas.
— Vamos!
Painter abriu a porta, espreitou o corredor e saiu da cela, acompanhado de Safia. Segurava a pistola junto à coxa.
— Mantém-te colada a mim.
Kat seguiu atrás com Anton, segurando-lhe na parte de trás do cinto com uma das mãos e mantendo o cano da pistola encostada à base da espinha com a outra. Avançaram ao longo de dois corredores e contornaram uma esquina. De facto, a cela de Rory não ficava longe.
Anton indicou com a cabeça para a porta.
— É esta.
Painter passou o cartão de acesso do russo na fechadura, correu o trinco manual e abriu a porta.
A divisão encontrava-se às escuras. Uma figura levantou-se da cama encostada à parede.
— Quem... Que se passa?
Safia deu um passo em frente.
— Rory, sou eu.
— Safia?
Safia pô-lo rapidamente a par dos desenvolvimentos enquanto o olhar do rapaz se perdia por toda a parte, esforçando-se por compreender o que ouvia.
— Vem — disse-lhe por fim —, temos de nos despachar.
Terminando de vestir o macacão cinzento, Rory olhou para ela, hesitante.
— Mas...
— Que se passa?
— A múmia... a múmia é a única esperança que temos de encontrar uma cura. Se as coisas estão tão más como as descreveste, tanto no Egito como em Inglaterra...
Safia virou-se para Painter.
— Como está a situação?
— Má — respondeu Kat.
— E parece que vai piorar — acrescentou Painter, recordando as palavras da doutora Kano acerca dos danos genéticos que poderiam durar gerações.
Safia virou-se de novo para Rory e ergueu o portátil que segurava contra o peito.
— Temos os dados que recolhemos.
Rory parecia assustado, dividido entre o desejo de fugir e a importância do que deixava para trás.
— Os dados estão incompletos.
Safia fitou Painter.
— O Rory tem razão. Se eles destruírem a múmia, podemos dizer adeus a qualquer hipótese de descobrirmos rapidamente uma cura.
Painter não percebia bem o que levava Safia a afirmar uma coisa dessas, mas confiava na certeza do olhar dela.
— O que podemos fazer? De certeza que não podemos sair daqui com uma múmia às costas.
Safia descaiu os ombros, desanimada.
— Além de que está contaminada, como o cadáver do Harold. Encontra-se trancada num laboratório de biossegurança.
— Temos de deixá-la ficar — disse Kat. — Podemos recuperá-la mais tarde, com a ajuda das forças do coronel Wycroft.
— Li o protocolo de segurança — disse Rory, calçando as botas. — Ao mínimo sinal de risco biológico, o laboratório é incinerado.
Painter não duvidava de que essa opção tivesse sido estabelecida como medida de prevenção. O inimigo fizera o mesmo em Inglaterra, incendiando o laboratório que guardava o corpo do professor. Ademais, Anton também o confirmara ao deitar um olhar irritado a Rory por revelar esse pormenor.
— Só temos esta oportunidade — disse Safia.
— E o scanner 3D? — alvitrou Rory, pondo-se de pé.
Safia endireitou as costas.
— Meu Deus, tens razão! Deixámos a múmia a ser digitalizada por um scanner topográfico. Queríamos obter um mapa intradérmico completo da superfície do corpo. Deve estar concluído por esta altura.
Rory assentiu.
— Podemos agarrar nos resultados e levá-los connosco.
Safia estreitou os olhos.
— Isso obriga-nos a regressar ao laboratório.
Kat ergueu uma sobrancelha na direção de Painter.
— Mais uma paragem?
— Temos de ser rápidos.
Kat virou-se para Safia.
— É muito longe?
— Nem por isso, mas fica três pisos abaixo deste.
O que quer dizer que temos de regressar ao coração da estação.
Kat trocou um olhar preocupado com Painter.
— Talvez seja melhor não irmos todos. — Olhou de relance para Anton, sabendo que não teriam poder sobre ele durante muito mais tempo.
— Posso ir com o Rory — disse Painter. — Vocês esperam aqui.
Kat abanou a cabeça.
— Duas mulheres representam uma ameaça menor. Sobretudo se uma estiver vestida de guarda e a outra de prisioneira.
Painter queria contrapor, mas reconhecia a vantagem do plano de Kat. Além disso, ela não parecia disposta a ceder.
Safia deu um passo em frente.
— Eu consigo fazer isto.
Tomada a decisão, Painter apontou a pistola a Anton.
— Dispa-se.
Em menos de nada, Kat vestiu o uniforme preto de Anton. Apanhou o cabelo e escondeu-o sob o boné. Virou-se para Safia.
— Pronta?
Apesar de assustada, Safia assentiu.
Kat encaminhou-a para a porta da cela, verificou se o corredor estava livre e saíram. Antes de se meterem a caminho, olhou por cima do ombro uma última vez.
— Eu cuido dela.
Painter fez que sim com a cabeça e engoliu em seco.
Kat fechou a porta.
Painter manteve a pistola apontada a Anton. De boxers e descalço, o russo parecia menos ameaçador, mas Painter nunca cometeria o erro de o subestimar. Deixou-o ficar encostado à parede, com as mãos no ar. Os olhos frios de Anton ignoraram-no. Em vez disso, fitavam Rory, seguindo-lhe os passos enquanto o rapaz caminhava de um lado para o outro em frente à porta.
Então, sem razão aparente, o russo focou a atenção em Painter.
— Nunca conseguirás sair daqui — disse com desdém. — As duas mulheres vão sofrer.
— Depois se vê quem é que...
Painter pressentiu a ameaça demasiado tarde: uma mudança de sombras, um raspar de metal sobre metal. Quando se virou, a única coisa que viu foi o braço de Rory a arremessar o candeeiro de mesa contra a sua cabeça. A pesada base de metal atingiu-o em cheio na têmpora. A dor explodiu-lhe no crânio, acompanhada de luzes brilhantes. Caiu sobre um joelho.
Anton saltou da parede, agarrou-lhe no braço e torceu-o, forçando-o a largar a pistola.
Painter tombou para o lado, a cabeça ainda a zunir.
Com a pistola roubada apontada ao prisioneiro, Anton estendeu a outra mão e tocou no braço de Rory, quase com ternura.
— Bom trabalho, meu pequeno tigryenok.
Anton passou a arma a Rory e revistou Painter dos pés à cabeça. Tirou-lhe o telefone de satélite. Uma vez satisfeito de que não guardava mais armas ou meios de comunicação, pôs-se de pé e recuou para a porta.
Rory olhou para Painter enquanto o russo o encaminhava para fora da cela.
— Vocês nunca conseguirão entender o que está aqui em jogo — disse, com uma expressão de contrição.
Vendo a improvável dupla abandonar a cela e trancar a porta, Painter percebera, pelo menos, uma coisa.
Ao que parecia, Anton guardara mais do que um ás na manga desde o início.
Com um lamento doloroso, recordou as últimas palavras de Kat, rezando para que se revelassem verdadeiras.
Eu cuido dela.
03h40
Da segurança da antecâmara, Kat manteve os olhos postos em Safia enquanto ela entrava no laboratório. Equipada com o fato de biossegurança e a arrastar uma mangueira de ar, a outra parecia que se preparava para mergulhar nas profundezas de um mar de resíduos tóxicos.
As duas não tinham perdido tempo para chegarem até ali. Não havia ninguém nos corredores àquela hora da noite, e o cartão de Anton permitira-lhes o acesso fácil ao laboratório deserto. A simplicidade com que as coisas estavam a acontecer era particularmente enervante para Kat, mesmo enquanto ali aguardava, trancada naquela divisão.
Vá lá, Safia, despacha-te...
Apesar do sentido de urgência e dos nervos, Kat tinha consciência de que havia um protocolo de segurança a observar. Safia dirigiu-se a uma estação com um computador e cabos que ligavam a quatro câmaras laser, lembrando pistolas de cano longo, todas apontadas à figura esquelética de uma mulher sentada, com o queixo caído, num trono preto.
Durante o trajeto para o laboratório, Safia dissera-lhe que a mulher fora recuperada no Sudão, algures na região onde o professor McCabe desaparecera, e que fora incumbida de descobrir o segredo escondido no seu corpo mumificado. O inimigo acreditava que a múmia guardava pistas para uma possível cura para a pandemia que alastrava pelo mundo inteiro. Safia, por sua vez, estava convencida de que Simon Hartnell procurava esse conhecimento com outro propósito, muito embora não fizesse ideia de qual seria.
Safia pressionou uma tecla e a gaveta da unidade de DVD do computador abriu-se. Retirou o disco prateado que continha os dados da digitalização e enfiou-o numa bolsa de plástico transparente. Safia avisara Kat de que a bolsa também necessitaria de ser descontaminada à saída, com um banho químico. Safia tentou selar a bolsa, mas as luvas atrapalhavam o processo.
Vá lá...
Uma pancada na porta fez Kat sobressaltar-se. Uma voz familiar fez-se ouvir do corredor, o tom urgente, assustado.
— Abram! Rápido!
Kat correu para a porta.
— Rory?
— Graças a Deus! — respondeu Rory, ofegante, como se tivesse corrido o caminho todo até ali. — O Anton atacou o vosso amigo. Deixei-os a lutarem um com o outro. Venham ajudá-lo! Rápido!
— Safia ainda está lá dentro. Vou abrir-te a porta.
Kat passou o cartão de acesso de Anton e puxou a maçaneta para si com um gesto rápido. Encostado à porta e apanhado de surpresa, Rory cambaleou para a frente. Kat deitou-lhe a mão ao colarinho e puxou-o com força para o interior da antecâmara, atirando-o para um dos lados. Aproveitou o embalo e projetou o corpo para a frente, agachando-se e erguendo simultaneamente a pistola. Tal como receara, notou a presença de uma figura obscurecida no corredor. Premiu o gatilho, disparando várias vezes.
Um grito de dor fez-se acompanhar de tiros de resposta.
As balas voaram por cima da cabeça dela e atingiram o painel de vidro nas suas costas, projetando uma chuva de cacos; Rory gritou, horrorizado. Kat não cedeu e deitou-se de barriga no chão. Recusava-se a abrir mão da vantagem que a sua posição meio abrigada lhe oferecia. Totalmente exposto no corredor, o oponente não teve alternativa a não ser recuar. Manteve uma barreira de fogo de cobertura, disparando consecutivamente até enfim desaparecer, por trás de uma esquina. Kat notou o rasto de sangue que ficara no chão.
Satisfeita por enquanto, Kat rolou para o interior da antecâmara. Assim que fechou a porta, uma sirene de alarme disparou pelo complexo, ecoando por toda a estação.
Rodou o corpo e apontou o cano fumegante da pistola à cara de Rory. Momentos antes, quando o ouvira bater à porta, suspeitara de imediato que algo não estava bem; sobretudo quando ele lhe dissera que o russo levara a melhor sobre Painter. Era, por assim dizer, uma improbabilidade. Como tal, agira em conformidade. Se estivesse enganada, pediria desculpas ao rapaz pelo tratamento bruto.
Mas não havia necessidade de desculpas nesse momento.
Fitou Rory. O golpe de teatro fora demasiado perfeito para ser fruto de coação. Ele deveria estar a manipular toda a gente a favor do inimigo desde o início, o que incluía tirar proveito da amizade de Safia. Mesmo há instantes, o objetivo dele deveria ser retirá-las daquela divisão altamente sensível, antes que tivessem oportunidade de se barricarem lá dentro.
Rory ignorou a ameaça da arma da Kat. Em vez disso, virou-se e olhou horrorizado para o laboratório. Kat acompanhou o olhar dele. Só então reparou nos dois buracos de bala no painel de vidro.
O rapaz recuou um passo.
— Oh, não...
Kat ficou gelada, receando o pior.
Olhou para divisão seguinte. Safia estava ainda de pé, porém, uma das balas perdidas perfurara-lhe o capuz do fato de biossegurança, falhando a cabeça por um triz. O mesmo não se poderia dizer da múmia, cujo crânio dessecado explodira com o impacte dessa mesma bala, ou de outra. Quando Safia olhou na direção deles, a viseira danificada do capuz encontrava-se salpicada de detritos.
Rory berrou para ela, apontando freneticamente para a antecâmara de descontaminação.
— Safia! O duche químico!
Kat ficou surpreendida por tamanha preocupação do traidor em relação a Safia. Juntou a sua voz à dele.
— Rápido, Safia!
Os gritos dos dois fizeram-na ultrapassar o choque e pôr-se em movimento.
Rory virou-se para Kat e apontou para um cronómetro digital acima do painel de vidro. Iniciara uma contagem decrescente de dois minutos.
— Quando a integridade do laboratório é comprometida, as contramedidas de contenção são automaticamente ativadas. Permite dois minutos para a evacuação do pessoal, depois, todo o espaço é incinerado.
Kat olhou em redor, as barreiras antifogo começavam já a descer do teto.
— Existe maneira de anular o sistema?
— Talvez, mas não tenho ideia de como se faz.
Safia encontrava-se já na antecâmara de descontaminação. Deu uma palmada no botão que comandava o duche químico. A espuma desinfetante cobriu-lhe o fato e a bolsa plástica que trazia na mão. Esperou que a sujidade desaparecesse por completo e passou para a antecâmara seguinte. Despiu o fato à pressa até ficar apenas com o macacão cinzento. Atrás dela, a porta do laboratório encontrava-se já praticamente coberta por um painel antifogo.
Safia olhou por cima do ombro, os olhos arregalados de medo, porém, o risco de contaminação era o menor dos perigos imediatos.
Rory desviou-se quando ela transpôs a última porta estanque.
— Não era para ninguém se magoar. Ele prometeu-me — disse o rapaz, o rosto contraído numa máscara de culpa.
Safia alternou o olhar entre a pistola na mão de Kat e o rosto de Rory.
— Que se passa aqui?
— Estamos de saída — respondeu Kat, mantendo a arma apontada ao nariz do rapaz. Virando-se para ele, acrescentou: — E tu vens connosco.
Kat encaminhou os dois para a porta de saída. Verificou o corredor. Não sabia se Anton ainda se encontrava escondido ao virar da esquina ou se procurara ajuda médica. Fosse como fosse, calculava que viessem reforços a caminho. Esperava apenas poder retirar vantagem do caos momentâneo e que a maioria dos homens de Anton se encontrasse fora de serviço a essa hora. Era o suficiente para conseguir um minuto extra de avanço.
Como precaução adicional, agarrou Rory pelo colarinho e posicionou-o entre ela e a esquina por onde o russo desaparecera.
Rory notou o rasto de sangue no chão.
— Anton...
Kat fez sinal para Safia se manter na retaguarda. Usando Rory como escudo humano, começou a recuar. Memorizara a planta da estação. Havia uma garagem subterrânea, dois pisos acima do local onde se encontravam.
Quando ia já a meio do corredor, um troar grave fez-se sentir através da parede. Visualizou os jatos de chamas a varrerem o interior do laboratório de biossegurança e afastou-se um pouco mais desse lado do corredor.
Está na hora de sairmos daqui.
Apressou os outros em direção aos elevadores, carregou no botão e entrou na cabina mal as portas se abriram. Uma curta ascensão deixou-os num espaço de garagem cavernoso. Kat apressou-se na direção de uma fila de Sno-Cats estacionados. Pareciam tanques em miniatura, com as suas cabinas quadradas em cima de lagartas.
Escolheu um ao calhas.
— Entra e senta-te no banco de trás — ordenou a Rory, agitando a pistola.
O rapaz obedeceu.
Kat passou a arma a Safia.
— Sente-se no banco da frente, mas mantenha-o debaixo de olho. Se ele sequer respirar de maneira suspeita, dê-lhe um tiro.
Apesar do choque daquilo tudo, Safia anuiu com a cabeça.
Kat sentou-se ao volante e encontrou as chaves penduradas na ignição. Não ficou surpreendida. Quem seria louco o suficiente para roubar um veículo da estação?
Eu, pelos vistos.
Ligou o motor e engatou a mudança. As lagartas começaram a rolar sobre o chão de cimento. Virou o volante em direção à rampa que conduzia ao portão da garagem. Havia um poste com um pequeno teclado na base da rampa. Kat rezou para que o cartão de Anton ainda estivesse ativo e passou-o pelo dispositivo de leitura.
O ruído de engrenagens em movimento fez-se ouvir de imediato.
Kat suspirou de alívio, mas o perigo ainda não passara.
O vento irrompeu pela garagem conforme o portão abria, fazendo ouvir o seu uivo no interior da cabina selada do Sno-Cat. A tempestade engolira por fim a ilha. Nuvens negras rolavam acima, porém suficientemente baixas para que Kat jurasse que eram capazes de roçar o tejadilho do veículo enquanto se lançava para o meio da tormenta.
Definiu o rumo em direção a noroeste, apontando aos picos nevados das montanhas vizinhas do Parque Natural de Quttinirpaaq. Em menos de cem metros, a estação inteira desapareceu na escuridão atrás dela.
Ainda assim, manteve-se atenta ao espelho retrovisor, procurando um vislumbre dos perseguidores que haviam de vir. Naquele momento, porém, um receio maior pesava-lhe nos ombros.
Que seria feito de Painter?
17
3 de junho, 09h18 EAT
Deserto sudanês
Meu Deus...
Atordoado, Gray entrou no tórax de pedra do deus adormecido. Os outros seguiram-lhe os passos, projetando os feixes de luz dos capacetes em todas as direções do espaço cavernoso. As exclamações de espanto multiplicaram-se nas suas costas, porém, não haveria nada que pudesse desviar-lhe a atenção do que se encontrava à frente dele.
Aquela galeria era suficientemente grande para acomodar um pequeno estádio de basebol. À esquerda e à direita, gigantescas costelas de pedra acompanhavam a curvatura da parede, para se unirem numa fila de vértebras torácicas ao longo do teto. O arco da espinha estendia-se de uma ponta à outra da galeria, desaparecendo na parede mais afastada, curvada em forma de um diafragma humano.
— O grau de pormenor é impressionante — murmurou Jane. — Reparem nas estrias entre as costelas.
— Os músculos intercostais — disse Gray, encarnando o papel de um professor de anatomia.
Derek apontou a lanterna para um muro que lhe dava pela altura do ombro e dividia a galeria ao meio.
— Isto deve representar o mediastino. — Ergueu o foco, iluminando uma secção com o formato semelhante ao de uma nuvem. — Até incluíram o timo.
No entanto, nenhum desses pormenores anatómicos constituía a atração principal e, conforme avançavam, foram sendo atraídos pela visão mais extraordinária em todo aquele espaço.
Bem no centro, um maciço coração de pedra dava a sensação de pender do teto, suportado por um emaranhado de vasos sanguíneos, incluindo um gigantesco arco aórtico. Cada uma das quatro câmaras tinha sido meticulosamente esculpida, todas elas cobertas de ramificações das artérias carótidas.
Apesar do aspeto etéreo de toda a escultura, a base assentava numa secção do chão talhada em forma de esterno.
— Existe uma porta no ventrículo esquerdo — notou Jane, quando se aproximou.
Gray reparou numa pilha de tijolos antigos atirada a um dos lados. Teriam servido para selar aquela entrada há muito tempo. Porém, o que escondiam?
Essa pergunta fê-los olhar mais de perto.
Derek apontou a lanterna para o interior do coração.
— Não há aqui nada.
Gray sentiu-se dececionado, embora nada disso constituísse, a bem dizer, uma surpresa. Apesar das maravilhas ali existentes, o lugar fora claramente saqueado — e não há muito tempo, pelo que lhe era dado a observar. Ao redor, encontravam-se mesas e bancos corridos de madeira, bem como uma fila de beliches, ao longo da parede de costelas.
Alguém acampara ali dentro durante um bom período de tempo.
O deslumbramento esmoreceu nos olhos de Jane, substituído por uma expressão assombrada.
— Deve ter sido aqui que mantiverem o meu pai prisioneiro. — Olhou em redor, como se o procurasse. — Mas porquê?
Gray estudou o que restava da presença do inimigo, tentando preencher os pedaços em falta. Postes de iluminação pontilhavam o chão, enquanto fios elétricos corriam ao longo das paredes. Gray seguiu os fios até ao local onde teria existido uma fila de geradores. Uma das mesas exibia os restos de um computador danificado. Interrogou-se distraidamente se o disco rígido estaria em condições de ser recuperado, mas palpitava-lhe que os oponentes não seriam assim tão desleixados.
Ali perto, uma fila de estantes fora esvaziada do seu conteúdo, com a última tombada por terra. Visualizou esses investigadores fantasma a andarem de um lado para o outro enquanto trabalhavam nessas câmaras de mistérios.
Agora tinham pura e simplesmente partido, certificando-se de que nada ficava para trás.
Mais adiante, Kowalski fez incidir o feixe da lanterna por uma abertura entre a base de duas costelas. Gray reparara em aberturas semelhantes em ambos os lados da galeria. Uma vez mais, eram assinaladas pela presença de pequenas pilhas de tijolos.
Assim que Gray se juntou a ele, Kowalski desviou o foco para um nicho que havia acima da abertura. Guardava um pequeno elefante de madeira com a tromba enrolada e duas lascas amareladas a fazer de presas. A peça era de uma beleza considerável, com alguma da casca original da madeira a sugerir a textura rugosa da pele do paquiderme.
— O que é? — quis saber Gray.
Jane aproximou-se.
— Parece ser um pote. Dá para ver a linha da tampa ao longo das costas.
— Podemos levá-lo? — perguntou Kowalski, admirando a peça.
Gray sabia do fascínio particular do outro por elefantes.
Jane esticou o braço para alcançar a escultura, mas Derek antecipou-se.
— Não lhe toques. Pode não ser seguro.
Jane olhou para ele, arqueando uma sobrancelha.
— O meu pai deve tê-lo examinado. Se fosse perigoso, creio que esta câmara estaria selada com plástico, como vimos no crânio.
— Mesmo assim, pode estar contaminado.
Jane suspirou, atendendo ao aviso de Derek, e deixou o objeto em paz.
Kowalski contraiu o rosto, desapontado.
— E este buraco, para que servia? — perguntou Gray, redirecionando a atenção de todos para o chão da câmara.
Derek agachou-se, apontando o foco da lanterna.
— Creio que é um velho túmulo.
Gray inclinou-se e espreitou o interior. A câmara era estreita, mas profunda. Tinha todas as condições para guardar um corpo, porém, as paredes encontravam-se enegrecidas e cobertas de cinza. Notou os fragmentos de ossos carbonizados, sugerindo a destruição de um corpo. A profanação parecia recente, e o bidão de gasolina deixado aí perto ajudava a consubstanciar essa análise.
Derek chegou à mesma conclusão e olhou em redor, para os restantes túmulos abertos.
— Cremaram todos os corpos. Destruíram tudo.
Ou quase tudo.
Gray visualizou o pedaço de pele tatuada no tubo de ensaio. Será que o professor o retirara de uma dessas múmias, a fim de o preservar?
Derek pôs-se de pé.
— Mas porque queimaram estes corpos? Medo de contágio? Ou para se livrarem de todas as provas?
Jane desviou o olhar para o centro da galeria.
— Também reparei na mancha de fuligem ao redor da base do coração, mas parece ser mais antiga.
Curioso, Gray decidiu espreitar de novo o coração.
Deve ser importante.
Baixou a cabeça e transpôs a pequena abertura que conduzia ao interior da escultura. As paredes no interior do coração encontravam-se imaculadas, decoradas com gravuras de borboletas esvoaçantes. O trabalho artístico era delicado, quase feminino.
Então, algo estranho captou-lhe a atenção. Olhou por cima do ombro e gritou:
— Jane, o que pensa disto?
Jane juntou-se a ele no interior do coração, seguida de Derek. Enquanto estudava as paredes, pisou acidentalmente um caco de cerâmica. Estreitou os olhos e recolheu-o do chão, fazendo incidir o feixe da lanterna sobre a sua superfície azul empoeirada.
— É um pedaço de lazulite — comentou Derek, espreitando por cima do ombro dela.
Jane olhou em redor.
— Talvez seja de uma tigela ou de qualquer coisa parecida. A lazulite era venerada pelos egípcios. Acreditavam que possuía características mágicas.
Fixou o olhar nas decorações das paredes.
— Isto é pura e simplesmente lindo... — murmurou, varrendo todo o interior do coração com a lanterna. — Sempre gostei de borboletas. Para os egípcios, eram um símbolo de transformação...
Gray estudou o espaço, interrogando-se acerca do propósito daquela câmara, notando os indícios deixados para trás.
Magia e transformação.
Sentia que se encontrava no limiar de uma descoberta importante, mas talvez não lhe coubesse a ele revelá-la. Fixou o foco da lanterna no último pormenor insólito ali existente. Constituía a razão de ter chamado Jane.
Jane olhou para onde ele apontara a lanterna e soltou uma exclamação de espanto. Recuou um passo.
Uma das borboletas encontrava-se assinalada com um círculo. No interior, alguém escrevera o nome dela.
— Deve ter sido o meu pai... — murmurou. Ergueu a mão para tocar na gravura, a fim de consumar essa ligação com o passado, porém, hesitou. — Mas com que propósito?
Derek tentou responder.
— Os nómadas que resgataram o teu pai mencionaram que ele repetiu o teu nome um sem-número de vezes. — Pousou a mão no ombro dela. — Se calhar, tinha esperança de que pudesses encontrar isto.
Jane recuou um passo, alternando o olhar entre Gray e Derek.
— Não estou a perceber...
Gray fitou-a.
— Talvez acreditasse que a Jane seria capaz de decifrar esta mensagem. Pelo menos, com tempo.
Gray interrogou-se se essa seria a razão do interesse do inimigo em Jane. Se Harold tivesse deixado aquela pista para a filha, os outros poderiam estar convencidos de que ela sabia alguma coisa que pudesse ajudá-los.
Porém, ao que parecia, aquilo apenas deixara Jane mais confusa e assustada.
— Vamos continuar a procurar — disse Gray.
Abandonaram o coração. No entanto, Gray não alimentava grandes esperanças de que encontrassem mais qualquer coisa. O que houvesse de importante teria sido escondido ali mesmo, no coração do gigante de pedra.
Além disso, estava perfeitamente ciente da passagem do tempo. Sentia-o como um acumular de pressão ao redor dele.
Estamos aqui há demasiado tempo.
09h38
O único aviso foi um resvalar de pedras.
Seichan notou o pequeno fio de poeira a descer pela face rochosa à esquerda, porém, fingiu que não o viu e continuou a conduzir a Suzuki ao longo da base do desfiladeiro. Estava a regressar à clareira que escondia a entrada para o sistema de cavernas que tinham descoberto sob aquelas colinas. Quarenta e cinco minutos antes, agarrara na moto de Ahmad para investigar o perímetro, acelerando para trás e para a frente ao longo da passagem que conduzia à clareira.
Deixara o rapaz e a cadela à espera no interior do jipe estacionado, com ordens para apertar a buzina ao mínimo sinal de problemas. Também lhe deixara um rádio e instruções adicionais.
Seichan não tinha a certeza se teriam sido seguidos até ali ou não. Por via das dúvidas, preferiu presumir que sim e agir em conformidade. Começou por criar uma manobra de diversão, atraindo a atenção dos olhos que estivessem por ali escondidos. Queria que vissem o rapaz sozinho no jipe. Que baixassem a guarda enquanto avaliavam a situação, percebendo que os outros teriam entrado nas cavernas.
Sobretudo Jane McCabe.
Calculava que a rapariga continuasse a ser o alvo principal, pelo que o inimigo dispensaria uns bons minutos a elaborar uma estratégia.
Por sua vez, utilizara o tempo para se familiarizar com a moto de Ahmad, testando o poder de tração do pneu traseiro, percebendo que era perfeito para a areia, não tanto para a rocha. Ao aperceber-se do pequeno resvalamento de pedras, o único ajuste que fizera ao plano fora chegar-se mais perto da parede rochosa, a fim de dificultar uma linha de tiro a quem quer que se encontrasse lá em cima.
Não mostrara nenhuma outra reação. O próprio coração não alterara uma única batida. Quando muito, sentira-se aliviada de ver provas físicas dos fantasmas que assombravam aquelas colinas. Sabendo que eram reais, concentrou-se, desfrutando ao mesmo tempo do pico de adrenalina.
Semicerrou os olhos, apurando a visão.
O plano do inimigo era fácil de adivinhar, sobretudo se quisessem apanhar Jane McCabe viva. Naquela situação, a jogada mais inteligente seria aguardar que os alvos abandonassem a caverna, e emboscá-los na clareira.
Seichan não permitiria que isso acontecesse.
Com um lenço enrolado à volta do rosto, murmurou para ativar o microfone junto dos lábios:
— Ahmad, prepara-te.
Manteve a mesma velocidade enquanto completava as últimas dezenas de metros da passagem.
Ouviu o motor do Unimog a ligar-se, o rugido grave a reverberar nas paredes da clareira. Momentos antes, enquanto preparava o ardil, perguntara a Ahmad se ele saberia conduzir o jipe. O rapaz desdenhara a pergunta, como se fosse uma espécie de insulto à sua masculinidade, mas Seichan obrigara-o a dar duas voltas completas à clareira, só para ter a certeza.
Seichan esperava que o inimigo acreditasse que o rapaz se fartara de esperar pelos outros e decidira dar mais umas voltinhas com o Unimog.
Porém, dessa vez era a sério.
Quando entrou na clareira, o rapaz rodava já na sua direção. Seichan acenou-lhe, como se estivesse a cumprimentá-lo, mas logo baixou o braço.
Ahmad pisou o acelerador e o jipe disparou na direção dela.
Seichan encostou o peito ao depósito e girou o punho, levando as rotações do motor ao limite. O pneu traseiro rodou em falso, revolvendo a areia. Ganhou por fim tração e a moto catapultou-se a toda a velocidade, direitinha ao para-choques do Unimog.
Olhou para o rosto de Ahmad atrás do volante. O rapaz parecia assustado, porém, não desacelerou. Aguardou até ao último instante para finalmente se desviar, e a besta de metal passou por ela, desaparecendo pela passagem estreita. Seichan queria o rapaz e o jipe fora dali — tanto para o manter em segurança como para salvaguardar o único veículo que tinham.
Com o jipe para trás das costas, Seichan virou bruscamente, transferindo todo o seu peso para um dos lados. Quando a moto se endireitou, sacou da pistola que trazia num coldre à cintura. Fez pontaria para o lado do desfiladeiro onde as pedras tinham caído. Contava que esse oponente que se denunciara momentos antes a tivesse acompanhado até à clareira.
A agitação lá em baixo fora o suficiente para que o homem se mostrasse para espreitar, ainda que por um piscar de olhos.
Seichan disparou às cegas nessa direção. Não contava atingir ninguém, apenas ganhar uns segundos adicionais para Ahmad alcançar a segurança relativa da passagem, permitindo ao jipe desaparecer nas sombras. Contava que o inimigo não abandonasse a clareira para perseguir o rapaz — pelo menos, por enquanto, já que haviam de querer ocupar-se primeiro do objetivo principal.
Ou assim espero.
Para manter as atenções focadas em si, apontou a moto para as sombras, passando rente ao limiar da clareira. Continuou a disparar às cegas na mesma direção. Por fim, as balas inimigas começaram a cravejar o chão à volta dela, acompanhadas dos estrépitos distantes de uma espingarda.
Até que enfim.
Continuou a acelerar a coberto das sombras, ziguezagueando com destreza e esquivando-se ao fogo inimigo. Voltou a premir o gatilho assim que identificou a posição relativa do atirador. Durante mais de um minuto, enquanto executava aquelas manobras acrobáticas, o seu coração bateu em sintonia com o motor. Um sorriso brincou-lhe nos lábios escondidos pelo lenço, cujas pontas soltas chicoteavam ao redor do rosto.
Convencida por fim de que oferecera a Ahmad tempo suficiente para que ele pudesse alcançar o terreno aberto para lá da passagem, apertou os travões, fez derrapar a moto cento e oitenta graus e acelerou para a entrada das cavernas.
Ao aproximar-se do retângulo negro recortado na parede rochosa, não abrandou. Em vez disso, acendeu os faróis com o polegar, encostou o peito ao depósito e entrou disparada pela porta aberta.
Está na altura de levar esta batalha para as profundezas da Terra.
09h53
Jane reuniu-se com os outros diante da única passagem que os conduziria para lá da cavidade torácica do deus adormecido. Deitou um último olhar ao coração de pedra mergulhado na escuridão atrás dela, ainda a visualizar a mensagem rabiscada na parede pela mão do pai. Sem qualquer ideia do que significava, virou-se e focou-se na próxima etapa da expedição.
Uma arcada atravessava o diafragma de pedra com sessenta centímetros de espessura na base do peito. Acima deles, os feixes combinados das lanternas iluminavam as formas de arenito que pendiam de ambos os lados. Mãos e ferramentas ancestrais tinham polido as superfícies ao ponto de quase exibirem um brilho vítreo.
— Devem ser os lobos do fígado — disse Derek, passando os dedos da mão direita na parte inferior das próprias costelas.
Mais à frente, sombras compactas aguardavam-nos naquilo que deveria ser a cavidade abdominal.
Jane sentia-se desconfortável com a perspetiva de explorar aquele espaço, não por uma questão de repulsa em relação ao que poderia encontrar naquela parte da anatomia humana, mas pelo receio de, no fim de contas, apenas se ver confrontada com a ideia de que desiludira o pai. Ele deixara-lhe uma mensagem, e possivelmente morrera para lha entregar.
E eu não faço ideia do que significa.
Derek manteve-se por perto, sentindo a inquietação dela.
— Se calhar, devíamos fazer uma pausa antes de...
Gray virou-se de repente.
— Silêncio!
Então, Jane também ouviu: o ruído de um motor, crescendo progressivamente. Viraram-se todos. Uma luz ténue irrompeu da garganta do gigante, aumentando repentinamente de intensidade assim que algo saiu disparado das vias aéreas para a cavidade torácica. Logo a seguir, um chiar de pneus fez com que o objeto se imobilizasse no meio da câmara.
Era a moto de Ahmad.
O piloto endireitou as costas.
— Seichan! — chamou Gray.
Ela já os tinha localizado e enrolou de novo o punho. O rugido do motor reverberou pelo espaço cavernoso e acelerou os últimos metros na direção deles.
Parou por fim a moto, permanecendo sentada.
Não trazia capacete, mas pusera a máscara de proteção. Deitou um olhar rápido ao espaço em redor. Quando falou, as palavras dirigiam-se a todos.
— Temos companhia.
— Onde está o Ahmad? — perguntou Gray.
Seichan rodou o corpo no assento e libertou um saco de lona que trazia amarrado na traseira da moto.
— O puto está em segurança, por enquanto. Mandei-o dar uma volta com o jipe. — Atirou o saco na direção de Gray. — Trouxe o nosso equipamento: carregadores extra, granadas de fumo e de atordoamento. A Piezer do Kowalski também está aí. Não há de faltar muito para que eles desçam e tentem empurrar-nos para a superfície.
Os olhos dela cravaram-se em Jane. A mensagem era óbvia.
Eles vêm atrás de mim.
Jane visualizou a mensagem do pai.
Derek agarrou-lhe na mão, fazendo a mesma leitura da situação.
— Que fazemos?
Gray devolveu-lhe a pergunta.
— Haverá outra saída?
Derek encolheu os ombros.
— Não sei... provavelmente, acho eu.
Jane apertou-lhe a mão.
— O Derek tem razão. No que toca a estruturas secretas, os povos antigos costumavam construir mais do que uma saída.
Derek rodou a cabeça, alternando o olhar entre a cavidade torácica e a arcada que conduzia ao abdómen.
— Nós entrámos pela boca. Se partirmos do princípio de que os construtores continuaram a respeitar a anatomia humana até ao fim, isso significa que acabaremos por...
Kowalski contraiu o rosto.
— Não vamos sair por um certo buraco que eu estou a pensar, pois não?
Gray deu-lhe uma palmada no ombro.
— Deixa lá, há coisas piores. Pode ser a nossa única escapatória.
Gray começou a encaminhar o grupo na direção da arcada, enquanto Seichan seguia atrás com a moto.
Quando passaram por debaixo dos lobos do fígado, Derek apontou a lanterna para a esfera de pedra aninhada no alto.
— A vesícula biliar... — murmurou, dando à voz um tom de espanto, apesar do perigo.
Jane continuava a segurar a mão de Derek, agradecida por ter algo sólido a que se agarrar, para ajudá-la a ancorar-se. Continuou do lado dele enquanto avançavam pela cavidade peritoneal do abdómen, os feixes dos capacetes e o farol da moto iluminando as maravilhas que ali se encontravam.
Contornaram a protuberância de um estômago gigante, que repousava em cima de um baço de pedra, e descobriram que a maior parte da cavidade seguinte era constituída por uma massa serpeante de curvas e contracurvas, representando os intestinos do deus adormecido. Uma vez mais, os pormenores eram de tirar o fôlego, desde a sugestão do omento a envolver todos aqueles órgãos internos, à textura dos vasos sanguíneos sobre todas as superfícies.
Mais acima, uma fila de vértebras arqueava ao longo do teto e desaparecia nas profundezas escuras do abdómen. Em cada um dos lados, as paredes tinham sido esculpidas em forma de rins, os quais pareciam precariamente pendurados, dando a sensação de que poderiam desabar a qualquer instante.
— Por aqui — disse Seichan, avançando com a moto na direção do estômago e apontando o farol para uma pequena abertura num dos lados.
Uma porta...
Gray enfiou a cabeça na abertura e espreitou o interior do estômago.
— Consigo ver a abertura que liga ao esófago. — Olhou para o lado oposto. — E também outra passagem.
Derek estudou a extensão da caverna.
— Deve conduzir ao resto do trato intestinal, terminando, esperamos nós, noutra saída. É capaz de não ser a forma mais digna de sair daqui, mas não temos escolha.
Assim que Gray se endireitou, Seichan puxou-o à parte.
— Deixei um rádio e um GPS ao Ahmad. Disse-lhe para se manter à distância e que lhe comunicaria a nossa posição, caso conseguíssemos sair daqui. — Olhou de relance para Jane. — Porém, sabes tão bem quanto eu quem é o verdadeiro alvo do inimigo. Continua a ser o mesmo desde Ashwell.
Gray compreendeu o que ela lhe estava a querer dizer com aquilo. Indicou com a cabeça na direção dos outros.
— Nesse caso, precisas de levar a Jane daqui. No entanto, para garantir que vocês as duas escapam em segurança, precisamos de distrair o inimigo, mantê-lo focado no que se passa aqui em baixo. Com alguma sorte, quando perceberem o que aconteceu...
— Nós estaremos no Unimog, a caminho de Cartum. E quando descobrirem isso, virão atrás de nós, o que vos dará todo o tempo que precisam para saírem daqui também.
— E ficamos todos a ganhar... — anuiu Gray, longe de estar convencido da possibilidade de tal desfecho.
Jane ressentiu-se de estarem a tratá-la como uma bola de futebol, como se não tivesse voto na matéria. Derek também ouvira a conversa, mas chegara a uma conclusão diferente.
— Eles têm razão. O Harold deixou aquela mensagem para ti. És demasiado importante para arriscarmos perder-te para o inimigo.
Jane fitou-o. A preocupação que transparecia no olhar dele não tinha nada que ver com salvar o mundo.
— Mas eu não sei o que o meu pai...
Derek apertou-lhe a mão.
— Vais acabar por descobrir.
Jane desviou o olhar para a porta no estômago.
— E se estivermos enganados? Quem nos garante que existe outra saída?
Um metro ao lado, Kowalski decidiu intervir, oferecendo o seu apoio.
— Tenho a certeza de que há — disse.
— Como pode ter essa certeza toda?
— Li num livro... — explicou o americano, começando a encaminhá-la para a porta.
O próprio Gray ficou intrigado com aquela resposta.
— Leste num livro? Que livro?
— Todos Fazemos Cocó — bufou Kowalski, exasperado. Fez um gesto largo com o braço. — Calculo que isso também se aplique a este gigante de pedra, não?
Gray ficou a olhar para ele.
Jane, por sua vez, não conseguiu evitar um sorriso.
— Não deixa de fazer sentido — comentou Derek.
Seichan simplesmente abanou a cabeça e empurrou a Suzuki para o interior do estômago. Iriam precisar da velocidade da moto mal se vissem no deserto.
Sem outra alternativa que não fosse alinhar naquele plano, Jane encaminhou-se para a porta, mas Derek segurou-lhe no braço, puxou-a para si e abraçou-a:
— Tem cuidado — murmurou.
Por um momento, deu a impressão de que queria beijá-la, mas as máscaras impossibilitavam-no.
Jane apertou os braços à volta dele, prolongando o abraço durante um longo instante; depois, largou-o.
— Vejo-te em breve.
— Conta com isso — retorquiu Derek.
Jane virou costas e seguiu atrás de Seichan. Uma vez no interior do estômago, estudou o túnel que conduzia ao labirinto intestinal. A passagem situava-se mais ou menos a meio da parede curva. Observou o resto da câmara gástrica. A superfície das paredes encontrava-se coberta pelo que pareciam ser pequenas úlceras. Percebeu que eram rostos, com olhos encovados e expressões neutras.
Sentiu-se gelar perante tal visão, a pele arrepiada por um temor supersticioso, e estremeceu quando Seichan ligou o motor da Suzuki, preenchendo o espaço com um rugido ensurdecedor.
Seichan rodou o corpo e deu uma palmada na parte traseira do assento.
— Vamos.
Jane ficou a olhar para ela, confusa.
— O que pretende faz...
— Temos de ir.
A tremer de medo, Jane dirigiu-se para a moto, alçou a perna e sentou-se no assento almofadado.
— Agarre-se bem.
Jane mal teve tempo de pôr os braços à volta da cintura de Seichan. A outra enrolou o punho, a moto descreveu um círculo apertado, ganhou velocidade e subiu pela parede curva, direta à abertura.
Jane baixou a cabeça assim que se viu no interior do túnel.
À frente dela, o farol revelou a montanha-russa serpenteante que se estendia daí em diante.
— Aqui vamos nós! — gritou Seichan.
Jane quase podia jurar que a outra sorria.
Apertou os braços com mais força.
Meu Deus...
10h08
Valya deixou-se ficar a observar do topo dos penhascos queimados pelo sol.
A sua posição oferecia uma vista privilegiada sobre a clareira semiobscurecida. Aguardou até que o último dos homens de Kruger desaparecesse pela entrada escura que conduzia àqueles mistérios subterrâneos. Poderia ter descido com eles, mas sabia que não podia confiar naquela mulher que ainda protegia o alvo que perseguiam.
Seichan...
Momentos antes, observara-a a conduzir a moto para trás e para a frente ao longo do desfiladeiro. Tentara retirar sentido das marcas deixadas na areia pelos pneus, suspeitando que ela estaria a fazer algo mais do que guardar o acesso à clareira; quando mais não fosse para se certificar de que não ficavam encurralados.
Seichan deveria ter-se apercebido da presença deles ou, quando muito, teria feito planos como se assim fosse. Sabia que eles aguardariam até que os outros regressassem à superfície, aproveitando então a oportunidade para os apanhar a descoberto.
Em vez disso, obrigaste-nos a agir, a fazer o teu jogo.
Apesar de lhe ter feito a vontade, enviando Kruger e os seus homens para baixo, Valya não era tonta ao ponto de deixar o perímetro abandonado. Recusava-se a ser ludibriada por aquela traidora e estender-lhe uma passadeira vermelha ao longo do deserto.
Para a ajudar a manter o comando da situação, Valya afastou-se da beira do penhasco e pegou no segundo drone da equipa. Pôs as hélices do Raven a girar e ergueu o braço no ar. Regressou à beira do penhasco e lançou o aparelho. A aeronave de vigilância não tripulada mergulhou durante um segundo, depois as asas de um metro e vinte apanharam uma corrente ascendente e o aparelho começou a ganhar altitude, descrevendo círculos largos enquanto se afastava.
A câmara do Raven seria os seus olhos no céu, permitindo-lhe vigiar tudo o que se passava ao redor daquelas colinas.
O monitor que segurava nas mãos exibia duas imagens em simultâneo. A primeira mostrava um jipe a afastar-se pacientemente ao longo do deserto.
Valya lançara o primeiro Raven no momento em que o Unimog se pusera em fuga. Queria saber se o jipe voltava para trás. Por um breve instante, considerara a hipótese de enviar um dos batedores de Kruger em perseguição numa das motos de que dispunham, mas não queria abdicar de nenhum dos homens.
O objetivo principal continuava a ser a captura de Jane McCabe.
Além disso, o Raven continuava a emitir um sinal de interferência sobre o jipe em fuga, bloqueando quaisquer transmissões de rádio, o que deixava o condutor entregue a si próprio. Seriam necessárias horas até que o rapaz conseguisse pedir auxílio a alguém.
Acocorou-se e deixou-se ficar assim, equilibrada na ponta dos pés, na beira do precipício.
Se os homens de Kruger não fossem capazes de resolver o assunto lá em baixo, e permitissem que os outros retornassem à superfície...
Pegou na espingarda de assalto.
Se isso acontecer, cá estarei à tua espera.
18
3 de junho, 04h09 EDT
Ilha de Ellesmere, Canadá
— Espero que esteja confortável — disse Simon Hartnell.
Painter baixou os olhos para os pulsos algemados. Os tornozelos também haviam sido presos à cadeira de metal onde se encontrava sentado. Era evidente que não faziam tenções de correr riscos com ele. Momentos antes, tinha sido conduzido sob ameaça de arma até àquela pequena biblioteca nas acomodações privadas de Hartnell. Depois de o prenderem à cadeira, os guardas tinham-se retirado. Anton estivera notavelmente ausente durante todo o procedimento, porém, que queria isso dizer?
— Onde está a Kathryn? — perguntou Painter.
— É uma boa pergunta... A última vez que a vimos foi quando o Sno-Cat dela desapareceu na tempestade.
Painter retirou a satisfação possível dessa notícia.
Quer dizer que conseguiu fugir...
— A sua colega causou-nos uma quantidade significativa de danos — disse Hartnell. — Mais do que ela própria pensa.
Essa é a Kat que eu conheço.
— De qualquer forma, trataremos dela assim que seja conveniente. — Hartnell contornou a secretária e encostou-se a ela, como um professor prestes a repreender um aluno. — Acho que nós os dois começámos com o pé esquerdo. Ao que sei, o senhor é um homem de ciência, pelo que eu deveria ter sido mais transparente consigo.
Painter deixou-o falar enquanto estudava a divisão. Uma estação de computador e múltiplos ecrãs ocupavam uma das paredes, mas o resto do espaço encontrava-se rodeado de estantes de mogno recheadas de livros antigos e expositores de vidro iluminados. Os seus olhos fixaram-se por um instante num par de veleiros, dois modelos de madeira detalhados de fragatas do século dezanove.
Hartnell notou o seu interesse.
— Os HMS Terror e Erebus, dois antigos navios de guerra que foram postos ao serviço da exploração científica.
Painter conhecia o nome e a história trágica de cada um daqueles navios.
— Se bem me lembro, os dois veleiros desapareceram no Ártico, enquanto procuravam a Passagem do Noroeste.
— Correto. Em 1896, os dois navios ficaram presos no gelo ao largo da costa da ilha do Rei Guilherme, não muito longe daqui. O destino das tripulações tornou-se um testemunho duradouro de privação, loucura e morte. Todos os homens perderam a vida, incluindo um parente distante meu, John Hartnell, que acompanhou a viagem apenas para acabar numa sepultura rasa ao pé da ilha de Beechey. — Simon abanou pesarosamente a cabeça. — Visitei o local recentemente, para prestar o meu respeito por um jovem tão empreendedor e determinado.
— Existirão sempre homens que tentam alcançar longe demais.
Hartnell ignorou a insinuação velada.
— No caso do John, a sua queda não se deveu à ambição, mas sim ao consumo de carne enlatada. A análise aos restos mortais preservados pelo gelo demonstraram que morreu de envenenamento por chumbo, o que provavelmente o terá levado à loucura, assim como aos outros. — Simon indicou com a cabeça na direção dos veleiros. — Mesmo assim, dou-lhe razão quando olha para a história destes homens como uma lição a retirar, mas não da maneira que pensa.
— Nesse caso, sou todo ouvidos.
— Sabia que, devido ao degelo maciço do Ártico, navios de cruzeiro atravessam neste preciso instante a Passagem do Noroeste, apinhados de passageiros a beberem cocktails e a jantarem em restaurantes finos, navegando despreocupadamente nas mesmas águas que ceifaram a vida aos homens do Terror e do Erebus? — Simon franziu o sobrolho. — Estes turistas vêm até aqui para espreitarem o topo do mundo. Na realidade, vêm testemunhar em primeira mão o fim do planeta.
— Por causa das alterações climáticas? — retorquiu Painter, arqueando uma sobrancelha e imprimindo um tom de dúvida à voz. Talvez fosse o suficiente para lhe arrancar uma reação, levando-o a revelar um pouco mais do que queria. Sabia como esse tópico era uma obsessão para o presidente da Clyffe Energy. — Não acha que poderá estar a ser um pouco dramático, alarmista, até?
— Devíamos estar todos alarmados — disse Hartnell, levantando-se. — O planeta está a aquecer a um ritmo sem precedentes. De acordo com as análises da NASA a amostras de gelo das calotas polares, está a acelerar a uma velocidade nunca vista nos últimos mil anos. Mês após mês, as temperaturas continuam a bater novos máximos. O Kuwait bateu o recorde mundial, com 53 graus Celsius. Em breve, alguns sítios do planeta tornar-se-ão demasiados quentes para serem habitáveis. E estamos já a assistir a fenómenos climatéricos que transcendem as tempestades do século, cuja severidade nunca terá sido observada nos últimos quinhentos anos.
— O tempo é sempre imprevisível — disse Painter, com um simples encolher de ombros.
Hartnell deu a impressão de estar à beira de um ataque.
— Se fosse uma vez sem exemplo, ainda vá! No ano passado, ocorreram oitocentas e cinquenta tempestades violentas nos Estados Unidos da América. Oitocentas! — Bateu com o punho no tampo da secretária. — Não me venha dizer que isso faz parte de um ciclo natural. A NOAA comparou dados com a última vez que a Terra aqueceu exponencialmente, o período imediato à última idade do gelo. O aumento das temperaturas ao longo do último século tem sido dez vezes mais rápido do que isso, vinte vezes mais do que a média histórica. Como tal, não estamos a lidar com um «ciclo», estamos a olhar para uma extinção em massa.
— E o que pensa que pode fazer contra isso? — desdenhou Painter. — Segundo dizem, estamos para lá do ponto de não retorno.
Hartnell endireitou as costas.
— Exato. Vai ser preciso alguém com visão para impedir o que vem por aí, alguém disposto a correr riscos, alguém capaz de orquestrar uma solução com o grau de empenho de um Projeto Manhattan, coisa que os governos mundiais deixaram de ser capazes de fazer. Para ocorrer uma verdadeira mudança, ela terá de vir do setor privado.
— Que é como quem diz, de alguém como o Simon. — Painter fitou o seu oponente. — Diga-me, o que está aqui a fazer, concretamente?
Com o sangue a ferver, Simon pôs as cartas na mesa.
— Vou acabar com o aquecimento global, e oferecer ao mundo uma fonte de energia como nenhuma outra!
— E como se propõe fazer isso?
Hartnell desviou o olhar para um expositor de vidro. Continha um caderno de couro preto.
— Com a ajuda de um velho amigo.
04h17
Lutando contra a raiva que lhe fazia tremer as mãos, Simon Hartnell inseriu a chave na fechadura do expositor. Abriu a porta de vidro e, com cuidado, removeu o volume guardado no interior. Virou-se para o homem algemado sentado à sua frente.
Suspeitava que Painter estaria deliberadamente a tentar provocá-lo, mas tanto lhe fazia.
— Este caderno pertenceu a Nikola Tesla — declarou. — Era o diário dele. Foi confiscado pelo governo dos Estados Unidos da América após a sua morte, embora nunca tivessem conseguido apreciar ou compreender o seu conteúdo.
— Mas o Simon conseguiu, claro.
Hartnell sorriu, recusando ceder a mais provocações. O simples facto de estar a segurar o caderno deixara-o mais calmo.
— Confesso que precisei de trinta anos. E ainda não percebi tudo. O homem conseguia ser bastante críptico quando estava para aí virado. — Contornou a secretária e sentou-se. — Infelizmente, o seu génio também tinha mais de visionário do que de prático. É por isso que o nome de Thomas Edison é conhecido por toda a gente, ao passo que o de Nikola Tesla não passa de uma curiosidade obscura. Edison era um homem do seu tempo... Tesla vivia no futuro.
— E esse futuro é agora, certo? — retorquiu Painter.
Simon deitou-lhe um olhar penetrante, reconhecendo no adversário uma mente mais afiada do que julgava encontrar, sobretudo em alguém que trabalhava para o governo.
— Isso mesmo — anuiu. — Tenciono provar ao mundo o verdadeiro génio de Nikola Tesla.
Painter olhou para lá de Simon:
— Este complexo de antenas que tem aqui... É muito mais do que uma versão melhorada da HAARP, não é?
— Oh, é muito mais do que isso. É a concretização do sonho de Tesla de um mundo sem guerras, de uma fonte de energia inesgotável, barata, e de um planeta saudável, repleto de vida.
— E está convencido de que consegue fazer tudo isso?
— A seu tempo. Estamos a ultimar preparativos para um teste localizado; uma prova de conceito, se preferir, a ter lugar depois de amanhã.
— Que conceito?
— O que sabe acerca do projeto Wardenclyffe de Tesla?
Painter franziu o sobrolho:
— Apenas que foi a sua tentativa falhada de construir uma rede de geradores sem fios. A torre de Wardenclyffe seria a primeira de várias.
— Essa primeira torre seria a prova de conceito, uma forma de mostrar ao mundo que era possível fazer aquilo. Começou a construí-la em 1901, mas o projeto assentava em teorias e testes que recuavam a décadas atrás. Na sua forma mais simples, Tesla sabia que para transmitir energia sem fios iria precisar de um condutor capaz de a carregar ao redor do globo. Investigou duas fontes possíveis: a própria Terra e a atmosfera. Estava convencido de que era possível injetar energia nas camadas mais profundas da terra, a fim de estimular a frequência de ressonância natural do planeta, o que amplificaria essa mesma energia a uma escala global. Em alternativa, podia fazer o mesmo projetando energia para uma camada condutora na atmosfera.
— A ionosfera.
Simon assentiu.
— À época, a própria existência dessa camada não passava de pura especulação, o que apenas viria a mudar a partir de 1925.
— Uma vez mais, Tesla estava à frente do seu tempo.
— Sim, infelizmente. Por causa disso, viu-se obrigado a olhar para o único condutor a que tinha acesso: a Terra. As fundações da torre de Wardenclyffe tinham cem metros de profundidade. Tesla desenhou-a assim para, palavras dele, melhor «se agarrar à terra».
— Mas o projeto falhou.
— Falhou porque ele não tinha a tecnologia para explorar a abordagem mais promissora, a ionosfera. Mais tarde, quando a existência da camada foi dada como provada, ele continuou a trabalhar e, em 1931, anunciou que se encontrava no limiar de descobrir uma nova fonte de energia, uma fonte que, e passo a citar, «provinha de uma origem nova e insuspeita». E que fonte era essa? Tesla nunca chegou a revelá-la aos jornalistas.
Painter notou a excitação nos olhos do outro.
— Mas o Simon descobriu por si mesmo.
Hartnell pousou a mão no caderno de Tesla.
— Está tudo aqui.
Painter endireitou as costas.
— Está a referir-se àquele micróbio elétrico.
Simon não foi capaz de esconder a surpresa.
— Correto — anuiu, de novo impressionado com o adversário. — Em Londres, Tesla fez algumas experiências com um organismo muito perigoso.
— Está a falar do que aconteceu em 1895, no Museu Britânico, quando um grupo de investigadores abriu um artefacto que pertencera a David Livingstone?
Simon inclinou a cadeira para trás, os olhos muito abertos.
O que será que este homem sabe por esta altura?
— Que mais havia nesse caderno? — perguntou Painter.
— Tesla extrapolou uma solução baseada no que aprendera acerca das propriedades do organismo e no que fora descoberto acerca da ionosfera; uma versão tosca, digamos assim, do projeto que construímos aqui. Uma vez mais, a tecnologia e as fontes de energia necessárias para concretizar uma coisa dessas não estavam disponíveis na altura.
— Quer dizer que o Simon agarrou nesse projeto e melhorou-o, construindo esta estação.
— É a minha versão do projeto Wardenclyffe. Uma estação local para testar uma visão global.
— E que visão é essa?
— A mesma de Tesla. Paz mundial, energia barata e ilimitada e um planeta saudável. Não lhe parece um objetivo pelo qual valha a pena lutar?
— Claro que sim, e sou o primeiro a admiti-lo. Como você pretende atingir esse objetivo é que me preocupa.
— Está a falar do recrutamento da doutora Al-Maaz?
— Sequestro e assassínio, ambas as palavras descrevem melhor esse ato.
Simon fez que sim com a cabeça, concedendo nesse ponto.
Painter agitou as algemas.
— E também temos isto.
— Uma tremenda infelicidade. Como tudo o resto, aliás. Nunca quis que as coisas acontecessem desta maneira. É bom de ver que a maioria das mortes pode ser atribuída ao professor McCabe. Ter-se-ia poupado muitas vidas, se ele não tivesse agido de forma tão irresponsável.
— É fácil deitar as culpas em alguém que está morto.
— Sim, mas não se torna menos verdade por causa disso.
O telefone da secretária de Simon tocou. O empresário verificou o número no visor.
Ah...
Fitou Painter e premiu um botão para chamar os guardas que aguardavam no corredor.
— Tenho uns assuntos para resolver. Continuamos esta conversa quando for mais oportuno.
— Espere — disse Painter, agitando-se na cadeira. — Ainda não me disse como tenciona dar corpo à visão de Tesla.
Simon sorriu e ergueu o caderno no ar.
— É melhor que saiba pela boca do próprio. Mas não em sérvio, claro. Vou pedir para lhe entregarem uma cópia traduzida. Depois de o ler, voltamos a falar. Pode ser que nessa altura seja capaz de entender o que está em jogo.
Os guardas entraram e, com um chocalhar de correntes, escoltaram o prisioneiro para fora da divisão. Assim que se viu sozinho, Simon premiu o botão para aceitar a chamada em espera e levantou o auscultador:
— Anton, já tratou dos seus ferimentos?
— Sim, senhor. Vou agora juntar-me às equipas de busca.
— Ótimo. Encontre-os o quanto antes. Precisamos de recuperar os dados roubados no laboratório.
Com a múmia destruída, o mapa topográfico com as tatuagens constituía a melhor hipótese de encontrarem uma forma de dominarem o micróbio mortal. Do que tinha visto da videoconferência entre Rory e Safia nessa noite, os dois pareciam estar prestes a descobrir algo importante.
— Se aquelas duas fizerem mal ao Rory... — rosnou Anton.
— Tenho a certeza de que o rapaz está bem.
Rory e Anton tinham desenvolvido uma amizade «especial» ao longo dos últimos dois anos, algo que Simon permitira e até encorajara — embora para o russo o amor fosse algo estranho e desconfortável. A relação com a irmã era doentia, dependente, unindo o par de uma forma tão marcante quanto a tatuagem que partilhavam. Não era sexual, graças a Deus, mas ainda assim era pouco própria, tanto para um como para o outro. A nova relação de Anton acabara por dar jeito a Simon ao enfraquecer esse laço entre os dois irmãos, tornando Valya mais disponível como operacional por conta própria e, sobretudo, mais implacável.
Nada como uma mulher despeitada, nem que seja pelo próprio irmão.
Nesse momento, porém, os sentimentos de Anton por Rory poderiam tornar-se um empecilho.
— Anton?
— Sim?
— Encontre o disco. Custe o que custar. Entendido?
Fez-se uma longa pausa. Quando Anton voltou a falar, a sua resposta soou firme e determinada.
— Assim seja.
04h32
— Estou? Estou? Conseguem ouv...
Kat sabia que os esforços de Safia eram inúteis. No banco do passageiro do Sno-Cat, continuava a tentar comunicar com a base aérea de Thule com o telefone de satélite, enquanto Kat se mantinha concentrada em combater o terreno traiçoeiro e a tempestade. As rajadas de vento açoitavam a cabina, uivando de frustração por não conseguirem atingi-las, e as bolas de granizo, lembrando pequenos seixos, esmagavam-se de ambos os lados.
Por essa altura, teriam já cruzado a fronteira do Parque Nacional de Quttinirpaaq, embora Kat não pudesse ter a certeza sem o auxílio do GPS.
Safia pousou o telefone e olhou para as montanhas adiante.
— Talvez conseguíssemos um sinal lá em cima.
— Não faria diferença — retorquiu Kat, semicerrando os olhos e debruçando-se por cima do volante.
Os faróis do Sno-Cat iluminavam pouco mais de meia dúzia de metros através de manto de escuridão e neve. Avançavam ao longo de um rio congelado, o gelo derretido ou quebrado a espaços, revelando as águas azuis a correrem abaixo. Picos negros irregulares delimitavam o vale, aparecendo e desaparecendo na tempestade.
— Nesse caso, pode ser que o tempo melhore — insistiu Safia.
Kat olhou para as nuvens negras acima.
— O problema não é o tempo. A tempestade que está a cortar-nos o sinal é outra, uma perturbação temporária da magnetosfera causada por uma erupção solar recente. Até as coisas acalmarem, não vamos conseguir comunicar com o satélite.
— Ela tem razão — disse Rory, no banco traseiro. — E deve durar mais um dia ou dois.
Kat desviou os olhos para o retrovisor. Fizera uma breve paragem para lhe amarrar as mãos atrás das costas, com uma corda que encontrara na traseira do Sno-Cat. Também lhe prendera a cintura com os cintos de segurança, pelo que Rory não sairia dali tão depressa.
Apercebendo-se de que Kat estava a olhar para ele pelo retrovisor, Rory baixou a cabeça.
Kat recordou a verdadeira preocupação que ele demonstrara momentos antes por Safia, mas também se lembrava do medo que lhe transparecera na voz, quando se deparara com o sangue derramado de Anton. Kat suspeitava que os dois homens haviam desenvolvido uma ligação mais profunda do que davam a entender.
No comando da Sigma, Kat examinara o cadastro de Anton Mikhailov, do tempo em que era um adolescente de dezasseis anos. Os crimes imputados incluíam «roubo simples» e «conduta imoral».
Nessa altura, a homossexualidade ainda era considerada um crime na Rússia.
Kat também se lembrava da análise que fizera ao desaparecimento do professor McCabe, dois anos antes. Havia relatórios que mencionavam tensões entre o pai e o filho, episódios de discussões. A própria Jane confirmara-o, atribuindo essas animosidades ocasionais à necessidade de afirmação do irmão perante um pai dominador.
Kat não duvidava de que isso fosse em parte verdade.
Mas talvez não fosse a única razão.
Será que o professor McCabe sabia da orientação sexual do filho e nunca a aceitara... ou será que Rory a escondera todos esses anos, clivando um fosso de ressentimento entre pai e filho?
Rory tinha algumas explicações a dar, mas aquele não era o momen...
— Kat! — gritou Safia, agarrando-lhe no braço.
Kat olhou em frente. Os faróis iluminaram o recorte de uma figura maciça, alguns metros adiante. A silhueta negra e peluda encontrava-se parada junto ao rio, com a cabeça baixa, a beber água numa fenda no gelo.
Era um boi-almiscarado.
Kat guinou o volante para evitar a colisão, mas o único trajeto disponível obrigava a atravessar uma secção gelada do rio. As lagartas trilharam a superfície do gelo. Kat encolheu-se a cada estalejar e rangido, mas conseguiram chegar à outra margem e seguiram caminho.
— Desculpem, esta foi por pouco — disse Kat, limpando as gotas de suor sobre as sobrancelhas.
Nitidamente, o terreno e a tempestade não estavam ali para serem ignorados.
— Precisas de dormir — disse Safia, calmamente.
Pois preciso...
— Depois de chegarmos a Alert.
Esse era o plano. O posto avançado canadiano situava-se no extremo mais afastado do Parque Nacional de Quttinirpaaq, onde o Exército mantinha uma guarnição e uma estação meteorológica. Infelizmente, Quttinirpaaq era o segundo maior parque natural do Canadá, o que implicava terem de atravessar duzentos e quarenta quilómetros de natureza selvagem até se encontrarem em segurança.
Era uma viagem que duraria horas, um dia inteiro, se calhar.
Isto se não formos caçados pelo caminho.
Deu a conhecer essa preocupação a Rory.
— A Estação Aurora dispõe de que tipo de veículos de perseguição?
Rory encolheu os ombros:
— Carros e motos de neve. Mas costumam ser usados para fins recreativos. A Estação Aurora é uma instalação científica, não uma base militar.
Kat era obrigada a dar-lhe razão nesse ponto. Provavelmente não teriam conseguido fugir se assim não fosse. Isolada como era, o terreno hostil ao redor da estação oferecia segurança suficiente contra a maioria das ameaças.
— Volta e meia, alguns homens utilizam os Cessnas para caçar — prosseguiu Rory, franzindo o sobrolho. — Não é a atitude mais desportiva do mundo, mas dá para aliviar o stresse.
Kat estudou o céu. A tempestade trouxera uma pequena bênção, já que impedia os pequenos aviões de voarem. Porém, nem a ideia de tais caçadores se comparava à maior preocupação que lhe ocupava o pensamento. No lugar do passageiro, Safia mantinha o telefone de satélite apertado contra o peito. Kat pedira-lhe que continuasse a tentar contactar a base de Thule. Embora houvesse uma ínfima possibilidade de que a tempestade geomagnética lhes permitisse comunicar com o coronel Wycroft, Kat atribuíra a tarefa a Safia para a manter distraída.
Enquanto fitava a paisagem, Safia passou os dedos por uma das bochechas. Kat compreendia o receio por trás desse gesto e visualizou o rasgão no fato de biossegurança, o salpico de detritos contaminados. Tinham reagido rápido, mas será que o duche químico teria sido o suficiente para evitar o contágio?
Kat abstivera-se de partilhar as conclusões da doutora Kano acerca da progressão da doença, de como bastavam duas horas para as partículas infeciosas se alojarem no cérebro depois de inaladas.
Será que a nossa tentativa de resgate se transformou numa sentença de morte?
O sistema de ventilação do Sno-Cat arfou ruidosamente, lembrando o peito de uma pessoa asmática. Enviava ar quente para o interior da cabina selada, um lembrete constante de que a vida de Safia não era a única em risco.
Sem aviso, o motor soluçou, sacudindo o veículo. Kat embateu contra o volante, mas a máquina recuperou do engasgo e retomou a marcha. Kat suspirou de alívio, embora essa fosse outra das suas preocupações. Calculava que os Sno-Cats fossem sobretudo utilizados para tarefas menores ao redor da estação, e receava que a manutenção dos veículos não fosse a suficiente para que estes aguentassem uma travessia daquelas.
Como se estivessem todos a pensar o mesmo, deixaram-se ficar em silêncio. Passado um bom bocado, um novo barulho elevou-se acima dos seus receios.
Cada vez mais forte, lembrava o troar de uma cascata ou de uma avalancha.
Então, de repente, um conjunto de formas negras irrompeu da escuridão atrás deles e contornou o Sno-Cat por ambos os lados, convergindo mais à frente no feixe luminoso dos faróis. O instante tumultuoso fez-se acompanhar de mugidos lúgubres e aflitos.
Era uma manada de caribus, centenas de cabeças, contornando o Sno-Cat como a água de um rio ao redor de uma pedra. Logo a seguir, tão depressa como tinham surgido, os animais voltaram a desaparecer na tempestade.
Safia olhou por cima do ombro para espreitar pela janela traseira.
— Que terá assustado os animais?
Kat tinha as suas suspeitas e levantou os olhos para o espelho retrovisor, procurando um vislumbre de faróis. Pisou o acelerador, em perseguição da manada fantasmagórica, consciente daquele aviso.
Encontraram-nos.
04h38
No interior da cela, Painter massajou os pulsos doridos enquanto caminhava de um lado para o outro. Os guardas tinham-lhe retirado as algemas e tinham-no despido dos pés à cabeça, antes de lhe entregarem um macacão cinzento. Não lhe deram sapatos, mas isso era o menor dos seus problemas.
A preocupação parecia capaz de lhe abrir um buraco no estômago... Por Kat, por Safia.
Aquela era a antiga cela de Safia e o cheiro dela ainda permanecia no ar, um aroma ténue de jasmim que lhe recordava o passado comum que haviam partilhado entre as areias do deserto e oásis verdes. Também o recordava vividamente dos perigos que subsistiam pela frente.
Ainda que as duas tivessem conseguido escapar, levando Rory com elas, Painter interrogava-se se conseguiriam manter-se fora do alcance dos perseguidores durante muito mais tempo. Apesar da cordialidade de Simon Hartnell, aquele era o tipo de homem que não olharia a meios até as recapturar.
Um raspar metálico despertou-o dos seus pensamentos.
Que foi agora?
A portinhola na base da porta abriu-se e alguém lançou qualquer coisa para o interior da cela. O objeto deslizou pelo chão até se deter junto dos seus pés descalços. Painter agachou-se para o apanhar e a portinhola fechou-se outra vez.
Era um maço de folhas de papel agrafadas. Painter folheou as páginas, notando as várias secções de texto e gráficos rasurados com faixas pretas.
Intrigado, atravessou a divisão e sentou-se à secretária.
Sabia o que aquilo deveria ser.
Uma cópia traduzida do diário de Tesla.
Pelo menos nesse aspeto, Hartnell mostrara ser um homem de palavra, porém, a avaliar pela quantidade de secções rasuradas, o adversário não tencionava abrir completamente o jogo.
Não faz mal, contento-me com o que for.
Para Painter, aquilo significava que Hartnell ansiava ser compreendido, respeitado até, pelo seu brilhantismo e iniciativa. Ou talvez necessitasse apenas de uma audiência entusiástica para o que vinha a seguir; nem que tivesse de educar uma pessoa para assumir esse papel.
Painter estava mais do que satisfeito em fazer-lhe a vontade.
Até aplaudo de pé, se for preciso.
Ainda assim, Painter sabia que Simon não era nenhum idiota. Bastava-lhe olhar pela janela e ver o que o homem tinha construído debaixo do nariz da DARPA — com o próprio dinheiro da DARPA, aliás. Sabia que nunca poderia cometer o erro de subestimar aquele homem.
Desviou os olhos para as páginas agrafadas.
Se me deu isto, é porque quer qualquer coisa de mim.
Assim seja.
Virou a primeira página e começou a ler.
À medida que a história se desenrolava, uma certeza fria cresceu dentro de si.
Isto não vai acabar bem para ninguém...
19
3 de junho, 10h22 EAT
Deserto sudanês
Na barriga do deus de pedra, Gray ouviu o rugido abafado da moto de Seichan desaparecer atrás de si. Rezou para que ela encontrasse uma saída mais adiante. Se assim não fosse, restar-lhe-ia esconder-se algures com Jane, confiando a Gray e aos outros a tarefa de as manter em segurança.
Kowalsky desceu da arcada que conduzia ao estômago e ergueu um polegar no ar. Tinha acabado de preparar uma surpresa para os adversários, caso decidissem usar o caminho do esófago para o abdómen. A única outra entrada para aquela secção do deus adormecido era pelo diafragma.
Gray e os outros montaram a linha de defesa nesse lado, guardando esse ponto estratégico. Constituía a melhor posição defensiva. As dimensões da abertura apenas permitiam a passagem a uma pessoa de cada vez. Abrigando-se atrás de uma dobra do duodeno, Gray fixou a mira da SIG Sauer nessa direção, desejando dispor de mais poder de fogo.
À sua direita, Derek agachara-se atrás de uma pilha de escombros resultante da queda de um pedaço de anatomia. Mantinha um olhar preocupado na direção do teto, como se receasse uma nova derrocada a qualquer instante. Segurava uma pistola suplente, uma Beretta 96A1, e jurara saber manejar uma arma de fogo. Afirmara que se tratava de uma competência necessária como arqueólogo, já que trabalhava frequentemente em países devastados pela guerra ou em regiões sob o poder de militantes rebeldes.
Kowalski oferecera-lhe a sua própria sugestão para um complemento de defesa pessoal e perguntara-lhe se alguma vez contemplara comprar um chicote.
Nesse momento, porém, qualquer arma adicional seria bem-vinda aos olhos de Gray.
Kowalski tomou posição atrás de uma protuberância do estômago, mantendo-se junto da abertura em caso de qualquer incursão vinda daquele lado. Segurava a sua Piezer ao ombro, carregada de cartuchos de cristais piezoelétricos, pronto para oferecer uma saudação chocante ao primeiro visitante indesejado que lhe surgisse à frente. Entalada no cinto das calças, tinha ainda uma pistola Desert Eagle, calibre .50.
Deixaram-se ficar os três em silêncio, atentos a qualquer sinal do inimigo.
Tinham desligado as luzes dos capacetes, a fim de se manterem a coberto da escuridão. A única fonte de luz provinha do capacete de Seichan. Gray confiscara-o antes de ela partir e pusera-o no chão, com o feixe apontado para a abertura.
Não conseguia detetar nenhum movimento para lá do foco da lanterna, mas podia jurar que ouvia ruídos suspeitos: um deslizar de pedrinhas, um esgaçar de tecido, um ranger de couro. Se os ouvidos não estivessem a pregar-lhe uma partida, havia alguém na outra divisão, movendo-se às escuras, provavelmente com o auxílio de óculos de visão noturna.
Então, foi como se tudo acontecesse ao mesmo tempo.
O disparo de uma espingarda desfez a lanterna e o capacete em pedaços, mergulhando a câmara em escuridão.
Ao mesmo tempo, uma forte explosão e um brilho intenso irromperam do interior da passagem, iluminando o estômago. Alguém tropeçara no fio estendido por Kowalski no interior do esófago, ativando um par de granadas de atordoamento.
Desviando o rosto do clarão, Kowalski apontou a Piezer para a abertura e disparou às cegas. Os cristais azuis piezoelétricos explodiram no interior do estômago, ricocheteando nas paredes e deslumbrando por direito próprio, enquanto o fulgor das granadas se desvanecia.
Gray aproveitou a oportunidade para lançar uma granada de fumo para o túnel através do diafragma. Esta rebentou no limiar da passagem, preenchendo o espaço com uma nuvem espessa. Derek disparou através do fumo, a fim de desencorajar qualquer aproximação.
Com a vista para o abdómen momentaneamente obstruída, Gray retirou o capacete, ligou a lanterna e pousou-a no chão.
— Recuem para a segunda posição! — gritou para os outros.
Derek recuou com Gray, mas Kowalski fez uma última investida no estômago, dessa vez empunhando a Desert Eagle. Apontou a pistola e disparou uma única vez, provavelmente despachando alguém atordoado no interior. Quando voltou a sair, arrastava qualquer coisa consigo.
— Isto é capaz de nos dar jeito! — disse, assim que se juntou aos outros.
O prémio que reclamara era o tubo negro de um RPG-7, um lança-granadas de fabrico russo, juntamente com duas munições.
Gray virou-se para a parede que formava o diafragma, adivinhando o pior.
Se tinham um lança-granadas, é provável que tenham out...
Uma explosão ensurdecedora fez tremer as fundações do próprio mundo. A abertura no diafragma explodiu em todas as direções, abrindo rachas profundas ao longo da parede que divida as duas cavidades. Pedaços maciços de pedra começaram a cair, forçando Gray e os outros a recuarem ainda mais. Um dos pedaços atingiu o estômago, esmagando-o.
Figuras negras correram agachadas e espalharam-se em várias direções, aparecendo e desaparecendo de vista no meio da nuvem de pó e fumo.
Uma nova ronda de disparos projetou uma chuva cerrada de chumbo quente.
Uma das balas atingiu o capacete abandonado, despedaçando a lanterna.
A escuridão caiu como um manto negro.
Derek encolheu-se ao lado de Gray, reconhecendo o desespero da situação.
— E agora, o que fazemos?
10h29
Seichan inclinou-se instintivamente sobre o guiador, balançando a moto enquanto as ondas de choque das explosões faziam tremer tudo à sua volta. Nas suas costas, lutando para se segurar, os braços de Jane espremeram-lhe o ar dos pulmões. Apertou os travões, rodou o corpo e olhou para trás.
Gray...
— Que está a acontecer? — murmurou Jane, olhando também por cima do ombro.
— Indigestão — rosnou Seichan, virando-se de novo para a frente. — Começou a guerra lá atrás, o que significa que está na hora de nos pormos a andar.
Enrolou o punho e atacou a última secção do túnel. Depois das curvas vertiginosas que as tinham trazido até ali, o resto do caminho parecia ser um tiro a direito.
— Não deve faltar muito — disse Jane. — Acho que estamos já no intestino grosso, na parte descendente do cólon.
Momentos antes, a jovem arqueóloga descrevera o trajeto ao longo do intestino delgado como meramente «representativo». A passagem retorcida tinha-se revelado apenas ligeiramente mais estreita do que aquela onde se encontravam nesse momento. A rota também não coincidia com a escultura pormenorizada do trato intestinal visto de fora. Em vez disso, a passagem interior não era mais do que um túnel concêntrico através de um bloco de arenito do tamanho de um campo de futebol, cujo exterior fora esculpido para parecer mais convoluto do que realmente era.
Seichan continuou a seguir o feixe luminoso dos faróis pela passagem, mas os ouvidos mantinham-se atentos ao que se passava no exterior. As explosões maiores haviam diminuído de frequência, mas os estampidos recorrentes davam conta de um tiroteio ainda em curso.
— Parece mais estreito ali à frente — disse Jane, apontando. — Acho que é o esfíncter. A saída deve surgir a qualquer momento.
Já não era sem tempo, pensou Seichan, acelerando.
Quanto mais depressa saíssem dali, mais depressa poderiam atrair o inimigo para fora do sistema cavernoso, dando por terminado o tiroteio. Gray e os outros tinham arriscado a vida para lhes permitirem a fuga.
É a minha obrigação retribuir-lhes o favor.
Mais adiante, na parte onde estreitava, o túnel apresentava uma última descida. Assim que lá chegaram, o farol iluminou uma pilha de rocha e areia a bloquear a saída.
— Merda! — exclamou Jane, entre dentes.
Seichan apertou os travões com força, imobilizando a moto.
— Neste caso, ainda bem que é só «representativo».
10h32
Com os ouvidos a zunirem, Derek rastejou pelo chão. Gray e Kowalski seguiram atrás, disparando às cegas para a escuridão.
Nesse momento, a única luz disponível provinha do capacete abandonado de Derek. Gray posicionara-o junto a uma rocha, metros atrás, fora da linha de fogo. Servia-lhes de pouco no que tocava a revelar a posição do inimigo, mas o brilho pálido iluminava o suficiente para poderem continuar a recuar para as profundezas do abdómen do deus de pedra.
— Estamos a ficar sem alternativas para nos escondermos — disse Kowalski.
Tinha razão.
Num dos lados, erguia-se a gigantesca massa intestinal; no outro, a parede abdominal descrevia uma curva em direção à coluna vertebral que atravessava o teto. Passo a passo, estavam a ser empurrados para o fundo da barriga, onde acabariam encurralados.
Kowalski disparou a sua arma, sobressaltando Derek.
Um par de figuras negras dividiu-se mais à frente, como se fossem espectros, desaparecendo cada qual para o seu lado.
— Aqui deve ser o suficiente — anunciou Gray.
Suficiente para quê?
Gray ergueu o lança-granadas.
— Deixem-se ficar atrás de mim.
— É bom que acertes — avisou Kowalski —, só nos resta uma granada.
Derek ia saltando dos sapatos quando Gray premiu o gatilho. O tubo expeliu um jato de chamas, e uma espiral de fumo branco projetou a munição ao longo da caverna. Porém, em vez de tentar atingir diretamente o inimigo, Gray apontara para cima, para o teto.
Oh, não...
Gray fê-los recuar mais um pouco.
— Vamos! Não parem!
A bola de fogo iluminou o verdadeiro alvo. O pesado rim, mais ou menos do tamanho de um autocarro, soltou-se da curvatura superior da parede, arrastando consigo uma secção do teto. Virou-se ligeiramente em pleno ar, para depois se esmagar, com estrondo, no espaço que os separava do inimigo, seguido de uma chuva de detritos.
O capacete abandonado de Derek foi atingido e apagou-se como uma vela.
Gray alcançou uma lanterna suplente e apontou o foco para a pilha de escombros.
Kowalski deu-lhe uma palmada nas costas.
— Pronto, já não passa mais ninguém!
Incluindo nós, pensou Derek. Pelo menos, até a poeira assentar.
Infelizmente, essa avaliação depressa se tornou improvável.
Em vez de abrandar, a queda de pedras aumentou de intensidade. Acompanhada de um tremor capaz de abanar as fundações da terra, uma larga secção do teto de arenito cedeu. Caiu como se fosse a mão de Deus, esmagando metade da massa intestinal. Uma nuvem compacta de areia e pó avançou sobre eles, ameaçando sufocá-los, caso não estivessem a usar as máscaras.
Gray apressou os companheiros.
— Não sobrará pedra sobre pedra.
10h35
Atordoada, Jane levantou-se do chão.
Momentos antes, estava a examinar a pilha de escombros que bloqueava a saída; logo a seguir, sem saber como, deu consigo deitada ao comprido. Seichan fora também arremessada contra a curva do túnel, acabando entalada entre a Suzuki e a parede. Fez força e pôs-se de pé, endireitando a moto tombada.
As duas olharam para a outra ponta do túnel. Horrorizadas, só tiveram tempo de ver a nuvem de pó enrolar-se ao longo do cólon e avançar para elas.
— Temos de sair daqui! — disse Seichan. — Já!
Uma sucessão de abanões e novos colapsos consubstanciaram essa afirmação.
Jane tossiu, engolindo uma golfada de pó. Só então notou que o filtro da sua máscara se danificara na queda.
Praguejando, arrancou-a da cabeça e deitou-a fora.
Seichan levou as mãos à própria máscara, nitidamente com intenções de oferecê-la a Jane.
— Não! — disse Jane. — Não vale a pena pormo-nos as duas em risco.
Seichan duvidava que houvesse risco de contágio naquela zona tão remota das entranhas do deus de pedra, mas não valia a pena arriscar.
Em vez disso, concentrou-se no perigo mais imediato.
— Isto é tão falso como tudo o resto — disse Jane, passando a mão sobre a pilha de escombros.
— Como assim?
— Foi feito para parecer uma derrocada natural, porém, se olharmos com atenção... — Jane deu uma palmada na rocha e arranhou a areia. — Percebemos que é uma escultura, à semelhança de tudo o que vimos.
Seichan encolheu os ombros, parecendo conformada com a situação.
— Falso ou não, continua a ser um beco sem saída.
Jane abanou a cabeça.
— Não. O Derek tinha razão, os povos antigos tinham o hábito de esconderem vias de fuga nos seus locais de culto.
Jane passou os dedos sobre a superfície da parede adjacente, examinando-a.
Seichan desmontou da Suzuki e estudou a parede oposta.
Os dedos de Jane descobriram um recorte na rocha.
— Aqui! — disse, seguindo o contorno do que aparentava ser uma porta quadrada. — Ajude-me!
Num esforço conjunto, encostaram os ombros contra um dos lados da porta e empurraram. A secção de pedra começou a mover-se com um som áspero. Encorajadas, empurraram com mais força. A porta girou sobre um apoio central, abrindo-se com mais facilidade do que seria de esperar.
Com o caminho livre, Jane limpou as mãos às calças.
— O meu pai devia saber da existência desta saída, não é o tipo de coisa que lhe escapasse.
Por um instante, uma pontada de mágoa imobilizou-a.
Seichan virou-se e começou a empurrar a moto para a saída.
— Temos de ir.
Jane anuiu com a cabeça e ajudou-a a transpor a Suzuki pela abertura, que conduzia a um pequeno túnel. A luz do dia inundava a passagem, incitando-as a apressar o passo. A saída encontrava-se abrigada por um penedo, que ajudava a esconder a sua localização, mais ou menos a meio de uma ravina. Um trilho íngreme conduzia até lá abaixo, cercado por duas colinas. As duas formas arredondadas não tinham sido esculpidas por outra coisa que não fosse o vento, porém, a soma das duas silhuetas lembrava uma parte inconfundível da anatomia humana, sobretudo tendo em conta o sítio por onde tinham escapado.
Começaram a descer a ravina.
Seichan levava a moto segura pelo guiador, mas o seu olhar mantinha-se preso no que deixava para trás.
Jane conseguia ler-lhe o pensamento.
Os outros continuavam presos no interior.
10h40
Gray recuou com Kowalski e Derek, procurando escapar à derrocada, mergulhando mais fundo no interior do deus moribundo. A culpa dilacerou-o. Toda aquela destruição fora causada pelo disparo mal calculado do lança-granadas.
Por essa altura, a secção média da caverna colapsara inteira sobre si própria, esmagando-se numa pilha de escombros. O rasto de destruição continuava a alastrar-se às secções contíguas, numa reação em cadeia. O pó denso da rocha preenchia e obscurecia o ar, tornando a visão ainda mais difícil.
— Tem de haver outra saída! — disse Kowalski, alternando o olhar entre os outros dois, como se procurasse o apoio dos companheiros.
Gray apontou para as ruínas do trato intestinal, rezando para que Seichan e Jane tivessem escapado a tempo.
— Não podemos sair por ali... — Virou-se e indicou na direção contrária. — E também não podemos regressar por onde viemos.
— E que tal outra opção? — Kowalski virou-se para Derek, cujo rosto exibia uma expressão aturdida, quase catatónica. — Disse-nos que estes tipos costumavam construir uma carrada de túneis secretos e o diabo a sete, não foi?
Derek encolheu os ombros.
— Neste caso concreto, tem tudo que ver com a anatomia. Nós entrámos pela boca... a única saída lógica é pelo outro lado.
Kowalski cerrou os punhos, forçando-se a pensar.
— Que eu saiba, temos mais buracos — disse, apontando abaixo da linha da cintura. — E o nosso fiel amigo?
Gray fitou o companheiro, percebendo que ele poderia estar certo.
— Será possível? — perguntou a Derek, deitando um olhar de relance na direção do abdómen. — Será que podemos sair pela bexiga?
Derek estacou, franzindo a testa.
— Pela uretra? Não. — Deitou um olhar determinado a Gray. — Mas acho que sei como vamos sair daqui — acrescentou.
10h44
Até que enfim...
Valya sorriu, notando o fino rasto de poeira deslocando-se a uns quatrocentos metros de distância.
Apesar dos vinte minutos de tremores de terra, explosões abafadas e fumo que escapava pela boca do sistema cavernoso, mantivera-se de atalaia no topo do penhasco. Sem qualquer sinal da equipa de Kruger, podia apenas imaginar a batalha que se desenrolava lá em baixo.
Ainda assim, pelo que lhe era dado a ver, os homens pareciam ter sido bem-sucedidos na sua missão de expulsarem a lebre para fora da toca.
A fim de confirmar o que já suspeitava, desviou a atenção para a unidade de comando do Raven que ainda patrulhava os céus, apontando-o na direção do rasto de poeira, para manter contacto visual com esse alvo.
Agachado junto ao monitor, estudou a estonteante vista área das colinas proporcionada pela câmara do drone, enquanto o aparelho acompanhava a trajetória de uma pequena moto a acelerar pelo deserto. Deslocava-se em linha reta, afastando-se das colinas e mantendo o rumo em direção ao distante rio Nilo, transportando dois passageiros. As pontas de um lenço ondulavam ao redor do pescoço do condutor, semiescondendo-lhe o rosto.
Cerrou os maxilares, reconhecendo aquela bandeira em particular.
Seichan...
Mesmo assim, a desconfiança impediu-a de tomar decisões precipitadas. Aquilo podia ser outra manobra de diversão. A traidora poderia estar a tentar arrancá-la do seu posto, levando-a a perseguir um engodo. Manobrou o drone, fazendo-o descrever um círculo mais apertado e retirar o máximo proveito da capacidade ótica da objetiva que equipava a câmara do aparelho.
Precisava de confirmar a identidade do passageiro.
A tarefa revelou-se difícil, já que a figura sentada na traseira da moto usava um capacete de mineiro e mantinha o peito e o rosto colado às costas de Seichan, para se proteger da areia soprada pelo vento e do sol escaldante.
Valya inclinou o Raven, fazendo-o descer mais um pouco, procurando o ângulo certo. Então, sem que nada o fizesse prever, o passageiro endireitou as costas, como que alertado pela passagem da sombra do aparelho.
Valya praguejou e sacudiu o manípulo do comando remoto, mas era demasiado tarde.
Fora enganada.
Pelo monitor, Valya viu o passageiro rodar o corpo no assento e olhar diretamente para a objetiva.
Era Seichan.
Erguendo uma pistola com as duas mãos, a traidora fez pontaria ao drone. No ecrã, os olhos negros de Seichan fitaram-na, como se soubesse quem se encontrava do outro lado a observá-la.
O cano da arma lampejou uma única vez, e a imagem desapareceu.
Valya atirou o monitor para o chão e pôs-se de pé. Deu três passos firmes na direção da beira do precipício, observando o rasto de poeira à distância. Apesar de não ter conseguido a confirmação que desejava, confiava no seu instinto.
Era Jane McCabe quem conduzia aquela moto, com o rosto coberto pelo lenço de Seichan.
Deu meia-volta e montou-se na sua própria moto, uma Ducati 1080s, devidamente afinada para o deserto e equipada com pneus de areia. Era uma autêntica pantera comparada com o coelhinho em que seguiam os alvos. Em terreno aberto, não havia um único buraco onde se pudessem esconder.
Fez um compasso de espera para pegar de novo na unidade de comando dos Raven e transmitir novas coordenadas ao aparelho que acompanhava o progresso do Unimog, enviando-o em perseguição da moto em fuga. Dessa vez, iria mantê-lo num plano de voo de alta altitude, certificando-se de que poderia continuar a contar com os seus olhos no céu até que pudesse encurtar a distância entre si e os alvos.
Não é que precise de me aproximar muito.
Agarrou na metralhadora de assalto, uma AK74M de fabrico russo, com lança-granadas incorporado, e pô-la às costas.
Injetando o motor, deu início à caçada.
10h51
Perplexo, Gray seguiu Derek até às profundezas do abdómen.
— Para onde vamos?
— Não deve faltar muito, se eu estiver certo.
Kowalski seguiu-lhes os passos, olhando frequentemente por cima do ombro e estremecendo a cada novo impacte de uma derrocada. A caverna atrás deles diminuía a olhos vistos, à medida que a estrutura implodia. Por outras palavras, estavam a ser lentamente empurrados por uma avalancha de pedra e areia.
Ao redor, as paredes e o teto apertavam-se a cada passo, enquanto o chão ia subindo debaixo dos seus pés. Encontravam-se na parte posterior da barriga.
— Ali — disse Derek, apontando por fim. — Aquilo deve ser a bexiga.
Aos olhos de Gray, o órgão lembrava um balão vazio, meio esmagado pela massa do trato intestinal.
— Pensei que não podíamos sair pelo aparelho urinário.
Derek continuou a avançar em direção à bexiga.
— Lembram-se de, junto à entrada, ter dito que havia qualquer coisa de errado na inscrição com o nome de Tutu?
Gray visualizou as duas filas de hieróglifos. A última terminava com uma figura ajoelhada.
— Disse-nos que representava uma mulher, em vez de um homem.
— Estivemos enganados este tempo todo — explicou Derek. — Isto não é o corpo de um deus chamado Tutu, mas, sim, de uma deusa.
Ergueu um braço na direção de uma protuberância arredondada, que se encontrava a esmagar a outra metade da bexiga achatada.
— E isto é o seu útero.
Gray endireitou o pescoço e estudou a massa do útero. Lembrou-se das gravuras delicadas que decoravam o interior do coração de pedra, todas aquelas borboletas esvoaçantes. Decididamente, havia ali um toque feminino.
— Como chegou a esta conclusão?
Derek olhou por cima do ombro.
— Não foi assim tão difícil. Lembram-se da pilha de escombros onde me escondi da primeira vez?
Gray assentiu. Fazia parte de algo que se soltara do teto, desfazendo-se em pedaços. Derek passara um bom bocado a tentar localizar a fonte da derrocada. Gray ficara convencido de que o jovem arqueólogo receava que lhe caísse mais qualquer coisa em cima.
Em vez disso, estivera a observar aquela parte específica da anatomia.
— A parte que caiu era um ovário — disse Derek. — Percebi de onde se tinha soltado, antes de vir cair ao pé de mim, e consegui distinguir o resto das trompas de Falópio talhadas na parede, desvanecendo-se na escuridão.
Até aqui..., pensou Gray, virando-se para o útero da deusa.
— Se houver outra saída, de certeza que passa por aqui... — prosseguiu Derek — Como se fosse um ato simbólico do nascimento.
Gray ajustou o foco da lanterna e iluminou a vastidão do útero de pedra, acima da bexiga. Uma sombra manchava a superfície.
— Uma porta!
Um potente estrondo fez todos sobressaltar-se. Uma enorme secção do teto descaiu para o lado direito de onde se encontravam, arrastando consigo uma boa porção da coluna vertebral e partindo as costas da deusa. Caiu na parte mais afastada da câmara, originando uma nova avalancha de rochas.
— Mexam-se! — gritou Gray.
Treparam a borda da bexiga, mais ou menos da altura do ombro, sob uma chuva cerrada de areia e pedras. A lanterna de Gray iluminou o caminho até à porta. Para lá da abertura, havia de facto uma enorme cavidade. Entraram rapidamente, a fim de escaparem à destruição em marcha.
Uma vez abrigados no interior do útero, o mundo tornou-se mais silencioso, o ar mais límpido. Talvez fosse apenas sugestão, mas Gray sentiu-se invadido por um sentimento de reverência, como se tivesse entrado numa catedral.
Ergueu o foco da lanterna. Tal como no coração e no estômago, as paredes e o teto encontravam-se decorados com gravuras. Crianças, ou querubins, dançavam por toda a parte, quase como se voassem.
Derek reparou numa visão mais sinistra.
— Vejam o chão...
Gray apontou a lanterna para baixo. O chão encontrava-se igualmente coberto de crianças, porém, a julgar pelas formas contorcidas dos corpos, pareciam estar mortas ou em sofrimento.
Atordoado, Derek levou uma mão à boca, mas a máscara impediu o gesto.
— É uma representação da décima praga... — murmurou. — As figuras no chão são rapazes; as das paredes são raparigas.
Gray percebeu que ele tinha razão.
Neste sítio, tudo é uma lição.
Kowalski tinha os seus próprios dois vinténs de sabedoria para partilhar com os outros. Começou a empurrá-los para as profundezas do útero, notando a crescente acumulação de detritos no limiar da porta
— É melhor irmos andando ou vamos acabar por fazer parte da decoração!
Avançaram de costas curvadas, conforme o espaço afunilava em direção ao colo do útero. Viram-se obrigados a gatinhar para poder atravessá-lo, porém, assim que se encontraram no outro lado, podiam voltar a caminhar erguidos. Gray apontou a lanterna ao longo da extensão muscular da última secção do túnel, representando o canal de nascimento. O feixe iluminou uma pilha de escombros a bloquear a saída.
— Pronto, tinha de nos calhar uma virgem... — comentou Kowalski.
Derek tocou no braço de Gray.
— Desligue a lanterna.
Gray fez o que lhe foi pedido. A escuridão caiu sobre eles, porém, enquanto os olhos se ajustavam à negritude, foi reparando nos vários pontinhos de luz que trespassavam os escombros.
— Esta derrocada é recente — disse Derek. — Talvez consigamos remover algumas das pedras, de maneira...
Uma tremenda explosão cortou-lhe as palavras, abanando toda a estrutura e lançando uma nuvem de pó e areia para o interior do túnel.
Gray ouviu o estrondo de uma nova derrocada junto à saída, compactando ainda mais a pilha de escombros.
— Não temos tempo para isso.
Deu meia-volta e fez recuar os outros de volta para o colo do útero. Uma vez no lado de lá, agarrou no lança-granadas o carregou o último projétil.
— Tapem os ouvidos e abram a boca!
Deitando-se de barriga, apontou a arma através do cérvix e disparou.
A explosão e a bola de fogo sobrecarregaram-lhe os sentidos, cegando-o e ensurdecendo-o momentaneamente. Uma chuva de pedras caiu sobre os seus ombros e cabeça. Logo a seguir, sentiu alguém a puxar-lhe a perna.
Palavras ténues chegaram-lhe aos ouvidos.
— Corre! Rápido!
Levantou a cabeça enquanto recuperava a visão, apenas para se deparar com um brilho intenso, que lhe fazia doer os olhos.
O sol...
Ato contínuo, formas negras começaram a cair através da claridade que lhe chegava da outra ponta do túnel.
— Mexe-te! — gritou Kowalski, empurrando-o pelas costas. — Antes que esta porcaria feche outra vez!
Gray compreendeu por fim e correu pelo túnel. Assim que alcançou a abertura, mergulhou de cabeça através da cascata de pedra e areia. Aterrou sobre o ombro e rebolou por uma encosta de areia.
Kowalski e Derek seguiram-lhe o exemplo, rebolando também pela encosta abaixo, enquanto o deserto se encarregava de engolir o buraco que haviam deixado para trás.
Gray completou a descida aparatosa e pôs-se de pé, meio atordoado.
Kowalski deu uma última cambalhota e parou um metro mais à frente.
— Foi bom para ti, querida? — perguntou, deitando um olhar na direção das ruínas. Levantou-se e limpou o suor da testa. — Espero que sim, porque estou estourado!
Com os olhos cravados no chão, Derek tropeçou uns passos ao lado, procurando equilibrar-se.
— Estão aqui marcas de pneus...
Gray juntou-se a ele. Sentiu-se imediatamente aliviado por ver aquele rasto que se afastava da base da colina, em direção ao deserto.
Seichan...
11h02
Não vamos conseguir...
Seichan inclinou-se sobre o guiador da Suzuki. Trocara de lugar com Jane quinze minutos antes, depois de abater o drone, e acelerava nesse momento a todo o gás, na esperança de ganhar a maior distância possível entre elas e o inimigo.
Não vamos ter essa sorte.
Sem um bom avanço, ser-lhes-ia impossível alcançarem a aldeia de Rufaa sem serem intercetadas antes. Jane tentara comunicar com Ahmad pelo rádio, mas não obtivera resposta.
Apesar do terreno traiçoeiro, Seichan matinha o punho completamente enrolado, conduzindo no limite.
Jane deu-lhe uma palmada nas costas. Mantendo um braço à volta da cintura de Seichan, apontou para a direita, sinalizando um rasto de poeira que se erguia à distância. Seichan olhou por cima do ombro, notando o pequeno ponto negro que acelerava ao encontro delas. Queria acreditar que não passava de uma miragem, já que deveria estar a deslocar-se a mais de cento e sessenta quilómetros por hora.
Não há nada que consiga andar tão depressa neste terreno.
Ainda assim, Seichan sabia que aquilo era real, e sabia quem vinha ao seu encontro de forma tão determinada.
Cerrou os maxilares, tentando espremer mais potência do motor.
Não vale a pena...
O ponto negro continuou a ganhar terreno, revelando tratar-se de uma moto preta e prateada. O condutor conduzia praticamente deitado sobre o depósito.
Seichan perscrutou o terreno adiante, consciente de que não tinha forma de lhe escapar. Uma enorme duna erguia-se à distância, com a sua longa crista a estender-se a perder de vista. A única esperança era conseguir abrigo e uma posição mais elevada.
Com um objetivo em mente, Seichan apontou a direito.
Vá lá...
A massa de areia ergueu-se cada vez mais alta à medida que se aproximavam, agigantando-se em direção ao céu como uma onda congelada. Era bem mais íngreme do que parecera à distância, mas não havia volta a dar.
Assim que alcançaram a base, Seichan transferiu parte do seu peso para a traseira da moto, empurrando Jane ao longo do assento. Precisava de exercer o máximo de pressão na roda traseira, para maximizar a capacidade de tração. A moto disparou pela encosta acima, projetando um jato de areia atrás de si. Seichan não desacelerou um instante que fosse, sob pena de ficarem atoladas.
Mesmo assim, a gigantesca duna tentou repeli-las. Quando se encontravam já a meio da subida, a face inteira cedeu subitamente, fazendo deslizar um rio de areia solta. Seichan tentou combater a torrente, sacudindo a traseira da Suzuki de um lado para o outro, alternando o peso nos apoios dos pés, tentando impedir que a roda se afundasse em demasia.
Olhou de relance por cima do ombro. O inimigo encontrava-se já a pouco menos de cinquenta metros de distância.
Ergueu o rosto, acreditando que conseguiria transpor o topo a tempo.
Então, a duna explodiu acima dela, lançando uma muralha de areia na sua direção. Não havia maneira de se desviar. A massa de areia atingiu a moto, virando-a ao contrário e projetando as duas pelo ar.
Seichan caiu desamparada na areia. Endireitando-se, usou os calcanhares para travar a descida, acabando por ficar sentada a meio da encosta. Jane, por sua vez, não teve tanta sorte, e continuou a rebolar até ao chão do deserto.
O inimigo aproximou-se, conduzindo a moto só com uma mão no guiador. Na outra, segurava uma metralhadora de assalto com lança-granadas incorporado, cujo cano ainda fumegava.
Seichan tentou alcançar a SIG Sauer, mas o coldre na sua coxa direita estava vazio.
Não havia nada que pudesse fazer.
A adversária não usava capacete, apenas um lenço sobre o nariz e a boca, mas Seichan sabia que ela deveria estar a sorrir de orelha a orelha, extasiada com a certeza da matança iminente. Conhecia bem aquela sensação, era a mesma de todas as vezes que estivera daquele lado da espingarda.
A moto abrandou ao mesmo tempo que Jane estacou, atordoada, na base da duna.
Assim que o rugido do motor esmoreceu, um novo som sobrepôs-se.
Um cão a ladrar.
Vinha do lado escondido da duna.
Seichan rodou o corpo a tempo de ver uma forma peluda galgar o topo da duna e correr em direção a ela.
Anjing.
Ao longo da crista, surgiram várias silhuetas negras. Eram nómadas do deserto. Deitaram-se de barriga na areia, empunhando longas espingardas, que logo cuspiram uma saraivada de balas. Seichan espalmou-se contra a areia, mas o alvo deles encontrava-se lá em baixo, em cima daquela moto.
Algumas balas crivaram o chão, outras ricochetearam nas pedras e uma mão-cheia esmagou-se contra o flanco da moto. A condutora fez deslizar a traseira, esticou o braço atrás das costas e disparou às cegas contra o adversário. A intenção nunca seria ganhar a batalha, mas, sim, fugir. Negada do seu prémio, enrolou o punho e acelerou dali para fora, ziguezagueando como uma louca para dificultar a pontaria aos outros.
Anjing correu para Seichan, lambuzando-lhe o rosto e dançando na areia ao redor dela.
Conteve o entusiasmo da cadela o tempo suficiente para ver Ahmad descer a duna ao seu encontro.
— Como é que...? Quem...? — perguntou-lhe, olhando de relance para a linha de homens a erguerem-se ao longo da crista.
Ahmad sorriu, acenando na direção dos outros.
— Homens de Rufaa. Vieram para matar-te a ti — disse o rapaz. Apercebendo-se do olhar chocado de Seichan, deu-lhe uma palmada no braço e acrescentou: — Pensam que mataste velhos na aldeia. Encontraram corpos esta manhã e seguiram rasto até aqui.
Para se vingarem...
Seichan recordou a figura que surpreendera a rondar o jipe, percebendo agora que deveria ser a assassina disfarçada. Pelos vistos, as atividades dela nessa noite tinham incluído dois assassínios.
— Eles encontraram a mim no jipe, e eu disse que tu não mataste — explicou Ahmad. — Depois vimos a moto. — Agitou a mão no ar, imitando o rasto de poeira. — E viemos até aqui.
E acabaram por nos salvar.
Mais abaixo, Jane pusera-se de pé e começara a subir a duna. Assim que se juntou a eles, continuaram até ao topo. No outro lado, encontrava-se uma coleção de motos de areia, bem como um punhado de camelos, provavelmente de nómadas que se haviam juntado ao grupo durante o caminho.
Porém, faltava qualquer coisa.
— Onde está o jipe?
— Ah, não estar muito longe. Muito barulho, percebes? — Ahmad voltou a agitar a mão no ar. — Muito barulho para apanhar inimigo de surpresa.
Seichan olhou por cima do ombro.
Junto ao horizonte, conseguia distinguir as duas colinas que lembravam as nádegas do gigante de pedra. Uma nova coluna de fumo pairava sobre elas.
Gray...
Jane adivinhou-lhe os pensamentos.
— Podem ter escapado.
Seichan agarrou no ombro de Ahmad.
— Só há uma maneira de termos a certeza.
20
3 de junho, 06h08 EDT
Ilha de Ellesmere, Canadá
No quarto, sentado à secretária, Painter releu a cópia traduzida do diário de Tesla. Continuava espantado com a história escrita naquelas páginas. Dividia-se em duas narrativas: uma cobria o período que Nikola Tesla passara em Londres; a outra, desenrolando-se no deserto núbio, retratava as ações de Henry Morton Stanley e, pasme-se, Samuel Clemens.
Mark Twain...
Abanou a cabeça.
Não admirava que os responsáveis pelo roubo do caderno não tivessem dado crédito ao que se encontrava ali escrito. Ele próprio não acreditaria, caso não tivesse a corroboração oferecida pelos acontecimentos recentes.
De acordo com o relato do inventor, ele e Twain tinham sido convocados por Sir Stanley para o ajudar a deter uma praga em Londres, a mesma que afligia o mundo nesse momento. Painter sabia o suficiente da história do artefacto de David Livingstone, bem como da doença que continha, para consubstanciar essa afirmação.
O grupo atravessara o oceano Atlântico de paquete, tendo-se separado em solo europeu. Tesla seguira diretamente para o Museu Britânico, que havia sido encerrado e posto sob quarentena. Uma vez lá, fizera uma série de testes com uma amostra do líquido carmesim encontrado no artefacto egípcio. Com a ajuda do microscópio, acabou por ajuizar corretamente que o micróbio que conferia aquela tonalidade à água era o agente patogénico por trás da praga.
Batizou o organismo como Pestis fulmen, o nome latino para «praga de relâmpagos».
Antes da chegada de Tesla, os próprios britânicos haviam já notado as estranhas propriedades do organismo, o modo como brilhava durante uma tempestade, como se reagisse à carga elétrica no ar. Como tal, tinham enviado Stanley à América, para procurarem o conselho de um perito em eletricidade. Os ingleses queriam Edison, mas contentaram-se com Tesla, algo que lhes ficara meio atravessado na garganta, a julgar pelos comentários velados do sérvio ao longo do texto.
Ainda assim, Tesla dera o seu melhor para perceber se a cura para a doença poderia passar pelo uso de eletricidade. O uso de alta voltagem parecia ser o suficiente para aniquilar o organismo, porém, também matava o portador. Tesla citara Francis Bacon em relação ao seu esforço falhado e trágico resultado: Curei a doença, mas matei o paciente.
Depois disso, desanimado, mas determinado, Tesla focou-se no estudo do organismo, para melhor compreendê-lo. Começou por testar várias maneiras de dar uso ao seu potencial. Sobre esse aspeto, a maioria do texto encontrava-se rasurada, indicando que continha pormenores que Simon Hartnell não desejava partilhar.
Desviou os olhos do caderno e observou o campo de antenas para lá da janela.
Era óbvio que Hartnell aprendera qualquer coisa com esses esforços iniciais do sérvio.
Voltou a concentrar-se no texto.
No fim de contas, Tesla acabou por abandonar a pesquisa, considerando-a demasiado perigosa. Sobretudo pela natureza do micróbio. Uma decisão reforçada na segunda metade da história.
Depois de deixarem Tesla em Londres, Twain e Stanley seguiram no mesmo paquete, rumo ao Cairo. Viajavam incógnitos, seguindo um trilho de pistas deixado por David Livingstone e alimentando a esperança de encontrarem a fonte da doença, assim como uma possível cura.
Twain escreveu a Tesla sobre essa jornada:
O modo como o nosso falecido amigo escondeu as pistas foi de uma inteligência extraordinária, pura e simplesmente extraordinária, ainda mais tratando-se de um inglês empertigado. Mas estamos em dívida com Livingstone. Conduziu-nos diretos aos desertos da Núbia. Infelizmente, também temos de nos apoiar na memória de Sir Stanley, uma vez que alguns pormenores foram-lhe apenas transmitidos por cartas de Livingstone que já não existem. Ainda assim, aqui estou eu outra vez, de volta a esta terra tórrida, rodeado até ao pescoço de jumentos e dromedários. Partimos amanhã, com uma carroça de bagagem e acompanhados de uma turba de árabes musculados e etíopes franzinos, de pele negra. Espero que lhes tenhamos pagado o suficiente, sob pena de abandonarem as nossas fracas e pálidas figuras em pleno deserto.
Painter continuou a ler o relato de Twain, no qual o homem descrevia a extensa jornada em termos gerais, omitindo claramente alguns pormenores por vontade própria. Finalmente, porém, munidos de essas pistas extraordinariamente inteligentes, o grupo descobrira um complexo sistema subterrâneo, escavado à força de braços no interior de umas colinas. A partir daí, a história desafiava toda a plausibilidade. Era um conto de múmias e maldições, de uma grande deusa de pedra enterrada nas areias.
O local espantara Twain ao ponto de o descrever em tom lírico:
Imagino o rosto dela pressionado contra a areia, esmagado pelo peso que deverá carregar nos ombros, consumida pela tristeza, aguardando redenção. Mesmo assim, acredito que é com a nossa salvação que sonha, não a dela própria. Deixa o seu corpo para trás como se de um farol se tratasse, uma réstia de luz, brilhando através das trevas do passado, a fim de nos dar esperança no futuro.
Stanley e Twain teriam descoberto ou recuperado algo importante no interior do túmulo esculpido. Passado um mês, regressaram a Inglaterra, onde foram capazes de salvar os que sofriam da doença e impedir a propagação da praga.
No entanto, uma vez mais, Twain mostrava-se vago acerca dos pormenores da cura. Pelo que escrevera, dava a entender que o túmulo lhes oferecera os meios para uma cura, não um remédio em si. Twain fazia questão de ser frustrantemente enigmático acerca de tudo aquilo, mas apresentava as suas razões para tal, avisando não só dos perigos escondidos no interior do túmulo, mas também das ameaças vindas de fora.
Não permitirei que as marretas dos caçadores de tesouros perturbem o seu sono. Deixem-na dormir e sonhar em paz, sabendo que nos salvou a todos.
A história terminava com Tesla e Twain a regressarem a casa para continuarem as respetivas vidas, cada qual mantendo segredo do que tinham testemunhado. Tesla encerrava o diário com uma nota de agradecimento ao homem cuja dedicação ao povo e terras de África lhes estendera o caminho para a cura.
Temos de estar gratos a David Livingstone, que arriscou tudo, incluindo a própria alma, para nos livrar da eterna condenação. Que sejamos dignos do seu sacrifício... e que Deus nos perdoe, se não conseguirmos.
Painter pousou as páginas agrafadas, deixando a mão repousada sobre elas.
Ouviu um zumbido junto à porta, e desviou os olhos para a câmara no teto, que rodou na sua direção. Sabia quem estaria provavelmente a observá-lo, à espera que terminasse a leitura.
Empurrou as páginas para um canto.
Vamos a isto.
06h32
Na biblioteca, Simon baixou os olhos para o prisioneiro, de novo algemado a uma cadeira. Tencionava fazê-lo compreender, ganhar-lhe a confiança, quando mais não fosse para que ele o ajudasse a atrair as companheiras para fora da tempestade.
Preciso dos dados que me roubaram.
— Como vê, agora já sabe a história toda — disse, encostando-se à secretária.
Painter encolheu os ombros, tilintando as algemas.
— Acho que fiquei ainda mais às escuras em relação ao que se passa aqui.
— Para ser franco, também passei por isso. Quando deitei mãos ao diário de Tesla, em 1985, não dispunha dos recursos financeiros que tenho agora. Como tal, não havia muito que pudesse fazer, exceto rever as experiências dele. Pensei que não passavam de teorias acerca de uma situação hipotética, tendo como base a existência de tal organismo e extrapolando uma forma de como as suas propriedades poderiam ser usadas para bem da humanidade.
— Mas depois percebeu que não havia nada de hipotético nisso tudo.
Simon encolheu os ombros.
— Talvez, mas ninguém poderia comprová-lo até há uns anos, quando alguns biólogos na Califórnia descobriram o primeiro exemplar de uma bactéria que comia e excretava eletrões, subsistindo inteiramente à base de eletricidade. — Fez uma pausa e sorriu. — No entanto, calculo que possa imaginar o meu entusiasmo pela ideia.
Painter ergueu uma sobrancelha, reconhecendo a validade dessa assunção.
— Por essa altura, encontrava-me em melhor posição financeira para explorar melhor a questão.
— Melhor posicionado por uma diferença de alguns milhares de milhões...
— Apenas por um, se quisermos ser rigorosos. — Encolheu os ombros, dando a entender que não estava ali para se gabar da sua fortuna. — Seja como for, financiei investigadores que se encontravam a trabalhar com esse tipo de organismos, tanto na América como no estrangeiro, procurando aplicações práticas como a criação de biocabos, nanofibras bacterianas capazes de conduzir eletricidade; ou mesmo o desenvolvimento de nanomotores alimentados pelos próprios micróbios, que nos poderiam resolver o problema da poluição. O potencial é assaz entusiasmante.
— E bastante rentável, calculo. — Painter inclinou-se para a frente. — Mas o seu objetivo não é o dinheiro, pois não? Está a tentar encontrar um organismo que possa dar corpo às ideias expressas por Tesla no diário.
Simon fez que sim com a cabeça, recordando a si mesmo a sagacidade e poder intuitivo do homem que tinha à frente.
Preciso de ter cuidado com o que digo.
— Nada resultou como eu esperava, por isso, voltei a focar-me no diário, o que apenas me deixou mais convencido de que aquela história não era um esboço para um conto futurista de Twain, uma aventura imaginária com os seus amigos pessoais no lugar de Huck Finn e Tom Sawyer.
— E começou a seguir as pistas deixadas no diário.
— Não pessoalmente. Tal como fiz com os biólogos, comecei a financiar arqueólogos interessados em explorar aquela região.
— Homens como o professor McCabe.
— Na verdade, financiei o seu filho. O rapaz queria desesperadamente ofuscar o pai, brilhar por direito próprio, fora do alcance da sua sombra imensa. Forneci-lhe pistas para se ocupar da relação entre Stanley e Livingstone, acreditando que alguém conseguiria juntar as peças dessa história antiga. Quando Rory falhou, a frustração levou-o a procurar a ajuda do pai, mantendo-o na ignorância em relação a quem estava a puxar os cordelinhos de toda a operação.
— E ao contrário do filho, o professor McCabe conseguiu juntar as peças.
— Mais ou menos. Para ser franco, penso que o êxito dele se deveu sobretudo ao incansável trabalho no terreno. Munido do conhecimento que possuía da região, assim como das pistas adicionais encontradas nos documentos de Livingstone, simplesmente agarrou no filho e foi à procura do que pudesse encontrar. — Simon ergueu as mãos no ar. — Como pode ver, não houve nada de particularmente funesto nesta história toda, apenas mera curiosidade científica suportada por financiamento corporativo.
— Tudo bem. Contudo, que aconteceu depois disso?
Simon suspirou.
— Como lhe disse, não estaríamos metidos nesta alhada, se não fosse pelas ações do professor McCabe. Todos os seus passos custaram vidas, desde o instante em que entrou no túmulo ao modo como saiu. Estou apenas a fazer contenção dos danos.
Pela expressão azeda, Painter não parecia muito convencido. Ainda assim, recostou-se na cadeira e disse:
— Vou acreditar nisso, por agora. Mas termine a sua história. Calculo que tenha encontrado o micróbio de Tesla, o Pestis fulmen. A grande pergunta é o que tenciona fazer com ele.
Por ter concedido a tanto, Simon recompensou-o:
— O micróbio era o componente que me faltava para concretizar o sonho de Tesla de energia sem fios. Tal como mencionei antes, ele tinha já teorizado acerca de usar a ionosfera como possível condutor de eletricidade, mas, para que isso resultasse, precisaria de instalar uma espécie de bateria lá em cima, algo que pudesse conter, distribuir e propagar essa energia.
Painter arregalou os olhos, compreendendo por fim aonde o outro queria chegar.
— Tesla imaginava transformar o micróbio nessa bateria... uma bateria viva.
— As experiências dele no museu corroboraram essa visão. Ele calculou, e eu comprovei-o aqui mesmo, que o micróbio poderia sobreviver lá em cima durante séculos, ou mesmo um milénio, desde que tivesse acesso a uma fonte contínua de alimento.
— Por outras palavras, eletricidade.
— Precisamente. Dito isto, o que conseguimos comprovar foi que o micróbio não é apenas uma bateria viva, é também, praticamente, imortal.
06h40
Sentado na cadeira, Painter sentiu a cabeça às voltas enquanto tentava acompanhar as implicações do que acabara de ouvir.
Este homem é louco... genial, mas louco.
Voltou a concentrar a atenção em Hartnell.
— Está a planear largar este organismo na ionosfera.
Painter soubera recentemente que a Força Aérea estava a testar a viabilidade de algo semelhante. Mais concretamente, queriam saber se era possível adicionar plasma à ionosfera, a fim de aumentarem a capacidade de sinais de rádio. Ademais, também lera qualquer coisa acerca da descoberta de bactérias na troposfera, que subsistiam à conta do ácido oxálico existente nessa camada superior da atmosfera.
O que significava que aquele plano era exequível.
Porém...
— Tenho um avião de carga equipado para largar balões atmosféricos de alta altitude — prosseguiu Simon. — Cada um deles pode transportar duzentos e cinquenta quilos deste organismo até aos níveis inferiores da ionosfera, onde uma pequena carga elétrica se encarregará de dispersar a carga.
Painter deu por si a suster a respiração, completamente horrorizado pela perspetiva de semelhante cenário. Hartnell deveria ter recolhido amostras do micróbio no túmulo, procedendo então à cultura em larga escala daquele organismo mortífero. Sabendo quais as intenções de Simon, compreendeu finalmente qual era o verdadeiro propósito da estação.
— Este sistema de antenas — disparou. — Está a planear usá-lo para estimular os micróbios depois de libertados na ionosfera.
Simon assentiu:
— Se os cálculos dos meus protótipos anteriores estiverem certos, os micróbios serão capazes de armazenar essa energia. — Ergueu os olhos, como se estivesse a contemplar o céu. — Tenho uma visão de toda a ionosfera carregada com o Pestis fulmen de Tesla, uma bateria viva, capaz de respirar eletrões, capaz de armazenar não só a energia que lhe é fornecida, mas também de recolher as correntes elétricas naturais presentes na ionosfera, alimentadas pelos ventos solares.
— Nada menos do que uma fonte inesgotável de energia — disse Painter.
Simon fitou-o.
— Como Nikola, antevejo centrais elétricas por todo o mundo, até às nossas casas, apetrechadas com torres idênticas à que se encontra lá fora, capazes de se conectarem a essa bateria inesgotável, tal qual um milhão de bobinas de Tesla ligadas ao céu.
Era um plano para lá de grandioso.
— Pense no que isso significaria para o planeta. Nunca mais queimaríamos combustíveis fósseis. Nunca mais esventraríamos a terra em busca de recursos. Nunca mais envenenaríamos o ar com emissões de dióxido de carbono. Ademais, teríamos um bónus adicional.
— Qual?
— O tom avermelhado do micróbio funcionaria como um filtro solar natural. Um filtro muito suave, mas suficiente para nos afastar do limiar de vermos o nosso planeta aquecer ao ponto de se transformar em cinzas.
Painter era homem para reconhecer mérito na visão do outro, mas também seria capaz de se lembrar de milhares de variáveis capazes de transformar aquele projeto num desastre inigualável, sobretudo pelo simples facto que saltava à vista.
— Mas este organismo é mortífero... mortífero à escala de uma nova extinção em massa.
Simon suspirou.
— É por isso que necessitamos de uma cura. Estou em condições de avançar com um teste localizado nos próximos dias. A presente tempestade geomagnética ofereceu-me as condições perfeitas ao aumentar os níveis de energia na ionosfera, criando o solo ideal para plantar as minhas sementes.
— Mas ainda não tem a cura!
— Poderia ter, se convencesse a sua amiga a cooperar. Se devolvessem o que me roubaram. Acredito que a doutora Al-Maaz e o Rory estavam no limiar de uma descoberta importante, algo que nos poderia fornecer a chave para domarmos esta besta.
Painter compreendeu por fim qual era o propósito de toda aquela conversa e aparente franqueza de Hartnell.
— E se eu não ajudar?
Hartnell encolheu os ombros.
— Avanço à mesma com o teste.
Painter endireitou-se, as algemas cravando-se nos pulsos.
— O quê? Perdeu a cabeça de vez?
— Longe disso. Estou perfeitamente convencido de que será inofensivo. O próprio Tesla encarregou-se de nos oferecer uma solução de emergência. Posso pura e simplesmente usar as antenas para sobrecarregar a ionosfera e aniquilar o organismo, o que dá no mesmo.
Painter recordou a citação de Francis Bacon que lera.
Curar a doença, matar o doente.
Se não tivesse cuidado, aquele louco poderia fazer o mesmo, mas a uma escala global.
Hartnell fitou-o.
— Todavia, escusado será dizer que preferia não fazer as coisas desta maneira. Sobretudo se me ajudar a encontrar as suas amigas.
06h50
Exausta, Kat deixou o Sno-Cat conduzir-se sozinho ao longo da passagem seguinte, praticamente incapaz de segurar o volante. As rajadas de vento empurravam o veículo, como que encorajando-as a procurarem o abrigo do vale seguinte. Cobrindo os céus, um manto de nuvens negras envolvia as montanhas cobertas de neve de todos os lados.
Mesmo no eterno crepúsculo da tempestade, o cenário diretamente em frente era verdadeiramente avassalador.
O gigantesco vale estendia-se a perder de vista em todas as direções, delimitado apenas pela densa neblina. Diretamente abaixo, um longo e estreito lago dominava o centro da bacia. Encontrava-se ainda congelado, mas algumas pontas exibiam já o azul cintilante dos primeiros sinais de degelo do verão. No meio, enormes ilhas negras erguiam-se do gelo branco.
— O lago Hazen... — murmurou Kat.
Safia endireitou-se, erguendo a cabeça apoiada contra o vidro da janela.
Kat apontou para o vale. Esperava ter memorizado corretamente o mapa da ilha durante a viagem de avião.
— Se for o lago Hazen, devemos estar a meio caminho do posto de Alert.
— Se calhar, é melhor descansares um pouco — disse Safia, notando o cansaço da outra. — Não houve nenhum outro sinal de alguém a perseguir-nos nas últimas duas horas.
Depois do encontro fantasmagórico com a manada de caribus, Kat desviara o Sno-Cat rumo a uma região rochosa, evitando a neve e o gelo, a fim de não deixar rastos. Não fazia ideia se despistara os perseguidores, se é que existiam sequer.
— Acho que tens razão. Quando mais não seja, preciso de desentorpecer as pernas.
— Eu também — disse Rory, no banco traseiro.
Bem podes esperar sentado.
Kat apontou o veículo em direção ao ponto azul mais próximo, onde um pequeno rio desembocava no lago. Iriam precisar de mais água. Safia despachara a última garrafa do estojo de emergência do Sno-Cat.
— Vejam, tantas flores... — disse Safia, meio hipnotizada.
Em ambos os lados, as encostas vestiam-se de saxífragas púrpura e papoilas do ártico. As próprias rochas e penedos encontravam-se cobertos de musgo e líquenes amarelos.
Kat sentiu-se confortada pela presença de vida. Continuou a dirigir o veículo em direção ao lago e estacionou-o junto à margem incrustada de xisto.
— Vou ali encher as garrafas de água.
— E o Rory? — perguntou Safia.
— Fica aqui quietinho.
Ao ouvir aquelas palavras, o rapaz afundou-se no assento, desanimado.
Kat pegou nas garrafas vazias e abriu a porta do condutor. A força do vento quase lha arrancava da mão. O frio despertou-a imediatamente, mas não se importava. O ar era límpido e cheirava a gelo. Apressou-se em direção ao lago e mergulhou as garrafas na água gelada. Numa questão de segundos, sentiu os dedos dormentes do frio.
Reuniu as garrafas e encolheu-se contra o vento. A fuga apressada não lhe dera sequer tempo para trazer as parcas.
Okay, acho que não preciso de mais ar fresco.
Regressou à cabina aquecida do Sno-Cat e fechou a porta.
Safia encontrava-se virada para trás no assento, a conversar com Rory.
— Que aconteceu depois de tu e o teu pai encontrarem o túmulo no deserto?
Rory abanou a cabeça.
— O meu pai quis entrar primeiro, claro, como seria de esperar nele. Deixou-me cá fora com dois elementos da equipa. Os restantes entraram com ele.
Rory desviou o olhar, como se a memória desses acontecimentos lhe fosse dolorosa.
— Um dos elementos da equipa ativou uma armadilha ou manuseou qualquer coisa mal. Nunca percebi bem o que aconteceu. Apenas sei que, no segundo seguinte, dei por mim a ouvir gritos. Tentei entrar, mas o meu pai ordenou-me para me manter à distância. Todos os que se encontravam lá dentro foram contaminados. Sabendo do que acontecera no Museu Britânico, o meu pai estava ciente do perigo. A opção mais segura seria manter toda a gente lá em baixo.
— E que fizeste a seguir?
Rory suspirou.
— Entrei em pânico, e liguei ao Simon Hartnell.
Kat ouvira já parte da história durante o caminho, ficando a saber que Hartnell financiara e guiara Rory secretamente. Por sua vez, o rapaz manipulara o pai.
— O Simon enviou uma equipa médica para o local. A primeira coisa que fizeram foi selar o túmulo. Houve alguma discussão se deveriam ou não transportar o grupo para um hospital, no entanto, uma vez que ninguém tinha certezas acerca do potencial de transmissão da doença, foi decidido que todo o auxílio seria prestado ali mesmo.
— Essa decisão veio do próprio Hartnell? — perguntou Kat, calculando que ele seria capaz de tudo para proteger o seu segredo.
Rory virou-se para ela.
— Não. Foi o meu pai que decidiu assim. — Abanou a cabeça. — No entanto, acho que teve mais que ver com o desejo de permanecer no local, de ser o primeiro a explorar o túmulo. Não creio que estivesse preocupado com a disseminação da doença. Basta ver o que ele fez no fim, diga-se de passagem.
— Estás a dizer que o teu pai sobreviveu à exposição inicial?
— Mais à conta de pura teimosia do que de qualquer outra coisa. Houve outros dois que também sobreviveram, mas morreram cinco homens no total.
— E depois, o que aconteceu? — perguntou Safia.
— Nada. O túmulo ficou selado e trouxeram-me para aqui, para continuar a trabalhar no projeto.
Kat deitou um olhar na direção do dedo cortado de Rory.
— E também para assegurar que o teu pai continuava a cooperar.
Rory olhou para a mão e encolheu os ombros.
— Dei cabo do dedo por acidente, mal cheguei aqui. Tiveram de o amputar.
Kat conseguia apenas imaginar o horror que o professor McCabe teria sentido, quando lhe enviaram o dedo amputado do filho.
— O meu pai trabalhou durante os vinte meses seguintes na busca de uma cura. Descobriu não só a múmia tatuada, mas também uma série de outras. Executou uma batelada de testes nos tecidos e revirou o maldito lugar de cima a baixo, sempre na esperança de encontrar uma resposta.
— Não houve nada que resultasse? — perguntou Safia.
— Acho que acabou por perder o juízo mais para o fim. Até tentou submeter-se a um processo de automumificação, para emular os passos dos responsáveis por aquele túmulo. — Rory riu-se. — Depois fugiu. Assim, sem mais nem menos. Esperou por uma rotação de turno, quando só estavam presentes dois investigadores e dois guardas. Conseguiu arrombar o local onde guardavam as armas e apoderou-se de uma espingarda.
— Matou-os?
— Apenas os guardas. Amarrou os investigadores e pôs-se a andar dali para fora. — Rory observou a superfície gelada do lago. — Não entendo... morreram tantas pessoas por causa do que ele fez.
Kat não sentia nenhuma necessidade de consolar o rapaz, mas fê-lo à mesma.
— Não creio que a intenção dele fosse essa. Estamos convencidos de que o processo de mumificação visava eliminar o perigo de contágio. Infelizmente, não era uma cura. Ele morreu por causa do organismo, mas acho que pretendia alcançar a civilização apenas para nos avisar do que se estava a passar.
Rory olhou para ela, os olhos inundados de lágrimas.
— Ele não precisava de fazer isso. Eu nunca quis que ele morresse.
Safia inclinou-se em direção ao rapaz, estendeu o braço e pousou a mão no joelho dele.
Kat não partilhava os mesmos sentimentos de compaixão.
Fizeste a cama em que deitaste.
— E depois? — prosseguiu Kat. — Por que razão o Hartnell quis destruir todo o trabalho do teu pai e capturar a tua irmã?
— Com toda a atenção indesejada que se seguiu ao reaparecimento do meu pai, ele receava que alguém pudesse encontrar as pistas nos documentos dele, que isso levasse à descoberta do túmulo.
Kat franziu o sobrolho.
— E decidiu arrumar a casa.
— Tanto em Londres como no túmulo. Retirou tudo o que fosse importante do deserto, incluindo a múmia no trono. O meu pai tinha a certeza de que ela era vital para a descoberta da cura.
E agora desapareceu, restando apenas um registo digital.
Kat olhou de relance para o bolso de Safia.
— E a Jane, porquê tanto interesse nela? — perguntou Safia.
— Antes de fugir, o meu pai deixou uma mensagem enigmática, dirigida à Jane. O Simon acreditava que a minha irmã poderia compreendê-la. Tinha esperança de que pudesse conter uma pista nova para a cura, alguma coisa que o meu pai teria descoberto perto do fim e nunca partilhara. — Rory baixou os olhos. — Pessoalmente, penso que estava apenas a despedir-se.
Rory virou o rosto, dando a entender que não queria falar mais sobre o assunto.
Safia partilhou um olhar preocupado com Kat, depois alcançou uma garrafa de água. O braço tremia-lhe nitidamente.
— Safia...?
Kat reparou como a pele dela se tornara brilhante. Pousou a palma da mão na bochecha dela, sentindo o calor que irradiava do seu rosto.
— Estás a arder em febre.
06h58
Depois de os guardas escoltarem Painter de volta para o quarto, Simon deixou-se ficar sentado à secretária durante uns minutos. Dera ao prisioneiro uma hora para se decidir a cooperar. Findo esse prazo, ver-se-ia obrigado a tomar medidas mais persuasivas.
O que poderá não ser necessário.
Tivera notícias de Anton vinte minutos antes. A comunicação com a equipa de busca era esparsa devido à tempestade geomagnética. O único rádio que funcionava encontrava-se em linha de visão. Anton só conseguia alcançar a estação a partir do topo das montanhas, onde poderia enviar um sinal de micro-ondas direto para a base.
O último relatório dava conta de que tinham apanhado o rasto do Sno-Cat outra vez.
Sentado, Simon tomou essa informação em linha de conta, analisando os diferentes cenários e projeções. Tomou por fim uma decisão e pegou no telefone. Premiu uma das teclas e o diretor do projeto, o doutor Sunil Kapoor, atendeu de imediato a chamada. O físico encontrar-se-ia provavelmente a rever todos os sistemas para o teste que iria realizar-se dali por dois dias.
— Sim? — disse Kapoor, sabendo quem lhe estava a ligar.
— Mudança de planos.
— Sim, senhor.
Simon pesara as variantes em relação à fuga das duas mulheres, e decidira que o risco era demasiado elevado para deixar o assunto entregue ao acaso, ou mesmo às mãos de Anton. Se a dupla conseguisse pedir ajuda, as coisas poderiam terminar ainda antes de começarem.
Não posso deixar que isso aconteça... sobretudo quando estou tão perto de conseguir.
O que estava planeado era uma importante prova de conceito. Mesmo que as duas mulheres fossem bem-sucedidas, queria a confirmação de que o sistema funcionava antes de enfrentar quaisquer consequências.
O projeto em curso era demasiado importante, maior do que qualquer homem.
Do que eu próprio.
— Vamos antecipar o teste — disse a Kapoor.
— Para quando?
— Para hoje.
21
3 de junho, 14h02 EAT
Cartum, Sudão
Nu, Gray abriu a torneira da água fria e deixou-se ficar debaixo do chuveiro.
Grãos de areia giravam aos seus pés. Doíam-lhe todos os músculos. Esfregara-se com sabonete e água quente e, mesmo assim, novos grãos continuavam a libertar-se de todas as pregas, fendas e pelos do corpo. Fora o último a tomar banho, por isso, estava a demorar o tempo que lhe aprouvesse — para se encontrar consigo mesmo, alinhar as ideias. O som da água a correr e o frio ajudavam-no a focar-se.
Três horas antes, encontrava-se ainda no deserto com Derek e Kowalski, a seguir o rasto deixado pela moto de Seichan, quando viu uma muralha de pó a erguer-se à distância, subindo em direção ao céu escaldante.
O grupo de veículos acelerou para eles com o Unimog a ocupar o centro, flanqueado por um bando de motos. Mais atrás, impelidos pelos homens que os montavam, um punhado de camelos esforçava-se por acompanhar o passo.
Kowalski ficara a observá-los enquanto se aproximavam.
— Acho que é a cavalaria mais patética que já vi chegar.
Depois de se juntarem aos outros, seguiram diretamente para Cartum ao longo de trilhos usados pelos nómadas. Gray sentara-se ao volante do Unimog, o que desapontara Ahmad, que precisava de voltar para casa, em Rufaa. O rapaz ficara um pouco menos acabrunhado depois de Seichan lhe comprar a Suzuki por um preço exorbitante, tendo em conta o mau estado em que a deixara. Contente com o negócio, o rapaz e a cadela retornaram à aldeia no sidecar que equipava a moto do primo.
Seichan permaneceu aos comandos da Suzuki durante a viagem de regresso, circulando ao largo e mantendo-se atenta ao céu e deserto em redor, quer por sinais da presença de drones quer do inimigo.
Chegaram à capital em segurança e alojaram-se num hotel barato nos arredores da cidade.
Depois de tudo o que acontecera, a equipa parecia estar de volta ao ponto de partida e nem um passo mais próxima de descobrirem uma maneira de deter a pandemia. Quando Gray se dirigiu para o duche, deixara Derek e Jane sentados à mesa a trocarem impressões. A avaliar pelas expressões dos dois, não pareciam muito esperançosos.
A porta da casa de banho abriu-se. Através da cortina de banho translúcida, Gray viu uma silhueta entrar e despir-se de toda a roupa à medida que avançava. Seichan desviou a cortina e juntou-se a ele. A única reação ao frio foi encostar-se a ele, passando-lhe um braço à volta da cintura. Gray puxou-a mais para si, protegendo o corpo dela com o seu.
Ergueu um braço para abrir a torneira da água quente.
— Deixa estar — murmurou ela.
Gray baixou a mão e abraçou-a. Era raro vê-la comportar-se de maneira tão terna, tão vulnerável, mas não podia dizer que não gostava. Deixou-se ficar em silêncio, sabendo que era tudo o que ela queria nesse momento. Não era altura para discutir o que fosse, nem sequer para conversas profundas acerca do futuro dos dois. Havia apenas aquele momento.
É quanto basta.
Gray deixou-se ficar abraçado a ela, os corpos aquecendo onde se tocavam. Deu por si a balancear-se. Um momento depois, estavam a beijar-se. Porém, foi tudo o que puderam fazer antes de ouvirem bater à porta. Desfizeram o abraço e a água fria correu entre os dois, estilhaçando o momento, afastando-os ainda mais.
— Gray!
Era Kowalski.
Gray fechou os olhos.
— Juro que mato este gajo.
— Põe-te na fila — rosnou Seichan.
— O Monk está ao telefone — disse o outro, do lado de lá da porta. — Despacha-te com isso.
Gray desviou a cortina e saiu do chuveiro, apenas para se deter e olhar por cima do ombro. Lembrava-se da sugestão dela de fugirem e deixarem tudo para trás.
— Diz-me que encontraste outras escadas de emergência...
— Escadas de emergência? — retorquiu ela, alcançando o topo da cortina e revelando toda a sua nudez. — Tiveste a tua oportunidade, meu caro. Agora estamos metidos nisto até ao pescoço. Mas pergunta-me de novo mais tarde. Talvez tenhas sorte...
Dito isto, Seichan voltou a correr a cortina, deixando essa possibilidade no ar.
Enquanto Gray se secava, o vapor da água quente preencheu a cabina de duche, enevoando a cortina. Porém, não era o suficiente para esconder a silhueta luxuriante de Seichan.
A sério... vou matar aquele gajo, pensou, alcançando as roupas cobertas de poeira.
Assim que entrou no quarto, reparou que Kowalski deixara o telefone de satélite na mesa de cabeceira. Agarrou no aparelho.
— Monk?
— Estás bom? Que tal a vida no deserto?
Gray olhou de relance para a porta da casa de banho fechada.
— Quente. E no Cairo?
— Isto responde à tua pergunta? — O som abafado de disparos fez-se ouvir no outro lado da linha. — A NAMRU está debaixo de fogo. Um maluco qualquer decidiu que a praga é uma conspiração americana e que a base é a origem do problema.
— Tudo normal, portanto.
— Exato. E vocês? Algum progresso em relação à cura? Sou todo ouvidos, caso tenhas alguma coisa a acrescentar.
— Nem por isso. Ainda andamos a bater as bolas.
Ouviu-se uma forte explosão no outro lado da linha.
— Então batam com mais força, a ver se isso avança.
— Vamos fazer o nosso melhor. — A voz de Gray tornou-se mais grave. — Mas estás bem, certo?
— Por enquanto. Temos forças americanas e egípcias a segurarem o forte, mas dava-nos jeito recebermos boas notícias.
— Compreendo. Tem cuidado, okay?
— Tu também, meu amigo.
Desligaram a chamada.
Mais determinado do que nunca, Gray atravessou o quarto para ir ao encontro dos outros, porém, reparou que tinha uma mensagem de texto no telefone. Olhou para o número do remetente. Suspirou e abriu a mensagem.
O PAI PIOROU, MAS ESTÁ OUTRA VEZ ESTÁVEL. LIGA-ME QUANDO PUDERES. NÃO SE TRATA DE UMA EMERGÊNCIA, MAS TU SABES COMO É.
Lamentando-se, ligou para o telemóvel do irmão.
Onde estão essas escadas de emergência quando precisamos delas?
O telefonou tocou e tocou, depois a chamada foi parar à caixa de mensagens. Aguardou o sinal da gravação.
— Kenny, recebi a tua mensagem. Liga-me de volta ou envia-me uma nova mensagem. Diz-me o que se passa e se posso fazer alguma coisa deste lado.
Desligou o telefone, frustrado por não ter conseguido falar com o irmão, mas também parcialmente aliviado, já que lhe permitia adiar um pouco mais o inevitável. Fechou os olhos, sentindo-se culpado de pensar assim.
Abanou a cabeça.
Um problema de cada vez.
Essa ideia transformara-se no seu mantra.
Dirigiu-se para a outra divisão. Derek e Jane ergueram as cabeças quando o viram entrar.
— Algum progresso? — perguntou-lhes.
Jane contraiu o rosto, pouco segura de si própria.
— Talvez... o problema é que não faz nenhum sentido.
14h24
A bem dizer, não fazia sentido...
Jane mordeu o lábio, olhando para a papelada em cima da mesa e para Derek, que continuava de volta do iPad. O pai deixara-lhe uma mensagem críptica; morrera para lha entregar, acreditando piamente que ela a compreenderia sem mais demoras. Ver-se às voltas para decifrar a mensagem fazia-a sentir-se inadequada, porventura até desmerecedora do amor do pai.
— Mostre-me o que tem — disse Gray. — Talvez possa ajudar.
Jane assentiu.
Quem disse que tenho de resolver isto sozinha?
O pai ensinara-lhe que as verdadeiras descobertas resultavam sempre de um trabalho de equipa. Não é que ele seguisse o seu próprio ensinamento, é bom de ver, sobretudo na hora de receber os créditos. De uma maneira ou de outra, o nome do pai acabava sempre à cabeça de tudo o que eram trabalhos publicados.
Jane suspirou.
— Quando o meu pai assinalou aquela borboleta no coração de pedra, juntando-lhe o meu nome, pode ter sido apenas por causa do meu fascínio por borboletas, uma forma de partilhar uma última ligação comigo.
— Mas não acredita que tenha sido o caso.
— O meu era frequentemente gentil, por vezes generoso, mas nunca o vi ser sentimentalista.
— De facto, não era — concordou Derek.
— Por isso, esse último esforço tem de significar mais qualquer coisa — disse Gray.
— Dei voltas à cabeça a pensar sobre a verdadeira intenção dele ao deixar-me isto. Como mencionei antes, as borboletas são uma imagem comum na arte egípcia, significando transformação. Por norma, a espécie representada, tal como vimos no interior do coração, é a monarca-africana, ou Danaus chrysippus, uma borboleta nativa da bacia do Nilo.
— Estávamos a discutir isto há uns minutos — disse Derek. — Quando a Jane mencionou o nome científico da borboleta, foi como se se fizesse luz na minha cabeça. Lembrei-me de que tinha visto uma ilustração dessa mesma borboleta nas cartas de Livingstone. Como tal, mostrei-a à Jane.
Derek abriu a imagem no iPad e virou o ecrã para Gray.
— Okay, é uma ilustração de uma borboleta e respetiva crisálida — comentou Gray. Semicerrou os olhos e leu a legenda que acompanhava o desenho. — Danaus chrysippus... tal como referiu.
Jane estendeu o braço e tocou com a ponta do dedo na imagem.
— Só que esta borboleta não é a monarca-africana. O padrão das asas está completamente errado. O meu pai sabia que eu nunca confundiria esta imagem com a da verdadeira Danaus chrysippus.
Gray inclinou-se para a frente.
— Deve ser mais um mapa de Livingstone, à semelhança do escaravelho egípcio que indicava a localização da deusa enterrada.
Jane anuiu.
— Outro mapa escondido em mais uma imagem com uma ligação egípcia.
— Onde está o mapa? — perguntou Gray. — Não consigo vê-lo.
— Eu mostro.
Derek virou o ecrã para si, a fim de manipular a imagem. Rodou a borboleta até ficar equilibrada na ponta de uma das asas e mostrou o resultado.
Depois, começou a trabalhar na imagem propriamente dita.
— Se apagarmos tudo exceto o padrão da asa inferior, ficamos com uma silhueta que faz lembrar um conjunto de lagos interligados por cursos de água. Além disso, reparem no pequeno X que Livingstone inscreveu junto de um desses rios.
— Deixe-me adivinhar — disse Gray. — Descobriu um lugar que corresponde a esta configuração de rios e lagos.
Derek fez que sim com a cabeça.
— Fica já ali ao fundo da rua onde estamos... ou do rio, para ser mais exato. — Fez surgir um pequeno mapa no ecrã e pô-lo lado a lado com o desenho camuflado na asa da borboleta de Livingstone. — A silhueta é idêntica à do lago Vitória, assim como à dos lagos mais pequenos.
Gray pegou no iPad para ver melhor.
— E o X fica junto a um pequeno rio que corre do Ruanda para o lago Vitória.
— Acho que podemos estar a olhar para a fonte do rio Nilo — disse Jane, com uma pontada de excitação na voz.
— Ou para uma das fontes, pelo menos — acrescentou Derek. — Podemos ver os outros rios que também correm para o lago Vitória. É por isso que a origem do Nilo continua a ser disputada até hoje.
Gray franziu o sobrolho, parecendo subitamente preocupado.
— Que se passa? — perguntou Jane.
Gray endireitou-se e retirou do bolso o tubo de ensaio que o professor McCabe enterrara na areia. Removeu a tampa de borracha e desenrolou o pequeno retângulo de pele guardado no interior, revelando uma vez mais a ténue linha de hieróglifos.
— Se bem me lembro, a tradução disto diz algo parecido com levar um barco até à boca do rio. E mais qualquer coisa sobre elefantes, ou ossos de elefantes.
Jane estendeu a mão para a relíquia, apenas para baixar de novo o braço.
— A boca do rio... — disse baixinho. — Pode ser uma referência à fonte do Nilo. Tal qual como estamos a discutir. — Apontou para o mapa de Derek. — Talvez nos esteja a dizer para irmos ao local assinalado pelo X.
— Mas como podemos ter a certeza? — perguntou Derek. — Quem nos garante que o que está aqui escrito é importante?
Gray apontou para ambas as pontas da fila de hieróglifos.
— A fila começa com um leão e termina com uma mulher. Não são estes os símbolos do deus Tutu?
— E são os mesmos que decoram o aríbalo de Livingstone — acrescentou Jane. — As duas figuras até estão viradas nas mesmas direções, uma para cada lado, como no artefacto.
Gray fitou-a.
— O seu pai pode ter-se apercebido disso mesmo e retirou esta secção de pele de uma das múmias, para esconder essa informação. Mais tarde, enterrou-a no deserto para salvaguardá-la, deixando uma pista para a Jane seguir.
— E não se esqueçam dos elefantes — lançou Kowalski, com um brilhozinho nos olhos. — Lembram-se daquele pote engraça... quero dizer... pequeno, em forma de elefante?
Jane assentiu, sentindo que as peças começavam a encaixar; mas não inteiramente.
— Ele tem razão.
Derek contraiu o rosto, como se sentisse o estômago às voltas.
— E se a cura estivesse num desses potes?
Kowalski franziu a testa.
— Eu bem disse para trazermos o raio do elefante.
— Não — disse Jane. — Tenho a certeza de que o meu pai testaria tudo e mais alguma que encontrasse nesses potes.
— Além disso — acrescentou Gray —, quem saqueou o túmulo teria levado os potes, caso fossem importantes.
Jane apontou para o mapa de Derek.
— A resposta tem de estar aqui. O meu pai sabia-o, mas não tinha maneira de lá chegar e não queria que os seus captores descobrissem.
— Por isso, tentou escapar para pedir ajuda. — Derek virou-se para Jane. — E sabendo que poderia falhar, deixou estas pistas para a filha seguir.
Jane sabia que ele tinha razão. Desviou o rosto, sentindo os olhos humedecerem.
Seichan entrou na divisão, ainda a enrolar uma toalha no cabelo. Devia ter-se apercebido de toda a tensão e excitação.
— Que se passa?
Gray sorriu-lhe.
— Está na hora de fazermos as malas.
Kowalski esfregou as mãos de contente.
— Sim, vamos à procura de elefantes!
15h03
Valya decidiu que não correria mais riscos.
Deixou-se ficar a aguardar num pequeno aeródromo nos arredores de Cartum. O sol endurecera a pista de areia e terra ao ponto de parecer cimento. O local não constava de nenhum mapa, e os utilizadores regulares eram os traficantes de droga e os rebeldes sudaneses. A polícia, assim como o exército, eram bem pagos para fazer vista grossa em relação ao que se passava ali. Para todos os efeitos e propósitos, aquele sítio pura e simplesmente não existia.
Valya retirou algum conforto dessa ideia. Aquela era a sua verdadeira casa, as fendas do mundo. Depois de afundar o punhal da avó no pescoço do homem que matara a mãe, pegara no irmão e desaparecera por uma dessas fendas, para as quais, quer por desagrado quer por medo, ninguém olhava duas vezes. Nessa altura, ela e Anton tinham-se um ao outro.
Mas isso acabara.
Anton encontrara uma nova casa, um novo coração.
Assim seja.
Com ou sem ele, regressaria onde pertencia.
O rugido de um motor desviou-lhe a atenção para a direita de onde se encontrava. Uma carrinha de caixa aberta transpôs o portão de uma vedação de arame a cair aos pedaços. Um antigo soldado sudanês, carregando uma metralhadora de assalto, acenou e concedeu-lhe a passagem. Valya contornou o Cessna estacionado e foi ao encontro da camioneta.
Kruger apeou-se, seguido de quatro dos seus homens. Eram todos os que tinham sobrevivido à destruição no subsolo do deserto. Outros quatro tinham morrido. Kruger perdera metade dos companheiros naquele buraco, uma realidade que carregava na expressão enquanto se aproximava. Não fora difícil convencê-lo a alinhar na alteração de planos.
— Então? — perguntou Valya.
Kruger assentiu com a cabeça, esfregando os nós dos dedos ensanguentados.
— Foi necessário usar de persuasão, mas confirmei o que ouviste. O manifesto do voo estabelece uma rota direta para o Ruanda.
Valya mantivera a distância do inimigo após ter sido emboscada pelo grupo de nómadas, Enquanto Seichan e Jane McCabe se reuniam nas dunas, recorrera aos olhos do Raven para localizar o Unimog abandonado pelo rapaz. Conduzira até lá enquanto os outros estavam distraídos, circulando devagar para minimizar o rasto de poeira. Em seguida, completara a missão da noite anterior, escondendo um transmissor GPS numa das jantes do jipe. Concluída a tarefa, seguira caminho para se juntar a Kruger.
Respirou fundo e esticou o pescoço. Sentia-se mais solta, mais descontraída, mais livre do que em muitos anos. O seu erro anterior fora fixar-se apenas na conclusão da missão que lhe fora atribuída. Enquanto estivera focada na captura de Jane, desviara toda a atenção do jipe em fuga, chegando ao ponto de abdicar da vigilância oferecida pelo drone que o perseguia, o que permitira ao rapaz juntar-se à turba de nómadas.
Era algo que não voltaria a acontecer.
Depois de se juntar a Kruger, seguira facilmente o rasto do jipe até Cartum, descobrindo onde o grupo se encontrava escondido. Mesmo assim, mantivera-se ao largo. Tendo aprendido a lição, utilizara um microfone laser para escutar as conversas deles a meio quilómetro de distância, apontado o feixe invisível de infravermelhos à janela do quarto e detetando as pequenas vibrações sonoras no vidro, transformando-as em palavras murmuradas aos seus ouvidos. Infelizmente, essa tecnologia não era perfeita. Conseguira uma ideia de qual seria o próximo passo do grupo, mas precisava de confirmação e enviara Kruger para obtê-la.
Ao que parecia, os alvos haviam alugado um avião ligeiro, um Cessna 208 Caravan, com destino ao sul do Ruanda. Valya pretendia segui-los, e iria fazê-lo a bordo de um avião do mesmo modelo. A única diferença é que o Cessna dela era uma variante militar, fornecido pelos contactos de Kruger. Era um Combat Caravan, um avião usado pelos rebeldes da região, até no Iraque.
Olhou de relance para o poder bélico que transportava sob as asas.
Dois mísseis AGM-114 Hellfire.
As pontas dos lábios arquearam-se de satisfação.
Estava farta de obedecer a mestres, de ser reprimida pelas suas restrições e forçada a cometer erros para estar à altura das expectativas. Tencionava voltar a ser dona do seu nariz, de ser livre para regressar às fendas do mundo. Sabendo isso, não via necessidade de atender às condições que lhe haviam sido impostas.
— Mantemos o novo plano? — perguntou Kruger, subindo para o avião.
Valya subiu a seguir.
— Sim, matamo-los a todos — respondeu.
QUARTA PARTE
A SELVA PINTADA
22
3 de junho, 10h08 EDT
Ilha de Ellesmere, Canadá
Mal viu chegar os guardas, Painter percebeu logo que alguma coisa não batia certo.
Hartnell dera-lhe até às oito da manhã para se decidir a cooperar e ajudá-lo a deitar a mão a Kat e Safia, mas esse prazo há muito que já lá ia, deixando-o a andar nervosamente de um lado para o outro no interior da cela. Duas horas mais tarde, dois guardas entraram de rompante no quarto, de armas em punho, e obrigaram-no a enfiar uma parca e um par de botifarras, antes de o algemarem à frente e o obrigarem a segui-los.
O atraso começava a ser inquietante. Será que acontecera algo a Kat e Safia? Teria a cooperação deixado de ser uma prioridade? Nesse caso, para onde o levariam os dois guardas?
A vestimenta e a ausência de algemas nos tornozelos sugeriam que o mais certo era ter pela frente uma caminhada, provavelmente ao frio. Os próprios guardas usavam pesados casacões de inverno. Tentou sacar-lhes informações, mas não teve sorte nenhuma.
Em vez de abandonarem o edifício, desceram três andares.
Aquilo não fazia sentido.
Para onde nos dirigimos?
Finalmente, chegaram a umas portas de metal. Um dos guardas introduziu um cartão de acesso na fechadura magnética e entrou primeiro.
O segundo empurrou Painter para diante com o cano da metralhadora.
Ato contínuo, fez-se luz. Painter compreendeu por fim a necessidade de usar roupas mais quentes. À frente deles, abria-se uma passagem recortada na parede rochosa da ilha. Embora naturalmente isolado dos elementos, o ar que se respirava continuava a ser o do gélido Ártico. O bafo da respiração formava uma nuvem esbranquiçada. O túnel toscamente construído na rocha prolongava-se por dezenas e dezenas de metros, sem uma única porta ou porta lateral à vista. Uma fiada de lâmpadas dentro de armações metálicas alumiava o caminho.
Painter ergueu os braços acorrentados e fez deslizar os dedos pela superfície da parede.
Deve ser um túnel de uma antiga mina.
De repente, julgou saber para onde se dirigiam. No extremo oposto, um conjunto idêntico de portas selava a passagem. O grupo executou a mesma dança para sair do túnel e regressar à idade moderna. Aço, vidro e blocos de betão materializaram-se diante de si, revelando outra secção da estação.
A base prolongava-se e fazia uma curva para ambos os lados, protegida em toda a parte da frente por janelas com vidros à prova de explosões, que davam todas para a cratera estratificada que avistara lá de cima, da primeira vez que ele e Kat tinham sobrevoado a zona. Embora aquela parte da estação não contornasse por completo o buraco com aproximadamente quatrocentos metros de largura, abarcava cerca de metade, subdividindo-se em várias estações de trabalho a todo o comprimento. Viam-se pessoas com batas de laboratório e macacões de diversas cores a correr de um lado para o outro ou sentadas diante dos monitores. O barulho ambiente reduzia-se ao mínimo, como se estivessem no interior de uma catedral. E daí, talvez fosse uma catedral construída com o propósito de venerar a ciência.
À medida que se aproximava da sólida janela, Painter divisou as negras nuvens de tempestade cavalgando o céu. Pelos seus cálculos, aquela secção em forma de U estava localizada a meio caminho da parede escavada na pedra. Logo abaixo, iluminado por grandes projetores, o fundo do velho poço de extração suportava a enorme base quadrada da nova encarnação da Torre Wardenclyffe de Hartnell. No exterior, traves de aço erguiam-se e davam forma ao esqueleto piramidal de um arranha-céus, culminando numa prodigiosa taça cilíndrica eivada de descomunais anéis de aço e eletroímanes que albergavam uma esfera condutora.
Inicialmente, quando visto do ar, o topo da torre parecia ter a forma de um globo perfeito, mas, naquela perspetiva mais baixa, Painter compreendeu que apenas vislumbrara o cimo arredondado de um ovo gigante. Pôs-se a imaginar o logótipo da Clyffe Energy — o Ovo de Colombo.
Este traçado será intencional, ou não passa de um arquétipo?
— Ah, bons olhos o vejam! — Vindo lá de cima, de uma das estações, Simon Hartnell dirigiu-se a ele. Vestia uma parca prateada, com o fecho por correr. — Peço desculpa por tê-lo feito esperar.
— Não tenho ninguém à espera — respondeu Painter, observando a agitação à sua volta. — Que se passa? A azáfama por aqui é muito maior do que seria de esperar num vulgar dia de trabalho.
— Acertou em cheio!
Dito aquilo, pôs-se de novo em movimento, uma deixa mais do que evidente para que Painter o seguisse, e assim foi. Não se podia dizer que tivesse grande escolha, com os dois guardas sempre colados a ele. Hartnell foi direito a outro homem de parca, um indiano com uma expressão empedernida e preocupada.
— Apresento-lhe o doutor Sunil Kapoor — disse Hartnell.
Painter reconheceu o nome do físico. Ganhara o Prémio Nobel pelo trabalho desenvolvido com o plasma, concretamente no que respeita a uma nova maneira de criar o quarto estado físico da matéria a partir de metais vaporizados. Era mais do que evidente que Hartnell se apoiava em diversas pessoas, além de Nikola Tesla, para completar a sua visão.
— Está na hora de irmos até lá fora para proceder à verificação final das estações remotas de comando — declarou Hartnell. — Tudo isto é deveras empolgante!
Kapoor parecia tudo menos empolgado. Continuava a olhar por cima do ombro na direção da pirâmide de aço. Mas Hartnell não era homem para aceitar uma recusa.
Conforme seguiram ao longo da curvatura da estação de comando da torre, defrontaram-se com uma nova janela, diametralmente oposta à outra. Painter abrandou o passo e espreitou para uma gruta ali perto. Era quase tão profunda como o poço externo, com a diferença de não se encontrar a céu aberto. Um lago escuro preenchia a depressão até ao cimo, mas as luzes espalhadas pelo passadiço elevado deixavam entrever o tom vermelho-escuro das águas.
Aquele cenário deixou Painter petrificado, sobretudo por ter a certeza de que se tratava do combustível que permitiria alimentar a visão de Hartnell. Aquele filho da mãe cultivara um verdadeiro mar de Pestis fulmen, o micróbio de Tesla. Ao longo do passadiço, uma data de indivíduos enfiados em fatos de contenção empunhavam pranchetas e faziam incidir as luzes brilhantes sobre os tubos de aço, desde o fundo do lago até ao teto por cima deles.
Meu Deus...
— Todos a bordo, vai partir! — disse Hartnell, convidando-os a entrar na carruagem do funicular cujos carris acompanhavam o percurso traçado pela parede inclinada do poço, do cimo de tudo até lá abaixo.
Painter entrou juntamente com os outros. Assim que a carruagem começou a deslocar-se e a subir, uma parede de vidro permitiu-lhe distinguir a torre.
— A julgar pela movimentação generalizada, estou em crer que terá antecipado o teste.
— Pode crer. Depois de me debruçar sobre o assunto, pareceu-me mais prudente.
Painter entendia a lógica do outro. O tipo queria evitar a todo o custo que alguém interferisse com a experiência-piloto, sobretudo se Kat e Safia conseguissem apoio do exterior.
— E continua apostado em inundar a ionosfera com o micróbio, como parte integrante do teste de ensaio?
— Não vejo razão para estar com meias-medidas.
Painter dirigiu-se concretamente ao doutor Kapoor:
— E o senhor não tem nenhum problema com isso?
O físico indiano olhou para Hartnell, depois tornou a enfrentar Painter, e abanou ligeiramente a cabeça.
Estava longe de ser a legitimação mais convincente.
— Analisámos um sem-número de cenários — assegurou-lhe Hartnell. — Considerámos todas as variáveis e mais alguma.
Painter perscrutou o céu.
— Quando se trata de interferir com o planeta, é impossível conhecer as variáveis todas. Arrisca-se a incendiar a atmosfera.
Hartnell fez troça dele.
— Essa preocupação ficou registada na altura dos testes da primeira bomba atómica, mas não impediu o Projeto Manhattan de prosseguir — declarou ele, lançando um olhar triste a Painter. — Foram feitas acusações semelhantes contra a HAARP.
Lá isso é verdade.
— Se optássemos por travar o progresso sempre que alguém grita «acudam que o céu vem abaixo!», nunca faríamos nada. — Hartnell suspirou, alto e bom som. — Por esta altura, ainda andávamos aos caídos, enfiados nas cavernas e com medo do fogo.
A carruagem tocou na beira do poço, e apressaram-se a sair de encontro ao vento que soprava e à neve seca. Toda a gente puxou rapidamente o fecho das parcas. O grupo abriu caminho por entre a floresta de antenas metálicas. Volumosos cabos corriam ao longo da rocha e por debaixo dos retalhos de neve acumulada.
Hartnell conduziu-os através de um carreiro de gravilha até à saída daquela floresta. Enroscados nos casacos, com o rosto tapado pelos capuzes, nenhum deles disse uma palavra.
Mais adiante, à sua direita, Painter viu um Boeing de carga a ser transportado para fora de um hangar, em direção à intempérie. Era suficientemente sólido para enfrentar o temporal, sobretudo considerando que a borrasca conhecera uma ligeira calmaria na última hora.
Depois de ter visto o lago negro, Painter sabia de ciência certa qual a carga que o avião transportaria.
O grupo atingiu o limite da instalação e encontrou dois veículos à espera. Um parecia um carrinho de golfe equipado com uma cabina selada e largos pneus adaptados ao terreno. Painter calculou que seriam utilizados por Hartnell e Kapoor na sua volta de reconhecimento.
As suspeitas confirmaram-se quando Hartnell fez um gesto com o braço e mandou avançar o outro veículo, um Sno-Cat, apontando depois para uma alta encosta ali perto.
— Aqui tem a sua boleia. Temos um posto lá em cima. Tem a vantagem de proporcionar uma linha direta de comunicação durante as tempestades solares. Vai funcionar como a sua base operacional, a fim de coordenar esforços com o Anton no sentido de convencerem a sua companheira e a doutora Al-Maaz a entregarem o material roubado. Para o seu bem e o delas. A coisa pode tornar-se perigosa lá fora.
— E se eu recusar?
Hartnell mostrou-se desapontado.
— O camarada pode ser parte da solução ou parte do problema, agora escolha.
Painter calculou que os problemas fossem rapidamente eliminados por aquelas bandas. Lançou uma olhadela aos guardas armados.
— Farei o que puder — retorquiu. — É tudo o que posso prometer.
— E é tudo o que eu peço. — Hartnell observou a tempestade. — Temos obrigação disso quando nos deparamos com um desafio: tentar ao menos qualquer coisinha para fazer do mundo um lugar melhor.
Painter assentiu.
É precisamente essa a minha intenção.
10h55
Kat tremeu de frio ao despejar o resto do gasóleo no depósito quase vazio do veículo. Pelas suas contas, tinha combustível suficiente para percorrer mais cento e trinta quilómetros naquele terreno implacável, talvez um pouco mais, caso tratasse bem do motor. Ao mesmo tempo, porém, tinha de encarar a verdade dos factos: poderiam nunca alcançar o posto avançado canadiano.
A pé é que nunca lá chegaremos!
Sem as parcas, morreriam de frio.
Mais a mais, via-se confrontada com o estado de saúde de Safia, cada vez mais deteriorado. A febre continuava a subir. Considerando que, seis horas antes, ficara exposta no laboratório, era provável que estivesse num dos estádios iniciais da doença. Por enquanto, Kat e Rory pareciam ter escapado incólumes, mas era caso para perguntar quanto tempo assim permaneceriam.
Além disso, que escolha temos?
Regressou para junto de Kat e começaram a andar. Seguiam ao longo da costa noroeste do lago Hazen, numa faixa que se espalhava por setenta quilómetros e apenas doze de largura, rumo a Alert. Infelizmente, para lá da extremidade do lago, ainda havia que contar à vontade com cento e sessenta quilómetros de zona montanhosa e de glaciares.
Pelo menos, o vento e a neve tinham amainado, mas ela sabia que era uma questão de tempo até a tempestade regressar em força. A ocidente, as nuvens que se formavam no céu mostravam-se cada vez mais carregadas.
Ao olhar naquela direção, Kat apercebeu-se de pequenos clarões perto das montanhas. Rezou para que fossem relâmpagos. Não seria improvável de todo, mas, ainda assim, carregou no acelerador, desistindo de melhorar os níveis de consumo de combustível.
Manteve-se atenta, mas as luzes não tornaram a aparecer.
Safia agitou-se no lugar do passageiro: tinha os lábios secos, os olhos ardiam de cansaço e febre.
— Que calor...
— Estás a arder em febre — disse Kat. — Vê se descansas.
Trocou um olhar com Rory pelo espelho retrovisor.
— Ela precisa de assistência médica — sussurrou ele. — Talvez pudéssemos voltar para...
Kat tinha consciência de que isso representaria a morte certa para Safia. O pessoal da estação não se arriscaria a permitir que mais ninguém ficasse contaminado. Ainda por cima, Kat recusara-se a entregar os dados, fruto de árdua pesquisa. Safia arriscara tudo — e poderia pagar com a própria vida — para impedir que Hartnell tivesse acesso às informações.
— Não — disse ela. — Não regressaremos à base.
O olhar de Rory focou-se no para-brisas.
— Kat, olhe! Ali no lago!
Ela concentrou-se. À sua direita, no meio do gelo, avistou três tendas ocultas na paisagem, com as abas esbranquiçadas de neve. Diante de cada uma, pequenos orifícios circulares, com estacas espetadas ao lado, traçavam linhas que emitiam um brilho azulado. O ruído atroador da viatura arrancou os pescadores no gelo às suas tendas aquecidas.
Àquela distância, pareciam pequenos ursos de casaco de peles e calças grossas.
— Penso que são inuítes — declarou Rory, inclinando-se para diante o máximo que a corda e o cinto lhe permitiam.
Safia não manifestou nenhum interesse; pelo contrário: fez os possíveis por proteger os olhos da claridade.
— Demasiada luz — disse num murmúrio.
A preocupação de Kat em relação à outra aumentou. Um dos sinais de encefalite era precisamente a aversão à luz, que dava pelo nome de fotofobia.
A cabeça de Safia tombou para trás, e ela revirou ainda mais os olhos.
— Demasiada luz...
11h04
Safia esforça-se desesperadamente por proteger o rosto da claridade. Brilhando num céu azul, o sol fere-lhe a vista. Custa-lhe a inspirar e expirar por causa do calor, é como se respirasse fogo. Os pés descalços enterram-se na areia escaldante enquanto se esforça por alcançar as águas frescas do rio.
— Safia, Safia... tens de beber...
Ela procura situar a voz.
A paisagem parece tremeluzir diante dela, agitando as palmeiras. Por entre as ondas da miragem, vislumbra uma estranha terra branca, gelada e tenebrosa. Aos seus ouvidos chega o som longínquo da trovoada.
Vá lá, só mais um golinho...
Depois tudo se desvanece, e tudo o que resta é areia e morte. Por toda a parte, a paisagem veste-se de carcaças de animais inchadas, cravejadas de moscas, cuja carne alimenta os seres necrófagos que reclamam à sua passagem. Continua a avançar, cambaleante, subindo uma duna para observar o rio.
À medida que a sede lhe cerra a garganta, compreende que a salvação é apenas uma quimera.
O rio corre tingido de sangue, exaurindo as terras de vida. Levanta os olhos para o céu, implorando.
— Bebe, Safia...
Para lá do rio, o céu preto, carregado de relâmpagos, raiva e punição, cai sobre ela, sobre o mundo inteiro, ameaçando esmagá-lo.
Dá um passo atrás, depois outro. Vem aí...
Ato contínuo, uma sensação de frescura escorrega-lhe pela garganta, espalha-se pelo pescoço.
Sente-se à beira de se afogar sob o sol inclemente.
— Não resistas, Safia, por favor...
O mundo cintila de novo, como um manto. O sol escurece, a areia converte-se em neve e uma sombra adquire a forma de um rosto.
Um rosto que ela conhece.
— Kat?
— Agarrei-te, minha querida. Estás segura. Tiveste uma pequena convulsão.
Safia desata a chorar, é superior a ela.
— Que se passa?
— Está prestes a acontecer algo de mal... de terrível.
11h32
Pelo menos, são coerentes.
Painter aguardou que o primeiro guarda abrisse a porta que dava acesso ao posto de comunicação, localizado no cimo da montanha — um búnquer de betão com uma floresta de antenas no telhado.
Encostado à ombreira, deixou-se ficar ali a apreciar a vista. Um dos lados espraiava-se pela tundra ártica; do outro, alcançava-se a Estação Aurora de lés a lés. Distinguia-se perfeitamente a espiral do conjunto de antenas, e o mesmo acontecia em relação à torre que encimava o poço da mina.
O avião de carga que ele avistara pouco antes encontrava-se junto à pista, com a rampa de trás descida. Havia um exército de empilhadoras a caminho.
Tirando a agitação naquela ilhota perdida na paisagem, nada se mexia. Dava a sensação de que tudo o mais retinha a respiração, à espera do que estava para vir.
— Não fique aí embasbacado — disse o guarda atrás dele, espetando-lhe com a metralhadora nas costas. Queria a todo o custo sair do frio.
Como eu o compreendo.
Painter suspirou e curvou-se para entrar. Parou à porta, ao reparar na cama desfeita que ocupava um dos lados daquele tugúrio. A parede do fundo estava atulhada de equipamentos de comunicação, incluindo diversos aparelhos de rádio e até um transmissor VLF utilizado para contactar submarinos.
No centro daquele ninho, curvado, encontrava-se um homem na flor da idade com auriculares nos ouvidos. De costas para os visitantes, ergueu o braço em jeito de saudação.
— Como é que isso vai, Ray? — perguntou o primeiro guarda.
Sempre atrás dele, o outro tornou a espicaçar Painter com a espingarda.
Já cá estava a faltar.
Painter rodou o corpo e recuou. Com a boca da arma apontada agora à barriga, balançou os braços, pôs a corrente das algemas à volta do pescoço do guarda e, com um golpe de cintura, projetou o homem por cima do ombro, para dentro da divisão.
O primeiro guarda girou sobre si próprio e disparou na direção dele.
Painter caíra desamparado, escudado pelo guarda em vias de ficar asfixiado. Quando os disparos mal calculados do outro atingiram o corpo do homem, Painter levantou os pulsos algemados, como se fizesse menção de o abraçar por trás. Tateou à procura da arma, e enfiou o dedo no gatilho.
Disparou uma violenta rajada de balas.
Um par de balas atingiram o primeiro guarda, no joelho e no peito. O tipo tombou para o lado. Painter voltou a fazer pontaria e precisou apenas de mais um disparo, que não desperdiçou. O guarda caiu aos seus pés. Ainda agarrado ao prisioneiro, que arfava e sufocava nos seus braços, Painter virou a espingarda para o operador de rádio. Sentado, completamente apanhado de surpresa, fazia lembrar um veado encandeado pelos faróis.
— Ray, que tal debruçares-te sobre o teu amigo, encontrar a chave e libertar-me destas algemas?
Ray hesitou, deitou uma olhadela ao seu equipamento e confrontou Painter.
— Tens duas hipóteses, Ray. Ou acabo contigo e vou eu próprio à procura da chavinha, ou me dás aqui uma ajuda e passas tu a usar as algemas, isto se quiseres ver o Sol nascer amanhã. E aqui no teto do mundo, olha que pode demorar uma eternidade.
Ray acabou por se revelar um tipo razoável.
Painter algemou o operador à cama e atou-lhe os tornozelos com os fios dos próprios auriculares. Posto isso, esfregou os pulsos. Tinha enfiado uma peúga na boca do homem e reforçara com fita adesiva, não fosse o diabo tecê-las.
— Agora, Ray, a não ser que tenhas alguma objeção, vou pegar em mim e naquele Sno-Cat lá fora e vou à procura das minhas amigas. E tu não vais abrir o bico, entendido?
O homem assentiu vigorosamente.
Muito sensato da tua parte!
Painter agarrou numa das espingardas e meteu ao bolso dois carregadores extra que encontrara ao revistar os bolsos dos guardas. Armado, decidiu-se a enfrentar os rigores do frio: subiu para o veículo e deixou para trás a Estação Aurora. Diante dele, a tundra estendia-se a perder de vista.
Vamos ao que interessa.
12h45
Simon tomou a sua posição ao leme da estação de comando. O coração batia-lhe desalmadamente no peito ao observar pela janela a imponente torre, um testemunho do génio de Tesla.
E do meu, é bom de ver.
Homens e mulheres continuavam a preparar-se para a prova de fogo, procedendo a múltiplas verificações dos vários sistemas. À sua frente, no painel, tinha luz verde de todas as estações.
Num monitor à esquerda, observou o rasto branco de vapor deixado pelo Boeing na pista, enquanto a velocidade aumentava. O avião fez subir os trens de aterragem e começou a ganhar altitude, transportando a sua carga rumo às alturas. Simon sorriu, sem nunca deixar de lhe seguir a trajetória. Depois, ouviu barulho de passos atrás dele e virou-se a tempo de ver um homem todo vestido de preto esgueirar-se para o seu lado — um dos membros da equipa de Anton.
— Senhor?
Simon esperava que fossem boas notícias da equipa de busca, mas, a julgar pela expressão lívida do outro, era pouco provável.
— Que se passa?
— Acabámos de saber que o prisioneiro escoltado até ao posto de comunicação escapou à vigilância e matou os dois guardas. Segundo o operador de rádio, usou o Sno-Cat para fugir e ir à procura das companheiras. Está fortemente armado.
Simon cerrou o punho em sinal de frustração. Estava vermelho de raiva, pronto a explodir. Entrava pelos olhos dentro que Painter Crowe era mais do que um simples inspetor da DARPA. Todavia, obrigou-se a relaxar e inspirou fundo.
Tenta ver as coisas numa perspetiva mais abrangente.
No fundo, nada mudara. Com as duas mulheres em liberdade, a situação, embora comprometida, ainda tinha remédio. Aquele novo desenvolvimento não agravava forçosamente as coisas.
Isto pela parte que me toca.
Inspirou fundo.
— Informe o Anton do sucedido. Diga-lhe para ter cuidado.
— Assim farei.
O segurança deu meia-volta e afastou-se a grande velocidade. Simon abanou a cabeça só de pensar na jogada inútil de Painter.
Onde é que ele pensa que vai?
13h04
Painter acocorou-se no ventre cavernoso do jato de carga.
Conforme os quatro motores lutavam contra os fortes ventos, sentia a vibração do avião sob as botas, com o aparelho a ser sacudido de um lado para o outro. A carga rangia e dançava à sua volta de forma pavorosa, ameaçando esmagá-lo.
Encontrava-se a bordo de um bojudo Boeing C-17 Globemaster, avião militar habitualmente utilizado em longas distâncias para transportar tropas, equipamentos e até carros de combate. Fora construído com o único fito de lançar carga aérea a meio do voo. Apesar de ter deixado de ser fabricado, Hartnell devia ter adquirido um daqueles «monstros», tratando depois de o redesenhar e configurar a fim de obedecer às suas necessidades.
Depois de ter abandonado o posto de comunicação, Painter enfiara-se no Sno-Cat, apostado em enfrentar os rigores do tempo e entrara pela tempestade dentro ao volante do veículo. Ao atingir uma faixa de tundra relativamente desanuviada, utilizara uma barra de ferro encontrada na caixa de ferramentas para imobilizar o pedal do acelerador e permitir que o veículo prosseguisse a sua marcha, deixando assim uma falsa pista aos seus perseguidores.
Não contava, porém, que a artimanha durasse muito. Precisava de tempo suficiente que lhe permitisse regressar à estação, para junto do Globemaster imobilizado na pista de alcatrão.
A coberto da tempestade, desatara a correr por trás de bancos de neve e pelo meio de pilhas de caixas sobrepostas até se enfiar debaixo do avião. Viajara a bordo desses gigantescos pássaros, no tempo em que integrava o corpo de Fuzileiros Navais da Marinha dos Estados Unidos. Uma eternidade.
Mas havia coisas que nunca mudavam.
No interior de uma bisarma daquelas existiam esconderijos para dar e vender, sabia isso por experiência própria.
Como tal, deu uma corrida até à cabina do avião, no ponto onde a rampa de carga traseira tocava no alcatrão. Enfiou-se por baixo da rampa e aguardou que o monta-cargas fizesse marcha-atrás, desse meia-volta e se afastasse. Espreitou duas ou três vezes e, aproveitando uma aberta, galgou a rampa e escondeu-se no porão de carga. Como seria de esperar, o espaço encontrava-se a abarrotar. Duas filas inteiras de paletes, nove de cada lado, continham caixotes de alumínio do tamanho dele, cada uma encimada por uma espécie de saco de paraquedas. Estavam sobre um sistema hidráulico de lançamento aéreo que se destinava a impulsionar as duas fileiras de carga pela escotilha traseira em pleno voo.
Painter não perdeu tempo e enfiou-se entre duas paletes — com o corpo descaído, pronto a mudar de posição a fim de não ser descoberto —, apesar de ter sérias dúvidas de que alguém se desse ao trabalho de inspecionar a fundo o porão. Coladas nos caixotes de alumínio, de ambos os lados, viam-se etiquetas vermelhas que alertavam para o risco biológico.
Painter estava farto de saber o que os contentores guardavam no seu interior.
Cubas repletas de Pestis fulmen.
Os paraquedas só podiam fazer parte do sistema de balões meteorológicos utilizado por Hartnell. Palpitava-lhe que deviam autoinsuflar-se no preciso momento em que os caixotes fossem ejetados, transportando a carga mortífera. Uma vez alcançada a altitude ideal, os caixotes abrir-se-iam automaticamente como sementes tóxicas.
Painter examinou a etiqueta junto à sua cara e imaginou a cena.
Afinal, talvez isto não tenha sido uma boa ideia.
23
3 de junho, 17h08 CAT
Parque Nacional de Akagera, Ruanda
Temos de prosseguir...
Agora que o Sol começava a baixar no horizonte, Gray tencionava aproveitar ao máximo o resto do dia. Recordou as explosões e os disparos ouvidos durante o telefonema de Monk. A situação piorava minuto a minuto no Cairo, e tudo indicava que deveria rebentar pelas costuras e atingir toda aquela região instável, e não só.
Gray reunira-se com a equipa numa espaçosa plataforma de madeira ao ar livre com vista sobre o Ihema, o segundo maior lago do Ruanda. Tinham apanhado o avião em Cartum e aterrado o mais próximo possível do local assinalado com um X no mapa de Livingstone, uma pista de terra batida no Parque Nacional de Akagera. Encontravam-se à espera de um guia local que ali trabalhara durante vinte e cinco anos.
A avaliar pelo mapa aberto em cima da mesa, bem que iriam precisar de alguém que conhecesse aquele terreno como a palma da mão. O Parque Nacional de Akagera estendia-se ao longo de mil e trezentos quilómetros quadrados de savanas, pântanos e selvas montanhosas. Albergava um labirinto de lagos e cursos de água interligados, todos eles alimentados pelo rio Kagera, o qual delimitava a fronteira oriental do parque.
Jane deslizou a ponta do dedo pelo mapa, seguindo o curso do rio.
— O afluente deve ser este, certo?
Em Cartum, o grupo estudara os vários rios que convergiam para o lago Vitória — a origem do Nilo Branco — tentando determinar qual dos afluentes correspondia melhor ao traçado do mapa secreto de Livingstone. O Kagera parecia a escolha óbvia, fluindo da margem ocidental do lago Vitória para atravessar o território do Uganda e Tanzânia, virando depois para sul, ao longo da fronteira do Ruanda.
Ainda assim, havia sempre o risco de estarem enganados.
— Vejam isto — disse Derek.
Enquanto esperavam pelo guia, Derek procurara consubstanciar a avaliação anterior, utilizando o iPad para analisar mapas adicionais da região, tanto novos como mais antigos. Mostrou aos outros um traçado da região com o rio Kagera destacado e algumas medições incluídas.
— Como podem ver, o parque situa-se a cerca de cento e trinta quilómetros, ou oitenta milhas, a oeste do lago Vitória.
— E que tem isso de especial? — perguntou Gray.
Derek fez surgir a ilustração da borboleta e crisálida feita por Livingstone. Ampliou a crisálida.
— Se repararem, o corpo da lagarta foi desenhado com oito segmentos. Acho que o Livingstone usou a crisálida como uma espécie de legenda para o mapa. Um instrumento de medição, se preferirem.
Gray anuiu com a cabeça.
— Oito segmentos, oitenta milhas.
Embora não constituísse uma prova definitiva, era um bom indício de que se encontravam no caminho certo. Jane sorriu e deu uma palmadinha na mão de Derek, em sinal de apreço. Saltava à vista de todos que aquilo ajudara a tranquilizar o grupo.
Seichan afastou-se do corrimão da plataforma, onde estivera os últimos minutos a contemplar a paisagem.
— Acho que vem aí o nosso homem.
Um ruído de motor cresceu progressivamente, fazendo com que todos se levantassem da mesa e perfilassem ao longo do corrimão, ao lado de Seichan. Uma embarcação de aspeto invulgar avançou pelo lago, em direção à doca situada diretamente abaixo da plataforma de madeira. Decididamente, era um barco que já vira melhores dias. O casco verde de metal encontrava-se todo arranhado e amolgado em ambos os lados, e o para-brisas exibia de forma agourenta o que parecia ser um buraco de bala.
— O lago é pouco profundo aqui debaixo — notou Seichan —, não sei se é o suficiente para ele encostar à doca.
Pelos vistos, esse pormenor não importava para o homem atrás do leme.
Derek recuou um passo do corrimão.
— Não me parece que esteja a abrandar...
Sem perder o embalo, o barco alcançou a doca e seguiu em frente. A proa ergueu-se no ar assim que embateu na margem do lago, revelando um par de lagartas semelhantes às de um tanque de guerra. Sem se deter, a embarcação anfíbia elevou-se da água e prosseguiu terra adentro, até se deter ao lado da plataforma, com a borda do convés nivelada à altura do corrimão.
O piloto sorriu-lhes, nitidamente a apreciar as expressões de espanto de todos.
— Muraho! — disse, saudando-os na sua língua nativa, o quiniaruanda.
Vestia um casaco estilo safari e calças caqui a condizer. Apesar dos seus sessenta anos, aparentava uma boa forma física, com apenas uns fios grisalhos na cabeleira negra.
— Bem-vindos a Akagera! — prosseguiu. — O meu nome é Noah Mutabazi, e apesar de não trazer uma arca — deu uma palmada no flanco do barco —, posso garantir-lhes que este menino não os desapontará!
Gray e os outros ficaram a olhar para ele. A forma como chegara não constituía o único fator surpresa.
Mutabazi não vinha sozinho.
Kowalski recuou dois passos.
— Eh lá! Quem é que encomendou o bichano? — disse, reparando na criatura que se materializou nas costas do guia.
O leão bocejou e espreguiçou-se com aquele arquear de costas característico de todos os felinos, revelando longas presas amarelas e uma língua cor-de-rosa.
— Ah — disse o guia —, é o meu navegador. O nome dele é Roho, que significa «fantasma» em suaíli.
O nome assentava-lhe como uma luva. O bicho exibia uma pelagem de tom amarelo esbranquiçado e olhos cor de âmbar. A mutação que originava leões brancos não tinha nada que ver com albinismo, mas com uma rara característica genética chamada leucismo, que se traduzia numa perda parcial de pigmentação.
Noah coçou o pescoço do seu bichinho de estimação, arrancando-lhe um ronco profundo de satisfação, o equivalente ao ronronar de um gato.
— É ainda bebé — explicou o guia.
— Isso é um bebé? — perguntou Kowalski.
Gray olhou de relance para o companheiro. Era natural que estivesse tão espantado. O bebé deveria pesar mais de cinquenta quilos.
— Sim, é apenas uma cria — confirmou Noah. Quando falava em inglês, as palavras acusavam um sotaque britânico. — O seu primeiro aniversário é no próximo mês. Conto que cresça muito mais do que isto em menos de nada.
Noah agitou uma crista de pelo branco que corria do topo da cabeça do leão até à base do pescoço.
— Como podem observar, a juba dele é imatura. Na verdade, ainda nem sequer aprendeu a rugir. Só deverá fazê-lo daqui por uns meses.
Roho roncou e mordiscou-lhe as mãos, como se se sentisse insultado com aquela afirmação.
— Onde o arranjou? — perguntou Jane, com cara de quem lhe apetecia fazer umas festinhas no bicho.
A expressão de Noah tornou-se mais séria. Olhou para lá do lago, para a extensão de terras do parque.
— Há dois anos, introduzimos novos leões-sul-africanos no parque numa tentativa de restaurarmos a população da espécie, desaparecida destas terras desde há décadas. — Deitou um olhar esperançoso na direção do grupo. — Com a adição dos leões, e, quem sabe, um dia, de rinocerontes-negros, o Akagera poderá regressar em breve aos seus dias de glória.
— E o Roho? — insistiu Jane.
— Ah, sim, uma das novas leoas encontrava-se grávida quando chegou. Nasceram três crias, uma delas o Roho. Como as taxas de sobrevivência na natureza não são famosas, retirámo-lo da ninhada para oferecer aos irmãos melhores condições de sucesso, além de que receávamos que fosse abatido por caçadores furtivos, à conta da sua invulgar pelagem. Tendo em conta a falta de escrúpulos dessa gente, a mera presença de Roho constituía um risco para os novos leões.
— E decidiu ficar com ele.
— Para o treinar. O plano é libertá-lo mais tarde, quando for mais autónomo e capaz de se defender melhor. Está naquela idade em que a mãe começaria a ensiná-lo a caçar, por isso, trago-o comigo sempre que posso.
Gray observou o Sol que continuava a descer no horizonte.
— É melhor irmos andando. Quero chegar ao local assinalado no mapa antes do anoitecer.
Noah saltou do barco para a plataforma de madeira.
— Mostre-me onde é. Fiquei com uma ideia geral da região que querem visitar, mas talvez possam ser mais específicos.
Roho imitou o guia e saltou também para a plataforma.
— Não se preocupem, não faz mal a uma mosca — assegurou Noah, dirigindo-se para os mapas em cima da mesa.
Gray juntou-se ao guia enquanto os outros aproveitavam para conhecer o leão.
— Este é o sítio onde pretendemos ir — disse, apontando para uma região a norte que correspondia melhor ao X assinalado por Livingstone.
Noah estudou o mapa, respirando fundo.
— Posso perguntar qual é o vosso interesse nesta região em particular?
— Há algum problema?
— Comparado com outros parques, o Akagera tem poucos visitantes. Quando guio um safari, por exemplo, sou muitas vezes o único no terreno. E isto é o que se passa na região sul do parque. A norte, ninguém lá mete os pés.
— Porquê?
— Aquilo é um terreno difícil... montanhas, selvas densas. É das regiões mais indómitas que poderá encontrar em África. Se quer que lhe diga, há quem acredite que aquelas florestas são assombradas. Os próprios rebeldes e os caçadores furtivos não se aventuram a ir para aquelas bandas.
Gray desviou o olhar para a estranha embarcação.
— Mas consegue levar-nos até lá, certo?
— Até bem perto, pelo menos. Para lá disso... — Noah encolheu os ombros. — Seja como for, não chegou a responder-me. O que procuram?
Gray franziu a testa.
— Elefantes.
A expressão de Noah suavizou-se, parecendo aliviado.
— Já podia ter dito. Não há necessidade de irmos procurá-los lá acima. Posso mostrar-lhe os que quiser aqui mesmo, na região sul.
— Isso quer dizer que não existem elefantes a norte? — perguntou Gray, olhando para o mapa.
Noah considerou a questão:
— Nem por isso. Tivemos bastante êxito em restabelecer a população de elefantes, devemos ter mais de noventa animais, mas a maioria habita a região sul do parque. Preferem as savanas e as zonas pantanosas a aventurarem-se nas selvas a norte.
Gray refletiu sobre o que acabara de ouvir.
— O que quis dizer com restabelecer a população de elefantes? — perguntou.
— Tal como a reintrodução de leões, os elefantes só foram acrescentados ao parque em 1975.
— Que aconteceu às manadas originais?
Noah encolheu de novo os ombros.
— Caçadores furtivos e de caça grossa. Tudo o que sei é que as populações indígenas de elefantes desapareceram todas há mais de sessenta anos.
Desapareceram?
Gray sentiu um nó no estômago. Se houvesse ali uma cura, será que desaparecera?
Chegámos décadas atrasados?
Noah abanou a cabeça.
— Quando comecei a trabalhar aqui, ouvia os guias mais velhos a falarem dos tempos de glória do parque. Havia muitas manadas de elefantes nessa altura, incluindo os tímidos elefantes-da-floresta, que habitavam essas selvas montanhosas a norte. Agora não se vê nada disso, mas tenho esperança de que esses tempos possam voltar.
— Tem a certeza? — perguntou Gray.
— Se as coisas podem voltar a ser como eram?
— Não, de esses elefantes-da-floresta terem desaparecido. — Gray voltou a olhar para o mapa. — Disse que ninguém visita essas montanhas, que as pessoas até as evitam. Se esses animais são assim tão tímidos, pode ser que ainda existam por lá alguns.
Noah deitou-lhe um olhar cético.
Gray endireitou as costas, fitando o sol no horizonte.
— Seja como for, não perdemos nada se formos ver com os nossos próprios olhos.
17h31
Jane encontrava-se sentada com Derek no convés do barco anfíbio.
À frente deles, Gray conversava com Noah, enquanto Seichan ocupava a popa, atenta a qualquer sinal de ameaça. Sentado na proa, Kowalski desempenhava a mesma função, com a caçadeira apoiada sobre os joelhos.
Jane fazia o possível por ignorar os perigos da expedição. Em vez disso, contemplava toda a beleza em redor. Além disso, sabia-lhe bem aquele clima tropical, depois do deserto escaldante do Sudão.
Por todo o lado, as águas calmas do lago Ihema espelhavam o céu azul, agitando-se apenas à passagem do barco e deformando os últimos raios de luz que incidiam sobre a superfície.
Toda aquela tranquilidade dava a sensação de que tinham a vastidão do lago por conta deles, mas Jane sabia que isso não era verdade.
Ainda que aquele pudesse ser o único barco que por ali navegava, o lago vibrava de vida. Ciosos do seu território, os hipopótamos agitavam-se ao longo das margens, por vezes abrindo as suas poderosas mandíbulas numa demonstração de desagrado e força. Noutros pontos, escondidos por entre a vegetação aquática, as formas alongadas dos crocodilos constituíam um lembrete de que só os loucos se atreveriam a nadar naquelas águas. Algumas criaturas corriam esse risco, como o poderoso búfalo-africano, mas também não havia muita coisa que preocupasse um animal daqueles.
Jane observou os bandos de grous-coroados e cegonhas que se alimentavam nos baixios. Não eram os únicos caçadores no lago. Uma águia-pesqueira-africana desceu dos céus em voo picado, afundou as patas na água e seguiu a voar, carregando uma forma prateada a contorcer-se entre as garras. Milhares de outras aves puseram-se imediatamente em fuga, demasiado rápidas para conseguir identificá-las, demasiado numerosas para sequer tentar.
Nos pântanos e pastagens ao redor, a vida espraiava-se em todas as direções. Manadas de antílopes ruminavam as ervas, acompanhadas de impalas e zebras. À distância, as formas inconfundíveis dos pescoços das girafas deslocavam-se com vagar, ao longo da savana, lembrando mastros de veleiros.
Com o Sol a afundar-se no horizonte, as sombras alongadas adicionavam pinceladas negras ao longo dos prados e colinas.
Jane suspirou, sabendo como seria fácil deixar-se embalar pelo ritmo daquela terra, mas havia ainda muito que fazer.
Uma palmada seca lembrou-a disso mesmo.
Derek esfregou o braço, deixando uma pequena mancha de sangue do inseto que lhe mordera. Aquelas minúsculas criaturas parasitárias continuavam a ser os grandes propagadores de doenças e morte naquelas paragens: febre do Nilo, dengue, febre-amarela; até o Zika, que viera de um macaco do Uganda. Ficara a saber que todos esses vírus eram flavivírus. O mesmo tipo de patogénico transportado pelo micróbio que combatiam, um cavalo de Troia genético que era capaz de aniquilar gerações de bebés do sexo masculino.
Não admira que tenhamos acabado aqui.
Enquanto se debatia com essa questão, o fascínio pelo parque desvaneceu-se. Afundou-se no assento. Derek seguiu-lhe o exemplo. Jane pegou-lhe no braço e pousou-o por cima dos seus próprios ombros, necessitando de sentir a sua presença. Aninhou-se contra o peito dele.
Derek notou o desânimo dela e tentou mantê-la focada.
— Dou por mim a imaginar as vidas de Livingstone e de outros exploradores como ele. Imagino-os a atravessarem estes pântanos, a combaterem os elementos, os animais selvagens. — Ergueu o braço mordido. — Sem falar destes sacanas, os mais pequenos de todos os predadores.
Olhou em redor.
— O Livingstone deve ter explorado esta região. Sabemos que Stanley o encontrou a definhar numa aldeia nas margens do lago Tanganica, a cento e sessenta quilómetros de onde estamos. Stanley acabaria por voltar a Inglaterra, mas Livingstone nunca mais abandonou África, dando assim continuidade à sua eterna busca pela fonte do Nilo. As suas viagens podem muito bem tê-lo conduzido até aqui.
— Se bem me lembro, o talismã foi-lhe oferecido por um nativo nessas mesmas margens.
Derek assentiu.
— A tribo do homem também lhe prestou homenagem mais tarde, enterrando o seu coração junto a uma ameixeira.
— E depois mumificaram o cadáver — acrescentou Jane, com um amargo de boca, recordando o destino do pai.
— Sim, mas por respeito. Preservaram o corpo em sal e depositaram-no num caixão de cortiça, de modo que fosse transportado para Inglaterra. Encontra-se atualmente sepultado na Abadia de Westminster.
— E valeu a pena? Ele deu a sua vida em troca de umas linhas num mapa.
— Talvez, mas também ajudou muitas tribos locais, combatendo os traficantes de escravos, ensinando-os. Mesmo que não tivesse feito nada disso, a procura do conhecimento nunca é em vão. Cada linha desenhada num mapa ajuda-nos a compreender melhor o mundo, e também o nosso lugar nele.
Jane recompensou o esforço dele com um sorriso.
— Doutor Rankin, o senhor é um ser humano melhor do que eu.
Derek puxou-a para mais perto de si.
— Quem sou eu para dizer o contrário.
Por essa altura, tinham já alcançado o limite do lago e percorriam o labirinto de lagoas, colinas e pântanos que os separavam das montanhas que obscureciam o horizonte. O terreno provava bem a utilidade da embarcação anfíbia. Qualquer que fosse o obstáculo — baixios, lama, areias movediças ou ervas altas —, o barco de Noah simplesmente seguia em frente como se nada fosse.
Mesmo assim, havia quem não estivesse contente com a situação.
— Por que raio não para ele de me lamber? — rosnou uma voz nas costas de Jane.
Jane virou-se e deu de caras com Roho a afocinhar insistentemente Kowalski, ao mesmo tempo que deslizava uma longa e húmida língua pelas bochechas dele. Kowalski conseguia fazer pouco mais do que tentar afastá-lo.
— Está a provar-te — disse Seichan, na outra ponta do barco. — Para decidir se vale a pena comer-te.
Noah deitou-lhe um olhar reprovador:
— Disparate, é por causa do sal no suor. Eles gostam.
Esse pedaço de informação fez muito pouco para tranquilizar Kowalski.
— Ou seja, está mesmo a provar-me — bufou.
Jane virou-se e aninhou-se de novo contra o peito de Derek.
— O que estavas a dizer acerca de o conhecimento ser sempre uma coisa boa?
17h55
Valya pretendia sacar o máximo de informação antes de agir.
Sentada no banco do copiloto, ordenou que circundassem outra vez o lago, a fim de evitar o reflexo do Cessna na superfície espelhada das águas. Nas traseiras da cabina, Kruger tinha a porta lateral aberta. Segurava-se contra o vento, com uma das mãos cravada numa pega metálica e um binóculo na outra. Continuava a observar o progresso dos alvos ao longo da paisagem de lagoas, pântanos e pastagens, provavelmente recordando-se dos companheiros caídos às mãos do grupo.
Valya estava tentada a fazer descer o avião, disparar um ou dois mísseis Hellfire contra a embarcação anfíbia e arrumar de vez o assunto. Ainda que isso os aniquilasse de certeza, não lhe traria a satisfação de que necessitava. Prova disso, era o modo como dava por si a acariciar o cabo do punhal da avó.
Não, isso não me satisfaria nem um pouco.
Ademais, havia razões práticas a ter em conta. Juntamente com Kruger, tinha decidido seguir os alvos, descobrir para onde se dirigiam. Depois, se a situação se justificasse, tratariam eles próprios de reclamar o prémio que os outros procuravam lá em baixo, a fim de o venderem pelo valor mais alto.
Conhecia pelo menos uma pessoa que estaria interessadíssima e dispunha de bolsos fundos. Estava mais do que na altura de jogar com isso a seu favor.
O Simon Hartnell que vá para o diabo que o carregue, e o meu irmão também...
Com a decisão tomada, não tencionava falhar, o que significava obedecer aos ensinamentos dos seus antigos mestres da Guild: ter paciência e aguardar o momento certo. Os sucessivos fracassos que acumulara até ao momento tinham resultado de uma atitude precipitada, de se deixar levar pelo desejo de vingança. Precisava de ser mais fria e calculista.
Tal como a sua presa principal.
Visualizou o rosto de Seichan.
— O Sol está quase a pôr-se — avisou Kruger.
Valya rodou no assento e olhou para o Raven aos pés de Kruger e dos restantes três elementos da equipa.
— Espera até anoitecer por completo.
O plano era aguardar pela noite para lançar o drone, que continuaria a vigiar os alvos com a sua câmara térmica e de visão noturna. Não podia arriscar que o aparelho fosse novamente detetado durante o dia. Assim que largassem o Raven, iriam reabastecer o Cessna e continuariam a acompanhar a situação a alta altitude. Quando chegasse o momento de agirem, o avião desceria o suficiente para Kruger e os homens saltarem com equipamento de queda livre e tomarem conta do perímetro. Depois, ela própria se juntaria a eles, saltando com um paraquedas convencional. O piloto do Cessna ficaria então a circundar a área, aguardando a ordem final para disparar os mísseis, que se conduziriam sozinhos até aos alvos mediante um sistema de localização embutido.
Em alternativa, se os alvos não encontrassem nada que pudessem aproveitar, o assunto seria resolvido apenas com os mísseis. Claro que essa opção não seria nem satisfatória nem rentável, mas as coisas eram o que eram e o problema ficaria resolvido à mesma.
Naturalmente, Valya preferia a primeira opção.
Com isso em mente, deitou um último olhar aos alvos e desejou-lhes a melhor das sortes para a expedição.
18h35
Agora sim, começo a entender o que Noah queria dizer...
Espessa e negra, a floresta adiante tinha um aspeto impenetrável. Quarenta minutos antes, depois de emergir dos pântanos, a embarcação anfíbia concluíra a travessia da savana com o Sol ainda a pôr-se no horizonte. As montanhas a norte, erguendo-se como presas partidas, pareciam rasgar o mundo a perder de vista. Os cumes de granito exibiam as faces despidas, mas o resto encontrava-se coberto por um manto de selva densa. Tudo aquilo lhes parecia inacessível e proibido.
Ainda assim, Jane e Derek uniram esforços para determinar a melhor abordagem, recorrendo a cartas topográficas e hidrológicas do parque. Acreditavam que um pequeno curso de água que fluía das montanhas e corria pela planície poderia ser, em boa verdade, a extensão do Kagera assinalado no mapa de Livingstone com o X.
Pelo menos, era o que esperavam.
Sem uma alternativa melhor, rumaram às montanhas, seguindo o curso do rio. Na verdade, na maior parte do tempo Noah simplesmente navegara rio acima, combatendo a corrente, ora flutuando ora passando por cima de pedras.
Por essa altura, encontravam-se todos encharcados até aos ossos dos salpicos, o que tornava difícil perceber quem estaria mais rabugento por conta dessa circunstância, se Roho ou Kowalski. Cada um queixava-se tanto como o outro, e a noite ter feito descer drasticamente as temperaturas não ajudara.
Os dois faróis do barco alumiavam o caminho por entre a escuridão, porém, mais adiante, acabaram por se encontrar frente a frente com uma cascata, que descia ao longo de vários patamares. A parede de água e rocha assinalava o fim da linha.
Gray observou o topo da queda-d’água. A floresta parecia ainda mais espessa lá em cima.
Noah juntou-se a ele.
— A partir daqui, só dando corda aos sapatos — declarou.
Gray olhou de relance para os outros, como que avaliando a determinação que lhes restava.
Jane adivinhou-lhe os pensamentos e pôs-se de pé.
— Se viemos até aqui, não é um passeiozinho pela floresta que nos vai deter.
Derek parecia menos convencido, mas fez que sim com a cabeça e levantou-se.
Noah aceitou a decisão do grupo, pondo uma espingarda ao ombro e uma mochila. Assobiou e Roho saltou de onde se encontrava deitado com Kowalski, sacudiu o pelo e veio ao seu encontro. Noah pôs-lhe uma coleira ao pescoço com uma engenhoca preta pendurada.
O leão aceitou com relutância o presente, agitando a cauda.
— É uma coleira elétrica — explicou Noah.
Jane franziu a testa.
— Isso é um bocado cruel, não?
— Apenas necessário. Apesar das aparências, não passa de um bebé grande. O que significa que pode distrair-se e magoar-se com facilidade. Tenho de ter uma maneira de lhe chamar a atenção. Mas não se preocupe. — Noah tirou um pequeno transmissor do bolso. — Posso comandar a intensidade do choque. A escala vai de um a dez, e raramente sou obrigado a usar o nível três. Os primeiros dois não passam de uma palmadinha no ombro. Apenas uma maneira de lhe dizer «cuidado, matulão».
Uma vez equipado, Roho esfregou a cabeça contra a perna de Noah.
— Sim, eu sei. És um rapaz bem-comportado.
Seichan passou por Gray à saída do barco.
— Não se arranja uma coisa dessas para o Kowalski?
— Engraçadinha... — disse Kowalski, nas suas costas.
— Não era para ter piada — respondeu Seichan, saltando do convés para a margem do rio e dirigindo-se para a parede de rocha.
Os outros seguiram-lhe os passos.
Gray comprara um novo conjunto de capacetes e distribuiu-os. Não sabia o que iriam encontrar pela frente, porém, a avaliar pela escuridão, era como se estivessem de volta ao subsolo.
Cada um acendeu a sua lanterna, a fim de darem início à escalada.
A tarefa depressa se revelou menos complicada do que julgavam, sobretudo trabalhando em equipa. Recorrendo a lianas, raízes e a todo o tipo de fendas e apoios para os pés e as mãos, foram progredindo devagar ao longo dos vários patamares da face rochosa, ajudando-se uns aos outros quando necessário. O único que não necessitava de assistência era Roho.
Mais ou menos a três quartos da subida, Gray elevou-se para cima de um parapeito, após completarem uma secção mais exigente. Jane lutava para recuperar o fôlego, e Derek não parecia em melhores condições, com o rosto vermelho do esforço. Olhando para os dois, e tendo em conta que se encontravam já a cinco ou seis andares de altura, Gray decidiu que era melhor fazerem uma pausa.
— Bom trabalho — disse para Jane.
Noah parecia capaz de continuar a fazer aquilo durante horas a fio. Apontou para a ponta mais afastada da queda-d’água.
— Acho que somos a atração principal desta noite.
Gray virou-se e reparou num grupo de macacos a observá-los numa pilha de rochas. Algumas das fêmeas carregavam crias às costas.
— Papio anubis — declarou Noah. — Babuíno-anúbis.
— São perigosos?
— Não. Se não os incomodarmos, claro. Estão apenas curiosos. Infelizmente, não posso dizer o mesmo dos macacos-de-face-negra. — Noah olhou para os ramos acima do parapeito. — Os sacaninhas têm a mania de atirarem nozes quando se sentem ameaçados... ou coisas piores, volta e meia.
— Estranho... — disse Jane, mais recomposta do esforço. — Os babuínos não parecem minimamente incomodados pela nossa presença.
— Verdade. E irá perceber que isso é bastante comum por estas bandas. Temos, de facto, poucos visitantes. Como tal, alguns animais nunca desenvolveram um receio natural em relação aos humanos. No mês passado, uma mulher acordou na tenda com um macaco-azul aninhado ao lado dela, o que é deveras impressionante, devo dizê-lo, já que estamos a falar de uma espécie que foi considerada extinta aqui no parque. Isto só prova que, se dermos uma oportunidade à natureza, ela acaba sempre por nos surpreender.
Kowalski franziu a testa para os babuínos.
— Se acordar com um daqueles ao meu lado, de certeza que a primeira palavra que me virá à cabeça não será surpresa, mas, sim, mer...
Gray cortou-lhe as palavras.
— Vamos continuar.
Completaram o resto da escalada sem incidentes. No topo da cascata, o rio serpenteava pelo interior de uma floresta que parecia ainda mais impenetrável, com a escuridão rompida apenas pelos chamamentos das aves.
Derek observou o cenário em frente.
— Esta selva parece primordial, como se tivéssemos viajado no tempo.
— É o que estamos a fazer, de certa forma. — Noah alcançou uma catana e avançou ao longo do rio, pronto para abrir caminho à força de braços, caso necessário.
Roho seguiu-lhe os passos, abanando nervosamente a cauda.
— Esta região do Ruanda faz parte do rífte africano oriental, uma enorme fenda que abrange todo a margem ocidental do lago Vitória, curvando-se em forma de lua crescente desde o lago Tanganica até à fronteira da bacia do Nilo.
Dere virou-se para Jane.
— Se o Livingstone tivesse seguido ao longo desse trajeto — sussurrou —, acabaria por vir ter aqui.
Noah prosseguiu, apontando com a catana.
— Estas são algumas das montanhas mais antigas de África, formadas no período pré-câmbrico. — Olhou por cima do ombro. — É o mesmo que dizer que fazem parte da própria crosta terrestre. Estas florestas são quase tão antigas quanto isso.
Gray perscrutou a selva, apreciando a história viva que o rodeava. Numa atitude de quase reverência, o grupo manteve-se em silêncio ao longo do quilómetro seguinte, caminhando em fila indiana, as luzes dos capacetes a sugerirem a forma de uma lagarta iluminada a embrenhar-se mais fundo nos mistérios ali existentes.
Roho começava a mostrar-se um pouco mais confiante. Afastava-se de quando em quando para cheirar qualquer coisa ou aliviar-se, mas acabava sempre por voltar para junto de Noah, que o presenteava com uma festa ou uma palavra carinhosa.
Noah sorria como um pai orgulhoso, mas também um pouco triste, já que aquela relação havia de ter um fim. A certa altura, curvou-se e encostou o rosto ao focinho do seu amigo.
— Ndagukunda, Roho, ndagukunda... — murmurou para o ouvido do leão, recebendo em troca um ronco de apreço.
Gray não percebia patavina de quiniaruanda, mas calculou que aquilo quisesse dizer «gosto muito de ti», sentimento que parecia ser recíproco entre os dois.
Passado um bom bocado, o trilho alargara o suficiente para que Gray pudesse caminhar lado a lado com Noah.
— Quando decidiu que havia de trabalhar neste parque?
Gray perguntara-lhe aquilo em jeito de conversa de circunstância, porém, a avaliar pela expressão do outro, parecia ser um assunto delicado. Ainda assim, Noah não se furtou à resposta.
— Quando era rapaz, vivia em Kigali.
— Na capital.
— Correto. Ingressei no Exército aos dezasseis anos de idade, o que me deixou especialmente orgulhoso. Em 1994, tinha sido já promovido a cabo.
Gray começou a perceber a dor presente no seu tom de voz. Em julho desse ano, o mundo assistira a um dos maiores genocídios de que havia memória. Ocorrera precisamente no Ruanda, com a eclosão de uma guerra tribal. Suportado por uma maioria hutu, o governo tentara purgar o país da minoria tútsi. Quando tudo terminou, um milhão de pessoas havia sido chacinado em apenas cem dias, segundo as estimativas.
Noah suspirou, observando a selva.
— Eu nasci hutu.
Não disse mais nada.
Como se sentisse a inquietude do amigo, Roho aproximou-se e esfregou-se nas pernas dele. Noah ignorou-o, perdido nas suas recordações, um fardo contra o qual deveria lutar constantemente para manter ao largo.
— Gosto da minha vida aqui — disse por fim, passados uns minutos. — Os animais têm muito para nos ensinar. Ensinam-nos a viver...
Noah não terminou a frase, mas Gray conseguia adivinhar o resto.
... mesmo quando não merecemos.
Gray deixou-se ficar para trás, permitindo ao homem alguma privacidade. Era óbvio que Noah procurara reinventar-se naquelas terras, protegendo todos aqueles seres indefesos, uma forma de compensar o que não fora capaz de fazer no passado.
Uma vez mais, caminharam em silêncio, concentrando-se apenas em pôr um pé à frente do outro. Avançaram progressivamente por uma zona da floresta onde o rio galgara as margens e inundara o terreno de ambos os lados. Recordava a Gray certas regiões da Amazónia onde, de forma cíclica, as florestas se transformavam em pântanos. No entanto, aquele terreno parecia estável, uma floresta eternamente inundada no coração das montanhas.
Noah cortou alguns ramos com a catana, transformando-os em paus de caminhada para todos.
— Cuidado com as cobras — avisou, demonstrando como deveriam usar os paus para sondarem o terreno imediatamente em frente dos pés —, e também com as areias movediças.
— Escolhes sempre os melhores sítios para nos levar, Gray — comentou Kowalski.
Continuaram a avançar, caminhando mais devagar. Os feixes das lanternas refletiam na superfície negra da água, impossibilitando ver o que se escondia por baixo. Ainda assim, eram poucas as vezes em que a profundidade ultrapassava a altura dos tornozelos, alternando constantemente consoante o desnível do terreno. Pequenas ilhotas pontilhavam a floresta alagada e, de quando em quando, pares de olhos brilhantes fitavam-nos do topo das árvores.
— Gálagos — disse Noah. — Pequenos primatas noturnos.
Passados outros vinte minutos de caminhada, Jane esticou o braço e tocou no ombro de Gray.
— Ali, à nossa direita... aquilo são luzes ou estou a ver mal?
Gray olhou nessa direção. À distância, conseguia distinguir luzes bruxuleantes, pequenas áreas iluminadas por um brilho ténue. Cintilavam num caleidoscópio de tons.
Curioso, ergueu um braço e fez sinal aos outros.
— Apaguem as lanternas.
Às escuras, o efeito tornou-se ainda mais dramático.
Espalhava-se por uma área bastante superior, o brilho mais forte do que dava a entender. Algumas zonas cobriam-se de um manto colorido, outras de uma luminosidade suave. O efeito era tanto fluorescente como incandescente, ora sobre a forma de traços ora de espirais. Era como se Jackson Pollock tivesse passado por ali com um pincel e uns quantos baldes de tintas luminescentes.
— O que está a causar isto? — murmurou Derek.
Jane franziu o sobrolho.
— Não faço ideia... talvez um tipo de bolor ou fungo.
Com tantas cores diferentes?
Não fazia sentido.
Gray virou-se para Noah.
— Já tinha visto alguma coisa parecida?
Noah abanou a cabeça.
— Nunca.
O mesmo se podia dizer dos restantes elementos do grupo.
Curioso como sempre, Roho disparou em direção ao fenómeno, as patas chapinhando na água rasa.
— Não, Roho! Não! — gritou Noah, correndo atrás dele, remexendo os bolsos à procura do comando da coleira elétrica.
Gray acendeu a lanterna e foi também, o que fez com que os outros o seguissem. Conhecia as histórias de pessoas que eram atraídas pelo invulgar fenómeno conhecido como fogo-fátuo, muitas vezes observado em pântanos. Por vezes, essa curiosidade levava a acidentes, algo que era fácil de acontecer em terrenos desse tipo.
Mais adiante, Noah pressionou o botão do comando da coleira, tentando que Roho lhe obedecesse, mas o jovem leão continuou a correr.
À medida que se aproximavam do pedaço de floresta pintada, Noah aumentou a intensidade do choque. Voltou a premir o botão e Roho soltou um pequeno guincho, saltando fora de água, detendo-se finalmente.
Noah apressou-se ao seu encontro, tranquilizando de imediato o animal, que começou a descrever oitos à volta das pernas dele.
— Babarira, Roho — desculpou-se Noah. — Babarira.
Gray e os outros juntaram-se ao par. Ali, no limiar da área afetada pelo fenómeno, o efeito era ainda mais impressionante. Para Gray, era como se estivesse a contemplar uma imagem do espaço sideral debaixo da copa daquelas árvores, a brilhar suavemente, na superfície da água.
— Lindo... — murmurou Jane.
Como que ouvindo-a, a floresta respondeu-lhe.
Um murmúrio ergueu-se das profundezas da escuridão, uma cacofonia de vozes demasiado ténues para serem percetíveis.
Gray sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo todo. Recordou-se das palavras de Noah, quando dissera que aquelas florestas tinham fama de assombradas.
Seichan agarrou-lhe no braço.
— Temos de sair daqui.
Gray ainda recuou um passo, porém, a floresta pintada começara já a mexer-se.
24
3 de junho, 14h38 EDT
Ilha de Ellesmere, Canadá
Se não estivesse tão assustado, há muito que tinha a cabeça a andar à roda...
Escondido no porão, Painter sentiu o Boeing C-17 Globemaster descrever outra curva larga. Após a turbulenta e enervante ascensão através da espessa camada de nuvens, o avião alcançara o ar calmo acima da tempestade e deixara-se ficar às voltas, para trás e para a frente, numa rota estacionária. O mais provável era que a tripulação estivesse a ultimar os pormenores para a libertação dos dezoito contentores de alumínio, cada um com duzentos e cinquenta quilos de Pestis fulmen, porém, com a tormenta abaixo e a tempestade geomagnética acima, as comunicações entre o avião e a Estação Aurora deveriam revelar-se difíceis.
Ou talvez estivessem apenas a ser cautelosos.
Com o rosto encostado ao rótulo de risco biológico do contentor ao lado dele, Painter agradecia todo e qualquer excesso de zelo.
Ficaria também grato se soubesse quantos homens se encontravam a bordo. Usara o tempo disponível para tentar descobrir isso mesmo, mas tivera de ter cuidado, espreitando pelos espaços entre os contentores.
Topara dois homens de uniforme preto — da equipa de Anton —, ambos com o mesmo tipo de arma que trazia consigo. Enquanto aguardava, certificara-se de que os dois carregadores extra que roubara aos guardas na cabana se encontravam totalmente cheios. Também estudara os movimentos dos dois homens. Para mal dos seus pecados, revezavam-se regularmente e teimavam em não permanecer juntos no mesmo sítio.
Temos pena.
Momentos antes, quase fora apanhado por um elemento da tripulação. O homem precisara de se aliviar. Como a única casa de banho se encontrava ocupada, o fulano recorrera a um dispositivo que equipava o porão e servia para o mesmo efeito, uma espécie de funil que escoava para o exterior. O homem estivera tão perto dele que podia esticar o braço e tocar-lhe no ombro. Porém, a proximidade também lhe permitira reparar na pistola que o outro trazia num coldre à cintura. Painter calculava que pelo menos dois homens fizessem parte da tripulação do Boeing, acrescido de um responsável pelo porão e respetiva carga.
As restantes pessoas a bordo eram seis cientistas, homens e mulheres. O modo como davam à língua sem parar denunciava-os como civis, o que representava um problema acrescido, já que poderiam ser apenas investigadores entusiastas, completamente inocentes de qualquer intenção maligna.
Se desatasse aos tiros ali dentro, Painter poderia até ser capaz de despachar os dois guardas, mas poderia também apanhar alguns dos cientistas no fogo cruzado. Além disso, no fim de contas, de que lhe serviria? Ao primeiro sinal de problemas, a tripulação pura e simplesmente trancaria o cockpit, deixando-o a bater com os punhos no lado de cá da porta à prova de bala frustrado e sem soluções. Já para não falar do responsável pelo porão, que também podia acionar o sistema automático de libertação dos contentores.
Em virtude de tudo isso, o seu plano era bem mais simples.
Na parte da frente das duas filas de paletes havia dois botões vermelhos de emergência, um de cada lado do porão. Serviam para desativar o sistema hidráulico encarregado de empurrar cada uma das filas de nove paletes pela rampa traseira do avião. O plano tinha apenas dois pequenos problemas. Primeiro, os botões apenas funcionavam quando as coisas estavam já em movimento, o que era o mesmo que dizer que só poderia agir no último segundo. Segundo, mesmo que pressionasse os botões, o responsável pelo porão continuaria a dispor da opção de anular o sistema manualmente, permitindo-lhe libertar a carga na mesma.
Portanto, o que Painter precisava era de encontrar uma forma de, no tempo disponível entre o primeiro e o segundo problema, convencer toda a gente a bordo a parar o que estavam a fazer.
Para o conseguir, precisava de uma última coisa.
Reféns.
Uma comoção agitou os cientistas ao redor de uma estação de trabalho improvisada. Um monitor exibia um mapa dinâmico da tempestade que varria a ionosfera, sobre o qual os doutos investigadores trocavam comentários crípticos uns com os outros.
— Reparem no pico de plasma. Um HSS, com toda a certeza.
— Pode ser uma região de interação corrotativa.
— Uma CIR? Nem penses nisso, a escala geomagnética está quase no limite.
Sem uma única janela no porão, Painter podia apenas imaginar como seria a visão de uma aurora boreal àquela altitude. O sol do meio-dia ainda brilhava acima da camada de nuvens, porém, com a sua posição tão baixa naquela altura do ano, uma aurora daquela dimensão seria provavelmente visível. Painter desejava poder contemplar todo o seu esplendor. Só não estava à espera de que um génio o ouvisse e decidisse fazer-lhe a vontade.
Um som grave de pistões hidráulicos ergueu-se ao redor dele. Painter olhou por cima do ombro e viu a traseira do avião começar a abrir-se. A luz do dia irrompeu pelo porão sombrio, acompanhada de gritos entusiastas e palmas.
Painter encolheu-se entre duas paletes. A fúria do vento era ensurdecedora, mas o efeito de arrasto da gigantesca aeronave impedia que se fizesse sentir no interior do porão. O avião oscilou uns segundos à conta da rampa estendida, porém, o piloto logo provou a sua competência, mantendo as asas niveladas e estabilizando de imediato o aparelho.
Naquele momento, voavam na direção do Sol baixo, o que oferecia a Painter uma vista privilegiada para o manto azul-escuro que ficava para trás. Ondas cintilantes verdes e vermelhas espraiaram-se no céu, dançando e misturando-se umas com as outras. Como que hipnotizado, Painter nem se apercebeu da mudança de timbre do sistema hidráulico, porém, um estremecer mecânico despertou-o de imediato do seu transe.
Um dos pistões fora ativado.
Painter calculara que ejetassem uma fila de paletes de cada vez, já que minimizaria o risco de os balões meteorológicos se enredarem uns nos outros depois de abertos. Para azar dele, a fila de nove contentores onde se encontrava escondido era a primeira a ir borda fora.
Com o sistema em movimento, Painter deu uma última espreitadela, memorizando as posições de toda a gente no porão, depois abandonou o esconderijo e correu agachado ao longo do espaço entre as paletes e a curvatura da parede do avião.
Alcançou o botão de emergência e deu-lhe uma palmada.
O pistão, que ainda avançava vagarosamente em direção à fila de contentores a bombordo, deteve-se de imediato com um chiar desapontante do sistema hidráulico.
As cabeças rodaram e os olhos de todos cravaram-se em Painter, perfeitamente chocados com a sua presença, como se a figura dele se tivesse materializado do ar.
Estava na altura de abrir as hostilidades.
Abrigou-se atrás do primeiro contentor a bombordo e apontou a metralhadora de assalto à fila de paletes a estibordo, centrando a mira num dos rótulos de risco biológico.
— Ninguém se mexe! Ou vamos todos desta para melhor!
Vamos lá ver que valor dão às próprias vidas... e à dos futuros primogénitos, já agora.
Pelos vistos, a ameaça não chegara aos ouvidos do responsável pelo porão. O segundo pistão gemeu e começou a avançar para a outra fila de paletes, preparando-se para empurrar a vantagem de Painter borda fora. O homem deveria ter notado a luz vermelha acesa na primeira fila, optando então por ejetar a segunda, o que lhe daria tempo para investigar a causa da avaria sem atrasar o lançamento.
Infelizmente, a decisão comprometia o plano de Painter. Não havia maneira de atravessar o porão e carregar no botão de emergência do outro lado, pelo que não podia fazer nada que não fosse ficar a assistir ao avanço do pistão.
O braço mecânico empurrou a primeira palete contra a segunda, que empurrou a terceira, dando assim início ao desfile mortal de contentores em direção à rampa de lançamento do avião.
Painter aguardou que o pistão se encontrasse mais perto da sua posição. Fez pontaria aos cabos hidráulicos do braço mecânico, na esperança de que um tiro certeiro os rompesse. Apertou o gatilho e disparou uma rajada controlada, receando o perigo de as balas ricochetearem naquele espaço fechado. Duas romperam um dos cabos, mas isso não teve nenhum efeito na ação do pistão.
Desconhecendo a intenção de Painter, um dos guardas abriu fogo. Nenhuma das balas inimigas o atingiu, porém, talvez tivesse sido melhor. A tão curta distância, as munições perfuraram facilmente o contentor de alumínio, atravessando-o de um lado ao outro uns centímetros acima da cabeça dele. Perderam energia suficiente para apenas beliscarem o seguinte, mas o mal estava feito.
Uma fonte carmesim derramou-se por cima de Painter, encharcando-o. Pelos gritos de alarme e terror, calculou que o líquido estivesse também a derramar-se pelos buracos na frente do contentor.
Foi apenas o início do desastre que estava para vir.
Painter ouviu um som sibilante acima dele.
Oh, não...
Assim que levantou os olhos, o balão meteorológico irrompeu do invólucro selado no topo do contentor, insuflando-se como um airbag de automóvel durante um acidente. Uma das balas deveria ter atingido o dispositivo que o acionava. O cogumelo de tecido elevou-se contra o teto do porão, sacudindo-se violentamente, procurando uma forma de escapar daquele espaço fechado. Logo a seguir, fez aquilo para que fora concebido e voou em direção à rampa de lançamento, arrancando o contentor perfurado da palete e arrastando-o atrás de si.
Painter mergulhou para se desviar. O volume de duzentos e cinquenta quilos passou a centímetros de lhe abrir o crânio ao meio e foi embater nos restantes, derrubando um atrás do outro ao longo da fila de paletes, porém, o peso combinado de todas as unidades acabou por deter o contentor à deriva. O balão rasgou-se e esvaziou-se sobre a fila de paletes num emaranhado de cordas e tecido.
Indiferente à confusão, o pistão no lado contrário continuou a desempenhar o seu trabalho.
Painter ficou a assistir enquanto cada um dos contentores era lançado borda fora. Caíram ao abandono, desaparecendo de vista. Logo a seguir, um atrás do outro, o céu azul-escuro pontilhou-se de cogumelos brancos, os contornos iluminados pela aurora boreal. Nove balões elevaram-se em direção às camadas superiores da atmosfera, cada um balançando a sua carga mortal. Impotente, Painter deixou-se ficar sentado no chão.
— Que raio aconteceu aqui? — gritou uma voz, despertando-o do seu torpor.
Painter virou-se, calculando que fosse o responsável pelo porão. O homem parecia à beira de um ataque conforme ganhava consciência da confusão que ele arranjara. Os dois guardas também se aproximaram, cada um apontando-lhe a respetiva arma.
Ensopado até aos ossos de Pestis fulmen, Painter fitou o homem e apenas encolheu os ombros.
— Se pensa que o dia está a correr-lhe mal, imagine o meu.
15h39
Aguenta-te...
Kat inclinou-se sobre Safia e aplicou-lhe uma compressa fria sobre a testa. Depois da primeira convulsão, transferira a companheira semi-inconsciente do Sno-Cat para uma das tendas inuítes no lago Hazen. Apesar da fraca aparência exterior, a habitação nómada encontrava-se apetrechada com uma cama desdobrável, aconchegantes peles de animais e uma lareira com ventilação exterior.
Os três pescadores inuítes — Tagak, Joseph e Natan — haviam oferecido ajuda, mas Kat receara expô-los ao patogénico e pedira-lhes que se mantivessem afastados. Ainda assim, aceitara a oferta para usar a tenda e um estojo de primeiros socorros, que continha uma providencial embalagem de aspirina, tanto para ela como para Safia.
Engolira três comprimidos, na esperança de não ficar doente, e obrigara Rory a fazer o mesmo. Nesse momento, o rapaz caminhava para trás e para diante nas suas costas. Kat decidira que mantê-lo amarrado era um desperdício de recursos, sobretudo quando necessitara de transportar Safia para a tenda. Além disso, para onde poderia ele fugir? As chaves do Sno-Cat estavam no seu bolso, e o único meio de transporte dos inuítes era constituído por botas de neve e um trenó. Uma hora antes, Natan agarrara no trenó e partira rumo ao posto avançado de Alert, a fim de tentar pedir ajuda.
O lago Hazen tinha uma pequena pista de aviação improvisada. Era um dos três locais do parque onde era possível aterrar um avião. Uma vez que não costumava ser utilizada naquela altura do ano, encontrava-se ainda coberta de neve, porém, Kat mantinha a esperança de que os responsáveis pelo posto de Alert conseguissem enviar alguém ao encontro deles. Pelo menos, era esse o plano.
Também pedira a Tagak e Joseph que se mantivessem de sentinela e vigiassem as montanhas, procurando qualquer sinal das equipas de busca da estação. À semelhança de todas as pessoas que percorriam o território selvagem do Ártico, ambos os homens carregavam uma espingarda ao ombro.
Safia gemeu, sacudindo os braços por baixo dos cobertores. Kat encontrara um termómetro digital no estojo de primeiros socorros e medira-lhe a febre. O termómetro marcara uns preocupantes, embora não letais, 40 graus centígrados. Mesmo assim, para lhe proteger o cérebro dos efeitos da febre alta, Kat continuara a aplicar-lhe compressas embebidas em água gelada na testa e debaixo do pescoço, as quais Rory se encarregava de ir lá fora refrescar periodicamente.
O frio das compressas parecia resultar, e Safia não tivera mais nenhuma convulsão depois da primeira. Todavia, continuava a alternar os períodos de consciência, umas vezes reconhecendo-os e outras não.
Safia murmurou qualquer coisa impercetível, como se estivesse a delirar.
Rory aproximou-se, tentando perceber o que ela dizia.
— Esta língua... acho que é uma forma ancestral de copta egípcio.
— Tens a certeza?
— Quase, mas pode não significar nada. A doutora Al-Maaz é uma reconhecida egiptóloga. Conhece bem a língua copta. Pode estar apenas a atirar palavras ao calhas por causa da febre.
Kat olhou para ele:
— Mas estás convencido de que não é o caso.
— Quando o meu pai e os outros adoeceram, todos eles experienciaram episódios de alucinações.
— O que é bastante comum num cenário de febres altas e encefalite.
— Sim, mas a questão é que todos eles pareciam partilhar o mesmo tipo de delírio. Todas as alucinações tinham que ver com o antigo Egito, com as suas areias escaldantes e doenças.
— Podiam estar apenas a reagir ao calor e ao medo do vírus. As similaridades que apontas são facilmente explicáveis pelo poder de sugestão, o que seria suficiente para desencadear esse tipo de alucinação coletiva.
— É possível. Bem vistas as coisas, algumas dessas alucinações nem sequer se encaixavam nesse padrão.
— Ora aí tens.
Rory suspirou.
— Acho que o meu pai me deu a volta à cabeça.
— Como assim?
— Nós tínhamos longas conversas pela Internet. Ele desenvolvera a sua própria teoria. Acreditava que o micróbio era capaz de registar o padrão de memória de uma pessoa infetada e transmiti-lo à próxima vítima, a fim de estimular esse segundo cérebro da mesma forma que o anterior.
— Com que objetivo? Qual era a vantagem evolucionária que retirava disso?
— O meu pai acreditava que o micróbio apenas capturava as memórias marcantes, sobretudo as mais assustadoras, o que serviria para excitar o cérebro, proporcionando uma maior fonte de alimento disponível. Ao replicar esse padrão na vítima seguinte...
— ... permitia-lhe estimular rapidamente o novo hospedeiro, a fim de obter os mesmos benefícios. — Kat anuiu. — Parece-me interessante, porém, de que nos serve?
— Segundo o meu pai, oferece-nos uma ligação direta ao tempo das pragas bíblicas.
— Como?
— Ele estava convencido de que o micróbio que o infetou, o mesmo que infetou Safia e que ele espalhou pelo Cairo e pelo mundo, é o organismo original que tornou as águas do Nilo vermelhas. Acreditava que o micróbio capturara esse período de pânico e horror, transportando-o até aos nossos dias para que o revivêssemos, ao vivo e a cores, como um eco de um passado distante.
— Depois de tanto tempo?
— Se olharmos pela perspetiva do micróbio, nem é assim muito. O Simon testou o organismo e concluiu que é praticamente imortal, capaz de observar períodos indeterminados de dormência até conseguir a próxima dose de eletricidade passível de despertá-lo. — Rory encolheu os ombros. — É claro que o resto é apenas uma teoria do meu pai. Só estou a mencioná-la porque me lembrei das nossas conversas quando ouvi a Safia a falar egípcio.
Kat refletiu sobre a validade da teoria. No cérebro humano, as memórias eram organizadas na região do hipocampo, porém, pesquisas recentes sugeriam que esse processo era apenas temporário. Mais tarde, o hipocampo recodificava essas memórias como padrões elétricos ao longo de biliões de sinapses, que eram então distribuídos e armazenados em todo o córtex cerebral de forma duradoura.
Recordou as palavras da doutora Kano, quando mencionara a natureza metamórfica daquele organismo, o modo como era capaz de se replicar e formar filamentos capazes de transmitir impulsos elétricos. Será que uma rede interligada desses micróbios seria capaz de capturar e reproduzir padrões cerebrais, sobretudo se fossem originados por uma recordação marcante?
Safia agitou-se, movendo os lábios silenciosamente.
Kat arrepiou-se com a mera imagem do que poderia estar a acontecer no cérebro da companheira.
Rory aproximou-se e inclinou-se sobre Safia.
— Khére, nim pe pu-ran? — murmurou-lhe ao ouvido.
Kat franziu a testa.
— O que lhe disseste?
— Perguntei-lhe em copta como se chamava.
— Porquê?
Antes que Rory pudesse explicar, os lábios de Safia entreabriram-se.
— Sabah pe pa-ran... Sabah — sussurrou ela, como se falasse do fundo de um poço.
Rory estremeceu, recuando imediatamente, com uma expressão assustada.
— O quê!?
Desviou os olhos para o portátil em cima de uma pilha de peles, depois virou-se outra vez para Safia.
— Ela disse que se chama Sabah...
— E qual é a importância disso? — perguntou Kat, sem perceber nada do que se estava a passar.
— Antes de vocês aparecerem, a Safia tinha acabado de descobrir o nome da múmia no trono de prata... a múmia que a infetou. Chamava-se Sabah.
O primeiro impulso de Kat era descartar essa coincidência, atribuindo-a uma vez mais ao poder de sugestão. Se Safia se encontrava a trabalhar nesse quebra-cabeças, a sua mente febril poderia estar a agarrar-se a essa lembrança.
No entanto...
Fitou Rory.
— Como é que ela descobriu o nome da múmia?
— Por causa das tatuagens na pele.
Kat refletiu uns instantes, pegou no disco que retirara do bolso de Safia e entregou-o a Rory.
— Vê o que mais consegues descobrir — disse-lhe, apontando para o portátil. Recusava-se a deixar uma única pedra por virar em toda aquela história.
Rory aceitou o disco de bom grado e sentou-se de pernas cruzadas em frente ao computador.
Deixando o rapaz a trabalhar, Kat voltou a concentrar-se em Safia, fazendo o possível para ajudá-la a combater a doença. Mediu-lhe de novo a temperatura, mudou-lhe as compressas e até conseguiu que engolisse outra aspirina, com a ajuda de um pouco de água.
Rory continuava agarrado ao teclado, ora murmurando palavras de frustração, ora de espanto. Kat deixou-o estar concentrado no seu trabalho.
Por fim, uma voz ergueu-se do lado de fora da tenda. Era Joseph, o mais velho dos três inuítes.
— Vem aí alguém. Muitas luzes a descerem da montanha para o vale.
Kat agarrou na pistola, preparando-se para o pior.
Pelos vistos, está na hora de voltares ao trabalho, Kat.
15h58
Sabah pe pa-ran...
Ela caminha pela milionésima vez pelas areias escaldantes, para lá das carcaças dos búfalos-d’água e por cima dos corpos esmagados dos pássaros de todas as espécies, onde os próprios abutres caíram enquanto se alimentavam.
Ouve os gritos que lhe chegam da aldeia à sua esquerda, uma onda de lamentos e choro. Ainda assim, prossegue em direção ao rio tingido de sangue.
Os crocodilos flutuam inertes, ao sabor da corrente, as barrigas viradas para o sol. Nas margens, as carapaças secas das rãs cobrem os juncos. Por toda a parte, as nuvens de moscas agitam-se em movimentos ondulantes, para cima e para baixo, evocando o mar para lá do delta.
Logo depois, outras imagens se sobrepõem a essa.
Uma mulher segura o seu bebé morto contra o peito.
É o meu filho.
Uma rapariga sufoca enquanto o seu corpo arde.
Eu sou essa rapariga.
Uma velhota corcunda é apedrejada por blasfemar contra os deuses.
Consigo sentir essas pedras partirem-me a cabeça.
E não só...
Ela é uma centena de mulheres, remontando a essa época de miséria. É Sabah e as demais que carregam essa memória. Foi para isso que se prepararam, para se tornarem na hemet netjer... a aia de Deus. Aprenderam a receber a dádiva da água, embebendo-lhes a alma, ocultando os próprios medos para que não manchassem a memória do tempo de miséria, preservando-o para a mulher seguinte, para que nunca se esqueça.
Carregar essa lembrança era uma maldição.
Saber o que sabiam, uma bênção.
E agora sou uma dessas mulheres.
Alcança por fim a margem lamacenta e fita a muralha de escuridão que se ergue para lá do rio, onde o mundo termina. A tempestade engole o sol, porém, não lhe chega. Estalam relâmpagos, e logo as bolas de granizo martelam a areia como os cascos furiosos de mil garanhões. Sabe que contempla o passado e o futuro que há de vir.
Fala para a mulher seguinte.
Tens de avisá-los.
16h05
— As condições mantêm-se em linha com o que esperávamos para a realização de um teste otimizado — informou o doutor Kapoor, virando-se para Simon.
Os dois homens encontravam-se ao leme da estação de comando, cuja parede de vidro curva oferecia uma vista panorâmica para a torre. Ao longo da última meia hora, as emoções de Simon tinham alternado entre a fúria e a exaltação.
Não conseguia perceber como é que Painter Crowe aparecera subitamente a bordo do avião de carga. Era como se o raio do homem tivesse pura e simplesmente ganhado asas e voado até lá. As consequências da sua ação estavam à vista, com o avião contaminado e metade da carga ainda a bordo, porém, apesar da tentativa de sabotagem, nove contentores de Pestis fulmen tinham sido lançados com êxito.
Olhou para o ecrã que exibia um mapa da ionosfera. Pequenos pontos luminosos assinalavam os locais onde os balões haviam despejado as suas cargas nos níveis inferiores dessa camada eletrificada da atmosfera. Pelo que podia observar, as estimativas digitais dos fluxos energizados da tempestade geomagnética continuavam a agitar-se e a espalhar-se de acordo com o previsto.
Kapoor indicou com a cabeça na direção do ecrã.
— As projeções continuam favoráveis, mesmo sem metade da carga. Apesar disso, devemos dar tempo às nossas sementes para se fixarem convenientemente. — Apontou para um ponto no ecrã onde havia uma maior concentração de energia. — Calibrei o feixe para atingir esta zona. Também não podemos esperar demasiado, já que correríamos o risco de vermos as nossas sementes dissipadas pelas correntes da ionosfera.
— Qual é a estimativa?
— Dez minutos.
— Ótimo.
Simon ergueu-se nas pontas dos pés, de tamanha excitação.
Mais dez minutos e o sonho de Tesla será finalmente realizado... assim como o meu.
O telefone da sua estação começou a tocar. Simon levantou o auscultador e ouviu apenas ruído branco. Sabia quem se encontrava no outro lado da linha.
— Anton?
— Encontrámo-los.
— E o disco?
— Devemos recuperá-lo nos próximos dez minutos.
Simon sorriu pela coincidência.
Perfeito.
— Nesse caso, já sabe quais são as ordens — disse.
— E as mulheres?
Simon desviou os olhos para outro ecrã. Exibia o atual padrão de voo do avião, ainda às voltas sobre o Ártico. Painter Crowe deixara de ser um problema, apenas uma ponta solta. Não via nenhuma necessidade de guardar uma moeda de troca para negociar com ele.
— Resolva o problema. De uma vez por todas.
— Sim, senhor.
Simon cerrou os punhos atrás das costas, tentando conter a excitação. Começou a caminhar para trás e para diante, os olhos cravados no painel de luzes à sua frente.
Tudo verde.
Após o que pareceu uma eternidade, Kapoor voltou a juntar-se a ele.
— Então? — perguntou Simon, porventura detetando alguma hesitação no outro.
O físico sorriu e apontou para a chave inserida na consola.
— Tudo a postos para a ignição.
Simon sentia que o momento deveria ser assinalado com algumas palavras portentosas, um discurso triunfal acerca de mudar o mundo, mas deixou que as suas ações falassem por si. Sem mais demoras, aproximou-se da consola, pôs a mão na chave e rodou-a.
Sentiu uma vibração de energia subir-lhe pelas pontas dos dedos à medida que os sistemas despertavam, ou talvez fosse apenas da própria excitação.
Finalmente...
Todas as atenções se focaram na vista em frente.
— Observe o topo da torre — disse o físico.
Simon ergueu os olhos. Os anéis de cobre começaram a girar, arrastando atrás de si os gigantescos eletroímanes. No centro desse ninho de metal, um ovo de supercondutores revestido a titânio rodou lentamente, com a ponta para baixo.
— Espantoso... — murmurou Kapoor.
No decorrer de um minuto, os anéis giravam já a toda a velocidade, transformando os ímanes num borrão. O ovo ergueu-se em pleno ar, perfeitamente equilibrado no interior do seu casulo de energia; depois, começou a rodar lentamente, a ponta subindo em direção ao céu enegrecido.
Sustendo a respiração, Simon deu um passo em frente, levando Kapoor consigo.
Exalou profundamente, assim que a ponta do ovo ficou apontada para os céus.
Com um estouro que soou como se o mundo se tivesse partido ao meio, um raio de puro plasma saiu disparado da torre. Gritos e assobios ecoaram pela estação de comando. Na cabeça de todos, testemunhavam o primeiro passo para salvarem o planeta. Relâmpagos azuis irromperam do topo da torre e espalharam-se pela espiral de antenas, dançando nos ramos da floresta de metal. A visão lembrava a Simon o fenómeno natural conhecido como fogo de Santelmo, que tantas vezes assombrara os mastros dos navios cruzando mares desconhecidos.
A diferença é que a sua viagem explorava um oceano muito mais misterioso.
A coluna de plasma atravessou as nuvens, dividindo-as. Novos relâmpagos irromperam do céu coberto, numa tentativa de dissipação de toda aquela energia. O raio continuou o seu percurso em direção às camadas superiores da atmosfera, onde finalmente encontrou o seu alvo.
Atingiu a ionosfera, embatendo no escudo que Simon lançara previamente, uma barreira constituída de minúsculas partículas de vida. A energia espalhou-se em todas as direções à semelhança de uma aurora, originando uma explosão de luz tão brilhante que Simon teve de desviar o olhar.
Kapoor passou-lhe uns óculos de proteção.
Simon segurou-os à frente dos olhos, demasiado excitado para sequer os pôr corretamente. A torre continuou a enviar mais e mais energia em direção aos céus, sobrecarregando a camada de plasma.
— Conseguimos — disse Kapoor, desviando o olhar para os ecrãs. — Parece estar a aguentar-se.
Simon sorriu.
Esperei uma vida inteira por isto...
16h21
Fosse o que fosse, aquilo não podia ser bom.
Painter encontrava-se junto à rampa aberta do Globemaster, segurando-se com uma das mãos ao tecido do balão meteorológico esvaziado sobre os contentores. Lá fora, uma coluna de fogo erguia-se através da tempestade, em direção ao teto do mundo. Alimentada por aquela fonte de energia, a aurora boreal expandia-se em todas as direções com um brilho intenso, ofuscando até o sol do Ártico.
Painter conseguia sentir a carga elétrica na própria pele, à medida que os micróbios que lhe ensopavam a roupa reagiam a toda aquela energia no ar. Atrás dele, na escuridão do porão, as poças de líquido vermelho do contentor baleado cintilavam com um brilho ténue.
Enquanto as observava, uma das poças começou a escorrer como um rio em direção à rampa aberta.
— Mantenham o avião direito! — gritou para os cientistas e guardas que se encontravam do outro lado do lençol de plástico que fora posto à pressa, isolando aquela secção do porão do resto da aeronave.
Painter não queria que aquela mistela venenosa escorresse lá para fora. Calculava que alguma se tivesse escapado durante a confusão, e imaginou o avião a pintar um círculo vermelho por cima das nuvens, alimentando a tempestade abaixo à semelhança de como alimentara os céus acima, com balões meteorológicos.
Depois da pequena catástrofe que ocorrera a bordo, Painter fora isolado do resto da tripulação. Era o único que havia sido diretamente atingido pelo conteúdo do contentor baleado, o qual ainda se encontrava ao seu lado a derramar líquido a cada solavanco do avião. Painter não duvidava de que teria sido abatido naquele instante, caso as circunstâncias fossem outras, porém, felizmente para ele, os outros precisavam de um par extra de mãos, uma vez que ninguém queria expor-se àquele pântano tóxico.
Serve isto para dizer que lhe coubera a tarefa de resolver o problema da rampa do avião, que se encontrava encravada à conta do balão meteorológico. O comando da estação recusava-se a deixar aterrar o Boeing até que a situação ficasse resolvida. Receavam que os restantes contentores pudessem escapar-se durante a aterragem, derramando todo o seu conteúdo biológico pela tundra e pela base.
O que significava que, por enquanto, a tripulação precisava dele.
Painter calculava que a tripulação soubesse que o patogénico era transmissível pelo ar, e que o simples facto de estarem a respirar era o suficiente para ficarem contagiados. Porém, quem era ele para lhes retirar falsas esperanças?
Falsas ou não, essas esperanças estão a manter-me vivo.
Um potente estrondo sacudiu o Boeing, acompanhado de um imenso clarão. Painter viajara o suficiente de avião para saber o que acabara de acontecer.
Fomos atingidos por um relâmpago.
Virou-se de novo para observar os céus. Tal como receara, as coisas lá fora estavam a mudar rapidamente. A aurora boreal estendia-se a perder de vista, com as suas suaves ondas cintilantes a darem lugar a uma furiosa tempestade de luzes coloridas.
Painter conhecia o fenómeno que testemunhava. Chamavam-se eventos luminosos transientes e, à semelhança de relâmpagos, eram descargas elétricas que ocorriam nas camadas superiores da atmosfera. Apresentavam-se de várias formas, e até tinham nomes curiosos para cada uma delas, como duendes, jatos-azuis e elfos.
No entanto, Painter não tinha conhecimento de que algo daquela dimensão tivesse sido alguma vez observado.
Uma dúzia de halos brilhantes despontaram do nada e explodiram em bolas de fogo vermelhas, lançando tentáculos de energia em direção às nuvens, enquanto cones de gás azuis cintilantes dispararam através dos céus.
A tempestade abaixo não parecia particularmente satisfeita com nada daquilo, e retaliou cuspindo uma chuva de relâmpagos, o que apenas fez escalar a troca de mimos entre os céus e as nuvens.
Painter sabia que uma tempestade de tamanho médio continha uma energia potencial equivalente a cem bombas de Hiroxima. A besta que cobria o Ártico teria facilmente dez vezes isso.
Continuou a observar o fenómeno diante dele. Compreendeu que testemunhava uma troca de descargas elétricas entre a ionosfera e a tempestade, cada uma alimentando a outra, ambas tornando-se cada vez mais fortes e furiosas.
O pessoal na Estação Aurora devia ter percebido o mesmo, já que a coluna de plasma que se erguia da torre se extinguira subitamente.
Infelizmente, era demasiado tarde.
Simon Hartnell conseguira, de facto, o impossível.
Ele pegou fogo aos céus...
25
3 de junho, 20h05 CAT
Parque Nacional de Akagera, Ruanda
— Não se mexam! — avisou Gray.
A única luz acesa era a do seu capacete. O feixe iluminava para lá do ponto onde Noah se encontrava curvado sobre o leão, após o ter controlado finalmente com uma valente descarga da coleira de eletrochoques. Os restantes elementos do grupo encontravam-se espalhados atrás de Gray.
Toda aquela correria agitara a superfície da água e lançara pequenas ondas através da floresta alagada, fazendo tremeluzir o reflexo da paisagem estelar adiante, aumentado o seu efeito prismático. A propagação de todos esses brilhos e cores não era o suficiente para romper as sombras espessas por baixo do arvoredo. Em boa verdade, o efeito era precisamente o oposto. As espirais e os tracejados fluorescentes ajudavam à escuridão, tornando o negro ainda mais negro. Quanto mais fixassem o olhar nas luzes, maior era o impacte na retina, o que criava falsos brilhos e sombras enquanto perscrutavam a floresta, dobrando e triplicando o efeito do fenómeno.
Ainda assim, Gray podia jurar que conseguia ver secções inteiras de tinta fluorescente a moverem-se pela floresta, como se pedaços mais pequenos daquela gigantesca tela tivessem subitamente despertado. Os murmúrios que ouvira tinham-se calado, restando apenas um profundo e inquietante silêncio.
— O que anda por aí? — murmurou Noah.
Roho emitiu um ronco e afastou-se do dono. O leão começou a avançar lentamente, com o corpo espalmado e abanando a cauda, quase sem perturbar a superfície da água.
— Roho, oya — advertiu Noah, acenando-lhe para que regressasse.
Gray tocou no ombro do guia.
— Deixe-o ir.
No limiar do alcance da lanterna de Gray, uma pequena secção da floresta pintada avançou em direção ao leão.
Jane soltou uma exclamação de espanto.
Mais ou menos da mesma idade do leão, uma pequena figura materializou-se da escuridão, movendo-se com a mesma cautela e tão curiosa quanto Roho. Uma tromba minúscula ergueu-se no ar, pintada de partículas de vermelho-vivo, curiosa com o cheiro do visitante.
Uma secção maior da tela seguiu-lhe os passos, atraindo outras.
Em jeito de aviso, um barrido grave fez-se ouvir das sombras.
Noah endireitou as costas, pasmado.
— Elefantes...
A pequena cria, que não seria mais alta do que a cintura de Gray, hesitou por um instante, abanando as orelhas largas, nitidamente indecisa entre obedecer ao aviso ou não.
Enquanto o pequeno elefante ali permanecia, no limiar do alcance da lanterna, Gray percebeu o motivo que o teria levado a revelar-se. A pele do animal — que nesse momento se encontrava pintada de tons fluorescentes para se confundir com a floresta — era cor-de-rosa, quase esbranquiçada, o que indicava que a cria era albina. O curioso ser não deveria ter resistido à tentação de examinar o leão branco mais de perto, porventura reconhecendo os atributos que partilhavam.
Os olhos negros do elefante estudaram Roho, que continuava a avançar cautelosamente, com uma postura submissa. Como que encorajando-o, a pequena cria levantou a tromba e emitiu uma espécie de assobio.
Foi o que bastou.
Roho saltou para a frente, chapinhando excitadíssimo na água. A brincadeira ajudou o elefante a vencer a timidez. Com a tromba no ar, ergueu-se nas patas traseiras numa demonstração de força, o que revelou ao grupo que se tratava de um macho. Assim que caiu sobre as patas dianteiras, avançou para o leão com o corpo meio de lado, aos pulinhos, virando-se depois para o outro lado.
O anterior barrido de advertência fez-se ouvir de novo, dessa vez mais forte e acompanhado de outros.
Porém, o pequeno elefante não quis saber disso para nada. As duas crias encontraram-se frente a frente e logo começaram a brincar na água, chapinhando e dando encontrões um no outro.
— O que fazemos? — sussurrou Noah.
Gray encolheu os ombros.
— Por ora, deixamos que o Roho seja o nosso embaixador.
A dupla alargou o perímetro da brincadeira às árvores mais distantes, cada um dos jovens animais revezando-se na posição de perseguido e perseguidor. À medida que os olhos de Gray se ajustavam à escuridão, começou a distinguir silhuetas nas sombras do arvoredo, cujos flancos se encontravam decorados à semelhança do pequeno elefante.
— Quem os pintou? — sussurrou Jane.
Era uma boa pergunta.
Gray recordou o coro de murmúrios.
Quem mais andaria por ali?
Noah encarregou-se de responder.
— Acho... acho que foram eles próprios — disse, num tom perplexo.
Gray franziu o sobrolho.
— Como é que...
Um chapinhar forte e um barrido de aflição cortou-lhe as palavras. Viraram-se todos na direção da pequena ilha que os dois animais tinham acabado de contornar. Roho surgiu do outro lado, a abanar nervosamente a cauda, depois deu meia-volta e desapareceu outra vez de vista.
O grupo apressou-se na direção da ilha, incitado por um gemido aflito de Roho. Contornaram a parcela de terra. Vindo do lado oposto, uma sombra pesada com os flancos pintados trovejou pela água em direção ao mesmo ponto.
Não havia sinal do pequeno elefante.
— Ali! — apontou Noah.
Uma tromba pálida agitava-se uns meros centímetros acima da linha de água.
— Não avancem mais! — avisou Gray, esticando o braço para os outros. Deu mais dois passos e mergulhou.
A lanterna do capacete projetava pouco mais do que um brilho ténue naquela água. O chão da floresta descia abruptamente desse lado da ilha, formando uma depressão. Tateando enquanto avançava, Gray percebeu que o fundo era constituído de uma lama barrenta.
Mais adiante, uma forma materializou-se da escuridão.
Gray nadou até ao pequeno elefante. O animal tinha as patas presas na lama. Sacudia-se em pânico, tentando libertar-se, mas apenas conseguia afundar-se mais um pouco. Gray emergiu e pousou uma das mãos no dorso do bicho, tentando tranquilizá-lo. Teve o cuidado de se manter a flutuar, para que ele próprio não enterrasse as pernas na lama.
— Passem-me uma corda e um cobertor — gritou para os outros, apontando para a ilha. — Podemos usar aquela árvore como alavanca.
— Aguenta-te — disse Kowalski, apressando-se em direção ao pedaço de terra firme.
Noah retirou uma corda da sua mochila, enquanto Jane e Derek sacavam um cobertor das deles. Atiraram tudo para Gray.
Seichan indicou com a cabeça na direção da ilha.
— Despacha-te, Gray.
Uma forma imensa bordejava no limiar das luzes das lanternas do grupo. Era um elefante fêmea, provavelmente a mãe da cria. Não parecia na iminência de atacá-los, porventura pressentindo que estavam a tentar ajudar.
Gray sabia que a situação podia mudar a qualquer instante.
Por essa altura, as narinas do pequeno elefante encontravam-se quase submersas. Gray mergulhou de novo e pôs o cobertor por baixo da barriga do elefante, passando depois a corda à volta do corpo do bicho. Precisou de duas tentativas para conseguir apanhar a ponta da corda do outro lado e voltar à superfície. Apressou-se a fazer um nó e atirou a ponta da corda para Kowalski. O companheiro agarrou-a e passou a corda à volta do tronco da árvore. Cravando os calcanhares no chão, Kowalski começou a puxar.
Gray manteve-se ao lado do animal, segurando na ponta da tromba e tentando mantê-la à tona de água. Também queria que o pequeno elefante percebesse que não tinha sido abandonado.
Na ilha, Kowalski bufava e praguejava, lutando para libertar a cria do fundo enlameado. Não dava ideia de que fosse capaz de fazê-lo sozinho. Derek e Noah juntaram-se a ele.
Finalmente, centímetro a centímetro, a tromba da cria começou a erguer-se da água.
— Continuem! — incitou Gray.
Com um último grunhido e puxão de Kowalski, a lama cedeu por fim. Gray continuou ao lado da cria, dando-lhe palmadinhas no dorso enquanto a arrastavam para fora de água. Uma vez em terra firme, retirou-lhe a corda e o cobertor.
O pequeno elefante tremia, nitidamente abalado, o que arrancou um barrido preocupado à mãe.
Farto de tanta aventura, a cria virou-se e olhou para a mãe, porém, não arredou pé. Parecia estar com medo de voltar a entrar na água.
Noah inclinou-se, fazendo-lhe uma festa atrás da orelha.
— Wakize, umsore — disse-lhe ao ouvido, encorajando-o. Conduziu o animal até ao outro lado da ilha, onde a água era menos profunda e o chão mais firme. — Podes ir, rapaz, estás salvo.
Gray seguiu atrás, mantendo-se uns metros à distância. Não convinha enervarem ainda mais a mãe, que aguardava ansiosa pela sua cria.
Roho manteve-se ao lado do amigo, tocando-lhe com o focinho de quando em quando, a cabeça pendida em jeito de desculpas.
Assim que chegou perto da mãe, o elefante afastou-se do leão e trotou para o lado dela. A mãe inclinou a cabeça e enrolou a tromba à volta do seu menino, aliviada. Cheirou-o de cima a baixo, como que certificando-se de que estava bem. Depois, o par deu meia-volta e encaminhou-se de volta para as sombras da floresta.
— Seguimo-los? — perguntou Jane.
Gray assentiu.
— Foi por isso que viemos até aqui.
O grupo seguiu atrás da dupla de elefantes, mas havia quem não concordasse com o plano.
Um possante macho bloqueou-lhes o caminho. As decorações coloridas pareciam pinturas de guerra. Ergueu a tromba no ar, bufando e brandindo as presas de marfim amareladas. Atrás dele, um conjunto de sombras negras agitaram-se na escuridão.
Noah esticou o braço para o grupo.
— Quietos! Não queremos provocar um ataque.
— Que gratidão — disse Kowalski, entre dentes. — Valeu bem a pena ficar com as mãos todas queimadas do raio da corda.
Como que ouvindo aquelas palavras, a mãe olhou para trás e barriu para o macho.
O macho virou a cabeça e olhou para ela. Baixando as presas, deu meia-volta e seguiu atrás.
— Acho que alguém acabou de levar um puxão de orelhas — disse Seichan.
— Os elefantes são matriarcais — explicou Noah. — As fêmeas comandam a manada.
Seichan encolheu os ombros.
— Parece-me bem.
Enquanto o grupo seguia os elefantes, o resto da manada cercou-os, embora mantendo-se nos limites das sombras pintadas. As fêmeas podiam ser donas e senhoras daquele mundo, mas o grupo manteve-se atento a qualquer alteração no comportamento dos animais. Gray não sabia por quanto tempo a presença deles seria tolerada, mas tinha esperança de que a paciência da manada durasse o suficiente para descobrirem o que mais se esconderia naquela floresta.
Olhou em redor, tentando distinguir um padrão naquela exibição de luz e cor em que caminhavam. Sentia-se pasmado embora estranhamente calmo. Era como se atravessasse uma catedral iluminada a luz de vela. O silêncio era total, apenas interrompido pelo roçar das roupas, pelo bafo dos elefantes e pelo borbulhar da água.
Passado um bocado, emergiram finalmente da selva pintada, o que lhe permitia distinguir o número de elefantes que os acompanhavam. Todos eles carregavam as mesmas decorações brilhantes nos dorsos; verdadeiras telas gigantes, movendo-se vagarosamente pela sombria floresta alagada.
Gray contou pelo menos trinta animais, ou talvez mais, a maioria adultos, mas também um punhado de crias.
Porém, a revelação da manada logo se desvaneceu, à medida que as decorações perdiam o efeito fluorescente. Gray olhou por cima do ombro e verificou que o mesmo acontecia com a floresta. Por alguma razão, aquela magia parecia estar a dissipar-se, o que a tornava ainda mais encantadora, vá lá saber-se porquê.
Noah tentara capturar parte da maravilha que testemunhavam, recolhendo amostras brilhantes dos troncos e ramos baixos das árvores. Cheirara a estranha substância, esfregara-a nas mãos, até a provara com a ponta da língua.
— Hum... — murmurou, quando o efeito se desvaneceu nas próprias mãos.
— O que foi? — perguntou Gray.
— Não tenho dúvidas de que se trata de cogumelos e outros fungos bioluminescentes. Consegui identificar a presença de micélio e de outros corpos frutíferos, que terão sido esmagados e macerados para criar esta tinta. — Olhou ao redor da floresta enegrecida. — Eles devem recolhê-los um pouco por toda a parte nesta floresta milenar.
— Eles quem?
Noah franziu a testa.
— Já lhe tinha dito... os próprios elefantes, claro.
20h25
Derek chegou-se à frente, tão incrédulo quanto Gray. Jane juntou-se a ele, embora parecesse mais fascinada do que incrédula.
— Como é que uma coisa dessas pode ser? — perguntou Derek. — Nós ouvimos vozes. Deve haver uma tribo qualquer a habitar esta floresta.
Noah olhou para o grupo.
— Não. As vozes que ouvimos foram os elefantes.
Kowalski bufou, exasperado.
— Sempre ouvi dizer que os elefantes são inteligentes, mas nunca conheci nenhum que falasse.
— Eles não falam... imitam. Os elefantes conseguem imitar uma variedade de sons, desde outros animais da floresta ao ruído de um motor. E, claro, vozes humanas. Conseguem fazer isto usando as trombas como um instrumento complexo. Aqui no parque, temos um macho que faz uma imitação perfeita do grito de acasalamento do búfalo-d’água. — Noah sorriu. — Escusado será dizer que já tem causado alguma confusão entre os búfalos, quando os animais estão sexualmente ativos.
Jane observou as sombras maciças movendo-se pela floresta.
— Mas porque fizeram isso agora?
— Queriam assustar-nos, possivelmente. Tenho a certeza de que se aperceberam da nossa presença mal pusemos um pé na montanha.
Derek tinha de admitir que o efeito era enervante.
— E a floresta pintada? — perguntou Gray.
— Acho que temos muita sorte de estarmos aqui neste momento e de podermos presenciar isto. Creio que demos de caras com um ritual especial, raramente executado pela sua natureza elaborada e preparação necessárias, mas os elefantes são conhecidos por desenvolverem cerimónias sociais complexas no seio da manada. São os únicos mamíferos, além de nós, que enterram ritualmente os mortos e demonstram sentimentos de pesar pelos que partiram.
Derek olhou por cima do ombro.
— E qual é o significado de decorarem a selva desta maneira?
— Não faço ideia. Terá de lhes perguntar. — Noah sorriu. — De qualquer forma, conhecemos vários exemplos que nos mostram até que ponto estes gigantes são artistas natos, e que possuem uma afinidade especial por cores e padrões.
Jane assentiu:
— Lembro-me de o jardim zoológico de Londres vender pinturas de elefantes na loja de recordações.
— Exatamente. Noutro zoo, não me recordo qual, uma tela pintada por um paquiderme picasso chamado Ruby foi vendida em leilão por milhares de dólares.
— Mas porque fazem isto na natureza? — perguntou Derek.
— É algo que já foi observado antes. — Noah indicou os elefantes. — Eles moem pigmentos naturais e pintam-se uns aos outros. Como lhes disse, acho que deparámos com um desses rituais em curso. Diria que quase se consegue sentir uma certa reverência no ar.
Derek experimentara algo parecido com isso.
— Chegámos numa altura inoportuna — prosseguiu Noah —, tentaram assustar-nos. Porém, também pode ser uma das razões de agora estarem a permitir que os sigamos. Além de termos salvado a cria, a manada pode ter interpretado a nossa chegada como algo providencial, atribuindo-lhe um qualquer significado. — Noah deu uma palmadinha no dorso do leão. — Claro que o Roho também ajudou.
Derek visualizou os momentos de brincadeira entre o leão e o elefante. Acreditava que aquilo tivesse ajudado a construir uma ponte entre eles e a manada, mas calculava que Noah não estivesse a referir-se a isso. Pelo menos, não apenas a isso.
— Repararam no macho e na mãe? — perguntou Noah. — São ambos albinos, tal como a cria.
— Como assim? Não são brancos — notou Jane. — Diria que são mais castanho-avermelhados.
— Sim, é uma cor comum nesta espécie. Os elefantes albinos nascem cor-de-rosa e escurecem com a idade. É raro encontrar-se um elefante verdadeiramente branco. — Olhou de relance para Roho. — Talvez o facto de termos chegado acompanhados de alguém que partilha essa característica genética nos tenha ajudado.
— Seja qual for a razão — disse Gray —, pelo menos deixam-nos segui-los.
Por essa altura, as árvores tinham-se tornado maiores, e as zonas alagadas reduziam-se a poças e pequenos lagos rasos. Os sons normais da selva também tinham regressado lentamente, com os chamamentos ululantes dos macacos e os gritos agudos das aves nos ninhos.
Noah apreciou a natureza em redor.
— Se toda a manada partilhar esta característica genética, pode explicar a razão de terem escolhido esta floresta para viver. Os elefantes albinos tendem a cegar ou a sofrer de problemas cutâneos por causa do sol forte da savana. Aqui poderiam prosperar.
— E esconderem-se — acrescentou Gray.
Noah contraiu o rosto.
— Sim, é verdade. De certeza que os caçadores furtivos fariam deles um alvo. Talvez seja por isso que se embrenharam tanto na floresta e porque são tão tímidos. Sou capaz de apostar que até podem ser noturnos pelas mesmas razões, para evitarem o sol e manterem-se fora de vista.
Derek olhou em redor, interrogando-se se a manada escondia outros segredos.
Continuaram em silêncio ao longo de mais de um quilómetro.
Refeito do susto, o pequeno elefante cirandou de novo até junto deles. Trouxe a mãe atrás de si, que se manteve uns metros afastada, embora atenta.
O pequenote entreteve-se a cheirá-los e a dar-lhes pequenos toques com a tromba. Parecia especialmente interessado em Gray, agarrando-lhe no pulso, como se estivesse a dar-lhe a mão.
— Acho que está a agradecer-lhe — disse Noah.
— E o tipo que fez o trabalho pesado? — resmungou Kowalski. — Não merece um agradecimento? O Gray limitou-se a atar um nó.
Mais à frente, depararam-se com uma face rochosa que parecia assinalar o fim da floresta; uma gigantesca torre negra, coberta de vegetação, que se erguia bem acima deles. Derek recordou-se das palavras de Noah sobre a geologia da região, de como aquelas montanhas eram das mais antigas de África. Tinham sido formadas pelo movimento da crosta terrestre, que se partira naquele lugar e fora empurrada por ali acima.
Derek não duvidava disso enquanto olhava para a gigantesca edificação que bloqueava o caminho. A muralha diante deles dava a impressão de que um pedaço da crosta tombara, abrindo fissuras de cima a baixo que se prolongavam pelo interior da face rochosa.
A manada de elefantes apertou-se ao redor do grupo, formando quase uma fila indiana. A procissão parecia apontar a uma fissura igual às demais.
— Olhem para trás — sussurrou Noah. — Os últimos elefantes...
Os rostos de todos viraram-se.
Os três machos que seguiam no fim da fila tinham-se virado e caminhavam de costas, varrendo o chão com enormes ramos.
— Estão a apagar os rastos da manada... — disse Gray.
— Já vi os elefantes do parque usarem ramos para enxotar as moscas. Uma vez, durante uma época excecionalmente seca, até vi um deles cavar um poço e depois tapá-lo com uma mistura de casca de árvore mastigada e areia, de maneira que a água não se evaporasse. A verdade é que conseguiu usar o poço durante todo o verão. — Noah começou a ficar emocionado. — Eu sei que estes animais são tremendamente inteligentes, capazes de usar os seus enormes cérebros para sobreviverem, resolverem problemas, trabalharem juntos, usarem ferramentas. Mas vejam só como são fantásticos. Como é que alguém pode ter a coragem de matá-los por desporto, ou por um pedaço de marfim?
Jane tocou-lhe no braço, solidária com os sentimentos do guia.
Kowalski parecia preocupado, embora por uma razão diferente.
— Se estão a apagar os rastos da manada, significa que também estão a apagar os nossos. E se for essa a verdadeira intenção deles?
Kowalski estava nitidamente a sugerir algum propósito sinistro.
Gray apontou em frente.
— Acho que só há uma maneira de descobrirmos.
21h02
Dominada pela ansiedade e quase sem fôlego, Jane manteve-se colada a Derek. Sentia-se atraída pelos mistérios adiante, porém preocupada com o que poderiam encontrar. Ainda assim, um receio maior cerrava-lhe a garganta.
E se não houver nada?
Apesar das maravilhas demonstradas por aqueles gigantes, a verdade é que eram apenas elefantes. O que esperavam aprender com eles? Como é que aquilo poderia ter alguma ligação com as areias escaldantes do Egito, com um mistério milenar que remontava ao tempo das pragas de Moisés?
Mais à frente, os elefantes que conduziam a manada entraram na estreita abertura na rocha, desaparecendo. Um por um, os restantes animais seguiram-nos, até que chegou a vez de Jane e dos outros. Assim que entrou no estreito desfiladeiro, olhou para cima e soltou uma exclamação de espanto. Lá bem no alto, o topo encontrava-se coberto por uma densa selva que crescia de ambos os lados.
Encurralado entre aquelas paredes, o cheiro dos elefantes tornou-se mais forte, um odor de excremento doce e peles velhas. Jane engoliu em seco e seguiu atrás dos outros. A passagem tornou-se mais estreita, ao ponto de ela pensar que alguns dos machos não conseguiriam passar por ali, mas tal não se verificou. Jane imaginou-os a encolherem os peitos largos com vista a espremerem-se entre as duas paredes e poderem avançar.
Continuaram a caminhar ao longo do que pareceram uns bons quilómetros, embora tivesse a certeza de que não seria mais do que um. Finalmente, as paredes começaram a afastar-se uma da outra, sugerindo o final da passagem. Porém, havia ainda um último obstáculo.
Jane observou a coluna de elefantes a desviar-se para o lado esquerdo e subir uma rampa de pedra íngreme que ficava desse lado, as crias segurando as caudas das mães com as pequenas trombas. O modo como avançavam sugeria uma certa intemporalidade, como se os elefantes percorressem aquele caminho desde há milénios. O estado da rampa confirmava-o, sendo bem visível o desgaste na pedra das patas dos animais.
A necessidade daquele acesso era evidente.
Permitia aos animais passarem por cima de uma muralha que se estendia por toda a largura da fissura.
A estranha edificação aguçou-lhe a curiosidade. Não parecia natural.
Derek chegou à mesma conclusão. Agachou-se e passou a ponta dos dedos pela superfície áspera da rampa.
— Calcário branco... — declarou, levantando-se. — Esta pedra não veio destas montanhas graníticas. Deve ter sido recolhida noutro lado.
Jane chegou-se à beira da rampa e estudou a muralha. Fora também construída com blocos de calcário, cada um do tamanho de um pequeno automóvel. Não era a primeira vez que via blocos daquela magnitude e forma.
São iguais aos da Grande Pirâmide de Gizé.
— Isto não foi construído por elefantes — afirmou Derek. — Por muito bons que sejam com ferramentas...
Os elefantes que vinham atrás não permitiram que eles se demorassem mais tempo com conversas, bufando o seu desagrado por estarem a impedir a passagem.
Com relutância, Jane deixou-se conduzir pela manada ao longo do resto da rampa, que descia do outro lado da muralha.
Para lá da muralha, as paredes rochosas abriam-se em torno de um pequeno vale. A fissura prolongava-se no lado mais afastado, mas foi a visão mais próxima que captou a total atenção de Jane.
O vale era constituído por uma faixa de floresta e outra de pastagem. Aparentava um ar cuidado, como se gozasse de manutenção. Os elefantes presentes saudaram os que regressavam, barrindo, enlaçando as trombas e esfregando-se uns nos outros. Os que tinham ficado no vale pareciam bem mais velhos, com as peles caídas e peitos ossudos, provavelmente anciãos cuja debilidade física não lhes permitia abandonarem o vale.
Os elefantes retornados espalharam-se em várias direções, cada um encaminhando-se para pequenas zonas de descanso claramente demarcadas, a maioria junto às paredes de rocha, onde a selva acima oferecia maior sombra. Jane sabia que os elefantes eram essencialmente nómadas e não tinham o que se poderia chamar uma casa. No entanto, aqueles animais em particular eram únicos no seu isolamento, impulsionados pela sua biologia e genética para se esconderem do sol, o que os levara a desenvolver um novo modo de vida.
Mesmo assim, não tinha sido nada disso que captara a total atenção de Jane.
Manteve o olhar fixo no lado direito do vale. Um pequeno lago preenchia um dos cantos, metade a céu aberto e a outra escondida na parede de rocha. Jane calculava que fosse alimentado por uma nascente antiga que jorrava algures do sistema hidrológico singular daquelas montanhas quebradas. O teto curvado que se erguia acima do lago parecia iluminado por luzes incandescentes que tremeluziam, porém, alguns desses pontos luminosos libertaram-se da rocha e revolutearam baixinho acima da superfície da água, dispersando-se depois pelos céus do vale como fagulhas.
— Pirilampos — disse Noah.
A luminosidade que emitiam era suficiente para revelar o tom vermelho-escuro da superfície das águas.
Todos sabiam o que significava.
— Meu Deus... — murmurou Derek.
Enquanto estavam especados a olhar para o lago, um jovem elefante macho trotou até à beira da água. Então, para surpresa de todos, o animal mergulhou a tromba naquele caldo tóxico e começou a beber. Jane cerrou os dentes, mas o elefante pura e simplesmente sacudiu as orelhas, enxotando alguns pirilampos que o estavam a incomodar. Uma vez saciado, virou costas e afastou-se.
De imediato, o grupo distanciou-se o mais possível desse lado do vale.
Gray reuniu-os à sombra de um punhado de árvores de folhas largas. A maioria dos elefantes fazia pouco mais do que ignorá-los, mas alguns dos machos faziam questão de se manterem por perto, com as caudas a abanar, nitidamente atentos ao que pudessem fazer.
— O que pensam deste lugar? — perguntou Gray.
Jane alternou o olhar entre o lago e a muralha.
— Sei exatamente onde estamos.
Gray olhou para ela.
— Estamos na boca do rio. Tal como estava escrito no pedaço de pele tatuada escondido pelo meu pai. É tudo tão claro, agora.
Kowalski franziu a testa.
— Para si, talvez.
Derek também parecia não ter dúvidas.
— Há milhares de anos, deve ter havido uma mudança meteorológica dramática. Uma estação de chuvas como nenhuma outra, que terá inundado esta região o suficiente para fazer transbordar o rio Kagera e todos os seus afluentes.
Jane visualizou uma imensa torrente de água a fluir daquelas montanhas.
— A floresta por onde passámos deve ter ficado completamente inundada. Teria sido o suficiente para alagar estas terras altas, permitindo à água infiltrar-se pelas fissuras destas paredes e chegar até aqui.
— Onde se misturou com a água contaminada do lago — prosseguiu Derek —, permitindo ao micróbio escapar-se deste vale e fluir pela montanha abaixo, espalhando-se pelo rio Kagera, depois pelo lago Vitória.
Gray olhou para lá da parede a norte.
— E finalmente pelo vale do Nilo...
Jane assentiu.
— Espalhando a morte à sua passagem e desencadeando as restantes pragas, tal como discutimos anteriormente. A erupção do vulcão Tera pode até ter estado na origem dessa mudança atmosférica que originou as cheias, uma vez que a nuvem de cinza teria atingido esta região.
Gray observou a muralha, sentindo que as peças encaixavam finalmente.
— E durante isso ou pouco tempo depois, alguém do Egito veio à procura da origem do problema, seguindo o rasto de sangue até aqui.
— Exato — disse Jane. — E para que a tragédia não se repetisse, construíram esta muralha, um dique de pedra que impediria uma futura inundação de chegar a este vale.
— De qualquer maneira, o lago não foi a única coisa que encontraram — disse Gray, olhando para os elefantes. — Como nós, os egípcios devem ter-se interrogado como é que estes animais sobreviveram a um organismo tão mortal. Sabemos que já cá estavam nessa altura, uma vez que são mencionados no pedaço de pele tatuada.
Jane esfregou a testa.
— Será que são imunes? Terá alguma coisa que ver com a sua característica genética?
— Não creio — disse Gray.
— Porquê?
— Porque os egípcios que aqui estiveram descobriram a resposta a essa pergunta, e não me parece que viessem equipados para realizar testes imunológicos ou genéticos. Não, está a escapar-nos qualquer coisa. — Gray olhou para o lago. — Para começar, o que levaria estes animais a arriscarem beber desta água?
Noah sugeriu uma explicação.
— Porque poderia dar-lhes uma vantagem evolucionária.
Gray virou-se para ele. Durante a viagem de barco, Jane ouvira Gray explicar ao guia o que procuravam.
— Como é que isso poderia ser uma vantagem?
— A vida nesta região gira à volta do acesso à água. Cada animal desenvolve a sua estratégia singular para sobreviver às épocas secas, as quais, muitas vezes no passado, duraram décadas. É como a história que lhes contei do elefante que tapou o seu poço para protegê-lo. — Noah fez um gesto largo com o braço. — Este vale é uma versão biológica disso. Se os elefantes forem os únicos que podem beber deste lago em segurança, significa que não têm ninguém que possa disputá-lo com eles.
Derek assentiu, concedendo nesse ponto.
— Mas como é que eles «aprenderam» a beber esta água em segurança?
Noah sorriu.
— Os elefantes são espertos e pacientes. Adoram resolver problemas. A adaptação poderá ter levado décadas, por uma estratégia de tentativa e erro. Porém, a pergunta que devemos fazer a nós próprios é esta: porquê reinventar a roda? Porque não tentamos simplesmente aprender o que eles já sabem?
Jane interrogou-se se os egípcios teriam feito isso mesmo há milhares de anos.
Noah ofereceu um exemplo prático:
— No Quénia, os elefantes mastigam folhas de uma determinada árvore para induzirem o parto. Ao observá-los, as tribos locais aprenderam a fazer o mesmo. Como veem, estes animais podem, de facto, ensinar-nos algumas coisas.
— Tudo bem, mas por onde começamos sequer? — perguntou Jane.
Gray afastou-se da sombra das árvores e perscrutou o vale, fixando o olhar no brilho tremeluzente do lago e da gruta. Virou-se para o grupo.
— O pedaço de pele tatuada não mencionava apenas elefantes. Dizia qualquer coisa acerca de ossos de elefantes.
Jane endireitou as costas.
— É verdade.
Gray olhou para Noah.
— Disse-nos que os elefantes são os únicos mamíferos que enterram os mortos. Como fazem isso, exatamente?
— É uma demonstração de respeito pelos que partem. Começa com uma vigília junto ao corpo, depois atiram-lhe terra e galhos para cima, por vezes cobrindo-o na totalidade. Mais tarde, as ossadas continuam a ser reverenciadas; mesmo por aqueles que não fazem parte da família. Na verdade, quando mudam de local, algumas manadas chegam a transportar os ossos com elas de um lado para o outro.
— Bom, e onde poderão estar os ossos desta manada? — perguntou Gray. — Ciosos como são da sua existência secreta, não me parece que deixem os mortos onde possam ser encontrados.
— E de certeza que preferem mantê-los por perto — acrescentou Derek, indicando com a cabeça a fissura nas traseiras do vale. — E se começarmos por ali?
— Vamos a isso — anuiu Gray.
Antes de se porem a caminho, Seichan apontou para a muralha.
— Tanto quanto sabemos, aquela é a única entrada e saída deste lugar. É melhor eu ficar a tomar conta do forte, enquanto vocês vão à procura de ossos.
Gray anuiu:
— Mantém o rádio ligado. Se houver problemas, avisa-nos.
— Acho que serás capaz de perceber, caso tenhamos visitas — respondeu ela, dando uma palmadinha na arma que trazia à cintura.
Despediram-se com um abraço rápido e cada um foi para o seu lado.
Noah manteve Roho por perto enquanto se encaminhavam para a fissura, sobretudo quando passaram pelo lago. Mantiveram-se o mais longe possível das margens, atravessando uma zona de pastagem com ervas pela altura do joelho. Alguns elefantes agitaram-se à passagem do grupo, fungando e barrindo. Um jovem macho carregou em direção a eles, com as orelhas espetadas, porém, quando se encontrava já a dez metros do grupo, pura e simplesmente parou, sacudiu a cabeça e deu meia-volta, com a cauda bem erguida no ar.
— Comportamento juvenil — explicou Noah. — Está apenas a tentar impressionar-nos.
Kowalski encolheu os ombros:
— Putos.
Continuaram a avançar e atravessaram o resto do vale sem serem incomodados.
Quando já estavam a poucos metros da parede rochosa, Noah indicou a fissura:
— A ideia de que existem cemitérios de elefantes é apenas um mito — disse, como se quisesse poupá-los a uma desilusão. — Os animais mais velhos não se dirigem a um sítio específico para morrerem. Esta manada não há de ser diferente, pelo que deve haver ossadas espalhadas por toda a parte.
Jane não tinha tanta certeza disso. Suspeitava de que não havia nada de vulgar naqueles animais. Assim que se aproximaram da passagem, um elefante macho — o maior que tinham visto até ao momento — emergiu subitamente da escuridão, bloqueando-lhes o caminho e disposto a confrontá-los. Ergueu a tromba maciça no ar, agitando as orelhas.
— Acho que este não está a tentar impressionar-nos — disse Kowalski.
— Que fazemos? — sussurrou Derek.
A resposta fez-se ouvir nas costas do elefante macho, um barrido estridente, soando quase exasperado. O macho fitou-os uns segundos, deitando-lhes um olhar enfurecido. Depois, com relutância, abandonou a passagem e desviou-se da frente.
— Acho que alguém quer falar connosco — disse Derek.
Com o caminho livre, o grupo entrou na passagem. O elefante macho seguiu-lhes os passos, bloqueando a saída com o seu corpanzil. Mantinha a distância, caminhando silenciosamente, quase sem fazer um único som, como se pisasse solo sagrado.
Ou talvez esse respeito tivesse mais que ver com quem os aguardava.
Jane olhou em frente. Esta passagem era bem mais escura do que a anterior, densamente coberta de folhagem, mas a lanterna do capacete de Gray alumiava o suficiente. O percurso era irregular, curvando de um lado para o outro, mas logo terminou um pouco mais à frente, numa espécie de redondel sem saída à vista.
Fim da linha, pensou Jane.
Em mais do que um sentido.
O chão da arena encontrava-se coberto de pilhas de ramos e galhos, algumas intactas, outras desfeitas. Presas amareladas espreitavam de algumas, juntamente com ossadas esbranquiçadas. Um punhado de árvores altas erguia-se no lado mais afastado, mas, tirando isso, não havia mais sinais de vida. O chão estéril era uma mistura de areia branca, pedras arredondadas e o que pareciam conchas partidas, como se fosse o fundo de um mar há muito desaparecido.
Jane avançou com os outros e percebeu imediatamente que estava errada.
Aquilo não era areia e conchas, mas ossos esmagados.
Olhou para os pés, horrorizada, tentando imaginar a profundidade daquele manto macabro. Visualizou o número absurdo de elefantes que teriam vindo ali morrer ao longo dos milénios, esmagados pelos seguintes, triturados pelo tempo e pelos elementos até se tornarem naquela areia irregular.
— Lá se foi a teoria de que os cemitérios de elefantes são um mito — comentou Kowalski, igualmente impressionado.
Porém, não eram os únicos presentes na arena.
Uma mão-cheia de elefantes caminhava lentamente ao redor, alguns especados junto a uma pilha de ramos, outros tocando suavemente com as trombas nas ossadas. O silêncio era total, apenas interrompido pelo som das suas pesadas patas sobre aquele chão quebradiço.
Jane sentiu algum do horror desvanecer-se perante o verdadeiro respeito demonstrado pelos animais, o genuíno sentimento de perda que carregavam. Observou um jovem macho baixar a cabeça sobre um dos montes. Uma lágrima isolada correu-lhe pela pele rugosa.
Não admirava que o gigantesco macho tentasse barrar-lhes a entrada.
Não devíamos estar aqui.
Porém, tal como Derek mencionara, tinham sido convocados.
Um velho elefante avançou vacilante em direção a eles, uma enorme matriarca. A sua pele era da cor das ossadas, cinzento-clara, quase esbranquiçada. Parecia que lhes acenava com a tromba, para que fossem ao seu encontro.
O grupo foi cumprimentá-la, sentindo que lhe deviam esse respeito.
— Acho que é praticamente cega — sussurrou Noah.
Pelo que lhes era dado a ver, Noah estava certo. O feixe da lanterna de Gray incidiu sobre o rosto do animal, que não mostrou nenhuma reação.
Enquanto se juntavam à frente dela, a matriarca avançou, com a tromba arqueada. Recorrendo a sentidos mais apurados do que a visão, dirigiu-se primeiro a Jane e cheirou-a. Enrolou suavemente a tromba à volta do pulso da rapariga e puxou-a para si, separando-a do grupo.
Jane olhou por cima do ombro, mas Noah dirigiu-lhe um sinal com a cabeça, tranquilizando-a. Confiando nos anos de experiência dele com aqueles animais, Jane deixou-se ir.
Após alguns passos, a matriarca largou-lhe o pulso. Voltou a dirigir-se ao grupo e escolheu outro companheiro.
Noah também encorajou esse segundo e relutante alvo da atenção da matriarca.
— Komeza, Roho — sussurrou para o amigo. — Podes ir.
O leão seguiu a ponta da tromba que lhe afagava suavemente a pequena juba, até ocupar a sua posição, ao lado de Jane.
Os dois encontraram-se então sozinhos diante da majestosa criatura. Jane reparou nas pestanas brancas nos olhos cansados da matriarca enquanto ela baixava e encostava a cabeça ao seu peito, ao mesmo tempo que estendia a tromba para esfregar o dorso de Roho, o que arrancou um ronco de satisfação ao leão.
Quando a rainha ergueu de novo a cabeça, um fio de lágrimas correu dos seus olhos cansados.
21h32
Gray observou a interação do elefante com Jane e o leão, o modo como lhes tocava ternamente, quase com tristeza, com a ponta rosada da tromba branca.
— Que será que está a fazer? — sussurrou Derek.
Noah abanou a cabeça.
— Parece-me que está a expressar a sua tristeza... só não sei porquê.
Gray sabia.
— Está a lembrar-se — disse.
Derek olhou para Gray, pouco certo do que ele queria dizer com isso. Gray indicou com a cabeça na direção do trio, surpreendido que a explicação não fosse óbvia para o arqueólogo.
— Uma mulher e um leão — declarou.
Derek arregalou os olhos, desviando de novo o olhar para a cena que se desenrolava à frente deles.
— Não está a querer dizer que...
— Ela escolheu os dois. Não me parece que seja uma coincidência — reforçou Gray, visualizando os símbolos gravados no túmulo e esculpidos no aríbalo de Livingstone. — Talvez quem tenha vindo aqui à procura da fonte do Nilo fosse uma mulher, alguém que se fez acompanhar de um companheiro de viagem peculiar. Segundo estou em crer, os egípcios nutriam um fascínio especial por felinos. Alguns até criavam leões como animais de estimação ou caçadores, certo?
Derek anuiu:
— De acordo com os registos, alguns faraós e outras personalidades faziam isso. Contudo, apesar da crença comum de que os elefantes nunca esquecem, não me parece que guardem lembranças que datam de há milénios.
— Normalmente, não. Mas este velho elefante parece lembrar-se muito bem desta parelha. Ainda não consigo explicar como, mas talvez a vantagem evolucionária que discutimos há pouco não seja assim tão linear. — Gray virou-se para Noah. — Mencionou qualquer coisa acerca dos gigantescos cérebros dos elefantes.
— Sim. São maiores do que os de qualquer outro animal terrestre, pesando à volta de cinco quilos, com um córtex que contém tantos neurónios como os cérebros humanos.
Gray concordou com a cabeça.
— O que nos diz que tudo isso os torna no hospedeiro perfeito para um organismo com uma predileção por sistemas nervosos complexos. Se calhar, com o passar do tempo, as duas espécies aprenderam a colaborar uma com a outra, retirando benefícios para ambas as partes. Talvez o micróbio seja capaz de estimular a corrente elétrica do cérebro dos elefantes, aumentando-lhes a já de si considerável memória... e talvez isso também lhes sirva de alguma maneira para passarem conhecimento de geração em geração.
— Vejam — disse Kowalski, interrompendo-lhe o raciocínio. — Ela está a levá-los para algum sítio.
A matriarca virara costas e caminhava lentamente, incitando Jane e o leão a segui-la com pequenos sopros da tromba.
— Vamos — disse Gray, seguindo atrás e certificando-se de que guardava alguma distância para não incomodar a criatura.
A matriarca conduziu o par até ao único punhado de árvores ali existentes, onde se encontravam uma fêmea adulta e a respetiva cria, junto a uma pilha de ramos secos. Parou a uns metros de distância, impedindo Jane e Roho de se aproximarem mais, a fim de não perturbarem os outros dois animais.
Gray também se deixou ficar para trás.
Derek estudou a copa das árvores.
— Ameixas — disse, apontando para os ramos carregados de fruto. — Estas árvores são ameixeiras.
Gray não compreendia a relevância dessa informação. Derek apercebeu-se e encarregou-se de lhe explicar.
— Quando o Livingstone morreu, o seu coração foi enterrado debaixo de uma ameixeira. Além disso, o corpo foi repatriado para Inglaterra num caixão feito com a casca destas árvores.
— Porquê?
— A casca da ameixeira contém resinas que são usadas para curtir pele. O caixão foi parte do método de mumificação usado pelos nativos, quando prepararam o corpo para a longa viagem de regresso a casa.
Gray franziu a testa e olhou para as pilhas de ramos. Era capaz de apostar que eram ramos de ameixeira. Será que os elefantes os usavam com o mesmo propósito? Sentia que isso era um pormenor importante, embora lhe escapasse porquê.
— Alguém sabe o que eles estão a fazer? — perguntou Kowalski.
O tom de repulsa na voz do outro chamou de volta a atenção de Gray para a fêmea adulta e a sua cria. A mãe retirara um osso da pilha funerária. Pelo formato côncavo, parecia um pedaço de crânio. Pousou-o gentilmente no chão e, em seguida, pôs-lhe uma pata por cima e esmagou-o em pedaços. Apanhou uma das lascas e começou a mastigá-la, encorajando a cria a fazer o mesmo.
A fêmea ruminou durante uns instantes, provavelmente desfazendo o pedaço de osso entre os molares. Esteve assim durante uns trinta segundos, depois, cuspiu-o. Para surpresa de todos, o que lhe caiu dos lábios lembrava um pequeno seixo, embora na verdade fosse um pedaço polido do osso que estivera a mastigar.
Gray olhou para o chão debaixo dos seus pés, para aquela cama de ossos esmagados. Havia seixos iguais àqueles por toda a parte.
Que raio?
Uma vez mais, sentia a familiar comichão na parte de trás do cérebro, dizendo-lhe que aquilo era importante, mas não era capaz de juntar as peças do quebra-cabeças.
Qual é o significado de tudo isto?
Enquanto perscrutava o chão da arena, o branco dos ossos começou a tremeluzir com uma miríade de cores. Demorou uns segundos a identificar a fonte. O leito de ossos refletia os tons do céu.
Ergueu a cabeça enquanto ondas de energia varriam as estrelas, lembrando uma aurora boreal.
Aquilo não fazia sentido.
Como que reagindo ao mesmo estranho sinal, os elefantes começaram a barrir. Até a própria matriarca ergueu a tromba e emitiu um assobio pesaroso, repleto de melancolia e desgosto.
Gray olhou para os outros.
O que está a acontecer?
21h55
Da porta lateral aberta do Cessna, Valya observou a dança de energias através dos céus, gigantescos lençóis ondulantes de azul e esmeralda. Sabia o que testemunhava, tendo observado tantas auroras ao longo de incontáveis noites do Ártico.
Sentiu um temor supersticioso percorrer-lhe o corpo, como se aquilo fosse um qualquer aviso de Anton, uma mensagem especialmente endereçada a si. Abanou a cabeça, sacudindo tais pensamentos.
Ao seu lado, Kruger e os homens estavam já equipados com os respetivos capacetes nas cabeças e os paraquedas nas costas. Todos eles olhavam também para o céu, mas Valya precisava que se concentrassem no que se passava lá em baixo.
— Prontos? — gritou para Kruger.
O mercenário olhou para ela e ergueu o polegar.
Tinham monitorizado os alvos durante a noite inteira, acompanhando facilmente o progresso deles ao longo das montanhas pelo sistema de infravermelhos que equipava o Raven. Pelos vistos, os alvos tinham feito o favor de se encurralarem a si mesmos num sistema de desfiladeiros, onde uma família de elefantes parecia ter construído o seu lar. A estranheza de tudo aquilo, aliada ao facto de estarem a demorar-se por ali, significava que estava na altura de dar um salto até lá abaixo e inteirar-se do que tinham descoberto, antes de os despachar desta para melhor.
O piloto desceria o avião a norte desses desfiladeiros, largando Kruger e os seus três homens. Cada um carregava uma metralhadora AK74M, com lança-granadas incorporado. Saltariam a coberto da escuridão, usando óculos de visão noturna, direitinhos ao local onde se encontravam os alvos. Valya saltaria logo a seguir, a fim de cobrir a única saída do desfiladeiro, impedindo qualquer tentativa de fuga para a floresta circundante. A sua arma para essa noite era uma metralhadora Heckler & Koch MP7A1, equipada com visão noturna e silenciador. Acompanhava com quatro carregadores de capacidade extra, cada um com quarenta munições.
Ainda assim, a sua arma de eleição encontrava-se amarrada ao pulso.
A lâmina do punhal iria cobrir-se de sangue nessa noite. Gravaria a sua marca bem fundo na carne, até ao osso, de preferência com a sua vítima a respirar.
O avião começou a perder altitude, preparando-se para largar os passageiros. Debaixo das asas, os dois mísseis Hellfire aguardavam a ordem para arrasar tudo o que houvesse para lá de Valya e dos seus homens.
Nos céus acima, o fulgor da aurora equatorial aumentou de intensidade, transbordando o ar de energia. Valya já não encarava aquilo como um aviso de Anton, mas como um prenúncio ardente do que vinha a seguir.
O avião estabilizou à altitude desejada; Kruger olhou por cima do ombro.
Valya fez que sim com a cabeça.
Está na hora.
Um por um, os cinco deixaram-se cair do céu em chamas.
26
3 de junho, 17h01 EDT
Ilha de Ellesmere, Canadá
Havia tanta eletricidade no ar que Painter sentiu a pele arrepiada. Ao agarrar-se a uma barra do porão para se esticar o mais possível sobre a rampa aberta do Globemaster, uma descarga de estática percorreu-lhe os músculos da mão, contraindo-lhe os tendões e cerrando-lhe os dedos. Painter ignorou a dor e segurou-se bem.
Para lá da rampa, os céus estavam a arder. O ar cheirava a ozono, um odor forte, que lembrava uma mistura de cloro com aquele cheiro característico de uma pista de carrinhos de choque nos parques de diversões. Os pelos dos seus braços eriçavam-se sem parar.
O céu acima bramia com uma aurora que revoluteava como um mar tempestuoso, projetando clarões e jatos azuis de plasma. Os trovões faziam-se ouvir das nuvens negras abaixo como disparos de canhões, que continuavam a cuspir relâmpagos para as camadas superiores da atmosfera.
O avião sacudia-se a cada impacte, as asas tremendo como se tentasse dissipar a energia. Um dos motores Pratt & Whitney começou a deitar fumo negro.
— O que fazemos? — gritou o responsável do porão, segurando-se no outro lado da rampa aberta.
Painter olhou para o interior do porão. Para lá dos contentores de alumínio tombados, o lençol de plástico que servia de barreira temporária rasgara-se. Os cientistas acotovelavam-se ao redor da estação de trabalho, segurando-se o melhor que podiam enquanto tentavam encontrar uma solução para a pergunta do outro. Os dois homens de Anton lutavam para ancorar o resto dos contentores com a ajuda de uma rede de contenção de carga cor de laranja. Chapinhavam nas poças vermelhas que cobriam o chão, indiferentes à ameaça tóxica.
Não era coisa que fizesse diferença naquela altura.
Conforme as condições pioravam lá fora, todos se tinham dado conta de uma verdade irreversível.
Estamos todos no mesmo barco.
Painter gritou-lhes da rampa aberta.
— Isto vai ficar muito pior!
O responsável pelo porão, um jovem de faces ruborizadas chamado Willet, olhou para ele. A sua expressão horrorizada era fácil de ler.
Como é que isso é possível?
Painter apontou para estibordo. Uma secção do manto negro de nuvens girou ominosamente, um monstruoso vórtice de energia e fogo. Uma teia de relâmpagos estendeu-se ao longo de toda a sua mandíbula. Porém, pior do que tudo, uma parte do manto colorido da aurora deformou-se e mergulhou em direção à voragem, como se estivesse a ser sugada pela tempestade.
Para Painter, aquilo era o culminar do que assistira ao longo do último minuto. Visualizou a camada da ionosfera a deformar-se, prestes a romper-se pela ação de todas aquelas forças. Conseguia até adivinhar a causa, já que o coração do caldeirão ardente brilhava com um vermelho intenso.
Conhecia bem aquele brilho em particular. Era o mesmo que lhe encharcava a roupa, ardia na pele e escorria em poças tremeluzentes pelo chão do porão. Tal como suspeitava, uma boa parte da toxina escapara-se pela rampa do avião, alimentando as nuvens mais abaixo.
E ali estava a prova.
Painter visualizou cada partícula agindo como um supercondutor, libertando o potencial da energia aprisionada na tempestade, desencadeando uma reação em cadeia cujo efeito se projetava em todas as direções. Não faltaria muito para que todo esse poder se libertasse com uma energia equivalente a mil bombas nucleares.
Virou-se para o responsável pelo porão.
— Diga ao piloto para nos manter longe daquilo!
Tinham de escapar do alcance da voragem, quanto antes.
Willet assentiu e correu para o cockpit.
Painter susteve a respiração, depois, lentamente, o avião começou a virar e afastou-se, seguindo o seu conselho, o que lhe arrancou o suspiro de alívio.
Temos de...
Uma nova coluna de fogo rompeu as nuvens a bombordo. O piloto manobrou o avião para evitar a colisão, inclinando o pesado Boeing sobre uma asa. A rede de contenção de carga rompeu-se, lançando os vários contentores às cambalhotas pelo porão, esmagando um dos guardas.
Enquanto o Globemaster lutava para escapar ao inferno, Painter olhou, boquiaberto, para a nova ameaça.
Sabia de onde vinha.
A Estação Aurora...
Olhou para baixo, incrédulo.
Que está aquele filho da mãe a fazer?
17h12
— É a nossa única esperança — murmurou Simon Hartnell.
Continuava ao leme da estação, ainda a comandar as operações, recusando-se a abandonar o seu posto. As sirenes de evacuação ecoavam por todo o complexo. Num dos ecrãs, podia observar os vários Sno-Cats e limpa-neves a abandonarem as instalações. Em pânico, algumas figuras com as parcas drapejando contra os ventos fortes tentavam a fuga a pé.
Os que ficaram resumiam-se a uma mão-cheia. Tentavam a todo o custo ajudar Simon a reverter o que havia começado.
O doutor Kapoor correu para ele, com o rosto a pingar de suor.
— É demasiado — disse, ainda a recuperar o fôlego e abanando a cabeça. — Temos de desligar. Não vai aguentar.
— Tem de aguentar — respondeu Simon.
Sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Com os óculos de proteção postos, ergueu os olhos para o topo da gigantesca torre, rezando para que a estrutura resistisse. Raios azuis desciam do supercondutor que girava acima, percorrendo toda a armação até ao fundo do poço da antiga mina, cujo chão se transformara num mar de plasma incandescente. Apesar do painel de vidro grosso, Simon conseguia sentir o calor que emanava da fornalha na base da torre.
Ainda assim, sabia que a energia concentrada lá em baixo era apenas uma amostra do poder assombroso que tentava canalizar para as profundezas da Terra. Depois do resultado desastroso do teste, Simon procurara uma maneira de reverter o processo. Juntamente com Kapoor e o resto da equipa, avaliara diferentes cenários baseados em cálculos apressados, e chegara a uma possível solução.
Fiel aos planos originais de Tesla, a torre de Simon não era apenas capaz de transmitir energia, mas também de recebê-la. O sonho de Tesla era construir uma rede de torres capaz de transmitir energia sem fios ao redor do planeta, o que poderia ser feito quer através da camada superior da atmosfera, quer da própria Terra. No entanto, cada uma das torres também servia para recolher a sua quota-parte dessa fonte de energia constante, tornando-a disponível para todas as pessoas.
Com um olho no futuro, a intenção de Simon era precisamente essa.
Era o que tentava fazer nesse momento.
Junto com Kapoor, optara por reverter a polaridade da torre, algo que nunca fora testado antes. Olhando para a coluna de plasma, parecia que nada se tinha alterado, porém, a carga elétrica movia-se agora em sentido descendente, em vez de ascendente. Basicamente, Simon transformara a torre num gigantesco para-raios, uma tentativa desesperada para sugar o excesso de energia acumulado na ionosfera.
Mesmo que fosse bem-sucedido, constituía apenas metade do problema, já que precisaria sempre de um sítio para onde pudesse enviar toda essa carga. Uma vez mais, fora Tesla quem lhe fornecera a resposta. Na altura da construção da torre, Simon vira-se obrigado a cravar as fundações da estrutura bem fundo no leito rochoso, para criar o suporte necessário a tão maciça edificação. Não passara de uma necessidade de engenharia, porém, ficara agradado porque até os próprios alicerces tinham ficado parecidos com o traçado original de Tesla, cujas fundações se prolongavam por uns impressionantes cem metros de subsolo.
No desenho de Tesla, as fundações serviam para canalizar a energia para as profundezas da Terra, mais concretamente para a frequência de ressonância do planeta, um depósito sem fundo que podia ser atestado e partilhado por todos ao redor do planeta.
Tesla falhara, mas o seu raciocínio estava certo.
Embebido dessa certeza, Simon procurava encher esse depósito com o fogo que ardia nos céus. Esperava conseguir conciliar as duas visões do seu mentor, duas possíveis fontes de energia global sem fios: a camada da ionosfera que envolvia o planeta e o depósito negro no seu centro.
Tencionava que a sua torre funcionasse como uma versão gigante da bobina de Tesla, ligando céu e terra, uma conduta que permitisse ao fogo acima fluir para o interior da Terra. Com alguma sorte, conseguiria encontrar-se um ponto de equilíbrio, o que permitiria restaurar a ordem natural das coisas.
Infelizmente, a sorte não era para ali chamada.
O chão sacudiu com violência, atirando-o de encontro à consola. Ouviu uma explosão de vidros a partirem-se e cerrou os dentes, convencido de que era o imenso painel com vista para a torre. Em vez disso, gigantescos cacos caíram do lado direito, ao fundo da estação de comando. Simon sabia o que essa janela selava. Visualizou o lago negro.
— Senhor! — gritou Kapoor, desviando-lhe a atenção para a ameaça mais imediata. — Precisamos de desligar o sistema. Os picos de voltagem estão cada vez mais fortes. As correntes de plasma estão a crescer de forma descontrolada em ambos os sentidos.
Com o chão ainda a tremer, Simon visualizou as ondas de energia a embaterem em cima e em baixo, deslocando-se ininterruptamente entre o céu e a terra.
— Não é o que pretendíamos? — retorquiu Simon. — Não calculámos que isto pudesse acontecer quando nos aproximássemos do ponto de equilíbrio? Um efeito de chicote conforme as duas forças opostas tentam estabilizar-se?
Kapoor abanou a cabeça.
— Não está a compreender...
— Não estou a compreender o quê?
— As duas correntes... uma a subir, a outra a descer — disse Kapoor, usando as mãos, lutando para se fazer entender. — As amplitudes e comprimento de onda são idênticos. Começam a sobrepor-se quando se cruzam.
Simon susteve a respiração, compreendendo finalmente o perigo do que estava a fazer.
— Podem originar uma onda estacionária...
Simon imaginou um caudal de energia tenso e constante, vibrando num padrão estacionário entre o céu e a terra.
Kapoor ergueu os olhos para a torre, horrorizado.
— Poderia dar origem a um circuito maciço...
Simon inclinou-se para a frente, sabendo que um circuito desses não resistiria muito tempo, sobretudo com a magnitude das duas forças em questão. Seria uma questão de tempo até que tudo rebentasse pelas costuras. Se isso acontecesse, seria o suficiente para rasgar os céus e estilhaçar o planeta.
Rodou a chave da consola, a fim de cortar a corrente e desligar o sistema.
Nada aconteceu.
Tentou mais umas vezes.
Nada.
— O sistema está já a alimentar-se a si próprio — disse Kapoor, recuando um passo. — O circuito está completo.
Simon endireitou as costas.
É demasiado tarde...
17h18
— Segurem-se bem!
Conduzindo no limite, Kat continuou a acelerar o Sno-Cat em direção ao ponto mais afastado da ilha de John. Rompendo o gelo do lago Hazen, a longa faixa de rocha negra lembrava um submarino a emergir do oceano Ártico; a diferença é que tinha seis quilómetros e meio de comprimento por setecentos metros de largura. Ao redor, um punhado de outras ilhotas próximas ofereciam uma série de locais para se esconderem.
Tagak segurou-se bem no banco do passageiro, enquanto o seu pai, John, ocupava o banco de trás. Ambos os homens carregavam espingardas.
Ao longo dos últimos quarenta e cinco minutos, Kat envolvera-se num jogo do gato e do rato com os homens de Anton, forçando-os a perseguirem-na pelas ilhas do lago Hazen. Quando John a alertou de que o inimigo estava a chegar, o seu primeiro plano era meter-se sozinha no Sno-Cat e atrair as atenções para longe de Safia e dos outros. Em vez disso, os dois inuítes insistiram em acompanhá-la. Kat tentara desencorajá-los, avisando-os do perigo de contágio, mas John observara o número de veículos que desciam a montanha e, sem mais conversas, pura e simplesmente enfiara-se no Sno-Cat.
Kat podia dar-se por contente de ele o ter feito.
Apesar de a tempestade se ter agravado, o que sempre lhe oferecia cobertura extra, fora o conhecimento único daqueles homens do lago e das ilhas que a mantivera viva até ao momento. Usando os faróis do veículo como um farol no meio da borrasca, conseguira atrair o inimigo em direção a sul. Coberto de neve, o trio de tendas feitas de peles de animais passara completamente ao lado do olhar dos perseguidores.
Assim que alcançou as ilhas, Kat apagara os faróis e tornara-se simultaneamente na presa e no caçador. O combate de guerrilha que se seguiu mantivera os dois lados num impasse. O Sno-Cat ganhara dois novos buracos de balas no para-brisas. Em contrapartida, Kat sabia que conseguira arrumar três dos veículos inimigos.
Foi então que tudo mudou.
— Rápido! Não podemos parar! — gritou Tagak, assim que as lagartas do Sno-Cat tocaram no gelo.
De ambos os lados, dois pontos luminosos aceleravam através do nevão, assinalando a presença de dois veículos inimigos. Mais ligeiros, ganhavam terreno a olhos vistos, porém, já não constituíam a maior ameaça.
Uma teia de relâmpagos espalhou-se ao longo das nuvens baixas. Os raios começaram a chover por toda a parte, atingindo o gelo com uma força explosiva, abrindo um emaranhado de fendas e rachas ao longo da superfície do lago. Acima, o manto negro que cobria o céu começou a girar, formando uma voragem de magnitude impossível.
Pior do que isso, brilhava com um tom vermelho-escuro, como se estivesse a arder por dentro.
Kat calculava que essa imagem não andaria longe da verdade.
Tentou fugir à tempestade, assim como os homens de Anton, que se espalharam em todas as direções, acossados pelo inferno acima. Kat precisava de alcançar Safia e Rory, de pegar neles e sair daquele vale o mais rápido possível.
O vidro de trás estilhaçou-se subitamente. John gritou de dor e levou a mão ao ouvido, o sangue correndo entre os dedos.
— Baixem-se! — berrou Kat, inclinando-se sobre o volante.
Tagak saltou do banco da frente e juntou-se ao pai na parte de trás. Enfiou o cano da espingarda pelo buraco no vidro, mais ou menos do tamanho de um punho fechado, e disparou às cegas para o meio da borrasca.
Kat continuou a acelerar ao som ensurdecedor dos trovões, o fulgor dos raios queimando-lhe as retinas. O Sno-Cat inclinou-se ao passar por cima de uma placa de gelo solto, que logo acusou o peso do veículo. Pisou o acelerador e aproveitou o embalo para regressar à segurança do gelo sólido.
Tagak continuava a disparar às cegas para a tempestade, mas o próprio Anton também não deveria conseguir ver um palmo à frente do nariz. Kat sabia que o russo vinha lá atrás. Quem mais seria tão louco ao ponto de insistir naquela perseguição?
À sua direito, algo rasgou a borrasca e atingiu o gelo. Explodiu com tanta força que sacudiu o Sno-Cat de cima a baixo. Kat pensou que se tratava de um ataque de morteiro, porém, no instante seguinte, o céu abriu-se e libertou toda a sua fúria.
Pedaços de gelo gigantescos precipitaram-se contra o lago, estilhaçando-se em mil pedaços ou ressaltando na superfície congelada; bolas de granizo, do tamanho de abóboras. O tejadilho de metal do Sno-Cat ressoou a cada impacte, esmagando-se em direção às cabeças de todos. O bombardeamento aumentou de intensidade, castigando a paisagem, iluminada pelo clarão dos relâmpagos.
Kat não se atreveu a levantar o pé do acelerador.
Pouco a pouco, foi-se distanciando do pior da tempestade de granizo, até se encontrarem por fim fora do seu alcance mortal, mas o fogo cerrado de gelo e relâmpagos continuou a persegui-los, restando-lhe pouco mais do que lutar para se manter um passo à frente.
Pelo espelho retrovisor, notou uma alteração na tempestade. Como que gastas pelo bombardeamento, as nuvens haviam-se rompido parcialmente, revelando partes do céu acima. Furioso, o plasma flamejante revoluteava através do manto azul-escuro, enquanto os relâmpagos rasgavam os céus. Era como se as barreiras entre mundos tivessem deixado de existir e olhasse diretamente para o coração pulsante do próprio inferno.
E talvez seja isso mesmo que estou a ver...
Recordou a passagem bíblica da sétima praga: Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra.
Observou as forquilhas de raios, a chuva de gelo, as chamas dançando no céu. O ribombar dos trovões ecoava de todas as direções, sacudindo o gelo e as janelas do Sno-Cat.
É o que estou a testemunhar?
Lentamente, a voragem fechou-se de novo, escondendo o que revelara por breves instantes. Parecia ainda mais forte e sombria, embora retendo o tenebroso brilho vermelho.
Kat desviou os olhos do retrovisor para o lago.
Uma visão familiar corria ao longo do gelo, mais etérea do que nunca. Pequenas formas flutuavam silenciosamente diante do Sno-Cat, os seus cascos aflitos cobertos pela tempestade, os corpos revelando-se e desvanecendo-se por entre o turbilhão de neve.
Era a manada fantasmagórica de caribus com que se haviam cruzado anteriormente, porém, aqueles animais não eram aparições, mas, sim, de carne e osso.
Um possante macho disparou de repente direito à frente do Sno-Cat. Kat guinou o volante para evitar a colisão, perdendo momentaneamente o comando do veículo, que logo derrapou sobre o gelo escorregadio. O animal passou incólume, enquanto o Sno-Cat girava descontrolado.
Kat lutou para recuperar o comando, com o coração a bater a mil à hora.
Então, à distância, reparou num punhado de silhuetas.
Eram as tendas dos inuítes.
Finalmente...
Com o objetivo à vista, apontou a frente do Sno-Cat e voltou a pisar o acelerador. Infelizmente, não reparou nas rachas no gelo. A secção por baixo das lagartas cedeu sob o peso do veículo e inclinou-se para um dos lados. Com o embalo perdido à conta do caribu tresmalhado, não dispunha de velocidade suficiente para alcançar a segurança do gelo sólido. À medida que o centro de gravidade se alterava inexoravelmente, a placa de gelo solto inclinou-se para lá do ponto de equilíbrio.
— Saiam! — gritou para os companheiros, apontando para as portas mais acima da linha de água.
Numa questão de segundos, os três treparam pela cabina inclinada, abriram as portas e apressaram-se a abandonar o veículo. Quando chegou a vez dela, o Sno-Cat encontrava-se praticamente deitado sobre um dos lados, deslizando pelo gelo em direção às águas do lago. Num último esforço, cravou os pés na soleira da porta e mergulhou de cabeça pelo ar, ao mesmo tempo que o Sno-Cat se afundava atrás de si. Caiu sobre o ombro e rolou pelo gelo sólido. Não muito longe, Tagak segurava o pai ferido.
Pôs-se de pé a tempo de ver a placa de gelo solto tombar para a posição original e ficar a oscilar sobre a superfície da água. O Sno-Cat pura e simplesmente desaparecera, engolido por aquele alçapão de gelo, como se nunca tivesse existido.
John e Tagak juntaram-se a ela.
— Os trenós são muito melhores — comentou John.
Kat concordava plenamente.
Apressaram-se em direção às tendas, porém, ainda não tinham percorrido cinquenta metros, quando ouviram o som grave de um motor a aproximar-se do lado esquerdo. Uma sombra atravessou o véu da tempestade, lembrando um tubarão em águas turvas.
Era uma moto de neve. Deslocava-se com os faróis apagados.
— Corram! — disse Kat.
Apontou em frente e fez sinal para que se mantivessem agachados, na esperança de que não tivessem sido detetados. Na pressa de abandonarem o Sno-Cat, tinham perdido todas as armas. A única esperança era conseguirem chegar às tendas cobertas de neve e rezarem para que o inimigo não as visse.
Avançaram como um só, mantendo-se o mais juntos possível.
O acampamento tornou-se cada vez mais visível.
Kat esforçou-se por detetar o rugido do motor, mas a tempestade ganhara de novo terreno, impossibilitando que qualquer som se elevasse acima do ribombar dos trovões e do estalejar do gelo. Ainda assim, conseguiram alcançar as imediações do acampamento em segurança.
Kat apressou-se em direção à tenda onde deixara Rory e Safia.
Antes que conseguisse chegar perto, ouviu-se um disparo. O gelo explodiu junto aos seus pés.
Kat estacou e virou-se.
Anton surgiu de trás da tenda mais próxima, acompanhado de uma segunda figura vestida com uma parca. Ambos mantinham metralhadoras de assalto apontadas a Kat. Deviam ter estacionado a moto longe de vista, a fim de prepararem aquela emboscada.
Anton olhou para os dois inuítes.
— De joelhos! Já! — ordenou-lhes.
Os homens hesitaram, mas Kat fez-lhes sinal para obedecerem.
O parceiro de Anton contornou-os, mantendo a arma apontada às costas deles.
— Rory, podes sair! — gritou Anton.
O rapaz emergiu do interior da tenda. Deitou um olhar consternado para Kat. Vestia uma parca nova.
— Lamento muito — disse ele, com a cabeça baixa. — Apanharam-nos de surpresa. Eu não queria que nada disto acontecesse.
Junta-te ao clube, pensou Kat. Porém, pelo aspeto daquela parca, era seguro dizer que Rory assegurara um bilhete de saída daquele vale.
— Como está a Safia?
Rory abanou a cabeça.
— Mal. É como se tivesse piorado com o avançar da tempestade.
Pelo menos, não a mata...
A porta da tenda voltou a abrir-se e Safia cambaleou para o frio do exterior. Ficou especada entre Rory e Anton, com os olhos fixos na voragem que ocupava o céu a sul. Por um instante, Kat podia jurar que os olhos dela brilhavam, mas talvez fosse apenas o reflexo dos relâmpagos.
Safia ergueu um braço.
Depois, foi como se tudo acontecesse em câmara lenta.
O guarda nas costas de Kat disparou, porventura convencido de que Safia estava a brandir uma arma. Rory, que se encontrava frente a ele, apercebeu-se da ameaça e atravessou-se no caminho da bala.
— Não!
Fruto das competências adquiridas ao longo dos anos ao serviço da Guild, Anton reagiu igualmente em reflexo, atirando-se para a frente de Rory, com as costas voltadas para o atirador. O projétil atingiu-o em cheio na espinha. Anton caiu para a frente, nos braços de Rory.
Enquanto os dois homens caíam juntos, Kat mergulhou direita à arma de Anton, rodou o corpo e disparou uma rajada de três tiros. Uma das balas atingiu o guarda no pescoço, arrancando-lhe um bom pedaço de carne e atirando-o para trás.
No segundo em que tudo isso acontecera, apenas uma pessoa continuara de pé, indiferente à agitação em redor.
Os seus olhos nunca abandonaram os céus.
Entreabriu os lábios e falou, como que dirigindo-se em concreto para a tempestade:
— Não pode ser...
17h32
Com o cérebro em chamas, ela olha a paisagem com dois pares de olhos.
Um antigo, outro novo.
Observa uma tempestade gélida a avançar sobre um deserto escaldante, em direção a um rio de sangue. Vê um lago congelado que desafia a fúria acima. As duas visões ondulam e sobrepõem-se, como que tentando anular-se uma à outra.
É uma batalha de fogo e gelo, tão antiga como o mundo.
Ela ignora-a, sabendo que não passa de uma distração.
Desvia o olhar para o que se encontra mais adiante, para o farol que brilha à distância.
Não pode ser.
17h33
— Quer que façamos o quê? — perguntou Painter.
Encontrava-se na cabina de voo do Globemaster, acompanhado do piloto e do responsável pelo porão, que pelos vistos também desempenhava a função de copiloto. Atrás de si, o resto dos homens e mulheres a bordo acotovelavam-se nas escadas que conduziam até ali, todos com os ouvidos postos na conversa que se desenrolava com o ex-patrão deles, com o rádio de micro-ondas.
— Têm de despenhar o avião contra o sistema de antenas da estação — repetiu Hartnell, o tom aterrorizado e quase sem fôlego. — Diretamente contra a torre.
Painter olhou para lá do nariz do avião, na direção da poderosa coluna de plasma. Hartnell contara-lhes as linhas gerais do que estava a acontecer, de como tentara reverter as consequências do teste e apenas acabara por piorar as coisas. Visualizou o circuito que Hartnell descrevera, consciente de que não passava de uma analogia tosca para as forças colossais que se encontravam em jogo. Ainda assim, a ideia era clara como água.
Hartnell precisava de alguém que rompesse o circuito antes que estourasse por si próprio.
No solo, Hartnell e Kapoor lutavam por manter o sistema estável, mas era coisa que não iria durar muito mais tempo. Painter apenas precisava de olhar pela janela para ter a certeza disso. A voragem incandescente continuava a crescer de tamanho e intensidade, um autêntico furacão de energia.
Mais ou menos o equivalente a mil bombas nucleares.
Assim que aquilo tocasse no frágil circuito que trespassava os céus, estaria tudo terminado.
Painter calculava que dispunham de uns vinte minutos, na melhor das hipóteses. Como tal, não havia tempo para mais conversas.
— Vamos fazer o que pede — disse.
O piloto deitou-lhe um olhar aterrorizado. Sabia que alguém teria de executar a manobra manualmente. Com todas aquelas interferências, uma aterragem assistida pelos instrumentos estava fora de questão. Ademais, teriam uma única tentativa.
Painter também reparou na fotografia junto ao assento do piloto: uma esposa sorridente e duas crianças pequenas. Esticou o braço e tocou no ombro do homem.
— Eu trato disto.
O piloto ergueu uma sobrancelha.
— Já pilotou um destes?
— Jatos privados, na maioria. Nada tão grande. — Painter deu-lhe uma palmadinha nas costas. — Por outro lado, não preciso de aterrar este bicho, apenas despenhá-lo.
O piloto hesitou, nitidamente indeciso entre rebater a ideia de Painter ou deixá-lo tomar as rédeas daquela missão suicida.
— Eu dou-lhe conta do procedimento básico — disse por fim, mais convicto. — Se não se sentir confiante, ou se eu perceber que não sabe a diferença entre a alavanca de comando e o seu pirilau, volto a assumir o comando.
— Parece-me razoável — Painter apontou para a manete de potência. — Aquilo é a alavanca, certo?
O piloto bufou, exasperado.
Painter sorriu.
— É o acelerador, bem sei. Aquilo é a alavanca. E ali temos o HUD, o IAS e, claro, o PFD — Apontou para o meio das pernas. — E este é o meu pirilau. Pelo menos, desde a última vez que confirmei. Estou aprovado?
O piloto resmungou qualquer coisa entre dentes e afundou-se no assento.
— Vamos a isto — disse.
Todos juntos, trataram dos planos de evacuação enquanto o piloto preparava a melhor aproximação ao campo de antenas. A ideia era descerem rápido através da tempestade, tarefa que Painter estava mais do que satisfeito em deixar nas mãos do piloto. Assim que alcançassem uma altitude suficiente para estabilizar o avião, utilizariam a rampa para saltarem todos de paraquedas, deixando a Painter o ónus de pilotar o Globemaster até ao solo.
Nada mais simples, na verdade, exceto para Painter.
— Segurem-se bem! — anunciou o piloto. — Vamos começar a descer!
Painter sentou-se no terceiro lugar do cockpit, atrás de Willet e do piloto, o que lhe oferecia uma vista privilegiada enquanto o nariz do avião se inclinava em direção ao manto de nuvens. O piloto estabelecera o curso como um longo mergulho a direito.
Enquanto desciam a pique, Painter observou a coluna de fogo à direita e a voragem sombria à esquerda. O espaço entre ambas diminuíra consideravelmente, bem mais rápido do que Painter antecipara. Conseguia calcular porquê. A tempestade de plasma que agitava a ionosfera piorara. A aurora fervilhava através dos céus com gigantescos halos de fogo, projetando clarões e jatos azuis.
Tamanha atividade só podia significar uma coisa.
Hartnell perdera por completo as rédeas da situação.
Apercebendo-se do mesmo, o piloto empurrou a alavanca, acentuando o mergulho.
— Agarrem-se bem! — gritou-lhes.
O Globemaster acelerou direito às nuvens negras. Com as costas coladas ao assento, Painter cerrou os maxilares e cravou os dedos nos cintos de segurança. Mal começaram a cair através da tempestade, o avião foi imediatamente sacudido em todas as direções. O piloto curvou-se sobre os comandos, com uma mão na alavanca de comando e a outra na manete de potência. Para lá do para-brisas, havia apenas escuridão. As próprias linhas verdes do HUD tinham desaparecido com a estática que inundava o ar. Aquilo pareceu durar uma eternidade, depois, subitamente, as nuvens desapareceram e o mundo surgiu de novo numa escala de cinzentos de neve, rocha e glaciares.
O piloto levantou o nariz do Globemaster para nivelar o avião e diminuir a velocidade. Concluída a manobra, ajustou uma série de parâmetros, coçou o queixo e virou-se para Painter.
— É todo seu.
Painter desapertou os cintos de segurança.
A minha vez de segurar na batata quente.
Trocou de lugar com o piloto, que, à semelhança de uma mãe extremosa, perdeu uns segundos a certificar-se de que Painter estava pronto para a tarefa.
— Vá, saia daqui e ajude os outros a abandonarem o avião — disse por fim Painter.
O piloto anuiu.
— Obrigado.
— Não me agradeça ainda.
O piloto deu-lhe uma palmadinha no ombro, virou costas e abandonou o cockpit.
Willet deixou-se ficar mais um pouco.
— Não terá mais do que alguns segundos. Sabe isso, não sabe?
— Sei.
O outro olhou em frente e suspirou. Para lá do nariz do avião, a tempestade resplandecia em tons de azul, como que aguardando por eles.
— Posso ficar — sugeriu Willet, apesar de o tom de voz indicar que necessitara de toda a sua força de vontade para dizer aquelas duas palavras.
Painter apontou com o polegar para trás das costas.
— Senhor Willet, pire-se do meu avião. É uma ordem.
O homem sorriu, ergueu a mão e fez-lhe continência.
— Sim, meu comandante. — Desapertou o cinto e levantou-se do assento do copiloto. — Espero que consiga acabar com isto — acrescentou, dando-lhe uma palmadinha no ombro.
Painter sabia que ele não estava apenas a referir-se ao campo de antenas.
Faço tenções disso.
Enquanto Willet abandonava o cockpit, Painter pôs um par de auriculares nas orelhas. Tomou um minuto para se familiarizar mais um pouco com os comandos do Globemaster. Havia centenas de interruptores por toda a parte, desde o teto ao painel de instrumentos, mas a peça mais importante era a alavanca de comando junto ao joelho.
Eu consigo fazer isto.
A voz de Willet fez-se ouvir de novo, dessa vez pelos auriculares.
— Os pássaros abandonaram a gaiola. Dois segundos e o avião é todo seu.
Apesar de não ter maneira de saber o momento exato em que o responsável pelo porão abandonara o avião, Painter sentira-o. Era o único a bordo daquele monstro de metal.
Para se distrair, verificou os indicadores de altitude e velocidade, fazendo os ajustes necessários. Passados dois minutos, diminuiu a potência, a fim de abrandar o avião para a última fase da aproximação.
Aqui vai disto.
Carregou no interruptor do rádio.
— Hartnell? Consegue ouvir-me?
A voz do outro fez-se ouvir nos auriculares. O tom era de surpresa, quase divertido.
— Painter? É você que vai aterrar o avião?
— Alguém tem de limpar a porcaria que fez. Quero apenas avisá-lo que estou a noventa segundos de distância, pelo que é melhor abrigar-se com o doutor Kapoor.
— O doutor Kapoor já não está comigo, mas alguém tem de ficar no comando das operações. Nem que seja para lhe conseguir a si mais um segundo ou dois.
Painter notou-lhe a apreensão na voz e recordou a agitação que observara na camada da ionosfera, um claro indicativo da deterioração rápida da situação.
— Quanto tempo temos?
— Acho que poderá precisar desse segundo ou dois a mais.
Painter praguejou entre dentes e aumentou a potência dos motores, a fim de recuperar a velocidade perdida.
Mais adiante, conseguia já distinguir os contornos do complexo de antenas. Encontrava-se coberto de faíscas azuis que recortavam a sua forma em espiral, lembrando uma galáxia tremeluzente no meio da tundra. Bem no centro, a coluna de plasma erguia-se da ponta incandescente da torre de aço. Mesmo àquela distância, conseguia notar a tremenda vibração que percorria a coluna de cima a baixo, provocada pelos constantes impulsos de energia.
Painter aumentou a velocidade, mandando a cautela às urtigas. Nada iria correr como planeara. A janela de oportunidade reduzira-se drasticamente, retirando-lhe qualquer margem de manobra.
Hartnell berrou-lhe subitamente nos ouvidos:
— Painter!
Painter apercebera-se em simultâneo. Uma espessa bola de plasma saiu disparada do poço da mina, em direção à camada da ionosfera. A energia deixara de se deslocar em sentido descendente. A polaridade da torre estava outra vez a mudar, indicando o colapso iminente. Painter seguiu o trajeto da bola em direção às nuvens. A razão encontrava-se bem à vista.
A voragem no céu chegara por fim, o seu rebordo praticamente tocando na coluna de plasma que se erguia da Estação Aurora.
Painter estava sem tempo.
Imprimiu mais velocidade aos motores e baixou o nariz do avião, convertendo o Globemaster num gigantesco míssil.
Preparava-se para agir quando uma rajada de ventos cruzados embateu no flanco do avião. Praguejando, lutou para virar o nariz do avião contra o vento, tentando manter o ângulo de aproximação correto. A manobra custou-lhe segundos preciosos, mas conseguiu corrigir o rumo.
Respirou fundo, com as mãos a pairar sobre os comandos.
Parece-me bem.
Satisfeito, levantou-se do lugar do piloto e abandonou o cockpit. Com o avião a voar sozinho e prestes a despenhar-se, apressou-se a descer as escadas e correu para a rampa aberta, com as botas a martelarem o chão de metal do porão.
Sabia que não podia pura e simplesmente saltar pela traseira como os outros. Encontrava-se demasiado baixo para usar um paraquedas, demasiado alto para saltar sem um.
Em virtude disso, resolveu improvisar.
Junto à traseira aberta, agarrou e amarrou às costas o que preparara previamente. A seguir, pegou na metralhadora de assalto.
Avançou pela rampa no preciso instante em que o perímetro da espiral cintilante surgiu de ambos os lados. As asas ceifaram os topos das primeiras antenas, enquanto a barriga do avião ia esmagando tudo o que apanhava pela frente. Levou a mão atrás e deu uma palmada no dispositivo de ignição do tanque de enchimento. O balão meteorológico explodiu nas suas costas, chicoteando ao vento em direção ao vazio e levando Painter atrás de si, que logo se viu a flutuar pelos céus.
Imparável, o poderoso Globemaster arremeteu contra a espiral cintilante com um rasto de destruição, direitinho à besta flamejante no seu centro.
17h52
Ao leme da estação de comando, Simon Hartnell ouviu o gigantesco avião de carga aproximar-se, seguido dos primeiros sons da destruição. Ergueu os olhos para a torre diante dele, flamejando de energia. Recordou-se de como aquela visão lhe fizera lembrar o fenómeno conhecido como fogo de Santelmo, tantas vezes observado nos mastros de navios.
Imaginou a torre como o mastro principal do seu próprio HMS Erebus ou Terror, e recordou também as palavras de Painter acerca de um antepassado seu, John Hartnell, tripulante de um desses notórios veleiros.
Alguns homens tentam alcançar longe demais.
Mesmo nesse momento, recusava-se a aceitar tal afirmação.
Admirou a sua obra-prima, ainda que condenada.
Bem pior do que isso é nunca tentar.
No segundo seguinte, o mundo explodiu diante dele, assim como a sua vida e todos os seus sonhos.
17h53
Lá bem no alto, Painter observou os últimos segundos de voo do Globemaster. O avião de carga arrastou a barriga através das antenas cintilantes e foi embater com o nariz no topo da torre. Mergulhou no imenso poço da mina e esmagou toda a estrutura sob o seu peso, abafando a coluna de plasma, que se sacudiu como a cauda de um gato zangado, antes de desaparecer.
Com essa imagem ainda gravada na retina, Painter viu o avião explodir numa gigantesca bola de fogo, que logo se transformou numa coluna de fumo negro, substituindo o brilho anterior por uma silhueta sombria.
Fora de perigo e igualmente longe de estar salvo, Painter ergueu o cano da metralhadora e disparou para o balão que o sustinha. Fê-lo com cuidado, um tiro de cada vez, permitindo que o ar do balão se escapasse de forma progressiva. O balão meteorológico parou de subir e pairou um instante, antes de começar por fim a descer, em direção ao solo. Painter preparou-se para uma aterragem dolorosa, mas tal não se verificou.
O balão colapsou atrás dele, estendendo-se como um manto por cima da rocha e da neve. Libertou-se do equipamento, mantendo apenas a arma. Calculou que se encontrasse um ou dois quilómetros ao largo da Estação Aurora, e a última coisa que lhe apetecia era cruzar-se com um urso-polar de mãos a abanar, durante a caminhada de regresso.
Ergueu os olhos para o céu. Com a torre desativada — deixando de alimentar a tempestade acima e depois de ter sugado uma boa porção de energia de volta para o solo —, a voragem parecia estar a acalmar. O fulgor vermelho desvanecera-se, o seu fogo interior apagando-se à medida que as ondas de plasma da ionosfera se dissipavam.
O tempo até podia estar a cooperar, mas Painter sabia que havia ainda muito que fazer. Para começar, era impossível determinar até que ponto toda a ilha ficara contaminada. Não se podia fiar na ideia de que todo aquele excesso de carga elétrica teria erradicado quaisquer vestígios dos micróbios libertados no ar.
Suspirando, baixou os olhos para a paisagem que tinha pela frente e meteu-se a caminho da Estação Aurora. Mesmo com a parca vestida, contava que o ar do Ártico fosse bem mais gelado do que aquilo.
Tocou com a palma da mão na testa.
Estou a arder em febre...
18h25
— Como te sentes? — perguntou Kat.
À frente dela, Safia encontrava-se sentada na cama, segurando uma malga de sopa de peixe entre as mãos, cortesia de John e Tagak.
— Um pouco melhor — respondeu.
Naquele momento, tinham o espaço só para elas. Rory encontrava-se na tenda ao lado, onde John fazia os possíveis por manter Anton confortável. A bala que tomara no lugar de Rory — e, por sua vez, de Safia — cortara-lhe a espinha ao meio, paralisando-o da cintura para baixo. Também lhe desfizera parte dos pulmões, deixando-o a tossir sangue.
Não iria sobreviver.
Rory sabia disso e decidira estar com ele até ao fim.
— Consegues dizer-me o que aconteceu? — disse Kat. — Estavas a alucinar de uma forma bem intensa.
Safia abanou a cabeça.
— É tudo muito confuso. Lembro-me de pedaços... a areia a queimar-me os pés, o cheiro dos animais mortos, porém, antes de desmaiar, as imagens tornaram-se mais fortes. Era como se estivesse a ver com dois pares de olhos. Conseguia ver a tempestade aqui, mas também outra, pairando sobre o Nilo tingido de sangue. Parecia tão real... tanto como o gelo e a neve lá fora.
Kat olhou para lá da aba da tenda. O tempo acalmara de repente. Não havia sinal dos relâmpagos nem da chuva de granizo que ameaçara varrer o acampamento momentos antes. Coincidira com o desmaio de Safia, como se ela fosse uma marioneta cujos fios haviam sido cortados.
— O Rory acredita, e o pai dele também estava convencido disso, que o micróbio pode ser a fonte dessas alucinações. Que é capaz de reproduzir padrões de memória das vítimas anteriores, transportando consigo lembranças, quem sabe até personalidades. E possivelmente remontando aos tempos do antigo Egito.
Kat interrogou-se se a energia da tempestade teria potenciado esse efeito. Explicaria o facto de as últimas alucinações de Safia terem sido mais vívidas que as anteriores.
Safia encolheu os ombros.
— Não sei. Como disse, não me recordo de grande coisa.
— Quando estavas a alucinar, o Rory perguntou-te como te chamavas em copta egípcio. Respondeste na mesma língua, dizendo que te chamavas Sabah.
— Esse é o nome da múmia... — respondeu Safia, visivelmente surpreendida com essa informação. Tocou no rosto, lembrando-se de como ficara contagiada.
— E agora, sentes-te melhor?
— Sim.
Depois de Safia ter desmaiado, Kat e os outros transportaram-na para a tenda, onde acabara por acordar pouco tempo depois, nitidamente melhor. A febre baixara de vez, com a temperatura a rondar valores normais. Kat interrogara-se se a súbita recuperação teria algo que ver com a carga elétrica no ar, ou se pura e simplesmente melhorara sem causa aparente. Fosse como fosse, queria submetê-la a uma série de testes o mais rápido possível.
O que levantava outra questão.
Decorrido tanto tempo, por que carga de água eu e o Rory continuamos bem?
Estava a escapar-lhes qualquer coisa importante.
A aba da tenda agitou-se e Rory entrou. Tinha os olhos vermelhos e inchados.
— O Anton? — perguntou Kat.
O rapaz abanou a cabeça e deixou-se cair sentado no chão, de pernas cruzadas. Parecia atordoado e confuso, dando a ideia de que não queria estar sozinho. Kat calculou que a morte de Anton ainda não o tinha atingido verdadeiramente.
— Lamento muito pela tua perda, Rory — disse Safia.
Kat não conseguia partilhar da mesma empatia pelo rapaz. Pelo menos, por enquanto. Por outro lado, ele tentara salvar Safia, atirando-se para a frente da bala que lhe era destinada. Apenas por isso, Kat decidira tolerar a presença dele.
Rory respirou fundo.
— Preciso de lhes contar uma coisa... não cheguei a ter oportunidade.
— Que coisa? — perguntou Kat.
— O mapa topográfico das tatuagens da múmia... — retorquiu Rory. Olhou para Safia. — O resultado é impressionante, e experimentei o método de converter os hieróglifos egípcios para hebraico antigo. Fiz alguns progressos antes de...
Rory fez um sinal na direção da tenda onde se encontrava o corpo de Anton.
— O que descobriste? — pressionou Kat.
— A múmia era a cura.
Kat pôs-se de pé.
— O quê?
— Ou pode-se dizer que transportava a cura, juntamente com o micróbio aprisionado no seu crânio. Porém, não percebo. O meu pai fez uma batelada de testes aos tecidos. Não encontrou nada, exceto o que poderia fazer-nos adoecer, e certamente nada que nos pudesse curar. — Rory franziu o sobrolho. — Acho que pura e simplesmente escapou-lhe. De qualquer maneira, é por isso que a Safia está melhor. Seja lá o que for a que ela esteve exposta, funcionou como uma vacina. Deu-lhe um pouco de febre, é certo, mas apenas isso.
— E descobriste isso tudo das tatuagens da múmia?
— Diria que deduzi grande parte da informação, falta ainda muito por traduzir. Mas também tenho a certeza de que foi por isso que nós os dois não adoecemos. Estou convencido de que a cura também tornou a Safia inofensiva quanto a risco de contágio, atenuando as capacidades de propagação do patogénico.
Kat olhou para Safia.
— Nesse caso, será que podemos usar uma amostra do sangue dela, ou de medula, para desenvolver uma vacina?
Rory suspirou e abanou a cabeça.
— Por alguma razão, a coisa não funciona dessa maneira. Essa parte está bem clara. Existe uma única cura e apenas uma maneira de a obter. Diretamente da fonte. Infelizmente, destruímo-la.
Kat visualizou o incêndio no laboratório, a múmia reduzida a cinzas.
Perdemos a cura... para sempre.
27
3 de junho, 22h56 CAT
Parque Nacional de Akagera, Ruanda
O barrir dos elefantes ecoou por todo o desfiladeiro, rebatendo nas paredes de rocha e quadruplicando de intensidade. Preocupado com o estranho comportamento e receando enervar ainda mais a manada, Gray manteve o grupo junto e quieto no cemitério dos elefantes. Podia adivinhar facilmente o que desencadeara aquela reação dramática. No centro da arena, a matriarca de pele branca mantinha os olhos postos no céu, como se pudesse sentir o fulgor da aurora equatorial que dançava no céu noturno.
Passado um bocado, os animais começaram por fim a acalmar. As ondas de luz ainda inundavam os céus, embora parecessem diminuir de intensidade.
Noah soltou o ar dos pulmões, dando a ideia de que estivera o tempo todo a suster a respiração.
— Nunca vi uma coisa assim — disse, alternando o olhar entre os elefantes e as estrelas. — E duvido que estes animais alguma vez se tenham manifestado desta maneira. Sobretudo quando são um grupo tão recluso e tímido. Os barridos devem ter-se ouvido a cem quilómetros de distância.
Roho mantivera-se junto de Noah o tempo todo. Era evidente que o leão não apreciara o que acabara de presenciar.
O mesmo se podia dizer de Kowalski, que esfregava os ouvidos e abria a boca, a fim de estalar o maxilar.
— Acho que não volto a ouvir como dantes.
Mais ao lado, Derek segurava a mão de Jane.
— Não sei se é impressão minha, mas repararam no tom dos barridos? Não pareciam zangados nem enervados...
— Pareciam lamentos — murmurou Jane. — Como se a manada inteira recordasse qualquer coisa especialmente dolorosa.
Noah anuiu:
— Ela tem razão. Já ouvi os barridos dos elefantes quando choram a morte de um dos seus. O que aconteceu aqui lembrou-me isso mesmo.
— Mas o que poderiam estar a recordar? — perguntou Derek, erguendo o rosto para o céu. — De certeza que nenhum deles alguma vez assistiu a uma aurora no equador. Nem de perto nem de longe.
— Talvez não seja bem assim — disse Gray, olhando para Jane e para o leão. Recordou o momento em que a matriarca os escolhera de entre o grupo, como que reconhecendo-os, possivelmente confundindo-os com outra parelha de um passado distante. — Talvez estivessem a reviver uma lembrança antiga, uma tragédia que perdurou ao longo dos milénios.
Derek deitou-lhe um olhar cético, percebendo que Gray se referia à conversa de há pouco.
— Está a falar do tempo em que uma outra mulher chegou até aqui, acompanhada de um leão.
— Depois de as águas de uma grande cheia empurrarem o micróbio deste vale e envenenarem o Nilo. — Gray ergueu os olhos para o céu. — Se a inundação foi causada por alterações climatéricas no seguimento da erupção do Tera, a explosão poderia também desencadear uma aurora localizada.
Jane acompanhou o olhar de Gray e perscrutou o céu estrelado.
— Sabemos que o Tera explodiu com uma força nunca antes vista, mas não vejo como poderia alterar o próprio céu.
— Porque as nuvens vulcânicas são carregadas de energia, capazes de gerar poderosas tempestades elétricas. Se todo esse potencial energético fosse expelido com força suficiente para alcançar a ionosfera, poderia ter criado uma aurora sobre esta região. — Gray fez uma pausa enquanto o último barrido lamentoso se silenciava. — E estes animais lembram-se disso... assim como da mortandade que se seguiu.
Noah olhou para lá do desfiladeiro.
— Se estiver certo, talvez explique o propósito da floresta pintada... toda a multitude de cores fluorescentes, o reflexo nas águas, até o movimento dos corpos decorados por entre as árvores. Será uma maneira de evocarem a lembrança dessa aurora? Será essa a origem do ritual?
Gray recordou o modo como o próprio ar daquela floresta lhe parecera sagrado, carregado de reverência.
— E depois chegámos nós, em plena cerimónia, com uma mulher e um leão a reboque. Talvez explique a razão de nos terem recebido tão bem.
Noah fez que sim com a cabeça.
— Associando a nossa presença a essa lembrança antiga, tão cheia de dor e desgosto.
Jane observou a velha rainha.
— Faz-nos perguntar se eles sabiam o que fora libertado deste vale... mesmo nessa época. Talvez por isso tenham permitido aos egípcios erguerem esta muralha. Poderiam derrubá-la facilmente, se assim o entendessem. Depois, ensinaram-lhes uma cura para a doença, uma forma de corrigirem o mal que fora feito.
Gray visualizou a matriarca a conduzir Jane até às árvores. Estaria a tentar fazer o mesmo?
— Seja como for, o que aprendemos no meio disto tudo? — perguntou Jane. — Não percebo...
Gray começava a vislumbrar a resposta a essa pergunta, mas teria de esperar até poder partilhá-la com os outros. Como que reagindo a um sinal invisível da matriarca, ou apenas agitado pelo desvanecimento das luzes no céu, o possante macho regressou. Fitou o grupo e sacudiu a cabeça, bufando e arremessando as presas numa postura agressiva.
— Acho que deixámos de ser bem-vindos — disse Kowalski. — Estão a correr connosco.
Respeitando a vontade dos elefantes, Gray encaminhou o grupo para a saída. Passaram pelo guarda da rainha e seguiram ao longo da fissura. Absortos nos mistérios e maravilhas que haviam testemunhado, nenhum deles proferiu uma única palavra. Assim que alcançaram o fim da passagem, Gray olhou ao redor do vale, ainda iluminado pelas últimas luzes da aurora. Imaginou os egípcios a chegarem ali, descobrindo aquele lugar.
— Vejam — disse Derek, apontando para o lago.
A superfície das águas resplandecia com um tom vermelho-vivo. Dessa vez, porém, não era o reflexo das luzes dos pirilampos que revoluteavam mais acima. O brilho emanava das profundezas do próprio lago.
— Deve ser uma reação dos micróbios à carga elétrica no ar — disse Gray.
Derek virou-se para ele, de olhos arregalados.
— Acho que tem razão naquilo que disse — admitiu. Olhou para os elefantes. — O coro melancólico dos elefantes pode ter sido convocado pela mesma reação dos micróbios alojados nos seus cérebros, forçando-os a reviver essas antigas lembranças.
E agora o efeito estava a passar.
À semelhança do que acontecia no céu, Gray observou o brilho a desvanecer-se nas águas do lago. Sentiu-se invadido por uma profunda paz interior, o que era um erro.
O disparo de uma arma fê-los rodar as cabeças.
A voz de Seichan estalejou nos auriculares de Gray.
— Olha para o céu! Estamos a ser atacados!
Gray ergueu o rosto. Não viu nada, de início. Então, lentamente, à medida que os olhos se habituavam, apercebeu-se do punhado de silhuetas negras que caíam do céu estrelado. Assim que atingiram o nível dos penhascos, os paraquedas abriram-se, acompanhados de uma chuva de balas.
Os projéteis romperam pela folhagem das árvores e crivaram o chão à volta deles.
Gray percebeu que tinha a lanterna do capacete acesa, um autêntico farol para o fogo inimigo. Apagou a luz e apressou-se a conduzir os outros em direção às paredes rochosas.
— Procurem abrigo! Escondam-se! — Apontou para Kowalski. — Toma conta deles!
— Como?
— Improvisa!
Gray agarrou no que precisava e pôs-se em movimento. Olhou na direção da entrada do vale, para a muralha erguida pelos antigos egípcios. Queria comunicar com Seichan pelo rádio, mas receava que o inimigo pudesse estar à escuta.
Em vez disso, enviou-lhe um desejo em pensamento.
Tem cuidado.
23h09
Do topo da muralha, Seichan viu a lanterna de Gray apagar-se.
Rezou para que ele estivesse bem, amaldiçoando-se por não ter reconhecido a ameaça mais cedo. Durante as últimas duas horas, deixara-se ficar ali, aproveitando o ponto de vista privilegiado que a altura da muralha oferecia, permitindo-lhe vigiar simultaneamente o vale de um lado e a passagem do outro. Tratando-se do único acesso para entrar ou sair do vale, mantivera-se sobretudo atenta à passagem.
Isso fizera com que se apercebesse das figuras no céu quando era já demasiado tarde. Em bom rigor, a única coisa que a alertara tinha sido o som ténue de um avião, mal os elefantes se calaram. Desconfiada de que não poderiam ser boas notícias, examinara os céus e notara os pontos negros que desciam em direção ao vale.
Tinha disparado um tiro de aviso para Gray, alertando-o também via rádio.
Era tudo o que podia fazer para o ajudar a ele e aos outros.
Com toda a gente ciente do que estava a acontecer, correra pela muralha em direção à rampa. Sentiu-se tentada a virar à direita e descer para o vale, a fim de se juntar à batalha iminente, mas a imagem da assassina de rosto tatuado fê-la repensar essa opção.
É o que tu queres que eu faça, não é?
Seichan suspeitava que fosse esse o propósito daquele ataque aéreo, manter todas as atenções concentradas no vale. Contara cinco paraquedas, porém, sabia que teria de haver outra ameaça. No Sudão, a assassina pálida enviara uma equipa para o subsolo, enquanto preparava uma armadilha no exterior, cercando todas as saídas.
E a verdade é que quase resultara.
Seichan visualizou o deserto escaldante, o momento em que ficara encurralada na face daquela duna, sem nada que pudesse fazer exceto observar a assassina apontar-lhe a arma e imaginar o seu sorriso de satisfação por trás do lenço.
Com isso em mente, optara por virar à esquerda, em direção à passagem.
Foi a última vez que me enganaste, cabra.
23h11
Valya escolheu uma posição recuada, perto do limite da floresta alagada.
Aqui está bom.
Dez minutos antes, aterrara no lado de cá do desfiladeiro, ao som do tiroteio que ecoava do vale. Ainda assim, não se apressou e dobrou calmamente o paraquedas.
Fizera-se acompanhar durante a descida pelo Raven, que circulara ao largo até ao momento em que tocara o solo. Valya usara a câmara de infravermelhos para detetar a presença de ameaças ao longo da extensão da fissura e na floresta em redor.
Não lhe apetecia ter mais surpresas.
Uma vez no chão, deslocara-se para aquele ponto de vantagem, que oferecia uma vista desobstruída da boca da fissura. Descobrira um conjunto de pedregulhos, um ninho perfeito para um atirador furtivo. Como tal, estendera um cobertor negro por trás daquelas rochas e instalara-se ali mesmo.
Deitou-se de barriga, equilibrando a sua metralhadora Heckler & Koch MP7A1 num pequeno tripé. Munida de silenciador e mira telescópica de visão noturna, seria praticamente impossível ao inimigo conseguir detetá-la.
Alinhou três carregadores extra em cima do cobertor, mas manteve um preso no cinto, caso precisasse de abandonar rapidamente aquela posição.
Por último, pousou o monitor do Raven ao lado do cotovelo, devidamente resguardado pela rocha. Bastava-lhe desviar os olhos para continuar a vigiar toda a área a partir dos céus.
Satisfeita, encostou o sobrolho à mira e aguardou. Uma nova rajada de tiros ecoou do desfiladeiro. Não fazia ideia do que estava a acontecer, uma vez que instruíra a equipa de Kruger para não comunicarem via rádio até assegurarem o controlo da situação.
Ainda assim, havia uma coisa de que tinha a certeza.
Ela vai querer apanhar-me.
23h13
Com as balas a esmagarem-se nas rochas em redor, Gray enfiou-se e correu pela passagem que conduzia ao cemitério. Fez uma curva apertada no primeiro desvio e encostou-se à parede. Fora da linha de vista do vale, deslizou um dos capacetes até à dobra do braço e apagou a lanterna. Em seguida, fez o mesmo aos dois que trazia na cabeça e no outro braço. Pertenciam a Jane e a Derek.
Uma bala ricocheteou na curvatura da rocha, forçando-o a correr novamente.
Acho que o plano resultou... mas até que ponto?
Depois de encaminhar Kowalski e os outros para procurarem abrigo junto à parede do desfiladeiro, Gray correra na direção oposta, com o objetivo de atrair o inimigo — pelo menos, até que os outros pudessem esconder-se. Como isco, agarrara nos capacetes e acendera as lanternas. Tinha a certeza de que os cinco homens da equipa de assalto vinham equipados com óculos de visão noturna, por isso, as luzes dos três capacetes deveriam funcionar como faróis na obscuridade do vale. Tinha esperança de que emitissem um brilho suficientemente forte para esconder o pormenor de que se tratava apenas de um homem. A ideia era que o inimigo pensasse que se tinham posto em fuga juntos, o que arrastaria a maioria dos atacantes atrás de si.
Acelerou o resto do caminho até ao cemitério, quase ressaltando das paredes para se manter um passo à frente das balas que teimavam em esmagar-se nas faces da rocha. Irrompeu por fim pela arena, com as botas a fazerem estalar os pedaços de osso que cobriam o chão.
Acendeu os três capacetes e atirou-os em direções opostas. Apenas a velha rainha se encontrava no cemitério, nitidamente enervada pelo som do tiroteio, mas não ao ponto de fazer pouco mais do que piscar os olhos cansados perante as excentricidades de Gray.
Para a proteger de uma bala perdida — esta luta não é tua —, Gray tentou enxotá-la para um canto.
— Eh! Fora daqui! Mexe-te! — gritou para o elefante, agitando os braços.
A matriarca tomou aquilo como uma afronta, erguendo a tromba em desagrado perante tamanha falta de respeito, mas lá acabou por dar meia-volta e afastou-se.
Menos mau.
Gray deitou um último olhar aos capacetes espalhados pela arena, rezando para que fossem o suficiente para confundir e dividir as atenções do inimigo. Satisfeito, correu para uma das várias pilhas de ramos que cobriam ossadas de elefantes e escondeu-se com a SIG Sauer apontada para a entrada do cemitério.
Não teve de esperar muito.
Notou um desviar de sombras cauteloso no limite da fissura. O atacante pôs a cabeça de fora e fez uma avaliação rápida do terreno. Demorara menos de um segundo. De novo escondido, estaria provavelmente a definir a melhor estratégia, analisando a informação para construir o seu mapa mental da arena.
O tipo é bom.
Gray deixou-se ficar à escuta, o que lhe permitiu descobrir outro pormenor acerca do adversário.
Viera sozinho.
O facto de não ter caído na asneira de trazer os companheiros consigo mostrava a Gray que se tratava provavelmente do chefe da equipa, quase de certeza o mesmo homem que os perseguira pelo interior do túmulo no Sudão. A confirmar-se o palpite, o filho da mãe havia de querer vingar-se.
Cerrou os maxilares, cada vez mais preocupado com os outros.
23h18
Derek agachou-se ao fundo da gruta que abrigava o lago.
Depois de se separarem de Gray, Derek e os restantes tinham fugido ao longo da parede rochosa. O melhor esconderijo disponível era também o mais perigoso. O lago tóxico escurecera de novo, mas a pequena caverna que cobria metade da superfície das águas continuava iluminada pela colónia de pirilampos que habitava a vegetação cobrindo o teto. Derek tinha esperança de que a bioluminescência dos insetos fosse o suficiente para anular a vantagem dos óculos de visão noturna do inimigo, impedindo o bom funcionamento daquele equipamento.
Com isso em mente, tinham contornado as margens do lago até às traseiras da gruta, onde encontraram uma pequena reentrância ao nível do chão. Era o suficiente para acomodá-los a todos, exceto a figura imponente de Kowalski. O americano não se importara, dizendo-lhes apenas para se manterem longe de vista enquanto lidava com o inimigo. Deixara-os com um sorriso desconcertante e umas palavras finais.
Tenho um plano.
Jane e Noah encontravam-se atrás de Derek, ambos cobrindo Roho.
Sustiveram a respiração quando viram uma figura negra contornar a margem mais afastada do lago com as costas curvadas e a arma levantada. Derek espremeu-se o mais que podia contra os companheiros, tentando manter-se escondido, rezando para que o adversário seguisse caminho. Tal não se verificou. O homem parou mesmo à frente deles, dando a ideia de que olhava diretamente para o sítio onde estavam escondidos, os seus olhos perfurando a escuridão através dos óculos de visão noturna.
Derek cerrou os maxilares, subitamente pouco confiante em relação à sua capacidade de escolher um bom esconderijo.
Vá lá... continua a andar...
Dando a ideia de que não iria desistir tão depressa, Derek olhou para lá da figura estática do homem, na esperança de que Kowalski se encontrasse por perto e na iminência de intervir. Em vez disso, ouviu-se um disparo de caçadeira, seguido de um grito. O som erguera-se do centro do vale, sugerindo que Kowalski teria abatido um dos atacantes. Infelizmente, também significava que não se encontrava por perto para ajudar.
Ainda assim, a agitação tivera o mesmo resultado. A figura na margem do lago curvou-se e, rodando o corpo, correu agachado na direção do disparo.
Foi por pouco...
Porém, o atacante não foi o único a acusar a explosão.
Roho deixou escapar um gemido nervoso.
Noah reagiu de imediato, tentando tranquilizar silenciosamente o leão, mas o mal estava feito.
O atacante estacou e olhou por cima do ombro, à escuta, pouco certo do que ouvira. A selva por cima do desfiladeiro vibrava de vida com os chamamentos dos macacos e o ocasional uivo dos predadores da noite, uma misturada de sons amplificada pela acústica das paredes altas.
Para azar deles, o homem deu meia-volta e encaminhou-se de novo para a margem do lago, nitidamente com intenção de investigar melhor.
Derek olhou por cima do ombro. A única arma à disposição era a catana de Noah. Kowalski levara a caçadeira com ele, e o guia esquecera-se da espingarda na ilhota onde haviam salvado o pequeno elefante de se afogar. No meio de toda a excitação e encantamento da floresta pintada, Noah deixara a arma encostada a uma árvore.
Derek desviou o olhar para Roho, mas Noah já lhe tinha dito que o leão era demasiado novo e inexperiente, que mal começara a aprender a caçar. Derek também suspeitava que o guia não queria que o seu protegido se transformasse num comedor de homens. Ademais, a avaliar pelo modo como o leão tremia, era seguro afirmar-se que o animal não estava à altura da tarefa.
Derek avançou, aceitando o inevitável.
Cabe-me a mim resolver o problema.
Noah continuava a segurar a catana, mas apenas como uma segunda opção, uma derradeira linha de defesa para proteger Jane.
Por essa altura, o atacante encontrava-se já a contornar o lago. Ergueu um braço e enxotou uma dezena de pirilampos que esvoaçavam à frente do rosto. Pela reação exagerada, a bioluminescência dos insetos deveria incomodá-lo sobremaneira. Mesmo assim, manteve os óculos de visão noturna postos, demonstrando toda a sua deferência pela tecnologia militar.
Continuou a avançar ao longo da margem, alternando o olhar entre o vale e a gruta.
Derek esperou até que ele se encontrasse a uns passos de distância. Assim que o viu desviar os olhos para o vale, atirou-se a ele com tudo o que tinha. Infelizmente, o som das botas a rasparem na rocha deu cabo do efeito de surpresa. O atacante olhou na sua direção, mas já não havia volta a dar.
Derek abalroou-o de lado, lançando-lhe as mãos ao pescoço. O outro tentou libertar-se e, entre puxões e empurrões, acabaram ambos dentro de água. O mergulho no lago não fazia parte do plano, mas Derek sabia que existia o risco de isso acontecer. Um risco que estava disposto a correr por Jane.
Conseguiu libertar-se do outro e atirou-se para a margem.
— Agora! — gritou para Jane.
Jane ergueu a mão que segurava o controlador ao mesmo tempo que o atacante ergueu a arma. Mais rápida no gatilho, Jane pressionou o botão. A coleira de eletrochoques que Derek pôs à volta do pescoço do homem brilhou intensamente. Estava regulada na potência máxima, porém, o efeito do choque elétrico foi muito mais dramático do que anteciparam. Em vez de apenas incapacitar o alvo, a descarga da coleira iluminou toda a sua figura encharcada, juntamente com a água do lago, como se os micróbios tivessem libertado de uma só vez toda a energia acumulada.
O homem arqueou as costas, gritando e contorcendo-se de dor.
Quando por fim tombou no lago, a eletricidade ainda dançava na superfície das águas.
Derek recuou cautelosamente.
— Jane... acho que podes largar o botão.
— Oh, claro... — Jane deixou cair o braço e avançou para ele.
Derek recuou, perfeitamente ciente do que lhe ensopava a roupa.
— Não te aproximes...
Jane ignorou-o e abraçou-o na mesma.
— Tarde demais, estamos juntos nisto.
Derek ficou especado, de braços abertos, com medo de devolver o abraço. Depois percebeu que ela tinha razão e deixou-se levar pelo momento, sabendo que era algo por que valeria a pena morrer.
Não é que eu queira que isso aconteça, sobretudo agora.
23h24
Enquanto Jane se apertava contra o peito de Derek, uma sucessão de explosões ergueu-se do vale, acompanhada de um coro de protestos dos elefantes. Romperam o abraço e ficaram a olhar, em silêncio, tentando adivinhar o que estava a acontecer.
— Não podemos continuar aqui — disse Derek, encaminhando o grupo para fora da gruta.
Jane concordava com ele. Com o espetáculo de luzes e gritos que ali ocorrera, aquele esconderijo estava definitivamente comprometido.
Contornaram o lago e seguiram ao longo da parede rochosa, aproveitando as sombras espessas da selva mais acima. O resto do vale encontrava-se igualmente escuro, mas a luz da lua e das estrelas era suficiente para revelar uma estranha visão.
Um enorme agrupamento de elefantes, talvez uns vinte animais, corria sem destino, embora desse a impressão de que a maioria se dirigia para a muralha que selava a entrada do vale.
Jane semicerrou os olhos.
— O que estão a...?
Uma nova sucessão de explosões silenciou-lhe as palavras. Em cada uma, uma chuva de cristais azuis piezoelétricos projetou-se pelo ar, lembrando fogo de artifício. Kowalski estava a disparar a sua arma, mas não contra o inimigo. Corria atrás da manada de elefantes, a aviar cartuchos contra os enormes traseiros dos animais e a gritar uma enxurrada de asneiras. Em circunstâncias normais, o repertório do americano faria Jane corar de vergonha, mas a verdade é que ficara impressionada pela variedade e imaginação das coisas que lhe saíam da boca.
Recordou as últimas palavras que ele lhes dissera.
Tenho um plano.
Foi então que Jane percebeu. A manada acelerou o passo, tentando escapar ao castigo de luzes brilhantes e ferradelas do seu atormentador. O bater dos corpos uns contra os outros aumentou o nervosismo dos animais, um crescendo de confusão cujo desfecho se tornara inevitável. As dezenas de pernas aceleraram ainda mais, os barridos tornaram-se mais fortes e, ato contínuo, a fuga transformou-se numa debandada.
O alvo estava bem à vista.
Junto à muralha, os lampejos de disparos iluminaram a base e o topo da rampa, revelando a presença de dois atacantes. Uma granada explodiu, projetando um cogumelo de terra. Felizmente, a pontaria dos dois homens não parecia afinada à conta do tsunâmi de presas, patas, trombas e barridos que avançava direito a eles.
O desgraçado que ocupava a base deu meia-volta e correu pela rampa acima, mas a superfície arenosa traiu-o e ele caiu no chão, desaparecendo de imediato sob as patas da manada, que continuou a subir até transpor a muralha. No momento seguinte, um grito abafado ecoou das profundezas da passagem estreita, assinalando o instante em que o segundo atirador foi também esmagado pelos animais em fuga.
Os últimos elefantes transpuseram a muralha e seguiram igualmente pela passagem, em direção ao abrigo da floresta. Porém, a calmaria não durou mais do que uns segundos.
Novos disparos captaram a atenção de todos para o lado oposto do vale.
A batalha ainda não terminara.
23h32
Não estás à espera de que eu caia nessa...
Gray manteve-se a coberto pela pilha de ramos e ossadas. O adversário voltou a esticar o braço e disparou às cegas para o cemitério. As balas desfizeram um dos capacetes acesos no chão, crivando o manto de ossos desfeitos. A ideia era fazer com que Gray ripostasse, denunciado a sua posição.
A estratégia teria que ver com os sons da batalha que chegavam do vale: gritos, disparos, explosões; tudo isso por entre os barridos dos elefantes que ali habitavam.
Gray conseguia sentir a presença lúgubre da velha rainha ao fundo do cemitério. Assombrava o punhado de ameixeiras altas que ali havia. A culpa consumia-o, sabendo que era responsável pela carnificina que trouxera até à porta daquelas pacíficas e tímidas criaturas, que tão bem os haviam recebido.
E vejam como vos pagámos tamanha generosidade.
Como que adivinhando-lhe os pensamentos, o atacante espreitou junto ao chão e disparou na direção das árvores. Um barrido agudo e doloroso ergueu-se nas costas de Gray.
Filho da mãe...
Gray olhou para trás, para ver se o elefante estava bem. Assim que o fez, o movimento do corpo fez derrubar um dos ramos no topo da pilha.
Gray não esperou nem mais um segundo e abandonou o esconderijo, sabendo que o outro reagiria ao mínimo sinal de movimento ou ruído. Mergulhou para o lado e rolou pelo chão, ao mesmo tempo que uma granada atingiu a pilha cerimonial, projetando lascas de osso e farpas de madeira a arder pelo ar. A força da explosão arremessou-o para mais longe, cobrindo-o com uma chuva de detritos, salpicando-lhe a pele de fragmentos aguçados.
Manteve os braços estendidos à frente dele, ainda a segurar a SIG Sauer com as duas mãos. Disparou na direção da figura do outro, obrigando-o a recuar para proteção da fissura e arrancando-lhe um ou dois impropérios.
Gray deixou-se ficar como estava, estendido de barriga no chão com a mira fixa no esconderijo do oponente. Infelizmente, encontrava-se completamente exposto. Se tentasse levantar-se, correr, ou mesmo mover-se uns centímetros, o som dos ossos triturados debaixo de si era o suficiente para denunciar a sua posição. O impasse pareceu durar uma eternidade, mas não passou de segundos.
O atacante voltou a esticar o braço e disparou às cegas para ele, na esperança de um tiro de sorte.
Não andou longe de o conseguir, já que uma das balas assobiou a um palmo da orelha de Gray.
Gray ripostou, mas não teve melhores resultados.
Não vou aguentar muito mais...
Atrás dele, uma respiração pesada fez-se acompanhar do som de passos sobre os ossos triturados e de ramos a partirem-se. Gray arriscou olhar por cima do ombro e viu a matriarca avançar para ele. O sangue manchava-lhe a pele branca, descendo por um dos flancos. Os seus olhos enevoados fitaram-no com uma expressão de lamento, porém determinada. Passou ao lado dele e rodou o corpo, deixando-se cair sobre os joelhos, depois sobre a barriga.
Estendeu a tromba para ele, soprando-lhe contra as bochechas. A seguir, deixou cair a cabeça ao nível do chão, para olhar diretamente para Gray, tocando-lhe suavemente com a ponta das narinas.
Está a tentar proteger-me, compreendeu Gray, mesmo na hora da morte.
O raspar de uma bota chamou-lhe a atenção. Gray levantou-se, aceitando aquela derradeira oferta da majestosa criatura. Fez pontaria por cima do dorso do elefante no instante em que o atacante se revelou, nitidamente irritado com aquela reviravolta nos acontecimentos. Gray disparou primeiro, obrigando o outro a recuar um passo, mas não lhe acertou.
Ainda assim, Gray não precisava de o fazer.
Só quero que te mantenhas focado em mim...
O atacante fez-lhe a vontade, centrando a mira do lança-granadas.
Foi quando uma sombra gigante emergiu da fissura. Em silêncio, sempre vigilante, o possante macho avultou-se nas costas do atacante. Como que em câmara lenta, empurrou uma presa pelos rins do homem, erguendo-o nos bicos de pés, depois no ar.
O sangue começou a jorrar, e a arma caiu no chão.
Sacudindo a cabeça uma última vez, o elefante arremessou o corpo partido do atacante de volta para a fissura, para que os seus ossos nunca conspurcassem aquele solo sagrado.
Gray deixou-se cair de joelhos, pousando a palma da mão na face rugosa da matriarca.
— Perdoa-me...
A tromba ergueu-se uma última vez e tocou-lhe no braço, como que reconhecendo o desgosto dele, depois agarrou-lhe no pulso, urgindo-o a levantar-se e a seguir o seu caminho. O macho avançou para ocupar o seu lugar ao lado da rainha, as presas ensanguentadas, o olhar não tão clemente.
Gray baixou a cabeça e afastou-se.
Quando alcançou a passagem, olhou por cima do ombro. O macho tinha a cabeça baixa, a sua tromba entrelaçada com a da rainha moribunda. Gray virou o rosto, consciente de que não era merecedor de testemunhar aqueles momentos finais.
Correu pela fissura, igualmente aliviado e envergonhado.
Mas havia quem ainda precisasse dele.
23h39
Seichan agachou-se a cerca de quarenta metros do final da passagem, que se estendia por um bom quilómetro e meio entre o vale e floresta. Durante a caminhada cautelosa até ali, ouvira constantemente os sons do tiroteio que decorria no vale. Esforçara-se por manter os seus receios ao largo, consciente de que não lhe serviriam de nada. Em vez disso, depositara toda a confiança em Gray — até em Kowalski. Os companheiros arranjariam maneira de sobreviver e manter toda a gente a salvo.
Pela parte que lhe tocava, tinha as suas próprias responsabilidades nessa noite.
Com a saída à vista, deixou-se ficar no mesmo sítio. Os seus ouvidos procuraram qualquer som alheio à floresta, os olhos atentos a movimentos ou formas suspeitas.
Embora tudo parecesse tranquilo e seguro, sabia melhor do que isso.
Sei que estás aí, à minha espera.
Cada nervo do seu corpo dizia-lhe isso.
A partir desse ponto, tinha duas opções: caminhos divergentes, definidos por duas palavras que lhe haviam sido impregnadas por aqueles que a tinham treinado como uma assassina da Guild.
Sombras ou fogo.
Podia apostar na abordagem furtiva, cingindo-se às sombras, escalando as paredes rochosas e descendo noutro ponto, fora de vista, a fim de surpreender o adversário. A outra hipótese era o ataque frontal. Encher-se de adrenalina e sair a correr de arma em riste, apostando tudo no poder de fogo.
Em vez disso, decidiu-se por uma terceira opção; uma terceira via que não fazia parte dos compêndios rígidos da Guild. Algo que aprendera com Gray, uma mistura de improvisação e intuição — embora a sua inspiração dessa noite talvez nem fosse Gray, mas, sim, Kowalski.
Conseguia ouvi-los à distância, um trovejar grave. Recusou-se a mexer-se até ao último momento, não fosse alertar para os seus planos o fantasma que a aguardava na floresta. Assim que sentiu o chão tremer sob os seus pés, começou a escalar a rocha.
No instante seguinte, os primeiros dos elefantes em debandada passaram por baixo dela, tão perto que bastava-lhe esticar o braço para lhes tocar no dorso. Procurou a melhor oportunidade e encontrou-a numa fêmea corpulenta. Assim que a criatura passou pela sua posição, saltou da parede e agarrou-lhe na cauda com as duas mãos, entrelaçando as pernas ao redor das coxas grossas do animal.
Assustada pelo passageiro inesperado, a besta cinzenta acelerou o passo, tentando libertar-se. Seichan segurou-se com todas as forças, sabendo que lhe bastava aproveitar a boleia durante uns segundos. Nada satisfeito com aquela presença inesperada no seio da manada, o elefante que seguia atrás tentou derrubá-la de cima da fêmea, o que quase conseguira. Seichan espremeu-se o mais que podia contra os quadris do animal, cravando ainda mais as botas.
O mundo à volta converteu-se num borrão. Logo a seguir, as paredes da passagem desapareceram de ambos os lados.
Seichan aguardou que a manada alcançasse a orla da floresta e só então saltou, rolando pelo tapete de folhas soltas. Pondo-se de pé, correu agachada, perpendicular à manada, e escondeu-se atrás do tronco de uma gigantesca árvore.
Pousou um joelho no chão e deixou-se ficar a observar a manada a irromper e espalhar-se tumultuosamente pela floresta, na esperança de que a confusão pudesse obrigar o inimigo a revelar-se.
À sua direita, um possante macho embateu com a anca numa formação de pedregulhos. Enquanto as rochas tombavam devido ao impacte, uma silhueta negra escapou-se junto ao chão.
Já te vi.
Outra coisa que viu foi a forma de metal escuro nas mãos da figura que se escapava, indicando que se encontrava fortemente armada.
Não esperava menos do que isso.
Saiu de trás do tronco e deu início à perseguição.
Com uma pequena mudança de planos daí em diante.
Fogo.
23h43
Empurrada pelos elefantes em debandada, Valya pôs-se em fuga por um trilho abrigado, ziguezagueando sem destino pela floresta, afastando-se cada vez mais do desfiladeiro. Mais à frente, deu por si a chapinhar com as botas em pequenas poças de água, depois numa espécie de lago, que parecia estender-se sem fim à vista. Finalmente, as formas corpulentas dos animais em fuga espalharam-se nas suas costas, o pânico dissipando-se.
Ainda assim, Valya continuou a correr, sabendo que necessitava de reconsiderar as suas opções.
Verificou a arma. A mira telescópica de visão noturna soltara-se, mas o resto continuava operacional. Infelizmente, também não tivera tempo de agarrar no controlador do Raven.
Antes do caos, com a armadilha montada, a câmara de infravermelhos do Raven detetara a assinatura térmica de um corpo nas profundezas da fissura. Não havia dúvida de que era uma pessoa, mas era impossível saber de quem se tratava. Contudo, pelos movimentos furtivos, Valya fazia uma boa ideia de quem brilhava no ecrã do controlador. Como tal, aguardara que Seichan tomasse a sua decisão.
Fogo ou sombras.
Então, enquanto estudava o monitor, um rio de calor corporal inundou a passagem, arrastando e eclipsando o pequeno ponto brilhante. No tempo que demorara a tentar perceber o que estava a ver, acabara por reagir demasiado tarde. Os elefantes irromperam do desfiladeiro, direitos à sua posição, dando-lhe pouco mais do que segundos para se pôr a salvo.
Porém, o que fora feito de Seichan? Teria sido esmagada pelos animais em fuga?
Valya sabia a resposta.
Não.
A bala que lhe passou junto à cabeça e se cravou no tronco de uma árvore confirmou-lhe isso mesmo.
Valya mergulhou e escondeu-se atrás da árvore, pondo o tronco entre ela e Seichan. Abriu fogo na direção da trajetória da bala, embora estivesse certa de que a outra já estava em movimento.
Valya seguiu-lhe o exemplo. Virou-se e correu agachada, embrenhando-se mais fundo na zona mais densa da floresta. O som daquele primeiro disparo dizia-lhe que Seichan vinha armada com uma pistola. Valya carregava uma metralhadora de assalto, com um carregador extra de quarenta munições entalado no cinto.
Se as coisas se iriam resolver pelo fogo, não havia como não ganhar esse jogo.
Precisava apenas de um bom abrigo.
Foi o que encontrou logo adiante.
Mergulhou no denso matagal, onde dispunha de uma oferta de troncos grossos para dar e vender, permitindo-lhe mudar de posição sem ser vista. Acocorou-se no chão, perfeitamente camuflada.
Ouviu-se um novo disparo de pistola. A bala acertou-lhe em cheio no ombro, arremessando-lhe o corpo para trás.
Valya ignorou a dor lancinante e deslizou para uma nova posição, ainda mais fora de vista.
Serviu-lhe de pouco, já que o tiro seguinte lhe arrancou parte de uma orelha.
Deu uma volta completa sobre si própria, em modo de pânico.
Como!?
Foi então que ouviu o zumbido familiar do Raven a voar baixinho, e compreendeu que estivera o tempo todo a jogar o jogo errado. Aquela não era a via do fogo, mas das sombras, do engano e dissimulação. Seichan deveria ter perdido uns segundos a examinar o local onde ela se escondera, encontrado o controlador do drone, e estava nesse momento a comandá-lo.
Uma voz ergueu-se de parte incerta:
— É a minha vez de brincar com os teus brinquedos.
Valya praguejou entre dentes.
Se é sombras que queres, vais tê-las... e fogo!
Agarrou no rádio e contactou o piloto do Cessna.
— Luz verde para largar os Hellfire. Um em cada desfiladeiro. Já!
23h48
Hellfire...
Seichan sabia que Valya fizera questão de que ela ouvisse aquelas palavras. Porém, será que eram verdade?
No Sudão, quando se confrontara com a possibilidade de estarem ou não a ser seguidos, não hesitara em presumir que sim, agindo em conformidade.
Ali não era diferente.
— Tens duas escolhas — gritou-lhe Valya, em tom de provocação. — Ou vens atrás de mim, ou vais ajudar os teus amigos.
Seichan ignorou-a, tendo já tomado a decisão. Virou costas e correu em direção ao desfiladeiro, sabendo que precisava de fazer tudo o que pudesse para salvar os outros.
Ainda assim, lançou uma promessa silenciosa para a assassina.
Havemos de nos encontrar outra vez.
23h50
— Corram! Rápido! — gritou Gray, fazendo o melhor que podia para evacuar toda a gente em direção à muralha, a fim de se abrigarem na fissura.
Dois minutos antes, Seichan contactara-o via rádio, quase sem fôlego e em pânico, avisando-o do que vinha a caminho.
Tens de sair daí, imediatamente!
A chamada chegara enquanto se reagrupava com os outros no vale. Com as lanternas dos capacetes acesas, todos lutavam nesse momento para conduzirem o restante da manada nessa mesma direção. Seichan tentara ajudar, enviando um drone de que se apoderara para sobrevoar o vale, tanto para confirmar a ameaça como para dificultar a vida ao piloto do avião.
A voz dela fez-se ouvir de novo nos auriculares:
— O avião está a aproximar-se da vossa posição. Vai largar os mísseis a qualquer momento.
— Tens de nos conseguir mais tempo — urgiu Gray.
— Estou a tratar disso.
Kowalski disparou a caçadeira para o ar, tentando apressar os últimos elefantes transviados.
— Vamos, mexam esses traseiros enrugados!
Noah optou por uma abordagem mais gentil com um par de elefantes mais velhos, dando-lhes palmadinhas no dorso e encorajando-os a seguir Roho, que fazia a sua melhor imitação de cão-pastor.
Derek e Jane encontravam-se mais adiante, junto à muralha, agitando ramos e incitando os animais a subirem pela rampa.
Felizmente, a debandada anterior arredara a maior parte dos animais, mas havia um que teimava em dificultar-lhes a vida.
Gray olhou para o lado oposto do vale. A silhueta escura do possante macho permanecia vigilante, junto à parede rochosa. Surgira da passagem do cemitério dez minutos antes, como que anunciando a morte da matriarca. Um punhado de elefantes adultos deslocara-se até lá e juntara-se a ele, entrelaçando as trombas numa manifestação de pesar.
Não dava ideia de que ele tencionasse sair dali tão depressa.
Jane gritou da rampa, apontando.
— Está uma cria no pasto!
Gray e os outros olharam para trás, porém, a linha de visão ao nível do chão não lhes permitia detetá-lo.
Kowalski correu na direção que Jane apontara:
— Onde? — gritou para trás.
Jane berrou meia dúzia de instruções, guiando-o.
A voz de Seichan estalejou de novo nos auriculares, o tom mais urgente do que nunca.
— Gray! O drone pifou! O Cessna está quase em cima de ti!
Gray perscrutou o céu. Conseguia ouvir o som ténue de um motor.
Isto não vai correr bem.
— Kowalski! — gritou. — Volta já para aqui! — Ergueu o braço e acenou para os restantes. — Para o lado de lá da muralha, corram para o mais longe possível.
— Já vi o pequenote! — respondeu Kowalski, correndo mais depressa.
Agachou-se nas ervas altas, desaparecendo por instantes, depois ergueu-se carregando o elefante bebé nos braços, que deveria pesar mais de noventa quilos. Apressou-se a regressar, com a cria a barrir queixosa nos seus braços.
Não vai conseguir.
A confirmação dessa ideia materializou-se nos céus acima, recortando o manto de estrelas. Um pequeno avião inclinou-se sobre uma das asas, preparando-se para mergulhar sobre o desfiladeiro e largar os mísseis.
Um som trovejante desviou a atenção de Gray.
Do fundo do vale, o macho carregou para Kowalski, porventura em auxílio da cria assustada ou apercebendo-se de que ele estava em sérias dificuldades para salvá-la. Assim que alcançou os dois, estendeu a tromba e arrancou o bebé dos braços dele, continuando em direção à muralha. Mais leve, Kowalski baixou a cabeça e correu mais depressa.
Para lá da sua figura, o Cessna desceu sobre a área do cemitério. Chamas irromperam por baixo de uma das asas e o míssil zuniu pelo ar. Ato contínuo, uma explosão ensurdecedora fez tremer o chão. Uma bola de fogo ergueu-se em direção às estrelas, seguida de uma nuvem de fumo negro.
O macho alcançou a rampa e transpôs o velho dique. Kowalski seguiu atrás, acompanhado de Gray. Mal se viram do outro lado da muralha, o mundo explodiu nas costas deles. A força da explosão varreu a rampa e arremessou os dois homens pelo ar e às cambalhotas pelo chão, quase por baixo das pesadas patas do macho.
Assim que pararam de rebolar, Kowalski deixou-se ficar estendido de costas.
— Na próxima vez, lembra-me de te dar ouvidos...
Gray pôs-se de pé, soltando um gemido doloroso. Os outros juntaram-se a eles. Com toda a gente a salvo, não resistiram a subir de novo a rampa, a fim de espreitarem o vale.
Ao fundo e à esquerda, ouviram um novo rebentamento, dessa vez vindo das profundezas da selva que cobria o topo do desfiladeiro desse lado. Logo depois, uma coluna de fumo preto ergueu-se contra o céu estrelado.
Seichan murmurou-lhe ao ouvido.
— Gray?
— Estou bem.
— Ótimo. É apenas para te dizer que consegui arranjar o drone.
Gray observou a coluna de fumo, sabendo que deveria ter sido o Cessna que caíra, abatido por Seichan.
— Antes tarde do que nunca, calculo eu.
Derek e Jane juntaram-se a ele, ambos olhando desamparadamente para as ruínas do vale. A metade traseira não passava de escombros e fumo. Enquanto observavam, uma nova secção da parede rochosa colapsou sobre si mesma, soterrando o lago e a pequena gruta.
— Desapareceu tudo — declarou Jane —, nunca mais encontraremos a cura.
— Não faz diferença — murmurou Gray.
Derek deitou-lhe um olhar crítico.
— A mim faz-me muita diferença, dei um mergulho no raio do lago.
— Apenas quis dizer que a cura nunca esteve aqui... pelo menos, para nós.
Nenhum deles pareceu especialmente agradecido ou feliz com essa informação.
Gray tratou de se explicar melhor, para os tranquilizar.
— Mas sei onde podemos encontrá-la.
— O quê? Onde? — perguntou Jane.
Gray virou as costas e começou a andar.
— Exatamente onde começámos.
28
18 de junho, 10h23 BST
Mill Hill, Inglaterra
Gray encontrava-se junto à janela com vista para o pequeno bloco operatório do Francis Crick Institute, nos arredores de Londres. Tinham passado duas semanas.
Observou a figura deitada na marquesa, cujo corpo se encontrava coberto por um lençol.
Todos nós lhe devemos muito.
Depois de se submeter a uma batelada de exames médicos, os quais não levantaram preocupações, Gray regressaria aos Estados Unidos no dia seguinte. Seichan e Kowalski também tinham passado nos testes e acompanhá-lo-iam no mesmo voo, mas nenhum dos dois demonstrara interesse em marcar presença ali. A justificação de Kowalski fora taxativa: estou farto de múmias para os próximos tempos!
Gray sorriu, interrogando-se se o outro faria ideia de como aquelas palavras se adequavam àquela situação em particular. Recordou os rostos macabros que decoravam o interior do estômago da deusa de pedra. Para ele, constituíam uma das pistas mais óbvias, e recordou-se de na altura ter pensado que tudo o que ali havia funcionava como uma lição. Porém, não tinha sido a única que aprendera ao longo daquela jornada.
Visualizou a rainha dos elefantes a conduzir Jane pela mão e partilhar com ela o seu conhecimento, ensinando-a como a uma criança. A verdade é que nunca existira nenhuma cura para ser encontrada naqueles desfiladeiros.
Apenas mais uma lição para ser aprendida.
O que fora mostrado a Jane, o que a todos fora ensinado, era a receita para uma cura... não a cura em si.
A porta atrás dele abriu-se. Dois rostos conhecidos, que haviam estado a combater a pandemia, entraram na sala, a fim de se juntarem a ele e prestarem uma última homenagem ao homem coberto pelo lençol.
Monk deu-lhe um abraço forte. Menos efusiva, a doutora Ileara Kano apenas lhe apertou a mão.
Monk espreitou para lá da janela com uma expressão cansada.
— Parece que tudo o que fizemos foi saltar de múmia em múmia, apenas para voltarmos ao mesmo sítio.
Era bem verdade.
O corpo mumificado do professor McCabe fora destruído pelas chamas numa outra ala daquele complexo médico, na sequência de um ataque com fogo posto.
E aqui estamos nós, agora, depois de completado o círculo.
Dessa vez, porém, não era o corpo do professor que se encontrava naquela marquesa.
Ileara deitou um olhar triste à figura coberta pelo lençol:
— Os testes estão concluídos — disse —, o corpo será devolvido à Abadia de Westminster logo pela manhã.
Monk tentou a sua melhor imitação do sotaque britânico e falhou redondamente:
— Doutor Livingstone, presumo?
Gray arqueou uma sobrancelha.
— Exumo, queres tu dizer.
Monk riu-se e deu-lhe uma cotovelada.
— Essa foi boa! A ver se não me esqueço de usá-la na próxima reunião.
— Estás à vontade.
Pouco tempo depois de Gray e os outros chegarem do Ruanda, o corpo de David Livingstone fora exumado da sua cripta na Abadia de Westminster, onde jazia há mais de um século. Tinham sido retiradas tantas amostras de tecidos ao cadáver que Gray quase duvidava de que tivesse sobrado alguma coisa debaixo daquele lençol.
Ainda assim, o mais importante encontrava-se escondido nas profundezas do crânio do homem.
A cura...
Monk franziu a testa para o mistério estendido diante dele.
— Contaram-me pedaços da vossa aventura, mas ainda não ouvi a história completa.
— Por onde queres que comece? — retorquiu Gray, sabendo que o amigo gostaria de conhecer o resto.
— Que tal pelo episódio de Moisés?
Gray sorriu e suspirou.
— Acho que temos de começar um pouco antes, se quiseres compreender tudo. Mais concretamente na época em que um grupo de elefantes descobriu uma forma de se servirem de uma fonte de água potencialmente tóxica para a maior parte das formas de vida.
Gray recordou a admiração de Noah por aquelas criaturas.
— Dotados de uma capacidade invulgar para resolverem problemas, descobriram um método para poderem bebê-la sem adoecerem. Nunca saberemos ao certo como o conseguiram, mas suspeito que teve qualquer coisa que ver com o respeito que estes animais demonstram pelos restos mortais dos seus antepassados.
Ileara assentiu.
— A natureza está cheia de exemplos destas estranhas relações biológicas. Por vezes, nunca chegamos a perceber como se formaram e remetemos a explicação para a categoria de que «a vida encontra sempre uma maneira de prosperar».
Gray coçou o queixo.
— Independentemente disso, estes elefantes acabaram mesmo por descobrir um método. Aprenderam a enterrar os mortos sob pilhas de ramos de uma espécie de ameixeira local, de modo que os taninos da casca destas árvores promovessem uma transformação química nos cadáveres, tornando o que era tóxico num remédio.
— Confirmámos isso mesmo nos nossos laboratórios — acrescentou lleara. — Depois da morte do hospedeiro, o micróbio entra num estado de dormência, já que se vê impedido de continuar a alimentar-se da atividade elétrica cerebral. Só então se torna permeável à ação desses taninos. Um dos químicos basicamente «desliga» um punhado de genes, retirando a toxicidade ao micróbio. Melhor ainda, quando estes se cruzam com as versões tóxicas em tecidos vivos, acabam também por neutralizar essas.
— O que faz deles uma cura — disse Gray.
Monk coçou a cabeça.
— Portanto, a receita para a cura passa por mumificar um corpo infetado com a ajuda desses taninos. Depois é só aguardar um ou dois anos e recolher amostras da versão transformada.
Gray visualizou a fêmea adulta a esmagar o crânio dos restos mortais de outro elefante, e depois mostrar à sua cria como deveria mastigar os pedaços desses ossos embebidos em taninos, para recolher a versão benigna do micróbio.
— No entanto, este método é bastante específico — sublinhou Gray. — É por isso que os ossos de elefante são inúteis para nós como cura. O que significa que, para funcionar connosco, temos de replicar o método em nós próprios, desde o início. Os ossos de elefante servem exclusivamente para elefantes...
— E os ossos humanos servem exclusivamente para humanos — acrescentou Monk, fazendo uma careta.
— E os crânios são a melhor fonte — notou Ileara. — É onde podemos encontrar a maior concentração de micróbios. É claro que, nos tempos de hoje, podemos pura e simplesmente criar culturas da versão modificada do micróbio. Porém, nessa altura, era a única maneira de o fazer.
Gray sabia que os laboratórios do instituto trabalhavam já a todo o vapor na criação dessas culturas, usando as amostras do organismo que tinham retirado do crânio de Livingstone.
— E quando chegamos a Moisés? — perguntou Monk.
Gray olhou para o relógio, satisfeito por atalhar a narrativa.
— As pragas... Bom, essa parte da história começa quando uma época de chuvas excecional, possivelmente desencadeada por alterações atmosféricas no seguimento de uma erupção vulcânica, inundou o vale dos elefantes e espalhou o organismo pelas regiões vizinhas, incluindo o vale do Nilo, dando assim início à sequência das pragas bíblicas. Mais tarde, um grupo de exploradores egípcios foi à procura da fonte da doença e descobriram o lar dos elefantes. Chocados com o facto de aquelas criaturas conseguirem beber aquela água em segurança, estudaram o comportamento dos elefantes, permitindo-lhes aprender como poderiam fabricar a cura.
Gray recordou a história de Noah acerca de uma tribo no Quénia que aprendera com elefantes uma forma de induzir o parto, ao mastigarem um certo tipo de folhas. Abanou ligeiramente a cabeça, quer pelo reconhecimento da engenhosidade do ser humano quer pela resiliência da natureza.
A vida encontra sempre uma maneira.
Prosseguiu o seu relato, cada vez mais apertado de tempo.
— Os exploradores egípcios regressaram então a casa com a cura, onde esse conhecimento foi preservado por uma ordem que venerava uma versão feminina do deus Tutu, o guardião do sono e dos sonhos.
— Porquê uma versão feminina? — perguntou Monk.
— Talvez porque o explorador que descobriu a cura era, na verdade, uma mulher, possivelmente uma estudiosa hebreia que se fizera acompanhar de um leão. Pelo menos, acredito que fosse quem conduziu o grupo original de exploradores egípcios, uma vez que a matriarca dos elefantes pareceu reagir à presença de Jane McCabe e do leão do nosso guia. Ou talvez adorassem uma deusa pelo simples facto de que o micróbio causa danos genéticos nos bebés do sexo masculino. — Gray encolheu os ombros. — Seja como for, calculo que tenham escolhido um deus dos sonhos por causa das alucinações que o micróbio provoca.
Gray decidiu passar por cima das suas teorias acerca da capacidade do micróbio de também registar os padrões de memória de um hospedeiro e replicá-los no cérebro de outro. Em vez disso, cingiu-se à linha temporal dos acontecimentos:
— Durante um período de guerras no Egito, por volta do ano 1300 a.C., mais ou menos um século depois das pragas, a ordem religiosa viu-se confrontada com o receio de que esse conhecimento pudesse ser perdido. Nesse sentido, decidiram construir um túmulo que serviria dois propósitos. Primeiro, gravaram pistas no túmulo em relação ao método de cura, depois deixaram uma amostra física, um corpo mumificado que continha a própria cura.
— Onde permaneceu enterrado durante milénios — disse Monk.
— No entanto, como nada permanece enterrado para sempre e nenhum segredo é inviolável, alguns nativos locais sabiam da existência do túmulo, possivelmente os descendentes dos servos núbios que serviam a seita, e que foram passando o segredo de geração em geração. Então, um dia, um explorador inglês surgiu naquelas paragens à procura da fonte do Nilo, um homem que os nativos viriam a venerar.
Gray desviou o olhar para o cadáver coberto pelo lençol, consciente do bem que Livingstone fizera em África, quer ajudando as tribos quer combatendo o tráfico de escravos por todo o continente.
— Para honrá-lo, os nativos revelaram o segredo a Livingstone, oferecendo-lhe até artefactos que comprovavam a veracidade da história. Depois disso, porventura para preservar ele próprio esse conhecimento, mas mantendo-o secreto, Livingstone partilhou a história com o seu bom amigo Stanley, enviando-lhe mensagens codificadas. Após a sua morte, com o seu consentimento ou como parte de um ritual, o seu corpo foi preparado pelos nativos para se transformar ele próprio num recipiente da cura, à semelhança da múmia deixada no túmulo. Quando o cadáver chegou a Londres, encontrava-se mumificado e preservado num caixão construído com casca de ameixeira.
Ileara abanou a cabeça.
— Infelizmente, anos mais tarde, alguém tinha de se lembrar de abrir um dos artefactos dele, libertando o micróbio no Museu Britânico.
Gray voltou a verificar as horas.
Estou atrasadíssimo.
Olhou para Monk.
— Isso mesmo, mas o Painter e a Kat conhecem melhor essa parte da história, que envolve figuras tão distintas como Nikola Tesla, Mark Twain e, claro, o bom amigo de Livingstone, Henry Morton Stanley. É melhor perguntares esses pormenores à tua mulher. Ou mesmo ao diretor. Ouvi dizer que ele já não se encontra em quarentena. — Gray esfregou as mãos. — E penso que é tudo. Tenho de ir andando. Tenho um almoço com uma certa mulher que detesta que a façam esperar. Não quero ter de lhe dizer que me atrasei por causa de ti.
Monk ergueu as mãos.
— Pira-te. Deus me livre de cair nas más graças da Seichan.
Gray virou costas e abandonou a divisão, satisfeito por ter prestado aquela última homenagem ao explorador e contente por o deixar entregue ao seu bem merecido descanso. Encontrou o seu caminho pelos confusos corredores do enorme complexo médico, onde toda a gente se atarefava no combate à praga, e saiu para a luz matinal de um novo dia.
Chamou um táxi e deu ao motorista a morada que Seichan lhe tinha deixado. Ela mostrara-se bastante misteriosa em relação àquele almoço, o que, tratando-se de Seichan, era um nadinha preocupante.
Quando o táxi chegou ao destino, havia uma gigantesca fila de pessoas que desaparecia por trás da esquina mais próxima. Gray saiu do carro, protegendo os olhos da luz do sol com a mão.
Onde estás...?
Sentiu uma mão apertar-lhe com força o cotovelo.
— Estás atrasado.
— Desculpa, mas o Monk consegue ser um bocado tagarela.
Seichan ignorou-o e arrastou-o pelo braço através da multidão. Gray soltou uma exclamação de espanto quando percebeu o que havia do outro lado da esquina. Era a London Eye, a famosa roda-gigante junto ao Tamisa, de que cada uma das cabinas esféricas tinha capacidade para levar duas dúzias de pessoas.
Seichan continuou a arrastá-lo até ao início da fila.
— Sabes quanto custa manter isto parado? Por alguma razão pedi para não te atrasares.
— O que vamos...?
— Cala-te.
Seichan conduziu-o pela rampa, em direção à primeira cabina que aguardava. No interior, tinha sido posta uma mesa com uma elegante toalha de linho e copos de cristal. Ao lado, num carrinho de servir, bandejas de prata abobadadas escondiam mistérios culinários, enquanto uma garrafa de champanhe repousava numa taça de gelo.
Seichan empurrou-o para o interior da cabina e acenou para o operador da roda. Virou-se para ele, com as faces subitamente vermelhas.
— És um homem difícil de surpreender.
— Uma característica que me tem salvado a pele — retorquiu Gray, sorrindo.
Assim que a cabina começou a mover-se, ela avançou um passo e pôs os braços à volta do pescoço dele.
— Nesse caso, vou ter de esforçar-me um pouco mais esta noite.
— Acho que estou à altura desse desafio.
— É bom que estejas.
Seichan conduziu-o para a mesa, onde um pequeno banco num dos lados oferecia vistas para o Tamisa. Sentaram-se juntos, antes de pensarem em comida. A cabina continuou a subir, a vista estendendo-se progressivamente sobre a cidade de Londres.
— Para quê tudo isto? Eu ficava contente com uma cerveja e um hambúrguer. — Gray puxou-a para si. — O que importa é a companhia.
— Achei que merecíamos um pouco mais.
— E onde foste buscar esta ideia? — Gray fitou-a. — Já sei. Lembraste-te da imagem do Derek e da Jane naquela roda em Cartum.
Seichan sorriu.
— Não há mesmo nada que te passe ao lado, pois não? — Seichan apertou-se mais contra ele. — Quem disse que aqueles dois devem ter todo o divertimento só para eles?
Gray suspirou, apercebendo-se de como eram poucos os momentos que tinham só para eles. Calculou que fosse parte da intenção de Seichan, que refletissem sobre isso, não de forma forçada, mas permitindo que essa realidade pairasse no ar. Será que se atreveriam, uma vez que fosse, a reconhecer as forças que os impediam de terem mais momentos assim? Mais do que isso, será que algum dia se atreveriam a combatê-las?
Sem resposta a essa pergunta, deixaram-se ficar em silêncio, aproveitando o instante.
Seichan virou-se lentamente para ele:
— Tive notícias da Kat. Ela achou que eu deveria saber.
— Saber o quê?
Seichan desviou o olhar para o rio.
— Ontem, no Canadá, alguém deixou uma rosa branca na sepultura do Anton Mikhailov.
Gray sabia o que preocupava Seichan. A assassina de pele branca e rosto tatuado desaparecera depois dos acontecimentos em África, uma mulher que sabiam agora chamar-se Valya Mikhailov.
— Nada nos diz que tenha sido ela — disse Gray, tocando-lhe na mão.
Seichan enrolou os dedos à volta dos dele.
— A rosa branca tinha uma única pétala negra.
11h38
— Tem visitas — anunciou Kat, ao entrar no quarto.
Painter sentou-se direito na cama de hospital.
Finalmente.
Há demasiado tempo que se encontrava encafuado na ala de doenças infetocontagiosas do Francis Crick Institute, sem direito a outra vida que não fosse submeter-se a tratamentos e exames. Estava pronto para uns momentos de distração.
Atrás de Kat, Safia espreitou pela porta aberta.
— Venho apenas ver como está o nosso doente — disse, entrando no quarto a segurar um conjunto de balões coloridos. — Achei que precisavas de alguma animação.
Painter gemeu.
— Já tive a minha dose de balões durante uns tempos.
Safia sorriu.
— Nesse caso, que tal um velho amigo?
A porta abriu-se na totalidade e uma figura alta, de ombros largos, cabelo louro desgrenhado e pele bronzeada entrou no quarto.
Painter sorriu.
— Omaha Dunn...
O homem sorriu também, o que lhe acentuou as rugas de expressão nos cantos dos olhos. Puxou Safia para junto de si enquanto avançava.
— Deixo-te a minha mulher uns minutos e, para não variar, quase fazes com que a matem...
Painter encolheu os ombros.
— Que queres que te diga? Alguém tem de manter o entusiasmo na vida dela.
Safia suspirou e abanou a cabeça, adicionando os balões à pilha de cartões e prendas ali perto.
O grupo passou os minutos seguintes a pôr a conversa em dia.
— Portanto, houve alguém que perdeu a cabeça e casou contigo... — troçou Omaha. — Quem foi a pobre coitada?
Painter franziu a testa.
— A Lisa ficou a tomar conta do forte em Washington. Não gostou muito quando lhe disse que vinha juntar-me aos outros aqui no instituto. Nesta altura do campeonato, este sítio converteu-se praticamente na sede da Sigma em Inglaterra. Seja como for, acabou por compreender. No que toca ao estudo do micróbio, esta gente está uns passos à frente em relação ao resto do mundo, e depois do que aconteceu no Ártico, precisamos de toda a ajuda possível.
Safia sentou-se aos pés da cama.
— Como estão as coisas na Estação Aurora, e na própria ilha?
— Uma confusão pegada. Neste momento, devem lá estar mais microbiólogos e especialistas em doenças infetocontagiosas do que ursos-polares. Vai demorar um bocado até termos uma noção do verdadeiro impacte daquilo que o Simon Hartnell fez. Ainda assim, até ver, estamos cautelosamente otimistas. Com o frio que lá faz, que nada tem que ver com condições tropicais onde o micróbio se desenvolveu, é possível que não encontre forma de prosperar.
— Então, resta-nos esperar que o Ártico continue gelado — comentou Safia.
Painter assentiu. O método que Simon escolhera para salvar fora completamente errado, mas o objetivo continuava a ser incontestável.
Omaha acotovelou Kat:
— Vá, mostre-lhe a verdadeira prenda.
Painter arqueou uma sobrancelha:
— Qual prenda?
Kat sorriu.
— Estávamos a aguardar o fim da quarentena, para que pudesse tocar-lhe com os próprios dedos. — Dirigiu-se à sua pasta e abriu-a. Retirou o que parecia ser uma carta escrita à mão. Estava protegida por uma manga plástica transparente. — Encontrámos esta carta no interior da cripta de Livingstone. Foi deixada por um cavalheiro que, pelos vistos, sabia guardar segredos, ao contrário de um certo amigo dele.
Painter estudou o frágil documento, segurando-o com cuidado, sobretudo quando reparou na assinatura na margem inferior:
— Esta carta é de Mark Twain — murmurou.
Painter recordou o relato no diário de Tesla, descrevendo os acontecimentos ocorridos em 1895, que incluíam a viagem de Twain e Stanley ao Sudão, depois de terem decidido seguir as pistas deixadas por Livingstone.
Curioso com essa inesperada adição à história, começou a ler a carta, datada de 20 de agosto de 1895:
Para as gentis senhoras e cavalheiros que estejam a ler estas linhas,
Primeiro do que tudo, permitam-me apontar-lhes um dedo acusatório por terem profanado o túmulo de David Livingstone e as catacumbas nas areias do deserto, onde não pertencem. Porém, e pelos mesmos motivos, quero também oferecer-lhes os meus sinceros parabéns pela boa sorte ou bom senso (ou ambos!) que os levou a perturbar o sono do pobre Livingstone. Não deixa de ser espantosamente oportuno que o bom médico esteja uma vez mais disponível para curar as maleitas dos que vêm bater à porta da sua última morada, aqui na abadia. Asseguro-lhes que lhes deixámos uma ampla quantidade do seu remédio mais sinistro.
Contudo, considerem-se avisados: este tratamento faz-se acompanhar de alguns efeitos assaz alarmantes e iluminados. Eu próprio o experimentei em jeito de precaução e, durante a minha recuperação febril do seu uso, dei por mim a vivenciar sons e visões que não eram minhas, mas lembranças de outro, do próprio homem cujos ossos jazem diante de vós. Vislumbrei lagos azuis que os meus olhos nunca viram, selvas escuras que os meus pés nunca pisaram, bem como tantas outras imagens, tanto gentis como horríveis, incluindo a crueldade do homem sobre os seus semelhantes de pele escura na ainda mais escura África. Da mesma forma, senti a paixão dele como se fosse minha, a profunda devoção aos menos afortunados, a crença pia num Deus que pode amar-nos a todos, a ilimitada curiosidade pelo que se encontra para lá do horizonte.
No meu caso, sei que sou um homem de palavras, não de ciência, e, por isso, no que toca ao funcionamento do mundo, não pretendo sugerir que sei mais do que um vulgar varredor de ruas. No entanto, tal como eu fiz, quem me dera que toda a humanidade pudesse vestir a pele de outro homem, que pudesse realmente conhecer-lhe a alma — ainda que por um instante e durante um sonho febril. Que mundo encantador todos nós teríamos.
Por isso, bebam sofregamente da fonte diante de vós e apreciem o futuro que vos aguarda. Um dia, todos acabaremos aqui, e ainda que não possamos escapar à morte, que sejamos todos tão dignos dos nossos dias como foi o nosso bom doutor Livingstone.
Painter sorriu perante a verdade daquele último desejo.
Pelo teor da carta, era evidente que Twain e Stanley sabiam que o corpo mumificado de Livingstone guardava a cura. Recordou o relato de Twain do tempo que passou no Sudão, de como ele e Stanley tinham descoberto um meio para a cura no interior do túmulo, não um remédio em si. Isso não queria dizer que, comparados com os egípcios — ou mesmo com os elefantes —, os dois tivessem alguma vez compreendido melhor a patogénese da doença, mas aprenderam que o processo de mumificação era o meio para obter a cura, e que o próprio corpo de Livingstone era o remédio.
Painter também suspeitava de que teriam sido auxiliados por pistas ou conhecimentos adicionais oferecidos a Stanley por Livingstone, informação essa que teria sido perdida ou nunca escrita, tornando os esforços recentes muito mais difíceis.
Ainda assim, Painter ficara intrigado por outro pormenor da carta de Twain.
— Repararam como parece convencido de que as alucinações, ou sonho febril, como ele lhe chama, eram, de facto, as lembranças de David Livingstone? O Gray e eu discutimos a possibilidade de o micróbio ser capaz de registar pormenores da vida de uma pessoa e de os passar a outra. — Olhou para Safia. — Parece-me semelhante ao que aconteceu contigo. A diferença é que Twain foi infetado com os micróbios que estavam alojados no corpo de Livingstone, enquanto os teus vieram diretamente da múmia.
Safia abanou a cabeça, nitidamente pouco confortável com o sentido da conversa:
— Já quase não me lembro, é como tentar recordar um sonho ao acordar.
Painter anuiu:
— Eu próprio não experienciei nada disso com o meu tratamento.
Kat sugeriu uma explicação:
— Os micróbios usados no tratamento foram criados aqui, numa cultura de laboratório. Pode ser por isso...
Omaha riu-se.
— Em laboratório? Nesse caso, considera-te feliz de não teres sonhado com queijo, uma roda para correres e uma gaiola.
Painter ignorou-o e observou a carta.
— Mesmo assim, faz-nos perguntar se não haverá mais qualquer coisa.
— O quê? — perguntou Kat.
Painter abanou a cabeça.
— Há alguns pormenores que continuam a não fazer sentido.
Kat franziu a testa.
— Tais como?
— Por que razão o professor McCabe destacou a sétima praga no seu caderno de campo, por exemplo? — Painter olhou para lá da janela, em direção a norte. — Vejam o que aconteceu no Ártico. Parecia uma coisa retirada da Bíblia.
— Acho que isso é a febre a falar — disse Kat. — O Rory disse-nos que o pai assinalou a sétima praga depois de ter traduzido uns hieróglifos que encontrou numa laje egípcia, perto do local de construção da barragem. Uma laje que descrevia a sétima praga. Isso aconteceu numa fase inicial da expedição, muito antes de o professor desaparecer no deserto.
— Mesmo assim, e se fosse uma profecia daquilo que vivemos no Ártico?
— É bem mais provável que não passe do relato de uma tempestade má, feito por um antigo meteorologista egípcio. — Kat apontou para o peito de Painter. — Acho que vou chamar o médico outra vez, só para garantir que está tudo bem por aí.
Painter fez uma careta.
— Estou apenas a pensar alto, pode ser?
Omaha bateu com as palmas das mãos nas coxas e pôs-se de pé.
— Bom, isso é tudo muito interessante, mas temos de ir andando.
— É verdade — disse Safia. Inclinou-se sobre Painter e deu-lhe um abraço. — Obrigada pelo que fizeste — murmurou-lhe ao ouvido.
— Painter, aviso-te já que, se desatarem aos beijos, vou imediatamente ligar à tua mulher — disse Omaha.
Safia sorriu e segurou o rosto de Painter entre as mãos, para que ele pudesse ver a sinceridade nos seus olhos.
— Obrigada pelo que fizeste — repetiu.
— Sempre que precisares, Safia. Tu sabes disso.
13h07
Enquanto o táxi avançava pelo trânsito congestionado de Londres, Safia olhou pela janela e apertou os dedos do marido, sentado ao seu lado, como que precisando de se ancorar na presença física dele.
Observou o bulício da cidade que amava, desde os pubs locais apinhados de clientes que riam e terminavam os seus almoços, aos autocarros vermelhos de dois pisos, que bufavam no trânsito que lhes arruinava o horário.
Ainda assim, uma outra imagem sobrepôs-se.
Mantos de areia, deslocando-se sob o sol do deserto... picos dourados de pirâmides, resplandecendo com uma luz intensa, capaz de cegar... uma fila de camelos, avançando vagarosamente ao longo da crista de uma duna, as suas silhuetas recortadas contra esse fulgor...
Apertou a mão do marido com mais força. As visões haviam-se tornado menos frequentes e intensas, pelo que evitava mencioná-las. Porém, sabia que não era a única razão para a sua reticência. Semanas antes, enquanto os céus ardiam sobre o Ártico, experienciara muito mais do que aquilo que contara a Kat. Sentira a presença das centenas de mulheres que a tinham precedido, uma corrente de vidas, cada uma ligada à outra. Sentira-as como se estivesse na pele delas, vivendo pedaços de cada uma, a maioria episódios dolorosos, já que era por esses que o micróbio revelava apetência.
Toda a experiência crescera para se transformar numa força, um vento nas suas costas, incitando-a a avançar.
Apesar de não tão clara como as anteriores, uma outra imagem começara a fazer a sua aparição, vislumbres do que estava por vir. Safia testemunhara a violenta tempestade no Ártico muito antes de ela acontecer, sabia que vinha a caminho. Outros perigos aguardavam para lá desse, acumulando-se uns por cima dos outros num futuro próximo ou distante. Porém, tudo aquilo era vago. Meras sombras. Nuvens de tempestade para lá do horizonte. Se soubesse mais, seria a primeira a partilhar essa informação com os outros, mas não tinha pormenores, apenas receios.
De qualquer forma, sentia-se também aliviada por existirem homens como Painter — assim como todos os outros que ele chefiava na Sigma —, que estavam determinados a enfrentar essas nuvens de tempestade. Tinha sido isso que tentara passar ao seu velho amigo.
Obrigada.
Omaha sentiu a sua inquietação e puxou-a para mais perto de si.
— O que se passa, Saf?
Safia aninhou-se contra o seu peito quente. Lentamente, a imagem das areias escaldantes desvaneceu-se, substituindo-se pela habitual agitação de mais um dia.
— Nada — murmurou. — Nada com que tenhas de te preocupar.
16h24
Não sobrou nada.
De volta a Ashwell por um dia, Jane ficou especada a olhar para as ruínas da casa dos pais. O incêndio consumira tudo, deixando apenas meia dúzia de vigas carbonizadas.
— Podes sempre reconstruir — lembrou Derek.
Jane considerara a hipótese, mas as lembranças seriam demasiado dolorosas. Era altura de seguir em frente. Estendeu o braço para trás e os seus dedos encontraram os de Derek. Depois de duas semanas de quarentena no Francis Crick Institute, sabia-lhe bem o ar fresco. Embora não esperasse encontrar ali nada, precisava de fazer aquela viagem até Ashwell, quanto mais não fosse para se despedir realmente do pai.
— O teu pai pensava que nos iria trazer a cura — disse Derek, como que adivinhando-lhe os pensamentos.
— Mas acabou por nos trazer a praga.
Com o tempo disponível nos últimos dias, tinham-se dedicado à tarefa de juntar as peças do passado do professor. O que magoara mais Jane, e ainda magoava, era a descoberta de que Rory fizera parte de tudo aquilo. Jane continuava sem reunir a coragem de agarrar no telefone e ligar ao irmão, que se encontrava encarcerado numa prisão militar canadiana, na sequência do seu envolvimento nos acontecimentos no Ártico.
Ficara também a saber de Simon Hartnell e de como esse homem manipulara e sequestrara o pai por causa da descoberta de um diário de Nikola Tesla, uma obsessão que dera origem a toda a cadeia de acontecimentos. O pai acabara por encontrar o organismo descrito por Tesla e procurara uma cura, mas era uma tarefa hercúlea, dada a estranha receita.
Visualizou os recipientes em forma de elefante, que agora sabia serem esculpidos da madeira e casca das ameixeiras-africanas, cujos taninos constituíam parte integrante do processo de mumificação e da cura.
Mas como poderia o meu pai saber isso?
Os taninos atuavam apenas sobre os micróbios dormentes, que subsistiam nos cadáveres; não curavam por si só, o que levara a que os recipientes fossem descartados como meros objetos decorativos.
Da mesma forma, e a julgar pelo depoimento de Rory, o pai testara a múmia que ocupava o trono de prata — essa sim, a verdadeira cura —, mas apenas encontrara amostras dos mesmo micróbios, em tudo idênticos aos causadores da doença. Para os distinguir, seria necessário um exame molecular.
Ainda assim, volvidos quase dois anos, o pai fizera uma descoberta importante ao perceber que as tatuagens na pele da múmia eram uma forma antiga de hebraico representada com hieróglifos egípcios. A história escrita no corpo da múmia oferecera pistas suficientes para que o pai ligasse o processo de mumificação à cura. Para impedir que Hartnell se apoderasse da verdade, deixara pistas para ela seguir e iniciara o processo descrito em si próprio, consumindo a casca de ameixeira e seguindo todos os restantes passos do ritual. Fizera aquilo durante dois ou três meses, preparando o corpo, depois contaminara-se a si mesmo com as amostras retiradas do crânio da múmia, na esperança de que os taninos da madeira tornassem o que era tóxico numa cura.
— Estiveste tão perto de o conseguir — murmurou Jane, olhando para os escombros enegrecidos.
— O falhanço dele foi também o nosso — disse Derek. — Ele queria oferecer-nos a cura, e sabia que teria de morrer para o fazer, já que era a única maneira de tornar os micróbios dormentes, a fim de serem suscetíveis à ação dos taninos. Infelizmente, abrimos o crânio prematuramente, antes de concluída a transformação, o que fez com que libertássemos a praga, em vez da cura. — Puxou Jane para mais perto de si. — Mas a verdade é que ele escolheu-te a ti para o ajudares. Perto do fim, deve ter acabado por perceber que o Rory estava a fazer jogo duplo com Hartnell...
— O meu irmão traiu-nos a todos — retorquiu Jane, com um tom amargo. — Roubou-me o meu pai e deixou-me acreditar que estavam ambos mortos.
— Eu sei — disse Derek. Pôs-lhe as mãos nos ombros e virou-a para ele. — Mas o teu pai sabia que serias capaz de seguir as pistas deixadas por ele. Era o seu plano de recurso. E tinha razão, tu conseguiste.
— Nós conseguimos.
Derek arqueou uma sobrancelha.
— Hum... uma arqueóloga disposta a partilhar os créditos de uma descoberta? Tens a certeza de que és filha de Harold McCabe?
Jane deu-lhe um murro no braço e começou a empurrá-lo em direção à estrada.
— Anda, vamos beber uma cerveja.
Encaminharam-se para o Bushel and Strike.
Derek deu-lhe a mão.
— E não podemos esquecer que o teu pai também conseguiu fazer aquilo a que se propusera desde o início. Encontrou provas de que as pragas bíblicas aconteceram realmente, de que os acontecimentos relatados no Livro do Êxodo foram um facto histórico, não uma lenda ou uma alegoria, como muitos defendiam. A descoberta dele virou a arqueologia de pernas para o ar.
Jane assentiu, retirando algum conforto dessa ideia. Apertou os dedos dele, como que agradecendo-lhe, e continuaram a caminhar em silêncio durante uns minutos.
— Ah, tive notícias do Noah — disse por fim Derek.
Jane olhou para ele.
— Chegou a encontrar os elefantes?
— Diz que não, mas não fiquei muito convencido. Além disso, de certeza que não vai falar deles a ninguém.
— Acho bem, aqueles animais estão melhor por conta...
O som de sinos a tocarem cortou-lhe as palavras, desviando a atenção dela para lá do pub, para o edifício da velha igreja. Pelos vistos, o campanário tinha sido já reparado, o que a deixou feliz. Era um pequeno sinal de resistência, perante tantos horrores.
Jane ouviu também um som, mais ténue, de vozes a cantarem, proveniente das portas abertas da igreja..
Conduziu Derek pela mão até ao outro lado da rua, atraída pela música, um hino hipnotizante de mágoa e graça. Mal transpuseram as portas da catedral, o cheiro a incenso confortou-a. À direita, o coro ensaiava ao fundo da nave. Arrastou Derek nessa direção e enfiou-se com ele numa pequena capela, no lado oposto do órgão de tubos.
— O que estás a...?
— Cala-te.
Parou junto a um pilar. Passou a ponta dos dedos sobre uma inscrição que decorava a superfície da pedra. Lembrou-se do momento em que estivera ali com o pai, quando criança, a tracejar a inscrição com papel e lápis. As palavras tinham sido escritas em latim, quando a aldeia fora atingida pela peste, constituindo um outro sinal da resiliência daquela gente.
Praetereo fini tempori in cello pace.
Murmurou as palavras entre dentes.
— Passo pela morte na paz dos céus.
Deixou a palma da mão pousada na pedra, sentindo-se tão próxima do seu pai, recordando-se a si mesma de que nem todas as lembranças que ali habitavam eram más. Uma lágrima solitária correu-lhe pelo rosto.
— Jane?
Desviou o olhar para Derek, que a observava com preocupação. Num impulso, puxou-o para si e beijou-o demoradamente, enquanto o coro cantava, tal como o fazia há séculos.
Porém, ao darem pela presença dos jovens amantes, os elementos do coro pararam subitamente e começaram a bater palmas.
Envergonhada, mas feliz, Jane desviou o rosto e olhou ao redor da igreja que resistira durante séculos contra todas as tempestades.
Depois, virou-se outra vez para Derek.
— Sabes que mais? Quero reconstruir a minha casa.
EPÍLOGO
30 de julho, 10h13 EDT
Takoma Park, Maryland
Promete-me.
Gray encontrava-se sentado à cabeceira do pai na casa de repouso. Aquelas palavras tinham-no perseguido durante semanas, desde que o pai as pronunciara ali mesmo, naquele quarto. Só agora as entendera.
Estudou as feições dele, notando os pequenos vasos sanguíneos rebentados no nariz e recordando os acessos de raiva com que aquele homem o presenteava quando bebia um copo a mais que a conta, sobretudo depois de perder a perna.
O pai era um homem orgulhoso, deitado por terra pela deficiência e por um cheque mensal dos serviços sociais. A mão tivera de continuar a trabalhar, cabendo ao pai a responsabilidade de olhar pelos dois filhos cuja principal ocupação era implicarem um com o outro, o que apenas se agravara à medida que cresciam. «A culpa é do raio da vossa costela galesa», costumava dizer a mãe, sempre que se deparava com mais uma briga entre os homens lá de casa.
Ela estava errada em relação à parte galesa, mas absolutamente certa em relação à costela que os três partilhavam.
Gray viria a reconhecer a verdadeira fonte dos desentendimentos com o pai. Eram demasiado parecidos, do mesmo sangue.
Continuou a observar aquele rosto enrugado, os olhos encovados, tentando vislumbrar uma centelha desse fogo. Daria tudo para que o pai fosse capaz de se erguer novamente, mesmo que fosse contra ele, contra a doença que lhe despira a memória ou contra a má sorte que lhe roubara a perna.
Promete-me.
Este homem que tinha diante dele era capaz de pouco mais do que remexer o cobertor com a ponta dos dedos. Já raramente dizia uma palavra, e passava o tempo a combater demónios enquanto dormia, gesticulando no ar, estrebuchando a perna que lhe restava ao ponto de ferir o calcanhar.
Gray conversara com a enfermeira no dia anterior. Durante a sua ausência, o pai tivera um pequeno AVC. De acordo com o que ela lhe dissera, encontrava-se estável, muito à conta da medicação, mas dificilmente evoluiria para uma condição melhor do que essa. Por outras palavras, o prognóstico apontava para que se mantivesse assim durante meses, ou até anos.
Estendeu o braço e segurou na mão do pai, sentindo-lhe os ossos. Passou o polegar sobre a pele fina, tentando recordar-se da última vez que lhe segurara a mão, ou que sequer lhe tocara. Aproveitou o momento para o poder fazer.
O pai murmurou qualquer coisa enquanto dormia, porém, quando Gray ergueu o olhar dos dedos para o rosto do pai, os seus olhos estavam abertos e a olhar para ele.
— Pai... desculpa, não queria acordar-te.
Os lábios do pai moveram-se, secos e gretados. Engoliu em seco e tentou de novo.
— Gray...
Tinham passado dez dias desde a última vez que o pai o reconhecera.
— Gray, a tua mãe... ela está a chegar?
Gray deu-lhe uma palmadinha na mão. Há muito que tinha desistido de retirar sentido das coisas que ele dizia, ou mesmo de tentar trazê-lo de volta à realidade. Era preferível alinhar.
— Não sei, a que horas ficou ela de vir?
O pai arqueou uma sobrancelha, como que confrontado com uma pergunta difícil.
— O quê?
— Quando é que a mãe vem?
— A Harriet?
— Sim.
O pai olhou em redor, conseguindo até erguer um pouco a cabeça da almofada. Fixou os olhos na cadeira vazia ao canto do quarto.
— O que estás para aí dizer? A tua mãe está ali.
Gray olhou para a cadeira vazia, depois para o pai. A cabeça dele encontrava-se de novo pousada na almofada, mas o olhar permanecia fixo na cadeira, os lábios movendo-se como se estivesse a falar com o fantasma que ali se sentava.
Ato contínuo, os olhos fecharam-se de novo, os dedos remexendo na borda do cobertor.
Promete-me...
Gray sabia o que o pai lhe pedira, e completou a frase que a doença silenciara.
... quando chegar a altura...
Gray continuou a segurar a mão dele, mas estendeu o outro braço e, lentamente, carregou no êmbolo da seringa de morfina espetada no tubo do soro.
Está na hora, pai.
Inclinou-se e beijou-lhe a testa.
Os dedos dele apertaram os seus, e depois relaxaram.
— Vai ter com a mãe — murmurou-lhe Gray, junto ao ouvido.
Gray apertou aquela mão pela última vez e, levantando-se, abandonou o quarto.
Percorreu o longo corredor da casa de repouso e saiu para o exterior, ao encontro da mulher que o aguardava sob o luminoso sol matinal. Deu-lhe a mão, sem nunca abrandar o passo, e seguiram caminho.
— Estás pronto para procurar a tal escada de incêndios? — perguntou ela.
Gray sorriu-lhe e apertou-lhe a mão com mais força.
— Estava a ver que nunca mais perguntavas.
ETERNO E INCOGNOSCÍVEL
O grande macho conduz os outros pelo desfiladeiro estreito. Os seus quartos dianteiros roçam nas lianas e folhas que pendem de ambos os lados, enquanto o peito se enche e esvazia com um som grave e compassado, assinalando a solenidade do momento.
Atrás dele, estende-se o novo lar da manada, um vale profundo, aquecido por ventos quentes. Ali, a floresta cresce mais alta, as copas do arvoredo são mais espessas do que na velha casa. A água flui límpida dos penhascos acima, derramando-se em muitos lagos.
É um bom sítio.
O homem que os trouxe até ali vem logo atrás. O macho permite-o. Não vê nenhuma ameaça naquele homem, apenas preocupação e cuidado. Por enquanto, é como se fosse um deles. Como tal, precisa de ali estar.
O macho segue pela fenda até à pequena gruta ao fundo. Pequenas pedras espalmadas cobrem o chão, parcialmente abrigado pela sombra de uma protuberância na parede de rocha mais acima. Um pequeno lago brilha num dos lados. Quando ali chegaram pela primeira vez, o macho trouxera água da antiga casa e despejara-a com a sua tromba no novo lago. A superfície das águas começara já a avermelhar-se numa promessa, mas não era por isso que se tinham deslocado até ali.
Vira-se e conduz a manada para o lado oposto.
Em cima das pedras lisas, repousam os restos de um corpo destroçado.
É pouco, mas suficiente.
O homem trouxe-lhes aqueles pedaços, recuperou-os da antiga casa e levou-os para ali.
O macho avança primeiro. Cheira as queimaduras na carne, mas toca-lhe com a tromba na curvatura da cabeça, as narinas deslizando na pele branca.
A seguir, pousa suavemente sobre ele os ramos que carrega e recua.
Mantém-se por perto, enquanto os outros avançam e repetem o gesto. Um a um. Ramo a ramo. Até o corpo ficar coberto. O homem avança em último lugar e deposita também o seu ramo. Depois, afasta-se, revelando que há ainda mais um.
Alguém que está ali para os proteger daí em diante.
O macho sabe isso porque a sua rainha lhe mostrou antes de morrer.
O leão branco avança com as patas espalmadas a rasparem as pedras. Carrega entre os dentes um enorme ramo e deposita-o na pilha cerimonial. Ajeita-o com a ponta do focinho e junta-se ao homem, que lhe afaga o pelo.
O trabalho parece bom. Está feito.
A rainha será recordada.
O macho ergue a tromba para os céus e solta um barrido melancólico, embora esperançoso; desafiador, porém respeitoso.
Os outros seguem o seu exemplo, juntando as suas vozes. É uma canção eterna.
Um novo elemento junta-se ao coro.
O leão avança, alongando o pescoço, e ruge pela primeira vez.
NOTA DO AUTOR PARA OS LEITORES
REALIDADE OU FICÇÃO?
Sou um colecionador de migalhas, de todos esses pedacinhos de ciência e história que misturo e amasso para dar corpo aos meus livros. Agora que o pão está cozido e servido, cabe-me tentar separar as fatias da história que são baseadas em factos concretos das que são mero fruto da minha imaginação.
Como tal, sem mais demoras, aqui vamos nós.
PERSONAGENS HISTÓRICAS
Pensei em juntar estes nomes tão bem conhecidos porque considero fascinante como, não raras vezes, grandes figuras da história que julgávamos pertencerem a mundos distintos não só se conhecem como também se envolveram ativamente nas vidas e conquistas uns dos outros. Sabia que um dia havia de escrever uma narrativa que contemplasse um esforço comum de personagens desse calibre. Para que isso pudesse acontecer, iria necessitar de uma aventura de proporções bíblicas.
Stanley e Livingstone
Enquanto recolhia informação sobre os dois exploradores, fiquei surpreendido por serem tão diferentes um do outro. Numa primeira impressão, o por demais conhecido e publicitado salvamento de David Livingstone por Henry Morton Stanley parece dar-nos uma ideia de que Livingstone era um aventureiro inepto que quase arranjou maneira de se matar. Porém, quando procuramos informação mais aprofundada, percebemos facilmente que David Livingstone foi um verdadeiro herói da história de África. Estamos a falar de um missionário e explorador que sempre procurou melhorar a vida das tribos nativas. Mesmo depois de ter sido salvo, às portas da morte, optou por permanecer no continente africano, a fim de dar continuidade à sua luta contra o tráfico de escravos. Em sentido oposto, o «nobre e heroico» Stanley era um notável racista, que foi praticamente obrigado a viajar para África e tratava os seus carregadores e todos os nativos que encontrava pela frente com assinalável brutalidade e desprezo. Pior do que isso, acabou por ser chamado ao serviço do rei Leopoldo II da Bélgica, para desbravar o Congo, tarefa que envolveu mão de obra escrava e o extermínio de tribos inteiras, e que viria a terminar com o rei belga a tornar-se dono de uma boa porção do país.
Terá sido esta diferença de caráter e obra feita que valeu a Livingstone a honra de ser sepultado em Westminster, ao passo que a Stanley lhe foi negado tal privilégio. Com isso em mente, quis prestar também a minha homenagem e sublinhar a vida e a morte de Livingstone na minha história. E, sim, é verdade que o seu corpo foi mumificado e enviado para Londres num cilindro de casca de ameixeira. Bem como o facto de que o seu coração continua em África, enterrado junto de uma dessas árvores.
Stanley e Twain
Sim, Henry Morton Stanley e Samuel Clemens (ou Mark Twain) eram realmente amigos. Para uma melhor compreensão da sua íntima relação, sugiro a leitura da versão romanceada dessa amizade: Twain and Stanley Enter Paradise, de Oscar Hijuelos. Quanto a terem tido as suas próprias aventuras do Egito, não creio que alguma vez tenha acontecido, mas não seria divertido se assim fosse?
Twain e Tesla
Para mim, esta amizade é a mais deliciosa de todas. Mark Twain e Nikola Tesla eram verdadeiros compinchas. Twain chegou a passar muito tempo no laboratório de Tesla, ajudando nas experiências, e, estou em crer, a ser um empecilho e uma dor de cabeça de toda a espécie. A anedota de Twain experimentar a «máquina de terramotos» de Tesla para ver se resolvia o seu problema de obstipação é verdadeira. Twain saltou para cima da gigantesca engenhoca oscilante do inventor, onde se deixou ficar uns minutos, para depois se desculpar e se retirar para se servir da casa de banho.
Dessa forma, tinha de escrever uma história em que estas duas figuras pudessem ter a sua própria aventura ao estilo Sigma. Mas falemos um pouco mais de Tesla.
Nikola Tesla foi o arquétipo do génio visionário, embora não se possa dizer o mesmo das suas opções ou capacidades empresariais. Eu podia escrever páginas e páginas acerca da sua vida, trabalho e legado. Felizmente, não preciso de fazê-lo, já que são vários os títulos que podem ser consultados por quem se sentir curioso em saber mais. Aqui ficam dois que considerei particularmente esclarecedores enquanto escrevia este livro: Nikola Tesla, Imagination and the Man That Invented the 20th Century, de Sean Patrick, e Tesla, Inventor of the Electrical Age, de W. Bernard Carlson.
Porém, quero alongar-me um pouco mais acerca dos aspetos específicos da sua vida e invenções que desempenham um papel neste romance. Tesla acreditava piamente na transmissão de energia sem fios. Ao ponto de tudo o que escrevi acerca do projeto original da Torre Wardenclyffe ser inteiramente factual; assim como as suas alegações posteriores de que teria descoberto uma fonte de energia nunca antes observada. Estas invenções e alegações preocuparam o governo dos Estados Unidos ao ponto de, após a morte de Tesla, o seu quarto no hotel New Yorker ter sido virado do avesso pelos serviços secretos e a maioria dos seus documentos de trabalho confiscados. Foram necessários anos de pressão da parte do sobrinho do inventor para que o governo acedesse em restituir o material. Porém, nem tudo foi devolvido. Um caderno que o sobrinho de Tesla fora especificamente instruído para guardar após a morte do tio continua desaparecido até aos nossos dias. E, sim, o Comité de Pesquisa e Defesa Nacional, que foi chamado a investigar os documentos de Tesla após a sua morte, era na altura dirigido por John G. Trump, o tio de um certo magnata do ramo imobiliário de Nova Iorque (ou o atual presidente dos Estados Unidos da América, uma vez que estou a escrever estas linhas antes das eleições de 2016).
Mas permitam-me que continue a dissecar os aspetos históricos do romance. Para isso, precisamos de recuar um pouco mais no tempo.
O LIVRO DO ÊXODO E AS PRAGAS BÍBLICAS
Este livro propõe uma linha temporal diferente para os acontecimentos relatados no Êxodo. Para uma exploração mais pormenorizada desta Nova Cronologia, recomendo os seguintes livros, ambos do mesmo autor: Exodus, Myth or History e The Lords of Avaris, de David Rohl.
Houve já várias tentativas de explicar cientificamente as dez pragas infligidas aos egípcios pela mão de Moisés, por isso, decidi juntar a minha voz a essa discussão. A maioria do que escrevi ao longo destas páginas é, naturalmente, conjetura e especulação. No entanto, baseia-se em ciência concreta. Por exemplo, a erupção do vulcão Tera, no Mediterrâneo, há três mil e quinhentos anos, é considerada a maior erupção vulcânica da história humana. As alterações na atmosfera e clima associadas a uma nuvem de cinzas dessa magnitude teriam sido significativas. Poderia dar origem a uma aurora equatorial? Em 2006, a erupção do vulcão Augustine, no Alasca, foi amplamente estudada por causa da imensa carga elétrica registada na sua nuvem de cinzas. Na verdade, há quem diga que foi tão poderosa que chegou a afetar a aurora boreal.
Avancemos, então, para a parte científica do romance.
BACTÉRIAS ELÉTRICAS E O DOMÍNIO DAS ARQUEAS
Este livro apresenta um microrganismo particularmente nefasto, porém, quase tudo o que escrevi sobre ele é real. Os cientistas descobriram toda uma nova frente destas bactérias comedoras de eletricidade, pura e simplesmente despejando corrente elétrica em lama e ficando à espera de ver quem lhes aparecia para jantar. Por todo o mundo, existem vários laboratórios que se encontram a explorar aplicações práticas destinadas a estes novos e estranhos micróbios, desde o desenvolvimento de biocabos capazes de transmitir eletricidade, a baterias para alimentar nanomáquinas com vista aos mais diferentes usos industriais, incluindo a limpeza do meio ambiente.
Quanto ao estranho micróbio arqueano descrito no romance, esses aspetos da história são todos verdadeiros. As arqueas são notoriamente diferentes das bactérias, e são também verdadeiros metamórficos, capazes de formarem longos filamentos, o que as tornaria perfeitas para reestruturarem ligações cerebrais. Além disso, este terceiro ramo da vida terrestre evoluiu pari passu com alguns vírus, por vezes incorporando-os no seu material genético. Como tal, criei para este romance uma doença singular, recorrendo a um patogénico arqueano que não fosse apenas mortífero, mas que transportasse também um vírus capaz de originar defeitos congénitos, à semelhança do zika. Quando descobri que muitas espécies arqueanas tornam as águas vermelhas (desde um lago no Irão, ao grande lago salgado no Utah), pensei que era um organismo perfeito para desencadear uma praga bíblica (ou mesmo dez).
Ainda no que toca a ciência, há outra parte da história que é verdadeira: as camadas exteriores da atmosfera terrestre albergam colónias de bactérias, que se alimentam e multiplicam-se lá em cima por sua própria conta.
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E O ESTADO ATUAL DO ÁRTICO
Tal como Twain escreve no romance, sou um homem de palavras, não de ciência. Sabendo disso, não pretendo debater os méritos do estudo do clima ou sublinhar o papel que o homem poderá estar a desempenhar no aquecimento do planeta. Ainda assim, é difícil fechar os olhos ao que está a acontecer no Ártico, com as calotas de gelo a diminuírem cada vez mais e a tornarem possível a exploração de recursos a norte. De repente, passámos a ter navios de cruzeiro na Passagem do Noroeste, uma rota até então considerada demasiado perigosa para ser navegada e conhecida pelas mortes de um sem-número de exploradores, incluindo as tripulações dos HMS Erebus e Terror. Para os que quiserem saber mais acerca dessas expedições fatídicas, recomendo vivamente a leitura do livro de um dos meus autores favoritos: O Terror, de Dan Simmons.
A maior parte dos cientistas que estudam o clima acredita que estamos a ficar sem tempo para fazer qualquer coisa acerca deste estado de coisas. Alguns investigadores olham para a engenharia geológica como uma possível solução. Estamos a falar de projetos em grande escala, como desenvolver um escudo solar para o planeta, inundar o vale da Morte, ou até cobrir a Gronelândia com um manto protetor. O único problema é que, para lá da exequibilidade ou dos problemas de financiamento inerentes a tais projetos, ninguém pode prever ao certo quais seriam as consequências indesejadas, uma vez que o número de variáveis é impossível de determinar quando falamos de soluções de engenharia com efeitos a uma escala global. Naturalmente, quis também explorar o que poderia acontecer num cenário destes.
Este livro também fala do projeto HAARP, no Alasca, bem como dos rumores e teorias da conspiração que se desenvolveram desde o seu arranque. Uma vez que a «minha» Estação Aurora é basicamente uma versão gigante deste projeto, decidi tornar esses rumores realidade e pegar fogo aos céus (que é uma das acusações que foram levantadas contra o projeto HAARP).
MUMIFICAÇÃO E MÚMIAS TATUADAS
Este livro abre com uma personagem que se submeteu a um ritual de automumificação. Por muito grotesco e doloroso que possa parecer, este processo é real. Os Sokushinbutsu, ou Budas de carne e osso, podem ser encontrados no Japão, onde os praticantes deste ritual levam o corpo ao limite, com vista a preservarem os tecidos após a morte. O processo envolve um largo período de jejum, onde apenas lhes é permitido a ingestão de casca de árvores específicas, algumas infusões e pedras. Findo isto, são sepultados vivos. Também podem ser observadas práticas semelhantes na China e na Índia.
Quanto às tatuagens, já foram descobertas doze múmias egípcias cujos corpos se encontravam decorados com esta arte. Recorrendo a softwares de imagem e scanners de infravermelhos capazes de ver através das camadas da pele, os arqueólogos têm conseguido reconstruir e estudar estas tatuagens.
ELEFANTES
Tudo o que os elefantes fazem neste romance poderá parecer ficção, porém, são comportamentos facilmente observáveis em jardins zoológicos por todo o mundo e na natureza. Tais comportamentos incluem pintar, imitar a voz humana, realizar cerimónias fúnebres, mimetismo, até automedicação. A história da tribo no Quénia que aprendeu a induzir o parto ao observarem elefantes a comerem um certo tipo de folhas é verdadeira. São vários os exemplos em que a observação da natureza e dos seus métodos de sobrevivência nos ajudaram a manter-nos vivos como espécie.
Naturalmente, todos estes comportamentos dos elefantes são atribuídos à enorme massa cerebral destes animais — cerca de cinco quilos de massa cinzenta. Além disso, os cérebros dos elefantes apresentam o mesmo número de neurónios e sinapses presentes nos cérebros humanos, e, tal como nós, são capazes de dar bom uso a todo esse poder mental. Conseguem usar ferramentas para resolver problemas e até demonstram comportamentos altruístas. São também conscientes de si mesmos e têm um conceito de arte.
Por tudo isto, aqui fica o meu apelo para todos os caçadores furtivos e desportivos: parem de matar estes animais.
ALGUMAS MIGALHAS ADICIONAIS
Tive oportunidade de visitar a Igreja de Saint Mary, em Ashwell. A maior parte dos pormenores que descrevo são exatos, mas isto passou-se há uma década, pelo que a minha memória poderá ter alterado um ou outro aspeto. De qualquer forma, o interior da igreja encontra-se de facto decorado com inscrições medievais, algumas bastante significativas, outras quase cómicas. Existem também nascentes nos terrenos arborizados por trás da igreja, bem como um lago que os visitantes podem atravessar de uma ponta à outra por um trilho de pedras ao nível da superfície das águas. Alterei um pouco a localização do cemitério a fim de servir a sequência de ação idealizada na minha cabeça, mas tudo o resto é tal qual escrevi.
Baseei a EMBARCAÇÃO DE NOAH num veículo anfíbio chamado Swamp Spryte. Pareceu-me tão divertido que tive de incluí-lo no livro.
O mesmo se aplica à PIEZER utilizada por Kowalski. Esta arma é baseada num conceito desenvolvido pelo Departamento de Segurança Interna, uma caçadeira capaz de disparar uma chuva de cristais piezoelétricos para atingir um alvo a mais de cinquenta metros, tudo isso sem as limitações dos fios dos Tasers convencionais. Escusado será dizer que a Força Sigma seria perfeita para testar uma arma dessas no terreno.
Por último, este livro também aborda ligeiramente a natureza elétrica da MEMÓRIA, desde o armazenamento de impressões a curto prazo no hipocampo, ao facto de que as lembranças a longo prazo são registadas e espalhadas ao longo de todo o nosso cérebro. Também foi já demonstrado que as nossas lembranças podem ser fortalecidas e tornadas mais vívidas mediante estimulação elétrica. Como tal, o que aconteceria se um desses micróbios comedores de eletricidade fossem patogénicos? De que modo poderiam afetar as nossas lembranças? Acho que prefiro escrever sobre isso do que viver uma experiência dessas.
Acho que cobri todos os aspetos básicos da história. Naturalmente, existem muitas outras migalhas que são verdadeiras, mas precisaria de pinças para as apanhar e de muitas mais páginas para as cobrir a todas. Por isso, sugiro que o leitor acredite em tudo o que leu até aqui.
Polvilhei o romance com algumas citações de Nikola Tesla, pelo que gostaria de terminar com mais uma, um testemunho à conectividade que une toda a humanidade: Apesar de livres para pensar e agir, continuamos a fazer parte de um todo, unidos por laços inquebráveis, à semelhança das estrelas no firmamento.
Ainda assim, chegou aquela altura em que tenho de me separar de todos vós — pelo menos, até os nossos heróis da Sigma se meterem em novos sarilhos, o que não deverá demorar muito, claro.
James Rollins
O melhor da literatura para todos os gostos e idades














