



Biblio VT




Domingo, Hemmingway, 23h56
Daisy Brien estava em toda parte e em parte alguma, possuída por uma criatura de fogo e trancafiada em um mundo de gelo.
Não sabia quanto tempo fazia desde que tinha sucumbido. O tempo parecia não existir ali, onde quer que ela estivesse. Poder-se-iam ter passado alguns poucos segundos ou um milhão de anos, não havia como saber. Estava suspensa em uma teia de vidas, em um número infinito delas. Pareciam cubos de gelo, e, através da superfície fosca de cada um deles, ela vislumbrava lugares e pessoas. Se fizesse um grande esforço, via nitidamente dentro do gelo e conseguia encontrar sentido naqueles mundos, mas esse esforço lhe provocava enjoo, como se estivesse no banco de trás de um carro que fizesse uma curva rápido demais.
Porém, a criatura estava com ela, e a criatura queria que Daisy olhasse. A garota a sentia dentro de sua cabeça: era algo feito de luz. A coisa não falava — Daisy achava que não era capaz de falar —, mas a guiava, mostrando-lhe o que importava, impedindo-a de ficar à deriva no infinito oceano de gelo.
Viu os acontecimentos dos últimos dias como se os estivesse revivendo — não apenas suas memórias, como também as memórias dos novos amigos: de Cal, Brick, Adam, Marcus, Jade e até de Rilke e Schiller. O início fora o mesmo para todos, ainda que não se conhecessem, ainda que estivessem separados por centenas de quilômetros. Era uma dor de cabeça que durara dias — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, como se alguém estivesse tentando quebrar seu crânio.
E, assim que a dor de cabeça passara, começara então a Fúria.
O mundo inteiro queria matá-los. Ela viu isso dentro dos cubos de gelo. Cal fugindo para salvar sua vida, com centenas de pessoas perseguindo-o na escola, com seus melhores amigos tentando estraçalhá-lo. E Brick, sentado com a namorada no porão de um parque temático abandonado, tão feliz quanto Brick era capaz de ficar, até que ela passara a tentar devorar sua garganta. Adam — pobre Adam, que não dissera uma palavra sequer desde que a Fúria tinha começado — estava no dentista. Jade, em um táxi. Marcus, em casa. Rilke e Schiller, os gêmeos, em uma festa, sendo quase pisoteados na lama no meio da noite.
E ela, que agora observava aquilo, não era mais a menina magrinha de doze anos que chorava no quarto dos pais, não mais. A mãe e o pai estavam mortos a seu lado, apoiados um contra o outro como bonecos em uma prateleira. A mãe envenenara a si mesma e, depois, o pai. Tinha feito isso para não machucar Daisy, para protegê-la. Porém, isso não fora suficiente para salvá-la das pessoas da ambulância que invadiram sua casa querendo matá-la. Mas ela conseguira — por pouco — escapar com vida. Como todos eles.
Não, nem todos. Quantos haviam morrido? Daisy não tinha certeza, mas sabia que existiam outros como ela, dezenas, talvez centenas. Tinham sido assassinados pelos próprios amigos, pelas próprias famílias. E então o mundo os esquecera, como se nunca tivessem existido.
Tal pensamento era horrível, e ela se afastou do gelo. No entanto, não conseguia escapar das visões, não ali, não naquele lugar. Observou Cal a resgatando, conduzindo-os de carro até o parque temático onde Brick os aguardava, atraídos para lá por uma espécie de instinto. Fursville. O parque, caindo aos pedaços, fedia a coisas úmidas e mortas. Mas se mostrara um abrigo. Um lar.
Até que ela chegara. Rilke. Aparecera uma manhã com Schiller, seu irmão. O menino estava congelado, trancafiado no gelo. Daisy se sentira intimidada por ela desde o primeiro momento. Percebera de cara que Rilke era perigosa. Mas não se dera conta do quanto até Rilke matar a namorada de Brick — que estava trancada no porão — e um furioso. Havia atirado neles a sangue-frio. Dizia que a Fúria estava acontecendo porque eles — ela, Schiller, Daisy, todos eles — não eram mais humanos. Estavam se transformando em outra coisa, dissera ela, em algo incrível. Parecia louca.
Mas ela tinha razão.
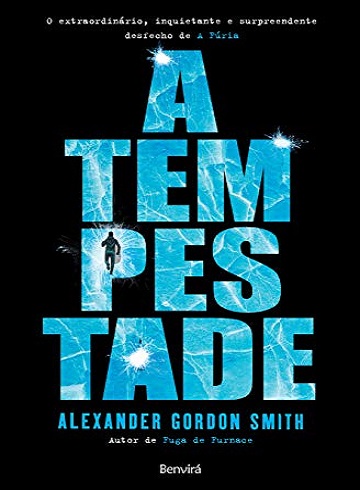
Schiller fora o primeiro a mudar. Daisy vira com os próprios olhos. Quando acordara de seu sono, ele já não era um menino, mas uma criatura feita de fogo, cujos olhos ardiam; era uma criatura alada. Um anjo. Mas não um anjo como os das histórias contadas por sua mãe; não era um querubim com harpa e auréola. Era, sim, um ser ancestral, poderosíssimo — tão poderoso que não podia viver ali, no tempo e no espaço deles, sem um hospedeiro. Era por isso que precisava do corpo de Schiller.
Cada um deles era habitado por um ancestral. Era isso que os tornava especiais, era isso que fazia o resto do mundo detestá-los tanto. Daisy sentia o dela: estava prestes a despertar, exatamente como o de Schiller. Cal, Brick, Adam, Rilke, todos tinham um anjo dentro de si. Cedo ou tarde, seus anjos nasceriam e eles também seriam seres de fogo, capazes de abrir uma fenda na realidade com um simples pensamento.
Daisy estremeceu, embora não sentisse frio. Onde quer que estivesse, não lhe passava mais pela cabeça que tinha um corpo. Ela levara um tiro de um policial. Ela e os outros tinham saído à procura de comida, mas foram atacados por furiosos — por centenas deles. Era culpa de Rilke, que havia chamado a polícia. Rilke queria que eles fossem atacados; ela dissera que esse era o único jeito de enxergarem a verdade sobre sua transformação.
Que cabia a eles banir a humanidade da face da terra.
E ela lhes mostrara como fazer isso. Daisy não precisava olhar no gelo; cada detalhe daquilo estava gravado em sua mente. Schiller, mergulhado em fogo, flutuando acima do chão, os olhos como dois bolsões de luz. Com um estalar de dedos, ele transformara a multidão de furiosos — centenas deles — em cinzas e depois espalhara ao vento seus restos. E proferira — não ele, mas seu anjo — uma palavra que não pertencia àquele lugar, que cindira o mundo, desfizera a realidade. Sua voz limpara a terra até onde a vista alcançava. Sacudira o tempo e o espaço, deixando o universo trêmulo.
Rilke tomara isso como prova de que estava certa. Mas ela não estava. Daisy sabia. Os anjos eram fortes, mas não maus. Não eram nada. Ela não sentia nenhuma emoção vinda da coisa escondida em sua alma. Eles só faziam o que lhes era mandado fazer. Estavam mais para máquinas que eram manuseadas para consertar as coisas.
Porque havia outra coisa errada, tão errada que ela não a suportou nem mesmo em pensamento. Via agora, com o canto do olho, um iceberg que estalava e rugia em sua direção, com algo dentro que a fez ter vontade de gritar.
O homem na tempestade.
Ele havia chegado no mesmo momento que os anjos, só que nascera de um cadáver. Estava suspenso em um furacão e sugava o mundo pelo buraco negro que era sua boca, devorando tudo. Daisy não sabia exatamente onde ele estava, mas sabia que milhares já haviam morrido, tragados pelo vórtice colérico; vidas inteiras transformadas em nada. Ele era o motivo de estarem ali. Daisy sabia. Precisavam detê-lo antes que ele engolisse todos.
É isso?, perguntou à criatura. Por favor, me diga.
Se a criatura respondeu, Daisy não entendeu. Sentiu-se muito só e buscou conforto em outra visão, que acontecia naquele instante — três garotos dormindo dentro de um carro amassado. Aproximou-se mais do gelo e viu Cal, Brick e Adam, todos tendo o mesmo sonho. Ela também estava ali, ao menos seu corpo, deitado no porta-malas, em um casulo de gelo. Como seria, ela se perguntava, quando o anjo irrompesse de seu peito? Doeria? Ela saberia o que fazer?
Tudo o que sabia era que logo o anjo iria acordar e ela também seria uma coisa de fogo e de fúria.
O homem na tempestade estaria esperando por ela.
Roly
Segunda-feira, Hemsby, 0h22
Roly Highland, bêbado, cambaleava pela praia. A noite de rum barato fazia o mundo rodopiar. Em determinado momento, deu um passo em falso e se estatelou de cara no chão. Achou aquilo insanamente engraçado, morrendo de rir na areia fria e macia. Depois do que lhe pareceu meses, ele se levantou e percebeu que deixara a garrafa cair em algum lugar. A escuridão era quase absoluta; havia apenas uma tênue insinuação de luar atravessando as nuvens. O mar estava bem à frente dele, escuro e plano como um piso de ardósia. Ouviu-o sussurrando, chamando-o. Não gostava do mar, não desde que quase se afogara, aos onze anos.
— Mas hoje ele não pode me fazer mal! — falou enrolado enquanto se esforçava para se manter em pé. — Porque eu estou bêbado!
Desistiu de procurar o rum — só restavam uns golinhos de nada mesmo! — e andou para a esquerda. Seus melhores amigos, Lee e Connor, estavam ali em algum lugar, e também Hayley, a nova namorada de Connor. Howie, o irmão de treze anos de Roly, também estava por perto, embora tivesse saído mais ou menos uma hora atrás, dizendo que não estava se sentindo muito bem. Era o rum; o rum tinha esse efeito. A cabeça de Roly não tinha parado de latejar a noite toda.
— Ei! — gritou para a escuridão.
Alguma coisa disparou para o céu ali perto — o farfalhar de asas soando como palmas. O silêncio que aquilo deixou, rompido apenas pelo perpétuo murmúrio das ondas, dava calafrios.
— Uôôô! — disse Roly, quase caindo de cara na areia outra vez, agitando-se feito um siri com as mãos no ar até se reequilibrar.
Os outros provavelmente estavam se escondendo, planejando pular em cima dele ou algo do tipo. Mas ele não lhes daria a satisfação de verem-no encolhido de medo.
— Porque sou invencível! — gritou, e suas palavras foram engolidas pelo ruído do mar.
Deu outra risadinha, pensando em como ficariam impressionados ao constatarem que não o haviam assustado. Connor era dois anos mais velho, já tinha dezessete, e havia momentos em que Roly se sentia um completo bebê perto dele. Era por isso que tinha bebido tanto naquela noite — havia tomado exatamente a mesma quantidade de rum que o amigo e ainda estava de pé. Connor ia ficar impressionado, e Hayley também. Ela era bonitinha e, quem sabe, se a impressionasse o suficiente aquela noite, ela largaria Connor e sairia com ele.
Mas, para isso, ele precisava encontrá-los. Onde é que tinham se enfiado?
— Ei! — gritou, lançando alguns palavrões contra a escuridão da noite.
A praia permanecera deserta a noite inteira, algo esquisito, considerando que era um domingo em pleno verão. Provavelmente tinha a ver com o que acontecera mais cedo no litoral. Parecia ter sido uma explosão no lado norte, perto do velho parque temático de Fursville. Roly não tinha visto nada, mas sentira os tremores por volta das sete.
— Minas — comentara Connor despreocupadamente. Estavam sentados no apartamento do garoto mais velho, e a explosão fora tão forte que as janelas chegaram a chacoalhar.
— Hã? — dissera Lee.
— Minas marítimas antigas, da época da guerra, ou algo assim. Encontram coisas desse tipo o tempo todo. Acho que uma delas explodiu.
Todos concordaram com um gesto de cabeça, e o assunto fora encerrado. Connor ia para o exército em breve. Ele entendia dessas coisas de explosivos.
Deus do céu, isso tudo parecia ter acontecido anos atrás. Roly cambaleou para a frente, engolindo uma lufada de ar salgado e tentando se lembrar do que mais havia acontecido naquela noite. Uma parte dos acontecimentos já estava desbotada, como se fosse sangue do diabo, aquela tinta que desaparece.
— Vão se ferrar! — gritou ele, já de saco cheio daquela brincadeira sem graça. — Vou para casa!
Parou e começou a dar voltas para ver se descobria o caminho para a cidade. O mar estava à direita, vasto, negro e ameaçador, por isso dirigiu as teimosas pernas para a esquerda, para as dunas. Uma brisa suave parecia chutar os grãos de areia, levando-os bem para sua boca, onde se alojavam entre seus dentes. Roly murmurava palavrões enquanto enfrentava o chão que se desfazia sob seus pés, agarrando filetes grossos de vegetação para conseguir sair da praia. Depois de passar pelo topo da duna, o trajeto ficou mais fácil, e o garoto percorreu o caminho do outro lado meio correndo, meio tropeçando, enquanto se perguntava se havia algum jeito de beber mais um pouco.
A primeira fileira dos feiosos bangalôs de madeira de Hemsby surgiu assim que Roly ouviu vozes à frente. Eram vozes mesmo? Pareciam mais rosnados e gemidos. Cachorros, talvez. Apoiou-se em um dos joelhos, escorando-se no chão para não cair. Era imaginação dele ou de repente o ar tinha ficado mais frio? Estremeceu, virando a cabeça para o lado e esperando para ver se os ruídos voltavam.
Voltaram: um guincho distante e fungado, que combinava com o abatedouro ali da estrada. Havia também passos, secos, rápidos, vindo na direção dele. Provavelmente, eram Connor e Lee mijando. Deviam estar tentando assustá-lo — e estava funcionando. A pulsação de Roly se acelerou, o doce torpor do rum começando a se dissipar.
Seja homem, Roly!, disse a si mesmo. Não podia mostrar que estava assustado, não na frente dos outros. Nunca o deixariam esquecer daquilo. Levantou-se sem firmeza, indo devagar para o asfalto, que parecia brotar organicamente da praia. Contornou um bangalô conforme os ruídos ficavam mais altos, perguntando-se quanto tempo faltaria até que as luzes das casas fossem acesas e os moradores começassem a berrar com eles, como acontecia quase todo fim de semana.
A estrada fazia uma curva à direita, ficando mais larga no calçadão à frente. Havia postes que formavam poças de luz amarelo-vômito que pareciam deixar ainda mais escuras as partes da rua sem iluminação. Outro grito soou perto dos dois fliperamas fechados, uns cinquenta metros mais para frente, e os passos secos se aproximando. Então alguém berrou, um som tão carregado de sofrimento e terror que Roly só reconheceu quem era depois que a figura derrapou pela estrada, escorregando no asfalto cheio de areia e se estatelando contra um amontoado de entulho.
— Howie? — perguntou Roly, olhando o irmão menor, que tentava recuperar o equilíbrio.
Que droga ele estava tentando fazer? Howie ergueu a cabeça. Ainda estava um pouco longe, mas Roly notou algo de errado com seu rosto. A boca estava escancarada, larga demais, e os olhos, esbugalhados, tinham um brilho insano. Roly deu um passo à frente, com a adrenalina diluindo o último resquício de álcool dele, deixando-o mais sóbrio do que nunca.
— Howie? O que foi?
Havia mais passos, percebeu Roly, vindos da mesma direção. O irmão conseguiu ficar em pé e começou a correr na direção dele, com os braços se agitando no ar, bem na hora em que Connor disparou dentre os fliperamas. O garoto mais velho não parou sequer para recuperar o fôlego, virando na curva e também vindo na direção de Roly. Hayley veio atrás, depois Lee, e, em seguida, um sujeito que Roly nunca tinha visto na vida — todos partindo na sua direção a toda velocidade. Algo bem ruim devia ter acontecido, porque todos pareciam estar cheios de raiva.
Raiva não, pensou Roly. Fúria.
O irmão já estava na metade do caminho, sua boca espumando. Connor se aproximava rapidamente de Howie, soltando os mesmos guinchos guturais. A vontade de se virar e fugir foi tão forte que Roly quase fez isso, mas não podia largar o irmão.
— Howie, o que foi? — gritou.
Howie não respondeu, só continuou correndo, pisoteando a rua com seu tênis Nike herdado de Roly no Natal passado. Todos corriam, uma maré de gente surgindo pelo calçadão, com o olhar cheio da mais absoluta fúria, e de nada mais.
— Howie? — chamou Roly outra vez, a voz falhando. — Howie!
Howie pareceu vê-lo pela primeira vez, e sua expressão se inundou de alívio.
— Roly! — gritou ele. — Socorro!
Assim que as palavras saíram da boca de Howie, Connor o alcançou, puxando-o pela camiseta. Caíram um em cima do outro, braços e pernas se emaranhando.
Roly correu até eles, sem acreditar que estava vendo Connor esmurrar o rosto de Howie. Mesmo a vinte e cinco metros, ouviu o baque surdo. Howie gritou, as mãos estapeando o agressor, os olhos vidrados em Roly, berrando socorro, socorro, socorro em sua mudez.
— Ei! — gritou Roly, ainda correndo, agora a uns vinte metros. — Sai de cima de...
Seu mundo virou do avesso; uma explosão branda e sombria surgiu dentro de sua cabeça, obliterando qualquer pensamento.
Menos um.
Matar, matar, matar, matar, matar.
O garoto no chão não era seu irmão. Não era sequer humano. A repulsa fervilhava nas entranhas de Roly, intensificando-se em uma fúria incandescente que o movia pela rua. O tempo ficou mais lento, tudo perfeitamente tranquilo em comparação ao fogo que irradiava do centro de sua mente. Só uma coisa era importante. Havia apenas uma coisa no mundo inteiro que precisava fazer...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... porque aquela coisa era poderosa, era seu inimigo, era algo que não deveria existir, que não podia existir...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... algo dentro daquele saco de carne tinha de ser aniquilado.
Matar, matar, matar, matar, matar.
Queria que aquilo sumisse, morresse, morresse; sentia que não conseguiria respirar até que matasse aquilo. Era como se se afogasse, os pulmões queimando, e o único jeito de poder voltar à superfície era
Matar, matar, matar, matar, matar.
Socou, arranhou, apertou, estrangulou, bateu, e sonhou com o fôlego que recuperaria quando aquilo morresse, e então surrou, surrou e surrou ainda mais.
Matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar.
Howie já não sentia mais os golpes. Já não sentia mais nada. Era como se estivesse afundando em uma cova escura, anestesiante, fria e tranquila. Seus pensamentos estavam devastados, estilhaçados, mas, naqueles estilhaços, via o que tinha acontecido: a dor de cabeça que sentira por dias de repente sumiu, e então se voltaram contra ele do nada — Lee, Hayley e aquele idiota do Connor —, indo para cima dele na frente da loja de ferramentas, uivando feito bichos. Não tinha muita certeza de como escapara da primeira investida; só havia abaixado a cabeça e corrido. Ele era bom de corrida, sempre fora, mas Connor tinha sido mais rápido.
E Roly, seu irmão! Como ele poderia ter feito isso? Howie sentiu sua cabeça deslocar-se para o lado e, por um instante, saiu da cova e voltou para a rua. Não tinha certeza se seus olhos estavam abertos ou se ele apenas imaginava aquilo, mas agora via Roly ajoelhado a seu lado com as falanges dos dedos vermelhas. É meu sangue nas mãos dele, compreendeu Howie. Ele está tirando o meu sangue.
Tentou chamar pelo irmão, mas voltou para os sete palmos debaixo da terra, ou ao menos era o que parecia, com vermes rígidos como dedos sulcando sua pele. Não quero morrer, Roly, pensou na esperança de que as palavras chegassem ao irmão, embora não houvessem saído de sua boca. Só tinha treze anos, ainda não tinha beijado nenhuma menina nem testado o quadriciclo do pai de Lee, como tinham lhe prometido. Ainda não chegou a minha hora! Parem, parem!
Ao menos sentia-se anestesiado ali. Estava escuro demais, como se alguém houvesse despejado pás de terra em cima dele. A ideia era assustadora, e o choque de adrenalina que se seguiu levou-o de volta à rua por um momento — a rua com seus tons de amarelo, cinza e vermelho. Punhos e pés subiam e desciam como pistões, como se Howie estivesse preso debaixo de um motor, e em algum lugar da mente estilhaçada mexesse em alavancas tentando se afastar dali.
Ele ergueu uma das mãos, perguntando-se por que sua pele cintilava como se vestisse uma roupa de gelo. Roly o lançou para o lado com um tapa, preparando-se para desferir o próximo golpe.
Que nunca veio. O braço do irmão se desintegrou, tornando-se uma nuvem de cinzas que pairou no ar por um instante antes de se espiralar lentamente pela rua. Roly nem se deu conta do que ocorrera e atacou com o outro punho. Os dedos da mão esquerda se separaram do corpo, deixando rastros de vermelho e branco no ar, como bandeirolas. Em seguida, o restante de seu corpo se desfez, dissolvendo-se como uma escultura de sal arremessada em um furacão.
Howie não podia mover a cabeça, mas, com o canto do olho, viu Connor fundir-se com a noite. A brisa suave fez as cinzas do menino dançarem em uma ciranda. Mais dois estalos baixinhos, e o ar tornou-se uma cintilante bruma de pó.
— Ele está vivo? — As palavras pareciam vir de uma distância de um milhão de quilômetros.
Alguém se agachou ao lado dele, uma menina, sacudindo o pó de ossos da saia. Baixou a mão até sua cabeça e a manteve ali por alguns segundos. Howie tentou dar uma cabeçada nela, mas ela afastou os dedos e os envolveu na outra mão.
— Está congelando — disse ela. — Ele é um de nós.
Obrigado, Howie quis dizer. As palavras foram esquecidas, porém, quando um menino apareceu ao lado dela. No lugar onde deveriam estar os olhos dele, apareceram bolsões de fogo, e de suas costas estenderam-se duas asas imensas e perfeitas, genuínas e brilhantes como o próprio sol. Um anjo, pensou Howie, e se perguntou se tinha morrido.
Então o menino piscou, e o olhar de fogo se apagou.
— Não, você não está morto — disse o menino-anjo. — Está tudo bem. Vamos cuidar de você.
— Levante-o — disse a menina.
Howie sentiu mãos embaixo dele, erguendo-o, e não houve dor.
— Meu nome é Rilke. Este é o Schiller. Agora você vai para um lugar longe daqui, mas não vai demorar tanto. Quando acordar de novo, bem... — Ela sorriu, mas Howie não compreendeu bem a mensagem daquele sorriso. — Você também vai ter fogo dentro de você, como nós temos. Não se assuste, você foi escolhido.
Não estava assustado, ainda que sua visão estivesse escurecendo e parecesse haver algodão em suas orelhas. Desta vez, não tinha a impressão de estar afundando em uma cova; parecia mais estar deitado na cama, adormecendo aos poucos, aquecido, confortável, em segurança.
A menina chamada Rilke colocou a mão no rosto do menino-anjo, oferecendo-lhe o mesmo sorriso.
— Está ficando bom nisso, irmãozinho — disse ela.
— Obrigado — respondeu ele.
— Vamos — prosseguiu ela. — Queime tudo; não deixe nada além de areia.
E essa foi a última coisa que Howie ouviu antes de mergulhar no sono, já sonhando com o fogo que pertenceria a ele quando acordasse.
O Outro: I
Mas, quando acabarem seu testemunho, a Besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará.
Apocalipse 11, 7
Graham
Segunda-feira, Londres, 5h45
O som do telefone invadiu seu sonho, e por um instante ele se viu em meio a um oceano de badaladas. Em seguida, despertou. Acendeu a luminária e tateou em busca do celular, ao lado da cama. O aparelho já estava a meio caminho da orelha quando percebeu que não era ele a fazer aquele barulho, e essa percepção dissipou o último vestígio de sono.
Era o outro celular. O celular só para coisas ruins.
Praguejando, rolou da cama e ignorou os protestos murmurados pelo namorado. O toque, um ruído estridente e incansável, atravessava sua cabeça. Coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, cantarolava sua mente enquanto ele revirava a calça pendurada na porta do armário. Tirou dela o celular; as vibrações o faziam parecer algo vivo que tentava rastejar rumo à liberdade. Quase o deixou cair — seria melhor que se quebrasse antes de descobrir o motivo da ligação. Apesar disso, abriu-o e levou-o ao ouvido.
— Hayling falando — disse, embora aquela apresentação fosse inútil.
A pessoa do outro lado da linha sabia que ele era Graham Hayling, comandante da Divisão de Contraterrorismo do exército; do contrário, não teria discado aquele número. A linha era para emergências — não as velhas emergências que envolviam serial killers, incêndios, colisões de trem ou assaltos a banco, mas as de alerta máximo, cruciais, apocalípticas. Coisas ruins.
— Senhor... — A voz pertencia a Erika Pierce, sua subcomandante, mas soava meio oca, artificial.
Não fale, rezou ele. Por favor, não fale aquilo. Mas ela falou:
— Aconteceu algo.
— Um ataque? — Ele usou o ombro para manter o telefone grudado na orelha enquanto vestia a calça com pressa.
Erika suspirou; ele a imaginou mastigando o lábio inferior. Na pausa que se seguiu, ouviu o eco de sirenes na linha.
— Acho que sim — enfim disse ela. — Alguma coisa...
Terrível, pensou ele, já que ela não concluíra. Porém, pior do que o 7 de julho não podia ser. Ou podia? Aquela tinha sido a última vez que havia precisado pegar aquele telefone, só que na ocasião estava em Maiorca e fora levado para Londres em um VC10. Olhou para a cama, onde David, apoiado em um dos ombros, piscava, sonolento.
— Onde? — Graham perguntou a Erika.
— Londres — respondeu ela. — Em algum lugar da estrada M1. Ainda não sabemos com certeza.
Não sabemos com certeza significava que não podiam se aproximar, e isso deixou Graham tão assustado que desabou na beirada do colchão. Não sabemos com certeza significava bombas sujas, ou algo pior: significava contaminação.
— Mandamos duas equipes — continuou ela. — Nenhuma delas voltou. Tem alguma coisa... Alguma coisa errada.
— Já estou chegando, Erika — disse ele. — Não fique assustada.
Essa era sem dúvida a coisa mais idiota que poderia ter dito a Erika Pierce, que tinha sido a primeira da turma na academia em praticamente tudo; que tinha descoberto sozinha um plano para levar explosivos líquidos a um cargueiro da Marinha; e que uma vez dera um soco tão forte em um suspeito que quebrara o maxilar dele. Porém, a voz ao telefone não parecia a da sua parceira, e sim a de uma criança perdida e assustada.
— Não — respondeu ela. — Não venha. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe.
— O quê? Erika, do que você está falando? Olha, estou saindo de casa agora, espere aí.
— Não estarei aqui. — O sussurro parecia o de um fantasma. — Desculpe, Graham.
Ele a chamou outra vez antes de perceber que ela havia desligado. Que droga está acontecendo? Olhou para o telefone como se, de algum modo, o aparelho pudesse lhe dar maiores explicações; depois, guardou-o no bolso e apertou o cinto.
— O que foi? — perguntou David, esfregando os olhos.
— Nada — mentiu ele, vestindo a camisa do dia anterior e colocando um paletó por cima. Não se deu ao trabalho de procurar por meias; só colocou os sapatos: o couro frio e desagradável contra a pele. — Preciso ir. Telefono quando souber de algo.
Tinha dado três passos para a porta do quarto, quando algo o deteve, um nó no estômago. Parecia que uma corda se enroscara em suas entranhas, pressionando-as. Medo, pensou. Sim, mas também havia algo diferente, algo mais. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe, dissera Erika. Não venha. Graham voltou-se para David e desejou pegá-lo pela mão e sair correndo, sem parar para olhar para trás. Em vez disso, saiu do quarto e desceu o degrau que levava à porta da frente do apartamento.
Do lado de fora, a aurora tinha fracassado. Pelo lábio do mundo, por onde a luz do sol devia estar passando, havia apenas uma neblina opaca. Ela pairava no ar, putrefata, da cor da pele de um morto. A sensação no estômago de Graham se acentuou, a pulsação se acelerando, e aquele mesmo cantarolar nervoso — coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins — se debateu dentro de sua cabeça como um pássaro cativo. Havia gente demais ali, percebeu ele. Àquela hora, deveria haver um monte de motoristas fazendo entregas, feirantes, e algumas poucas pessoas embriagadas saindo de boates. Porém, a rua estava abarrotada, e buzinas tocavam em um engarrafamento que ia até a loja da esquina, onde uma van branca ocupava as duas faixas, com o motor fumegando. Ficou impressionado pelo fato de o barulho não tê-lo despertado antes. Uma multidão seguia pelo asfalto, acotovelando-se em meio ao tráfego imóvel, dirigindo-se à estação de metrô Gospel Oak. Todos seguiam rumo ao leste, e, quando Graham virou a cabeça para ver de onde vinham, entendeu por quê.
Acima dos telhados e das árvores de Hampsted Heath, o céu tinha se fendido.
A fumaça espiralava para cima, um vórtice tão espesso e escuro que parecia de granito. Assemelhava-se a um tornado, exceto pelo fato de ter mais de três quilômetros de largura, talvez mais. Girava lenta, quase graciosamente, formando um aglomerado de nuvens cor de chumbo. Explosões detonavam dentro desse espaço, embora sem nenhuma luminosidade — eram lampejos negros que deixavam vestígios na visão de Graham, manchas pretas, quando piscava. Toda vez que havia um lampejo, o ar se fendia em dois, revelando o que estava dentro do vórtice. Ou, melhor: o que não estava dentro dele.
Nada, pensou Graham, com a sensação de que estava no limiar de uma vasta e horrível loucura. Não há nada ali. Aquilo não era apenas um espaço oco; estava totalmente, totalmente vazio. Distinguia dali porções de céu que não eram nem escuras nem negras — simplesmente não eram nada. Parecia que um espelho tinha se quebrado, e os estilhaços espalhados revelavam a verdade por trás dele.
Outro jato destituído de luz cortou o vórtice, tornando distinta uma silhueta em meio à fumaça. Havia uma pessoa ali? Era grande demais, alto demais. Mas estava ali, uma figura no centro do redemoinho, um homem na tempestade. Graham, apesar de estar a quilômetros, sentiu que o homem olhava direto para ele com seu olhar de fogo às avessas. Olhar que o queimava, e a escuridão se expandindo em sua visão até cegá-lo. Não importa, ele se ouviu pensando. Melhor não ver, melhor só...
Algo esbarrou nele, fazendo-o cambalear de volta para a porta do prédio. Uma mulher balbuciou um pedido de desculpas, arrastando uma criança aos berros pela rua atrás de si. Graham recuperou o fôlego, livrando-se um pouco da escuridão em seus olhos. Quase olhou para cima de novo, mas deteve-se por um momento, erguendo a mão para se proteger dos céus. O que quer que estivesse no alto, era uma coisa ruim, uma coisa muito ruim. E o trabalho dele era garantir que coisas ruins não acontecessem. Afastou-se, pegou o celular e discou o primeiro número da agenda. Bastou um toque para que alguém atendesse, e Graham nem deixou que esse alguém falasse:
— Ponha o general Stevens na linha — disse ele. — Estamos sob ataque.
Amanhecer
E onde um incêndio furioso encontra outro,
Ambos devoram o que nutre sua fúria.
William Shakespeare, A megera domada
Cal
Hemmingway, 6h01
Pedaços do mundo partido ainda caíam quando Cal abriu os olhos.
Os fragmentos deslizavam pelo para-brisa do Freelander, formando uma camada translúcida que parecia neve, mas que ele sabia ser de pedra, metal e carne pulverizada. Sentou-se, as costas dormentes após uma noite no banco do passageiro, os pés parecendo repletos de agulhas. O carro inteiro vestia um paletó de sujeira, exceto a janela lateral do motorista. Do outro lado dela, a terra ficara da cor de osso, coberta com aquela mesma poeira fina. Era como se tudo sobre a terra tivesse sido apagado.
Tudo, menos nós, pensou ele.
Devia ser de manhã, porque uma luz amarelo-pergaminho infiltrava-se no carro. E havia pássaros também, percebeu Cal, que cantavam tão alto e com tanto vigor que ele se perguntou se não tinha sido isso o que o despertara. Tinham memória curta, os pássaros; já haviam esquecido o que acontecera. Não era o caso dele. Ele tinha passado a noite sonhando com aquilo repetidamente — a polícia, a Fúria, e Schiller, o menino no fogo.
O anjo.
Cal balançou a cabeça, girando ligeiramente o pescoço dolorido e vendo Adam deitado no banco de trás. O garotinho estava morrendo de frio, tremendo enquanto dormia. Não era de surpreender. Daisy estava no porta-malas do Freelander, afogada em casacos, cobertores, basicamente em tudo o que haviam conseguido achar, mas continuava fria como gelo. Literalmente fria como gelo. A baixa temperatura que emanava dela havia embaçado a janela de trás e transformado em cristal os bancos de couro. A coitadinha levara um tiro, uma bala no ombro de um dos poucos policiais que não tinham ficado furiosos. E agora...
Estava se transformando. Cal sabia. Schiller tinha passado pela mesma coisa, preso no gelo antes de ser apanhado pelo fogo. Daisy estava em uma espécie de casulo, e, quando acordasse, ficaria exatamente como Schiller. Cedo ou tarde, todos ficariam.
Não, disse a si mesmo. Como ele, não; não seremos todos assassinos.
As lembranças fizeram-no transpirar apesar do frio que sentia. Abriu a porta, libertando uma avalanche de poeira que invadiu seus olhos, nariz e boca. Saiu do carro com dificuldade, cuspindo, e precisou ignorar os protestos dos músculos enrijecidos das costas. Ao menos seu dedo estava melhor — rígido, mas sem doer. O nariz, também. Não achava que tivesse quebrado nada.
O inverno tinha chegado de um dia para o outro, e o mundo estava coberto pelo mesmo lençol de neve cinza. Nuvens negras feriam o céu frio e azul — não nuvens de chuva, de temporal, apenas terra, carros, árvores e pessoas reduzidas a átomos, mais leves do que o ar. Nacos desciam dançando ao chão, sendo chutados depois pela brisa que vinha sussurrando do mar.
— Precisamos sair daqui. — A voz não parecia pertencer àquele lugar, e provocou um sobressalto em Cal.
Ele se virou, olhando por cima do capô do Freelander e vendo Brick. O cabelo ruivo do garoto mais velho era a coisa mais chamativa à vista, reluzindo como cobre. Um rastro de pegadas espiralava em torno dele, serpenteando em volta dos banheiros e indo até as dunas. Um dia, aquilo fora um estacionamento, lembrou-se Cal, o lugar onde ele e Daisy tinham conhecido Brick. Há quanto tempo tinha sido aquilo? Três dias? Parecia uma eternidade. O universo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo e sacudido como um globo de neve.
— Agora! — disse Brick, com seu tom direto e enfurecido como sempre. — Já estamos aqui há tempo demais.
— Bom dia pra você também, cara — respondeu Cal, passando os dedos pelo capô e formando sulcos no pó.
Bem de perto, distinguiu as diferentes cores — marrom, prata e vermelho, muito vermelho. Sangue, músculo, cérebro, tudo reduzido a pó pela força que tinha flamejado do novo corpo de Schiller. Não que fosse algo possível, mas ali estava, em volta dele, a vida transformada em cinzas num piscar de olhos incandescentes.
Só que não tinha sido Schiller, tinha? Era ele que tinha se transformado, mas fora a irmã que o forçara a matar aquela gente toda.
— Rilke — Cal praticamente cuspiu ao dizer, lembrando-se de algumas das últimas palavras que a ouvira dizer: Mas ele explicou para você por que estamos aqui, não explicou? Para fazer a guerra contra a humanidade. Os olhos de Schiller ardiam, sim, mas a insanidade no olhar de Rilke assustara Cal muito mais.
— O que tem ela? — perguntou Brick. — Rilke já se foi há muito tempo, não foi?
Cal fez que sim com a cabeça. Não sabia explicar como sabia disso, mas Rilke estava a quilômetros de Hemmingway. Ele quase era capaz de vê-la andando com Schiller, Marcus e Jade, deixando atrás de si um rastro de morte. Ou talvez fosse só sua imaginação. Queria que Daisy acordasse. Ela com certeza saberia para onde Rilke tinha ido. Daisy sabia das coisas, mesmo quando ninguém lhe dizia nada. Porém, Daisy estava congelada, e, quando acordasse, seria um ser totalmente diferente.
— Precisamos conversar — disse Cal, arrastando os tênis no chão. — Sobre o que aconteceu. Precisamos pensar num plano.
Brick mais fungou que riu, uma risada sem o menor humor, passando a mão pelo cabelo e ornamentando a si mesmo com um pálido halo de poeira. Não tinham conversado muito na noite anterior; estavam exaustos demais. Haviam achado o carro, entrado e caído no sono.
— Não precisamos conversar — disse ele. — Só precisamos sair daqui. Já estamos aqui há tempo demais; só Deus sabe como dormimos no meio dessa confusão.
Era algo esquisito mesmo. Tinham dormido quase doze horas direto. Era um dos efeitos de estar em choque, imaginou Cal. Você era nocauteado para o seu corpo poder se recuperar.
— Mas Rilke e Schiller estão matando gente por aí — disse Cal. — Precisamos contar isso a alguém, à polícia.
— Dã... Eles mataram uns cem policiais na noite passada — disse Brick. — Acho que a polícia já está sabendo. Não há nada que a gente possa fazer. Você viu o que ele fez...
Brick pareceu engasgar com as palavras, e Cal soube o que ele via: pessoas amontoadas por braços invisíveis, esmagadas umas contra as outras até que não sobrasse nada além de uma bola giratória de carne comprimida; um helicóptero caindo de repente, com os pilotos dentro; uma explosão que obliterou tudo de um horizonte a outro. E Schiller suspenso no ar, perdido dentro de um inferno, comandando tudo.
— Como é que a gente pode deter isso? — perguntou Brick, ao recuperar-se. — Nem consigo acreditar que Rilke deixou a gente ir embora.
Porque, o que quer que Schiller fosse, eles também eram. Você vai ver, Cal, dissera Rilke. Pode levar um dia, pode levar uma semana, mas você vai ver. E ele ia mesmo. Sabia que um dia também ficaria gelado, e então algo terrível irromperia de sua alma. Estremeceu, e percebeu que Brick ainda falava:
— A gente aparece agora, se mete no caminho dela, e é claro que ela vai colocar Schiller contra nós. Uma palavra dela, e nós... — Ele pegou um punhado de pó do capô do carro e deixou escorrer por entre os dedos. Depois, com nojo, esfregou a palma da mão no jeans imundo, lançando um olhar zangado para Cal, como se aquilo tudo fosse culpa dele. — Não passei por tudo isso só para ser morto pelo cãozinho de estimação dela. Precisamos sair daqui, e, para onde quer que ela tenha ido, seguiremos na direção oposta.
— Mas e a Daisy? — perguntou Cal. — Ela precisa de ajuda.
Brick olhou para a traseira do Freelander.
— Ela vai ficar igual ao Schiller, não vai? — falou ele. Cal não respondeu. Mas ambos sabiam a resposta. — Tem uma dessas coisas dentro dela.
— Um anjo.
Brick deu uma fungada.
— Isso foi o que Rilke disse que eles eram. Mas ela não sabe de nada. Está falando bobagem.
Porém, Daisy tinha dito a mesma coisa, pensou Cal, e ela sabia a verdade. E sabia de outras coisas também.
— Mas e se a Daisy estiver certa? — disse Cal. — E se houver algum motivo para estarmos aqui... para combater o que quer que ela tenha visto? — O homem na tempestade, era como ela o havia chamado.
— Claro, Cal. O mundo está em perigo e somos eu, você e um bando de moleques que estamos destinados a salvá-lo! Estou exausto. Só quero que isso tudo acabe.
Cal fez que sim com a cabeça, erguendo os olhos para as árvores. A maior parte das folhas tinha sido arrancada pelas explosões, e os pássaros, empoleirados nos galhos feito pinhas, não tinham onde se esconder. Ainda cantavam, contudo. Havia em algum lugar uma mensagem naquilo, pensou ele. Inclinou-se contra o Freelander, o metal congelado. Era o carro da mãe; ele o tinha roubado quando tudo começara, para sair da cidade. Da última vez que vira a mãe, ela estava no retrovisor, gritando furiosamente, tentando matá-lo. Ela o teria matado se houvesse tido a chance; teria feito Cal em pedacinhos e depois entrado em casa e guardado as compras como se nada tivesse acontecido. A Fúria.
— Você acha que todo mundo ainda quer matar a gente? — perguntou a Brick, que deu de ombros.
— Acho que agora as pessoas têm preocupações maiores, com Rilke à solta por aí. Talvez nem reparem mais em nós. — Fez uma pausa, cuspiu, quase sorriu. — Caramba, se ela fizer o que quer, talvez nem sobre ninguém para reparar na gente. — Era um sorriso sem humor, porém, e, quando ele passou a mão no rosto, lágrimas deixaram rastros na poeira.
Cal se virou, fingindo não reparar.
— Certo — disse ele. — Vamos ir para longe daqui, de Rilke. No caminho a gente descobre o que fazer.
— Será que o carro ainda funciona? — perguntou Brick, dando uma fungada.
Cal pulou no banco do motorista e procurou as chaves no bolso. O Freelander tinha levado uma surra considerável no caminho de Londres até ali, mas o massacre de Schiller parecia não tê-lo alcançado. Girou a ignição, abrindo um sorriso enorme quando o motor tossiu, gemeu e, enfim, pegou. Ouviu um farfalhar vindo de trás e, virando-se, viu Adam, erguendo-se no banco e correndo o olhar ao redor, os olhos arregalados e úmidos.
— Está tudo bem, cara — disse Cal, deixando o carro em ponto morto para poder tirar o pé do pedal e se virar. — Você está em segurança. Sou eu, Cal, lembra?
Adam concordou com um gesto de cabeça, relaxando um pouco, mas ainda sem piscar.
— Você teve pesadelos? — O garoto fez que sim com a cabeça outra vez. Não tinha falado nada desde que aparecera em Fursville, e nada indicava que começaria a fazê-lo tão cedo. — Eu também — continuou Cal. — Mas são só sonhos, eles não podem nos fazer mal. Está em segurança aqui, comigo e com Brick. Com Daisy também, ela está dormindo ali.
Adam olhou para o porta-malas, estendendo a mão para tocar o rosto de Daisy. Rapidamente recolheu a mão e levou os dedos aos lábios.
— Está tudo bem com ela — falou Cal. — Ela... Você conhece a história da Bela Adormecida, não conhece? Foi isso o que aconteceu com a Daisy. Ela vai acordar logo, prometo. Pode me fazer o favor de colocar o cinto de segurança, Adam?
Ele obedeceu com a mansidão de um cão surrado. Brick abriu a porta do carona, deslizando o corpo esguio para dentro e batendo a porta. Foram necessárias algumas tentativas para conseguir fechá-la; quando conseguiu, o carro estava lotado de pó, com incontáveis mortos cremados nadando em suas orelhas, bocas e narizes. Cal baixou o vidro da janela, pôs o carro em movimento e o guiou pelo estacionamento, deixando atrás de si um perfeito círculo de marcas de pneu nas cinzas.
— Sabe para onde a gente está indo? — perguntou Brick.
O carro dava solavancos pelo caminho esburacado que passava em meio às árvores, voltando para a estrada do litoral.
— Cal? — disse Brick.
— Sei para onde estamos indo — respondeu ele assim que chegaram à estrada, verificando se a barra estava limpa antes de rumar ao sul, para longe de Fursville. Pensou em Daisy em seu caixão de gelo e na criatura dentro dela. O anjo. Um hospital não seria de grande ajuda, nem a polícia, nem o exército. Só conseguia pensar em um lugar onde poderiam encontrar respostas. Pisou fundo, o carro acelerando e arrastando atrás de si uma capa esvoaçante. Então olhou para Brick e falou: — Precisamos achar uma igreja.
Rilke
Caister-on-Sea, 7h37
Vermes, todos eles.
Homens, mulheres e crianças aglomeravam-se na grama morta do camping, os olhos negros, pequenos e vazios, os dentes à mostra. Enxameavam trailers, chalés e carros, cegos para tudo exceto o próprio ódio. Alguns tropeçavam e logo eram soterrados na debandada. Outros se acotovelavam, a colisão de carne contra carne quase tão ruidosa quanto o estrondo dos passos. Outros guinchavam e uivavam, o ar vibrando com os gritos dos condenados. E estavam condenados, não havia dúvida quanto a isso.
— Está pronto, irmãozinho? — perguntou Rilke, voltando-se para Schiller.
Ele ficou de pé ao lado dela, pálido, assustado e débil. Parecia exausto, a pele do rosto em pregas soltas, os cantos da boca caídos como os de um palhaço entristecido.
O chão estremecia à medida que os furiosos se aproximavam, o primeiro deles — um homem enorme e peludo, um verdadeiro gorila de shorts e colete — a uns dez metros. Perto o bastante para que seu odor se fizesse sentir. Ah, como ela os odiava, como odiava aqueles parasitas. Antes talvez até tivesse ficado assustada, mas não mais. Agora só havia a fúria — a fúria dela, incandescente e tão perigosa quanto a deles.
— Schiller — disse Rilke. — Agora!
— Por favor, Rilke — começou ele, mas ela o interrompeu, pegando seu braço e torcendo-o com força.
Atrás dele, estavam Jade e Marcus, o rosto de ambos parecendo o de uma ovelha. O novo garoto, aquele que tinham achado em Hemsby, estava entre eles, ainda congelado. Rilke virou-se outra vez para o irmão.
— Agora!
Se Schiller estava hesitante, a criatura dentro dele estava muito disposta. Os olhos do irmão se acenderam com tanta força que uma fornalha parecia ter prorrompido em seu crânio. Em um instante, as chamas se espalharam como uma segunda pele que o envolveu em luz raivosa, e ele abriu a boca em um silencioso grito de fogo. Com um estampido, como o de um tiro, suas asas despontaram dos ombros, irradiando uma onda de choque que levantou pó e areia e mandou a primeira linha de furiosos de volta para a multidão. Aquelas asas batiam devagar, quase com preguiça, forjadas na chama. A força genuína emanada fazia o ar tremer, um zumbido de gerador que parecia despedaçar a realidade. Rilke precisou cerrar o maxilar e fechar os olhos com força para controlar a vertigem, e, quando olhou outra vez, Schiller já fazia seu trabalho.
Devia haver uns cem deles, rápidos e raivosos. Não davam a impressão de ter se assustado com a transformação de Schiller. Na verdade, ela pareceu deixá-los ainda mais irados. Jogavam-se contra o menino incandescente, as mãos em garras, os mesmos gritos horrendos e guturais como latidos produzidos no fundo da garganta. Cem deles, e mesmo assim não tinham a menor chance.
Schiller abriu os braços, o ar ao redor dele cintilando. Agora pairava, ondulações espalhando-se sobre a terra como se esta fosse água. O homem peludo despedaçou-se com um estalido tímido, o corpo atomizado mantendo a figura por uma fração de segundo antes de se decompor. Os outros correram por sobre seus restos flutuantes antes de se desintegrarem com a mesma velocidade, produzindo o som de alguém brincando com plástico-bolha. Porém, outros continuavam vindo, até que uma nuvem em redemoinho, escura e espessa como fumaça, apareceu diante de Schiller.
— Rilke!
Ela se virou e viu Jade gritando, porque mais furiosos vinham de trás deles. Dois adolescentes vinham à frente dessa multidão. Ambos se lançaram em cima de Marcus, tropeçando em uma rede de dentes e de membros. Outros três vieram, empilhando-se sobre o menino magrinho até que ele sumisse. Outros correram para Jade, e outros ainda, em maior número, em direção a Rilke. Não tenha medo deles; são ratos, ordenou a si própria, mas o medo petrificou suas pernas. Não tinha os poderes de Schiller, não ainda. Ela ainda era um ser humano patético, quatro litros de sangue em uma armação de papel. Iriam dilacerá-la com a facilidade de quem arranca pétalas de uma flor.
— Schill! — gritou.
Uma mulher saltou sobre ela, tropeçando em um dos braços de Marcus, que se agitava no ar, e errando o alvo. Um homem veio atrás, arranhando o rosto de Rilke e fazendo-a tropeçar. Enquanto ela caía, a outra mão do homem se lançou em sua garganta, os olhos dele como poços negros de ódio absoluto.
Sequer chegou ao chão. O ar abaixo dela se solidificou, sustentando-a. O homem se movia com uma lentidão inacreditável. Seus dedos estavam praticamente congelados à frente do pescoço dela, como um filme passando em câmera lenta. Viu a terra embaixo das unhas dele, o anel de pátina no dedo mindinho. Gotas de saliva voavam de seus lábios, subindo quase com graça, suspensas ao sol como orvalho.
Tudo parecia ter parado, o tempo operando com relutância ao longo de seu eixo. Uma das furiosas estava sentada sobre Marcus, erguendo um punho fechado, uma gota de sangue suspensa nos dedos. Outros se aproximavam, mas o ritmo da corrida era agora um rastejar de caracol. Rilke se percebeu rindo, mas seus movimentos também eram lentos, como se nadasse em um lago de gosma. Ela ainda caía, notou, mas tão lentamente que parecia imóvel.
Somente Schiller era imune. Ele flutuou pelas turbas até chegar perto de Rilke, depois, pressionou uma mão incandescente contra o peito do homem. Este não explodiu e virou pó. Mas dobrou-se ao meio com um coral de ossos partidos e, em seguida, dobrou-se de novo, e de novo, até se tornar menor do que uma caixa de fósforos. Com um peteleco, Schiller o mandou para longe, e voltou sua atenção para os outros furiosos. Ainda que não se movessem em câmara lenta, não seriam capazes de enfrentá-lo. Tudo o que o irmão de Rilke fez foi virar as palmas das mãos para o céu, e qualquer furioso à vista, fosse homem, mulher ou criança, esticou-se para cima como uma marionete presa por um fio. E, à medida que se esticavam, iam se despedaçando, os membros se soltando, roupas e pele tornando-se retalhos, dentes e unhas se despregando do corpo, todos unidos por espirais de sangue — erguendo-se até que ficassem pequenos como pássaros distantes que depois desapareciam.
Então, o tempo pareceu se dar conta de si novamente, com seus dedos envolvendo Rilke e empurrando-a para o chão. Os ouvidos dela estalaram e o coração bateu com certo descompasso antes de encontrar seu ritmo. Marcus retorceu-se no chão antes de perceber que os agressores tinham sumido, ao passo que Jade ficou sentada em um montículo, os olhos petrificados, subtraída de outra porção da sanidade que lhe restava. Rilke se pôs de pé em um salto e apoiou as mãos nos joelhos para não cair de novo.
— Tudo — disse ela. Tossiu, antes de repetir: — Tudo, Schill. Não podemos deixar nada para trás.
Ele olhou para ela, os olhos que não piscavam parecendo portais para outro mundo. Mirá-los provocava um tipo sorrateiro de loucura, que a deixava nauseada. A vibração no ar intensificou-se, e ela sentiu um dedo de sangue descer de seu ouvido. Mas não desviou o olhar.
— Agora, Schiller — disse outra vez.
E foi o irmão que cedeu, a cabeça pendendo. Desta vez, ele nem se mexeu, mas mesmo assim a paisagem se desfez, exatamente como em Hemmingway e em Hemsby. Trailers levantaram-se do chão, portas e janelas batendo como membros agitados, até virarem pó. Chalés desabaram como se fossem de areia, deixando cair migalhas ao cruzar o céu. Carros, motocicletas e cadeiras quebraram-se com ruídos metálicos abafados. Rilke os observou sumir, uma maré de matéria que corria acima deles como um rio, indo para as dunas e o mar.
Schiller baixou os braços, e os restos do camping desabaram com um estrondo de trovão, a água agitando-se enfurecida. Rilke sentiu o borrifar salgado no rosto e o enxugou. Odiava o cheiro do mar. Talvez, se Schiller jogasse coisas suficientes nele, ele secaria – terra e oceano, ambos perfeitamente limpos. Virou-se para o irmão quando os ecos morreram, vendo as chamas que emanavam de sua pele ondulando, as asas se dobrando e se apagando. Como sempre, os olhos foram a última coisa a voltar ao normal, a chama laranja dando lugar ao azul aquático. Ele pendeu para o lado, e ela o alcançou antes que ele caísse. Rilke o deitou delicadamente no chão e afastou o cabelo de seus olhos.
— Você agiu bem, irmãozinho — sussurrou ela. — Você nos manteve em segurança.
Ele parecia semimorto, mas as palavras dela produziram um sorriso. Marcus se agachou ao lado dos dois e tirou uma garrafa de água da mochila. Tinham juntado suprimentos em Hemsby, antes que Schiller arrasasse a cidadezinha. Rilke tomou a garrafa da mão dele, desenroscou a tampa e levou-a aos lábios do irmão. Ele bebeu com sofreguidão, como se tentasse apagar uma fogueira que ardesse em seu íntimo.
— Obrigado, Schill — disse Marcus. — Achei que não ia me livrar dessa.
Rilke também tomou um gole de água e depois devolveu a garrafa.
— Nada vai acontecer conosco — disse ela. — Somos importantes demais.
— Eu sei — respondeu Marcus, mas franziu o rosto.
— O que foi? — retrucou ela.
Estava exausta. Não dormiam desde Fursville. Tinham tentado descansar a caminho de Hemsby, em uma clareira entre as dunas, mas a polícia os tinha encontrado depois de cerca de meia hora, e Schiller fora forçado a cuidar deles. Desde então, não haviam mais parado, e a polícia aparentemente tinha decidido deixá-los em paz. Ou era isso, ou não havia mais polícia — o irmão não tinha demonstrado nenhuma misericórdia deles.
— Nada, Rilke — disse Marcus. — É só que... Eles são tantos, e alguns eram crianças.
A raiva fervilhou na garganta dela, mas ela tapou a boca para contê-la. Não podia culpar Marcus por duvidar, mesmo com tudo o que ele tinha visto. Ela própria tinha dificuldade de aceitar a verdade quando as turbas se desintegravam diante de seus olhos, especialmente as crianças. Havia bebês também, recém-nascidos com rostos franzidos que berravam com uma fúria que jamais poderiam entender.
Porém, a verdade era inconfundível e inescapável. Estavam ali para subjugar a raça humana, para fazer com que ela entendesse que havia uma força superior; que a ilusão de rédea solta, de impunidade, era só isto: uma ilusão. Eles eram os anjos da morte, o grande dilúvio, o fogo purificador. As pessoas eram más. Rilke sabia disso melhor do que ninguém. São todas iguais a ele, ao homem mau, pensou ela, lembrando-se do médico da mãe, com aquele mau hálito e aqueles dedos gananciosos. Lá no fundo, todos têm segredos, todos são podres. Marcus só tinha dúvidas porque ainda não havia se transformado, era isso. Assim que seu anjo nascesse, ele enxergaria a verdade. Schiller tinha se transformado, e enxergava.
— Estamos fazendo a coisa certa, não estamos, irmãozinho? — Foi uma pergunta retórica.
Schiller olhou para ela com olhos arregalados, tristes, e acabou fazendo que sim com a cabeça.
— Acho que sim — disse ele.
— Você sabe que sim.
Rilke de súbito lembrou-se de um incidente de anos atrás, quando ela e Schiller brincavam em casa. Ela não recordava exatamente qual era a brincadeira, só que os dois corriam, e ela derrubara do aparador da mesa de jantar uma das bonecas de porcelana da mãe. A boneca se quebrara em mil pedaços, e, por um instante, a vida de Rilke acabara. A mãe estava começando a perder a sanidade naquela época, os alicerces de sua mente sendo pouco a pouco corroídos, embora ela continuasse a amar aquelas bonecas mais do que amava os próprios filhos. Quebrar uma era um crime hediondo, a ser punido com uma surra. Assim, Rilke convencera Schiller a assumir a culpa. Ele tinha protestado. Tinha mais medo da mãe do que ela. Mas era fraco, sempre fraco, e não demorou até que cedesse. Quando subiram e Schiller confessou seu crime, Rilke teve certeza de que ele acreditava mesmo que era culpado. Por que estaria pensando nisso agora?
— Você sabe que sim — disse ela outra vez, acariciando a cabeça dele. Quando afastou a mão, havia nacos do cabelo dele entre seus dedos, como se fossem algas, e ela os limpou na saia. — Confie em mim, Schiller.
Ele tentou se levantar, mas não teve forças e caiu de costas. Sua testa estava viscosa de suor, e a pele, cinzenta. É só cansaço, Rilke se convenceu. Precisamos achar um lugar para descansar, para dormir. Mas havia também outro pensamento presente: Isso o está matando. Afastou a ideia. O que Schiller tinha dentro de si era um milagre, algo bom, que o fortalecia. Algo que o deixava em segurança, que nada faria para feri-lo.
— Eu vejo coisas — disse o irmão, olhando para o céu. — Quando acontece, quando eu me transformo, eu vejo coisas.
— Tipo o quê? — perguntou Rilke.
— Não sei — disse ele depois de um momento. — Uma coisa ruim. Parece um homem, mas um homem mau. Não consigo ver o rosto dele, só... Não sei, parece que ele mora dentro de um furacão ou algo parecido. Não paro de vê-lo, Rilke. E ele me assusta.
— Esqueça isso, irmãozinho — disse ela. Mas também o tinha visto no silêncio entre dormir e acordar, uma criatura ainda mais poderosa do que seu irmão. O homem na tempestade. — É um de nós — falou. Ele está aqui pelo mesmo motivo que nós. Não se preocupe com ele, ele está do nosso lado.
Schiller pareceu ruminar as palavras dela, mas não por muito tempo. Nunca por muito tempo. Você quebrou a boneca, Schill, foi culpa sua ela estar em pedaços, mas tudo bem, porque vou estar do seu lado quando você contar para a mamãe; estou sempre aqui do seu lado, eu te amo. Você é um bom menino, diga a ela que quebrou.
— Você é um bom menino, Schill — disse ela, acariciando-o por dentro da blusa. — Vamos passar por essa juntos. Sabe que estou sempre do seu lado.
Ele fez que sim com a cabeça, e o camping ficou em silêncio. Até o mar parecia tranquilo, as pequeninas ondas mal emitindo sons ao bater contra a praia. Ele está com medo de nós, pensou ela. Quer que vamos embora.
— Estou realmente cansado, Rilke — disse Schiller. — Podemos parar?
— Em breve — respondeu ela. — Assim que acharmos um lugar seguro.
Isso seria muito mais fácil se ela também se transformasse, mas o anjo dentro dela não dava nenhum sinal de que nasceria. O único motivo pelo qual sabia que ele estava ali eram as dores de cabeça que sentira — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, seguidas pela Fúria. Ele estava ali, e cedo ou tarde renasceria com os mesmos poderes do anjo do irmão.
E quando isso acontecesse...
Rilke abriu um sorriso enorme, a ideia aniquilando os últimos resquícios de exaustão. Ficou de pé, ainda ao lado de Schiller. O mundo nunca parecera tão grande, e tinham muito trabalho a fazer.
— Mais uma cidade, irmãozinho, você consegue?
Ele suspirou, mas concordou com um gesto de cabeça.
— Bom garoto.
Ela aguardou Marcus e Jade ajudarem a levantar o outro garoto, que ficou entre eles. Os dois tremiam, mas sabiam que discutir com ela não era boa ideia. Rilke deu o braço ao irmão, sustentando parte do peso dele, e juntos seguiram pela terra arruinada, deixando atrás de si a poeira dos mortos.
Cal
East Walsham, Norfolk, 7h49
O Freelander estrebuchou, pareceu por um instante que iria continuar, mas depois ofegou baixinho e morreu.
— Droga! — disse Cal, girando a chave.
O motor deu umas tossidelas insignificantes, mas, por mais que o jovem quisesse, não conseguia fazer o medidor de combustível levantar. — O tanque está vazio.
— Ótimo! — resmungou Brick, o rosto contorcido de um jeito que fez o sangue de Cal ferver de imediato. — Você não trouxe mais?
— Pois é, Brick, eu parei num posto quando saí de Londres, lutei com os furiosos e enchi o tanque. Peguei também umas jujubas e um cafezinho. O que você acha?
Brick deu um tapa no painel e abriu a porta. Cal respirou fundo e saiu depois dele. O ar ali era muito mais puro; não tinha gosto de crematório. A viagem havia tirado praticamente toda a carne pulverizada do carro, deixando apenas bolsões nos cantos das janelas e nas rodas. Cal respirou fundo, absorvendo o ar do ambiente: nada além de campos, árvores e sebes em todas as direções. O único indício do lugar de onde tinham vindo era uma névoa cinzenta no céu. Ao menos fazia calor, o sol nascente parecendo um casaco jogado nos ombros de Cal.
— Onde estamos? — perguntou Brick, reunindo uma bola de cuspe e lançando-a na beira da estrada.
— Não sei muito bem — respondeu Cal. — A gente basicamente dirigiu para oeste, é difícil dizer. — A navegação via satélite estava funcionando, mas Cal não sabia qual endereço colocar, por isso só a usara como guia, seguindo o emaranhado de estradas que saía de Norwich. Tinha se limitado às menores, e até ali só haviam passado por outros três veículos: dois carros que zuniram rápido o bastante para sacudir o Freelander, e um trator, atrás do qual permaneceram até que ele entrara em uma fazenda. Tinham passado por algumas cidadezinhas, mas estavam bem desertas. — A última placa que eu vi dizia “Tuttenham”.
— E onde fica isso? — retrucou Brick.
— Você que é daqui que devia saber.
Por alguns segundos, os dois se encararam, fumegando em silêncio.
— Ok — disse Cal, suspirando. — Vamos ter que continuar a pé, não é?
Brick deu de ombros, parecendo ter um quarto de seus dezoito anos. Arrastou os tênis sujos no chão, depois passou os dedos pelo cabelo.
— Deve ter alguma cidadezinha por aqui — murmurou ele. — Talvez uma fazenda. Daria para pegar um pouco de diesel.
Cal deu de ombros.
— Vale a pena tentar. Quer levar Adam ou Daisy?
Brick não respondeu, só começou a caminhar pela estrada, o corpo coberto de pó parecendo um fantasma estranho e delgado na branda luz da manhã. Cal abriu a porta de trás do carro e deu de cara com Adam, como sempre de olhos arregalados. O garotinho tremia.
— Quer sair do carro? — perguntou Cal. — Pegar um pouco de sol? Está congelando aqui. — Adam olhou nervoso para a menina no porta-malas. — Está tudo bem, Daisy também vem com a gente. De repente o calor vai até descongelar ela. Vamos.
Adam arrastou-se do assento para o asfalto. Cal sorriu para ele, e em seguida andou até a traseira do Freelander. As janelas ali estavam foscas devido ao gelo, como se fosse Natal, e, quando ele tentou abrir o porta-malas, descobriu que o gelo o havia travado. Deu alguns chutes para soltar os flocos de cristal até conseguir abri-lo. Daisy estava encasulada em uma teia de seda, o rosto branco e frágil como porcelana. Parecia morta, mas ele sabia que ela apenas dormia. Qual era o termo correto? Metamorfoseava-se. Cal pensou em Schiller, consumido pelo fogo, e se perguntou se para Daisy não seria melhor morrer de uma vez. Para todos eles.
— Lá vamos nós — disse, passando as mãos por baixo do corpo de Daisy e levantando-a.
Ela parecia mais leve, apesar da crosta de gelo, e o modo como cintilava era quase assustador. A pele de Cal queimava com o frio, as mãos já quase dormentes, mas ele a segurava com firmeza. — Aguente firme, Daisy, a gente vai encontrar ajuda.
Adam, que esperava à frente do carro, deu um ligeiro sorriso quando viu Daisy.
— Está vendo? Vai dar tudo certo com ela — disse Cal. — Com todos nós.
Ele lançou um olhar para o Freelander vazio, e em seguida partiu pela estrada. Brick tinha sumido, mas, depois de mais ou menos cinquenta metros de caminhada, sua cabeça surgiu da alta grama que ladeava o asfalto.
— Melhor sair da estrada — disse ele. — Com ou sem Fúria, os motoristas de Norfolk são todos malucos.
Cal esperou Adam correr até a beira da estrada e depois cambaleou até lá. Quase caiu após tropeçar em um canteiro de flores amarelas brilhantes, conseguindo por pouco ficar de pé, e torcendo o tornozelo no processo. Engoliu um palavrão e mancou até Brick.
— Obrigado pela ajuda — disse ele, mas o outro garoto já se afastava.
Cal o seguiu, respirando fundo algumas vezes para se acalmar. Adam trotava do seu lado, de vez em quando dando uma corridinha para acompanhar o ritmo. O único som, tirando o baque dos pés na terra seca, era o chilrear dos pássaros. Eles não param de cantar, pensou Cal, mesmo com o mundo desabando em volta deles.
— O que é que vamos fazer se as pessoas ainda estiverem com a Fúria? — perguntou Brick após alguns minutos.
— Sei lá — disse Cal.
— Acha que vão vir atrás da gente?
— Sei lá.
Brick chutou uma pedra, que rolou para as sombras em meio à vegetação. Andaram calados, cruzando um dique seco e abrindo caminho por uma sebe na extremidade do campo. O trecho seguinte de terra era quase deserto, o que facilitou a travessia. Deram apenas alguns passos até que Cal sentiu Adam puxando suas calças esportivas. O garoto apontava e, quando Cal seguiu seu dedo, viu uma pequena torre de pedra erguendo-se das sebes.
— Boa, garoto! — disse ele, sorrindo. Adam sorriu em resposta, mais radiante do que o sol. — Está vendo aquilo, cara?
Brick ergueu os olhos para protegê-los, embora o sol estivesse atrás deles. Era difícil dizer a que distância estava a igreja, talvez a uns dois ou três quilômetros.
— Ainda não sei para que você quer uma igreja — respondeu Brick. — Não sei que grande coisa ela vai nos oferecer.
— Bem, não é como se você tivesse me dado outras sugestões — disparou Cal, com a sensação de que ele próprio estava prestes a ter um acesso de Fúria. Alguma coisa em Brick provocava isso nas pessoas, deixava-as irritadas. — Só achei... Sei lá, mas, se essas coisas dentro de nós são mesmo anjos...
— Não são anjos, Cal.
— Bem, se são anjos, então talvez um pastor possa ajudar a gente; talvez ele saiba nos dizer o que fazer. Talvez tenha alguma coisa na Bíblia. Não sei. — O simples fato de dizer aquilo o fez perceber a futilidade de suas palavras. O que quer que estivesse acontecendo, não tinha nada a ver com cristianismo. — Sei lá. Mas não consigo pensar em mais nada. Você consegue?
Brick limitou-se a fungar.
— Vai se ferrar, então! — falou Cal. — Se quiser seguir seu caminho sozinho, não sou eu que vou impedir.
— Certo — disse ele. — Vamos tentar a igreja. Mas não vai adiantar nada.
Cal levantou Daisy até o peito, os dentes batendo. Levaram uns dez minutos para chegar ao fim do campo; e já levavam uns cinco tentando atravessar uma cerca de arame farpado. Do outro lado, havia uma pista de terra que passava ao lado de um pasto cheio de vacas, os animais encarando-os com aqueles olhos tristes e negros. Ao menos não ameaçavam atacá-los. Ser pisoteado até a morte por um bando de vacas furiosas não era um bom jeito de passar desta para uma melhor.
— Já deu tiro em bosta de vaca? — A pergunta era tão surreal que Cal precisou parar para ter certeza de que tinha ouvido direito.
— Se eu já dei tiro em bosta de vaca?
— É, tiro de espingarda.
— Não, Brick. Eu sou de Londres. Lá não tem espingarda nem bosta de vaca. Por quê?
Brick emitiu um som que poderia ser uma risada.
— É como assistir a um vulcão de cocô — disse ele, e Cal ouviu o sorriso em sua voz. — Meu amigo Davey tinha uma doze. Um dia ele me levou para a fazenda dele, e a gente deu uns tiros num campo inteiro de bosta. Sério, ela sobe uns dez metros, nunca vi nada igual.
Cal sacudiu a cabeça, sem saber o que dizer. Conhecia Brick havia menos de uma semana, mas achava que poderia passar anos com ele e não entender suas variações de humor.
— Dei um tiro num monte de bosta e deixei Davey coberto de esterco. Foi a coisa mais engraçada que já vi.
— Parece mesmo engraçado — respondeu Cal.
— Quisera eu ter uma agora.
— Bosta de vaca? Pode escolher, aqui tem centenas.
— Uma espingarda, panaca. Eu me sentiria bem mais seguro de andar até a igreja se tivesse uma arma.
— Pois é, da última vez que a gente teve uma arma foi realmente ótimo. — Cal jamais esqueceria da arma apontada para ele pelo homem em Fursville, nem do jeito como Rilke lhe dera um tiro na cabeça sem hesitar. Rilke também tinha dado um tiro na namorada de Brick, lembrou Cal de repente, e suas bochechas arderam. — Foi mal, cara. Não pensei direito antes de falar.
Brick não respondeu, só chutou o chão, espalhando pedrinhas. E fez tanto barulho que Cal quase não ouviu o som de um motor à frente, aumentando e diminuindo. Conteve os passos, erguendo a cabeça quando outro rugido distante soou e sumiu.
— Deve ser uma estrada — disse Brick. — O que vamos fazer?
— Vamos chegar mais perto para ver, o que acha?
Não era o melhor plano do mundo, mas era esse o problema com a Fúria: você só sabia se ela estava presente chegando perto. E, ao chegar perto, provavelmente alguém já estaria lhe dando uma dentada.
Brick não respondeu, só pulou a cerca. Estendeu as mãos, e Cal passou Daisy para ele. Seus braços eram dois blocos de pedra fria, mas ainda assim conseguiu erguer Adam acima da cerca antes de ele mesmo pulá-la. O campo começava a formar um aclive no caminho de terra, e eles subiram a colina calados, ouvindo o tráfego adiante. Cal contou sete veículos passando antes que chegassem ao final.
Agachou-se, espiando pela cerca e vendo uma estrada abaixo. Havia calçada dos dois lados, e casas uma na frente da outra — grandes propriedades separadas com telhados de palha e largas rampas de acesso. À esquerda, a estrada levava a uma cidadezinha. Cal distinguiu o que poderia ter sido uma padaria e uma loja Tesco. Erguendo-se acima de tudo, estava a torre da igreja. Havia gente ali, seis ou sete pessoas, longe demais para enxergá-las direito. Três sumiram supermercado adentro, suas risadas ecoando pela estrada.
— O que você acha? — perguntou Cal.
— Como é que eu vou saber? — respondeu Brick, estreitando Daisy ao peito e tremendo de frio. — Podemos descer lá e ter a cabeça arrancada por eles.
Cal endireitou as costas, abrindo um sorrisinho nervoso para Brick.
— Acho que só tem um jeito de descobrir.
Brick
East Walsham, 8h23
Brick observou Cal tropeçar pelo campo, com Adam em seu encalço, mas não conseguiu segui-los. Carregava Daisy em seus braços, e o frio que irradiava dela congelara seus ossos, fazendo com que ele criasse raízes. De repente, percebeu o quanto estava exausto, o corpo e a mente funcionando à base de nada, prestes a dar um soluço e morrer, tal como o carro. Cal pareceu ler sua mente, porque olhou por cima do ombro e disse:
— Vamos, cara, não posso encarar essa sozinho!
Aos tropeços por causa do chão irregular, Adam retornou até Brick. O garotinho estendeu a mão e segurou a camiseta do outro, dando-lhe um leve puxão. Seus olhos eram bolsões de luz solar, ofuscantemente brilhantes, e ofereceram certo calor ao corpo de Brick, que respirou fundo e ficou de pé. Uma ligeira tontura deu-lhe a impressão de que dava piruetas pelo campo. Quando ela parou, deu um passo, depois outro, e foi seguindo Cal em direção à torre.
— Será que a gente podia fazer aquele negócio da distração de novo? — disse Cal. — Que nem na fábrica, lembra?
Brick deu de ombros, ainda que soubesse que Cal não estava vendo. Na fábrica, só havia um guarda para distrair, e mesmo assim tinha dado errado.
— Eu podia atraí-los para fora e abrir caminho para você levar Daisy e Adam para dentro da igreja — continuou Cal. — Ou, se você for mais rápido do que eu, você os atrai.
Até parece, pensou Brick, dizendo, por fim:
— E se a igreja estiver cheia?
— Segunda de manhã? Não vai estar.
— E se estiver trancada?
Cal colocou as mãos na cabeça e puxou os cabelos.
— Ok — disse Brick. — Tá, beleza, vamos tentar.
À frente, o campo se inclinava rumo à estrada, estendendo-se junto a ela até o início da cidadezinha. Havia um trechinho de sebe, mais buraco do que folhas, que não ofereceria rigorosamente nenhuma proteção se os furiosos sentissem a presença deles. Cal se agachou, descendo o declive com rapidez. Outro carro passou pela estrada, talvez a uns trinta metros de distância, seguido por um caminhão dos correios. Para uma cidadezinha, até que havia bastante movimento.
— Você devia ir por trás — disse Cal. — Por aqueles jardins. Veja se dá para cortar caminho.
Ele apontava para onde o campo se juntava às casas, no limiar da cidadezinha, onde havia pequenos jardins protegidos por cercas.
— E você? — perguntou ele.
— Eu vou pela rua principal. Se ainda estiverem com a Fúria, eu atraio eles. — Enxugou a boca com a mão. Seus dedos tremiam. Cal não parecia ser capaz de percorrer nem mais vinte metros, quanto mais correr por uma cidadezinha inteira cheia de furiosos. — De repente, eu chego lá e ninguém repara em mim.
Brick deu de ombros outra vez. Ele levantou Daisy; a menina era levíssima e, estranhamente, também a coisa mais pesada do mundo.
— Fique com Brick, Adam, ele vai cuidar de você até eu voltar.
O garotinho abriu a boca, mas não falou nada. Cal olhou para Brick e fez que sim com a cabeça, e depois se pôs em movimento, descendo o declive rumo à estrada. Brick olhou-o por mais alguns segundos, praguejou e depois partiu na direção das casas. Com Daisy nos braços, e Adam preso à sua camiseta, não estava nada fácil. Duas vezes ele tropeçou na terra árida; pareceu demorar uma eternidade até chegar à primeira cerca. Não ouviu gritos, nem pneus cantando, nem explosões.
A cerca era um pouco mais baixa do que ele, e ele ficou na ponta dos pés para olhar por cima dela. Do outro lado, havia um microjardim que levava a uma casa geminada. A casa tinha uma passagem lateral, e Brick deu uns passos para a esquerda, para ter uma visão mais ampla. Havia um portão, provavelmente trancado. Foi aos tropeços até o jardim seguinte, que estava cercado por uma espessa sebe. O outro jardim tinha arame farpado acima da cerca, e a quarta casa estava caindo aos pedaços, com uma estufa abandonada sem várias placas de vidro. Uma olhadela rápida pela passagem revelou um caminho reto até a estrada do outro lado.
Não havia portão, mas o jardim não era exatamente Alcatraz. Brick chutou a cerca que estava se soltando, disparando uma saraivada de farpas. Outro chute, e, com um rangido abafado, o painel caiu na grama alta. A casa tinha as cortinas bem fechadas em cada janela.
— Vamos — disse ele, andando pelo jardim e chegando à passagem.
Seus passos ecoavam, dando a impressão de que havia alguém bem atrás deles, e duas vezes olhou por cima do ombro para se certificar de que ninguém os seguia. A luz do sol se derramava pelo arco do outro lado, e Brick deu um passo cauteloso dentro do calor, apertando os olhos até que a estrada iluminada ganhasse foco. Era uma rua residencial, com casas pequenas ombreando-se como soldados. Reteve a respiração, outra vez procurando algum ruído. O ar estava quente e silencioso, como se a cidade inteira o imitasse, também retendo a respiração, esperando o momento certo para ganhar vida.
Engoliu em seco, a garganta uma bola de areia, e em seguida deixou a passagem rumo à calçada. Estava deserta, mas será que não havia gente dentro das casas? Será que já não o teriam pressentido? Não surgiriam jorrando de portas e janelas? Voltou o olhar para a torre da igreja, perto o bastante para distinguir as gárgulas gastas e o campanário.
Uma buzina distante cortou o silêncio pesado, sobressaltando Brick de tal maneira que Daisy quase escorregou de seus braços. Ele a apertou contra o peito. Acorde, Daisy, pensou ao atravessar a rua, indo para a passagem do outro lado. Por favor, acorde, não posso carregar você para sempre.
Então se lembrou do que ela seria quando acordasse, e sugou o desejo de volta para as trevas de seus pensamentos.
As casas desse lado tinham portões que davam para fora, mas um pouco adiante as casas enfileiradas acabavam e davam espaço a casas maiores, parcialmente separadas. Pegou um atalho por uma rampa de acesso de cascalho e seguiu por um jardim comprido e cuidado com perfeição. O zumbido do tráfego era mais alto ali, e o garoto pensou ter ouvido vozes também. Chegou a um muro e se apoiou nos tijolos em ruínas, tentando recuperar o fôlego.
— Consegue subir? — perguntou a Adam.
O garotinho olhou o muro, os dois metros de muro, e balançou a cabeça. Brick resmungou, frustrado, agachando-se e pousando Daisy no chão com delicadeza. Esfregou os braços, tentando aquecê-los, e em seguida pegou Adam pelas axilas. As mãos dele estavam tão dormentes, e o menino era tão leve, que parecia estar levantando ar. Colocou-o no alto do muro e o sentou ali.
— É só descer. Não é tão alto.
Adam balançou de novo a cabeça, o temor estampado no rosto.
— Desça! — disparou Brick. — A menos que prefira que eu o empurre.
O garoto passou o braço pelo rosto, enxugando as lágrimas. Virou-se com calma, apoiando-se nos dedos brancos enquanto se deixava cair. Brick se agachou para pegar Daisy, e foi ao endireitar a coluna que ouviu o som de uma porta se abrindo. Voltou os olhos e viu um homem sair da casa; ele usava calças de moletom e colete, o rosto com a barba por fazer, e parecia zangado.
— Ei! Você aí, o que acha que está fazendo?
A que distância estava ele? Era um jardim grande, talvez fosse uns vinte metros entre a porta dos fundos e o muro, mais ou menos. Brick não se mexeu; até seu coração pareceu conter o batimento frenético, à espera. O homem deu um passo à frente. Ele já estava perto o bastante para um acesso de Fúria, não estava?
— Estou falando com você! — gritou. — Saia do meu jardim ou vou chamar a polícia!
Mais um passo. Brick recuou até colar as costas no muro. O homem tinha parado e o encarava, ambos num impasse. Talvez o cara fosse entrar e pronto. Brick era alto, e tinha um rosto do tipo que faz você pensar duas vezes antes de querer brigar. Talvez o homem simplesmente voltasse, trancasse a porta e chamasse a polícia.
Porém, havia uma parte de Brick que precisava saber se a Fúria ainda estava ali.
O homem esfregou o rosto, franzindo-o. Tentava distinguir o que Brick tinha nos braços.
— O que é isso aí? — perguntou ele. — O que...?
Brick ignorou-o, virando-se para o muro e tentando erguer Daisy. Seus braços pareciam feitos de vidro, prontos para se estilhaçar, e ele não teve forças. Tentou de novo, gemendo com o esforço. Desta vez, conseguiu levá-la até o alto do muro, mas não conseguia virar seu corpo. Os músculos cederam, e ela caiu no chão diante de seus pés como uma boneca de pano, uma coisa morta.
— Ei, se afaste dela! — gritou o homem.
Brick ouviu-o começar a correr. Abaixou-se e agarrou nacos das roupas e da carne de Daisy, sem se preocupar se a machucava. Levantou-a, apoiando-a com o peito contra o muro, enquanto reposicionava os braços.
— Afaaaaaaaaste-se deeel... — A voz do homem era um som gorgolejante, e Brick quase deu um grito ao ouvi-la.
Colocou o corpo sob o de Daisy, erguendo-a como um halterofilista olímpico. O homem cuspiu outras palavras, os passos martelando o chão, mais alto, mais perto. Não olhe, Brick, apenas pule o muro, pule o maldito muro! Ele lançou Daisy com toda a força e ela rolou por cima, caindo do outro lado. Em seguida, ele agarrou os tijolos, içando-se.
O homem agarrou sua perna, dedos de ferro em sua panturrilha. Outra mão pegou sua coxa, puxando-a. Brick deu um grito, enfiando as unhas no muro em ruínas. Ele desferiu chutes no ar. O homem uivava alto o bastante para convocar a cidade inteira.
Brick deu outro chute, e desta vez seu pé encontrou algo macio. Ouviu-se um barulho, um grito gorgolejado de fúria, e ele se libertou. Lançou-se de cabeça, dando um salto-mortal desajeitado em pleno ar e caindo de costas. O impacto esvaziou seus pulmões, fazendo-o gemer, mas ele se forçou a se levantar.
Daisy estava deitada sobre um montículo, com Adam ao lado. Estavam em outro jardim, esse cheio de engradados e geladeiras enferrujadas. Vinham ruídos de trás do muro, gritos enfurecidos e um som de algo raspando. O homem pularia o muro em segundos.
— Vamos! — ofegou Brick, empurrando Adam para poder pegar Daisy.
Desta vez, colocou-a em cima do ombro e cambaleou pelo jardim seguindo pela lateral da construção. Ao chegar à frente, percebeu que era uma loja de eletrônicos. A porta da frente estava aberta, mas não havia ninguém dentro dela. Na verdade, não havia ninguém na rua, só lojas e, subindo à esquerda, a igreja. Foi na direção dela, ouvindo um grito quando estava a meio caminho.
Não era um grito de uma só pessoa. Era o grito de muitas pessoas.
Parou e voltou os olhos. Do outro lado da rua deserta, havia um cruzamento, e estava lotado. Devia haver umas trinta pessoas ali, talvez mais.
— Cal!
Cal estava em algum lugar ali, e precisava de ajuda.
A massa febril e uivante mudou de direção, como pássaros em um bando, convergindo para um ponto fora do alcance da visão. Brick quase deu um passo na direção deles. Quase. Mas você não pode ir, você precisa cuidar de Daisy. E essa desculpa foi suficiente para fazê-lo se virar, andar rumo à igreja, rangendo os dentes com tanta força que pareciam prestes a saltar das gengivas. Ele não veria aquilo, não veria a morte de Cal, a criatura de chamas que subiria de seu cadáver e se evaporaria no ar de verão. Ele não assistiria ao momento em que ficaria por conta própria.
Abafou os gritos, correndo os últimos metros até o portão da igreja e atravessando o cemitério arborizado. A porta era de carvalho antigo, pesada, mas não estava trancada. Empurrou-a, e Adam entrou logo atrás. Então jogou o corpo contra a porta, mantendo do lado de fora a loucura e a culpa, confinando-se na escuridão fresca, silenciosa, secreta.
Cal
East Walsham, 8h37
Ele estava morto.
Praticamente morto. Não havia para onde correr. À frente, pessoas jorravam de uma loja como se fossem um rio transbordante, todas urrando. Vinham também de trás dele; a porta de vidro de uma padaria desfeita em estilhaços brilhantes conforme dez, quinze pessoas se lançaram para fora. Cal cambaleou para longe, tropeçando no meio-fio. Do outro lado da rua, dois homens saíam a passos trôpegos de uma imobiliária, a Fúria retorcendo o semblante deles, deixando-o com o aspecto de máscaras de Halloween.
Havia furiosos demais, todos correndo; o primeiro deles — uma criança de onze ou doze anos, com o braço engessado — já estava a segundos de distância. Cal cambaleou de novo. Bateu em um carro, um dos que estavam estacionados na rua, e, antes de se dar conta do que estava fazendo, já tinha corrido para debaixo dele.
Mal havia espaço para ele ali, a estrutura metálica do carro nas costas, achatando-o contra o asfalto. O que você tinha na cabeça, cara?
Algo colidiu com o carro, transformando em ocaso a luz do dia. Depois, foi como se os céus tivessem se aberto, e um estrondo saraivou ao redor de Cal, imergindo-o em uma noite absoluta. Os gritos eram tão altos que o afogavam; não conseguia respirar, não conseguia se mexer, não conseguia fazer nada além de ficar deitado e ouvir aquele coral horrendo e ensurdecedor.
Uma multidão surgiu embaixo do carro, uma torrente de membros e dentes. Mãos o agarravam e beliscavam, tentando puxá-lo. Corpos se arrastavam ao lado dele, superpovoando sua tumba. O carro balançava de um lado para outro, com a suspensão rangendo. Iam virar o carro, iam se jogar sobre ele, e ele deixaria de existir.
Porém, não era esse o pensamento que o assustava. Depois de tudo, a morte lhe parecia uma velha amiga. Sem mistério, sem surpresas, só um último suspiro e, em seguida, o nada. O que o assustava era a ideia de ficar frio, de virar gelo, enquanto algo se nascia no casulo congelado de seu corpo.
Uma mão agarrou seu rosto, unhas rasparam suas pálpebras. Ele abanou as mãos desesperadamente para afastá-la. A mão tentou alcançá-lo outra vez, dedos sujos em sua boca, e ele mordeu com força. Gosto de sangue. Tentou se virar, mas não havia espaço suficiente para os ombros. Era a morte.
Não, Cal, enfrente-os!
A voz não parecia ser dele, mas não havia dúvida de que vinha de dentro de sua cabeça. O que ela queria que ele fizesse? Havia outro carro à frente, era tudo o que ele sabia. Havia uma fileira deles estacionados na rua, quase grudados um ao outro. Será que ele conseguiria passar para baixo do próximo?
Começou a se arrastar. Pernas impediam seu avanço, formando uma cerca entre o carro sob o qual estava e o seguinte, mas ele a atravessou aos tapas e empurrões. O pouco espaço impedia que eles o agarrassem, os para-choques escudavam Cal contra seus socos e chutes, e poucos segundos depois ele estava debaixo do outro carro.
Não adiantou nada. A multidão o seguiu, o radar sintonizado no que quer que estivesse dentro do garoto. Rastejar para longe não era uma opção válida, pois eles não precisavam de olhos para encontrá-lo. Cercaram-no, bloqueando o sol, cem dedos à procura de sua pele.
Queime-os.
A voz de novo. Não era a dele, mas era conhecida. Tentou localizá-la, mas, o que quer que ela fosse, estava agora perdida no caos de outras vozes.
— Como? — berrou ele.
Alguém rastejava para perto dele, um rosto tenebroso com o maxilar escancarado. Cal soltou o cotovelo no nariz da mulher, nocauteando-a. Isso acabou sendo bom, porque os outros furiosos não conseguiam passar pelo corpo dela. Mas eles continuavam se espremendo por todos os demais lados, beliscando e mordendo, enquanto a mesma voz continuava clamando: queime-os, queime-os, queime-os.
Combustível. Era isso! Estava sob um carro, e em algum lugar ali ficava o tubo que levava combustível ao motor. Não entendia muito de carros, mas não era preciso ser engenheiro para saber que, se você danificasse vários canos, alguma coisa inflamável começaria a vazar dali.
Fez um esforço para se virar e ergueu a mão enquanto algo mordia sua perna. Havia dezenas de tubos, canos enormes e outros menores, mais moles. Pegou um desses e puxou com força. O cano resistiu, mas Cal não o soltou, retorcendo-o com toda a força até arrancá-lo do lugar. Escorreu um fluido dali, mas não era gasolina: Cal percebeu pelo cheiro. Procurou outro. Estava escuro demais para enxergar, e por duas vezes o garoto sentiu uma mão agarrar seus dedos, conseguindo se desvencilhar por pouco.
— Droga! — disse ele. — Qual é? Qual é?
Outro cano, e, desta vez, quando Cal o tirou do encaixe, o cheiro pungente de combustível invadiu suas vias aéreas. Teve vontade de vomitar ao sentir o fluxo constante de combustível nas roupas, que formaram uma poça debaixo dele. Isso era preocupante, porque, mesmo que achasse um jeito de produzir uma faísca, seria queimado vivo pela bola de fogo.
Existe um jeito, disse a voz. E Cal de repente viu de novo o restaurante em Fursville, as velas. Pôs a mão no bolso, sentindo a caixa ali. Fósforos. Pegou-os. Algo bateu em seu braço, e eles quase caíram, mas Cal segurou firme a caixinha, abrindo-a e tirando um fósforo.
Ainda havia o pequeno detalhe de ser queimado vivo.
— Pense! — gritou, a voz se perdendo em meio aos gritos à sua volta.
Precisava se mover de novo, ir para o carro seguinte. Segurou no veículo, usando-o para se impulsionar para trás. Outra vez havia furiosos no caminho, mas o espaço entre os carros era apertado demais para que o segurassem com força. Ele foi se arrastando, a multidão atrás, grudada nele como larvas em carne podre.
Esfregou o fósforo na caixa, uma, duas, três vezes, até que se acendesse. Tomando cuidado para não jogá-lo em si mesmo, lançou o palitinho em chamas para o lugar de onde tinha vindo. O palito quicou em um pneu, depois pareceu prestes a se apagar, e enfim pousou na sarjeta, em uma poça de gasolina.
A escuridão explodiu em luz, cada pedaço de metal abaixo do carro, cada rosto retorcido, cada unha ensanguentada revelada em detalhes inacreditáveis. As chamas se espalharam rápido, envolvendo as pessoas mais próximas do carro. Um dos homens que rastejava sob ele perdeu o rosto para o fogo, mas, mesmo naquele inferno, mesmo enquanto os olhos derretiam, ele continuava furioso.
Os sapatos de Cal pegaram fogo, e ele agitou as pernas para apagar as chamas. Não havia ar; seus pulmões estavam tomados por fumaça e pelo forte cheiro de carne queimada.
Houve uma explosão no carro da frente, quando seu tanque de combustível pegou fogo: a onda de choque fez a multidão voar. Era a chance dele; era agora ou nunca. Rolou para o lado, socando as pessoas no caminho, atacando olhos, gargantas, tudo que encontrasse pela frente, até que o céu se abrisse.
Já estavam sobre ele antes mesmo que conseguisse se levantar, mas ele se lançou para longe, para a fumaça, assim não o veriam. Colidiu com uma figura flamejante e empurrou-a enquanto outra explosão fazia a rua estremecer. Corria agora, um trote trôpego e arrastado, mas, caramba, era muito bom estar se mexendo. Tinha a sensação de ter escapado de seu caixão. Baixou a cabeça: nada funcionava exatamente como deveria, mas cada passo desajeitado o levava para mais longe da matilha.
Foi só quando não sentia mais o calor do fogo nas costas que arriscou se virar para trás. A rua estava um caos, com pelo menos quatro ou cinco dos carros estacionados em chamas. A fumaça era espessa demais para deixar ver algo a mais, mas Cal distinguiu uma dezena de figuras ali, corpos vestidos de fogo da cabeça aos pés, ziguezagueando em volta uns dos outros, quase se batendo, como dançarinos. Mesmo naquele momento tentavam persegui-lo, e Cal sentiu certa gratidão pela Fúria, pois aqueles seres jamais tomariam consciência do horror da própria morte. Uma criatura incandescente caiu de joelhos, e mais outra, e a dança chegava ao fim. Porém, outras figuras abriam caminho na ondulante cortina negra, silhuetas pretas de fuligem que tropeçavam na direção dele.
Mas não o alcançariam. Nem agora, nem nunca. Cal se virou, outra vez preparando-se para correr, enquanto aquela mesma voz baixinha surgia de novo em seu crânio.
Queime-os. Queime-os todos.
Rilke
Great Yarmouth, 8h52
— Queimar quem, irmãozinho?
Schiller estremeceu como se tivesse sido acordado de um sonho. Umedeceu os lábios, como se para apagar qualquer vestígio das palavras, e fitou Rilke com olhos grandes e tristes. Ainda andavam ao longo do litoral, deixando uma vasta camada de pó no caminho. Não tinham visto mais do que um punhado de gente desde a última cidadezinha, no camping. A notícia de que algo ruim se aproximava devia estar correndo.
Não, algo bom, pensou ela. Algo maravilhoso.
— Fiz uma pergunta, Schiller — disse ela. O irmão tinha começado a sussurrar aquelas palavras alguns minutos antes: queime-os, queime-os, como se recitasse um mantra. Rilke presumiu que ele estivesse falando dos humanos. Era assim que ela havia passado a chamá-los, sabendo que já não era um deles e que o propósito de sua missão era enfim compreendido por Schiller. Porém, havia algo na urgência com que ele falava, e no modo como seus olhos iam de um lado para o outro, vendo um mundo que ela não era capaz de ver, o que a fez pensar que ele escondia algo. — Queimar quem?
— Ninguém — disse ele. — Quer dizer, todo mundo. Desculpe, eu nem sabia que estava falando alguma coisa.
Ela continuou encarando-o, até ele virar o rosto e mirar a água tranquila, cor de ardósia. Ele ruminava algum pensamento, Rilke tinha certeza. Conhecia o irmão melhor do que ele conhecia a si mesmo, e havia algo dentro daquela cabecinha que ela queria que Schiller colocasse para fora.
— Schill, não vou perguntar de novo.
— Eu... — Ele chutou a areia molhada; montinhos se agarraram ao seu calçado. Em seguida, levantou a cabeça. Não havia fogo em seus olhos, mas de certo modo eles pareciam mais luminosos. — Não é nada, de verdade. Só estou cansado.
Ela abriu a boca para voltar a pressioná-lo, mas desistiu. Estavam todos cansados. Exaustos, para dizer a verdade. Schill, ela, Marcus e Jade, que caminhavam atrás com o novo garoto entre eles. Era incrível não terem todos caído duros de tanta fadiga.
— Haverá tempo mais do que suficiente para dormir — falou ela. — E um mundo inteiro no qual repousar nossas cabeças. Imagine só, Schiller, como vai ser silencioso. Como vai estar vazio.
Ele fez que sim com a cabeça, encarando os pés enquanto os arrastava pela praia. Era enfurecedor, pensava Rilke, que o irmão tivesse voltado ao seu eu de sempre. Por que não podia ser um anjo o tempo inteiro? Por que ela tinha de aguentar esses choramingos entre as exibições de fúria divina? Ela sabia o motivo: estava claro pela ausência de cabelos acima da orelha esquerda dele, no brilho ceroso da pele. Fogo demais acabaria por matá-lo.
— Mais uma — disse ela. A praia larga e arenosa levava a uma cidade, aparentemente grande. Um aglomerado de casas se estendia à direita deles, e, do outro lado, havia vários píeres e calçadões assolados por torres. — Você pode acabar com este lugar?
Schiller pareceu encolher diante da ideia, as costas encurvadas como se o mundo inteiro se apoiasse nelas. Parecia pronto a se reduzir a pó e areia. Era patético. Onde estava a criatura dentro dele? Onde estava o anjo? Rilke sentiu a raiva fervilhar e subir pelo esôfago, e por um instante enxergou tudo branco. Schiller deve ter pressentido: ele conhecia o temperamento dela o bastante para ter medo dele, e rapidamente assentiu com a cabeça.
— Então acabe.
Em algum lugar, lá longe na praia, uma pipa de um amarelo vivo focinhava o céu como um peixe faminto. Talvez a notícia não tivesse chegado tão longe quanto ela achava. Talvez as pessoas não tivessem ouvido falar de Hemsby, de Caister. Bem, logo saberiam.
O mundo irrompeu em cores quando Schiller se transformou: línguas de fogo azul e alaranjado lambendo a praia, congelando a areia úmida e espalhando um gelo parecido com seda até a beira d’água. Estava ficando mais fácil para ele, percebeu Rilke. Ele nem franzira o rosto quando as asas se desdobraram às suas costas, velas de pura energia que emitiam um pulsar ininterrupto, o qual fez os ossos dela zumbirem como um diapasão que jamais esmorecia. Os olhos dele, com o contorno avermelhado, irromperam, e a luz ali dentro era como pedra derretida, cuspindo e transbordando por seu rosto.
Schiller começou a andar — a flutuar — em direção ao mar, a luz como gavinhas de uma planta enrolando-se a partir do chão para tocar seus pés. A água fugiu dele como um gato selvagem, encolhendo-se em movimentos desesperados, sibilando e soltando fumaça. Seu fogo era frio, mas ele tentava outra coisa, algo novo. Como é, irmãozinho, pensou ela, querer que o mundo acabe e vê-lo obedecer; espreitar a essência das coisas, as órbitas giratórias de que somos todos constituídos, e arrancá-las de nosso interior?
Schiller abriu a boca e pronunciou algo que não era uma palavra, mas poderia acabar com o mundo. Ela não viu, mas ouviu, ou, melhor, sentiu, porque o som da voz dele era tão descomunal que os ouvidos dela quase não eram capazes de registrá-lo, como quando um órgão de igreja toca uma nota subsônica. Mas aquilo crepitava dentro de sua cabeça, de seu estômago, dentro de cada célula, forçando-a a ficar de joelhos.
O mar se levantou, um paredão d’água espesso como pedra, tão imenso e tão repentino que Rilke deu um grito. A vertigem atingiu-a como um soco no estômago: a visão do oceano suspenso, o murmurar insuportável de um bilhão de litros de água erguidos contra a vontade, era demais. Precisou desviar os olhos, encolher-se, sem conseguir impedir os gritos que se desatavam de seus lábios. O chão tremia, e ela esperava que ele se abrisse, se desintegrasse ao toque de Schiller e os imergisse em trevas.
O paredão de água emitiu um ruído como o de um milhão de trovões estrondando ao mesmo tempo, a areia tão agitada que saltou meio metro. Não ver era pior do que ver, e Rilke espiou com os olhos semicerrados, vendo Schiller, seu menino incandescente, de pé diante da onda, que se erguia acima dele cinquenta, cem metros... Era impossível dizer. Um ou outro dedo de luz solar jorrava através dela, colorindo a água com um tom que Rilke jamais vira, um verde profundo e enraivecido, com pontos que poderiam ser peixes, barcos, pedras ou pessoas. O mar se revirava, se enfurecia, uivando de raiva com a maneira como Schiller o tratava, mas nada podia impedi-lo.
Schiller virou-se, a boca ainda aberta, ainda falando naquele sussurro surdo, embora ensurdecedor, insuportável. Em seguida, ergueu as mãos para a cidade, e tirou a coleira de seu novo bicho de estimação. A água afluiu ao lado dela, acima dela, um túnel de ruído e movimento que parecia não ter fim.
Mas terminou. A agitação e os estrondos pouco a pouco cederam, deixando restar apenas um zumbido no ouvido de Rilke. Ela levantou o rosto e viu a praia arruinada, despojada de areia até a pedra branca feito osso, e, além, uma linha negra e turva apagando o horizonte em movimentos frenéticos e desesperados, deixando rastros de espuma que tentavam alcançar o céu. Ouviu-se outro som atrás dela: a explosão sônica do oceano deslocado preenchendo o espaço criado por Schiller. O oceano chicoteava e cuspia na direção deles como se quisesse vingança, mas deteve-se contra a bolha invisível de energia que os cercava.
Foi como se mil anos houvessem passado antes que o mar se aquietasse de novo, sua cólera transformando-se em uma descrença silenciosa e perplexa. Rilke tentou ficar de pé, o chão inquieto espalhando-se sob ela, fazendo-a perder o equilíbrio. Schiller não deu sinal de voltar a ser o menino, pairando diante dela, aqueles olhos como dois portais observando o restante do tsunami ser absorvido pela terra.
— Muito bem, Schiller — disse ela, e, antes que percebesse, uma risadinha escorregou de sua boca. Olhou para trás para ter certeza de que os outros ainda estavam ali; Marcus e Jade devolveram seu olhar, os olhos arregalados, e ela se perguntou o quanto deles permanecia intacto; se haveria mesmo algo dentro da cabeça dos dois para que os anjos possuíssem. — Prontos para caminhar?
Marcus concordou com um gesto lento de cabeça, como se cada movimento exigisse a última gota de sua inteligência. Jade nem respondeu.
— Vamos para longe daqui — disse ela, enfim conseguindo levantar-se. — Vamos achar um lugar para descansar. Acho que você merece, Schill.
Ele ergueu a cabeça, os olhos derretidos fixos nela. E ela se perguntou quanto controle ele tinha. Não sobre a terra, porque já estava claro pelo que tinha acontecido, mas sobre ela. Ela o havia treinado bem ao longo dos anos, como se treina um cão para saber quem está no comando. Porém, quantos cães, se soubessem que são mais rápidos, mais fortes, mais mortíferos que os donos, continuariam a se deixar dominar? Por favor, pensou ela, enviando a mensagem para um lugar bem profundo dentro de si, para a parte da alma que seu anjo ocupava, venha logo, porque não vamos controlá-lo para sempre. E o que aconteceria então? Qual seria seu destino se Schiller se voltasse contra ela?
Ela o observou flutuar e, pela primeira vez, perguntou-se com quem ele estaria falando — queime-os —, e, mais importante, de quem estaria falando. E, ao fazer isso, deu-se conta de que, pela primeira vez na vida, estava com medo do irmão.
Brick
East Walsham, 9h03
Não eram as explosões que o preocupavam, e sim a suave movimentação dentro da igreja. Brick balançou a cabeça para mandar o torpor para longe após perceber que quase adormecera na imobilidade incomum do átrio. Seu cansaço era como estar vestido com um paletó de chumbo, que o empurrava para baixo, cada movimento cem vezes mais difícil do que deveria ser.
O ruído voltou, rápido, baques que ecoavam parecendo ser passos. O garoto apoiou uma das mãos contra a parede e se esforçou para ficar de pé, esfregando os olhos até que pontos de luz dançassem à sua frente. Havia outra porta na extremidade oposta àquela pela qual tinham entrado, igualmente antiga, igualmente sólida. Estava uns três ou cinco centímetros entreaberta, uma corrente de ar fresco passando pela fresta.
Uma explosão distante ribombou pela pedra ancestral. Mas que droga era aquilo? Parecia que alguém estava bombardeando a cidade. É Cal, pensou Brick. É o som da morte dele. Mas ele não tinha sentido a morte de Cal, como tinha sentido a de Chris, por exemplo, no campo ao lado de Fursville: aquela súbita angústia interior, como se um pedaço dele tivesse sido arrancado. Talvez, então, estivesse vivo — por favor, por favor, por favor —; talvez Brick não estivesse sozinho.
Por um instante, cogitou deixar Daisy onde estava, apoiada contra a porta, mas desistiu da ideia. Havia a possibilidade de ter de sair logo dali. Ela parecia tão morta. Adam sentou-se ao lado dela e encarou Brick com uma expressão que era metade medo, metade ódio. Bom, que o garoto se danasse; não era trabalho dele deixá-lo feliz. Adam não tinha nem ajudado a carregar Daisy. Não tinha feito nada.
Brick foi até a porta e espiou a penumbra do outro lado. Divisou umas colunas de pedra e a última fileira dos bancos de madeira, mas foi só. Havia vitrais enormes, mas pareciam reter o dia do lado de fora, apenas um fio de luz cor de vômito conseguindo entrar. Os santos de vidro, ou o que quer que fossem, encaravam Brick com olhos pétreos, e ele quase esperava que começassem a avisar a qualquer momento: Tem alguém aqui, tem alguém aqui! Usou um joelho para abrir a porta, entrando na igreja.
Era maior do que parecia do lado de fora, muito maior. Devia haver quinze fileiras de bancos até o altar. Aquilo ali fedia a frio, pedra, umidade e séculos sem fim. Brick franziu o nariz, esperando ouvir gritos, esperando que uma criatura viesse correndo dentre os bancos, querendo seu sangue. Ou talvez ali as coisas fossem diferentes. Afinal, era uma igreja. Não se podia dizer que Brick fosse alguém que tivesse fé, mas sempre mantivera a mente aberta. É que parecia meio idiota presumir qualquer coisa se não havia um jeito de saber ao certo, pelo menos não antes de morrer. Então, talvez Cal tivesse razão e fosse ali que encontrariam respostas.
Algo moveu-se à frente, uma figura escura, no espaço atrás do altar. Ela se arrastou para um lado, o som de pés passando sobre pedra, e o estômago de Brick quase subiu pela garganta e saiu pela boca. Aquilo o fez pensar em Lisa — não pense, não pense nela — presa no porão, um mero saco de ossos quebrados no chão, ainda tentando atacá-lo, ainda tentando feri-lo. A figura tossiu e, para total alívio de Brick, falou.
— Olá? — A voz parecia ter tanta idade quanto a igreja. — Posso ajudar?
— Não se aproxime — disse Brick. — Fique exatamente onde está.
— Como? — A figura aproximou-se do altar, adentrando um facho de luz turva e multicolorida, revelando a roupa preta de um sacerdote, o colarinho branco. Era um homem roliço, de mais idade, completamente careca e de óculos, os quais tirou, limpou na manga e pôs de volta.
— Estou falando sério — disse Brick. — Fique aí.
— Não sei quem você pensa que é, meu rapaz, mas não gosto que falem assim comigo. — O sacerdote deu um passo desafiador, afastando-se da plataforma, e Brick ergueu Daisy contra o peito.
— Mais um passo, e juro por Deus que vou fazer mal a ela — falou, sem saber o que mais poderia fazer. — Vai, pode me testar. Mas, se alguma coisa acontecer, a culpa é sua.
Percebia o tremor de desespero na própria voz, e o sacerdote também deve ter percebido, porque ergueu as mãos e recuou para o altar. Havia uns bons vinte e cinco ou trinta metros entre eles. Desde que ninguém cruzasse a linha invisível da Fúria, os dois se dariam muito bem.
— Sente-se — disse Brick.
O homem ofegou ao abaixar-se até o degrau mais alto.
— Hoje em dia, isto não é tão fácil para mim — disse ele, com uma risada nervosa. — Mas levantar é que é difícil mesmo.
— Então não se levante — retrucou Brick. — Tem mais alguém aqui?
— Só eu — respondeu o sacerdote, balançando a cabeça. — Margaret tira folga na segunda; ela vai a Norwich ver nossa filha, nossos netos. E...
— Melhor não mentir para mim — disse Brick.
— Não estou mentindo.
A última fileira de bancos estava bem na frente dele, e Brick depositou Daisy em um deles. Ali, cercada de pedra, ela parecia ainda mais fria do que antes.
— Sente-se ali — disse ele a Adam, apontando o espaço ao lado dela. — Não diga nada. — O menino obedeceu, e Brick envolveu-se com os próprios braços, tentando conter o tremor. Se o sacerdote estivesse falando a verdade, então estariam em segurança ali, ao menos por ora.
— Está tudo bem com ela? — perguntou o homem. — Com a menina? Ela parece doente. Se quiser, posso dar uma olhada nela. Eu era médico, muitos anos atrás, antes de encontrar a fé. Fui médico no exército.
Essa última palavra foi pronunciada com um tom que pareceu de advertência, mas Brick ignorou-a. Andava de um lado para o outro atrás dos bancos, tentando esboçar um plano. Se Cal estava morto, cabia a ele descobrir o que fazer a respeito de Daisy e Adam, e de Rilke e seu irmão, e também do homem na tempestade. A ideia de que aquilo tudo dependia dele bastou para fazer seu coração ficar do tamanho de uma uva-passa e cair no poço de seu estômago. Ele bateu na testa com a palma da mão.
— Qualquer que seja o problema — disse o sacerdote —, deixe- -me ajudar.
— Calado! — disse Brick, apontando a cortina decorativa suspensa atrás do altar, borlas de corda pendendo de cada lado. — Preciso que você se amarre. Use aquilo.
— Meu rapaz, por favor...
— Rápido, antes que eu perca a cabeça! — O sacerdote fez menção de se levantar, e Brick quase guinchou para ele. — Não mandei se levantar!
Calma, pelo amor de Deus, ele é só um velho, não vai fazer mal a você. A menos que chegasse perto demais, claro; nesse caso, partiria para cima de Brick com aquelas mãos enrugadas e abocanharia sua garganta com a dentadura. Sim, estava sendo mais grosseiro do que nunca, mas não podia arriscar. Observou o sacerdote inclinar-se para trás e soltar as cordas, tendo dificuldade para atar os punhos.
— Um momento — disse Brick. — Amarre a corda no altar primeiro. Ao balaústre ali. Só um punho basta, não se preocupe com o outro.
O homem fez como ele mandou, dando a volta na estaca de madeira do balaústre antes de atá-la com firmeza em volta do punho esquerdo. Deu um safanão para mostrar que estava apertada, e em seguida deu de ombros para Brick.
— Mais um nó.
— Se estiver em dificuldades, sempre existe uma saída — disse o sacerdote, obedecendo às ordens. — Por favor, rapaz, permita que eu ajude você, que eu ajude a menina, antes que as coisas saiam do controle.
— Saiam do controle? — disse Brick, com uma risada amarga. — Cale a boca um instante! Preciso pensar.
— Isso tem a ver com o ataque? O ataque em Londres?
— Ataque? — perguntou Brick. — Do que é que você está falando?
— Você não sabe? Passou no noticiário a manhã inteira. Houve um ataque terrorista na zona norte de Londres, uma espécie de bomba. Coisa grande. Ainda estão tentando entender o que foi. Estamos todos com medo, mas vamos passar por essa juntos.
Brick levou um instante para entender. Não era uma bomba, mas uma tempestade, e um homem dentro dela que queria devorar o mundo. Não respondeu; limitou-se a enxotar as palavras do sacerdote como faria com um inseto. Prioridades. A primeira coisa que precisava fazer era comer algo. Depois que houvesse comida em sua barriga, e também um pouco de água, poderia pensar direito.
— Pelo menos me diga seu nome — disse o sacerdote. — E o nome dos seus amigos. O meu é Douglas. Pode me chamar de Doug.
— Tem alguma comida aí, Doug? — perguntou ele.
— Na igreja, não, Margaret não deixa. Mas tem bastante na casa paroquial, do outro lado do pátio. Se me deixar sair daqui, ficarei contente em mostrar onde é.
— Você fica aí — disse Brick, agarrando as costas da camiseta de Adam e colocando-o de pé. — Vou levar o menino e, se eu voltar e você tiver se mexido, juro por Deus que vou fazer uma coisa ruim. Fui claro?
Sentia-se um ladrão de banco mantendo reféns, e odiou a si mesmo por isso, mas que escolha ele tinha? Já estava correndo um risco enorme ao deixar Daisy, porque, se o sacerdote se livrasse da corda e tentasse ajudá-la, acabaria fazendo a menina em pedacinhos.
— Vou perguntar de novo: fui claro?
— Sim — respondeu Doug, anuindo com a cabeça. — Não vou me mexer. Estou do seu lado, rapaz, o que quer que esteja tentando fazer. Está tudo na cozinha; a porta da frente está aberta, a gente nunca tranca.
Brick deu uma última olhada em Daisy e, em seguida, partiu, puxando Adam ao lado pelos cabelos da nuca. O garotinho tentava se soltar sem tanta vontade assim, fazendo tanto alarde que Brick só ouviu o barulho de passos quando a porta da igreja começou a se mover para dentro. Ele recuou, quase caindo em cima de Adam. A luz do sol concentrou-se em uma figura, fazendo reluzir o sangue nas roupas e na pele, transformando-a em mais um santo de vitral com bolsões de pedra no lugar dos olhos. A figura cambaleou para dentro da igreja, arrastando consigo um miasma de fumaça.
— Cal?
O garoto tropeçou, quase caindo, e Brick pegou-o desajeitadamente por baixo dos braços. Arrastou-o para dentro da igreja, amparando-o até que ficasse sentado contra a parede dos fundos. Marcas de arranhões cobriam seu rosto como veias, cobriam também o pescoço e os braços, e os tênis estavam pretos e deformados, como se tivessem sido queimados.
— Cal? Pelo amor de Deus, está tudo bem com você?
Era uma pergunta idiota, mas, depois de alguns segundos, o olhar incerto de Cal enfim se fixou em Brick, e ele assentiu com um movimento. Abriu a boca, enunciando uma percussão de notas secas do fundo da garganta.
— Tudo... Tudo bem. Frio?
— Hã?
— Eu estou frio? — perguntou Cal, os olhos como um poço de medo.
Brick entendeu o que ele estava perguntando e pousou a mão em sua testa. A pele estava quente.
— Não, você está fervendo.
Cal soltou um suspiro de alívio, bolhas de sangue estourando nos lábios rachados.
— Água... Preciso de água, cara.
— Sim, claro. Como está lá fora? Estamos em segurança?
Cal fez que sim com a cabeça.
— Melhor estarmos mesmo. — Foi tudo o que Brick conseguiu dizer. Depois endireitou as costas, perguntando-se se deveria pegar com a mão um pouco de água benta ou algo assim, antes de concluir que isso traria azar. E azar era a última coisa de que precisava agora. Foi até o átrio e apontou um indicador para o sacerdote. — Volto num instante. Se tentar fugir, ele vai fazer mal a você, entendeu?
Cal não parecia estar em condições de fazer mal nem a uma mosca, mas o velho parecia resignado com o fato de que ficaria ali por bastante tempo.
— Adam, sente-se e não se mexa. — Brick completou.
Foi até a porta e espiou pela fresta. A luz do sol derramava-se sobre as árvores, compondo uma iluminação dourada digna de uma discoteca na grama e nos túmulos por ali, embora o cemitério estivesse deserto. Não havia nada à frente além da rua, por isso partiu para a direita, unindo-se à parede coberta de liquens da igreja, virando no canto e vendo outra construção bem perto. Também era feita de pedra, com janelas de metal e telhado de palha. Parecia ter saído de um conto de fadas.
Verificando mais uma vez se a barra estava limpa, correu pelo cemitério, virou a maçaneta da construção e entrou. Ali estava quase tão frio quanto dentro da igreja, mas havia um odor no ar, de uma espécie de sabão, que o fez pensar na mãe, morta havia muito tempo, enterrada em uma igreja exatamente como aquela, perto de King’s Lynn, onde a família dela morava. Era doloroso demais pensar naquilo, então expulsou os pensamentos da mente, usando a raiva para enxotá-los, como sempre fazia.
A cozinha era pequena, mas fácil de achar. Havia uma cesta de pão na mesa, e ele pegou uma fatia, branca e macia. Enquanto a mastigava, abriu a geladeira, tirando um pouco de presunto e uma fatia de cheddar. Engoliu tudo, um gole de leite ajudando a comida a descer. Havia uma garrafa de cerveja Golden Badger no fundo da geladeira, e ele a pegou, arrancando a tampa na beirada do balcão. Nunca tinha sido de beber muito — havia visto o que a cerveja e o uísque barato tinham feito com o pai —, mas havia certas ocasiões que exigiam álcool. Aniversários, casamentos, e ser possuído por anjos que querem que você salve o mundo de uma genuína força maléfica.
Sorveu dois goles profundos e longos, deixando a mente ficar quieta e silenciosa. Meu Deus, qual fora a última vez que tinha feito aquilo? O silêncio era tão avassalador que chegava a dar nos nervos, beirando a ameaça, e ele se endireitou, limpando a garganta e dando mais um gole na cerveja espumosa. Precisava de água.
Andou até a pia, notando a TV portátil sobre o balcão. Talvez devesse ver o noticiário. Se aquilo, o homem na tempestade, estava realmente em Londres, e achavam que se tratava de um ataque terrorista, aquilo estaria sendo transmitido o tempo todo, em todos os canais. Levou o dedo até o botão de ligar, mas parou na metade do caminho. Será que queria mesmo ver aquilo? Queria mesmo ver aquela coisa que eles deveriam encontrar e combater? Até agora, o homem na tempestade — palavras de Daisy, ele sabia, mesmo que nunca as tivesse dito — estava só na sua cabeça. Vê-lo na tela o tornaria real.
Manteve a mão erguida por mais um instante, depois apertou o botão. Era uma TV antiga, que precisou de alguns segundos para esquentar, a tela cinza pouco a pouco dando lugar a um programa infantil. Um pinguinzinho com um bico laranja engraçado andava de moto em volta de um iglu, buzinando. Aquilo era boa notícia, não era?
Apertou o botão para passar os canais, e era como se a televisão fosse uma barragem que acabara de se romper, com um milhão de toneladas de água imunda jorrando da tela, inundando a cozinha, a casa paroquial, o cemitério e tudo o mais, enchendo o nariz, a boca e os pulmões de Brick. Ali ele viu, em meio às trevas, as imagens granuladas de um vasto vórtice giratório de fumaça e detritos, suspenso sobre a cidade, acima dos arranha-céus; viu as nuvens de matéria espiralando, todas sendo sugadas para o centro da tempestade, para...
Havia um homem ali, só que não era um homem. Como poderia ser? Era grande demais, o corpo do tamanho de um prédio, mas ali estava ele, a boca sendo o núcleo daquela abominação, o ponto de não retorno ao centro do buraco negro. Mesmo àquela distância, mesmo na telinha da TV, Brick sentiu a força daquela coisa, a genuína e incansável força daquela coisa que ia desintegrando o mundo pedaço por pedaço.
Caiu de joelhos, a garrafa escorregando da mão, esquecida. E, de algum modo, de um modo inacreditável, o homem na tempestade pareceu vê-lo ali, encolhendo-se naquela cozinha, porque seus olhos sem vida giraram nas órbitas, enchendo-se de algo que não era riso, não era loucura, não era júbilo, mas sim uma combinação de tudo isso. Ele olhou para Brick e falou, uma voz perdida em meio ao estrondo do furacão, abafada pelo ribombar de sua fúria; uma voz que não falava língua nenhuma que existisse na Terra; mas uma voz que ele compreendia com total facilidade, porque era como se houvesse se infiltrado em seus ouvidos e soprado as palavras espinhosas diretamente em seu cérebro.
Você chegou tarde demais.
O Outro: II
Se eu acaso morrer, de mim pensai somente:
há um recanto, numa terra estrangeira,
que há de ser a Inglaterra, eterna, eternamente.
Rupert Brook, “O soldado”
Harry
Londres, 9h14
O estômago do capitão Harry Botham virou do avesso, como sempre virava na hora da decolagem, mas já tinha voltado ao normal quando Harry manobrou o helicóptero, tirando-o da Base Naval de Portsmouth. O monstruoso motor Rolls-Royce do Apache rugia, e o estrondo das hélices se tornou tão habitual quanto batimentos cardíacos conforme o chão encolhia e o céu se abria.
— Coordenadas no sistema — disse Simon Marshall. O atirador estava sentado à frente e abaixo dele, mas sua voz vinha dos fones de ouvido no capacete de Harry. — Norte. Em vinte minutos estaremos lá.
Harry verificou o monitor de alerta e puxou o acelerador, levando a máquina a mil pés e a duzentos e noventa quilômetros por hora. A luz se derramava na cabine como ouro líquido, o visor escurecendo automaticamente para anular o ofuscamento. Dois pontinhos apareceram no radar, movendo-se rápido, e logo depois um par de caças da Royal Air Force zuniu acima. Seus rastros eram a única mácula contra o azul, em um dia de verão absolutamente perfeito. Dias como aquele eram raros, mesmo no verão — Harry estava inclusive tomando um pouco de sol quando fora chamado. Por mais que ele gostasse de voar, não teria reclamado de algumas horas a mais de folga.
— São os chineses, estou dizendo! — disse Marshall, lendo a mente dele. — Enfim decidiram que querem mandar no mundo.
Harry deu uma fungada.
— Não seja tolo — respondeu, a voz sendo transmitida para os próprios ouvidos e soando como se não fosse real.
— Mas o que é isso, então? — disse o outro. — Um exercício?
— Falaram que não era um exercício — respondeu Harry. Seu superior tinha deixado isso muito claro, mas as instruções apressadas do homem não haviam dado mais informações além de que algo acontecia em Londres. Algo importante. — Provavelmente terroristas. — Harry deu de ombros.
— Eles que se preparem para a minha chegada! — disse Marshall, dando um tapinha no painel de controle.
Harry sorriu. O Apache estava com carga completa: uma metralhadora de trinta milímetros sob a fuselagem, capaz de despejar seiscentos e vinte e cinco tiros por minuto, e uma bela combinação de mísseis Hydra e Hellfire nos pilones. O que quer que os aguardasse, estava prestes a voar em pedaços.
Mas por que ainda havia um vestígio de desconforto no estômago dele, desconforto que não tinha nada a ver com o movimento do helicóptero? Havia passado dois períodos servindo no Afeganistão, e nunca se sentira assim, nem quando fora abatido por uma granada lançada por um foguete em Helmand e precisara fazer um pouso forçado. Naquela ocasião, a adrenalina sugara cada gotícula de medo do organismo dele, transformando-o em uma máquina. Agora era diferente: ele se sentia humano demais, vulnerável demais. Talvez porque sobrevoasse a pátria, vendo os campos e as cidadezinhas da Inglaterra flutuando abaixo como detritos em um rio lento e esverdeado. Talvez fosse porque voasse para Londres, a cidade onde vivera. Engoliu mais ar, subitamente desconfortável no assento.
Tudo o que lhe haviam dito confirmava que ocorrera uma espécie de ataque à capital. A ordem de partir para o combate viera do próprio general Stevens, o que era um indício da gravidade do que quer que houvesse acontecido. Aquele cara só saía da cama por uma guerra mundial.
— Identificar e interceptar o alvo — ele havia dito pelo rádio. E pronto: eram essas as ordens, cinco palavras que Harry deveria obedecer, mesmo que isso significasse arriscar sua integridade física.
— Não cabe a nós entender por quê — falou para Marshall, lembrando o único poema que tinham decorado. Todos no pelotão dele o haviam decorado.
— A nós só cabe agir e morrer — concluiu Marshall. — É isso aí!
Harry verificou as coordenadas e deu um leve toque no manche para recolocar a máquina na trajetória correta. Sobrevoavam Guildford, a um ou dois minutos da autoestrada M25. O Apache ia comendo os quilômetros.
— Opa! — disse Marshall. — Mas que...
Harry mirou através da janela estreita, para além do leque de cores do monitor de alerta. Algo dominava o horizonte, um punho de fumaça negra. Uma turbulência fez o helicóptero oscilar, e Harry teve a súbita impressão de que aquele punho cerrado, com suas falanges, sacudia o mundo, tentando tirá-lo do eixo. Checou sua posição: ainda a mais de trinta quilômetros do objetivo, certamente longe demais para contato visual. Outra vez sentiu as vísceras revirarem, a mão tendo espasmos querendo dar meia-volta no helicóptero. Precisou forçar-se a continuar.
— Aquilo é... Aquilo deve ser gigante, Harry.
— Base, estamos vendo o objetivo — disse ele, sabendo que o centro de comando tinha uma linha aberta com o helicóptero. — Parece uma explosão. Como proceder?
Ouviu-se um sibilo agudo de estática, e em seguida a voz do subcomandante se fez ouvir:
— Como ordenado, capitão. Investigar e interceptar. Manter um perímetro de oito quilômetros. Não sabemos que perigo essa coisa representa.
— Entendido — disse ele, desacelerando o Apache e levando-a para dois mil pés. O que quer que estivesse lá embaixo, queria chegar o mais alto que podia sem entrar no espaço aéreo da Força Aérea Real. Nada o mataria mais rapidamente do que uma colisão em pleno ar com um caça. — As armas estão prontas?
Outra pausa. Em seguida:
— Armas prontas.
Harry sentiu a pele esfriar e formigar. Qualquer esperança de que aquilo fosse um exercício tinha acabado de ser extinta: não havia a menor chance de que deixassem as armas prontas para disparo acima da maior cidade da Europa a menos que aquilo fosse para valer.
A janela dianteira era tomada cada vez mais pela fumaça, tão espessa e escura que uma montanha de granito parecia brotar da cidade. Não, parecia mais que alguém tinha cortado um pedaço do céu. O visor polarizado compensava a falta de luminosidade, mas, mesmo assim, Harry se viu inclinando-se para a frente no assento, tentando entender o que enxergava.
— Não tem nada aqui — disse Marshall, a voz sussurrada no ouvido de Harry. — Meu Deus, não tem nada aqui.
Claro que tem alguma coisa, pensou Harry. Tinha de haver, com toda aquela fumaça. Só que não era fumaça, percebeu ele ao chegar mais perto. Eram coisas. Era uma nuvem espiralada de matéria: havia ali prédios, desfazendo-se em pedaços ao serem sugados para cima. Ele distinguiu figuras reluzentes que poderiam ser carros, e outras menores, mais escuras — não gente, não pode ser gente —, que se retorciam e se debatiam ao se erguer. O furacão girava incansavelmente, em um raio de oito quilômetros, talvez, sugando tudo para...
O que era aquilo? Havia uma forma distinta em meio ao caos. Tudo espiralava em volta dela, tal qual a água suja de um banho dando voltas em torno do ralo; ela disparava dedos de relâmpago que eram escuros, e não brilhantes, deixando imensas cicatrizes negras nas retinas de Harry, que não piscava. Não ousava fechar os olhos nem por um instante, caso aquela coisa, aquele pesadelo inacreditável, viesse atrás dele. Apenas encarava o ser no centro da tempestade — porque era isso que era: um homem. Enorme, sim, e deformado, como se seu corpo fosse um balão que fora inflado até ficar irreconhecível, mas, ainda assim, inconfundivelmente, humano. E o pior era a boca dele, vasta e escancarada, inspirando tudo com um uivo infindo que podia ser ouvido mesmo com os motores do helicóptero em ação.
Harry vomitou antes que percebesse, tirando o bocal bem a tempo, o café da manhã atingindo a tela de vidro reforçado que o separava do atirador. O helicóptero virou com força, e o chão foi se avultando na janela direita.
— Caramba, Harry! — gritou Marshall, e Harry percebeu que havia soltado o manche. Pegou-o, reequilibrou o Apache e o deixou imóvel, limpando a boca com a mão livre. Cuspiu uma bola de ácido, o corpo inteiro encharcado de suor e o estômago retorcendo com violência.
Houve um lampejo de trovão quando um caça passou por cima: era o sibilar de dois mísseis Sidewinder sendo disparados. Os mísseis se precipitaram contra a noite matutina, colidindo com o centro da tempestade. Uma explosão borbulhou do caos, a onda de choque fazendo o helicóptero balançar. Mas o fogo não durou, sugado para dentro da imensa e sombria garganta do homem e, então, foi extinto. Na verdade, pareceu até fazer o tornado girar mais rápido, com mais vigor, se despregando mais do chão e sendo levado pelo vórtice. E o homem continuava ali, seus olhos como dois poços de breu a fervilhar, a boca sugando tudo o que podia.
— Fogo! — gritou Harry, sentindo a loucura se esgueirar no fundo da mente. Tinha de destruir aquela coisa, não para salvar Londres, mas porque compreendia que, se precisasse olhá-la por mais tempo, seu cérebro entraria em curto-circuito. — Fogo, cacete!
Marshall não hesitou, mandando ver na metralhadora. Um chacoalhar ensurdecedor preencheu a cabine, e as rajadas abriram caminho em direção ao homem na tempestade. O fogo rasgou um pouco da cortina de detritos em espiral antes de achar o alvo, mas as balas de trinta milímetros desapareceram no morticínio. Ouviu-se um sibilar baixinho, e o helicóptero balançou quando quatro mísseis foram disparados. Harry contou os segundos — um, dois, três — antes que uma bola de ouro ondulante acendesse. Outra vez a explosão foi engolida, tragada pela cavernosa boca do homem, junto com a constante torrente de detritos. Marshall tentou mais uma vez, esvaziando a munição do Apache e transformando o céu em fogo.
— Não está funcionando! — disse o atirador.
Harry, porém, não ouvia. A fumaça se dissipava, e percebia-se que mais do mundo tinha sido extinto. Não era só a escuridão, o modo como as coisas sumiam na falta de luz; era o nada. Era o vazio total. Só de olhar aquilo a cabeça doía, porque não havia como compreender o que se via. Aquilo simplesmente não fazia sentido.
— Harry, tire a gente daqui! — gritou Marshall. Ele tinha se virado, com os olhos esbugalhados. — Harry!
Algo estourou, como um tiro de canhão, e o helicóptero começou a descer lentamente. Harry precisou de um instante para se dar conta de que era a mudança de pressão, com o ar sendo tragado pela tempestade. Estavam mesmo sendo sugados por ela, presos ao fluxo, com alarme demencial do helicóptero martelando no fone de ouvido. Marshall batia no vidro que os separava, mas Harry não conseguia despregar os olhos da janela. O helicóptero se inclinava para baixo, dando-lhe uma visão perfeita das ruas. Elas se fendiam, dissolvendo-se como esculturas de areia ao vento. Prédios, carros e pessoas, todos explodiam em pó, sendo sugados pelo furacão.
— Harry, por favor! — disse Marshall.
Harry sentiu o helicóptero resistir. Ele se virava devagar, os motores protestando, mas a força que os puxava era intensa demais. Parecia um barco indo para uma cachoeira. Não, parecia mais uma nave espacial sendo atraída para um buraco negro. Não havia nada que pudessem fazer, percebeu. Era o fim.
— Não cabe a nós perguntar por quê — disse ele.
O Apache balançava com tanta violência que a cabeça dele bateu no teto da cabine. O metal rangeu, e, em seguida, os rotores soltaram-se acima, girando para a escuridão. Marshall gania, e Harry arrancou o capacete, subitamente afogando-se no uivo da tempestade e na inspiração infinda do homem suspenso.
— A nós só cabe agir e morrer — prosseguiu ele, agora mais alto. — Não cabe a nós entender por quê, a nós só cabe agir e morrer — repetiu de novo e de novo, como um cântico, uma prece, enquanto a frente do helicóptero começava a se desfazer, espatifando-se em pedaços como um modelo em miniatura.
Depois foi a vez de Marshall, seus braços, pernas e cabeça se soltando, tudo suspenso contra o fundo negro do céu. Harry olhou para baixo e percebeu que não estava mais no helicóptero. Pedaços dele flutuavam à sua volta, suspensos na turbulência, uma milha acima do chão que ia sumindo. Tinha sonhado com isso quando criança, noite após noite — sonhado que podia voar. A lembrança apagou o medo, e, mesmo que estivesse vendo a própria carne começando a se desintegrar, camadas rosadas e depois avermelhadas, ele sorriu.
— Não cabe a nós entender por quê — disse, os lábios retorcidos.
Em seguida, sua mente rompeu-se em meio a um ruído límpido e à luz negra, e tudo o que era Harry Botham foi tragado pelo abismo.
Graham
Londres, 9h24
O pior de tudo era o barulho. Realmente ensurdecedor. Não ouvia as pessoas gritando, nem os motores ligados, tampouco o alarme dos carros ou a batida de metal contra metal nos cruzamentos, nem mesmo as explosões. Havia apenas a tempestade, um estrondo perpétuo que fazia as ruas tremerem, como se a cidade fosse uma coisa viva, com tremores permanentes de terror. O barulho era tão alto que Graham, ao atravessar a cidade, não vira mais do que meia dúzia de janelas ainda intactas, o vidro arrancado dos caixilhos pelo pulsar sônico vasto e ribombante que martelava as ruas. O pulsar produzia o mesmo efeito em seu cérebro, como se o som fosse algo sólido e vibrante, que buscasse a frequência correta para partir seus ossos e deixar seus miolos esparramados pela calçada.
Abriu caminho por uma multidão de turistas fugindo na direção oposta, e depois virou rumo a Millbank. Por um instante, surgiu, no espaço entre os prédios, uma imensa massa giratória que se enroscava e se espiralava em torno de um núcleo de trevas. Dali, a dezesseis quilômetros de distância, parecia algo entre uma nuvem de bomba atômica e uma tempestade; o céu estava inacreditavelmente escuro, como se um pedaço da noite tivesse se soltado e despencado em Londres. Porém, nas lacunas entre os detritos, e em meio aos náufragos de sua cidade, viu algo pior do que a escuridão. Viu os fragmentos extintos do mundo.
Alguma coisa acontecia ali, naquelas brandas explosões que se detonavam no meio da tempestade. Havia caças no céu, e também helicópteros, sendo tragados para o buraco como brinquedos em um rio. Graham virou a cabeça para frente e se concentrou no lugar para onde estava indo. Tinha levado — quanto tempo? — quase quatro horas para fazer o percurso de casa até Millbank. Precisara andar. A cidade estava atulhada de gente tentando fugir, ninguém indo na mesma direção. Todas as principais estradas estavam totalmente paralisadas por acidentes; os trens e o metrô estavam fechados — por isso as pessoas precisavam se deslocar a pé. Tinha a sensação de ter enfrentado cada um dos oito milhões de habitantes de Londres só para chegar a Thames House. Primeiro fora até Whitehall, onde ficava a Unidade de Contraterrorismo, mas Erika Pierce não mentira para ele: não havia ninguém ali. O MI5 era, na lógica, o próximo lugar a ser visitado, mas tinha a horrenda sensação de que, ao chegar lá, também não encontraria ninguém.
Todos fugiram, e você também deveria fugir, porque ela vai devorar você; a tempestade vai devorar você. Sabia que essa era a verdade; sabia que deveria se virar e ir embora. Tinha telefonado para David três horas antes e falado para ele ir para o sul; se possível, para fora do país. Com um pouco de sorte, David já teria chegado ao litoral e poderia cruzar o Canal e chegar à França. Ou talvez tenha ido para o outro lado, talvez tenha ficado preso e sido levado pela tempestade. Talvez esteja agora mesmo circulando o buraco, ou perdido dentro dele. E a ideia de David sendo tragado para o nada, sendo apagado como uma chama, sua essência se extinguindo, fez Graham ter vontade de morrer. Poderia ir também, telefonar no caminho, encontrá-lo em Calais e limitar-se a sobreviver. Faça isso, apenas faça isso.
Afastou as palavras, virando a esquina e vendo o rio bem à frente. Até a água estava agitada, as vibrações fazendo-a se espiralar e formar redemoinhos, cuspindo sujeira e impregnando o ar com o fedor do esgoto. O ruído era mais alto ali, ecoando de um lado a outro dos prédios sobre o aterro. Parecia uma vasta turbina sugando cada restinho de ar para dentro do motor. E, no entanto, também parecia outra coisa. Soava como trombetas, como um milhão de sirenes de guerra sendo sopradas nos céus acima de sua cabeça.
Era o som de Londres sendo digerida em vida.
Correu os últimos cem metros até Thames House e encontrou as portas principais abertas e desobstruídas. Não havia ninguém no saguão, só uma chuva de papéis no piso de mármore. Ao menos as luzes estavam acesas. Por sorte, o prédio tinha o próprio gerador de energia — aliás, vários —, porque, pelo que Graham via, a cidade estava às escuras.
Entrou no primeiro elevador usando seu cartão-chave da unidade antiterrorismo para ativar o painel de controle. Se ainda houvesse alguém ali, estaria no bunker do centro de controle de emergência: um procedimento-padrão em caso de ataque. Contou os segundos enquanto o elevador descia, perguntando-se até que ponto iria o poder dessa tempestade, já que podia ouvi-la reverberar tão abaixo da superfície, no balançar daquele elevador, na vibração ganida dos cabos de metal.
A porta deslizou para o lado e revelou a vasta sala sem divisórias. De início, Graham confundiu o movimento constante com gente, mas logo percebeu que eram apenas os monitores que cobriam cada parede e ficavam em cada mesa, exibindo imagens da cidade e da tempestade. Enxugou o suor da testa, perguntando-se como poderia cuidar daquilo sozinho, quando uma mulher apareceu. Ela desviou os olhos de uma pilha de documentos, franziu o rosto e, em seguida, abriu um sorriso enorme.
— Graham? Meu Deus, achei que ninguém fosse aparecer!
Ele reconheceu Sam Holloway, membro da equipe de decifradores de códigos do MI5. No ano anterior, ela tinha feito alguns trabalhos para ele na Unidade de Contraterrorismo.
— Sam, que bom ver você! — disse ele, entrando na sala. — Por favor, diga-me que não está aqui sozinha.
— Não, Habib Rahman está na sala de comunicação tentando descobrir o que está acontecendo. É isso. O resto do pessoal ou se mandou, ou está em Downing Street tentando tirar o primeiro-ministro e os outros ministros de lá. Essa é a Prioridade Um.
Pois é, salvar aqueles imbecis do governo, certamente uma prioridade.
— Qual é a situação no momento? — perguntou ele, andando até a mesa do diretor. No monitor instalado ali, mais da cidade era sugada pela garganta da tempestade.
— A força aérea enviou uma equipe de ataque, mas...
Não precisou terminar. Ele tinha visto com os próprios olhos.
— Alguma ideia do que seja isso?
— Não — respondeu Sam. — Mas é grande. Tudo do norte de Edgware até Fortune Green sumiu.
— Sumiu?
— Isso. Sumiu. Simplesmente não está mais lá. — Havia certo tremor na voz dela, sem relação nenhuma com o estrondo da tempestade. — Esta filmagem é de um Black Hawk americano, posicionado a cinco milhas do marco zero.
Cinco milhas, mas a imagem era nítida o suficiente para distinguir o vasto golfo que se tinha aberto abaixo do furacão. Parecia não ter fundo. Mais do que isso. Graham teve a impressão de que, se desse um passo para dentro dele, simplesmente deixaria de existir.
— Alguma outra imagem? — perguntou ele.
Sam fez que sim e passou a mão pelo monitor touchscreen, até que a imagem mudasse.
— De um Sentinel — disse ela.
Essa filmagem era de um ponto mais alto, fazendo com que a tempestade parecesse mais do que nunca um furacão, uma corrente espiralada de sombras que se esgueirava sobre a cidade, agora talvez com cinco quilômetros de largura. Enquanto assistia, Graham viu um naco de chão soltar-se da terra, erguendo-se lentamente, quase de modo gracioso, e entrando na tormenta, onde começou a se desfazer. A sala inteira tremeu, poeira caindo do teto e várias telas desligando-se antes de se reiniciar. Era como se ele estivesse de novo no Golfo, escondido em uma caverna enquanto os foguetes do inimigo martelavam seu esconderijo. A ilha de terra devia ter um diâmetro de quinhentos metros. Quantas pessoas?, perguntou-se enquanto ela se desintegrava, presa na espiral urrante do vórtice, puxada para a boca da tempestade. Quantos mais acabaram de morrer?
— Alguma teoria? — ele praticamente tossiu as palavras.
— Nenhuma — disse Sam. — Não há assinatura radioativa, nem indício de ameaça biológica. Porém...
Ele a encarou, prestando atenção na maneira como a cor sumia de seu rosto, e sentiu um milhão de dedos gelados percorrendo suas costas.
— Porém o quê?
— O marco zero. O epicentro da tempestade. Havia alguma coisa ali quando isso tudo começou.
— Uma bomba?
— Não, um homem. Um homem morto. — Ela mordeu o lábio inferior, carregando outro filme na tela, que mostrava uma mesa de necrotério, uma das que ficavam no andar de cima daquele mesmo prédio, deduziu Graham. Deitado nela, estava o corpo de um homem, aberto pelos instrumentos do legista e revelando a carcaça vazia de seu tronco. No entanto, mesmo vendo aquilo em um monitor, era óbvio para Graham que havia alguma espécie de vida naqueles olhos opacos e mesmo assim agitados, e em sua inspiração perpétua. Meu Deus, é o mesmo barulho, percebeu. É o mesmo som da tempestade. — Ele chegou na sexta. Foi a Scotland Yard que trouxe.
— Por que ninguém me avisou? — perguntou Graham.
— Era tudo confidencial, nenhuma comunicação entrava ou saía. O plano era levar... aquilo para Northwood, aplicar todos os procedimentos de segurança, e depois trazer as pessoas. Mas elas nunca chegaram. Algo ocorreu no caminho; só descobrimos quando tudo isso começou.
Graham enxugou a boca, fitando a tela, fitando o cadáver vivo. Aquela era a imagem que ele tinha visto no furacão, a silhueta suspensa no centro do caos. O homem na tempestade, pensou ele, as palavras aparecendo do nada. E, de repente, a avassaladora surrealidade daquilo atingiu-o como um soco no estômago, um gemido agudo estourando em seus tímpanos. Inclinou-se para a frente, perguntando-se se iria vomitar, engolindo de volta o ácido em golfadas ruidosas e arquejantes.
Endireitou as costas, pigarreou e falou em um sussurro áspero:
— Então, o que sabemos com certeza?
— Que aquilo está se expandido com rapidez. É por isso que aqui está deserto. Estamos a uns quinze quilômetros do centro do ataque.
Não é um ataque, pensou Graham, é muito mais do que isso, é muito, muito pior.
— Mas, considerando a velocidade com que essa coisa cresce — continuou Sam —, vamos ter de sair daqui em breve. Tirando isso, não sabemos de nada.
— Sam, precisamos de satélites.
— Estou tentando me conectar agora, mas o único que está perto o bastante é o da NSA, e os americanos não querem liberar nada.
— Faça o que precisar — disse ele, fazendo força para ficar de pé. — Invada o satélite se puder. — Passou por algumas telas enfileiradas e encontrou Habib em sua mesa. Não o conhecia pessoalmente, mas o sujeito era bem famoso por escrever cifras inquebráveis para o exército. — Habib, alguma notícia do general?
— Ele foi alertado quanto ao ataque — respondeu o outro, dando de ombros. — Northwood foi evacuada, mas ele nos deu uso de todas as unidades táticas, e apreciará discutir outras opções.
Outras opções? Não havia opções, pelo menos não que Graham entrevisse. Eles nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Parte dele queria acreditar que era uma bomba atômica, uma das grandes. Sim, seria terrível. Sim, partes da cidade seriam destruídas, ficariam radioativas por décadas, e centenas de milhares de pessoas morreriam. Porém, uma bomba nuclear era uma bomba nuclear, uma ogiva de fissão, um nêutron batendo em uma massa concentrada de urânio-235 e iniciando uma reação em cadeia de liberação de energia. Uma bomba nuclear era algo que ele compreenderia, uma das primeiras coisas que havia estudado. Essa possibilidade estava bem no topo da lista de pesadelos — e se alguém detonasse uma arma atômica numa cidade britânica de grande porte... —, e existiam procedimentos para lidar com isso. Caramba, durante as Olimpíadas, não tinham feito outra coisa senão se preparar para um ataque desses. Uma bomba ele poderia encarar.
Isso era diferente. Porque não é ciência. O que quer que seja, esta coisa não obedece às regras do universo; ela as destrói. E era isso o que era verdadeiramente aterrorizante, porque não havia manuais de instrução para lidar com esse fato, nem simulações de computador, nem ensaios de emergência. Aquilo era incognoscível.
Pressionou as palmas das mãos contra as órbitas dos olhos, desejando estar de volta na cama e que aquilo fosse apenas um pesadelo. Quantas vezes tivera sonhos como aquele? Os sonhos de coisas ruins, nada mais que estresse ou excesso de queijo e vinho do Porto antes de dormir. Por que ele não acordava agora também?
— O senhor precisa dar uma olhada aqui.
Abriu os olhos, uma tempestade solar de flashes preenchendo a sala. Sam estava de pé ao lado de sua mesa, as duas mãos contra o cabelo curto. Em sua tela, havia um boletim do comando distrital. Graham estreitou os olhos, leu a mensagem duas vezes e ainda assim não acreditou.
— Outro ataque? — perguntou ele. — Onde, exatamente?
— No litoral — falou Sam. Sentou-se e digitou instruções.
As imagens na tela desapareceram e foram trocadas por uma fotografia de qualidade rudimentar. Por um instante, Graham não conseguiu entender direito para o que olhava: uma praia, um céu cinzento e zangado. Havia algo de errado naquilo, mas ele não conseguia captar bem o que era.
— O que é isso? — perguntou.
— É uma onda.
Graham percebeu enquanto ela respondia. Só que não era uma onda propriamente. A forma não estava certa. Aquela imensa massa de água tinha o formato de um punho, como se uma colossal explosão tivesse acontecido abaixo do oceano. Estava suspensa no horizonte, e Graham só percebeu a vasta escala da imagem ao reparar que havia uma cidade ali: prédios, casas, carros e pessoas, todos diminuídos pela imensa sombra manchada que era a água.
— Meu Deus do céu! — disse ele, encolhendo-se na cadeira. — De quando é essa imagem?
— De meia hora atrás — falou Sam. — Foi em Norfolk, Yarmouth.
— Meia hora? Por que só soubemos agora?
— Ela foi gravada pelas autoridades locais, mas tudo está em função daquilo. — Sam acenou para a tela de Graham, onde ainda ardia a tempestade. — Não tem gente suficiente aqui; acabei de ver isso nos boletins de hora em hora.
Graham soltou um palavrão, outra vez sentindo aquela vontade de se levantar e sair correndo.
— A cidade, na verdade um vilarejo, foi banida do mapa. Não sobrou nada.
— O que causou isso? — perguntou ele, outra vez esfregando os olhos.
Sam balançou a cabeça.
— Não sabemos. Este ataque tem a ver com outro de ontem à noite, na mesma região. Uma explosão, ou ao menos achamos que foi uma explosão. Ela destruiu uma cidade chamada Hemmingway. Não havia nada ali, ao menos nada que valesse a pena atacar. Mas, por algum motivo, foi o que aconteceu.
— Meteoros? — indagou ele. Quem dera.
— Nada disso. A estação de radar de Holmont não registrou nenhuma atividade de meteoros. Nada veio dos céus.
O que também anulava a possibilidade de ataques de mísseis. Isso era bom; significava que ninguém — o Irã ou a Coreia do Norte, por exemplo — tinha decidido lançar um monte de bombas nucleares contra eles. Graham respirou fundo, tentando silenciar o ruído límpido do medo, tentando dispor seus pensamentos em padrões lógicos claros e organizados. Uma coisa de cada vez; é preciso estabelecer uma cadeia objetiva de pensamentos.
— Existe alguma filmagem do ataque da noite de ontem? — perguntou.
Sam mexeu na tela e carregou um vídeo.
Ela apertou o play, e eles assistiram juntos. Era uma filmagem noturna, tudo aparecia verde. Um bando de oficiais da SWAT trotava sobre o que parecia uma duna de areia; o mar, uma grande placa de ardósia à frente deles, era a imagem mais escura na tela. Graham ouviu ordens sendo grunhidas, e a respiração áspera e ofegante de quem quer que estivesse usando a câmera no capacete. Os policiais chegaram ao topo da duna e começaram a descer em direção a...
— Crianças? — disse Graham ao notar o grupo na praia. Duas meninas e dois, talvez três meninos, ao que parecia, o medo evidente no rosto deles, mesmo em tons de verde e preto. — Mas que droga eles querem com essas crianças?
Ouviu-se um grito, e a fileira da frente dos policiais começou a correr. Partiram para cima das crianças, urrando com fúria. A pele dos braços de Graham ficou totalmente arrepiada na hora em que a polícia atacou, uns tropeçando nos outros, parecendo mais bichos do que pessoas.
Uma das crianças berrou algo; um nome, talvez. Schiller.
— Você entendeu? — perguntou ele. — Parecia...
A tela se iluminou, a luz tão forte que Graham teve de fechar os olhos com força. Quando olhou de novo, um instante depois, a cena era um caos. A câmera tremia demais, tudo estava borrado, mas isso não o impediu de ver um dos policiais torcido em pleno ar como um peixe em um anzol. O homem, ou mulher, porque Graham não podia ter certeza, sacudiu-se e ganiu e, em seguida, estourou. Graham não foi capaz de pensar em outra maneira de descrever a cena. O corpo simplesmente explodira em flocos de cinzas que vagaram pela bruxuleante luz esverdeada, parecendo comida de peixe jogada em um aquário. Outro policial foi dilacerado por dedos invisíveis, depois outro, e o tempo todo o homem com a câmera no capacete ficou sentado na praia balançando a cabeça. Uivou de novo, ficando de pé com dificuldade, e, em seguida, virou a cabeça para o mar.
Foi só um instante — antes que a imagem se arrastasse para cima e se desmanchasse em estática —, mas parecia haver algo na praia, algo onde as crianças estavam, algo queimando.
— Volte! — berrou Graham, ouvindo o pânico na própria voz. — Volte e congele!
Sam voltou a filmagem, depois reproduziu-a normalmente, frame por frame, cada expressão capturada com perfeita clareza, os olhos dos policiais brilhando de insanidade. Os semblantes deles não se pareciam com nada que Graham já tivesse visto, tão repletos de fúria que não pareciam reais. A cena se arrastou instante a instante, a praia aparecendo, depois uma menina, depois um clarão branco, ardendo como um fósforo aceso. Sam parou a filmagem, e por algum tempo os dois ficaram ali mirando o garoto nas chamas, duas enormes plumas de fogo arqueando-se de suas costas, os olhos sendo bolsões de absoluto brilho, chegando a provocar coceira nas retinas de Graham.
— Eles incendiaram o garoto? — perguntou Sam.
Graham balançou a cabeça... Mas o que mais poderia ser? Esse garoto, ele não é humano; veja só, ele é alguma outra coisa. Sam deixou a filmagem prosseguir, o garoto incandescente visível apenas por mais uma dúzia de frames, antes que o câmera ficasse suspenso no ar e a imagem se perdesse.
— Mande estas imagens para o general — disse Graham, sentindo frio, apesar do calor da sala. — Diga a ele para mandar um pelotão ao litoral, para tentar entender o que aconteceu. Alguma coisa no satélite?
— Eu consigo capturar as imagens — falou Sam. — Desde que não se importe em cometer um crime.
— Capture.
Ela abriu um novo painel no monitor, e Graham a assistiu invadir o satélite da Nasa. A operação toda levou trinta segundos.
— Já está apontado — disse Sam. — Estão nos observando.
Claro que estavam. A NSA devia estar monitorando Londres e o litoral para ter certeza de que o que quer que estivesse acontecendo ali não fosse uma ameaça para eles lá. Muito gentil compartilharem conosco. Sam carregou uma imagem na tela. Felizmente, o céu estava perfeito naquele dia — exceto pela tempestade —, e a visão do litoral também era perfeita. Ele fora arrasado. Só restavam detritos e ruínas reluzindo ao sol.
— Podemos voltar para a hora do ataque? — perguntou Graham.
Sam negou com um gesto de cabeça.
— Isso é quase ao vivo. Só nos resta contar com a sorte.
Ele se inclinou para a frente, examinando as imagens na tela, o atoleiro que um dia havia sido estradas, prédios e gente. Tinha algo mais ali.
— Você consegue entender o que é isto? — perguntou, apontando. Parecia uma ilha de terra no mar, e, nela, uma bola de luz, quase uma erupção solar, forte demais para a câmera do satélite captar direito. Sam deu de ombros. — Isso é mesmo de verdade? Não pode ser algum erro na transferência de dados?
— De um satélite da NSA? De jeito nenhum. É de verdade.
Além daquele ofuscamento, Graham distinguiu cinco pontinhos pretos, cinco pessoas. Não havia como distinguir quem eram, a imagem era aberta demais, distante demais, mas ele teve o palpite de que eram as mesmas crianças do vídeo da polícia. Afinal, aquilo ficava a poucos quilômetros de distância.
— Será que podemos rastreá-los, caso se movam?
— Sim, mas na hora em que eu fizer isso a NSA vai saber que estou controlando o satélite. E a última coisa que queremos agora é irritar os norte-americanos.
— Rastreie — disse ele, batendo na tela, nos pontinhos ali. — O que quer que aconteça, precisamos ficar de olho neles.
Sam suspirou, digitando códigos até que a imagem na tela mudasse de lugar. Do outro lado da sala, um telefone começou a tocar. Graham ignorou; seria alguém dos Estados Unidos, alguém muito, muito zangado.
— Estão tentando recuperar o controle — disse Sam.
— Evite-os pelo tempo que for necessário — falou ele. — Vou pedir ao general que monte uma equipe. Precisamos trazê-los vivos para cá.
— Sim, senhor — respondeu Sam.
O telefone parou de tocar, mas depois voltou a fazê-lo, de algum modo conseguindo soar mais alto e mais encolerizado do que antes. Graham ignorou-o, encarando o monitor. A tela ainda mostrava o garoto em chamas, aquelas plumas de fogo estendendo-se de suas costas. Parecem asas, pensou Graham, sentindo outra vertigem avassaladora. Era inacreditável, e no entanto o cataclismo que ardia a menos de quinze quilômetros de onde estava sentado também era inacreditável. Pensou na figura na escuridão, no homem que estava suspenso na tempestade. Não havia certa semelhança ali, entre ele e o garoto em chamas? Uma similaridade? De maneira nenhuma aquilo podia ser apenas coincidência. Havia uma conexão entre o que acontecia em Londres e o que acontecia no litoral.
Se eles achassem aqueles garotos, encontrariam respostas.
Manhã
Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas, como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os sete trovões ressoaram.
Apocalipse 10, 1-3
Daisy
East Walsham, 9h27
Era tanta violência, e ela não sabia como detê-la.
Desenrolava-se diante de seus olhos, dentro das geleiras gigantes do seu mundo congelado, cada cena mais horripilante que a outra. Em uma, ela via Cal sob um carro enquanto o fogo mordia suas pernas. Ela o chamava, estendia a mão para ele, mas aquele lugar, onde quer que ela estivesse, a havia transformado em um fantasma. Mas tinha ficado tudo bem, porque Cal havia escapado, deixando um rastro de cadáveres carbonizados atrás de si. Em outra cena, observava Schiller erguer o oceano e usá-lo como um martelo, reduzindo a nada uma cidade, com todas aquelas pobres almas sendo levadas embora para sempre. A cena era tão maluca que Daisy se perguntava se era mesmo real; talvez fosse só uma ilusão na sua cabeça. Porém, a garota sentia o gosto do sal no fundo da garganta; ouvia o som horrendo do mar que se levantava e comia a terra. Era real. Era tudo real.
Schiller ia ficando cada vez mais poderoso, isso era óbvio, transformando-se de menino em anjo com um simples pensamento. Mas essa transformação cobrava seu preço. Daisy via o fogo no peito dele, o lugar onde seu anjo repousava, e o fogo estava se espalhando. Isso a fez se lembrar do vídeo que tinham visto na escola sobre câncer, sobre o modo como ele... Como era mesmo? Meta-alguma coisa de órgão para órgão, usando veias e artérias como estradas para transportar seu veneno pelo corpo. A chama azul dentro do peito de Schiller tinha estendido os dedos até sua garganta, indo até os ombros, roçando as costelas. Ela via isso como se olhasse uma radiografia. O que aconteceria quando o fogo o consumisse?
Havia alguém mais com Rilke e Schiller agora, não Marcus, não Jade — apesar de ainda vê-los ali; de sentir o medo, o pavor deles —, mas outro garoto. O nome dele era Howard, soube, mas, bem na hora em que pensou nisso, ouviu uma voz tênue, como se viajasse por um longo caminho em meio a uma ventania.
Howie, disse a voz. Meu nome é Howie. Onde é que estou?
Era ele, o novo garoto, falando com ela. Talvez ele estivesse ali também, em algum lugar daquele palácio de gelo e sonhos.
— Acho... — começou ela, perguntando-se qual seria o melhor jeito de explicar. — Acho que você foi ferido.
Meu irmão, prosseguiu o garoto, e mesmo naquele brando sussurro ela ouvia o pesado fardo da tristeza. Ele me matou. Estou no céu?
— Ele não matou você. Ele... Você ainda está vivo, mas está se transformando.
No quê?
— Num anjo. Mas não exatamente num anjo. É que a gente chama assim. Eles são... Não sei direito, Howie, mas são bons, e vieram para nos ajudar.
É isso o que ele é? Ele se referia a Schiller, Daisy compreendeu. Não quero ficar daquele jeito. Não quero matar gente. Não quero queimar.
— Isso não é obrigatório. Não é ele que faz isso, é ela.
Rilke. A coitada, triste, enfurecida e louca Rilke. Como ela podia ter entendido tudo tão errado?
Só quero ir para casa. Por favor, me deixe ir para casa.
— Você vai, eu juro — disse Daisy, tentando espreitar além do labirinto sem fim de cubos de gelo, esforçando-se para encontrá-lo. — Não vai demorar. Essas coisas, elas não querem fazer mal à gente. Estão tentando nos ajudar. Tem uma coisa que a gente precisa fazer.
O homem na tempestade se agitava dentro do gelo, mais claro do que nunca. Estava suspenso sobre a cidade, transformando tudo em nada. Sua boca era imensa, horrenda e infinita, sugando prédios, carros e gente — milhares e milhares de pessoas. Era horrível. Era como aquela vez em casa, quando tinham achado um formigueiro logo atrás da porta dos fundos, e o pai dela pegara o aspirador e sugara todas as formigas. Eles tinham um desses aspiradores caros e modernos, que possuíam um receptáculo transparente em vez de uma bolsa, e ela tinha visto as formigas girando e girando com toda a sujeira e o pó, centenas delas capturadas na tempestade, até que implorara ao pai que desligasse o aspirador.
Perguntava-se se Howie enxergava aquilo também, onde quer que ele estivesse. Mas o garoto parecia ter sumido.
Talvez também fosse possível dialogar com o homem na tempestade. Afinal, ela tinha convencido o pai a desligar o aspirador; ele só não havia se dado conta do que fazia, do mal que provocava. E se aquilo fosse igual? Se pudesse falar com ele, dizer-lhe que o que fazia era errado, talvez ele parasse.
Mas como ela poderia fazer isso ali dentro? Flutuava pelo gelo como se estivesse em um salão de espelhos. E o tempo todo seu próprio anjo repousava no peito. Sabia que estava sendo gestado ali, e um dia nasceria como alguém que acordasse de um sono profundo. O anjo viera de um lugar distante, disso ela sabia, de um lugar onde nem a espaçonave mais rápida poderia chegar. A viagem fora longa, e agora o anjo despertava, recordando-se de como usar braços e pernas, assim como ela às vezes precisava fazer quando acordava de um sono profundo. E, quando ele nascesse...
Você vai ficar igual ao Schiller, pensou ela. Vai ser feita de fogo frio, e vai ser capaz de aniquilar o mundo com o estalar dos dedos.
Isso a assustava, porque às vezes ela sentia raiva. Uma vez, quando tinha uns seis ou sete anos, não conseguia encontrar a mãe. Elas nem tinham saído nem nada, estavam as duas dentro de casa, mas Daisy chamava e chamava e chamava, porque tinha feito um desenho e queria mostrá-lo a ela. A mãe não respondia, e a raiva no peito de Daisy fora tão súbita, tão inesperada, que ela rasgara o desenho em dois. Claro, a mãe estava no quintal, guardando algo no galpão, e, ao voltar, encontrara Daisy fervilhando de raiva, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe consertara o desenho com durex e o colocara acima da lareira, e tudo acabara bem. Daisy nunca tinha esquecido daquele dia, porém, e do jato de fúria incandescente que tinha jorrado de sua barriga. E se aquilo acontecesse de novo? E se o anjo dentro dela achasse que isso era um comando? Agora não seria só um desenho de um farol meio torto a ser destruído.
Mas e se ela precisasse do anjo para falar com o homem na tempestade? Naquele momento, ela era um fantasma; podia ver tudo, mas não podia tocar nada. E, antes disso, ela tinha sido uma menina; quase uma adolescente, é verdade, mas a voz dela era tão baixinha que as pessoas sempre lhe diziam para falar mais alto, especialmente a professora de teatro, a sra. Jackson. O homem nunca a ouviria. Quando o anjo dela nascesse, porém; quando despertasse de dentro do coração dela, então a voz dela soaria alto, alto o suficiente para ser ouvida mesmo em meio ao estrondo uivante da tempestade — alto como a de Schiller lá em Fursville. Ela diria ao homem para deixar o mundo em paz, para simplesmente ir embora. Ele teria de ouvi-la; teria de respeitá-la.
— Howie? — chamou ela, perguntando-se aonde teria ido o menino. Será que Schiller o havia ouvido? Ou Rilke? Será que o mantinham calado de algum jeito? — Se puder me ouvir, não preste atenção em Rilke. Ela não é má pessoa, mas entendeu tudo errado. Não estamos aqui para machucar as pessoas, eu sei. Estamos aqui para ajudá-las.
Não houve resposta. A voz dela era baixa demais. Mas não demoraria agora; seu anjo estava quase pronto. Então ela não seria mais um fantasma, e também não seria mais uma garota.
Seria uma voz, alta o bastante para expulsar a tempestade.
Cal
East Walsham, 9h29
Só agora, no silêncio sepulcral da igreja, o corpo dele parecia se lembrar do que era dor. Ela começou nos pés e subiu até o abdômen. Sentia o coração como um calor pulsante na pele. Mas estava vivo. Vivo e em segurança — se alguém o tivesse seguido até a igreja, já estaria ali, urrando entre os bancos.
E ele estava quente. Isso era o principal. Não estava escorregando para dentro de uma piscina de gelo como Schiller e Daisy. O que era muito bom. Significava que o que quer que estivesse dentro dele não estava com pressa de sair. Tudo o que Cal desejava era beber alguma coisa, trancar a porta da igreja e dormir por cem anos.
Mas e o sacerdote? O velho estava sentado no altar, murmurando algo bem baixinho e às vezes dando um sorriso nervoso para Cal; ficava tirando os óculos e limpando-os no paletó sem parar. Se não tomasse cuidado, não sobraria vidro nenhum. Ajeitou-os no nariz, deu uma tossidela e depois falou em uma voz branda que chegou ao outro lado da igreja:
— Seu amigo precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Por favor, podemos resolver isso juntos. Só me diga o que está acontecendo.
Você não vai querer saber, pensou Cal. Flexionou o maxilar, e um espasmo formigou pelo músculo. Quando engoliu, foi como se tivesse uma meia enrolada no fundo da garganta. Tinha a sensação de que, se não bebesse nada logo, viraria uma daquelas estátuas de pedra que o fitavam com benevolência.
— Olha — disse o sacerdote —, me solte e eu cuido dos seus ferimentos. Tem um kit de primeiros socorros na casa paroquial. Juro que vou fazer tudo o que puder.
— Não — murmurou Cal. — Você não entende. Se chegar perto de mim, se chegar perto de qualquer um de nós, vai tentar nos matar.
— Isso é absurdo. Eu jamais faria mal a uma criança, jamais faria mal a ninguém. Por favor, acredite em mim. Sou um homem de Deus.
— Não acho que Deus tenha nada a ver com isso. Isso é... mais antigo que Ele. — Não tinha muita ideia do que estava dizendo. — Conte-me o que você sabe sobre anjos.
— O quê? — perguntou o sacerdote, limpando os óculos. — Anjos? Por quê?
— Só me conte. Anjos.
O homem limpou a fleuma da garganta, um ruído que poderia ter sido uma risada. Depois deve ter notado a expressão no rosto de Cal, porque franziu o cenho e mirou o chão.
— Os anjos. Bem. Não sei o que quer saber. Na Bíblia, eles são seres espirituais, são os mensageiros de Deus. Aliás, é isso que a palavra quer dizer: mensageiro. Vem do grego. Hum... — Deu de ombros, a corda presa se levantando e em seguida chicoteando o chão. — É isso o que quer saber?
Cal não tinha ideia do que queria saber.
— Não. — Esforçava-se para pensar na pergunta certa. — Eles podem possuir as pessoas? Como os demônios? Eles podem vir à Terra?
As perguntas eram uma insanidade só. O sacerdote balançou a cabeça.
— Veja só, filho...
— Cal.
— Cal, veja só, não sei o que você quer saber. Eu...
Ouviu-se um barulho no cascalho do lado de fora, e em seguida o ranger da porta. Brick se arrastou para dentro da igreja carregando um copo- -d’água em uma mão e uma fatia de pão na outra. Parecia pálido, cada sarda em evidência como se tivesse sido feita a caneta na pele branca; e, quando estendeu o copo, sua mão tremia — tanto que a maior parte da água transbordou para o braço. Cal deu um gole, que queimou feito ácido. Em seu estômago, porém, a sensação foi de frescor, e ele se sentiu melhor instantaneamente.
— Achei que tivesse mandado não falar nada — disse Brick, encarando o sacerdote.
— Você me disse para não tentar fugir — respondeu o homem.
Cal sorveu outro gole, desta vez maior, antes de acrescentar:
— Tudo bem, Brick, fui eu que fiz uma pergunta. Sobre anjos.
Brick sibilou pelo nariz, despencando no último banco, ao lado de Adam. Entregou ao garoto uma fatia de pão, que Adam engoliu como um cão faminto.
— Anjos — fungou Brick, cuspindo migalhas. — Estou dizendo que isso é bobagem.
— Não custa perguntar, custa? — falou Cal, a raiva fazendo tudo doer o dobro. — Já que estamos aqui, não faz mal perguntar. — Ele se voltou de novo para o sacerdote, aguardando o homem continuar.
— Se me disser o que quer saber a respeito, talvez eu possa dar uma resposta melhor.
— Porque... — Cal começou, hesitante, perguntando-se se dizer aquilo em voz alta dentro de uma igreja não faria tudo ganhar uma dimensão de realidade que não tinha antes. À frente dele, Brick arrancava mais um pedaço de pão com os dentes, balançando a cabeça. Cal terminou a frase: — Porque acho que estamos possuídos por eles.
O sacerdote não respondeu, só engoliu ruidosamente e começou a encarar a porta da igreja. Era como se transmitisse seus pensamentos: são loucos, drogados; é só eu afrouxar esta corda e sair correndo, se é que vou conseguir chegar à rua...
— Senhor... Quer dizer, reverendo... — começou Cal.
— Doug — disse Brick. — O nome dele é Doug.
— Doug, sei que isso parece uma maluquice. Se pudéssemos provar, nós provaríamos. — Ele ergueu a cabeça, uma ideia debatendo-se no mar de dor que constituía seus pensamentos. — Peraí, você tem uma câmera?
Brick não demorou muito para achá-la dentro da casa paroquial e voltou depois de cinco minutos com uma Flipcam pequena. Despencou no banco, mexendo na câmera e abrindo o visor.
— Cuidado com isso, por favor — disse Doug. — É da Margaret. Ela ficaria muito chateada se você a quebrasse.
— Não vai quebrar, vamos tomar cuidado — falou Cal. — Preciso que você tenha certeza de que essa corda está firme, está bem? Ela precisa estar bem apertada. Dê mais um nó, só para ter certeza.
O sacerdote seguiu as instruções, e, em seguida, deu dois safanões na corda. O arranjo parecia seguro, mas naquele momento ele era apenas um velho gordo. Dali a um instante, quando cruzassem a linha invisível, ele seria outra coisa, uma criatura de raiva ancestral, primitiva.
— Vai lá — disse Cal.
— Vai você — respondeu Brick. — Eu não vou lá de jeito nenhum.
— Olha só — falou Doug, sua voz uma oitava acima do que estava antes. — O que quer que estejam pensando em fazer comigo, não façam.
— Brick, vai logo.
O garoto mais velho fez uma cara que fez Cal ter vontade de matá-lo ali mesmo. Parecia prestes a entregar a câmera a Adam, mas depois se levantou e foi para o corredor. Parou por um instante, incerto, olhou ameaçadoramente para Cal e, em seguida, foi relutante até o altar. Na hora em que começou a gravar, a câmera emitiu um som baixinho.
— Por favor, fique parado aí — gemeu Doug, tentando mexer no nó com a mão livre.
— Pode parar com isso — disse Cal. — Não vamos machucar você, eu juro.
Brick deu outro pequeno passo, arrastado, e mais outro, diminuindo o espaço entre ele e o sacerdote. A que distância estaria agora? Vinte e cinco metros, talvez? Cal não podia ter certeza, mas não seria...
O sacerdote emitiu um choramingo nasal, que se aprofundou e tornou-se uma fungada. Mesmo do outro lado da igreja, Cal viu os olhos do homem escurecerem, a pele do rosto cair, como se a carne lentamente escorregasse de seus ossos. Seu corpo inteiro se agitou, fazendo-o cair no degrau de baixo, os braços socando o carpete, o piso de pedra, como se estivesse tendo uma síncope. Brick parou, e Cal quase pôde enxergar as ondas de medo pulsando dele, invadindo o ambiente com seu odor azedo e desagradável.
— Vai lá. Você ainda não está perto o bastante.
Brick murmurou algo que Cal não pôde ouvir, e depois cruzou a linha invisível da Fúria. Doug ficou de pé imediatamente, um grito rangendo do abismo negro de sua boca. Partiu para cima de Brick, avançando um metro antes que a corda se esticasse e o prendesse onde estava. O ímpeto fez suas pernas ficarem no ar, o corpo fazendo em seguida um baque contra o piso de pedra. Ele não se importou, agitando-se e urrando.
— Basta, Brick — disse Cal.
Brick cambaleou para trás, quase tropeçando nos próprios pés. E bastou cruzar a linha para que o sacerdote voltasse a ser apenas um sacerdote, um amontoado de pano preto no corredor, ofegando e cuspindo sangue. Ele demorou vários minutos para se lembrar de onde estava, tentando recuperar o fôlego enquanto ia até o degrau mais baixo do altar, enxugando o suor reluzente de sua careca. Apertou o punho, viscoso de sangue, os olhos enevoados perdidos pela igreja até pararem em Cal.
— O que... o que fizeram comigo?
— Mostre a ele — disse Cal. Brick fechou a câmera e deslizou-a pelo chão como uma bola de boliche. O objeto de plástico foi deslizando pelo piso de pedra irregular, batendo no balaústre de madeira ao qual Doug estava amarrado. Ele não parecia mais preocupado com a integridade da câmera. Não parecia mais preocupado com nada, como se a Fúria o tivesse capturado e colocado para fora tudo o que um dia tivera importância, deixando-o vazio.
— Veja a gravação — falou Cal.
Uma eternidade de silêncio se passou, e depois Doug estendeu a mão e pegou a câmera. Ouviram-se uns bipes, e então Cal escutou a própria voz — Vai lá. Você ainda não está perto o bastante —, seguida da trilha sonora inconfundível da Fúria. Mesmo ouvi-la assim lhe dava arrepios. Os olhos do sacerdote pareciam bolas de golfe, enormes e brancos, enquanto se olhava na pequena tela. Como era ver a si mesmo assim? Saber que, por um breve período, você não era você, você era outra coisa, algo terrível? O homem assistiu à cena de novo, depois fechou a câmera e a depositou a seus pés.
— Meu Deus — suspirou ele, de repente uma criança, como se fosse Cal o sacerdote. — O que aconteceu comigo?
— Nós. Nós acontecemos — respondeu Cal. — Agora, por favor, conte-nos o que sabe.
Brick
East Walsham, 9h52
— Os anjos são mais agentes de Deus do que do homem. São mensageiros, basicamente, portadores de revelações. Como quando Gabriel foi a Maria na Visitação, por exemplo. Mas também são guerreiros.
Tentando não ouvir, Brick encarava os próprios pés enquanto o sacerdote falava. Nada do que aquele homem dizia poderia ter relação com o que estava acontecendo, de jeito nenhum. Ele falava da Bíblia, um livro escrito centenas de anos atrás, por gente que não tinha nada melhor para fazer. Aquilo... Aquilo era outra coisa, algo diferente. E no entanto havia palavras que o sacerdote usava, palavras que pareciam acertar bem no alvo. Guerreiros, pensou Brick, ouvindo-o. Não foi isso que Daisy falou? Que estamos aqui para combater?
— Como assim, guerreiros? — perguntou ele. — Os anjos não são querubins bonzinhos com rostos rechonchudos, halos, aquelas coisas?
— Não — disse o sacerdote, negando com um gesto de cabeça. Ainda estava pálido, tremendo, e, na forte penumbra do outro lado da igreja, parecia um fantasma. — Talvez hoje, nos cartões de Natal. Mas originalmente eram mais como um exército, ou... Talvez a melhor palavra seja guardiães. É comum serem representados com espadas flamejantes. Alguns ficam ao lado do trono de Deus.
— Como uma guarda imperial, algo assim — disse Cal lá da parede dos fundos. Brick era capaz de sentir a exaustão na voz do garoto, e se perguntou quanto tempo mais qualquer um deles ficaria acordado. Tudo ali era perfeitamente impassível, como se o tempo tivesse decidido lhes dar uma folga, parar um pouco. Adam já estava enroscado no banco feito um cachorrinho, os olhos totalmente fechados. — Sabe, como o Imperador de Guerra nas Estrelas.
— Bem, essa comparação talvez não seja adequada — disse Doug. — Mas deve servir. Quanto aos outros, sua ocupação principal é levar mensagens para a humanidade. Eles não estão só na Bíblia. Você os encontra em todas as religiões do mundo.
— Então, do que são feitos? — perguntou Cal.
— Não consigo entender por que você acha que os anjos são responsáveis por isso, pelo que quer que esteja acontecendo — respondeu Doug. — Tem de ser... Tem de ser uma coisa química, uma reação de algum tipo. Talvez uma doença.
— Confie em mim — disse Cal. — Você não viu o que nós vimos. Continue.
— Do que são feitos? — O sacerdote se mexeu desconfortavelmente, limpando os óculos de novo. Desta vez, não os colocou de volta, só os ergueu nas mãos e os examinou como se a resposta estivesse escrita neles. — São etéreos, isso eu sei. São espíritos. Já ouviu a expressão “quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete”? A resposta é um número infinito, porque não são criaturas deste mundo. Os teólogos nos ensinam que eles são capazes de se mover instantaneamente de um lugar para outro, o que lhes permite ficar indo e vindo daqui para o céu. Por causa disso, muitas vezes são representados como se fossem feitos de fogo.
Ao ouvir isso, Brick voltou-se para trás e encarou Cal. Sentiu um súbito arrepio e um tremor nos braços, recolhendo-os contra o peito, como se para escondê-los. Brick olhou para a frente outra vez, sentindo as bochechas corarem e se perguntando por quê.
— Então, nada de túnicas nem de harpa? — falou ele.
Doug recolocou os óculos e piscou, sem ter muita certeza se a pergunta era séria ou não.
— Mas deve haver alguma coisa na Bíblia que diga o que eles fazem, como falam com as pessoas, não? — perguntou Cal. — Eles simplesmente aparecem para um café, é isso?
— Não, costumam ser mais um espírito interno; falam de dentro, sem se mostrar.
— Muito conveniente — resmungou Brick.
— Brick, você não acha que tem algo no que ele está dizendo? — perguntou Cal. — Feito de fogo, vivendo dentro de você, guerreiros. Nada disso parece familiar?
Brick não respondeu, só ficou ali sentado ruminando sua raiva.
— Como assim, guardiães? — perguntou Cal.
— Bem, eles nos protegem. Muitas pessoas acreditam que... Você deve ter ouvido a expressão anjo da guarda, não?
— Claro. Mas também existem anjos maus, certo? — perguntou Brick, pensando no que tinha acabado de ver na TV, o homem na tempestade. A imagem já esmorecia em sua mente, apenas uma grande marca escura em sua visão, como se as retinas tivessem sido raspadas. Melhor isso do que ver aquilo de novo, a besta com seu manto de tempestade e sua inspiração infinita. Estremeceu com tanta força que o banco chacoalhou.
— Anjos maus? Claro, claro. De acordo com a Bíblia, Lúcifer tinha sido um anjo, na verdade, um arcanjo. Ele achou que poderia ser mais poderoso do que Deus e tentou liderar, como direi... uma rebelião com seu exército de anjos. Por causa do seu pecado de orgulho, Deus mandou-o para o Lago de Fogo, o inferno, junto com os que ficaram a seu lado. Essa é uma parte das escrituras com a qual, pessoalmente, tenho dificuldade. É sempre tentador acreditar que o mal humano pode ser atribuído ao demônio, e, sim, há ocasiões em que é esse o caso. Mas também acho que o mal é parte de quem somos. Devemos culpar apenas a nós mesmos pelas coisas ruins do mundo.
Houve um tempo em que Brick poderia ter acreditado nisso. Não agora, não depois de tudo o que tinha visto. O homem na tempestade, aquilo não era humano. Era o exato oposto de humano, o exato oposto de toda a vida. Porém, também não era o demônio, não o que está na Bíblia. Era outra coisa, algo que vagava pelos mundos muito antes de qualquer pessoa ter dito a palavra Deus. Brick sentia a veracidade disso em suas entranhas, no rangido colossal do peso do tempo e do espaço a se quebrar; quase podia ouvi-lo no enorme silêncio da igreja. Era impossível explicar, mas estava ali mesmo assim.
— Isso não vai nos levar a lugar nenhum — disse ele, só para que houvesse contradição.
— Pois é, eu sei — respondeu Cal. — Eu sei. Veja só, Doug, algumas das histórias da Bíblia devem ser baseadas em ocorrências reais, não é? Sem ofensa nem nada, cara. Lembro de ouvir que o dilúvio, aquele com Noé e tal, deve ter acontecido por causa de um tsunami ou algo do tipo.
— Sim — disse Doug. — Claro que existem teorias relativistas. Aliás, estudei a ciência na Bíblia na época em que fui capelão em Oxford. Você está falando da teoria do dilúvio do Mar Negro. Por volta de 5.600 a.C., a água do Mediterrâneo abriu uma brecha para o Estreito de Bósforo, acho. Isso teria causado uma inundação terrível. Existem também outros exemplos. A história de Moisés e o Mar Vermelho. Há condições em que um vento forte poderia de fato dividir as águas de um rio. Já aconteceu outras vezes, no delta do Nilo. É bem impressionante.
— Então, o que você quer dizer? — perguntou Brick. — Que a ciência é que faz tudo e Deus só leva o crédito?
O sacerdote riu, fazendo que não com a cabeça.
— Estou dizendo que muitos anos atrás não sabíamos o que hoje sabemos. Um... um vulcão, digamos, era um animal zangado sob a superfície. Um furacão eram os deuses lutando no céu. Os humanos precisam conhecer a verdade das coisas, mesmo que essa verdade seja ficção. Faz parte da nossa natureza tentar entender a vida. Se a ciência não pode explicar algo, inventamos nossa própria ciência para explicar esse algo. E essa ciência costuma se chamar religião.
— Então a religião não é real? — perguntou Brick. — Um sacerdote falar isso... Que besteira.
— Não, você não está entendendo. Religião tem a ver com fé, e fé é uma espécie de conhecimento muito diferente. Deus é um fato científico, e há uma ciência que explica a natureza de Deus. Claro que há. Mas ainda não sabemos que ciência é essa. Talvez um dia a compreendamos, assim como hoje compreendemos a ciência da gravidade, do relâmpago, de, digamos, certos comportamentos de partículas quânticas. Talvez um dia saibamos a verdade científica a respeito de Deus e de nossa criação. Nesse ponto, a ciência e a religião serão a mesma coisa.
Brick sibilou uma risada pelo nariz, ainda que houvesse algo nas palavras do sacerdote que fazia sentido.
— Está dizendo que coisas esquisitas aconteceram muito tempo atrás — disse Cal. — E que as pessoas viram essas coisas e as atribuíram a Deus. Disseram para seus filhos que era Deus, e esses filhos disseram para os filhos deles, e depois alguém acabou escrevendo um livro chamado Bíblia, e se lembraram desse negócio, e ficaram sabendo do mar se dividindo, de um dilúvio, sei lá, e foi assim que a Bíblia foi escrita.
O sacerdote passou a mão pela cabeça e fez que sim.
— Bem, em parte. Alguns milagres são de Deus, sem dúvida. Mas talvez não todos. Tudo é ciência. Tem de ser. Mas o fato de ser uma ciência que ainda não compreendemos não o torna automaticamente falso.
— Os anjos, então — prosseguiu Cal, e Brick percebeu que era com ele que o sacerdote falava. — Talvez isso tenha acontecido antes. Talvez, milhares de anos atrás, as pessoas tenham ficado possuídas por... pelo que quer que esteja dentro de nós. Só que não sabiam o que eram essas coisas; só viam que eram feitas de fogo, com asas. Criaturas que podiam destruir uma cidade inteira com uma só palavra. Elas as viam, e as chamavam de anjos, de mensageiros de Deus, e disseram isso aos filhos, e isso acabou virando parte da religião. Faz sentido, não faz?
Fazia, mas Brick não disse nada.
— E aquela coisa em Londres, o homem na tempestade? Talvez ele tenha estado aqui antes. Talvez as pessoas o tenham visto e pensado que ele era como nós, quer dizer, como os anjos, mas uma versão do mal. Podem ter inventado uma história de como ele foi derrotado e quis se vingar. Isso tudo pode já ter acontecido, Brick.
— E daí, Cal? — falou Brick, virando-se.
Cal estava encostado na parede, envolto nos próprios braços. Parecia pequeno e fraco, mas seu olhar emanava força.
— Isso significa que os anjos já lutaram com ele — disse Cal. — Significa que o impediram de fazer o que quer que tenha vindo fazer aqui. Significa que eles o venceram.
— Como você sabe?
— Porque, se não fosse assim, não estaríamos aqui, estaríamos? Essa coisa quer que a gente aniquile tudo. Parece um buraco negro. E não vai parar até a destruirmos.
— É mesmo? — Brick precisou engolir um azedo caroço de bile que subiu do poço revirado que era seu estômago. A imagem do homem na tempestade apareceu diante dele e encheu a igreja de trevas. Tentar lutar com aquilo seria como tentar parar um trem com um palito de dentes. Seriam arrasados, tragados por aquela boca furiosa junto com tudo o mais. E depois? Não haveria vida após a morte, nem céu nem inferno, não ali dentro. Não haveria nada, exceto o fim das coisas. — E como a gente vai fazer isso, Cal?
— Esperando — respondeu o outro garoto. — Até que nasçam.
Essa ideia era tão ou ainda mais aterrorizante, a ideia de que havia algo em seu peito — não, ainda mais fundo: em sua alma — que aguardava o momento certo para irromper em um punho de fogo e tomar o controle de seu corpo. Essa ideia lhe dava vontade de gritar, e ele se colocou de pé e foi para o corredor, andando de um lado para o outro com as mãos fincadas no cabelo. Ia e voltava, querendo cavar uma trincheira com os pés no piso de pedra e enterrar-se ali para sempre com os esqueletos sob a igreja. Foi só quando chegou perto demais do sacerdote, quando ouviu a respiração do homem tornar-se o gemido insuportável da Fúria, que se obrigou a sentar-se outra vez.
— Mas por que as pessoas nos detestam? — acabou perguntando Brick. — Essa é a parte que eu realmente não entendo. Se estamos aqui para combater aquela coisa, com certeza as pessoas deviam estar do nosso lado, nos ajudar, em vez de tentar nos matar.
— Não sei — disse Cal. — Doug, você se lembra de alguma coisa do que aconteceu quando estávamos filmando?
O pastor ficou alguns tons mais pálido e negou com um gesto de cabeça.
— Parece que... que aquela parte da minha memória, da minha vida, simplesmente não existiu. Num minuto estava falando com vocês, e em seguida apaguei. Depois, tudo voltou ao normal. Só... só que não voltou, porque tentei matar vocês. — Ele enxugou o rosto com a mão, e Brick percebeu que o velho chorava. — Não era eu. Não era eu.
— Vocês já odiaram alguém tanto que perderam a cabeça por causa disso? — perguntou Brick, as palavras saindo de sua boca antes mesmo que ele se desse conta delas. — Já odiaram tanto que sua visão ficou inteirinha branca e foi como se vocês virassem outra pessoa?
Ninguém respondeu. Ele arrastou o pé no chão, desconfortável por estar compartilhando tanto de si.
— Eu, sim. Várias vezes. Costumava ficar com muita raiva.
— Costumava? — disse Cal, com mais do que uma ponta de sarcasmo.
Brick sentia aquilo naquele momento, enquanto falava, como se algo irrompesse de seu estômago.
— Às vezes, não consigo me controlar. Acho que serei capaz de fazer alguma coisa sem volta, algo ruim, como bater em alguém ou até pior, como matar alguém. Quando fico assim, tenho a sensação de que eu, quer dizer, aquela parte minha que pensa nas coisas e evita fazer bobagem, é expulsa da minha cabeça, como se alguma outra coisa simplesmente tomasse o controle. É difícil sair desse estado.
O som da própria voz, falando por tanto tempo, parecia-lhe estranhamente alheio. Umedeceu os lábios, querendo um pouco da água de Cal. Percebeu que não tinha tirado os olhos dos tênis imundos desde que começara a falar.
— Acho que é assim. A Fúria. Você fica com tanta raiva, tão cheio de cólera, que apenas perde a cabeça. Só que é um milhão de vezes pior.
Engoliu ruidosamente, e percebeu que corava de novo. Aquela raiva ainda fervilhava em sua garganta. Após algum tempo, Cal se pronunciou:
— Pois é, faz sentido. Mas não é uma coisa química, nem emocional; é isto: anjos. As pessoas não conseguem aceitá-los porque eles são tão... qual é a palavra mesmo?
— Estranhos? — disse Brick.
— Acho que é isso. Eles são tão estranhos que fazem as pessoas perderem a cabeça. Elas precisam matá-los, precisam matar a gente. Não consigo pensar em nenhum outro motivo.
Mais silêncio, profundo como o oceano. Brick mirou a igreja e viu a barraquinha de cachorro-quente de Fursville queimando, e, atrás dela, o pavilhão. Abriu os olhos de súbito, percebendo que o sono o tinha emboscado.
— A gente precisa ir embora — disse ele, esfregando os olhos. Como Cal não respondeu, Brick olhou para trás e viu que ele também tinha sucumbido, a cabeça repousando nos joelhos. — Cal, não podemos adormecer.
— Tudo bem — disse o sacerdote. — Podem dormir. Vocês têm a minha palavra; não vou me mexer. Sei o que vai acontecer. Não suportaria ficar daquele jeito de novo.
Brick fez cara feia para o homem. Ele era um furioso; não podia confiar nele. É só por um instante, só para recuperar as forças. Fechou os olhos e viu, além do pavilhão, o mar. Havia um barco no mar, um barco que se tornava uma ilha, depois uma casa, e, quando Brick nadou até ela, abriu a porta e entrou, não sabia mais que estava sonhando.
Rilke
Great Yarmouth, 10h07
O chão se dobrou e então recuperou a forma, soando como se o mundo inteiro esticasse as juntas. Uma ponte de pedra ergueu-se da praia encharcada, parecendo a espinha de algum animal colossal rompendo a pele da terra. Ela serpenteava pelo solo sulcado onde um dia estivera o vilarejo. Seu arquiteto, Schiller, retorcia o ar com dedos incandescentes, cordas invisíveis remoldando pedra, areia e terra até que houvesse um caminho distinto vindo do mar.
Foi só quando ele terminou que a transformação começou, as chamas extinguindo-se como um forno a gás ao vento, até que a pessoa que estava ali era não mais um anjo, mas outra vez um menino. Conseguiu sorrir, desgastado, antes de as pernas cederem e ele tombar ao leito protuberante da própria criação. Rilke levantou-se de onde tinha se ajoelhado, os joelhos esfolados pela vibração do chão, e andou até ele. Quando o ajudou a sentar-se, outra mecha de cabelos dele se soltou. Não eram mais loiros, percebeu ela, mas cinza.
— Fez bem, irmãozinho — disse ela, acariciando a bochecha dele. Ainda estava muito frio, como se, toda vez que deixasse o rapaz, o fogo roubasse um pouco mais do calor de seu corpo. — Você acabou com tudo. Ouça, ouça o resultado do que você fez.
Ele escutou, e, por um tempo, ambos ficaram sentados, absorvendo a quietude. O único som era o doce lamber do mar, reduzido a um cão que gania em seus calcanhares. Não havia gritos, nem mesmo alarmes. A onda de Schiller tinha feito bem seu trabalho.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller, quase sussurrando. Os olhos dele estavam fechados e espasmavam como os de um filhote sonhando.
Ela sacudiu os ombros dele, trazendo-o de volta. Por que ele precisava dormir se restava tanto trabalho a ser feito?
— Logo — disse Rilke. Puxou-o até que ele reagisse e se levantasse com dificuldade. Ela colocou um braço embaixo dele, apoiando-o com seu corpo. Era muito pesado, e depois de alguns segundos a garota desistiu. — Ok, podemos descansar um pouco. Mas não aqui. Precisamos achar um lugar seguro.
— Seguro? — veio uma voz atrás dela, que se virou e viu Jade, sentada na praia recém-erigida ao lado dos dois garotos. Parecia uma marionete mal-acabada, os olhos grandes demais, a boca frouxa, o corpo mole.
Rilke tinha quase esquecido que os outros existiam. Aliás, precisava deles? Quando seu anjo nascesse, ela e Schill poderiam mudar o mundo por conta própria. Não precisavam ser supervisionados por ninguém. Por ora, porém, fazia sentido mantê-los por perto. Poderiam vir a ser úteis, em especial o novo garoto, que estava quase despertando.
— Não vai demorar até virem atrás de nós — disse Rilke, dando um passo na ponte de pedra e arrastando Schiller atrás de si.
— A polícia?
— Sim. E outros também. O exército. — E Daisy, pensou ela, mas não falou.
A garotinha também devia estar perto de sua transformação. Porém, Rilke achava que isso ainda não havia acontecido. Teria sentido. Não, estavam descansando, Daisy, Brick, Cal e Adam. Tentou transportar a mente, como tinha feito em Fursville. Sentiu um banco de madeira desconfortável, o odor de algo velho e empoeirado, viu uma luz de cor estranha passando por grandes janelas. Uma igreja, atinou, a respiração um tanto ofegante. Talvez tivessem ouvido histórias sobre anjos vingadores; talvez enfim tivessem compreendido o que precisavam fazer.
E se não fosse isso? E se tivessem ido lá para tentar deter Schiller?
Rilke tentou imaginar o que aconteceria se dois anjos lutassem um contra o outro. Isso por si bastaria para colocar o mundo de joelhos. Schiller teria força suficiente para lutar com Daisy? Ela era só uma garotinha, mas tinha uma força interior que o irmão não possuía.
— Não consigo mais carregá-lo — disse Jade. — Está gelado demais.
— Consegue sim — falou Rilke. — Só até o alto da colina, até acharmos abrigo.
Não esperou pela resposta. Jade faria o que ela mandasse, e Marcus também. Rilke caminhou com Schiller nos braços, e cada passo era um desafio. Isso a fez se lembrar da manhã em que havia chegado ao parque temático, uma manhã que parecia ter sido muito tempo atrás, mas que tinha sido... O quê? Há dois dias? Como tudo o mais, o tempo estava fragmentado. Aqueles dois dias equivaliam a uma vida inteira. As coisas eram tão simples antes... O mundo era só o mundo, e as pessoas, só pessoas.
Esse pensamento era tão absurdo que ela riu. Schiller a encarou com seus olhos sonolentos e semicerrados e sorriu em resposta; ela reparou que um de seus dentes da frente estava faltando. Seu estômago deu um nó, a pele subitamente gélida. Isso o está matando. Não. Estava deixando-o mais forte. Como poderia não estar? Aquilo o havia deixado mais poderoso do que qualquer outra coisa no mundo. Tinha feito dele um deus. E, no entanto, uma voz a chamava, talvez a dela mesma, talvez não: isso o está matando, usando-o e comendo-o por dentro.
— Calada — sussurrou ela; Schiller ouviu-a e franziu o cenho. — Preste atenção no caminho, irmão — disse ela, só para não precisar olhar o buraco enorme na gengiva onde antes havia o dente. E daí que aquilo o estava matando? E daí que seu corpo humano caísse em pedaços? Uma vez que a carne sucumbisse, só haveria fogo e fúria.
Seguiram cambaleando em silêncio pela trilha de pedra fragmentada. Quanto mais avançavam, mais descortinavam a destruição produzida por Schiller. À esquerda deles, havia outro mar, este feito de tijolos, concreto e corpos, boiando em sedimentos e água. Fumaça subia de três ou quatro pontos. Rilke se perguntou se ainda havia alguém vivo ali, depois pensou no paredão de água que esmagara a cidade como o punho de Deus. Nada poderia ter sobrevivido àquilo. Não houvera tempo sequer de alguém desconfiar do que estava acontecendo.
Após pouco menos de um quilômetro percorrido, chegaram ao fim da ponte que Schiller tinha tirado da terra. Ela se transformara em uma boca repleta de dentes; além dela, só havia um caos de destroços. Rilke saiu dela para um gramado, o solo úmido mas firme. Era tão plano que mesmo dali conseguia ver a linha cinzenta do mar, como se ele espreitasse o horizonte para ter certeza de que eles tinham mesmo ido embora. Passou pela cabeça da garota que ele fosse se encolher outra vez e se esconder atrás da cidade em ruínas.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller. — Rilke, por favor, não estou me sentindo bem.
Ela não olhou para ele, só examinou o campo em busca de abrigo. Havia uma cerca ali perto, semiafundada na lama. Um cavalo jazia morto, emaranhado em fios e madeira. Devia ter tentado fugir quando ouvira o estrondo do oceano, pensou ela, sentindo pela criatura uma compaixão surpreendente. Mandou embora aquela emoção — emoções são para os humanos, Rilke, não para você —, os olhos fixando-se na única estrutura, à exceção dos postes de telefone, que avistava dentro de quilômetros. Era um moinho que perdera as hélices.
Foi na direção dele, arrastando os outros atrás de si como se puxasse um carrinho. Sua sombra ia à frente, ainda comprida, varrendo a grama como uma nuvem escura. Como o homem na tempestade, pensou ela, e isso lhe trouxe de novo aquela sensação esquisita no estômago. Se ele estava ali pelo mesmo motivo que os anjos, então por que não tinha tentado se comunicar com eles? Ele não tinha instruções, ordens? Talvez até tivesse, mas eles é que não conseguiam ouvi-lo. Ou talvez isso só fosse acontecer depois que os anjos nascessem. Pensou em perguntar a Schiller se ele tinha ouvido — sentido — alguma coisa do homem na tempestade, mas o irmão estava tão fraco que não achou que a resposta faria sentido, mesmo que ele soubesse. Melhor levá-lo para dentro, deixá-lo descansar, para depois perguntar.
Demorou mais do que ela esperava para chegar ao moinho, a superfície plana fazendo-o parecer mais próximo do que de fato era. Quando terminaram de cruzar uma pequena represa, o sol tinha mudado de lugar, e havia um ruído se aproximando no horizonte, um estrondo grave que começou parecendo um trovão, mas que era um helicóptero. Rilke ergueu a mão para se proteger da ofuscante luz do dia, vendo a mancha pairando sobre a cidade. Parecia um abutre sobrevoando um cadáver, ao lado das gaivotas que já se reuniam ali, como vastas nuvens acinzentadas à procura de restos. Isso era tudo o que tinha sobrado: pedaços de carne, de ossos, e amanhã nem isso haveria mais. O helicóptero virou e recuou, os baques sônicos reduzindo até sumirem sob o acelerado ritmo do coração dela.
— Está tão quieto — disse Marcus. — Parece que o mundo foi desligado.
Rilke fez que sim com a cabeça, e, em seguida, percorreu os últimos metros até a porta do moinho. Estava trancada, mas era velha, e, depois de alguns chutes, abriu-se, balançando. O fedor de umidade e podridão os bafejou, mas ao menos ficariam escondidos. Deixou Jade e Marcus entrarem, carregando para dentro o novo garoto. Depois, indicou a porta a Schiller. Ela o seguiu na escuridão rançosa, espiando outra vez o mar atrás da terra. O helicóptero havia ido embora, mas algo os observava; ela podia sentir um olhar dançando de cima a baixo por sua espinha. Ergueu os olhos para o céu de um azul perfeito e mordeu o lábio. Em seguida, empurrou a pequena porta de madeira e fechou-a, virando-se e descobrindo-se em uma pequena sala circular. A única janela estava tapada com tábuas dispostas de modo rudimentar, fachos de luz âmbar chegando ao chão com dificuldade, revelando uma escultura de engrenagens e madeira velha, mas não muito mais que isso. Schiller já desabara contra a parede, a cabeça entre as mãos. Jade e Marcus haviam deitado o novo garoto ao lado do maquinário, esfregando os braços e tremendo.
— Vamos descansar aqui por uma hora — disse Rilke, batendo os pés de impaciência. Não tinha gostado dali. Achara que se sentiria segura, oculta, mas parecia o contrário, como se houvesse uma bandeira enorme balançando no alto do moinho, uma bandeira que dizia: “Estamos aqui, podem mandar um míssil”. E era isso o que fariam, se soubessem a verdade. Mandariam um avião, dez aviões, e bombardeariam aquele campo inteiro até que sumissem. Se Schiller estivesse desperto, e transformado, tudo bem. Porém, se estivesse dormindo, se não os ouvisse chegar, então tudo acabaria antes mesmo de começar.
— Uma hora — repetiu ela quando Schiller fez menção de protestar. — Eu acordo vocês.
Os outros se sentaram, mas ela continuou de pé. Também tinha passado a noite em claro e sabia que, se deixasse a cabeça encostar em algum ombro, o sono a tomaria. Andou de um lado para o outro perto da porta, vendo Schiller adormecer, depois Jade e, por fim, alguns minutos depois, Marcus, encolhido como um porco-espinho sob a janela. Ridículos, todos eles. Tanto trabalho a fazer, e só pensavam em descansar. Se o anjo dela estivesse pronto, se tivesse nascido, ela os forçaria a seguir adiante. Ninguém ousaria discutir com ela.
Schiller teve um espasmo, murmurando algo no sono. Rilke ergueu a cabeça, tentando entender o que ele tinha dito. Ele não era de ficar falando enquanto dormia. Ela sabia disso graças às incontáveis noites em que ele ficara assustado demais no quarto e fora dormir na cama dela, ou na cadeira, ou no chão, onde quer que ela o deixasse se acomodar. Assim que ele adormecia, apagava até a manhã seguinte. Ele disse outra coisa, e de súbito Rilke começou a se perguntar se o irmão dormia mesmo ou se sua mente estaria em outro lugar. Isso já não tinha acontecido antes, em Fursville? Daisy tinha falado sobre isso, de como se encontravam nos sonhos. E se Schiller estivesse com ela agora? E se estivessem conversando?
Moveu-se na direção dele, pronta para acordá-lo com um chute. Então hesitou. Não seria melhor descobrir? Perguntou-se o que veria caso sentasse e adormecesse. Daisy iria aparecer? Brick e Cal também? Tentariam fazer Schiller mudar de ideia? Ou será que ela veria o homem na tempestade? Será que enfim ouviria dele o que queria que eles fizessem?
Não havia sons vindo de fora, estrondo nenhum de hélices de helicóptero, rugido nenhum de aviões e mísseis. Era provável que ficassem bem ali por um tempo. Sentou-se ao lado do irmão, assegurou-se de que ninguém a olhava, depois repousou a cabeça no ombro dele. Não demorou para que o sono a encontrasse, varrendo o campo, derramando-se no moinho, sufocando-a. Sentiu pânico por um instante, como no momento em que a montanha-russa para no topo da subida, na expectativa de cair — mas cair onde, e quem vai me segurar? —, e assim caiu na escuridão e no silêncio.
Daisy
East Walsham, 11h09
Havia agora mais gente em seu reino de gelo. Sentiu a chegada dessas pessoas como se fossem pássaros pousando em um galho, fazendo-o balançar quase imperceptivelmente. Os cubos de gelo tilintavam, quicando uns nos outros, cada qual ainda repleto da vida de outros seres. O mundo inteiro nadava em um movimento líquido, com a água sempre em agitação, como a de uma piscina.
— Oi? — disse ela. Seria o novo garoto, aquele que se chamava Howie? Ele ainda estava ali em algum lugar, perdido no labirinto de espelhos gelados. Ela o tinha ouvido gritando pela mãe e pelo irmão. — Diga algo, por favor, sei que está aí!
— Daisy? — A voz veio bem de trás dela, e ela se virou com um semigiro.
A criatura que viu era tão bonita, mas tão assustadora, que Daisy não soube se ria ou se chorava. A criatura se erguia em vestes de chamas brancas como diamante, as asas postadas para cima. Era tão brilhante que a garota se afastou antes de perceber que não a encarava de fato; não com os olhos, pelo menos. Relanceou o olhar para a criatura, reconhecendo-a.
— Schiller? — disse ela. Não era o rosto dele, e, ao mesmo tempo, era. Ele cintilava à luz, como um reflexo em uma piscina ensolarada e ondulada pelo vento. Mas não havia dúvida de que era ele, porque, assim que ela pronunciou seu nome, ele abriu um sorriso enorme e ofuscante. — Mas é você. Como está aqui?
— Não sei — disse ele, e, ainda que tivesse a aparência de seu anjo, sua voz era aguda e branda, bem parecida com a de Rilke. — Acho que estou dormindo.
Claro! Já tinha acontecido antes, não com Schiller, mas com Brick e Cal. Na primeira noite deles em Hemmingway, tinham compartilhado um sonho. Não parecia algo que pudesse realmente acontecer, mas nada daquilo tudo era algo que pudesse realmente acontecer. Além disso, se todos tinham anjos dentro de si, por que não seriam capazes de se comunicar assim? Deveria haver uma espécie de laço entre eles agora, um laço que não era afetado nem por distância, nem por tempo, nem por espaço.
— Tudo bem? — disse ela. — Me diga como é seu anjo.
Schiller deu de ombros, as asas de repente subindo e descendo. Aquele movimento pareceu tão tolo que ela deu uma risadinha. Era a primeira vez que ouvia a voz dele, percebeu. A primeira vez que efetivamente o encontrava, já que ele tinha ficado congelado por muito tempo. Não, você ouviu essa voz, lembre-se, disse uma parte do seu cérebro. Em Hemmingway, quando ele falou e acabou com aquele lugar: uma única palavra que transformou em cinzas uma centena de pessoas. Você estava inconsciente, mas mesmo assim ouviu.
— Eu não queria fazer aquilo — disse ele, lendo os pensamentos dela. — Mas iam nos fazer mal, fazer mal à minha irmã. Não sabia o que mais podia fazer.
Tudo bem, pensou ela. Você não tinha escolha.
Ele deu de ombros outra vez, mas os cantos de sua boca pareciam tão caídos que davam a impressão de terem sido desenhados, um sorriso de cabeça para baixo.
— Falou com ele? — perguntou Daisy.
— Acho que sim — disse Schiller. — Ele não tem palavras, só... sei lá, emoções. Ele tenta me mostrar coisas, mas nem sempre eu entendo.
— Ele mostrou por que está aqui?
— O homem na tempestade — respondeu Schiller sem hesitar. — É isso o que eu vejo o tempo todo.
Daisy fez que sim com a cabeça. Com ela, era igual. Quantas vezes não tinha sido atraída para aquele cubo de gelo em particular, aquele cheio de uma furiosa escuridão, aquele em que ele morava? Naquele momento mesmo em que ela pensou nele, ele se evidenciou, vindo na direção dela com o som de geleiras se rompendo. Mas ela agora sabia como afastá-lo, e fazia isso delicada e insistentemente.
— Rilke diz que é porque ele está nos dizendo o que fazer, o homem na tempestade; que ele é um de nós. Ela acha que temos de seguir o exemplo dele, e destruir as coisas.
Balançou a cabeça enquanto falava, e Daisy notou sua relutância.
— Sua irmã está errada — disse ela. — Terrivelmente errada! Não estamos aqui para nos juntar a ele, mas para combatê-lo.
Como que em resposta, Daisy sentiu algo se apertando em seu peito. Bem, não era exatamente no peito, e sim mais fundo, em algum lugar que ela não conseguia identificar direito. Parecia haver uma pressão ali, como se seu coração estivesse prestes a estourar, mas de um jeito bom, como era acordar e lembrar que é Natal. Era o anjo dela. Logo ele nasceria.
— Não sei — disse Schiller, e havia algo em sua voz; medo, talvez. — Rilke costuma estar certa sobre as coisas. Ela é inteligente. Eu não sou inteligente, só faço o que ela manda.
— Você é inteligente. Sua irmã é metida a valentona. Você não devia deixá-la mandar em você.
O espaço em volta dela ficou mais frio, como se os cubos de gelo estivessem filtrando o calor do ar. Então outra pessoa falou, uma voz igualmente fria:
— Sabia.
Daisy se virou e viu outra figura. Essa era definitivamente humana, ainda que aquele mesmo fogo azul ardesse no lugar onde deveria ficar seu coração. Rilke não andou exatamente até eles, mas flutuou, com o rosto tão retorcido de raiva que poderia ser uma furiosa.
— Sabia que encontraria você aqui, irmãozinho.
— Rilke, só estávamos conversando — disse Daisy.
Rilke se lançou sobre ela como uma ave de rapina, encarando-a com raiva. Não era a garota de quem Daisy se lembrava; era quase como uma personagem de um sonho, alguém que não se parecia com eles, mas que com certeza era um deles. Claro, porque ela não está realmente aqui, nem eu; eu estou com Cal, Brick e Adam. Saber disso a fez se sentir mais segura: com certeza Rilke não poderia fazer mal a ela naquele lugar imaginário.
— Não dê ouvidos a ela, Schill — disse Rilke. — Ela não sabe o que está dizendo. Não viu o que nós vimos.
Rilke então viu, no gelo, um paredão de água que tremia atravessando a terra. Por um instante, sentiu aquilo também, aquele enorme peso de trevas engolindo o céu, caindo sobre ela, e precisou se afastar da sensação antes que desse um grito.
— Ah, Schiller, não — disse. — Aquela gente toda... Você não precisava fazer mal a elas, não precisava ter feito aquilo.
— Você está errada, Daisy — Rilke quase cuspiu as palavras. — Ele precisava, sim. Você ainda não percebeu? Isso ainda não entrou na sua cabecinha idiota? Pode protestar o quanto quiser, mas cedo ou tarde você vai ter de enxergar a verdade. Ele nos chamou, o homem na tempestade. Ele quer que nos juntemos a ele, quer que o ajudemos a limpar o mundo.
— Não — disse Daisy. — Você está errada, Rilke. Como pode não enxergar? — Voltou-se para Schiller, rogando em silêncio para que ele enfrentasse a irmã. Porém, mesmo que ardesse como uma sentinela gigante feita de vidro fundido, ele não conseguia olhar nenhuma das duas nos olhos. — Por favor. — Sentia-se tão impotente, tão pequena. Por que não podia ser como Schiller agora; por que o anjo dela não podia fazer algo para ajudá-la? Se ele já tivesse nascido, Rilke teria de lhe dar ouvidos.
— Não me ameace — disse Rilke, ainda que Daisy não tivesse se dado conta de qual era a ameaça. — Logo você vai se transformar, mas nem pense em se meter no meu caminho. Não vou hesitar em matar você. Schiller não vai hesitar, não é mesmo?
Não era uma pergunta, e, após um instante de hesitação desconfortável, Schiller fez que sim com a cabeça.
— E não é só ele agora. Temos outro, também pronto para se transformar.
— Howie — disse Daisy, lembrando-se da voz que tinha ouvido.
A expressão de Rilke bruxuleou, incerta. Ela correu o olhar pelo caleidoscópio de gelo, como se pudesse vê-lo ali.
— Ele é um dos nossos — sibilou ela. — Está me ouvindo? E, caso esteja me ouvindo, Howie, saiba de uma coisa: se eu achar que você vai ficar contra mim, vou simplesmente esmagar sua cabeça antes de você acordar. Ficou claro?
Como ela podia ser tão horrenda, pensou Daisy. E a resposta era bem clara: ela é louca, ela é completamente insana. E desde muito antes disso tudo. Daisy tinha visto coisas terríveis dentro da cabeça da garota: a mãe maluca, e o homem mau, o médico, cujo hálito cheirava a café, cujas mãos eram ásperas. Coitada, coitada da Rilke; não era culpa dela. Aquilo tinha abalado os alicerces de sua mente, e a Fúria tinha piorado muito a situação. Agora tudo desabava. Daisy praticamente lia isso no rosto da menina, no modo como seus traços pareciam crescer e se encolher, como uma pintura horrível se retorcendo no frio. Ela estava se dilacerando por dentro.
— Deixe-a em paz, Rilke. — Era outra voz, e esta muito, muito bem-vinda.
Daisy se virou e viu Cal ali, ou ao menos uma figura onírica cintilante que parecia ser ele. Brick estava bem atrás, e Adam também, flutuando contra o mar de gelo em constante movimento.
— Vejam só, o herói retorna à casa — disse Rilke. — Inconveniente e arrogante como sempre. Vá embora, Cal, ninguém quer você aqui.
— É mesmo? Não vi seu nome na porta, Rilke — respondeu ele. — O que você quer?
— Quero que vocês deixem Schiller em paz — disse ela. — Deixem-nos todos em paz. Deixem a gente fazer o que viemos fazer. Pouco me importa se vão ficar escondidos em uma igreja esperando o fim do mundo, encolhidos nos braços um do outro. Mas não vão ficar entre nós e o nosso dever. Estão me ouvindo? Estou falando sério, Daisy. Se descobrir que está falando de novo com Schiller, ou com qualquer um de nós, vou acabar com você.
— Mas você está errada! — gritou Daisy, e o gelo se agitou, os cubos batendo uns nos outros. — Você está errada, errada, errada, errada, errada! — Enquanto falava, a pressão no peito aumentou. Sentia-se como uma lata de refrigerante agitada e prestes a estourar.
— Estou mesmo? — Rilke parecia estar refletindo sobre algo; sua expressão absorta se expandiu e então se contraiu, como pulmões. — Talvez a gente tenha que descobrir de uma vez por todas.
O sorriso de Rilke, frouxo e aquoso, era um sorriso de palhaço. Ela olhou para Schiller e, em seguida, para três outras figuras atrás dela que Daisy não tinha visto chegar. Eram Jade e Marcus, e entre eles estava Howie, o novo garoto. Todos tinham o mesmo fogo sem calor ardendo no peito. Rilke se virou, os olhos pequenos e negros, repletos de algo que Daisy não entendia, algo totalmente humano e, mesmo assim, completamente antinatural. Pela primeira vez, Daisy percebeu que o anjo dentro de Rilke talvez lhe gritasse a verdade, tentando fazê-la entender, em uma linguagem que nenhum deles jamais poderia sonhar ouvir. Lamentou por ele, sentindo sua frustração. Quem dera ao menos houvesse um jeito de saberem de uma vez por todas por que estavam ali e por que tinham sido escolhidos.
— Mas há — disse Rilke, puxando seus pensamentos outra vez com dedos gélidos. — Não percebe? Só precisamos ir até lá.
Ir aonde?, perguntou-se Daisy, e outra vez apareceu para ela a tempestade no gelo, rasgando a massa gélida em uma rajada de farpas. Olhou e viu o homem ali, a besta, envolto em um manto espiralante de detritos, a boca aberta, devorando tudo o que podia, transformando substância em ausência. Ele girava os olhos para ela como se soubesse que estava ali, e no estrondo de sua voz ela ouviu risos. Afastou-os com os dedos da mente, gritando em silêncio não, não, não, não.
— Sim, Daisy. É o único jeito de você aprender. — O sorriso de Rilke se alargou, até parecer grande demais para sua cabeça. Ela começou a recuar, levando consigo o irmão flamejante. — Quando acordarmos, vamos até lá, até o homem na tempestade, e vamos perguntar a ele.
Rilke
Great Yarmouth, 11h43
Acordaram juntos; Rilke emergiu do sono a tempo de ver os olhos opacos de Schiller se abrindo, e Marcus encolheu-se contra a parede como se soubesse o que estava por vir. Rilke passou a mão nos lábios secos, pensando no sonho que tinha acabado de compartilhar.
Daisy estava se tornando um problema; ela se recusava a reconhecer a realidade da situação. Rilke estava muito decepcionada, mas não era culpa da garotinha. Era dos outros, de Cal e Brick. Meninos, pensou ela, tão fracos, tão convencidos da própria autoridade. Podia tê-los matado ainda em Hemmingway; deveria ter colocado Schiller contra eles, ou talvez matado os dois com as próprias mãos, assim como fizera com a garota no porão. Tinha sido tão fácil tirar uma vida, tão sem consequência! Apertar, bang, morreu, apertar, bang, morreu, e aí quem sabe Daisy tivesse lhe dado ouvidos, quem sabe até estivesse ali com ela agora.
Haveria tempo para isso, porém. Assim que seu anjo despertasse, encontraria Cal e Brick, e acabaria com eles. Tudo seria muito mais fácil sem os dois. A menos que o anjo deles nascesse primeiro, pensou ela, tremendo, subitamente desconfortável. Como queria se libertar daquilo tudo, da carne, dos ossos, das cartilagens, do fedor humano, e ser uma criatura de genuíno fogo.
Por favor, disse ela para a coisa em seu coração. Por favor, não demore muito. Preciso de você!
Essas palavras fizeram-na se sentir insuportavelmente fraca, e ela se levantou para que seu enrubescimento ficasse menos óbvio. Não sabia quanto tempo tinha dormido — tempo demais —, mas precisavam voltar a andar. O que ela havia dito no sonho-que-não-tinha-sido-um-sonho era real. Só havia um jeito de saberem qual era a verdade. Precisavam encontrar o homem na tempestade e ouvir o que ele tinha a dizer. Essa ideia era como um punho cerrado com firmeza em seu estômago, mas o medo era só outro lembrete de sua fraqueza, de sua desprezível humanidade, por isso o ignorou. Tinha visto o homem na tempestade em sua mente; tinha visto o quanto ele era parecido com Schiller, com tudo o que estava dentro deles todos. Ele era um deles, um anjo, a quem cabia eliminar essa espécie ridícula e pastorear o que restasse de volta ao estábulo. Não havia outra explicação.
Mas como chegar até ele?
— Rilke, ainda estou cansado — disse Schiller naquele irritante ganido de filhote com que se expressava. Apoiou-se nos cotovelos, tudo nele frouxo, leve e repulsivo. — A gente nem dormiu direito.
— Cale a boca, Schiller — falou ela. — Você só sabe reclamar e dormir. Levante-se.
— Mas...
— Mandei levantar, irmão. — Ela deu um passo à frente, a mão erguida, prestes a explicar com um tabefe a seriedade de sua ordem.
Ele se encolheu, movimentando-se até ficar de pé, encurvado e assustado sob os dedos de luz viscosa que penetravam pela janela com tábuas. Rilke encarou Marcus e Jade, e eles obedeceram sem que ela precisasse pedir.
— Estou com fome — murmurou Jade. Com aquele rosto e cabelo imundos, parecia um porco-espinho, o que só serviu para deixar Rilke ainda mais furiosa. A comida era desnecessária, agora que eram feitos de fogo.
Rilke foi até a porta, abrindo uma fresta e espiando o calor incandescente do dia. A única mácula na vasta tela azul do céu era uma névoa opaca acima da cidade que haviam aniquilado, uma tênue nuvem negra que a fez pensar em um véu funerário. Espirais de gaivotas investiam através dela, banqueteando-se com o que quer que tivesse sobrado. Parecia tão distante. Como iam conseguir chegar a Londres, ao homem suspenso na tempestade? Não podiam andar até lá, com certeza não, já que agora carregavam o novo garoto. Rilke não sabia dirigir, e não era como se eles tivessem a opção de pegar um trem. A frustração fervilhava em sua cabeça, e a jovem desejou ser capaz de acabar com a distância do mundo com um grito, apenas urrando pela terra e trazendo a cidade e a tempestade a seus pés. Havia chegado mesmo a abrir a boca, quando percebeu que qualquer som que emitisse seria lastimável. Cerrou os dentes e os punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Teriam de se contentar em ir a pé e ver o que a sorte lhes traria.
— Vamos — disse ela, dando um passo em direção ao dia, seu calor fazendo-a se sentir ainda mais desconfortável sob a própria pele. Queria arder com a ferocidade do sol, e não senti-lo roçar nela, condescendente. Ouviu-se o farfalhar de movimentos atrás dela, e um instante depois Jade saiu pela porta com o braço do novo garoto sobre o ombro, Marcus apoiando-o do outro lado. Schiller foi o último; parecia ter um metro de altura ao sair encolhido do moinho. — Vocês todos são mais fortes do que acham que são agora — ela lhes disse. — Vocês têm anjos dentro de vocês, e eles os manterão em segurança. A fraqueza é apenas uma lembrança da vida antiga. Ignorem-na, e ela vai embora.
Mesmo enquanto falava, sentiu o sangue se esvair da cabeça e o mundo girar atordoado em volta dela. Deu um passo à frente para restabelecer o equilíbrio, começando a contornar o moinho. Havia uma casa distante uns cinquenta metros, e, aos fundos dela, nada além de campos até uma linha de árvores distantes. Porém, se andassem por bastante tempo, com certeza encontrariam uma estrada, não encontrariam? Só que parecia tão, tão longe.
— Rilke, por favor — disse Jade. — Tem uma casa ali. Será que a gente não pode pedir comida ou algo assim?
Rilke olhou para a casa e o viu: um flash negro atrás de uma das paredes caiadas. Ele desapareceu antes que a garota pudesse entendê-lo devidamente, mas isso bastou; ela sabia o que era. Seu sangue pareceu congelar dentro de si.
— Schiller! — gritou ela, virando-se para o irmão, vendo mais figuras negras surgindo, usando capacetes e segurando rifles. Eram demais para serem contados, todos avançando em direção a eles. Como os tinham encontrado?
— Não se movam! — alguém gritou. — Ou vamos abrir fogo, não duvidem!
Eles chegavam de todos os ângulos, jorrando de trás da casa e dos campos em ambos os lados. Rilke correu para Schiller, pegando o colarinho de sua blusa e sacudindo-o com tanta força que mais uma mecha de seu cabelo caiu.
— Mate-os! — ordenou ela, querendo que se transformasse. — Mate-os agora, irmãozinho, agora!
— Fiquem onde estão! — ladrou a voz outra vez.
Schiller choramingou, sem qualquer sinal de fogo naqueles enormes olhos azuis e úmidos.
— Não posso, estou muito cans...
Ela lhe deu um tapa na cara, depois outro, mais forte, até que ele a encarasse.
— Preciso de você, irmãozinho! — falou ela. Em poucos segundos, alguém começaria a atirar, ou eles cruzariam aquela linha que os transformava em selvagens. Fosse como fosse, se Schiller não encontrasse sua fúria, Rilke e seus companheiros iriam morrer. — Preciso que você se transforme, agora mesmo! Preciso que faça aquilo que você faz!
Os soldados avançaram, a luz do sol reluzindo de seus visores, de suas armas. Jade, ajoelhada, gritava; Marcus engatinhava de volta para o moinho. Só restava Schiller; Schiller, um pobre coitado assustado, acabado, humano.
— Não me deixe na mão — disse Rilke, apertando com mais força ainda a blusa dele, sua pele sob a roupa, até que fizesse uma careta.
— No chão, agora! — gritou a voz. — Todos vocês!
— Não ouse me deixar na mão! — a voz de Rilke era um grito, enquanto a garota o sacudia.
Ele explodiu em luz, uma segunda pele de chama azul ondulando pelo corpo, o baque da transformação lançando-a para trás, fazendo-a rolar pelo chão. O ar irrompeu naquele zumbido que anestesiava a mente, tão alto e profundo que apagava os demais sons. Schiller pairou acima do chão, o fogo abrindo caminho até seu pescoço, cobrindo-lhe o rosto, uma asa desfolhando-se das costas.
Algo foi disparado. Tiros, percebeu ela, rindo. Chegaram tarde demais; agora não podem mais feri-lo. Porém, a cabeça de Schiller foi para trás, como que acertada por um martelo invisível. Sua chama bruxuleou e se apagou, e ele foi ao chão, gemendo e agarrando o próprio rosto.
— Não! — gritou Rilke, arrastando-se pelo chão. — Schiller!
Ele a encarou, a chama irrompendo de novo, agora tão forte que ela precisou esconder a cabeça nos braços. Rilke ainda estendia a mão para ele quando ouviu mais tiros e berrou o nome do irmão com toda a força que tinha. Não poderiam tirá-lo dela, não agora, nem nunca. O mundo escureceu e ela o olhou de novo, vendo-o deitado de lado, com uma ferida escancarada em sua têmpora esquerda.
Tudo bem, Schiller, você vai ficar bem, prometo. Só mate eles, por favor, mate todos eles; mas não sabia se tinha falado mesmo as palavras ou só pensado nelas.
Uma bala ricocheteou da terra a centímetros do irmão, e, em seguida, bateu no peito dele, estourando suas costas e abrindo um leque de vermelho vivo, tão brilhante que não parecia real. Rilke gritou de novo, jogando-se pelo último metro até alcançá-lo, envolvendo-o com as mãos, querendo que a criatura ali dentro encontrasse seu poder e reagisse. E ela encontrou; Schiller outra vez irrompeu em fogo frio. Desta vez, Rilke se agarrou a ele, abraçando-o com força, tentando nutri-lo, passando a ele cada gota de energia que possuía.
Ele falou, a voz como um pulso sônico que rasgou o ar, transformando o moinho em uma tempestade de pó, misturando homens e lama, até que o campo parecesse a paleta de um pintor. Porém, o grito falhou após um momento, voltando a ser a voz titubeante do irmão. Ele gemeu, o sangue brotando da cabeça, esparramando-se nela como água fervente após o irromper do fogo. As chamas ondulavam de um lado para o outro em sua pele, sem conseguir se fixar, os olhos se acendendo e se turvando, se acendendo e se turvando, como um avião com falha no motor.
Rilke se abraçou a ele enquanto os soldados avançavam. Os que estavam na frente já haviam se tornado furiosos, largando as armas e partindo para cima dos dois, a carne dos rostos frouxa, as mentes tomadas pela Fúria. Outros ainda disparavam, deixando o ar vibrante com o chumbo incandescente. Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ela os odiava tanto! Odiava os humanos, odiava a si própria por ser tão fraca. Não podia terminar assim, não agora, não quando tinham tanta coisa para fazer. Por que você não acorda?!, urrou ela para o anjo dentro de si. Cadê você? CADÊ VOCÊ?
Outra bala acertou Schiller, arrancando um naco de seu ombro. Desta vez, ele gritou de dor, o fogo se acendendo outra vez. As asas se abriram nas costas, batendo e erguendo-o em meio a um furacão de pó. Ele falou outra vez, o tsunami de palavra-que-não-era-palavra rasgando o campo, desfazendo os soldados em nuvens de cinzas que mantinham as silhuetas por um instante, como se não entendessem o que lhes tinha acontecido, antes de desaparecerem. Mas ainda assim eles vinham, de todas as direções, gritando, atirando, em um número grande demais para serem combatidos.
Como na rave, pensou ela, lembrando-se da primeira noite em que a Fúria quase os tinha feito sucumbir. Era um campo bem parecido com aquele, só que daquela vez era noite, e havia um exército de gente tentando fazê-la em pedaços, o homem de luvas laranja, os dedos de aço na garganta de Schiller. Tinham sobrevivido a eles, tinham escapado; de alguma maneira, haviam saído dali.
Mas como? Como tinham feito aquilo?
Nossos dedos se tocaram, e derrubamos as estrelas.
Ela olhou para Schiller, e ele pareceu saber o que ela pensava. O fogo empalideceu, e ele se curvou para trás, apagando-se da vida, mas ela o abraçou. Vendo Jade ao lado eles, estendeu a mão; percebeu também que Marcus corria de volta, o entendimento do que estavam prestes a fazer de algum modo refletido em seus olhos — não me abandonem. Ele deslizou até eles e deu uma mão para Rilke, que deu uma mão para o garoto que ardia, que pegou a mão do garoto congelado, ao lado dele; Jade se agarrou ao braço de Rilke, e Schiller rugiu, envolvendo todos em fogo frio, e o mundo se despedaçou.
Desta vez, Rilke sabia o que esperar, a sensação de que a vida era um tapete que tinha acabado de ser puxado de debaixo de seus pés. Seus dentes rangeram diante da súbita precipitação e força daquele ato, e ela se esforçou para manter os olhos abertos. Uma onda de energia explodiu de onde estavam, e, em seguida, o campo foi como que projetado com tanta força que o grito de Rilke sequer pôde sair de seus pulmões.
Um instante depois, a vida os reencontrou, envolvendo-os em seu punho cerrado, furiosa por terem achado uma maneira de se libertar. O mundo recuperou sua forma com o som de um milhão de celas de cadeia fechando as portas ao mesmo tempo, trancafiando-os de novo. Rilke se inclinou para a frente, um jato de vômito branco como leite disparando de sua boca, caindo sobre o asfalto. Enxugou as lágrimas com a mão trêmula, vendo que estavam em uma estradinha do interior. Um bosque os protegia de um lado, um declive alto e verdejante do outro, mas ainda ouviu o distante ruído de tiros. Uma chuva de cinzas vagava em volta deles, dançando ao sabor da brisa.
Virou-se ao ouvir o som de gente vomitando, vendo Jade e Marcus também borrifando fluidos na estrada. Somente Schiller estava imóvel, outra vez só um garoto, apenas seu irmão. O sangue formava uma poça embaixo dele, parecendo preto em contraste com o cinza. Ela apertou a mão contra a ferida em seu peito, e a ferida derramou-se por entre seus dedos. Era o sangue dele. Tinham compartilhado o mesmo útero, e isso fazia daquele sangue o sangue dela também, um único sangue. Fez pressão com a outra mão, tentando estancar a ferida. Ele não reagiu; só ficou deitado ali, mirando a imensidão de céu azul acima, os olhos claros indo de um lado para o outro como se ali lesse uma verdade.
— Mas o que foi que acabou de acontecer? — disse Marcus, tentando ficar de pé, mas caindo com o traseiro no chão. — Onde estamos?
— Schiller? — disse Rilke, ignorando o outro garoto. — Pode me ouvir?
Se podia, não dava sinal disso. Sua respiração era superficial, quase um engasgo, e bolhas cor-de-rosa brotavam de seus lábios quando ele expirava. O corpo trepidava, falhando, e os soluços saíram dela antes que pudesse detê-los. Suas lágrimas estavam tão quentes que teve a impressão de estar chorando sangue, mas, quando pingaram no rosto do irmão, eram apenas lágrimas.
— Irmãozinho — disse ela, alisando seu cabelo, ignorando as madeixas que se despregavam nos dedos vermelhos e viscosos —, sei que você deve estar achando que vai morrer. Mas não vai. Quero que preste bastante atenção, muita atenção. Eu sei como salvar você. — Era mentira, claro; ela não sabia nada disso. — Preciso que nos leve para algum lugar, como acabou de fazer. Preciso que nos leve para o homem na tempestade. Acho que ele pode dar um jeito em você.
O corpo de Schiller se agitou de novo, um leve tremor bem no fundo dele, como um terremoto sob o oceano. Ele girou os olhos para ela, a cor deles quase sugada por completo, os lábios retorcidos em uma quase palavra.
— O quê? — perguntou ela, passando o dedo pela bochecha dele.
— Não... Não consigo...
— Consegue, Schiller — disse ela, tentando trancar os soluços no peito, onde se debatiam dolorosamente contra suas costelas. — Você é forte, muito mais forte do que pensa, muito mais... Muito mais forte do que eu já permiti que acreditasse ser. Você é meu irmão, somos feitos das mesmas coisas, eu e você; tudo o que eu posso fazer, você também pode.
Os tiros à distância tinham cessado, mas ela distinguiu o ruído de um helicóptero. Não demoraria para os soldados os encontrarem. Ela tomou a mão de Schiller, beijando seus dedos.
— Faça isso por mim, irmãozinho — falou ela. — Leve-nos para lá. Sei que consegue.
— Ela... Ela não quer que eu faça isso — disse ele.
Quem?, Rilke quase perguntou, antes de responder à própria pergunta.
— Daisy. — E o fogo branco dentro dela fez seus ouvidos apitarem. Ela estava falando com ele agora: como ela ousa... contrapor-se às ordens dela, revirar a mente do irmão e envenenar seus pensamentos.
— Ignore-a, Schill, ela não ama você como eu amo!
Ao ouvir isso, os olhos de Schiller se acenderam. Ele apertou a mão dela com toda a força que lhe restava. Foi como ser apanhada pela garra de um pássaro, algo tão débil que ela teve medo de que os dedos dele se soltassem.
— Amo você, irmãozinho, mais do que tudo.
— Também amo você — ele conseguiu dizer, tossindo mais sangue.
— Então faça isso por mim. — Ela o agarrou com firmeza e depois olhou para Marcus e Jade.
— Não quero — disse Jade, arrastando-se para longe, de costas, e balançando a cabeça. — Não aguento mais.
— Eles vão matar você — disse Rilke. Mas não importava; eles não precisavam de Jade. Ela que fosse morta, seria uma ovelha a menos para Rilke pastorear. Marcus colocou uma das mãos em Schiller, agarrando sua blusa com os dedos esbranquiçados. Apertou o braço do garoto novo, e então fez que sim com a cabeça.
— Você consegue, Schill — falou Marcus.
Rilke fechou os olhos, imaginando a tempestade que ardia sobre Londres e a criatura que sugava a podridão do mundo com aquela inspiração colossal e infinita. Leve-nos para lá, pensou, dirigindo as palavras para a cabeça de Schiller. Leve-nos para ele; sei que você consegue. Não havia uma única dúvida na mente dela. Era por isso que estavam ali. Ele salvaria Schiller, salvaria todos. Aquele homem era o anjo da guarda deles.
Schiller assentiu, depois falou, e outra vez o universo — o tempo, o espaço e todas as órbitas da vida em movimento — não teve outra escolha a não ser deixá-los partir.
Cal
East Walsham, 11h48
Cal acordou, mas achou que ainda estivesse dormindo, porque Brick estava sentado no último banco da igreja acariciando os cabelos de Daisy. Brick, a pele quase azul, sarapintada com a luminosidade colorida dos vitrais, tremia ao contato gélido do corpo dela; sentiu que Cal acordara, pois se levantou, passando as costas da mão pelo nariz.
— Está tudo bem com ela — disse ele. — Você viu.
Ele não falou: aquilo foi um sonho? ou a gente realmente se encontrou? Cal afastou os últimos vestígios de sono, erguendo-se e imediatamente sentindo que fora jogado em uma piscina de lâminas. Ele resmungou e tentou não se mexer, com a dor enfim se assentando em uma supernova atrás da testa.
— Ai! — disse ele. Eufemismo do século. — Você por acaso não viu algum analgésico por aí, viu?
— Na casa paroquial tem um kit de primeiros socorros, como falei — disse o sacerdote.
Doug. Cal tinha se esquecido totalmente dele. Estava sentado onde prometera ficar sentado, esfregando as pernas como que para manter o sangue em circulação. Cal agradeceu com um gesto de cabeça, e, em seguida, olhou para Brick. O garoto maior precisou de um instante para perceber o que lhe estava sendo pedido, e balançou a cabeça em uma negativa.
— Eu fui da última vez — falou. — Agora é sua vez. — Baixou os olhos para Daisy mais uma vez, e Cal tomou consciência do quanto ele a amava. Brick era bom em tentar esconder seus sentimentos, mas era um péssimo mentiroso. Apesar do rosto feito de pedra, seus olhos entregavam tudo. Quando toda aquela loucura terminasse, se eles sobrevivessem, Cal precisaria desafiá-lo para uma partida de pôquer. — Onde ficava aquilo? — perguntou Brick, atravessando o corredor e sentando-se no banco do outro lado. — Aquele gelo todo e tal.
— Sei lá — disse Cal, tentando outra vez levantar-se. Apoiou as costas contra a parede, deslizando para cima um centímetro de cada vez, até ficar mais ou menos na vertical. Pensou no lugar que havia visitado enquanto dormia, a lembrança um tanto esmaecida. Tinha gelo lá, era fato, mas havia outras coisas também. E outras pessoas. — Rilke. Ela estava lá.
Brick fez que sim com a cabeça, usando a unha de um dos dedões para cutucar a madeira do banco à frente.
— Pelo menos ela está bem — disse. — Daisy, digo. Ela estava lá e parecia em segurança. Não acho que Rilke possa lhe causar nenhum mal além de falar com ela.
— O que já é bem ruim — rebateu Cal. — Aquela garota é maluca.
Ao ouvir isso, Brick quase sorriu. Largou o que quer que estivesse cutucando.
— E agora? Rilke disse que está indo para lá, para a tempestade. Acha que ela estava falando sério?
Cal deu um passo hesitante em direção à porta. Agora que estava de pé e em movimento, a dor parecia mais branda, como se tivesse se entediado com ele. Deu mais um passo, esticando os braços com suavidade. As costas pareciam ter se transformado na mesma pedra da qual a igreja era constituída, como se ele lentamente houvesse se tornado uma das estátuas inertes que enfeitavam paredes e tumbas. A mãe sempre lhe dissera que sentar no chão por muito tempo lhe daria hemorroidas. Era só o que faltava mesmo: ser acometido por hemorroidas.
A mãe! Como tinha ficado tanto tempo sem pensar nela? Ela estava em Londres, bem no centro daquilo tudo. Agora já devia ter sido engolida inteira, devorada pela besta. Ele sacudiu a cabeça, tentando mandar para longe a ideia; melhor não pensar em nada disso.
— Brick, para ser sincero, pouco me importa se ela estava falando sério ou não. Sabe de uma coisa? Se ela for até lá, até aquela coisa, de repente vai ser o melhor que pode acontecer. De repente aquilo vai engoli-la, ela e o irmão. E vai fazer um favor a todos nós.
Ou talvez ela tenha razão, pensou ele. Talvez o homem na tempestade seja um de nós; talvez ela peça a ajuda dele e o traga para cá, bem para nosso esconderijo. E ele visualizou as nuvens enegrecerem, o teto da igreja se descascar, tudo indo para dentro do redemoinho furioso do céu, o homem ali, sugando o mundo para sua boca, obliterando tudo. Cal estremeceu com tanta força que quase caiu, a igreja escura demais, fria demais, quieta demais. Andou a passos incertos até a porta, onde um dedo de sol acenou para ele.
— Já volto — falou.
Adentrar a luz do dia era como entrar num banho quente, a luz era um líquido dourado em que podia mergulhar. O sol estava bem acima de sua cabeça, o que significava que tinham dormido por um bom tempo; talvez algumas horas. Ainda havia um restinho de fumaça no ar, mas não se ouvia nada mais na cidadezinha, nenhuma sirene, nenhum grito. Era como se nada tivesse acontecido. Não seria maravilhoso?, pensou ele. Se tudo simplesmente tivesse sumido?
Levou algum tempo para achar a casa paroquial, porque tinha saído pelo lado errado da igreja. O cemitério era grande e cercado por teixos e algo espinhento, a vegetação tão densa que poderia muito bem não haver mundo nenhum do outro lado. A casinha ficava entre leitos de flores e mais árvores, quase repulsivamente pitoresca. Ele abriu caminho pela porta, parando ao ouvir vozes adiante.
— ... o departamento afirma que cerca de um milhão de pessoas podem ter morrido, e outros milhões desapareceram.
A televisão; Cal reconheceu o tom formal do âncora do noticiário. Mesmo assim, caminhou pé ante pé, pronto para voltar correndo por onde tinha vindo se fosse necessário. O sacerdote não havia dito que tinha uma esposa? A ideia de ela vir guinchando pelo corredor, pronta para arrancar os olhos dele, dava-lhe vontade de sair dali imediatamente. Achava que seu corpo não resistiria a mais um ataque, nem se fosse o de uma velha senhora. Superando o medo, abriu a porta e entrou na cozinha. A televisão estava a um canto, um homem e uma mulher sentados à bancada do noticiário enquanto a tempestade ardia atrás deles. Cal desviou o olhar. Não queria ver aquilo. Porém, continuou ouvindo enquanto vasculhava o armário.
— Traremos mais notícias num instante — disse o homem. — Enquanto isso, uma declaração de Downing Street confirma que o primeiro-ministro e os demais ministros foram evacuados da cidade, em meio a críticas de que não estão fazendo o suficiente para ajudar o povo de Londres. Com a taxa de mortos já em sete dígitos, e ainda nenhum sinal de que a ameaça tenha sequer sido identificada, o governo enfrenta uma pressão cada vez maior da comunidade internacional para proteger a população.
Abriu uma segunda porta, mas só viu vasilhas e panelas. A terceira continha panos, e, bem no fundo, uma bolsa verde com uma cruz branca na frente. Abriu o zíper e tirou um frasco de aspirina, ainda ouvindo o que estava sendo dito.
— Nossa correspondente em Londres, Lucy White, ainda está em campo. Lucy, pode nos dizer o que estão falando nas ruas?
A voz da mulher era quase sufocada pelo som ininterrupto da tempestade, o som de um milhão de trombetas soando.
— Como pode ver, Hugh, aqui só se fala em caos, o que é compreensível. Estou do lado sul do rio, bem pertinho da roda-gigante London Eye. Ainda ontem havia milhares de pessoas aqui, moradores e turistas aproveitando a cidade. Agora as ruas estão lotadas de uma multidão tentando fugir do ataque que acontece a menos de trinta quilômetros. Do outro lado do rio, talvez você possa ver os veículos do exército. Estavam montando uma zona de quarentena no aterro norte. As pontes foram fechadas. Ninguém pode ir para lá, nem a imprensa. O que quer que aconteça, vamos ter de assistir daqui.
— Pode descrever esse ataque, Lucy?
— Sim, é uma nuvem, uma nuvem quase em forma de cogumelo, igual à de uma explosão atômica. Só que... — Ela engoliu em seco em busca de palavras. — Ela se move, como um furacão. É enorme. Estima-se que tenha oito quilômetros de diâmetro, e está crescendo. Tudo o que se aproxima, e temos informações confiáveis de que estão incluídos nesse meio aviões da força aérea, é... como dizer... sugado: prédios, carros, até ruas inteiras.
Cal abriu o frasco e engoliu uma aspirina. Depois da segunda, tomou mais uma, usando as mãos para jogar a água da pia na boca e no rosto.
— Há relatos de uma figura dentro da nuvem — prosseguiu a mulher, e ao ouvir isso Cal se virou para a televisão. — Um homem. Acreditamos que seja uma espécie de ilusão de óptica, mas... Mas não sabemos de fato.
Na tela, a repórter foi empurrada por um estrangeiro zangado que gritou alguma coisa para a câmera antes de sair correndo. Havia muita gente ali, centenas de pessoas só naquela tomada, a maioria fugindo na mesma direção. Acima da cabeça dela, o equivalente a uma noite de inverno, o céu negro feito breu. A tela era pequena demais para que se pudesse realmente distinguir o que estava suspenso ali, mas aquilo rodopiava e se agitava, uma espiral giratória de vespas. A repórter tinha razão: era enorme.
— O secretário de defesa anunciou a convocação de um grupo de especialistas para tentar identificar a ameaça — prosseguiu a mulher. — Mas, até que esse relatório seja liberado para o público, não temos nada oficial.
Um soldado adentrou a filmagem, empurrando a mulher e fazendo um gesto para a câmera. A repórter lutou para falar enquanto era deslocada para fora da tela.
— Estão nos dizendo que a linha de quarentena está passando para o sul. É com você, Hugh.
Estática, e de volta para o estúdio. O homem arrumava os papéis, a boca aberta como a de um peixinho dourado. Ele tossiu, e Cal desviou de novo o olhar. Era sempre mau sinal quando os âncoras ficavam sem fala; era assim que você sabia que a encrenca era para valer. Cal esfregou as têmporas e, vendo o telefone ao lado da televisão, seus pensamentos se voltaram para a mãe. Ela estaria terrivelmente preocupada com ele, teria deixado incontáveis mensagens em seu celular, mas não havia nenhum sinal em Fursville, e o celular tinha se perdido em algum lugar entre o ataque à fábrica e a destruição de Hemmingway por Schiller. Pegou o telefone sem fio, parou um instante e, em seguida, ligou para casa.
O que diria a ela? Oi, mãe, desculpe ter sumido por uns dias; é que da última vez que nos vimos você tentou arrebentar o vidro do carro para me matar, lembra? Claro que ela não lembraria. Era assim que a Fúria funcionava; era o que ela tinha de mais cruel. Atacavam você, matavam você, e depois o esqueciam. Era como se você nunca tivesse existido.
A ligação foi atendida, mas foi ele quem respondeu do outro lado da linha. O som da própria voz lhe deu palpitações, uma descarga forte de adrenalina detonando em sua barriga.
— Olá, você ligou para a família Morrissey. Não estamos em casa no momento, mas deixe um recado, por favor. Ou, se quiser falar comigo, ligue para o meu celular. Valeu.
Ele parecia tão jovem, tão distante, tão não ele mesmo, como se houvesse outra versão de Cal Morrissey sentada em casa, uma versão sem um anjo no coração. Ouviu o bipe, percebendo que respirava alto ao telefone, e encerrou a chamada com o dedão. Não queria que a mãe achasse que ele era algum tarado obcecado; ela já tinha muito com que se preocupar. Esticou a cabeça, tentando se lembrar do celular dela, e apertou os números. Começou a tocar. Por favor, que tudo esteja bem com você, pensou ele. E estaria, certo? Moravam em Oakminster, era bem a leste da cidade, a quilômetros da tempestade. A menos que ela tenha ido para Londres, pensou. De repente, ela está lá me procurando.
— Alô?
Aquela única e simples palavra pegou-o totalmente de surpresa, inundando-o. Antes que percebesse, ele chorava, os gritos saindo com tanta força que não foi capaz de articular uma só palavra. Desabou contra o balcão, as lágrimas escorrendo do rosto, chegando salgadas à língua, o corpo inteiro sacudindo com a força daquele momento.
— Callum? Cal, é você? Meu Deus, onde você está? Está tudo bem?
Ele soltou um punhado de quase-palavras, respirou fundo e tentou de novo:
— Estou bem, mãe — gemeu, o choro se atenuando em brandos soluços. Enxugou as lágrimas, os olhos como que recheados de algodão, a garganta ardendo. — Estou bem.
— Meu Deus! — disse ela, e Cal percebeu que a mãe também chorava. — Estava tão preocupada, Cal, eu achei... Achei que alguma coisa terrível tivesse acontecido. Onde você está?
— Estou em segurança. Fora da cidade. Você também precisa sair daí, mãe, tem uma coisa realmente terrível acontecendo.
Um som de fricção, como se ela destrancasse uma porta ou algo assim. Cal ouviu vozes.
— Estou bem — disse a mãe, fungando. Havia no tom de voz dela certo enrijecimento agora. Cal o conhecia bem: depois que as lágrimas iam embora, sempre vinha a raiva. — Tem ideia do quanto fiquei preocupada? Você simplesmente sumiu com o carro. Estou presumindo que foi você quem levou o carro.
— Sim, desculpe, eu...
— Cal, mandei a polícia ir atrás de você! Os vizinhos, ninguém conseguia entender por que você teria fugido! Foi por causa do que aconteceu na escola? Seus amigos estão assustados, Cal, e também furiosos; eles acham que você os abandonou. A coitada da Georgia continua no hospital. Por que, Cal? É melhor ter uma boa explicação!
Tem uma coisa dentro de mim, uma criatura que vai nascer para me transformar em uma arma, e assim poderemos combater o homem na tempestade, mas ela é tão poderosa e tão estranha que as pessoas não aguentam ficar perto dela, por isso tentam me matar. Essa ideia era tão absurda que ele fungou em meio a uma risada amarga.
— Não é engraçado, Cal! Seu pai chega amanhã, e ele vai ficar muito zangado!
— Desculpe, não estava rindo. Olha, mãe, não posso contar tudo, não agora. Só queria que soubesse que estou em segurança, que estou bem. Logo eu vou para casa, prometo, mas tem uma coisa que preciso fazer primeiro.
Era mesmo verdade? Ele realmente poderia ir para casa? O que aconteceria se combatessem o homem na tempestade, se de algum modo pudessem derrotá-lo? Os anjos simplesmente iriam embora? Ou teriam vindo para ficar?
— Não vá para casa! — disse a mãe. — Não estou lá. Estou na casa de sua tia Kate. Você não viu as notícias?
— Vi. — Cal ofertou um agradecimento mudo ao ar por ela estar em segurança, ou pelo menos fora da cidade. Kate vivia em Southend, bem ao lado do mar. Se elas precisassem, podiam pegar um barco e ir para outro lugar da Europa. — Pois é, a situação está difícil mesmo, mãe.
— Estão dizendo que milhões de pessoas vão morrer, ou já estão mortas. Meu Deus, Cal, você pode vir para cá? Onde você está? Juro que não vou ficar zangada se resolver dar as caras agora aqui na casa da Kate.
— Eu... Não posso, mãe, ainda não. Mas em breve, está bem? — O choro bateu em seu peito outra vez, mas ele o trancafiou. — Olha, preciso desligar, mas eu te amo.
— Cal, por favor, só me diga onde está! Eu vou aí e pego você!
— Eu te amo, mãe.
Ela precisou de um instante para escutá-lo, não suas palavras, mas a verdade dentro delas, a compreensão de que talvez fosse a última vez que se falavam. Ela começou a chorar de novo, e Cal a visualizou na casa de Kate, sentada no sofá de courino com o casaco de estampa de onça, a cabeça apoiada nas unhas perfeitamente vermelhas, cercada por aquela névoa de laquê e de Chanel nº 5. Viu-se colocando um braço em volta dela, apertando-a, do modo como fazia quando ela e o pai brigavam, dando-lhe um beijinho na pele macia da bochecha.
— Eu te amo, Cal — disse ela, a voz não mais que um sussurro. — Eu te amo muito. Diga que tudo vai dar certo.
— Tudo vai dar certo. Juro, vai dar certo mesmo. — Tinha a sensação de que havia uma pedra na garganta; quase não conseguia forçar o ar a passar por ela. — Preciso desligar, mãe.
— Não, Cal.
Sim. Ele desligou com o dedão e ficou ali, em um mar de luminosidade solar, sentindo-se exausto demais até para chorar. Deixou o telefone cair dos dedos, e o aparelho despencou do balcão para o piso de pedra, a tampa da bateria se soltando.
Diga que tudo vai dar certo, disse ele à criatura dentro de si, a coisa que se alojava em sua alma, o anjo-mas-não-anjo. Prometi a ela, o que significa que você prometeu também. Você tem de cumprir a promessa; tem de dar um jeito nas coisas.
Não houve resposta, só o batimento irregular do próprio coração. Virou-se, perguntando-se se teria forças para sair da cozinha, quanto mais para chegar à igreja. Ao menos a aspirina estava fazendo seu trabalho, anestesiando a dor. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Talvez, se continuasse dizendo aquilo, aquelas palavras se tornassem verdade. E tinha quase conseguido se convencer disso quando ouviu uma mudança no som da televisão, um coral de gritos transmitidos em ondas. Olhou para o aparelho e viu a tempestade, de algum modo ainda vasta mesmo na tela pequenina, e então ouviu a repórter avisar:
— É verdade, acabamos de obter confirmação: essa coisa está se movendo.
O Outro: III
A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, não a ausência de medo.
Mark Twain
Graham
Thames House, 11h59
— Está se movendo.
Graham tirou os olhos da tela, piscando para dissipar os pontinhos de luz. A filmagem da operação de campo tinha chegado havia alguns minutos, e ele já a assistira quatro vezes. Os soldados usavam câmeras no capacete — procedimento-padrão para qualquer ação ofensiva —, mas o que tinham gravado simplesmente não fazia nenhum sentido. Os garotos haviam saído do moinho, e o menino, o mesmo de antes, tinha de algum modo se transformado. Não tinham nenhuma imagem decente; a luz que ele emitia era brilhante demais para as câmeras, saturando-as, fazendo-as sangrar em brancura. Porém, em algum lugar do borrão, Graham jurava ter visto uma criatura em chamas, com duas asas enormes e incandescentes.
Então, em um lampejo, ela desaparecera. Graham tinha voltado e avançado a filmagem frame a frame, uma mera décima terceira parte de segundo entre eles. Em um, quatro garotos normais e o menino em seu inferno; no seguinte, um círculo de fogo, como quando você fotografa fogos de artifício em movimento. E, depois disso, apenas uma saraivada de cinzas e brasas. Aquilo que via era inacreditável, totalmente impossível. Tinha de ser algum defeito da câmera, só que todas as filmagens disponíveis, de meia dúzia de câmeras diferentes, mostravam a mesma coisa.
O pior de tudo era que eles tinham perdido mais de trinta homens. Graham ainda não dispunha do relatório completo, mas, pelo que ouvira em seu breve telefonema ao general Stevens, não havia sequer cadáveres; os soldados tinham sido vaporizados com o moinho e um campo de beterrabas. Só tem pó, dissera-lhe o homem. Os outros soldados estavam sendo tratados por estarem em choque. Aparentemente, dois terços deles tinham tentado arrancar os próprios olhos.
— Graham, está me ouvindo? — Era Sam, sentada ao lado dele.
— Hã? Desculpe. O que foi?
— Está se movendo.
Ela dirigiu a mão para a tela, e ele seguiu o arco grosseiro da unha roída, vendo a filmagem via satélite da cidade, que mostrava tudo, de Watling Park a norte a Fortune Green ao sol, e a maior parte daquilo era apenas um sólido borrão. Era como assistir à previsão do tempo e ver a inequívoca espiral de um furacão. Este, também, tinha um olho no centro, um bolsão de noite absoluta que aparecia, negro e vazio, sob lentes normais, infravermelhas, ultravioleta e todas as outras de que dispunham. Era como se, além daquele ponto sem retorno, não houvesse mais nada, calor nenhum, matéria nenhuma, ar nenhum, só um buraco onde deveria estar o mundo. E Sam tinha razão: a tempestade parecia agora se dirigir para o sul, envolvendo as linhas de trem de West Hampstead. Graham viu um fragmento de algo enorme ser erguido pelo turbilhão, um armazém, talvez a loja Homebase que havia ali. Desfazia-se no caminho, soltando pedaços enquanto desaparecia na corrente giratória.
— Nós...
Foi só o que Sam conseguiu dizer antes de a sala inteira sofrer um solavanco. Graham quase gritou, segurando a cadeira com tanta força que achou que tivesse quebrado alguns dedos. Todos os monitores da sala se apagaram, as luzes piscando enquanto o sistema de emergência lutava para recuperar o controle. Quando as luzes reacenderam, Graham viu que uma fenda se abrira no teto de trinta metros de puro concreto do bunker. Mau sinal.
— Que droga foi essa? — perguntou ele. Ainda havia um tremor percorrendo a sala, fazendo seus dentes baterem.
O monitor de Sam se reacendeu, com a transmissão via satélite ainda em ação. O movimento da tempestade tinha se intensificado, deslizando para o sul como uma nesga de petróleo respingando lentamente em direção à parte inferior da tela. Atrás dela restava um oceano de breu, uma trincheira vazia onde antes havia uma cidade. Graham ficou de queixo caído. Sentiu o gosto do pó da sala na língua, no ressecamento da garganta. Está vindo em nossa direção, está vindo para cá.
— Não sobrou nada — falou Sam. — Meu Deus. Aquilo... aquilo destruiu tudo!
Porém, destruir não era a melhor palavra. Uma destruição deixava ruínas, destroços, cadáveres. Essa coisa não deixava nada, cadáver nenhum, destroço nenhum, cinza nenhuma. Devorava tudo. Graham sabia que, se fosse possível ficar à beira daquela trincheira, só veria escuridão e nada mais. A sala tremeu de novo, a própria terra em volta deles parecendo rugir escandalizada, como um animal indefeso que sofresse uma tortura horrível.
— Não há nada que possamos fazer — gritou uma voz atrás deles. Graham olhou e viu Habib dirigindo-se ao elevador. Ele deu de ombros, pedindo desculpas. — Vocês também precisam ir. Se estiverem aqui quando isso chegar...
Não precisava terminar a frase. Graham sabia que, se aquela besta — a besta... de onde vinha isso? É um ataque, só um ataque — se lançasse contra Thames House, o fato de estar no subterrâneo não os salvaria. Ela os alcançaria com seus dedos de tempestade, levando-os ao buraco escancarado de sua boca, e tudo o que fazia dele ele mesmo seria erradicado. Virou-se de novo para a tela, ouvindo o bipe baixinho da porta do elevador.
— Ele tem razão — falou. — Você precisa dar o fora daqui.
— Claro. E deixar você no comando? — disse Sam. — De jeito nenhum. Não confio que um homem vá tirar a gente dessa!
Ela sorriu com delicadeza, apertando o ombro dele, e ele colocou a própria mão sobre a dela por um instante. Se a tempestade continuasse indo para o sul, então iriam embora, mas ainda havia tempo. Uma explosão abafada ondulou pelo teto, e choveu mais pó, fazendo tanto estardalhaço que Graham quase não ouviu o telefone que começou a tocar na mesa. Atendeu.
— Hayling falando.
— Graham, aqui é Stevens. — Seus anos de serviço militar fizeram-no endireitar as costas ao ouvir a voz do general.
— General. Está se movendo.
— Estamos cientes. Não temos mais opções.
— Como assim, general?
— Lançamos outro ataque aéreo quinze minutos atrás, mas o canalha engole tudo o que mandamos. O que quer que esteja no centro disso, não permite nossa aproximação. E você, tem alguma ideia do que estamos enfrentando?
— Não — respondeu Graham. — O que nós sabemos, o senhor sabe. Não é atômico, não é meteorológico, não é geológico nem biológico. E agora sabemos que é móvel.
— Se a trajetória atual for mantida, o centro de Londres será atingido em uma hora. — A voz do general, normalmente tão forte, parecia a de um garotinho. — É quase como se... como se essa coisa soubesse aonde está indo. Consegue me entender?
Está indo aonde tem gente, pensou Graham.
— Não, senhor — disse ele.
— E o outro incidente, aquele do litoral? Alguma pista?
— Não, senhor.
— Graham, preciso que fale a verdade para mim. — Stevens pigarreou. Algo ruim estava por vir. — Acha que sua equipe será capaz de identificar essa ameaça antes que ela chegue ao centro de Londres?
— Minha equipe? — Graham olhou para Sam e para a sala vazia atrás dela. Ruminou por um instante, e, em seguida, disse: — Não, senhor. Acho que não.
Uma pausa, e, depois, um profundo suspiro.
— Então fique bem trancado, Graham, porque vamos mandar uma bomba nuclear.
— General? — Aquilo com certeza seria um erro. Graham quase riu diante daquela insanidade. — Pode repetir?
— Você me ouviu bem — disse o homem mais velho. — Estamos sem opções. Se não fizermos algo agora, é impossível saber o que vai acontecer. Aquela coisa está crescendo, está ficando mais forte, e está se movendo. Conter a ameaça, Graham, e neutralizá-la; preocupar-se com os efeitos colaterais depois. É essa a nossa política no exterior; vai ter de ser nossa política aqui também.
— Mas o senhor não pode — gaguejou ele. — O senhor não pode autorizar um ataque nuclear em solo britânico, em Londres.
— Está feito. O primeiro-ministro deu sinal verde cinco minutos atrás. Estamos fazendo o melhor que podemos para evacuar a cidade, mas precisamos fazer isso com rapidez. Por esse motivo estou telefonando, Graham. Feche bem esse bunker até tudo isso acabar. Ou isso, ou você vai embora, mas não posso garantir que vá ficar fora da zona da explosão, não agora. Neste momento, o Dragão 1 está no ar.
— Quanto tempo temos? — perguntou ele.
— No máximo noventa minutos; é quase certo que menos. Lamento, Graham. Aguente firme. Com sorte, a gente acaba com esse negócio de vez e uma equipe vai buscar você assim que possível.
— E se não funcionar?
O general fungou ao telefone.
— Se não funcionar, então Deus nos ajude. Boa sorte.
— Para o senhor também — falou Graham, mas eram palavras vazias. Colocou o telefone suavemente na base, mirando-o como se o esperasse tocar outra vez, para ouvir o general dizer: Rá! Peguei você, hein, Graham? É a minha vingança por aquela vez que você esfregou pimenta no papel higiênico lá no Iraque! Mas claro que o telefone não tocou. Não tocaria de novo. Virou-se para Sam. — Você ouviu?
Ela tinha ouvido; Graham sabia pelo tom cinza-pergaminho da pele dela, pelo olhar vazio.
— Uma bomba nuclear em Londres — disse ela, balançando a cabeça. Uma lágrima desceu por seu rosto, criando uma trilha pela poeira que se assentara nele. — Meu Deus, Graham, isso está realmente acontecendo.
Ele olhou a tela, vendo a cidade. A cidade dele. Se o ataque — não, a besta; lá no fundo, você sabe a verdade — não a devorasse, então uma explosão atômica acabaria com ela, transformando-a em ruínas nas quais ninguém poderia pisar por décadas. Tinha de haver outro jeito, mas sua mente era uma tigela vazia. Soltou um palavrão e deu um soco na mesa, frustrado.
— Vamos trancar tudo? — perguntou Sam. — Aqui tem suprimentos para manter cem pessoas por um mês, a gente vai ficar bem.
Esconder-se, fechar a porta, deixar a cidade arder. Como poderia viver consigo mesmo se fizesse isso? Mas quais eram as opções? Sair correndo para o sul, onde o general comandava a operação? Ao menos teria uma boa visão da nuvem de cogumelo na hora em que se erigisse acima do Big Ben. Pensou em David; rezou para que tivesse saído da cidade, para que não estivesse esperando-o voltar para casa.
— Eu... — começou a falar, e então o vídeo do satélite piscou, mostrando um lugar perto do Maida Vale. Um pontinho de cor bruxuleante sob a tempestade furiosa, como se algo irrompesse pela tela do outro lado. Inclinou-se para a frente, o nariz quase achatado no vidro. — O que é isso?
A imagem era larga demais para que distinguisse a fonte da luminosidade e, após um segundo ou dois, desapareceu.
— Podemos dar zoom ali? — perguntou ele, apontando o local onde a chama desaparecera.
Sam fez que sim com a cabeça e digitou uma linha de código. A imagem ficou borrada, depois se aproximou, tornando-se mais nítida; borrou-se de novo, se aproximou mais e, depois, ficou mais nítida, e três vezes mais, até que exibisse um punhado de ruas em formato de lua crescente e casas em formato de caixa. A tempestade não era mais visível, mas estava próxima, porque sua sombra manchava a metade superior da imagem. Ali não havia sinal de vida além dos quatro pontinhos, indistintos, mas inequívocos.
— São eles! — disse Graham, esmurrando a tela com o dedo.
— Quem? — perguntou Sam.
— As crianças do litoral! — Parecia absurdo, impossível, mas tudo o mais que acontecera naquele dia também parecia. De algum modo, ele tinha certeza; teria apostado tudo naquilo; teria apostado a própria vida. Na verdade, era exatamente isso que estava disposto a fazer. Levantou-se. — Fique trancada aqui, Sam, mantenha-se em segurança!
— Não! — disse ela, levantando-se da cadeira. — De jeito nenhum! Se você for, eu vou também!
— Sam...
— Nada de “Sam”. É meu trabalho cuidar da cidade; não vou enfiar minha cabeça num buraco. O que quer que você esteja planejando, eu vou junto.
Ele concordou com um gesto de cabeça, andando até o elevador. Noventa minutos até a detonação. Tempo suficiente se conseguisse achar uma moto e ligar o motor. Não tinha ideia do que encontrariam caso fossem até lá, mas ao menos estariam fazendo alguma coisa. Se aquelas crianças tivessem algo de bom, ao menos poderia alertá-las. E, caso não tivessem, teria a satisfação de vê-las pegar fogo. A porta do elevador se fechou, e Sam segurou a mão dele enquanto se dirigiam para a tempestade.
Tarde
A eles não cabe entender por quê,
A eles cabe agir e morrer:
Para o Vale da Morte
Foram os seiscentos.
Alfred Lord Tennyson, “O ataque da brigada ligeira”
Rilke
Norte de Londres, 12h14
Pareceu ter demorado mais, desta vez, para que a vida os alcançasse.
O mundo se encaixou com um estalo em volta dela, e com ele veio um barulho diferente de tudo o que Rilke já ouvira, um rugido tão alto que deu a impressão de empurrá-la para dentro da terra. Apertou as orelhas com as mãos enquanto outro jato de vômito leitoso irrompia de seus lábios. O barulho persistia, parte estrondo, parte urro, parte badalo, como se ela estivesse dentro do sino gigante de uma catedral.
Forçou-se a abrir os olhos, já sabendo o que veria. O céu estava vivo, uma movimentação frenética que fervilhava acima como um caldeirão de óleo virado para baixo. Vastas nuvens de matéria circulavam em órbitas lentas, quase graciosas. Nelas Rilke enxergava pedaços de coisas, o reluzir de um caminhão, a silhueta de uma árvore ou do topo de uma igreja, além de incontáveis objetos similares — gente, percebeu ela — que bem poderiam ser folhas levantadas pelo vento. O tornado era tão denso que o sol era uma moedinha de cobre no céu, esquecido, as ruas ao redor escuras, à penumbra.
E, no centro daquilo tudo, estava ele, o homem na tempestade. Rilke não o via direito além do caos de nuvens, mas ele estava lá. Podia senti-lo, assim como podia sentir a gravidade atraindo-a, chamando-a com aquela respiração atemporal e infinita. Era ele o fantasma dentro da máquina, dentro daquele motor de trevas e poeira que rugia acima dela, e a voz dele era o grito de um milhão de trombetas. Exatamente como no Apocalipse, pensou ela, lembrando-se das histórias que ouvira na igreja. Os anjos soam suas trombetas, e o mundo acaba.
Uma risada lunática escapou dela e foi sufocada pela tempestade. Rilke ainda estava de joelhos quando percebeu Schiller caído à sua frente. Havia gotas de sangue sobre os ferimentos dele, as quais apenas flutuavam, como se não se lembrassem muito bem do que deveriam fazer, como se estivessem presas entre o lugar de onde tinham vindo e o lugar onde estavam agora. Schiller piscou para a irmã, seu olho esquerdo era uma piscina escarlate. Parte de seu crânio estava fendido onde levara um tiro, lascado como um fragmento de pedra. O que havia embaixo era viscoso, escuro e fosco. Ela colocou as mãos em concha ali, como se fosse segurar seu cérebro.
Você conseguiu, Schiller, ela enviou esse pensamento para ele, sabendo que sua verdadeira voz não lhe chegaria, que não havia espaço para ela em meio ao ar que berrava. Você nos trouxe até ele; estou tão orgulhosa de você!
Ele sorriu para ela, e seus olhos se reviraram nas órbitas. Ela sacudiu a cabeça dele com delicadeza até que ele recuperasse o foco, e, em seguida, mirou a tempestade. Será que ele sabia que estavam ali? Será que podia senti-los? Ajude-nos, gritou ela dentro da cabeça. Não deixe meu irmão morrer!
A tempestade se agitava na própria fúria, em nuvens gigantes como os tentáculos de cem criaturas se retorcendo e se enroscando. Rilke correu o olhar ao redor, para além de Marcus, cujo rosto era um retrato de puro horror, e de Howie, ainda trancafiado em seu casulo de gelo, avistando uma rua e casas dos dois lados. Tudo estava coberto de pó e cinzas, numa chuva fina que ainda caía do céu em ruínas. Não havia ninguém mais à vista. Como falariam com o homem? Pense, Rilke, pensou ela, vendo o irmão perder a consciência outra vez. Pense, pense, pense, sua idiota!
Schiller precisava se transformar. Era o único jeito. Se o irmão voltasse a ser anjo, o homem na tempestade teria de notar sua presença. Ele era grande demais para vê-los onde estavam agora, barulhento demais; ele era como uma colheitadeira prestes a esmagar um passarinho. Colocou a outra mão na bochecha de Schiller, erguendo sua cabeça do chão. Ele gemeu, mas ainda estava ali, ainda estava vivo.
Mais uma vez, irmãozinho, ela lhe disse. Deixe-o sair, e a tempestade vai ver você.
Ele sacudiu a cabeça, um movimento mínimo, que ela sentiu nos dedos.
De novo, repetiu ela. Ele só precisa saber que você está aqui e vai dar um jeito em você. Sei que vai, Schiller. Eu sei; você precisa confiar em mim. Apoiou a cabeça dele na barriga e colocou a mão livre em seu coração. Deixe-o sair, deixe-o falar. Ele vai curar você, e você nunca mais vai precisar ser fraco. Deixe-o sair.
Os olhos do irmão esvaziaram-se e, por um instante, ela achou que o tivesse perdido. Mas ele deve ter tido algum vislumbre da morte, de algo pior do que a dor, pior do que a Fúria, pior ainda do que a tempestade, porque seu corpo inteiro de súbito retorceu-se para cima, como se fosse acordado de um pesadelo. E, com esse movimento, veio o fogo, irrompendo das fornalhas de seu olhar, derramando-se sobre o corpo, transformando-o em um fantasma de azul, vermelho e amarelo. As asas se abriram, um brilho enorme contra as nuvens. Ele gritou uma palavra para a tempestade, uma palavra que abriu caminho pela rua, demolindo uma casa após a outra.
E o homem na tempestade o ouviu.
Algo detonou no meio do furacão, um barulho poderoso que poderia ter sido a terra se abrindo. Uma onda de choque explodiu, fazendo uma nuvem de detritos subir pelo céu e atravessar a cidade, removendo as nuvens e revelando o que estava atrás delas.
Ele estava suspenso ali, grande demais para ser humano, muito maior do que os prédios acima dos quais se erigia, e, no entanto, de algum modo, ainda um homem. Cintilava na atmosfera perturbadora como uma névoa de calor, quase uma miragem, seu corpo feito de sombras ondulantes, as mãos erguidas para os lados. O rosto não era realmente um rosto, só um vórtice giratório que fez Rilke pensar naquelas enormes brocas que cavavam túneis em montanhas, um giro infindo e vibrante que detonava tudo ao redor.
Mas eram os olhos dele... Duas órbitas vazias em sua cabeça, totalmente inertes e, ao mesmo tempo, plenas de um júbilo odioso. Era impossível dizer a que distância o homem estava, talvez dois ou três quilômetros, mas Rilke sabia que aqueles olhos a tinham visto; ela os sentia se arrastando por seu rosto como dedos de um cadáver, abrindo caminho até sua cabeça, até seus pensamentos. Sua mente de súbito era um brinquedo de dar corda, uma maçaroca desajeitada de latão e mola, desmontada e quebrada pelo toque dele. Ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau, uma coisa dentro dela berrava, mas ela lutou contra aquilo: ele não é, ele vai salvar Schill, ele precisa salvá-lo porque nada mais pode fazer isso, por favor, por favor, por favor.
Schiller agora estava de pé — ou pairando trinta centímetros acima da rua —, naquele pulsar atômico que fazia o concreto vibrar. Ele falou outra vez, numa descarga ondulante de energia que abriu uma trincheira na terra, dirigindo-se ao homem na tempestade. E o homem respondeu. Aquela inspiração infinita jamais parou, mas os olhos transmitiram sua mensagem direto para a cabeça dela; não palavras, nem imagens, só o horrendo silêncio e a imobilidade do fim de todas as coisas. O mero peso daquilo, do nada eterno e infinito, fez com que ela tivesse vertigens. Ela tropeçou em Howie, caindo de costas, o ar sendo removido dos pulmões. Essa coisa não vai deixar restar nada, pensou ela. Haverá apenas um buraco enorme onde antes havia o mundo.
— Não! — gritou ela, a palavra sugada de sua boca pelo vento furioso, pelo rugido sem fim da tempestade.
Não acreditaria naquilo. Vá até ele, Schiller, ajoelhe-se a seus pés, mostre que veio para servir. Ele com certeza abriria os braços e os receberia como filhos, não receberia? Ele esfolaria a pele da alma deles, rasparia os ossos, os deixaria em puro fogo. Vá até ele, irmãozinho. Não, corra, leve-nos daqui. Não, irmãozinho, é aqui o nosso lugar. As duas metades dela estavam em guerra, e sentia o mecanismo da mente se esfarelar.
Schiller ergueu-se, como que fisgado, a coisa mais brilhante no céu. O homem o observava, vastos tsunamis ainda inundando Londres, envolvendo tudo o que tocavam. Relâmpagos negros lançavam-se ao chão, vindo de sob a tempestade. Só que ali não havia chão, percebeu Rilke, só o vazio. O chão tinha simplesmente desaparecido. O homem mirava seu irmão como um lagarto espreita um inseto, os olhos negros cheios de ganância, de avidez. Mas havia também uma centelha de reconhecimento. Ele entendia quem era Schiller.
Ele conhece você, disse ao irmão, erguendo os olhos para onde ele ardia contra a luminosidade sobrenatural, como uma estrela que fora derrubada do firmamento. O coração dela pareceu levantar-se junto dele, e soube que estava certa, que estavam ali para servir o homem na tempestade. Ela abriu um sorriso enorme, a euforia como uma enchente de sol dentro de suas artérias, fazendo-a sentir que já não era nada além de luz e calor.
Não durou.
O homem na tempestade mexeu os dedos e virou o mundo do avesso.
O chão desabou sob seus pés, e o ar de repente ficou repleto de pedregulhos, rochas, casas. Ela abriu a boca para gritar, mas o grito não saiu porque ela caía em trevas, como se despencasse em uma cova sem fundo. Schiller ainda ardia bem acima dela, e ela estendeu a mão para ele, sabendo que, se não fizesse isso, cairia para sempre. Os olhos do irmão arderam, um lampejo de emoção bem no fundo do fogo, e ela sentiu os braços dele envolvendo-a — não sua carne, mas outra coisa. Ele a arrancou do poço, colocando-a a seu lado com Marcus e o outro garoto, abraçando-a com um pensamento, enquanto a cidade desabava em volta deles. Não havia mais superfície entre ela e a tempestade, só o vácuo, um oceano de vazio.
O homem fez outro gesto com as mãos, puxando a terra como se levantasse um cobertor. De ambos os lados, um bilhão de toneladas de matéria ergueram-se no ar, lançadas na direção deles. O ar rugiu, as orelhas de Rilke estalando com a onda de pressão que chegou primeiro. Ela levou as mãos ao rosto, sabendo que não trariam proteção nenhuma, que seria esmagada e viraria pó. Porém, mesmo que o mundo sacudisse e sacudisse e sacudisse, não havia impacto, nem dor.
Espiou entre os dedos, vendo uma bolha de luz de fogo bruxuleante ao redor deles. Pedaços de concreto do tamanho de casas batiam contra o escudo como ondas contra recifes, carros, caminhões, árvores e gente também, explodindo em líquido com a colisão. A maré não tinha fim, inundando as trevas ao redor, pressionando-os, jorrando para cima, dando a Rilke a sensação de estar em uma caverna, sem nenhum sinal à vista da fraqueza humana de Schiller, tudo ardendo com força total enquanto ele lutava para mantê-los vivos.
A torrente parou, o céu se abrindo de novo, ainda repleto de fumaça, uma cachoeira de matéria caindo na escuridão. À frente estava o homem suspenso em sua tempestade, e havia algo mais naquele olhar agora — não exatamente dentro dos olhos, ela percebeu, mas sendo canalizado através deles. Era ódio, puro e simples. Ele queria matá-los.
O que foi que eu fiz?, ela perguntou, entrando em pânico, vendo o abismo abaixo dos pés, uma boca aberta só esperando que ela caísse. O poder de Schiller era a única coisa que os sustentava; quanto tempo mais ele duraria? Agarrou o irmão, as chamas frias contra a pele dele fazendo cócegas. Ele bateu as asas, a bolha de fogo em volta deles se extinguindo, espirais de poeira dançando até findar em todas as direções. Marcus estava suspenso ao lado dela, sustentado por dedos invisíveis, e também o novo garoto, os quatro trancados na fúria dos olhos do homem. Ah, o que foi que eu fiz, Schiller? Eu estava errada, não estava? Totalmente errada!
O ruído da respiração infinita do homem aumentou, pinceladas negras tomando o ar como uma tela sendo rasgada. A tempestade outra vez começou a afunilar-se para sua bocarra escancarada, os detritos sendo sugados lá para dentro. Rilke também, seu estômago era uma montanha-russa enquanto se precipitava na direção dele. Ela se agarrou ao irmão com toda a força que possuía, mesmo que soubesse não ser preciso, sentindo-o ser puxado através do ar como um barco para um redemoinho.
— Enfrente-o! — ela gritou em seu ouvido, quase sem ouvir a própria voz.
A resposta dele flutuou para seus pensamentos.
Rilke, não consigo, ele é forte demais.
A corrente era muito poderosa, arrastando-os para as lâminas giratórias de sua boca. Iam mais rápido agora, o homem se avolumando à frente, enorme, um colosso. Seus olhos ardiam. Ele iria ingeri-los, e depois...? Depois nada, você nunca terá sido e nunca será outra vez.
— Schiller! — rogou ela.
O irmão falou, a palavra como um míssil detonando no meio da tempestade. O homem nem pareceu senti-la, precipitando-se, indo cada vez mais rápido, até que só houvesse sua boca, somente aquela garganta ilimitada e sem luz. Schiller falou outra vez, mas sua voz era humana, o miado de um gatinho. A capa de chamas desapareceu, e ele se agitou em pleno ar, preso na corrente. Tinha acabado. Era o fim. Tudo estava perdido.
Rilke fechou os olhos, sentindo o ar que fedia a carne e a fumaça, e gritou:
— Daisy!
Daisy
East Walsham, 12h24
— Daisy!
Daisy levantou a cabeça ao ouvir seu nome. Os cubos de gelo estavam agitados. Todos recuavam, menos um, o dele, onde o homem na tempestade ainda estava suspenso. Ela não queria olhar, mas como poderia desviar os olhos? A visão que o cubo continha era diferente agora, a cidade apagada sob o homem como se alguém houvesse apagado um desenho de que não gostasse. Tudo em volta dele estava sendo aspirado para sua boca.
— Daisy!
O nome dela outra vez, e desta vez ela reconheceu a voz. Era Rilke. E não eram ela, o irmão, Marcus e Howie, bem ali, como insetos se afogando em poeira enquanto eram sugados para a tempestade? Ah, Rilke, você foi se encontrar com ele, bem como falou, pensou ela, a tristeza fazendo pressão em seu peito. E agora a menina ia morrer. Por que Rilke não tinha lhe dado ouvidos? Por que não havia acreditado nela? Rilke era tão tola!
A pressão mudou de lugar, crescendo, e o coração de Daisy soltou um baque doloroso. Não era tristeza, era outra coisa. Colocou uma das mãos — aquela que na verdade não possuía naquele lugar — contra o peito, sentindo a frieza ali, e, ao olhar para baixo, línguas de fogo lambiam seus dedos.
Ah, não, pensou ela. É agora!
O anjo dela estava nascendo.
— Daisy? — Desta vez, outra voz, de um lugar perto.
Daisy espiou por entre os enormes cubos de gelo que batiam uns contra os outros e viu Howie, o novo garoto. Não seu corpo físico, que estava com Rilke na tempestade; aquela era uma outra parte dele. Sua alma, ela supôs. Ele tinha a mesma idade dela. Talvez fosse um pouco mais velho. Em seu peito, também havia um bolsão de fogo, espalhando-se para os ombros e descendo pela barriga, como se ele fosse feito de palha. Parecia aterrorizado, os olhos arregalados e brancos, encarando a si mesmo como um menino que tivesse visto aranhas irromperem da própria pele.
— Está tudo bem — ela lhe disse, tentando esconder o próprio medo. Estendeu as mãos e, num instante, ele estava ao lado dela, abraçando-a, sua cabeça-não-real enterrada em seu ombro-não-real. Ela acariciou os cabelos dele, sussurrando-lhe: — Não se preocupe, não vão fazer mal a você; eles estão aqui para nos deixar em segurança. São bons, são amigos. Não se assuste.
Não doía; era mais como quando você vai nadar e, então, entra na água: no começo, ela parece muito fria, mas logo você nem repara. O toque gélido das chamas já tinha chegado ao pescoço dela, e agora alcançava o queixo. Ela abraçou Howie e Howie a abraçou, ambos incendiando-se ao mesmo tempo. Algo badalou em sua cabeça, uma melodia muito parecida com a que sua caixinha de música tocava quando Daisy era criança. Não havia palavras, mas ela sabia que aquilo era uma voz, a voz do anjo.
— Está ouvindo? — perguntou ela, sentindo Howie assentir com a cabeça contra seu corpo. — Não assusta, assusta?
Ela baixou os olhos e viu que agora o fogo estava por toda parte, cobrindo-a por completo, e por dentro dela também. Sentia-se tão sem peso quanto o ar, como se fosse um facho de luz. Grãos de poeira subiam e desciam em volta dela, atraídos para ela, e o gelo derretia apesar do frio, riachinhos de água cristalina formando uma poça sob seus pés. A melodia na cabeça ia ficando mais alta à medida que o anjo encontrava sua voz, e, embora Daisy não fosse capaz de entendê-la, compreendia o que ele mostrava: os bilhões de anos de sua vida apresentados em um único segundo. Não houve tempo de processar aquilo antes que se sentisse puxada para cima, do mesmo jeito como às vezes acordava dos sonhos, como um mergulhador sendo içado do oceano em uma corda. Fechou os olhos com força contra a súbita vertigem.
Vai ficar tudo bem, disse ela enquanto Howie desaparecia, voltando para seu corpo no mundo real. Ele seria um anjo também, ela sabia. Confie em mim.
Ela rompeu a superfície do oceano onírico, o mundo real costurando-se em volta dela: uma igreja, vitrais, bancos de madeira, mas nada com a mesma aparência de antes. Tinha a sensação de poder espreitar o coração das coisas, ver do que eram feitas, os pequenos átomos e suas órbitas. Se quisesse, poderia arrebentá-los a um só pensamento. O fogo dela era a coisa mais brilhante ali, irradiando-se dela, emitindo um zumbido grave que parecia fazer tudo tremer.
Não era tão ruim, era? Era como...
E foi então que teve um súbito momento de pânico, a constatação colossal do que ela era. Olhou a si mesma, o incêndio na pele, o modo como as mãos pareciam translúcidas, diminutas máculas de energia subindo e descendo pelos dedos. Algo forçava suas costas também, como se as costelas tentassem abrir caminho à força. Não era dor, só uma coceira enlouquecedora. E, quando se deu conta do que causava aquilo — minhas asas, meu Deus, meu Deus —, gemeu diante do som de um monstruoso passarinho arrebentando a casca de seu ovo.
Virou-se para tentar vê-las, mas o movimento produziu força demais, lançando-a para o outro lado da igreja. Ela voou contra uma parede, com as asas tremendo, fora de controle, mandando-a em rodopios para o lugar de onde tinha saído. Em algum ponto daquele caos giratório, ela viu Brick, Cal e o pequeno Adam, todos se abaixando para se proteger. Havia também outro homem, aparentemente um sacerdote, gritando para ela, após sucumbir à Fúria. Estendeu as mãos para ele, dizendo-lhe para não se assustar, mas, para o horror dela, ele explodiu em uma nuvem de cinzas, suspenso como um fantasma no ar, até lembrar-se de se espalhar.
Daisy gritou, o barulho sendo o de motores de um avião colocados em funcionamento. Suas asas bateram outra vez, levando-a até as vigas no alto. Pare, por favor. Ah, Deus, eu só quero voltar a ser eu mesma. Por favor, por favor, por favor. Mas o anjo não lhe deu ouvidos, fazendo-a chocar-se contra o teto, as imensas asas a bater, soltando uma avalanche de madeira e pedras antigas. Afastou-se com um empurrão, caindo no chão, mas sem acertá-lo, só pairando acima dele como se nele houvesse uma almofada invisível.
— Daisy! — chamaram o nome dela outra vez, mas agora era Cal.
Ela o viu correr entre as fileiras em sua direção, tropeçando nos destroços de um banco. Daisy estendeu as mãos para ele, mas o movimento a mandou para trás aos rodopios. Gemeu outra vez, o som fazendo um vitral explodir, vertendo luz solar na escuridão.
Não se mexa, não se mexa, ordenou ao corpo. Ficou como uma estátua, ouvindo a estonteante sinfonia do anjo — é esse o som do coração dele — e escutando passos rápidos. Cal praticamente derrapou ao lado dela, estreitando os olhos contra a luminosidade. Parecia exatamente ele, mas, quando ela se concentrou, enxergou os pedacinhos de que era feito: os órgãos viscosos, como se ele estivesse em um açougue, os poros na pele e, mais fundo que isso, as células que nadavam no sangue e o show de fogos de artifício dentro de seu cérebro. Não gostou; não gostava de ver que as pessoas eram apenas motores de carne. Porém, não se afastou, para não lhe fazer mal.
— Daisy, você consegue me ouvir? — perguntou ele. Ergueu a mão, uma constelação de átomos, como que para tocá-la, e, em seguida, pareceu mudar de ideia. — Tudo bem com você?
Ela não ousou responder. A voz dela agora era outra coisa, uma arma. Um lembrete do que vira antes de seu anjo nascer, Rilke e os outros sendo sugados para a boca da tempestade. Era por isso que o anjo dela nascera agora, porque precisavam que ela os salvasse. Mas como? Estavam longe, lá na cidade. Bem na hora em que fez a pergunta, a coisa dentro dela deu uma resposta, não com sua voz, mas apenas com uma imagem — ela em um campo com Adam, presa em um carro, as mãos dadas, de algum modo em movimento. Claro, aquilo fazia sentido, não fazia? O tempo e o espaço não eram mais reais, não para ela.
— Está tudo bem com ela? — Desta vez, era Brick, de pé ao fundo da igreja, as mãos no cabelo avermelhado. O rosto dele era uma máscara de preocupação, e ela fez o melhor que pôde para sorrir. Isso não ajudou muito a acalmá-lo, o que não foi de surpreender. Se ela se parecesse com Schiller, seus olhos pareceriam feitos de aço derretido.
— Acho que sim — respondeu Cal. — Daisy, está me ouvindo?
Sim, disse ela, falando com eles dentro de sua cabeça, de algum modo emitindo as palavras. Aquela voz não podia lhes fazer mal. Estou aqui, Cal, não se assuste.
Cal abriu um sorriso enorme, olhando para trás.
— Está ouvindo? — perguntou ele, e Brick fez que sim com a cabeça. Cal se virou de novo. — Como você faz isso?
Daisy não respondeu, porque não sabia. Brick deu alguns passos pelo corredor, e Daisy reparou que ele deu a mão para Adam.
Ela o chamou com sua mente, acostumando-se com o som das palavras dentro da cabeça. Sei que estou diferente, mas continuo sua amiga, está bem?
O menino fez que sim com a cabeça, um estremecimento de sorriso correndo por seus lábios. Daisy respirou fundo — ainda que não achasse que precisava de ar, considerando sua versão física atual — e saiu do chão. Movimentos lentos, bem estudados, era esse o truque. Nada muito exagerado. Ficou de joelhos e em seguida deu uma batida de asas para experimentar. Era estranho, como se tivesse um par de braços a mais. Sentia que elas cortavam o mundo real como uma faca quente cortaria manteiga, içando-a até que ficasse de pé, ou melhor, até que pairasse sobre o chão. Era estranho estar assim, mais alta do que Brick. Sentia-se uma adulta, o que era empolgante, mas também um pouco triste. Não queria ter crescido ainda.
— Como é? — perguntou Cal, os olhos parecendo prestes a pular do rosto.
Não dói, respondeu ela. É... Não consigo explicar. É como usar uma roupa de super-herói ou dirigir um carro. Sim, é um pouco assim, como dirigir, porque, se fizer algo errado, pode machucar alguém.
Ela se lembrou do sacerdote. Tapou a boca com a mão ao virar-se para o outro lado da igreja; tudo o que restava do homem era um montinho de cinzas incandescentes. Um halo de brasas brilhantes flutuava em círculo ao redor dele, como se ainda não quisessem deixar de viver, como se pudessem manter a morte distante com uma dança.
Ah, não, o que foi que eu fiz?, falou. Eu o matei.
Porém, a emoção fervilhante que ela esperava, aquela torrente insuportável de tristeza, não veio. Uma vez, quando tinha cerca de oito anos, achara um besouro no quintal dos fundos, um besouro pequenino, do tamanho da unha do dedão. Queria levá-lo para casa, ser amiga dele e guardá-lo em uma caixa de fósforos, e tentou fazer com que ele se agarrasse a um palito. Mas o besouro ficava esperneando e correndo para longe; frustrada, bateu nele por acidente com força demais e o matou. Tinha chorado, chorado e chorado; o pobre besourinho havia morrido por causa dela. Ela achava que jamais perdoaria a si mesma.
Agora, porém, a tristeza estava esquecida em sua barriga. Estava ali, mas esquecida. O anjo está me protegendo dela, percebeu, como um escudo. E, com essa compreensão, veio o entendimento de que aquilo não duraria para sempre; que, assim que voltasse ao normal, aquela tristeza horrível de súbito a atingiria.
— Você não fez de propósito, Daisy — disse Cal, usando um banco como apoio para levantar-se. — Não foi culpa sua.
Eu sei, respondeu ela. Ela lamentaria depois, porque agora havia outra coisa que precisava fazer. Cal, precisamos salvar Rilke e Schiller, eles precisam de nós. Ela viu a imagem na cabeça, o homem na tempestade sugando-os em sua boca espiralante, e compreendeu que Cal, Brick e Adam também a tinham visto. Eles vão morrer.
No fundo da igreja, Brick quase cuspiu uma risada.
— Eles que se danem! — falou ele. — Por que eu iria ajudá-la? Ela que provocou isso.
— Ele tem razão — disse Cal, dando de ombros. — Ela fez por onde.
Não se trata dela, falou Daisy. Precisamos dela, precisamos de todos eles, para combater aquilo. Não acho que vamos conseguir fazer isso sozinhos. Não tinham tempo, talvez já fosse tarde demais. Cal, por favor, precisamos ir.
A ideia de abrir um buraco no espaço e entrar nele, e ver-se à sombra do homem na tempestade, era para ser assustadora. Mas isso também era anestesiado pela presença do anjo. Parecia mais um eco de medo, algo de que Daisy não podia se lembrar muito bem. Ele me deixa forte, pensou consigo. Me dá coragem.
Cal, por favor, pediu outra vez, estendendo-lhe a mão. Gavinhas de luz ergueram-se da pedra abaixo dela, cada qual sumindo após um instante. Cal examinou-as, e, em seguida, voltou os olhos para ela.
— Temos escolha? — perguntou ele.
Claro, disse ela. Vocês todos têm escolha. Mas precisam fazer a escolha certa.
Cal olhou para Brick, os dois garotos compartilhando um pensamento que Daisy não conseguiu entender bem. Em seguida, Cal se virou para ela e fez que sim com a cabeça. O medo saía dele em ondas grandes e escuras, mas sua expressão era firme. Ele engoliu ruidosamente, e depois lhe deu a mão. Ela pareceu ver a vida inteira dele desenrolar-se em um instante, sua casa, a mãe e uma garota bonita chamada Georgia; o coração dela ficou pesado, como se tivesse vivido aquela vida ao lado dele. Segurou a mão de Cal com delicadeza, tomando cuidado para não feri-lo. Adam desvencilhou-se de Brick e correu por entre os bancos, abraçando-a pela cintura.
Brick?, perguntou ela. O garoto mais velho ficou parado ali, arrastando os pés no chão, mordendo o lábio. Ela viu os lampejos que apareciam dentro do crânio dele, os pensamentos correndo de um lado para o outro, lutando entre si, e viu também o momento em que tomou sua decisão. Ela nem esperou que ele assentisse. Apenas usou a mente para abrir um buraco no ar, a realidade incendiando-se à sua volta como se a pele do mundo tivesse pegado fogo. Do outro lado, estavam a cidade e a tempestade, e com um bater de asas ela os levou rumo a elas.
Brick
Londres, 12h32
Daisy nem lhe deu chance de responder. Em um segundo, ele estava na igreja, perguntando-se como ia se livrar daquela situação, e no seguinte, passou a se sentir como um pião em movimento.
Deu um salto-mortal para cima, e tudo se tornou um borrão, com seu estômago espremendo-se até ficar do tamanho de uma pinha. Em seguida, seus sentidos voltaram para o devido lugar num estalo, e ele já estava em outro lugar, deitado de costas. Abriu a boca para gritar, mas tudo o que saiu foi um jato de vômito branco. O ar estava repleto de cinzas, pousando em sua língua e deixando ali um gosto amargo. Ele as cuspiu, limpando o resquício de vômito dos lábios e levantando-se em seguida com dificuldade.
Daisy estava alguns metros à frente. Só que não era Daisy. Não mais. A criatura que ela se tornara agora, aquela que tinha roubado o corpo da menina, pairava acima do chão, ainda envolvida em chamas. Suas asas eram como as velas de um navio incandescente, duas vezes mais altas do que ela. E o ruído que emanava era uma descarga elétrica que pulsava através do ar, pelo chão, fazendo os dedos de Brick formigarem e o cabelo se eriçar. Não fazia sentido que aquela garotinha que eles carregavam algumas horas atrás, aquele saco de ossinhos-palito, agora fosse aquilo. Brick precisou desviar o olhar.
Porém, o que viu era infinitamente pior.
O céu acima do horizonte era como um oceano de ponta-cabeça, um mar ondulante de trevas cujas ondas levavam a cidade — Isso é Londres? Não pode ser, não sobrou nada! — para suas profundezas. E, em meio ao oceano, havia uma figura, iluminada por relâmpagos negros que chicoteavam através do caos; estava suspensa como um leviatã, uma descomunal criatura do mar revirando a água. A visão era tão horrenda que um gemido insurgiu da barriga de Brick, frágil, débil, derramando-se de sua boca. E, antes que o garoto pudesse se conter, soluçava, tateando para trás, gritando.
— Por que você me trouxe aqui? Por quê?
— Brick... Cuidado... — Era Cal, gritando de onde estava, a alguns metros de distância, as palavras roubadas pelo vento uivante. Ele estava encolhido, o cabelo batendo no rosto. Adam, o garotinho, ainda abraçava Daisy, o rosto enterrado tão fundo na barriga dela que Brick se perguntou como a pele dele não tinha sido queimada pelas chamas. — Venha para cá.
Brick balançou a cabeça em uma negativa, arrastando-se para trás. Bateu em algo, ganiu e virou-se, avistando um carro, tão coberto de poeira alaranjada que parecia estar ali fazia um século. O jovem o usou como apoio para se levantar, os pés mergulhando em algo macio. Era um corpo, percebeu ao baixar os olhos. Uma coceira que apitava formou-se na mente de Brick; algo ali não estava certo. Ele afastou o pé do cadáver, sacudindo o tênis sujo e vendo outros corpos caídos como uma trilha de dominó que tivesse sido derrubada. Eram dezenas.
Ah não, ah não, ah não; por que não o tinham deixado na igreja? Lá ele estava em segurança, ainda mais com o sacerdote morto. Poderia ter ficado lá durante dias, poderia ter ficado lá para sempre.
Porque precisamos de você, Brick. A voz de Daisy soava tão alto em sua cabeça, com tanta nitidez, que bem poderia estar dentro de sua carne. Brick chegou até a dar uma pancadinha na têmpora, como que para afastá-la com uma sacudidela. Mas não, ela ainda estava pairando acima do chão, emoldurada pelos destroços de uma dezena de casas, os olhos fervilhando, cuspindo flocos de fogo, a boca aberta e revelando uma garganta de genuína e alva luminosidade, como se tivesse engolido o sol. Preciso de você, Brick, não posso fazer isso sozinha.
— Mas que droga eu posso fazer aqui? — gritou ele de volta.
Abaixo da tempestade, o chão tinha sido eliminado; só havia um poço que devia ter mais de quinze quilômetros de diâmetro. Como ele poderia enfrentar uma criatura capaz de fazer aquilo? Ela o viraria do avesso só com o olhar.
Acredite em mim, disse Daisy. É só disso que eu preciso.
Ele balançou a cabeça outra vez, como se tentasse afastar uma mosca dos pensamentos.
Brick, por favor.
Um trovão ensurdecedor disparou do centro da tempestade, e Brick viu o relâmpago — desta vez, não era escuro, mas luminoso. Uma onda de ar escaldante explodiu pela cidade, quase rígida o bastante para jogá-lo para trás, e, no centro do tornado, ele viu uma enorme mandíbula escancarada. Ao lado dela, havia uma silhueta incandescente, tão pequena que poderia ser um plâncton prestes a ser devorado por uma baleia. Brick percebeu quem era, e chamou o menino em voz alta:
— Schiller!
Preciso me aproximar dele, disse Daisy dentro da cabeça de Brick, a voz metade dela, metade do anjo. Se eu não for, eles vão morrer.
Ela dirigiu a fornalha de seu olhar para o céu, para a batalha que ardia à distância. Era insano. Anjo ou não, aquela coisa, o homem na tempestade, a esmagaria. Ela era só uma garotinha.
Cal berrou algo que Brick não conseguiu entender.
Mas eu preciso, respondeu ela. Preciso. É exatamente como na peça. Brick não tinha ideia do que ela queria dizer com aquilo, embora suas palavras levassem imagens para a mente dele: um palco, crianças vestidas com roupas de época. Um verme de desconforto sulcou seu estômago. Assusta, assusta mesmo, mas você sabe que precisa fazer. Ela olhou para Cal, depois para Brick. Seja forte. Cuide de Adam.
— Daisy, espere! — disse Cal, mas era tarde demais.
Ela flexionou as asas, as pontas parecendo incendiar o ar como se fossem de papel. Fez-se um clarão, um buraco escancarado no céu, e ela sumiu. Como se fosse água, a realidade inundou o buraco de novo, houve um barulho como o de um tiro ecoando pela rua em ruínas quando o vácuo foi preenchido. Adam cambaleou para a frente, quase caindo antes que Brick o pegasse, ambos ficando em meio a uma chuva de cinzas.
Outro estouro, e Brick olhou para a tempestade e viu um clarão bem ali, em seu coração trevoso. Daisy, ardendo em luz. Ela é só uma garotinha, pensou ele, subitamente furioso. Está contente agora? Ela é só uma garotinha, e você a matou.
Deu um passo para a tempestade, mas, de súbito, parou. Ele precisava ajudá-la, mas o que poderia fazer? Nunca na vida tinha se sentido tão pequeno, tão ridículo. Ele e Cal trocaram um olhar, e Brick viu sua frustração, sua impotência, espelhando a dele.
— Temos de fazer algo! — disse Brick. — Ela vai morrer!
Cal inclinou a cabeça para o lado.
— Que foi? — perguntou Brick.
— Não está ouvindo?
Passaram-se mais alguns instantes até que Brick ouvisse um gemido baixinho subindo pelo estrondo infindo da tempestade. Um motor, vindo na direção deles.
— Daisy vai saber se virar — disse Cal, apontando uma moto que contornava uma pilha de detritos no fim da rua demolida, acelerando para onde estavam. — Temos problemas maiores agora.
Daisy
Londres, 12h38
Era como jogar-se em um rio veloz, a corrente rápida carregando-a, levando-a contra sua vontade, tão forte e veloz que ela perdeu a noção de onde estava. Girava em pleno ar, vendo tempestade e céu, tempestade e céu, e depois ele, a boca tão grande que parecia se precipitar em um vulcão. Também viu os olhos dele, como dois sóis invertidos no céu, enormes, irradiando trevas e encarando-a diretamente.
Estendeu os membros, os seis: braços, pernas e asas. Era como abrir um paraquedas, retardando assim sua derrocada. O vento era algo vivo que vinha em lufadas, com porções enormes de coisas voando, sugadas para o vórtice. Sentia-se Dorothy no furacão, vendo casas inteiras ali dentro, inclusive com gente, tudo sendo devorado.
Um clarão surgiu à frente, no meio da boca do homem. Schiller! pensou ela. Estou chegando!
Daisy!, a voz era dele, transmitida direto para a cabeça dela. Socorro!
A boca do homem da tempestade moía sem parar, mas o medo de Daisy ainda era algo pequenino em sua barriga, como se o anjo o contivesse para ela, como se tomasse conta dele. Era como andar de bicicleta, pensou ela. No começo, você acha que é impossível, você acha que nunca, nunca vai conseguir se equilibrar, e, de repente, lá está você, em alta velocidade pela rua, sem conseguir sequer se lembrar de como era não ser capaz de pedalar. Era como se tivesse aquele corpo desde sempre, como se houvesse nascido com ele.
Daisy desviou para um lado a fim de evitar um pedaço de concreto que veio girando, espatifando-se ao colidir contra a parede lateral de uma casa flutuante. A casa se desfez em volta dela em uma explosão de pó de tijolos. À frente, distinguiu não um anjo, mas dois. Howie, claro, seu anjo também nascera. Ele e Schiller pairavam dentro de uma bolha de fogo laranja, os dois à primeira vista tão luminosos que Daisy nem reparou em Rilke e em Marcus ao lado deles, presos por um fio invisível. Não havia sinal de Jade.
Aguentem firmes, pensou para eles. Em um instante, estava à beira do vórtice. A corrente era inacreditavelmente forte, o homem fazendo tudo o que podia para puxá-la para seu esôfago. Do outro lado, não havia nada, nem escuridão, nem luz, só uma ausência tão evidente que fazia a cabeça de Daisy doer só de olhar. O pior de tudo, porém, era que, mesmo que a tempestade ainda ardesse, o que emanava da boca dele era um silêncio sinistro e ensurdecedor. Era como se Daisy tivesse ficado surda de um ouvido.
Bateu as asas de novo, firmando-se em sua posição. Schiller e Howie fizeram o mesmo. Precisavam de toda a força possível para evitar sumir no ralo daquela boca. O que ela poderia fazer? Falar com ele, disse a si mesma, como você disse que faria. Fale para ele deixá-los em paz.
Daisy bateu as asas, alçando-se à altura dos olhos ardentes do homem. Nem tinha certeza se eram mesmo olhos, porque, além deles e da boca, o homem não tinha realmente um rosto, só um vórtice giratório de fumaça e tempestade. Mas, mesmo assim, os supostos olhos pareciam estudá-la; o ódio do homem era algo com vida própria, que se agitava e se retorcia. Ela abriu a boca, sentindo o fogo arder na barriga e queimar a garganta, sendo disparado boca afora.
O que ela queria dizer era “Deixe-nos em paz”, mas o que saiu foi uma palavra que não conhecia, uma palavra que não era humana. Era como se houvesse cuspido um foguete, um pulso de energia escapando dos lábios com tanta força que a jogou para trás. Endireitou-se a tempo de ver a onda de choque atingir o homem no olho esquerdo, uma onda de fogo que consumiu a ondulante carne negra como a água faz com a neve.
Desculpe!, gritou Daisy. Ela não queria feri-lo, só queria que ele fosse embora. Abriu a boca para lhe dizer isso, mas outra palavra foi disparada, esta abrindo caminho pelo outro olho, soltando fragmentos de matéria escura bruxuleante que escorreram em direção à boca do monstro.
A cabeça dele balançou para trás, e aquela inspiração arquejante se extinguiu. Foi como se a gravidade tivesse sido subitamente religada, despencando tudo para o vazio abaixo. Daisy bateu as asas, e viu Schiller e Howie fazerem a mesma coisa. Voou até onde os dois estavam, atravessando uma monção de poeira e detritos.
Schiller!, ela gritou. Os dois anjos eram tão parecidos que quase não conseguia distingui-los, mas de algum modo ainda sabia quem era quem. Ele a fitou com os sóis gêmeos de seus olhos, e mesmo através do fogo ela notou o quanto estava ferido. Rilke se agarrava a ele como um filhote de canguru. Marcus estava suspenso ao lado deles, sustentado por alguma força invisível. Todos pareciam muito fracos, muito vulneráveis. Vá, tire-os daqui!
Não quero deixar você aqui, respondeu Schiller na cabeça dela. Daisy estendeu-lhe a mão, feita de fogo, translúcida, uma mão de fantasma. Passou-a pelo rosto espectral dele, as chamas se sobrepondo, se juntando. Ao afastar-se, levou gotículas de luz dourada da pele dele.
Pode ir, vou ficar bem.
Ele fez que sim com a cabeça, fechou os olhos e incendiou a si mesmo e aos outros para fora da existência. O ar correu para preencher o espaço que ocupavam até então, fazendo as cinzas incandescentes brincarem uma com a outra. Daisy olhou através delas e viu Howie, seu rosto sendo o de um menino e o de um anjo, os dois em um. Ela teve a sensação de que o conhecia havia tanto tempo que era difícil acreditar que aquela era a primeira vez que efetivamente se encontravam.
Tudo bem com você?
Ele nem teve chance de responder. O homem na tempestade se recuperou, o motor de sua boca reiniciando, sugando Daisy. O barulho era tão alto que parecia um punho martelando o cérebro dela, uma orquestra com um milhão de tambores de aço tocando sem sintonia. Ela berrou, a voz quase tão alta quanto os tambores, uma coisa física que subiu cortando o céu espiralante, afastando as nuvens para que — por apenas um momento — o sol aparecesse.
Bateu as asas, imaginando que era um pássaro voando para longe. Outro enorme fragmento de prédio destroçado veio na direção dela, mas Daisy passou através dele, fazendo-o em pedaços. Howie estava a seu lado agora, as asas agitando-se.
Precisamos combatê-lo, disse Daisy. É só falar; os anjos sabem o que fazer.
Viraram-se juntos, encarando o homem. Daisy abriu a boca, a palavra a meio caminho em sua garganta, mas um relâmpago negro disparou da tempestade e chicoteou seu peito. Teve a sensação de que tudo dentro de si tinha sido solto, o golpe lançando-a velozmente pelo ar. Estendeu as asas, mas isso só deu a impressão de que ela rodopiava ainda mais rápido. Outro estrondo, depois um grito que só poderia ter sido Howie reagindo.
Vamos!, gritou para si mesma, movendo as asas com cada gota de força que lhe restava, controlando a queda. Olhou de novo a tempestade, que agora parecia estar a quilômetros de distância, e tocou as chamas do próprio corpo para ter certeza de que estava tudo bem. Seu coração humano batia com força, enquanto o coração de anjo também martelava, mas aquela sensação horrível continuava como um nó no estômago. Era a mesma sensação que havia tido ao encontrar a mãe e o pai mortos na cama, só que muito pior. Era a tempestade; era assim que a tempestade queria que o mundo se sentisse.
Essa ideia deixou-a furiosa, diminuindo o medo. Daisy bateu as asas, precipitando-se para a palpitante massa do furacão. Howie estava ali, um borrão de fogo contra as trevas, os gritos dele chocando-se contra a pele da besta. Outros espinhos de relâmpago vieram na direção dele, criando uma fonte de centelhas ao baterem contra sua blindagem incandescente.
Daisy abriu a boca e deixou o anjo falar, a palavra fervilhando pelo ar, chocando-se contra a besta, que disparou outro estilhaço de luz negra fendida. Ela desviou com um bater de asas, falando de novo, e de novo, e de novo, Howie juntando-se a ela, forçando a tempestade a recuar. A inspiração sugadora da besta extinguiu-se mais uma vez, a turbina de seu esôfago falhando. Daisy não parou, gritando mais palavras, vendo-as serem absorvidas pela pele do rosto do homem.
Está funcionando, está funcionando, continue!, ela disse a Howie, as palavras em sua cabeça juntando-se com outras de sua boca, algo ancestral e sobrenatural que rachava o ar ao rugir rumo à tempestade. Continue, Howie, vamos derrotá-lo!
A boca do homem se abriu ainda mais, parecendo abranger o céu inteiro. Desta vez, ele não inspirou, mas expirou um vigoroso urro que a golpeou, fazendo-a cambalear para trás. Ela apagou por um instante, como se seu cérebro fosse um computador se reiniciando, e, quando voltou a si, percebeu que caía. Gritou, e a voz era a dela. Quando tentou bater as asas, elas não obedeceram. Baixou os olhos para si, e não havia mais chamas, só o próprio corpo, seu uniforme escolar, um calçado faltando. Caía para o abismo lá embaixo, gritando para seu anjo: Onde está você? Volte!
A besta ainda disparava seu grito, uma palavra que parecia não ter fim. O ar estava repleto de movimento, um milhão de detritos vindo em sua direção, um tsunami. Algo acertou-a, e uma dor inacreditável invadiu seu corpo inteiro enquanto o abismo parecia se erguer para recebê-la.
Cal
Londres, 12h42
Cal observou a moto derrapar e parar no meio da rua, ao lado das ruínas de uma casa. Havia duas pessoas nela, um homem e uma mulher, nenhum dos dois usando capacete.
— Precisamos dar o fora daqui! — disse Brick.
Tinha soltado Adam e seguia aos tropeços por entre os destroços do asfalto. A criança nem pareceu reparar no que acontecia, os olhos arregalados mirando o céu. Acima deles, a tempestade ainda ardia, e Cal conseguia ver Daisy, uma lua incandescente orbitando um núcleo de trevas. Tenha cuidado, disse a ela antes de se virar.
O homem saiu da moto e ergueu as mãos como que para mostrar que não estava armado. A mulher veio atrás, dando alguns passos na direção deles. Os dois se entreolharam e falaram entre si, o homem dando de ombros.
— Mas quem são essas pessoas? — perguntou Cal. Brick não respondeu, ainda recuando, deixando Adam entre ele e os recém-chegados. Inacreditável, pensou Cal, estendendo a mão para o garoto. — Adam, cara, vem pra cá!
O homem gritou algo, mas o estrondo da tempestade era alto demais.
— ... não quero... vocês... perguntas — tentou o homem outra vez, seu grito reduzido a um murmúrio.
A mulher se adiantou e Cal a mandou voltar com um gesto.
— Não, fique onde está, não se aproxime!
Como não o ouvia, ela deu mais um passo à frente. Brick se afastou um pouco mais, tropeçando no asfalto rachado. Cal aproximou-se de Adam, pronto para pegá-lo no colo e carregá-lo para longe.
— Esperem! — o homem da moto gritou. — Voltem...!
A mulher deu mais um passo, e, do nada, se transformou, precipitando-se para a frente. Cal soltou um palavrão e começou a correr. A mulher se lançou sobre Adam, os lábios arreganhados, os dentes à mostra. Ela era rápida, e meio que atacou, meio que caiu em cima do garoto, pegando-lhe os cabelos.
— Saia de cima dele! — Cal se jogou contra ela como se estivesse em uma partida de rúgbi, o impacto fazendo os dois rolarem pelo chão.
A boca dela era a de uma naja, procurando os braços e a garganta dele, os dentes rangendo. Cal conseguiu prendê-la debaixo de si e preparou um soco, mas se desequilibrou com o corpo dela se retorcendo. Ele agarrou sua carne, firmando-se bem, e tentou outra vez. Seu punho acertou em cheio o nariz dela em uma erupção de sangue, mas ela sequer pareceu sentir, tentando arranhá-lo com as unhas quebradas.
Brick!, Cal tentou gritar, mas não havia ar suficiente em seus pulmões. Olhou para trás e viu o garoto maior atrás de um carro, só olhando. Seu babaca egoísta!, pensou. Um olhar na outra direção lhe disse que ao menos o homem não se aproximava. A mulher — a coisa — abaixo dele agarrou seu rosto com mãos de ferro, um dedo em um olho dele. Cal soltou um grito gutural, afastando-a a pancadas, e ouviu algo estalar sob o punho. Enfiou o cotovelo na garganta dela, colocando todo o seu peso, tentando desviar dos braços agitados com sua mão livre. Ela gemia, sufocando, o som mais horripilante que Cal já ouvira na vida, mas o ímpeto homicida não deixava os olhos arregalados dela.
— Desculpe! — gritou ele. — Desculpe!
Um tiro rasgou a rua. Cal se deteve, ofuscado pelo fogo, percebendo que não tinha sido tiro nenhum. Schiller estava ali, uma estátua de chamas, as asas sendo a coisa mais alta na rua em ruínas. Rilke e Marcus estavam ajoelhados ao lado dele.
Schiller fixou seus olhos derretidos, e a mulher debaixo de Cal se desfez. Cal desabou na maçaroca que ela havia sido transformada, soterrando-se de repente em uma nuvem de cinzas. Tossiu, rolou para longe e ficou deitado de costas até se lembrar do homem. Ao olhar outra vez, porém, viu que ele tinha despencado no chão, boquiaberto.
— Espere! — gritou Cal. — Você... não...
Rilke apontou para ele.
— Mate-o também. — A voz dela soara com total clareza.
A tempestade tinha amainado. Cal levantou a cabeça e viu que ela não sugava mais o ar. As chamas gêmeas que eram Daisy e o outro garoto estavam suspensas ao lado da boca destruidora do furacão, ladrando gritos que pareciam explodir contra a escuridão como uma bateria antiaérea. Eles estão vencendo, pensou ele, o alívio em seu interior como a luz do sol.
Então a besta abriu a mandíbula e um punho de ruído irrompeu de sua boca. Ela vomitou uma nuvem de pó, uma cidade inteira reduzida a detritos e projetada à frente, obscurecendo a luminosidade, fazendo o dia ficar ainda mais escuro. Schiller abriu as asas, respirou fundo e, em seguida, desapareceu tão rápido que a irmã desabou no ponto onde ele estava até um segundo antes. Ela cambaleou sobre as mãos e os joelhos até encontrar o equilíbrio.
— Schiller, não! — gritou Rilke para a tempestade, estendendo-lhe as mãos. — Não! Ela não precisa de você, eu é que preciso!
O homem na tempestade expirou sua nuvem de veneno, o chão sacudindo tanto que Cal precisou se agachar para não cair. Uma faísca se acendeu no redemoinho — era Schiller lutando contra a corrente.
— Schiller! — gritou Rilke outra vez.
Mas era tarde demais. Ele já se fora. Cal se levantou rápido e atravessou a rua correndo, parando a vinte e cinco, trinta metros do homem da moto.
— Quem é você? — berrou ele. Teve de repetir a pergunta duas vezes até que o homem o ouvisse em meio à tempestade. O homem deu um passo à frente, mas Cal ergueu a mão. — Se você se aproximar, vai morrer! Apenas me diga o que quer!
— Meu nome é Graham Hayling! — gritou ele em resposta. — E eu quero ajudar!
Daisy
Londres, 12h46
Ela se sentia uma pedra jogada no oceano, mergulhando nas profundezas frias e sem luz. De ambos os lados, via distantes paredes de pura pedra, onde a cidade fora separada em duas partes, uma cachoeira de detritos caindo do alto delas. Abaixo, nada além de um poço.
— Por favor! — ela chamou o anjo, mas ele não respondeu. Algo ruim acontecera com ele. — Me ajude!
Despencou, a cabeça virada para baixo, o mundo ficando mais escuro e mais silencioso a cada violento compasso de sua pulsação. A qualquer instante, bateria no fundo e pronto. Ficaria enterrada para sempre naquele buraco, a quilômetros de tudo e de todos. Era o pior pensamento do mundo, até que outro lhe ocorreu — o poço poderia não ter fundo; ela poderia nunca parar de cair. Gritou mais uma vez por socorro, o grito desesperado perdido no estrondo do vento em seus ouvidos.
O fogo irrompeu, e, por um instante, ela achou que seu anjo tivesse voltado. Então ela sentiu braços em volta de si e, virando-se, viu Schiller, caindo com ela. Ele estendeu as asas, as chamas mais luminosas do que seria possível contra a penumbra, e depois veio a já conhecida vertigem de revirar o estômago quando ele a conduziu para fora do poço. Reapareceram em plena tempestade, no centro do uivo furioso da besta, e Daisy bateu as asas antes mesmo de perceber que seu anjo havia voltado.
Obrigada, disse ela para os dois, desvencilhando-se de Schiller para desviar de uma saraivada de concreto e metal que passou voando. Outra coisa zuniu em sua direção, um prédio, ainda intacto. Abriu a boca e permitiu que o anjo falasse, a palavra alvejando o prédio como um míssil, demolindo-o em pleno ar. Pairou acima da poeira, atravessando os muitos destroços que ainda jorravam da boca da besta, dirigindo-se para uma chama distante que tinha de ser Howie. Ele ainda gritava, ainda lutava.
Vamos!, disse ela, chamando Schiller, que apareceu ao seu lado, entrando e saindo da tempestade, os olhos como fachos de farol penetrando a penumbra. A besta estava à frente, sua boca a maior coisa que Daisy já vira, um buraco no céu do tamanho de uma montanha. Berrou para ela, uma onda sonora de choque que vaporizou um caminho em meio ao caos, acertando-a entre os olhos. Ao lado dela, Schiller gritou também, sua voz como um tiro de canhão. Daisy se agachou e ziguezagueou até parar ao lado de Howie, os três disparando uma palavra atrás da outra, até que o rosto do homem se tornasse um ninho de vermes negros incandescentes.
Está funcionando?, perguntou Schiller. O trovão da tempestade era tão alto que Daisy tinha dificuldade para ouvir as palavras dele, mesmo que estivessem dentro da cabeça dela.
Ele está morrendo?
Acho que sim, respondeu ela, disparando outra palavra, dilacerando ainda mais a tempestade. Ele se sentia como uma brisa de verão que limpasse as nuvens do céu com seu sopro. Continue!
A besta sacudiu sua cabeça gigante, tão grande que parecia mover-se em câmera lenta. Um som semelhante a disparos de uma metralhadora emergiu de seu interior, seguido por um relâmpago negro, tão escuro que gravou sua silhueta nos olhos de Daisy. O relâmpago roçou nela, mas foi Schiller quem sofreu o impacto. A luminosidade acertou seu rosto com um estampido, e outro raio serpenteou e golpeou seu corpo como um arpão, desaparecendo tão rápido quanto tinha surgido. O fogo do menino bruxuleou, e ele começou a cair.
— Não! — gritou Daisy, a palavra geminada com uma do anjo, queimando em seus lábios, alvejando a besta como um enorme martelo invisível.
Howie berrou também, seu grito detonando no meio da tempestade. Daisy encolheu as asas, mergulhando atrás de Schiller, vendo-o bater em um fragmento grande, o corpo girando como o de uma boneca de pano. Ela o alcançou com a mente, envolvendo-o com mãos-fantasma, usando o mesmo pensamento para protegê-lo dos detritos voadores. Trouxe-o para perto de si, segurando-o perto dela, quando outro garfo de relâmpago sem luz disparou pelo céu, passando perto o bastante para que ela sentisse seu gélido toque na pele. Schiller não se movia. Ela não podia sequer ter certeza de que ele respirava e, quando espiou dentro do crânio dele, não enxergou nenhum dos pequenos pensamentos bruxuleantes.
A raiva de Daisy esquentou em seu íntimo como um motor, acelerou por sua garganta e explodiu em outro grito. O som que ele fez ao sair de seus lábios foi como o estrondo de um trovão e, quando atingiu o homem, abriu caminho na tempestade e revelou a pele branca e macilenta de seu rosto inchado. A carne parecia derreter, pingando dos olhos como cera de vela. Ela não hesitou, gritando de novo, de novo e de novo, as palavras dela e do anjo em coro:
— Morra, morra, morra!
Ele soltou um gemido ensurdecedor, como o som de um enorme navio afundando no oceano. A tempestade que saía de sua boca praticamente parou, e a cólera em seus olhos foi substituída por algo diferente, algo que poderia ser medo. Ele olhou para ela, para Schiller, para Howie, como se os estudasse, marcando o rosto deles na memória. Em seguida, o céu ficou negro, como se tivesse coberto a si mesmo com a noite.
Daisy só entendeu o que tinha acontecido quando levantou a cabeça e as viu. Asas, duas, produzidas com uma chama tão negra que alguém parecia ter recortado seu contorno para fora do mundo com um par gigantesco de tesouras. Elas irradiavam sua luz negra através do que sobrava da cidade, e Daisy pensou que, se o fogo pudesse apodrecer, essa seria sua aparência. Era horrível, mas, suspensa diante daquilo, com as próprias asas abertas e os próprios olhos em chamas, ela não poderia ignorar a imagem. Podia estar olhando para um espelho: claro, um espelho de brincadeira, daqueles que distorciam seu reflexo, mas ainda assim era um espelho.
A besta baixou as vastas asas. A tempestade ondulou, o fogo da criatura se espalhando, ardendo ao longo do corpo e do rosto. Daisy percebeu o que ela fazia e gritou outra palavra, mas era tarde demais. Com um barulho estrondoso e outro clarão de escuridão ofuscante, a besta desapareceu. O ar logo preencheu o espaço que ela antes ocupava, e tudo o que estava suspenso pela tempestade caiu no poço. Algo enorme passou a milímetros dela, e ela agarrou Schiller, mantendo-o bem perto.
Vamos, disse para Howie. Ele fez que sim com a cabeça, com seu olhar ardendo, e, juntos, sumiram da existência em um piscar de olhos.
Rilke
Londres, 12h57
Não existia mais Londres, só um buraco, como se alguém tivesse arrancado a cidade de um mapa gigante, embora ainda houvesse prédios no limiar do poço. Rilke tinha a impressão de estar vendo a roda-gigante London Eye cambaleando na extremidade, à distância, e também o prédio Shard, ainda que estivesse sem o topo. Porém, tudo o mais havia sumido. Só sobraram ausência e ruínas, um abismo envolto em uma terra devastada. Rilke tinha a sensação de que sua mente estava igual: um abismo enorme onde deveria estar sua sanidade, com todos os outros pensamentos reduzidos a destroços. Ao menos a tempestade tinha desaparecido. O que quer que Schiller tivesse feito, havia funcionado. Tirando a chuva sem fim de poeira e detritos que caía no poço, o céu agora estava limpo.
Por favor, permita que ele fique bem, pensou ela. Por favor, Deus, permita que ele volte para mim.
Fez-se um clarão ao lado dela, que a fez se encolher, mas, quando se virou, era apenas Daisy se materializando. Ela segurava uma figura flácida nos braços, um saco vazio que não podia ser seu irmão. Não podia.
Rilke foi o mais rápido que pôde até ela, derrapando de joelhos ao lado de Schiller. Havia uma ferida enorme em seu estômago, a umidade ali escura como tinta preta, mas pigmentada com filetes de sangue. Ela o abraçou, alisando seu cabelo. Havia apenas uma ou outra madeixa; o couro cabeludo se enrugara e ele estava quase careca. Na verdade, seu rosto inteiro parecia o de um velho, com os olhos inchados e a boca frouxa. Ele não parecia real; parecia feito de papel, o rabisco de um rosto feito por uma criança. Ah, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz?
— Schiller, fale comigo, por favor! Por favor, irmãozinho!
Ao lado dela, Daisy respirou fundo e seu fogo esmaeceu, as asas esvanecendo e fechando-se, até que voltou a ser uma garotinha. Ela cambaleou, e Cal correu até ela, amparando-a antes que caísse. O nariz dela sangrava, e o garoto limpou-o delicadamente. Ela também aparentava ter cem anos de idade. Adam se aproximou dela, capturando sua mão como se fosse uma borboleta. Rilke a odiava, odiava todos eles. E odiava a si mesma, acima de tudo. Como podia ter sido tão tola?
— O que você fez com ele? — disse ela, apertando o irmão contra o peito. A emoção batia em suas costelas com punhos de ferro, gritando para poder sair, mas ela a trancou, a dor na garganta dando a impressão de que engolira vidro. — O que você fez com ele, Daisy?
— Pare com isso, Rilke! — falou Cal. — Você viu o que aconteceu; ele nos salvou, salvou todos nós.
Rilke acariciou o rosto do irmão com força suficiente para sulcar a pele pálida. Sacudiu-o enquanto o chamava, mas ele tinha o olhar vidrado e perdido ao longe. Onde está você, Schill?, ela perguntou. Saia daí agora mesmo.
— Aquela coisa morreu? — veio uma voz de trás dela. Rilke se virou e deu com Brick surgindo do alicerce de um prédio, fungando poeira pelo nariz. — Você a matou?
— Não — respondeu Daisy. Certa dose de cor voltou às suas bochechas, fazendo as rugas desaparecerem. Ela se sentou, apoiando a mão no peito de Cal, ainda ofegante, respirando fundo. Fez-se outro clarão e, de repente, o outro garoto estava com eles, os braços se agitando no ar enquanto lutava para recuperar o equilíbrio. Não teve sucesso e caiu de joelhos, olhando ao redor, em choque. Daisy sorriu para ele. — Howie, tudo bem?
— Acho que não — respondeu ele após um instante, deixando-se deitar. — Acho que bebi rum demais.
Rilke puxou o irmão pela camisa, apertando-o com tanta força que achou que os dedos fossem quebrar. Como ele ousava brincar enquanto o irmão dela estava ali, à beira da morte?
— E agora? — disse Brick.
— Acho que a tempestade só mudou de lugar — falou Daisy. A garotinha enxugou o rosto com o dorso da mão, fazendo das gotículas de sangue uma horrenda máscara para os olhos. — Assim como nós, ela se transportou.
— Para onde? — perguntou Brick.
— Para a Califórnia — gritou o homem, aquele que tinha aparecido de moto, ainda à distância na rua. Ele tinha dito seu nome antes, mas Rilke não se importava. Ele era um deles, um dos humanos, e Schiller deveria tê-lo matado, assim como havia matado a mulher. Mas isso é errado, Rilke, argumentou seu cérebro. Você estava errada, lembra? Errada a respeito de tudo. Ela mandou aquele pensamento embora, observando o homem enquanto ele fechava o celular. Estava coberto de pó, parecendo um fantasma à bizarra luz alaranjada do dia em ruínas. — Aquela coisa apareceu nos Estados Unidos, acabam de confirmar!
— Cal, quem é ele? — perguntou Daisy.
— Acho que é um amigo — respondeu Cal. — Pessoal, este é Graham. Graham, este é nosso pessoal.
O homem acenou com a cabeça, franzindo o rosto.
— Vocês se importam em me dizer o que está acontecendo? — perguntou ele. — Quem são vocês?
— Apenas garotos — respondeu Daisy. — Mas somos outra coisa também.
— Cale a boca! — berrou Rilke, a raiva parecendo tão viva dentro dela que se perguntou se não seria seu anjo. Os dois tinham de estar conectados. — Vocês todos, calem a boca! O meu irmão precisa de ajuda!
Schiller parecia estar afundando em si mesmo, desinflando. Rilke o puxou para si, os soluços enfim irrompendo da prisão de sua garganta, derramando-se da boca dela como vômito. Não era mais capaz de detê-los; não conseguia respirar, forçando-se a sugar grandes lufadas de ar entre gritos estrangulados. Não suportava ser tão fraca.
— Ajudem ele! — disse ela para ninguém e para todos. — Não sei o que fazer! Ele vai morrer!
— Pois é. E de quem é a culpa? — disse Brick para ela, agachando-se e cuspindo uma bolota de secreção enegrecida. — Foi você que o trouxe aqui.
Rilke quis matá-lo. Enxugou as lágrimas, mas elas continuaram a escorrer, e ela enfiou o rosto na umidade da barriga de Schiller, para que ninguém as visse. Ele cheirava a cobre e fuligem; a algo velho, a um objeto antigo que houvesse sido descoberto. Queria poder entrar nele, trancar-se em seu sangue. Desse jeito, não o deixaria morrer.
— Eu tinha tanta certeza — disse ela.
— E estava tão errada — murmurou Brick.
— Tudo bem, Brick — falou Daisy. A voz dela estava próxima e, quando Rilke levantou a cabeça, viu a menina perto dela, a mão repousando na testa de Schiller. Não queria que Daisy o tocasse, mas não encontrava forças para objetar. — Schiller, está me ouvindo? É Daisy.
Não houve resposta; ele podia já ser um cadáver. Daisy ergueu a cabeça, e Rilke percebeu que ela ainda falava com ele, mas com a mente. Olhou aquilo horrorizada, como se fosse ela que estivesse sangrando. Puxou-o para ela, repousando a cabeça dele em seu joelho.
— Estou falando sério, Schiller — disse Daisy. — Não se assuste. Eles vão cuidar de você.
— Do que você está falando? — perguntou Rilke. — Eu vou cuidar dele, só eu e mais ninguém, está me ouvindo?
Daisy não tirava os olhos de Schiller. O menino tossiu outra vez, e seus olhos opacos se desanuviaram. Ele olhou para Daisy, depois para Rilke.
— Está tudo bem, Schill — falou Rilke. — Você vai melhorar.
Você vai fazer o que eu mandar, ela lhe disse com a mente. Ele sempre tinha feito o que ela mandava, sempre. Rilke não era capaz de se lembrar de uma única vez em que ele a tivesse desobedecido; nenhuma vez em todos aqueles anos juntos. Porque ela sempre fazia o que era melhor para ele. Era função dela cuidar dele, e ele sabia disso, confiava nela. Você não vai morrer, não vou deixar. E então ela se deu conta da ideia insuportável de ficar sem ele. Porque nunca tinham passado um dia sequer separados, nem um único dia. Ele era tão parte dela quanto seu próprio coração, seus próprios pensamentos. Incubados juntos, nascidos juntos, tinham vivido juntos, eram um só. Porque não posso viver sem você, Schill. Não consigo. Então, descanse, melhore, e voltaremos às coisas como eram antes.
Ele sorriu para ela. Rilke visualizou a vida se esvaindo dele, e mais daquele fluido de um negro viscoso saiu de sua barriga, como se seu sangue tivesse sido envenenado. Ele abriu a boca para falar, mas, em vez disso, vomitou um jato escuro. Seu corpo era uma enorme coisa quebrada que ele não conseguia mais controlar; que ela não conseguia mais controlar.
— Schiller! Não! — gritou Rilke. Pegou o queixo dele, erguendo-o. — Não vou deixar você morrer, está me ouvindo? Você não vai me deixar.
— Não estou com medo — disse ele em um sussurro gorgolejante. — Não dói.
— Mas eu preciso de você, irmãozinho — disse Rilke. — Eu te amo.
A resposta dele não foi uma palavra, mas um pensamento — um pensamento emitido com tanta força que Rilke o sentiu. Era dourado, luminoso, repleto do aroma de lavanda e dos livros velhos que havia na biblioteca de casa, o lugar onde passavam dias e mais dias lendo um para o outro, brincando de esconde-esconde, e, depois, onde ela se escondia das coisas ruins, onde o irmão cuidava dela; algo tão maravilhoso que parecia soprar para longe os últimos vestígios de escuridão da cidade. De repente, era verão de novo, quente, silencioso, cheio de um riso que era sentido, mas não ouvido. Por que não podiam estar lá, no assento perto da janela da mãe, as pernas dela repousando nas dele enquanto contavam as histórias do que fariam ao sair de casa? Não, isso nunca. Rilke afundou a cabeça no peito de Schiller, abrindo caminho como se pudesse arrancar a doença dali. Schiller conseguiu erguer a mão, colocando-a na nuca dela, a pele dele tão fria que era como se estivesse congelando de novo.
— Eu sinto muito — soluçou ela. — Sinto muito mesmo.
Não precisa se desculpar, disse ele, e ela entendeu que seria a última vez que ouviria sua voz. O corpo de Schiller estremeceu, a mão se afrouxando e escorregando, batendo contra o chão. Ele inspirou pela última vez, mas não havia em seus olhos nem medo nem tristeza, só um lampejo de alívio e, em seguida, absolutamente nada. Um gotejar de chamas ardeu no peito dele, subindo, crescendo, voando para cima com as asas abertas, uivando enquanto se esvanecia na luz. O fogo pareceu dilacerar a raiva dela em suas entranhas, porque Rilke viu-se de pé, gritando para ele:
— A culpa é sua! Você fez isso com ele! Desgraçado! Desgraçado!
Mas ele já tinha sumido. Ela se voltou para Daisy, depois para Cal, e, em seguida, para Brick, querendo matar todos eles, socá-los até que morressem por terem matado Schiller. Porém, sem ele, Rilke era apenas meia pessoa, meia alma, e não conseguia se equilibrar. Cambaleou e caiu ao lado do corpo do irmão, agarrando-se a ele como se pudesse ressuscitá-lo, tremendo à medida que o calor de seu gêmeo partia com o anjo rumo ao céu que clareava.
Cal
Londres, 13h12
Pareceu ter passado uma eternidade antes que alguém dissesse algo. Cal se levantou e ficou olhando para Rilke enquanto ela soluçava abraçada ao irmão morto. Exceto por ela, o único som era o bate-bate dos detritos que despencavam do céu, dando a impressão de uma chuva de granizo.
— Sinto muito — disse Daisy. Ainda estava ajoelhada no chão junto a Rilke e Schiller, com a mão no peito do menino. — Sinto muito, muito mesmo, Rilke.
Rilke não respondeu: seus os olhos escuros e pequenos encaravam algo que ninguém mais podia ver. Daisy olhou para Cal, que abriu um arremedo de sorriso e estendeu as mãos para ela. Daisy se levantou com esforço e correu para ele, abraçando-o com força, os delicados soluços dela arrebentando contra o peito do garoto.
— E agora? — perguntou Brick. Ele chutava fragmentos de pedra no chão, as mãos enfiadas nos bolsos. — Acabou, enfim. Quer dizer, para nós.
— Não — falou Daisy, enxugando os olhos. — Precisamos ir atrás dele. Ele não morreu.
Os olhos de Brick se arregalaram, e ele fez que não com um gesto de cabeça.
— De jeito nenhum. Fizemos nossa parte. Mandamos aquilo para longe. Agora os outros que se virem com a situação.
— Não tem mais ninguém para fazer isso, Brick — respondeu ela. — Só a gente.
— Mas quem são vocês? — perguntou Graham, o sujeito da moto. Ele ainda estava do outro lado da rua, logo atrás do limiar invisível da Fúria. Ficava olhando nervoso para o céu, o celular aberto na mão. — Não consigo entender.
— Bem-vindo ao clube — respondeu Brick.
— Você não acreditaria se a gente contasse — acrescentou Daisy.
O homem mais fungou que riu.
— Não acreditaria que vi você em chamas, com asas, voando lá no alto e enfrentando... o que era aquela coisa? Vamos ver se eu acredito ou não. Minha mente agora está mais aberta do que estava de manhã.
— Não importa o que somos — disse Daisy. — Importa o que precisamos fazer. Estamos aqui para detê-lo.
— Mas o que é aquilo?
— O mal — falou Marcus, a voz vindo de onde se encontrava encolhido no chão. — É Lúcifer, o demônio.
Porém, “o mal” era o termo errado, pensou Cal. Aquilo era mais um buraco negro, sem mente, mecânico, devorando matéria e luz, até que não sobrasse nada. Só não disse isso porque pareceu muito idiota.
Graham negou com um gesto de cabeça.
— Estão me dizendo que vocês são os mocinhos? — perguntou ele.
Cal pensou na polícia em Hemmingway, nas dezenas de policiais transformados em cinzas. Olhou para a cidade, observando o poço que fora escavado bem no meio dela — com mais de quinze, talvez mais de vinte quilômetros, e só Deus sabe com que profundidade —, aberto durante uma batalha entre os anjos e a tempestade. Quantas pessoas haviam morrido por conta disso? Um milhão? Não tinha sido culpa deles, mas Schiller, Daisy e o novo garoto não tinham exatamente economizado na força do ataque.
— Sim — disse Daisy. — Somos.
Graham pareceu ruminar isso por um instante, e, em seguida, colocou o telefone no ouvido, falando bem baixo para que Cal não o ouvisse.
— É sério — reclamou Brick. — Não é mais problema nosso.
Graham agora berrava, com as bochechas vermelhas de raiva.
— Esta pode ser nossa única chance — falou o homem. — Está disposto a apostar tudo nisso? General? General?
Ele fechou o telefone com força, andando de um lado para o outro. Olhou para o céu, protegendo os olhos do sol, cada vez mais brilhante.
— Ok. Temos um problema. Precisamos ir para o subterrâneo. Tem uma estação de metrô aqui perto; ela vai nos proteger até as equipes de proteção contra radiação chegarem.
— Proteger do quê? — perguntou Daisy. — Acho que a tempestade não vai mais voltar. Acho que a gente deu um susto nela.
— Não da tempestade — disse Graham. — De uma bomba nuclear.
— Do quê? — perguntou Cal.
— De um ataque nuclear tático contra a cidade. O alvo principal era a tempestade, mas estão mirando em vocês também. Eles acham que vocês são parte disso.
— Mas por quê? — disse Daisy, desvencilhando-se de Cal.
— Por causa do que aconteceu no litoral. Vocês destruíram uma cidade inteira lá. Ela simplesmente sumiu do mapa.
— Mas não foi a gente — falou Daisy, olhando para Rilke. — Foi... Foi um acidente. Não foi culpa nossa.
— Não sou eu que decido — afirmou o homem. — O ataque já foi lançado. Temos minutos. Vamos!
Ele voltou pelo caminho de onde viera, mas ninguém o seguiu.
— Rilke, o que foi que você fez? — perguntou Cal. — Você acabou com uma cidade inteira? — Ela não respondeu, nem parecia ouvi-lo. — Meu Deus!
— Deixe-a em paz, Cal — falou Daisy. — Não foi culpa dela.
— Não foi culpa dela — repetiu Brick. — Ela é uma psicopata, vocês já esqueceram? Deixem-na aqui; deixem essa maluca fritar.
— Estou falando sério — disse o homem, olhando para trás. — Vocês podem conversar quando estivermos no metrô, mas, se não começarem a se mexer agora mesmo, todos vão morrer.
— Não — disse Rilke. — Não vamos.
Ela se levantou lentamente, alisando a roupa em uma tentativa de tirar o sangue e a terra que a enlameavam. Havia algo em seus olhos, algo que ardia. Virou-se para o homem, depois para Daisy.
— Você consegue encontrá-la? — perguntou ela.
— A tempestade? — Daisy arrastou o pé no chão. Estava faltando um dos pés de calçado, reparou Cal. — Não sei. Acho que sim. Por quê?
— Porque vou exterminá-la — falou ela. — Ela vai morrer por causa do que fez com o meu irmão.
— Escutem — disse Graham. — Se não formos embora, não vamos sobreviver.
— Ele tem razão — falou Brick, indo aos tropeços atrás do homem. — Precisamos ir com ele.
— E depois? — perguntou Cal. — Vamos nos esconder? E o que é que você vai fazer quando ele começar a tentar arrancar a sua cara?
Brick parou, sem saber o que fazer. Soltou um palavrão, pegando uma pedra e lançando contra o que restava de uma casa.
— A gente devia ir, devia terminar isso — disse Cal. — Você viu do que é capaz, Daisy. Você assustou aquela coisa. Feriu ela, acho. Algo que pode ser ferido pode morrer, não pode?
— Acho que sim — respondeu Daisy. — Acho que ela fugiu porque a gente podia matá-la.
— Então vamos fazer isso — disse Rilke, aproximando-se de Daisy. — Leve-nos até ela.
— De jeito nenhum — falou Brick. — Você é maluca.
Algo rosnou acima, uma trovoada distante. O coração de Cal pareceu parar por um segundo, porque pensou que a tempestade tinha voltado. Então se deu conta de que era outra coisa, talvez um avião, ou um míssil. O barulho ia aumentando, rasgando um caminho no céu.
— Chegou a hora — disse Graham. — Última chance.
Rilke olhou para Cal, o semblante dela tomado por uma fúria selvagem. Havia uma pergunta ali, tão nítida quanto se a tivesse enunciado. Você vem? Que escolha ele tinha, na verdade? Se não enfrentassem a tempestade, cedo ou tarde o mundo inteiro ficaria daquele jeito. Fez que sim com a cabeça. Rilke voltou-se para Marcus, que abriu um ligeiro sorriso.
— Estou dentro! — falou ele.
— E eu também! — concordou Howie. — Vamos acabar logo com isso.
Todos se viraram para Brick, o barulho no céu aumentando a cada instante. A bomba não precisava atingir o chão, Cal sabia. Seria detonada acima da cabeça deles, onde causaria o máximo de estrago. Quanto tempo tinham? Um minuto? Cinco? Brick devia estar pensando a mesma coisa, porque soltou outro palavrão.
— Certo — disse ele. — Vamos fazer do seu jeito.
— Vá logo! — Daisy falou para o homem. — Antes que seja tarde demais!
— E quanto a vocês? — respondeu ele. — Vocês precisam ir para o subterrâneo também, para um lugar seguro!
— A gente vai ficar bem — falou ela. Fechou os olhos, as chamas se espalhando lentamente a partir do peito, as asas se estendendo como as de um cisne ao despertar. — Diga a eles que estamos do lado deles — continuou, o fogo frio chegando ao seu pescoço. — Diga a eles que estamos tentando ajudar. E obrigada pelo aviso.
O incêndio a envolveu e, quando abriu os olhos, era como se fossem as janelas de um grande navio em chamas. O ar vibrava perante sua força, aquele mesmo zumbido de anestesiar a mente, mas, ao fundo, o rugido de um avião ficava cada vez mais alto.
— Tem certeza? — perguntou Brick. — Quer dizer, a gente poderia apenas...
Daisy não o deixou terminar, apenas ergueu os braços e virou o mundo do avesso. O estômago de Cal revirou. Viu Marcus desaparecer, depois Adam, e, em seguida, Howie. Rilke também, com um último olhar de partir o coração para o corpo do irmão. O homem, Graham, foi levado com eles. Na hora em que partiram, algo explodiu acima, com uma luminosidade que parecia ainda mais forte do que a de Daisy, uma explosão sem som que deixou o céu prateado. Cal viu o estrago que a bomba causou ao explodir, uma reação em cadeia que destruía tudo. Um anjo teria sido capaz de resistir àquilo? Será que teriam sobrevivido se não tivessem sido avisados?
Depois não houve nada além da vertigem e do turbilhão do éter, além da terrível constatação do que os aguardava do outro lado.
Daisy
Londres, 13h26
Desta vez, ela manteve os olhos abertos.
Era como quando o pai costumava fazê-la voar, quando era criança. Ele a segurava com força, as mãos enormes envolvendo as dela, e, em seguida, ele a girava em um rodopio, erguendo-a no ar. Das primeiras vezes, ela tinha fechado os olhos, com medo de olhar, apesar da emoção. Mas, quando teve certeza de que ele não a soltaria, mandando-a em um voo por sobre o telhado de casa, ela os abriu, vendo o mundo se mover tão rápido que ficava só um borrão — a única coisa constante era o rosto sorridente do pai, que girava com ela. Ela era a lua da gravidade dele; sabia que, por mais rápido que ele fosse, ela nunca se soltaria dali.
Não era o pai que a prendia agora, era o anjo, e, enquanto ela escapava do mundo, desprendendo-se das gotas de realidade como um cão que se sacode após nadar, teve a impressão de vê-la. Era como se o mundo fosse feito de areia colorida espalhada por um furacão. Na hora em que ela saiu do tempo — com Cal, Brick, uma pobre coitada e perdida Rilke, e os demais ao lado —, a paisagem foi completamente apagada. A luz branca que Daisy vira, aquela que ardia no céu, mais forte do que o sol, mais forte até do que a luminosidade dos anjos, era uma bomba, deu-se conta, enfim. Espiou seu próprio coração com os novos olhos, viu os átomos colidindo, a força que explodia de cada um enquanto a reação se espalhava. A explosão tentou alcançá-los, mas — graças àquele homem e a seu aviso — já tinham escapado pelas fendas, passado para um lugar onde nada, nem mesmo uma explosão nuclear, poderia lhes fazer mal. Pouco a pouco a luz se apagou, a cidade destroçada desapareceu, deixando-os suspensos em um local vazio e silencioso.
Mas não por muito tempo. Logo sentiu os dedos da realidade esgueirando-se por suas costelas, pela barriga, do mesmo jeito que você sente a gravidade tentando puxá-lo para baixo. A vida os queria de volta; ela não gostava nem um pouco quando arrumavam um jeito de se desvencilhar dela. Daisy concentrou-se, mantendo os olhos abertos — fazer isso parecia desacelerar o processo, dando-lhe mais tempo para pensar. Agora não havia em volta dela nada além de escuridão, mas era um tipo estranho de escuridão, que também era luz — podia ver os outros flutuando a seu lado, como se estivessem todos afundando. Estavam com os olhos fechados, mas, mesmo que não estivessem, ela achava que não seriam capazes de enxergá-la. Não é igual para eles, pensou ela. Isto acontece num piscar de olhos, em uma única batida do coração. Era engraçado vê-los daquele jeito, como se dormissem, e Daisy quase deu uma risada.
Até que sentiu. Uma perda súbita. Jade, pensou, vendo a garota por um instante em uma floresta cercada de soldados. Em seguida, o som de um tiro, e mais nada. Sinto muito, disse ela, seu anjo outra vez anestesiando a tristeza.
O mundo em volta dela vibrava, bem de leve, apenas um ligeiro roçar no ar, na pele dela. O tremor ia ficando mais forte, mais insistente. Era o universo, ela percebeu; eles corriam o risco de fragmentá-lo. As pequeninas engrenagens giratórias da realidade não tinham sido feitas para mantê-los ali. O que aconteceria se ela resistisse por mais tempo? Talvez o tempo e o espaço se fechassem atrás dela, encerrando-os para sempre, trancafiando-os dentro daquele bolsão de nada. A ideia assustou-a, então começou a relaxar a mente, pronta para deixar a vida puxá-la de volta.
Só que... alguma coisa a deteve, outra ideia. Vasculhou na cabeça, na alma, atrás do anjo que agora vivia ali, mas ele não reagiu, não pareceu notá-la, o que não era de surpreender. Esses anjos não eram anjos de jeito nenhum, não aqueles anjos sobre os quais tinham lhe falado. Pareciam mais bichos, algo assim. Não, pareciam mais máquinas. Não sabiam se comunicar, pensou ela. Talvez nem soubessem que a comunicação era uma possibilidade. Eram absolutamente obstinados, construídos para um propósito: combater o homem na tempestade em qualquer lugar e ocasião. Tudo o mais lhes era alheio, incognoscível. Tinham sido programados para defender a vida, mas sequer conheciam a mágica, a maravilha daquilo por que lutavam. Se isso era verdade, pensou ela, era horrível.
As vibrações em volta dela pioravam, fazendo seus dentes rangerem ainda que tivesse total certeza de que ali, naquele lugar, ela não tinha dentes. Os outros se agitavam onde estavam suspensos, em pleno ar, parecendo lençóis secando ao sabor de um vento forte, os rostos ficando distorcidos e estranhos. Daisy diminuiu a força com que se agarrava ao éter, permitindo-se escorregar de volta para o mundo, só se ancorando de novo quando sentiu algo mover-se dentro do peito. O anjo... Será que o anjo estava querendo lhe dizer alguma coisa? Ou será que estava só se mexendo ali, do mesmo jeito que ela costumava se mexer quando estava em um carro numa viagem longa, tentando achar uma posição confortável?
Me diga, pediu ela. Pode falar comigo, sou sua amiga. Me diga quem você é, por favor.
Uma coceirinha dentro da alma, uma sensação que era indolor mas, ao mesmo tempo, desagradável, como se ela tivesse penas crescendo na medula óssea. Era dessa maneira que eles falavam? Daisy se sentia como uma das formigas que o pai tinha aspirado. Até onde sabia, aquelas criaturas podiam estar tentando chamá-los, falar com eles. Mas como pode uma formiga se comunicar com um humano, e como poderia um humano se comunicar com um anjo? Era impossível.
No entanto, surgiu subitamente um pensamento em sua cabeça, uma sensação. Era desconfortável também, penas que coçavam, eriçando-se na carne de seu cérebro, mas ela parecia entender a tradução. Esse lugar, esse lugar horrendo, vazio, que tremia, congelante, rangente, perdido no tempo, era o lar. Era ali que os anjos viviam até que fossem convocados para a luta, e era para lá que voltavam quando a guerra terminava. Não havia vida, não ali, nem felicidade, nem diversão, nem família, nem amizade, só lampejos de dever imersos em zilênios de nada.
É isso mesmo?, disse ela, com a sensação de que as vísceras tinham sido removidas e jogadas fora. Essa ideia era terrível, insuportável. Mas o anjo não disse mais nada, não de um jeito que ela conseguisse entender. Coitado. Coitado, tão sozinho. Queria poder fazer algo. Queria poder ajudar você. Você pode ficar comigo para sempre, se quiser. Prometo que nunca mais mando você para cá.
E, assim que disse essas palavras, desejou não tê-las dito, porque não falava realmente a sério. Depois disso — se houvesse depois; se sobrevivesse e houvesse um mundo onde viver —, queria voltar para sua vida, para... talvez não para sua casa, porque isso seria triste demais. Mas havia outros com quem ela poderia viver, talvez a avó, ou com Jane, irmã da mãe. Ao menos poderia tentar ser normal de novo, e, após algum tempo, quem sabe, talvez isso tudo fosse parecer uma memória distante, apenas um sonho. Poderia voltar para a escola, ir para a universidade, casar-se, ter filhos e ser uma pessoa normal, ser simplesmente Daisy. Porém, nada disso seria possível se tivesse um anjo dentro de si, se a qualquer momento pudesse se incendiar e transformar o planeta em cinzas.
Afastou aqueles pensamentos, na esperança de que o anjo não tivesse ouvido sua oferta, ou ao menos não a tivesse entendido. Arrancando do mundo os ganchos da mente, deixou-se cair, sentindo os ouvidos tamparem-se com a mudança de pressão. Os outros caíam junto, aquelas pequenas chamas azuis ardendo no peito de todos. Quer dizer, todos menos Brick. A chama dele tinha crescido, espalhando-se pelos ombros e descendo para a barriga.
Ele é o próximo, pensou Daisy enquanto a descida deles se acelerava, o rugido do vento nos ouvidos, o estrondo da queda fazendo os ossos chacoalharem. Fechou os olhos outra vez contra a vertigem, contendo-se ao máximo para não gritar. Era assustador, mas ela também sentia outra coisa, algo diferente — entusiasmo. Era uma sensação tão peculiar, aliada ao medo, que precisou de um instante para entender que a sensação não era dela, mas, sim, do anjo — a emoção da fuga, de sair daquele lugar, de nascer outra vez no mundo. O que quer que estivesse dentro dela — sobrenatural, anjo ou máquina cósmica intemporal projetada para manter o equilíbrio do universo — estava ansioso, desejoso, queria estar longe dali.
Com o fim da queda, com o mundo recuperando sua forma ao redor, Daisy outra vez desejou não ter dito o que dissera. E se, quando tudo terminasse, o anjo não quisesse ir embora?
Brick
São Francisco, 13h26
Quase na mesma hora em que os destroços da Londres esburacada tinham desaparecido, outra paisagem apareceu, envolvendo Brick com força suficiente para fazê-lo cambalear. Foi para trás, tropeçando nos próprios pés, a luz do sol como um punho esmurrando seu rosto. Seu estômago revirou, o jato azedo acumulando-se na boca enquanto o garoto caía. Caiu sentado, cuspindo, gemendo por entre os lábios úmidos e tentando ver além da umidade nos olhos.
Estavam em uma floresta, num pinheiral que, à primeira vista, parecia tão semelhante ao de Hemmingway que Brick teve um lampejo de saudade, quase de partir o coração. Porém, não demorou a perceber que ali as árvores eram maiores, e balançavam com força por causa da onda de choque criada pela chegada de Daisy. Os galhos se soltavam, desabando no chão; vinte, trinta segundos passaram-se antes que tudo ficasse imóvel. Uma brisa vagava pela quietude da penumbra, carregando a fragrância das coníferas. Através das árvores, Brick viu que o sol estava mais baixo, como se fosse manhã, e perguntou-se aonde Daisy os teria levado. Os outros estavam espalhados pelo solo da floresta, todos limpando o resquício de vômito dos lábios, menos Daisy e Howie, o novo garoto.
Brick se levantou, ignorando o modo como o mundo parecia girar. Não entendia nada do que estava acontecendo, mas tinha certeza de que ser repetidas vezes desfeito e refeito em átomos não devia fazer nada bem. A verdade era que não estava mesmo se sentindo muito bem. Havia algo de errado em seu estômago. Colocou a mão nele, tendo a sensação de que faltava um pedaço, um pedaço que fora deixado em Londres. Não doía, só era esquisito. Essa ideia, de estar danificado, deixou-o com raiva. Ou, ao menos, deveria tê-lo deixado. Porém, estranhamente, aquilo apenas lhe inspirava calma.
— Onde estamos? — perguntou Cal, levantando-se com dificuldade.
Daisy, outra vez apenas uma menina, deu de ombros, mirando a floresta com uma expressão confusa. Adam correu até ela, e ela o abraçou.
— Eu... não sei. Achei que seríamos levados para onde ele estava.
Brick olhou através das árvores, esperando ver o céu escurecer, mas havia apenas a luz do sol e o canto dos pássaros.
— Talvez você o tenha matado — disse ele. — Talvez seja o fim.
— Não — respondeu Daisy. — Não matamos. Os anjos teriam ido embora se o homem na tempestade estivesse morto.
Por que ela parecia tão nervosa ao dizer isso?
— Talvez eles tenham ido embora — falou Brick. — Como sabe que eles não voltaram para o lugar de onde vieram?
Daisy fechou os olhos e, quando os abriu de novo, eram duas poças de metal fundido tão brilhantes que Brick precisou erguer o braço para proteger a vista.
— Nossa! — Foi tudo o que ele conseguiu dizer.
— Vou dar uma olhada por aí — disse Daisy, desvencilhando-se de Adam.
Brick ouviu o ssshhh do fogo quando ela se virou, seguido do bater lento e vigoroso de asas. Entreviu-a, em meio à pele imunda e sardenta do braço, ardendo pelos galhos. Era como ver o sol nascer, e logo ela estava suspensa contra o azul, a coisa mais brilhante no céu. Brick mirou Cal, depois Marcus e Howie, e, enfim, Rilke, que estava ajoelhada no chão, encolhida, seus olhos eram duas pedrinhas escuras que não piscavam. Perguntou-se se deveria dizer algo a ela, mas achou melhor não. Por mais que Rilke fosse má, acabara sentindo pena dela. Não devia ser nada fácil saber que você tinha provocado a morte do próprio irmão.
Por outro lado, ela tinha dado um tiro em Lisa, assassinado sua namorada bem embaixo do seu nariz. Esfregou a barriga, perguntando-se o que seria aquilo que lhe causava aquela sensação tão esquisita. Era quase uma sensação de alívio.
— O que aconteceu com aquele homem? — perguntou Cal. — Graham. Ele não veio junto?
— Pois é — disse Marcus. — Veio. Acho que aquilo é ele.
O desengonçado garoto apontava para o espaço entre duas árvores, e, quando Cal se virou e olhou, levou a mão à boca, engasgando. Brick aproximou-se deles, curioso, espreitando as sombras e vendo um amontoado vermelho, pequeno e úmido, como o embrulho que um açougueiro lhe daria. Só que esse tinha o que parecia metade de um rosto junto, e uma cordilheira de dentes enterrada em uma órbita sem olho. Afastou-se, fechando os olhos com força.
Cal soltou um palavrão.
— Mas que droga aconteceu com ele?
— Ele não era um de nós — disse Rilke, sussurrando as palavras para a terra. — Não podia sobreviver a isso, e se desfez.
Ninguém falou nada por alguns instantes, e, em seguida, Cal pediu:
— Bem, não contem para Daisy. Acho que ela não lidaria muito bem com isso.
Brick não se preocupava mais com Daisy, não mais. Ela parecia capaz de enfrentar qualquer coisa. Ele, por outro lado... Achava que mais uma reviravolta, mais um horror, poderia ser a última gota; poderia arrancar tudo o que sobrava de sua sanidade e fazer da sua cabeça uma tigela vazia. E, no entanto, não sentia medo, não sentia praticamente nada naquela hora, o que o desconcertava.
— Vou cobrir isso — disse Marcus, andando em círculos até achar um galho solto, usando-o para cobrir o cadáver deformado do homem. Recuou com rapidez, limpando as mãos nas calças.
O rosto do homem não era mais visível, mas Brick podia vê-lo em sua cabeça, claro como o dia. Imaginou que provavelmente o veria para sempre, até o fim. E, de novo, não havia uma sensação, mas a ausência dela, algo que não conseguia entender direito. Um pedaço dele que tinha estado ali até onde se lembrava agora havia sumido. Dessa vez, levantou a camiseta e cutucou de verdade a barriga suja de terra.
— Está com fome? — perguntou Howie, o novo garoto. Brick deixou cair a camiseta e o encarou. O garoto tinha uns treze ou catorze anos, e, mesmo que tivesse se transformado, sua pele ainda estava marcada por hematomas e cortes. — Deus sabe que eu poderia bater um enorme prato de qualquer coisa agora mesmo. Será que tem algum lugar aqui perto onde a gente possa comer?
— Como você pode estar com fome? — perguntou Cal.
— Comer é necessário — disse Howie.
A floresta ficou mais brilhante com o retorno de Daisy, seu fogo sugado de volta para os poros na hora em que pousou. Ela balançou a cabeça, e o motor dos olhos foi desligando.
— Estamos no alto de um grande declive — disse ela, apontando para a esquerda. — Tem uma cidade para o lado de lá, com muitos morros e uma torre pontuda. E o mar. E também uma grande ponte laranja. Não vejo nenhum sinal do homem na tempestade.
— Ainda acho que você assustou de vez aquele canalha — disse Brick, estremecendo. — Você arrancou a cara dele. Acha que tem volta depois disso?
Como ninguém respondeu, ele levantou a cabeça e viu que todos o olhavam. Daisy tinha um sorriso suave nos lábios. Ele franziu o rosto para ela, preparado para aquela raiva fervilhante surgir do estômago, quase decepcionado quando isso não aconteceu. Só havia aquela mesma calmaria em sua barriga, aquela sensação de vazio. Entendeu de repente: a raiva não estava mais ali. Deu um tapa na barriga, como se alguém tivesse lhe tirado um rim. A raiva era tão inerente a ele que era quase assustador não senti-la.
— Que foi? — perguntou ele, com todos ainda o mirando. — O que aconteceu?
— É você — disse Cal. — Olhe.
Ele não queria, mas que escolha tinha? Levantou a camiseta outra vez, e a pele ali estava azulada. Poderia ter sido a terra, só que havia um brilho brando, um cintilar sutil quando a luz batia. Colocou a mão, sentindo que era frio. Esfregou a pele, soltando flocos de gelo.
— Não! — disse, esperando o medo, a raiva, qualquer coisa. Porém, seu estômago estava vazio, sua cabeça estava vazia. Aquilo era ainda pior do que o gelo que lentamente subia por suas costelas, que se esticava das pontas dos dedos como uma infecção, transformando suas mãos em pedra, porque ele não ligava de verdade para o corpo. Nunca tinha gostado dele: era alto demais, com um rosto agressivo demais. Mas a raiva... era o que ele era, era o que o fazia ser Brick. Tirando isso, o que sobrava?
— Apenas se entregue — disse Daisy, aproximando-se dele. — Sei que é assustador, mas eles vieram ajudar. Eles vão cuidar de você, mantê-lo em segurança.
— Como fizeram com Schiller? — retrucou Brick, os lábios frios demais para dar a devida forma às palavras. Tinha a sensação de que saíra para uma tempestade de neve, a pele congelada, rígida como plástico. Cambaleou, batendo em uma árvore, tentando levar as mãos ao rosto, ou virar a cabeça. Os outros perderam a nitidez, e o mundo ficou cinza. Por que aquilo estava acontecendo? Não precisava ser ferido primeiro? Como Schiller, como Howie?
As coisas estão se acelerando, disse Daisy, a voz dela no centro do cérebro dele. Porque não há muito tempo. Não se assuste, Brick, estou aqui.
Ele sentiu que estava caindo, nenhuma dor ao pousar na grama espinhenta da floresta. Não sabia se olhava para cima ou para baixo. Uma rajada de pânico provocou um baque em seu coração, um rápido lampejo de raiva, tragado com rapidez pela mesma calma avassaladora.
Não resista, disse Daisy.
Ele resistiu, tentando reavivar a raiva, como um piloto em queda livre tentando religar um motor morto. Outra explosão seca, branda demais, breve demais para combater a paralisia. Tentou de novo, e, desta vez, reuniu forças para abrir os olhos. Ficou de pé com dificuldade, tropeçando em direção à luz, sem se importar para onde estava indo, querendo apenas se mexer, se afastar. Deu três passos antes de perceber que não estava mais na floresta. Se deu conta de que não tinha mais pés. Estava suspenso dentro de um palácio de gelo, as paredes mudando de lugar constantemente, preenchidas com a vida dos outros. Era o mesmo lugar que havia visitado nos sonhos ao adormecer na igreja.
Virou-se, em busca de uma saída, encontrando-se face a face com Daisy. Ela estava envolvida em fogo, o corpo como uma teia cintilante de luz, o rosto saído de um sonho, não exatamente real, não exatamente capaz de manter sua forma. As asas arquearam-se acima da cabeça dela, erguendo-se como uma fonte de fogo, cuspindo faíscas derretidas em azul, vermelho e amarelo. Ela estendeu para ele uma mão que não era realmente uma mão, fria contra o rosto dele.
Você confia em mim, Brick?
Ele não respondeu, só ficou encarando-a, encarando a criatura que a tinha possuído. Tudo nela emanava poder — uma energia pura, impoluta, concentrada. Se quisesse, ela poderia arrebentar o mundo, fazendo dele fragmentos de poeira e sangue, e, no entanto, não havia nada naquele ato que prenunciasse violência, raiva, ódio.
É porque eles são bons, disse Daisy.
Não, eles não eram bons. Não havia nada neles, assim como não havia emoção em uma arma nem em uma bomba, só uma coleção de partes móveis que faziam o que quer que lhes mandassem fazer. Schiller tinha provado isso ao destruir Hemmingway, quando matara aqueles policiais. Talvez, então, não fosse tão ruim ser poderoso, ter o controle. Se seu anjo tivesse sido o primeiro a nascer, se isso tivesse acontecido em Hemmingway, jamais teria deixado Rilke descer ao porão, e Lisa ainda estaria viva.
Pensar em Rilke fez seu estômago revirar, ainda que Brick tivesse bastante certeza de que ali naquele lugar, qualquer que fosse, ele não possuía um estômago. Alguma coisa começou a arder nele, como se uma vela tivesse sido acesa. Essa coisa, essa criatura — não um anjo, é o termo errado; essa coisa é mais antiga do que a Bíblia, mais antiga do que a religião, mais antiga do que as estrelas —, tentava sufocar seu medo e sua raiva. Era parte do trato, ele percebeu; em troca do fogo, você precisava dar uma partezinha de si, as emoções que poderiam levá-lo a usar esses poderes em outra direção. Sentiu o calor bruxuleante em suas vísceras se ensopar.
Apenas deixe acontecer, disse Daisy. Ele precisa da sua ajuda.
Ele precisava de Brick, e Brick também precisava dele. O garoto relaxou, inspirando profundamente o ar que na verdade não existia, tentando se desligar da raiva. Por ora, ao menos. Essa criatura não o conhecia, não entendia que ele era feito de raiva. Nada podia deletá-la. Fingiria estar calmo, acompanharia a criatura, mas sua fúria ainda estaria ali. Sempre estaria ali. Mesmo com um ser como aquele dentro dele, era capaz de encontrá-la.
E, quando a encontrasse, Rilke pagaria caro.
— Ok — disse ele a Daisy, sorrindo para ela com seus lábios inexistentes. — Estou pronto.
Daisy
São Francisco, 13h38
Daisy deslizou de volta para o mundo real a tempo de ver o anjo de Brick nascer. O fogo ardia através da pele dele, começando pelo peito e se espalhando com rapidez. Ele abriu a boca para gritar, uma luz branca subindo pela garganta, os olhos irrompendo em supernovas. Suas costas se dividiram, asas abriram-se com força suficiente para rachar o tronco da árvore atrás dele, enchendo a floresta com barulhos ao cair. Resistia à transformação, lançando-se do chão para os galhos acima, com gritos disparando de sua boca, altos o bastante para fazer o chão tremer. Os pássaros dispersaram-se das árvores, tantos que fizeram o céu escurecer.
Fique calmo, ela lhe disse enquanto ele despencava pela folhagem, chocando-se contra o chão. Ele esperneava, como se alguém o tivesse coberto de gasolina e ateado fogo, aquelas asas enormes bruxuleando até ficarem quase invisíveis, e depois se acendendo de novo. Calor nenhum saía dele, só um frio tremendo, que transformava a terra em gelo. Dedos de luz se projetavam do gelo, procurando Brick e, depois, desabando no nada. E aquele mesmo zumbido entorpecente agitava o ar, fazendo com que os ouvidos de Daisy doessem. Não tem problema, disse ela. Esse barulho. É esse o som do seu novo coração.
Brick decolou de novo, desta vez de lado, atravessando uma árvore e transformando seu tronco em farpas. Virou, retorcendo-se em uma profusão de chamas, gritando para cima com tanta força que Daisy viu alguns dos pássaros caírem do céu, despencando para a terra como pedras — dezenas deles.
Brick, chega!, falou ela. Ele deve tê-la ouvido, porque parou de se retorcer e ficou pairando a cerca de trinta centímetros do chão, as asas dobradas abaixo dele como se fossem um tapete voador. Ele levou a mão ao rosto, tateando-o, passando os dedos pelo peito e pela barriga.
— Tudo bem, cara? — perguntou Cal, ao lado de Daisy. — Brick?
— Ele vai ficar bem — respondeu Daisy. Brick?, falou ela com a outra voz, a da mente. Fale comigo. Aguardou a resposta, mas tudo o que podia sentir era algo saindo do garoto, algo que ardia com mais ferocidade do que o fogo. Não foi capaz de distinguir o que era com seus olhos humanos, então deixou o anjo assumir o controle, o mundo outra vez se rompendo em nuvens de átomos dançantes. Agora a coisa dentro de Brick estava mais límpida. Ele estava com raiva. Não fique assim. É por isso que eles anestesiam você, porque é mais fácil quando não está com raiva nem com medo. Brick, você precisa acreditar em mim.
Brick se virou para ela, o incêndio nos olhos encontrando-a. Ele resistia, tentando aferrar-se à raiva. Mas isso era ruim. Não era o que os anjos queriam.
É o que eu quero, disse ele. Com um leve bater de asas, endireitou-se, suspenso ali, com o chão abaixo dele já como um lago congelado, aquelas mesmas estranhas gavinhas de luz subindo antes de desaparecer. Daisy quase enxergava o que acontecia dentro dele — Brick tentando forçar-se a ficar com raiva, e o anjo resistindo. Ele começou a flutuar pelas árvores, seu novo corpo sugando o calor do ar, dos galhos, cobrindo tudo com fogo. Continuava falando enquanto ia, ainda que Daisy não soubesse se todos podiam ouvi-lo, ou se apenas ela podia.
Não pedi isso, não tive escolha. Então, se vou fazer isso, esse anjo — ou como queira chamá-lo — também precisa fazer algo por mim.
Como assim? Mas ela tinha a sensação de que já sabia. Lisa, a namorada de Brick, presa no porão de Fursville, encurralada como um rato por Rilke, e, em seguida, morta a sangue-frio. Daisy virou-se para os outros, vendo Rilke ainda agachada no chão, encarando Brick com olhos frios, escuros, assustados.
Não, falou Daisy. Brick, por favor, ela não sabia o que estava fazendo.
Sabia. Sabia sim.
Brick deslizou para a clareira como um guerreiro, as asas abertas, duas vezes maiores do que ele. Aquele som irradiava dele e de Daisy também, revirando o chão, fazendo as pedrinhas dançarem e as pinhas caírem dos pinheiros. Ele parou ao lado delas, seus olhos ardendo pela clareira, nunca deixando Rilke. Ela devia ter entendido, porque se levantou sem firmeza, recuando. A garota olhou para Daisy, e não precisava haver um laço telepático entre as duas para que Daisy entendesse que ela dizia: Socorro.
— O que está acontecendo? — perguntou Cal, os outros aglomerados em volta dele, como se pressentissem que algo ruim estava prestes a acontecer.
— Mantenha-o longe de mim! — disse Rilke, a voz dela quase sumindo no zumbido trepidante. Estava encolhida, parecendo tão fraca, tão humana. Foi recuando até bater nos galhos baixos de uma conífera, quase se afundando neles, como se pudesse se esconder. — Juro...
Jura o quê? Brick não disse essas palavras em voz alta — não podia, não sem abrir um buraco no mundo —, mas sua voz pareceu ecoar pelas árvores, quicando pela cabeça de Daisy. Os outros também ouviram desta vez, porque todos levaram as mãos às orelhas. O que vai fazer comigo, Rilke? Me dar um tiro?
Chega!, gritou Daisy, emitindo as palavras para ele. Não podemos lutar uns contra os outros, não podemos!
Cale a boca, Daisy, disse Brick. Isso não é da sua conta. Isso não tem nada a ver com nenhum de vocês. É entre mim e ela.
— Brick, já chega, cara, deixa para lá, tá bom? — Cal deu um passo para Brick, mas o garoto maior limitou-se a erguer a mão e flexionar os dedos. Foi como se um vento forte tivesse detido Cal, fazendo-o cair de costas e arrastando-o pelo chão.
Não!, gritou Daisy. Brick, não o machuque, por favor!
Ela estendeu as próprias asas, sentindo a força dentro de si, como se seu corpo estivesse cheio de um milhão de vespas. Do outro lado da clareira, Howie se transformou, irrompendo em chamas, os olhos como ferro derretido, mas ainda repletos de incerteza, olhando de um para o outro.
Não é ele que eu quero, falou Brick enquanto Cal se levantava. Só quero ela. Só quero mostrar a ela como é. Que tal, hein, sua psicopata?
Ele quase não falou a última palavra, o som dela fazendo as árvores se agitarem, provocando uma chuva de agulhas. Rilke emitiu um som que estava entre um resmungo e um ganido, como um rato encurralado contra a parede. Ela ficava batendo o punho cerrado contra o peito, e Daisy precisou de um momento para entender que ela tentava despertar seu anjo, tentava se transformar.
Agora já não é tão legal, não é?, prosseguiu Brick, movendo-se lentamente na direção de Rilke. Não é muito bom quando sou eu que tenho as armas e você está indefesa. Falei que ia matar você por causa daquilo, lembra?
Ele estendeu a mão outra vez, e, apesar de não tocar Rilke, a cabeça dela foi para trás. Ela gritou, os dedos pressionados contra a testa.
Por favor!, gritou Daisy. Ela olhou para Cal, para os outros, mas ninguém se mexeu. Até Howie, banhado em chamas, estava imóvel. Por que ninguém fazia nada?
— Ela era um deles! — justificou Rilke, engasgada com as próprias palavras. — Ela era um dos furiosos; precisava morrer!
Brick se aproximou, os dedos brincando com o ar. Mesmo através da névoa cintilante que o cobria, era óbvio que ele sorria. Estendeu um dedo, apontando-o bem para o rosto de Rilke.
Ela não precisava morrer. Não estava fazendo mal a ninguém lá embaixo. Você devia tê-la deixado em paz; ela teria melhorado. Mas você a matou, você deu um tiro na cabeça dela.
— Ela teria nos ferido! — falou Rilke. — Eu precisava...
Está gostando da sensação?
Ele moveu os dedos, e Rilke começou a levitar. Esperneava contra seu toque invisível, mas não havia nada que pudesse fazer.
Chega!, Daisy comunicou-se com a mente, e seus pensamentos tornando-se uma força física que atingiu Brick, arremessando-o para longe. Ele rolou duas, três vezes, as asas emaranhando-se, levantando um redemoinho de pó. Mas isso não durou muito. Em seguida, estendeu-as de novo, voltando-se para encarar Daisy. O sorriso tinha ido embora, seus olhos agora eram dois poços ardentes de fúria.
Fique fora disso, Daisy, disse ele, com as palavras de algum modo transmitidas para dentro do zumbido do coração do anjo, um tanto faladas, outro tanto pensadas. Não quero ferir você.
Ele não faria isso, faria?
Rilke, perguntei se estava gostando.
Ele projetou o dedo à frente. A uns seis metros de distância, a cabeça de Rilke foi para trás, sua cabeça se partiu. O sangue brotou de sua testa ferida, escorrendo por seu nariz e para dentro de sua boca, transformando os gritos dela em gorgolejos desesperados e horrendos.
Brick, não!, gritou Daisy. Brick ficou ali, mergulhado em chamas, seu dedo ainda se projetando. Era difícil distinguir a expressão em seu rosto. Ele deixou a mão cair, e virou-se para Daisy.
Eu... Eu não quis...
Rilke se afastou cambaleando, ofuscada pelo sangue. Seu pé bateu numa raiz e ela caiu, a cabeça batendo contra o chão com tanta força que lançou um halo escarlate na terra. A menina gemia, tentando rastejar para a frente.
Rilke?, disse Daisy, movendo-se na direção dela.
Só estava tentando assustá-la!, falou Brick, a voz dele como a de um garotinho dentro de sua cabeça. Desculpe!
Ele estendeu a mão outra vez, e o mundo se revirou, espalhando Cal e os outros como se fossem balinhas jogadas para cima. O ar se agitou, e uma onda de choque empurrou Daisy com tanta força que ela precisou estender as asas para se manter onde estava. O trovão ondulou pela clareira, não só no céu, mas também no solo, como se uma explosão tivesse sido detonada ali embaixo. Até Brick chacoalhou sob esse efeito, as chamas se apagando, os olhos arregalados e temerosos por um instante, antes que o incêndio irrompesse outra vez. Encarou as mãos, como se não pudesse acreditar no que tinha feito.
Daisy quase não teve coragem de olhar para Rilke. Porém, quando se virou, viu que a menina ainda estava viva, retorcendo-se no chão, as mãos no rosto. Daisy olhou de novo para Brick, perguntando: O que você...
Outro rugido, tudo se movendo, como se a floresta fosse uma vasta criatura que houvesse decidido se levantar e andar com eles no lombo. O chão se inclinava, Cal e Adam rolando entre as árvores nos braços um do outro, Rilke escorregando sob a cauda da conífera.
Não fui eu!, gritou Brick, sua voz-mente despojada de raiva, repleta de terror. Não fui eu, juro!
Aquele conhecido lamento infindo e horrendo se precipitou, o rugido uivante de um bilhão de trombetas no céu, um som que parecia capaz de agitar o universo e estilhaçá-lo. Daisy bateu as asas, impelindo-se para cima da floresta, subindo outra vez além das árvores trêmulas. À distância, estava a mesma cidade que vira antes, agora chacoalhando e virando pó com a força dos tremores. Do outro lado, o mar estava branco, febrilmente agitado.
Não fui eu, ouviu Brick dizer de novo, agora mais baixo. Claro que não tinha sido. Aquilo era muito pior.
Era o homem na tempestade.
Brick
São Francisco, 13h51
Brick foi atrás de Daisy, usando as asas para elevar-se acima da floresta. Examinava as mãos enquanto subia, esperando ver sangue nelas, como se tivesse esmagado a cabeça de Rilke com os próprios dedos. A raiva tinha sumido, submersa em um mar de calmaria, mas deixara um gosto amargo na boca, como o de bile. Não pretendia feri-la daquele jeito. Quase a tinha matado.
Ele irrompeu da copa das árvores, o céu se abrindo em volta, a vertigem apertando seu estômago como um punho de ferro. Nunca tinha gostado de altura, e, agora, estava ali, pairando cem metros acima da superfície com nada para impedi-lo de cair além de um par de asas flamejantes. A ideia era tão absurda, tão assustadora, que chegou a rir — uma risada insana e esganiçada que durou menos de um segundo, até que olhasse o horizonte e visse a cidade desaparecendo.
Ela se desfazia como um castelo de areia, os prédios sumindo primeiro, depois as colinas — montes sólidos de rocha — dissolvendo-se em poças. O chão tinha virado um oceano, um vasto redemoinho que girava em um círculo lento. O próprio oceano estava tão branco que poderia ser feito de neve, gemendo ao ser sugado para o vórtice. Brick viu uma ponte — uma coisa enorme e vermelha — arrebentar como se fosse feita de palitos de fósforo, sugada para o fluxo. O redemoinho espalhava-se pela cidade com velocidade incontrolável, tudo desabando em pó e fumaça. A terra parecia berrar, um grito de pura aflição que fazia os ouvidos de Brick doerem.
É ele, disse Daisy a seu lado, a voz repleta de pesar. Ah, Brick, ele matou todos.
Quantas pessoas? Cem mil? Um milhão? Elas nem teriam percebido, sugadas pelo esôfago tão rápido que teriam morrido antes mesmo de conseguirem recuperar o fôlego. Não pode ser real, não pode ser real, mas era; ele podia sentir o miasma do concreto atomizado, do sangue derramado e da fumaça — tanta fumaça. Podia sentir a força do vento que se precipitava para o abismo, tentando puxá-lo junto.
Precisamos enfrentá-lo, prosseguiu Daisy. Howie tinha subido e se postado ao lado dela, sua forma de anjo tão parecida com a dela que poderiam ser gêmeos. Onde está ele? Não estou entendendo.
Não era como em Londres. Para começar, não havia tempestade. Lá ele tinha ficado suspenso no ar, sugando tudo com aquela boca que era um poço, o céu repleto de escuridão. Ali não havia sinal dele, só a cidade se afogando.
Ele está no subterrâneo, disse Brick, entendendo de súbito.
O epicentro da destruição agora era um buraco escancarado, com quase dois quilômetros de diâmetro, e aumentava com rapidez. Terra e mar vertiam juntos no poço, lançando arco-íris contra o céu sem nuvens, o efeito estonteante. Algo mais também estava acontecendo, fendas vastas e serpenteantes irradiando-se da destruição, despedaçando a terra. Uma ia abrindo caminho para a floresta na colina abaixo deles, escavando uma trincheira nas ruas, atravessando as casas. Tudo desmoronava.
Espere aí, falou Brick. Onde estamos? Aquele homem não tinha dito que aquilo tinha reaparecido em São Francisco?
Acho que sim, respondeu Daisy. Por quê?
Por causa da falha, respondeu Howie, antes que Brick pudesse fazê-lo. A falha de Santo André.
A... o quê?, perguntou Daisy, mirando Brick com seus olhos ardentes.
É... começou ele, parando enquanto uma colina inteira, cheia de casas e de prédios, afundou no chão que se desintegrava, o som diferente de tudo o que Brick já ouvira na vida. É uma fenda na Terra, um ponto fraco.
Era como se o homem na tempestade rasgasse os alicerces, o esqueleto que mantinha a unidade da Terra. Se quebrasse ossos suficientes, o continente inteiro desabaria.
Então o que faremos?, perguntou Daisy. Como vamos lá embaixo?
Brick olhou para ela, depois para Howie, sabendo a resposta mas recusando-se a dizê-la, porque dizê-la a tornaria real. Não que ainda fizesse algum sentido esconder alguma coisa. Daisy podia enxergar dentro da cabeça dele com a mesma facilidade com que enxergaria dentro da própria.
Vamos lá embaixo, falou ela.
Brick negou com um meneio de cabeça. A única coisa que ele queria era se virar e ir embora. Era isso o que fazia melhor; escondia-se das coisas, fingia que elas não existiam. Era por isso que gostava tanto de Fursville: porque ninguém podia se aproximar dele quando estava lá. Estava em segurança. A lembrança do lugar, dos momentos em que fora lá sozinho e escapara das brigas, do estresse, do lixo sem fim que era sua vida, fez a já conhecida raiva fervilhante subir por seu estômago. Danem-se eles, por que seria ele a lutar? Aquela batalha não era para ele. Nem a bravura, bem sabia. Era o anjo mexendo com a cabeça dele, fazendo-o pensar em coisas nas quais não lhe cabia pensar. Não, melhor se mandar logo, enquanto ainda podia, achar outra Hemmingway, sobreviver.
Até o homem na tempestade achar você, falou Daisy. Porque ele vai. Ou acha que ele vai parar por aqui? Ele vai destruir tudo, Brick, o mundo inteiro. Vai engolir tudo. Ainda não entendeu? Não vai sobrar nada.
Ele se afastou do vácuo estrondoso e virou-se para o horizonte banhado em ouro. Vá, vá, apenas vá. Eles podem resolver isso sozinhos.
Não podemos.
Agora ele podia voar, podia ir para qualquer lugar que quisesse só com um pensamento, podia deixá-los ali para resolver a situação. Aquelas pessoas nem eram amigas dele; depois daquilo, nunca as veria outra vez, mesmo que sobrevivessem. Nunca precisaria olhar para a cara delas de novo.
Brick, não!
Era muito melhor do que ser engolido pelo homem na tempestade.
Por favor, pediu Daisy, estendendo-lhe a mão, as chamas da mão dela enroscando-se nas dele, entremeando-se como dedos, tentando detê-lo ali. Ele se afastou, batendo as asas uma vez, talhando um caminho no céu, batendo-as outra vez, a loucura e o caos se encolhendo, os pedidos de Daisy ficando mais baixinhos, o estrondo da cidade em ruínas desaparecendo atrás do ar em agitação enquanto ele voava. E era tão bom estar em movimento, em movimento, sempre em movimento.
Cal
São Francisco, 13h56
O chão tremia tanto que ele não conseguia se manter em pé. Toda vez que tentava, a superfície se inclinava como um barco em uma tormenta, fazendo-o girar. Apoiou-se em Adam com toda a força, a mão presa na camiseta do garotinho. Estava escuro demais para enxergar o que quer que fosse, e as árvores desabavam ao redor, bloqueando o sol.
— Daisy! — gritou ele, o ar repleto do fedor das pinhas. Não havia como ela ouvi-lo com o ribombar da terra, os estalos e os ganidos das árvores, mas ela não precisava de ouvidos, ela o sentia.
O chão virou para baixo com tanta força que, por um momento, Cal ficou suspenso em pleno ar. Caiu de costas, encolhendo-se. Adam rolou para o lado dele, sem fazer o menor barulho, os olhos leitosos de pânico. Cal agarrou-o, abraçando-o com força. Um facho de luz atravessou os galhos, revelando a encosta de um penhasco que não estava ali antes. Raízes de árvores projetavam-se da lama como minhocas, e uma avalanche de solo martelou contra o chão. Esperou outro tremor, esperou o mundo se abrir sob ele e finalizar seu trabalho, mas não havia nada além de silêncio.
Isto é, um relativo silêncio. Ainda era capaz de ouvir um gemido distante, o som de um Leviatã monstruoso nas profundezas. Não tinha muita certeza do que era, mas podia chutar: era o homem na tempestade, suspenso sobre alguma cidade, devorando-a por completo. Apoiou-se nos cotovelos, esperando pela dor insuportável de um osso quebrado ou de um membro torcido, mas só encontrou hematomas.
— Tudo bem com você? — perguntou a Adam. O garoto fez que sim com a cabeça, colocando a mão na bochecha. Havia uma dúzia de agulhas de pinheiro enterradas em sua pele, fazendo-o parecer um porco-espinho. Cal puxou-as com delicadeza. — Vai arder por algum tempo — falou ele, sentindo o calor das agulhas no próprio corpo. — Mas elas não vão matar você. Vamos, precisamos achar os outros.
Ele se levantou, o chão irregular fazendo-o sentir-se bêbado enquanto ajudava Adam a ficar de pé. Tinha perdido qualquer senso de direção que não fosse para cima e para baixo. Espiou por entre os galhos, vendo o brilho do sol — ou talvez de um anjo, não dava para ter certeza.
— Daisy! — gritou ele outra vez, sua voz provocando um sobressalto em Adam. — Onde você está?
— Cal?
Ele reconheceu Marcus, o som vindo de algum lugar acima. Perguntou-se se o outro garoto tinha se transformado, se pairava no ar, e em seguida deparou com seu rosto magrinho espiando do alto do precipício. Tinha um sorriso enorme no rosto.
— Cara, que bom te ver! Achei que estaria... Você sabe. Como foi parar aí embaixo?
— Como foi que você foi parar aí em cima? — rebateu Cal.
— Terremoto — falou Marcus. — Mas não um terremoto-terremoto; só pode ter sido ele.
— Está vendo Daisy em algum lugar? — perguntou Cal. — Brick, ou alguém?
Marcus olhou para trás e deu de ombros.
— Nada; devem ter ido brigar em algum lugar. Mas foi legal da parte deles ajudar a gente.
Cal fez que sim com a cabeça automaticamente, tentando enxergar um jeito de subir o penhasco. A terra ainda estremecia, os tremores vibrando em seus calçados e provocando dor nos ossos das pernas. Sempre tinha confiado na terra firme, mas agora não podia deixar de pensar no quanto era fina a crosta do planeta, no quanto era frágil, e no oceano sem fim de pedra derretida sobre o qual ela flutuava. Tudo seria muito mais fácil se algum deles tivesse se transformado; podiam simplesmente abrir as asas e voar para longe dali. Porém, não havia nenhum sinal de que o anjo dele estava sequer próximo de nascer. Como sempre, tinha ficado com o preguiçoso. Tentou rir, mas o riso saiu mais como uma fungada.
— Está vendo algum caminho, alguma alternativa? — perguntou ele.
Marcus balançou a cabeça em uma negativa.
— Está assim até onde enxergo; do outro lado, também. Não posso me mexer, vou ter de esperar uma carona. Você, talvez, consiga sair por aquele lado. — Ele apontou para a direita. — De repente tem algum espaço entre as árvores.
— Vou lá dar uma olhada — falou Cal, a caminho. O progresso era lento porque o chão tinha fendas menores, os pés se afundando na terra. Toda vez que ele dava um passo, rangia os dentes, esperando um buraco se abrir e as trevas o envolverem. Duas vezes, Adam se desvencilhou, porque Cal segurava a mão do menino com força demais. — Foi mal, cara, de repente é melhor você ficar aqui.
Adam negou com a cabeça, apertando os dedos de Cal com a mesma força. Prosseguiram, abrindo caminho por aglomerados de galhos quebrados, cheios de seiva. Não havia sinal de espaço entre as árvores, como sugerira Marcus, mas, depois de mais ou menos cinco minutos, Cal ouviu alguma coisa. Ele parou e virou a cabeça para o lado, ouvindo o que parecia os grunhidos de um animal selvagem. Pela primeira vez, perguntou-se onde exatamente estavam, e que tipo de criatura viveria naquela mata.
Esgueirou-se entre duas árvores, examinando a penumbra à frente, e acabou por ver uma silhueta. Dois olhos enormes e brancos, sem corpo, podiam ser vistos na penumbra, olhos de fantasma. Então a sombra se arrastou, e ele percebeu que era Rilke. O rosto dela estava tão coberto de sangue que era quase invisível. Ela murmurava algo entre aquelas inspirações guturais, ainda que Cal estivesse longe demais para entender quais eram as palavras dela. Arrastou Adam por entre as árvores, apoiando-se em um joelho ao lado da garota.
— Rilke? — chamou ele. Daquela distância, podia ver o buraco na cabeça dela, o buraco feito por Brick. Era do tamanho de uma moeda de cinquenta centavos, e ainda escorria sangue dele. Pelas marcas viscosas da pele, podia-se entrever o osso, e algo de um tom escuro de rosa projetava-se do buraco como se tentasse escapar dali. Como ela ainda podia estar viva?
Rilke ainda murmurava, flashes ocasionais de dentes brancos luminosos contra a vermelhidão. Cal se aproximou, sua pulsação martelando nos ouvidos.
— ... culpa minha, não foi culpa minha, ele colocou no porão, pintou de ouro, pintou de um jeito brilhante e não estava lá, não posso fazer nada, posso, Schill? Não se está ali, não se é ouro...
— Rilke! — chamou outra vez. — Está me ouvindo?
Ela disse mais algumas palavras, palavras que não faziam absolutamente nenhum sentido, e, em seguida, franziu o rosto. Exceto pelo ferimento, sua testa estava praticamente sem sangue, dando a impressão de que usava um véu.
— Schill, é você? — A voz dela, partida em um milhão de pedacinhos, era a de uma senhora de idade. — Irmãozinho? Não estou vendo você.
— É o Cal — disse ele. Ele mexeu a mão na frente do rosto dela, mas ela não deu sinal de que o viu.
O que Brick tinha feito com ela? Cal sussurrou um palavrão, olhando para Adam, depois para a floresta. Rilke precisava de um hospital, mas, mesmo que vivesse tempo suficiente para chegar a um, os médicos a despedaçariam assim que passasse pela porta.
— Quebrei a boneca, não quebrei, Schill? — perguntou Rilke, o sangue escorrendo do canto dos lábios. — Quebrei, quebrei a boneca, desculpe ter colocado a culpa em você. Quebrei, quebrei a boneca... Eu me quebrei, você me quebrou, não conte para a mamãe; eu te amo.
Ela começou a tremer, como se estivesse tendo uma convulsão. O que Cal deveria fazer? Adam se deitou ao lado de Rilke, tomando a cabeça dela em sua mão, afastando as madeixas de cabelo de seus olhos. Ele a abraçou com força, pressionando a bochecha contra a dela, até que os tremores passaram. Cal sentiu seus olhos arderem, já não mais pelas agulhas dos pinheiros. Precisou passar o braço no rosto para enxugar as lágrimas. Tomou a mão de Rilke na sua, a pele dela bem fria, entrelaçando seus dedos com os dela.
— Vai ficar tudo bem — disse ele. — Vamos ficar com você, até...
Não terminou, sem saber o que estaria por vir. Rilke começou a tremer de novo, seu corpo inteiro tendo espasmos, quase se levantando do chão. À distância o mundo acabava; Cal podia ouvir o terrível estrondo massacrante daquilo, o som da terra, do mar e do céu sendo engolidos inteiros. Em contraste, a clareira era quase pacífica. Havia até um pássaro cantando em algum lugar, o mesmo som que Cal ouvira naquela mesma manhã — como podia ser o mesmo dia? Parecia um milhão de anos atrás —, altivo até o fim. Talvez ele, Adam e Rilke, e aquele passarinho, pudessem só aguardar ali, no ninho de pinheiros, no escuro e no silêncio, até tudo terminar. Provavelmente nem perceberiam quando acontecesse, seria apenas um estrondo súbito e game over.
A clareira iluminou-se por um breve instante e, em seguida, escureceu de novo. Cal se arrastou para trás quando uma onda de fogo desceu sobre Rilke, se extinguindo rapidamente. Aconteceu de novo, as chamas espremendo-se de seus poros, tentando ganhar força, e apagando-se em um piscar de olhos. Rilke estava alheia a isso, ainda balbuciando coisas sem sentido, com seus olhos grandes, brancos e opacos.
— Adam, afaste-se! — disse Cal, estendendo a mão para o garoto, que fez que não com a cabeça, abraçando Rilke com mais força ainda.
A menina se incendiou de novo, as chamas se enroscando no tronco, bruxuleando pelo pescoço e pelo rosto, morrendo depois. Desta vez, Rilke pareceu senti-las, os lábios congelando no meio de uma palavra. Colocou uma das mãos no peito, uma inspiração fraca e gorgolejante. Línguas de fogo lambiam seus dedos, agora mais fortes.
— Quebrada? — disse ela. — Boneca quebrada, Schill, está me ouvindo? Consegue me consertar? Me conserte antes que ela descubra, ela nunca vai saber. Você vai ficar em segurança comigo, irmãozinho, estou aqui para te proteger.
As chamas se mantinham, ardendo no peito dela, espalhando-se pelos membros, emitindo um frio inacreditável. O mesmo ronronar martelante ergueu-se no ar, ficando mais alto, depois diminuiu, como um motor tentando ligar. Sumia, depois voltava com força total, as chamas ardendo com tanta violência que, dessa vez, Adam se arrastou para longe. Não parecia a mesma coisa que acontecera com Brick, com Daisy. Aquilo era diferente, o fogo mais urgente, ardendo da cabeça aos pés, como se a atacasse. Rugia como mil bocas de fogão acesas, com força total, e lutava para permanecer vivo, para se estabilizar. Cal praticamente podia enxergar o anjo ali, a silhueta dele se retorcendo nas chamas. Entendeu que ele não queria morrer — não, morrer era a palavra errada. Ele não queria voltar para o lugar de onde tinha vindo, qualquer que fosse. Gritava, um ruído débil como o de um filhote de passarinho, de um pintinho que tivesse sido chocado cedo demais.
— Vamos! — disse Cal, estendendo a mão para Adam.
Não tinha ideia do que ia acontecer, mas não podia ser bom. Rilke disparava ar frio enquanto o anjo sugava o calor da floresta, aquele ruído ficando mais agudo, como se ela fosse explodir. Mesmo que não explodisse, mesmo que se transformasse, sua mente estava despedaçada. Não seria capaz de controlar seu poder e acabaria tão perigosa quanto o homem na tempestade. Por um segundo, Cal cogitou pegar um galho e afundar na cabeça dela antes que se transformasse. Porém, o anjo pareceu ler sua mente, agitando-se com mais vigor, o som de seu coração de uma força que impelia Cal para longe.
O incêndio ficou mais forte, projetando-se dos olhos e do buraco na cabeça dela, como se houvesse uma fornalha no crânio. Quando Cal olhou de novo, Rilke estava no ar, uma única asa semiformada erguendo-a em diagonal. Desapareceu, e ela caiu, depois se acendeu de novo, as duas asas se desenroscando para fora, levando-a para o céu, onde ela desapareceu no brilho do sol.
Cal virou o rosto, piscando para tirar as manchas de luz da visão. Deu a mão a Adam e conduziu-o por entre as árvores, torcendo para que ainda restasse algum pedaço de Rilke e para que esse pedaço ainda se lembrasse do que deveria fazer, se lembrasse de resistir, mas não se lembrasse do que Brick fizera com ela.
Daisy
São Francisco, 14h17
Daisy estava arrasada. A cidade — agora nada além de um vazio fumegante, com vinte, trinta quilômetros de diâmetro — ficava para um lado. Parecia as fotos que a garota tinha visto do Grand Canyon, a não ser pelo chão de fumaça turva. Com dificuldade, ela entrevia uma figura na escuridão, o homem na tempestade, que parecia uma aranha monstruosa em sua teia. E o poço ainda crescia, as bordas desabando feito areia, tragadas na maré espiralante de matéria que circundava sua boca. O oceano se derramava dentro dele, soltando nuvens de vapor, uma cachoeira que se estendia até onde Daisy enxergava.
Atrás dela, Brick não era muito mais do que uma manchinha no céu, uma estrela cadente. Ela não conseguia acreditar que ele tivesse ido embora. Fora muito egoísta da parte dele. Que covarde. Mas até que ela entendia, pois estava assustada também. Aliás, estava aterrorizada, mesmo com o anjo dentro de si. Mas eles não podiam ir embora, pois não havia mais ninguém. Se não lutassem com o homem, se não o vencessem, não sobraria nada.
Ouviu Cal na floresta chamando por ela. Ao menos, estavam em segurança lá embaixo. Mais seguros do que estariam lá no alto. Iria até eles quando pudesse, se pudesse. Agora, tinha problemas maiores para resolver.
Pronto para o segundo round?, perguntou Howie ao lado dela. O sol estava atrás dele, a luz brilhando pela fina renda de suas asas abertas. Como eram belas. Daisy poderia mirá-las por horas. Nós o ferimos uma vez, podemos fazer isso de novo.
Daisy não tinha tanta certeza. Antes eles eram em três, e agora o homem na tempestade estava debaixo da terra. Por que Brick não tinha ficado com eles? Poderiam derrotá-lo se permanecessem juntos. Algo surgiu da floresta atrás, rasgando um caminho pelo céu. Caiu, subiu de novo, a luz se acendendo e se apagando com dificuldade.
Rilke!, chamou Daisy, reconhecendo-a. Aqui, precisamos de você!
Não houve resposta, e Daisy tentou captar os pensamentos da garota, afastando-se imediatamente quando viu o caos dentro dela, a escuridão — boneca quebrada, boneca quebrada, ele acabou comigo, Schill, o garoto acabou comigo, vou acabar com ele também, não conte para a mamãe, por favor, eu vou... Algo terrível tinha acontecido, ainda pior do que a loucura que ela vivera antes.
Rilke, por favor, me escute! Rilke girou em pleno ar, concentrando-se naquela luz distante e evanescente que era Brick. Não, por favor, precisamos de você!
Rilke desapareceu, detonando uma explosão sônica que ondulou pelo ar e lançando Daisy para trás. Ela usou as asas para se endireitar, observando o espaço onde estivera Rilke, as brasas que pingavam para a terra. Não! Não era justo; por que tinham de agir assim? Iam acabar se matando. Daisy abriu a boca e soltou um choro que abalou o céu. Ela sentiu ódio. Por que não a ouviam? E por que Cal não havia se transformado ainda? Ele saberia o que fazer; ele a ajudaria.
Precisava se concentrar, do jeito que a mãe tinha lhe ensinado fazer em situações muito assustadoras. Inspirar profundamente pelo nariz, segurar, depois expirar pela boca, como se colocasse para fora todas as coisas ruins. Foi só assim que Daisy conseguira subir no palco pela primeira vez, quando ensaiavam para a peça. Foi só assim que conseguiu dizer a primeira fala. Inspirou, sem nem saber se ainda precisava de ar, sentindo a pressão no peito diminuir, segurando o ar por um instante antes de soltá-lo. Parecia ver o medo indo embora, a ansiedade, todas as coisas horríveis dentro dela.
Vamos!, falou para si, antes que as coisas ruins voltassem. Eu consigo!
Nós conseguimos, disse Howie. Ele assentiu com a cabeça, e ela retribuiu o gesto. Em seguida, apontou a cabeça para baixo, rasgando a pele da realidade. Reapareceu acima do centro do cânion, apanhando dos ventos que uivavam no vórtice abaixo. Era enorme, muito maior do que tinha parecido à distância, um mar furioso de pedra e água. Relâmpagos — pretos e brancos — chicoteavam para cima, arranhando os paredões, provocando labaredas monstruosas e escuras onde quer que tocassem.
Era o homem na tempestade, era a besta. Não podia vê-lo direito, não com os olhos, mas usou os do anjo para enxergá-lo, suspenso no centro da tempestade, respirando naquela mesma inspiração infinita. Ele a viu também, porque parou de respirar para bradar o mesmo grito de fazer tremer a terra, um berro que regurgitou uma cidade em ruínas, e uma nuvem de matéria negra veio na direção de Daisy.
Ela abaixou a cabeça, sentindo o anjo energizar-se dentro de cada célula de seu corpo. Howie voou para seu lado, e os dois mergulharam de cabeça, indo ao ataque. Daisy abriu a boca, uma palavra sendo disparada de seus lábios, abrindo caminho pelos detritos. Os anjos de ambos falaram, uma linguagem de pura força, abrindo uma trilha na tempestade. O mundo escureceu com esse mergulho, o fogo dela revelando cada pedra, cada pedaço reluzente de metal, cada cadáver mutilado que se precipitava a seu lado. Ela ignorou tudo, descendo, gritando uma palavra atrás da outra até enfim vê-lo.
Aquela criatura, de algum modo, ainda era um homem — sim, inchado e monstruoso, mas com dois braços, duas pernas e uma cabeça. O corpo dele tinha o tamanho de um prédio, de um arranha-céu, a pele era esticada, rachada em alguns lugares, unida por uma rede de fios negros envenenados que antes podiam ter sido veias. Uma escuridão se convulsionava na fenda, como se ele tivesse sido esvaziado e, depois, enchido de fumaça. Aquelas asas, aquelas asas horríveis e trevosas que eram muito semelhantes às dela, embora fossem ao mesmo tempo muito diferentes, encontravam-se estendidas atrás dele como uma teia de penumbra.
Porém, acima do pescoço, não havia nada humano. Havia só aquela boca, aquele buraco escancarado onde deveria estar o rosto, parecendo mais do que nunca um redemoinho ou um furacão. Ela não enxergava os olhos dele, mas podia senti-los observando-a, ganchos embutidos em sua pele.
Ela abriu a boca outra vez, sentindo a energia incendiar um caminho até sua garganta, jorrando de seus lábios. Acertou o homem no meio do peito, arrancando pedaços de carne velha e morta. Howie gritou também, a palavra dele rasgando o ar e arrancando um naco de escuridão da tempestade. Ela disparou de novo, ambos falando juntos, gritando, jogando tudo o que tinham contra ele.
Algo aconteceu com o homem. Ele começou a girar, como um motor, uma turbina, não mais soprando, mas, como antes, inalando.
Daisy sentiu a mudança na corrente de ar, que agora a sugava. O vácuo na boca dele ficou mais próximo, maior, o som como um trovão abalando a mente dela. Ela gritou em resposta, sua voz e a do anjo perdidas em meio à loucura. Outra coisa chicoteou da boca dele, uma lâmina de trevas que cortou o ar ao lado de Daisy. Outra se seguiu, esta enroscando-se em seu corpo, uma língua de noite liquefeita que a envolveu como um punho.
Daisy entrou em pânico, tentando abrir as asas, mas descobrindo que estavam bem presas. Seu anjo faiscava violentamente, lutando contra a escuridão, e ela torcia o corpo tentando se desvencilhar. Rodopiava para dentro do poço, a mente incapaz de entender o que a segurava. Não havia nada senão um facho de ausência completa e absoluta que parecia comê-la, tentando ingeri-la e tirá-la da existência.
Não!, gritou, berrando contra aquilo de novo e de novo, até que o pedaço de noite começasse a se desfazer, dissolvendo-se no frio fogo de seu anjo. Mas era tarde demais; a corrente a levava, puxando-a para as nuvens de fumaça e poeira que circundavam a garganta da besta.
O rugido do vórtice ficou ainda mais alto, e o movimento se tornou mais vigoroso — era como ser sugado por um ralo. Ela fechou os olhos, e logo percebeu que não ver era infinitamente pior do que ver. Ao abri-los de novo, viu, à frente, o fim — um ponto de breu total para o qual tudo estava sendo sugado. Era o menor dos buracos, pequeno demais para sugar todas aquelas coisas. Mas ele inspirava cada pedaço de matéria, com raios, não exatamente relâmpagos, estalando dele, dezenas a cada segundo. Porém, som nenhum vinha dali, e ela se perguntou se tinha ficado surda.
Outro esvoaçar de noite liquefeita, mas Daisy se retorceu e o evitou, sentindo o insuportável nada passar por ela. Abriu a boca, lutando. Algo estranho acontecia à medida que se aproximava do buraco bruxuleante. As coisas se desaceleravam — não propriamente, mas despedaçando-se, como se nem o tempo pudesse manter-se ali. O tempo, o som, a matéria, a vida: o homem na tempestade detestava tudo, detestava absolutamente tudo. Quase podia enxergar sua história na imensa quietude que lhe cercava a garganta. Aquela coisa, o que quer que fosse, vinha de um lugar em que não havia nada. Essa coisa era o que existia antes de a vida existir, antes das primeiras estrelas, antes do Big Bang. Era o vazio anterior ao universo, e o vazio que o sucederia.
O horrendo senso de solidão que a envolveu foi intenso demais. Não o suportou. Aquela criatura era um buraco negro que devoraria tudo, se alimentaria e se alimentaria, até que não sobrasse nada — nenhum afeto, nenhuma alegria, nenhum amor. Só o silêncio, para todo o sempre. Não havia nada que pudessem fazer contra aquilo. Não havia chance.
Ouviu Howie chamando-a, mas o ignorou. Deu uma última olhada na besta, e, em seguida, vergou as asas e se apagou conforme saía do alcance dela.
Rilke
São Francisco, 14h32
Havia algo de errado com a cabeça dela, mas a garota não era capaz de entender o quê. Para começar, a cabeça doía: havia uma agulha latejante de sofrimento bem no centro de seu cérebro. Parecia que dali um barulho se irradiava, o som de campanários de catedrais badalando, e havia também uma coceira sussurrante e enlouquecedora em seus ouvidos. Não conseguia pensar direito, sendo incapaz de se fixar em um pensamento. Tudo o que ela sabia era que ele tinha feito aquilo, aquele garoto alto. Brick, era esse o nome? Rilke tentava lembrar, mas as imagens e as memórias na mente dela eram peças de um quebra-cabeça soltas em uma caixa; não faziam sentido nenhum.
Também não conseguia enxergar muito bem. Na verdade, não enxergava nada. Porém, algo enxergava por ela, o mundo era uma teia de fios dourados que compunham as árvores, os campos, as colinas e o céu. Havia algo dentro dela, algo feito de fogo. Ou será que ela tinha sido sempre assim? Não tinha certeza, não sabia quais pensamentos eram reais, quais eram fantasia. Ela era uma boneca? Quebrada? O que a tinha trazido à vida?
A vingança. Alguém tinha morrido. Schiller. Ele era um boneco também? Sim, um boneco bonito, o boneco dela. Alguém o tinha quebrado. O garoto alto, o garoto alto com asas. O motor do cérebro dela parou, o assovio ficando mais agudo, como se as pessoas gritassem bem em sua orelha. Sentiu o corpo tremer, uma convulsão que provocou espasmos em cada músculo. Era como se tivesse cordas: não era exatamente uma boneca, mas uma marionete.
Olhou ao redor com seus novos olhos, vendo o mundo disposto diante dela, nu e vulnerável. Eram átomos que ela via como tijolos que compunham cada pedra, cada nuvem, cada passarinho a cantar, cada lufada de ar que engolia? Eram tantos, galáxias deles, mas pareciam fazer sentido para ela. Via uma trilha brilhante no céu, onde alguém tinha estado, como o rastro de uma ave. O garoto alto, ele tinha passado por ali.
Bateu as asas. Ela sempre tivera asas? Não sabia. O barulho era insuportável; não era capaz de enxergar nada além dele. Toda vez que tentava, era como se se esforçasse demais. Alguma coisa no brinquedo de corda de seu cérebro poderia arrebentar se não tomasse cuidado. Talvez não existisse o antes, só o agora. Podia ter acordado pela primeira vez. Isso fazia sentido, pensou ela. Se era uma boneca, então talvez estivesse dormindo. Talvez estar quebrada fosse o que a despertara.
Não, talvez o fato de terem acabado com Schiller fora o que a despertara. Achou que o tivesse visto, a pele cintilante, como se ele fosse talhado em vidro — ou gelo —, os olhos como contas negras. O garoto alto havia acabado com ele. Sim, era isso. Por que outro motivo ela estaria com tanta raiva dele, desse garoto que se chamava Brick?
Tudo bem, Schiller, falou, ou tentou dizer, embora não se lembrasse de como fazer para abrir os lábios. Tudo bem. Bonecas não precisavam falar. Pensou aquilo receosa de que, se não o fizesse, talvez aquilo escorregasse para fora da bagunça que era sua cabeça. Sei o que preciso fazer. Preciso achá-lo, aquele garoto alto; preciso acabar com ele também, só assim a gente vai ficar junto de novo, não é, Schill? Diga que sim. A mamãe não vai ficar zangada se... se eu acabar com ele.
A cabeça dela gritava como uma turbina de avião. Ela fazia o melhor que podia para ignorá-la, seguindo o rastro, o mundo passando abaixo como se ela estivesse sendo conduzida, como se algo a levasse sob o braço. Mas, claro, ela era uma boneca, então algo tinha de a estar carregando, algo ancestral, horroroso e cheio de fogo. Quase conseguiu ouvi-lo, além do caos, uivando para ela com palavras que Rilke nunca entenderia, tentando lhe dizer alguma coisa.
Tudo bem, falou. Eu sei o que você quer que eu faça. Ela pensou no boneco chamado Schiller e pensou no garoto alto. Vou acabar com ele, vou acabar com ele, vou acabar com ele.
Cal
São Francisco, 14h34
Cal parou de andar, percebendo uma escuridão crescente na cabeça. O ar tremia, com lufadas de vento estalando entre as árvores, levando o fedor de fumaça e sangue. O chão parecia ter vida própria, tremendo com tanta força que seus dentes batiam. Adam se segurava no bolso de seu jeans, encarando-o.
— Daisy! — disse Cal, sentindo o terror dela.
O que estaria acontecendo com ela? Aquilo era totalmente errado. Nunca tinha se sentido tão inútil a vida inteira. As coisas sempre haviam estado sob controle. A vida, os amigos, tudo. Era perfeito. Agora, porém, não era capaz nem de cuidar de uma garotinha.
Soltou um palavrão e bateu no peito, com força suficiente para causar dor.
— Vamos! — berrou ele para aquela coisa dentro de si, aquela criatura. Sabia que ela estava ali porque ela fizera seus amigos tentarem matá-lo, sua mãe também, no que parecia um milhão de anos atrás. — Vamos, sua porcaria inútil! Se vai fazer alguma coisa, então faça.
Bateu em si mesmo de novo e de novo, mas o anjo não respondia. Talvez o dele não funcionasse. Talvez tivesse morrido na viagem de onde quer que tivesse vindo. Lembrou-se de um dia, na escola, quando eram crianças, em que havia brincado de Imagem e Ação. Megan — Meu Deus, Megan, onde você deve estar agora? Será que você sobreviveu ao ataque a Londres? Está morta? A súbita sensação de perda era insuportável — levara um pintinho para a escola. Os pais dela tinham galinhas, e uma delas procriara. Havia dúzias deles, e ela tinha levado um naquele dia. No caminho, porém, ele morrera. De susto. Quando ela abriu a caixa, tudo o que tinha sobrado era um montinho de carne e penas, já frio. Aquilo teria acontecido também com o anjo dele? Estaria agora deitado dentro de Cal, um monte de partes quebradas e sem peso chacoalhando dentro da alma dele? A ideia o fez ter vontade de se abrir e tirar tudo de dentro, só para se livrar daquilo.
E o que ele poderia fazer sem o anjo? Ir até o homem na tempestade e pedir-lhe delicadamente que desse o fora? O homem só precisaria pensar, e o corpo de Cal, o corpo que tivera a vida toda, cada célula dele, seria deletado. Cinco litros de sangue, alguns ossos, todos embrulhados em couro bem fino. Todos aqueles anos de treinamento, Choy Li Fut, lutar com seu mestre, tudo isso para nada. No que dizia respeito a armas, era tão útil quanto uma meia encharcada.
— Droga! — disse ele, mandando a escuridão para longe e dando mais um passo.
Adam seguiu, sendo arrastado junto. Também não dava nenhum sinal de se transformar. Aliás, parecia mais jovem e mais frágil do que nunca. O novo garoto, Howie, tinha ido com Daisy, não tinha? E Brick? Cal não podia ter certeza. Rilke, pobre Rilke, perdida, também tinha se transformado. Talvez os quatro estivessem lutando. Com certeza isso bastava, não bastava? Tinham assustado a besta quando eram só três, lá em Londres. Tinha de ser o bastante.
Só que não era. Ele sabia. Cal bateu no peito outra vez, gritando:
— O que é que você tem? Está com medo? Você é ridículo, ridículo!
Nenhuma resposta ainda, e seu desespero, sua exaustão, seu medo subitamente se transformaram em uma fúria que lhe subiu pela barriga.
Ele disparou pelas árvores, correndo agora, indo para uma faixa ensolarada que ficava adiante. Que se dane. Não importava que fosse humano, não importava que fosse morrer. Lutaria de qualquer jeito com o homem na tempestade. Ao menos teria tentado. Nada poderia ser pior do que ficar para trás, escondido na floresta. Nada. Cruzou a última fileira de árvores, a luz do sol ofuscando-o tanto que ele quase não viu. Então teve um vislumbre dela entre os dedos, uma trincheira que corria paralela à floresta, um súbito precipício que descia a metros de seus pés. Deteve-se derrapando, chutando pedrinhas para o abismo. Ouviu passos atrás dele, e estendeu um dos braços para que Adam não despencasse.
— Meu Deus — disse ele, indo devagarzinho até a beirada e dando uma olhada. Abaixo — talvez trinta, quarenta metros — estava o solo que um dia estivera conectado à floresta. Entre Cal e esse solo, havia um desfiladeiro aberto pela terra estremecida, estendendo-se nas duas direções até onde o jovem podia ver. Sentiu a cabeça girar e deu um passo para trás, erguendo o rosto para o horizonte. Um buraco negro o dominava, estendendo-se de norte a sul, terra e mar fervilhando para dentro dele enquanto ele próprio continuava a fervilhar. Estava em uma colina, perto do topo, e podia enxergar quilômetros, mas tudo o que havia contra o céu era o poço, um halo de nuvem escura suspenso sobre ela.
Cal bateu as mãos na cabeça, como que tentando impedir que sua sanidade fugisse com o vento. Aquilo era gigantesco, inacreditável. O homem na tempestade ingeria tudo, toda pedra, toda gota de água do mar. Devorava. Se Cal fosse até ali — se sequer se aproximasse do chão fendido —, ele o sugaria sem nem reparar. Seria só mais um pedacinho junto do milhão de outras almas que antes haviam vivido ali. A morte dele não significaria nada, a vida dele não significaria nada. Seria apenas tragado para aquele esôfago horrendo, expurgado de sua existência.
Caiu de joelhos, entorpecido demais para falar, anestesiado demais para chorar, para se mexer. Tinha acabado. Daisy morreria, os outros também, e o mundo chegaria ao fim. Fechou os olhos, ouvindo o martelar infindo da tempestade, o som ensurdecedor dos ossos do mundo se fraturando abaixo dele.
Algo tocou seu ombro, e ele se encolheu. Olhou e viu Adam bem a seu lado, o rosto do garotinho sem expressão, como sempre.
— Sinto muito — disse Cal. — Acho que acabou. Não há nada que possamos fazer.
Adam pegou a cabeça de Cal, colocando-a contra seu peito. Cal ficou ali, ouvindo o bater do coração do garoto, rápido como o de um coelho. Deveria ser o contrário, pensou ele. Ele é que devia confortar o garoto. Afastou-se, envolvendo a cintura de Adam com as mãos, abraçando-o.
— Você foi muito corajoso — falou ele. — Lamento que tudo isso tenha acontecido com você.
Adam levantou a cabeça para o horizonte, e Cal seguiu seu olhar, vendo mais do mundo escorregar para dentro da garganta da besta. O mar fazia um barulho que ele nunca tinha ouvido, um gemido sônico quase humano, como se o oceano não pudesse acreditar no que lhe acontecia. Tanto dele já fora engolido, bilhões e bilhões de litros, que, mesmo que encontrassem um jeito de deter o homem na tempestade, o mundo jamais seria o mesmo.
— Não olhe — disse Cal, puxando Adam mais para perto. — Melhor não ver. Apenas finja... — Finja o quê? Nunca tinha sido bom com crianças, nunca soubera o que dizer. — Finja que é uma brincadeira, tipo esconde-esconde. Vamos voltar para a floresta, achar um lugar para nos esconder. Só um tempinho. Depois... — Ele engoliu em seco, e, em seguida, tentou tossir para desanuviar o nó na garganta. — Você tem saudade da sua mãe? Do seu pai?
Adam fez que não com a cabeça, estreitando os olhos.
— Eu sinto. Sinto muita saudade da minha mãe. Acho... Acho que logo a gente vai vê-los de novo. Não vai demorar, vai?
Você não vai ver ninguém, pensou ele, porque não tem vida após a morte ali, não tem nada depois, só a escuridão, o nada, por toda a eternidade. Pense, Cal, tem de haver um jeito!
Colocou a mão no peito. Talvez seu anjo só precisasse de um incentivo — tipo uma arma na cabeça.
— Preciso que espere aqui — disse ele. — Jure que não vai vir atrás de mim.
Cal estreitou o rosto do garoto entre as mãos e, depois, o abraçou.
— Vai dar tudo certo. Se não me vir de novo, volte para as árvores. Alguém vai achar você.
Ele se afastou do garoto, virando-se para o desfiladeiro. Dali ele parecia não ter fundo, como se levasse direto ao centro da Terra. Aquilo era tão idiota, tão insano, mas que escolha ele tinha? Fechou os olhos, pensou na mãe, no pai, em Megan e em Eddie. Em Georgia também. Se fizesse isso, nunca saberia como era beijá-la, nunca conheceria a sensação do corpo dela em seus braços. Mas tudo bem. Tudo bem.
Respirou fundo, inclinou-se para a frente e se deixou cair.
Brick
Clear Lake, Califórnia, 14h42
A aterrissagem de Brick foi desajeitada; as asas atrapalharam quando ele se materializou, fazendo-o tropeçar. O chão chegou cedo demais, e Brick cobriu a cabeça com as mãos, gritando, o som rasgando o caminho pela grama, depois pela pedra e, por fim, pela água. Caiu de ponta-cabeça, ouvindo o gelo rachar enquanto se formava em volta dele, o ímpeto fazendo-o cruzar a superfície de um lago e, em seguida, jogando-o na outra margem, onde enfim rolou até parar.
Não havia dor. Achava que não poderia sentir dor naquele estado. Porém, havia alívio. Ele tinha ido embora. Não precisava lutar. Sentou-se, o mundo uma miríade móvel de átomos e de moléculas que deveria ser inconcebível, mas que, por algum motivo, fazia sentido. Ao estender a mão, conseguia ver as coisas de que era feito, as células da pele, dos ossos, do músculo e da gordura, a corrente do sangue e o fogo que ardia, de algum modo, dentro e fora dele ao mesmo tempo, fazendo-o parecer transparente. Havia uma mancha escura em sua pele incandescente, e ele precisou de um instante para entender que via através da mão. Deixou-a cair de lado, avistando uma nuvem de fumaça no céu acima das colinas distantes. Não tinha ido longe o bastante.
Levantou-se tão logo pensou nisso. Agora que se acostumara à criatura dentro dele, aquilo não era tão estranho. Na verdade, era bom. Quantas vezes na vida não tinha desejado um poder como aquele? Quantas vezes não quisera poder correr de tudo, ou esmagar a cara das pessoas que o irritavam? Não tinham sido poucas. Deus sabe o que não teria feito para ter esse poder quando estava na escola. Ninguém teria rido da cara dele.
Isso o fez pensar em Rilke, e ele estremeceu. Ela mereceu, disse a si mesmo. Mereceu mesmo, porque matou Lisa. Mas as palavras fizeram seu estômago revirar.
Tentou esquecer aquilo, indo fundo em sua mente e se desconectando do anjo. Era a melhor maneira de entender aquilo, como se fosse uma máquina, um traje, tipo o Homem de Ferro. O anjo é que era poderoso, mas não tinha controle nenhum. Só podia fazer o que mandavam. Brick não entendia por que, mas isso fazia algum sentido. Eles não podiam viver ali, naquela realidade, sozinhos. Precisavam viver dentro de você, como um parasita em um hospedeiro. E, quando estavam ali, não tinham escolha; só podiam fazer o que você queria que eles fizessem. Brick tinha certeza absoluta de que seu anjo tentava se comunicar com ele; provavelmente estaria tentando dizer que voltasse e enfrentasse a besta. Mas dane-se. O corpo era dele, as regras eram dele. Se o anjo não gostasse, que voltasse para o seu lugar de origem.
As chamas se apagaram, e o rapaz teve um instante de desconforto enquanto as asas se dobraram de volta em sua coluna. Ser humano de novo não era agradável. Sentia-se real demais, só carne e cartilagem. Os dentes pareciam esquisitos na boca, grandes, sem ponta, frouxos. Ele também estava cansado e, quando passou a mão pelo cabelo, vestígios de cobre se depositaram entre seus dedos. Sacudiu-os.
Porém, era bom ver com seus antigos olhos. Estava em um campo. Não, talvez em um vale. Não havia nada plantado, só havia flores silvestres. O lago com o qual colidira na descida era enorme, estendendo-se até o horizonte, a superfície ainda agitada por causa do impacto. Junto da margem mais próxima, havia algumas casas. Talvez houvesse comida ali. Brick estava faminto.
Ele partiu, a luz do sol como uma segunda pele, provocando-lhe coceiras. O calor o lembrava de Hemmingway, e isso, por sua vez, o fez pensar em Daisy. Você a largou lá para morrer sozinha, disse sua cabeça. Mas era mentira. Howie estava lá. Ela não estava sozinha. Prosseguiu, forçando-se a esquecer. A primeira casa estava próxima, enorme, de madeira: devia ser um rancho ou algo assim. Havia cavalos no jardim, alguns olhando-o com enormes olhos negros, as caudas balançando. O que deveria fazer? Bater na porta e pedir um sanduíche? Apenas entrar e pegar o que quisesse. Afinal, os proprietários não poderiam impedi-lo, não agora.
Deu mais alguns passos e uma porta se abriu na casa, e uma senhora de idade saiu. Segurava uma cesta de alguma coisa, talvez de roupa suja, e estava tão concentrada em descer os degraus da varanda que demorou um pouco para reparar em Brick. Quando o fez, encolheu-se.
— Oi — disse ela, com seu sotaque americano. — Posso ajudar?
— Estou com fome — ele falou, sem ter certeza do que mais dizer. — Faz tempo que não como.
— Ah... — A mulher recuou na direção da porta enquanto Brick continuava avançando. — Você precisa ir embora. Aqui não alimentamos imigrantes. Tem uma cidade do outro lado do lago, talvez lá você encontre um... um...
Brick virou a cabeça para o lado, tentando entender o que ela dizia. As palavras dela agora eram longas e gorgolejantes, disformes, e um lado do rosto dela ficara paralisado, como se estivesse tendo um AVC. Ela emitiu um som, como o de um cachorro ao vomitar, a cesta escorregando de seus dedos, deixando a roupa suja cair no chão. Em seguida, passou a correr, indo direto para ele, os olhos eram duas bolhas de ódio quase explodindo de seu rosto. Brick soltou um palavrão e recuou. Como podia ter esquecido da Fúria?
— Espere! — disse ele, virando-se e tropeçando nas próprias pernas.
Caiu desajeitadamente, e um jato de dor agudíssima atingiu o punho esquerdo. Levantou-se, mas era tarde demais, as mãos da senhora já estavam em volta de seu pescoço, as unhas dela querendo perfurar a pele de sua garganta. Brick engasgou com o súbito fedor corporal misturado com perfume, gritando enquanto os dedos dela sulcavam um caminho até sua bochecha.
O pânico acendeu a força dentro dele, e o som das chamas preencheu seus ouvidos, seguido pelo zumbido do anjo. Ele se lançou para cima, virando-se ao subir, e assistiu aos braços da idosa desintegrarem-se em cinzas. Ela ainda assim estendia a mão para ele, sufocando no pó do próprio corpo, as protuberâncias dos ombros ainda rotando.
— Vá embora! — disse ele, e suas palavras fizeram a mulher explodir em uma névoa vermelha, transformando a casa de madeira em farpas. A força o lançou para trás, e ele gritou de novo, um som que acertou o lago como um foguete, fazendo a água explodir. Acalme-se, ordenou a si mesmo, sem ousar se mexer, só pairando acima da grama congelada. Agora havia movimento vindo das outras casas, pessoas que saíam por causa do som da explosão.
Hora de ir. Levantou-se, pronto para disparar para longe daquele lugar, sentindo o ar à sua volta estremecer e cambalear enquanto o anjo se preparava para rasgar a realidade. Estava prestes a transportar-se, o mundo começando a derreter, quando viu uma silhueta no céu — outra chama, igual à dele. Deteve-se, observando aquele sol enquanto o anjo se aproximava. Seria Daisy, para falar com ele? Não adiantaria. Estava decidido.
Deixe-me em paz!, falou, desta vez mantendo as palavras dentro da cabeça, onde não causariam mal nenhum, sabendo que ela as ouviria mesmo assim. Vá embora, Daisy, estou cansado disso tudo!
Ela respondeu, mas ele não entendeu direito, captando pedaços de palavras: garoto alto, boneca quebrada, e aquela era a voz de Daisy ou de...
Rilke, percebeu Brick, e, assim que pensou no nome dela, Rilke disparou em sua direção, um grito rasgando o vale com força suficiente para criar um tsunami de terra. A onda de choque o golpeou, fazendo-o cambalear para trás e atravessar os destroços de duas casas. Ele se envolveu com as asas, o fogo protegendo-o, mas não houve tempo para se recuperar antes que ela atacasse outra vez. Brick sentiu-se alçado do chão e, agora, sim, havia dor, como se sua coluna estivesse sendo arrancada. Rilke nadava à sua frente, com os dedos incandescentes dela dançando no ar, puxando fios invisíveis de sua pele.
Ele está aqui, disse ela, as palavras ecoando na mente de Brick. Está aqui, Schiller, aquele garoto alto. Vamos dar um fim nele? Vamos arrancar as asas dele como se fosse uma borboleta? Mamãe ficaria orgulhosa.
O rosto dela era o de um anjo, seus olhos dois bolsões de luz solar putrefata, e, no entanto, atrás do fogo, quase invisível, ele enxergava a verdadeira expressão da garota — que era aterrorizante. Era frouxa, caída, como a de uma boneca mal-acabada. Havia ainda um buraco na cabeça dela, o buraco que ele tinha feito. Louca ela sempre fora, mas ele tinha feito aquilo com ela. Tudo o que havia de bom na garota tinha vazado por aquele buraco, gotejado para fora, e ela se tornara quebrada, vazia.
Não!, disse ele, lutando com ela. Desculpe, não foi minha intenção!
Ela puxou a cabeça dele para cima, como se tentasse arrancar a rolha de uma garrafa. Ele cuspiu um grito gorgolejado, seus braços girando sem parar. Algo estalou, uma vértebra, e dessa vez ele reagiu, gritando com Rilke, deixando seu anjo falar. A palavra disparou para cima, estrondando pelo vale como um trovão. Ele não a acertou e tentou de novo, desta vez berrando, com seus ouvidos zumbindo devido ao esforço. Ela foi como que golpeada por um martelo, mas ele não esperou para ver o que aconteceria. Fechou os olhos, abriu um buraco no mundo e nele entrou.
Cal
São Francisco, 14h46
Ele caiu, sentindo o fluxo do vento roubar o fôlego de seu corpo. Chocou-se contra o paredão do desfiladeiro, toda a dor perdida no estrondo de adrenalina. Depois, começou a girar, acertando outra vez o paredão, tudo escurecendo.
Por favor, funcione! Por favor, Por favor!
Não havia sinal de que seu anjo estivesse despertando. Mas era muito frio ali, congelante. Tinha a sensação de estar mergulhando no coração de uma geleira que não tinha fim nem fundo.
Outro impacto, agora sem dor. Vamos, seu maldito, é agora ou nunca! Se Cal chegasse ao fundo do desfiladeiro antes de se transformar, ele e o anjo morreriam. O frio se espalhava, parecendo irradiar-se de seu peito. Tentou olhar para as mãos, mas estava escuro demais, e ele caía muito rápido, rodopiando loucamente. Quanto tempo mais teria? Segundos?
Vamos!, disse, sentindo-se um paraquedista cujo paraquedas tivesse de ser aberto por outra pessoa. Vamos, vamos, vamos!
E então algo irrompeu de sua pele, uma chama trêmula que foi logo apagada pelo vento.
É isso!
Outra chama trêmula invadiu seu corpo, desaparecendo tão rápido quanto aparecera. No clarão, ele divisou os paredões do desfiladeiro se estreitando. Ele ia bater no fundo, ele ia...
Sentiu, levantando-se dentro dele, uma figura fria que se libertou de sua alma, berrando como um bebê recém-nascido ao irromper em fogo. Hesitou diante do horror daquilo, resistindo, de repente preferindo morrer a ser hospedeiro da criatura em seu interior. Ao se agitar, o movimento o fez passar através da pedra, fazendo-a em mil pedacinhos. Abriu a boca e soltou um uivo que abriu uma fenda na pedra, como um machado faria com a madeira. Berrou de novo, sentindo duas formas inacreditáveis desdobrarem-se de sua coluna, velas de pura energia que abriam caminho através de tudo ao redor, levando-o para cima até que irrompeu do chão.
Obrigou-se a parar, a ficar ali, a cem metros da terra que jazia abaixo. Seu horror passara, substituído por uma empolgação que se agitava em sua barriga. O anjo martelava, seu fogo em cada célula, o pulsar sônico de seu coração fazendo o ar cantarolar. Nunca tinha imaginado que se sentiria assim, como se pudesse tomar o mundo inteiro na mão e esmagá-lo. Jamais tinha imaginado que a sensação seria tão boa. Todas as outras emoções — o medo, o desespero que sentira havia poucos minutos — tinham sumido.
— Dem... — disse ele, a palavra disparando da boca com tanta força que Cal foi projetado para trás. Ele desfraldou as asas como se as tivesse tido a vida inteira, endireitando-se. Seus lábios formigavam com a força da palavra, e concluiu dentro da cabeça: Demorou, hein! Achei que você nunca fosse aparecer.
Se o anjo o entendeu, não deu nenhum sinal disso. Cal não sentia nenhum resquício de humanidade, nada vagamente familiar. Recolheu as asas, começando a mergulhar. O rugido do vento nos ouvidos lembrou-o das partidas de futebol, da pura alegria de correr o mais rápido que era capaz. O mundo se apressava para encontrá-lo, uma construção de partículas douradas, de bilhões e bilhões delas, cada qual movendo-se em sua pequena órbita, cada qual conectada com a outra de algum modo. Ele poderia mergulhar através delas caso quisesse, fendendo a realidade, como um nadador faz com a água. Riu, com a alegria borbulhando na garganta quando estendeu as asas outra vez e parou, lembrando-se do motivo de o anjo estar ali.
À frente dele, o horizonte estava fendido. Parecia diferente agora, através de seus olhos de anjo. A terra não tinha só desabado ali, tinha sido eliminada. Havia bolsões de completo vazio, nada daquelas engrenagens subatômicas que ele distinguia em todos os outros lugares. O homem na tempestade as tinha devorado. Não sobrara absolutamente nada.
E ele ainda estava lá embaixo.
Daisy!, pensou Cal, perguntando-se como pudera tê-la esquecido, mesmo que por um instante. Concentrou-se, libertando-se do mundo outra vez enquanto a rastreava. Ele logo se materializou, com a vida trancando a porta atrás de si com um baque que fez sua cabeça doer. Quando o halo de brasas sumiu, percebeu que estava de volta à floresta, e Daisy era só um monte de trapos, sentada contra uma árvore.
Cal desligou o motor do anjo e desceu ao lado dela. Não podia acreditar no quanto ela parecia velha, vendo as madeixas de um branco vivo em seus cabelos. Seus olhos estavam enevoados e repletos de tristeza.
— Daisy! — disse ele, aproximando-se da menina. Flocos de poeira vagavam para cima, saindo do corpo dela e desafiando a gravidade, como se ela se desintegrasse. Cal ajoelhou-se e colocou uma das mãos em seu rosto. Estava muito fria. — Você está bem?
Ela fez que não, colocando a mão dele sobre a dela. A floresta inteira tremia sob a ira da tempestade distante. Até os pássaros agora estavam calados.
— E Adam? — perguntou ela.
Cal olhou para trás, tentando entender onde estavam, e acabou vendo-a desaparecer em um pilar de fumaça. O ar estalou ao preencher o espaço que ela ocupava, mal tendo tempo de acomodar-se antes que ela reaparecesse em uma nuvem de cinzas incandescentes, com Adam preso ao peito. Os olhos do menino estavam arregalados, e ele despejou um vômito leitoso na camisa dela.
— Desculpe — ela lhe disse, enxugando sua boca.
Adam tremia, e Cal não soube se era por medo ou pelos tremo- res do chão.
— O que aconteceu? — perguntou Cal. — Você o viu lá embaixo? O homem na tempestade?
Daisy assentiu, engolindo ruidosamente.
— Ele está ainda mais poderoso do que antes — falou ela. — Ele quase me engoliu. Eu... acho que eu vi...
Suspirou, com o corpo inteiro tremendo.
— Viu o quê? — perguntou Cal.
— De onde ele vem. O que ele é.
Cal se sentou ao lado dela no chão macio e úmido, colocando a mão em seu ombro. Não insistiu, só esperou que ela encontrasse as palavras certas.
— Já ouviu falar de buracos negros? — perguntou ela enfim.
Cal fez que sim com a cabeça.
— Claro. Estrelas que sofreram um colapso, algo assim.
— Não sei direito. Mas elas devoram as coisas, não devoram? Tipo, tudo. Simplesmente devoram até não sobrar nada.
— Daisy — começou ele, mas sem nada para dizer depois.
— O homem na tempestade é como um buraco negro — falou ela, limpando uma lágrima do olho. — Porque ele nunca vai parar, não até que... — Ela estendeu os braços para a frente. — Até que tudo desapareça.
— Ei! — disse ele. — Ei, Daisy. Está tudo bem. Não é um buraco negro. Não pode ser.
Talvez alguma coisa parecida com um buraco negro, pensou ele, algo igualmente poderoso. Ela teria razão? Será que aquilo ficaria devorando e devorando tudo até o planeta inteiro ser apenas pó? Será que a criatura então pararia, ou devoraria a lua também, e o sol, virando do avesso aquele trechinho do universo?
Daisy levantou o rosto para ele, fungando: era apenas uma garotinha que ele resgatara em um carro um milhão de anos atrás. O medo e a dúvida a devoravam também. A tempestade tinha sugado todo o resto. Cal viu a pergunta no rosto dela.
— Podemos derrotar aquilo, Daisy. Precisamos.
Ela fez que sim com a cabeça, respirando fundo e parecendo se recompor.
— Precisamos de todos — disse ela, a voz pouco mais que um suspiro.
— Todos? Está falando de Brick? Ele não estava lá com você?
— Ele fugiu — falou ela. Cal abriu a boca, pronto para reclamar, mas ela o interrompeu antes disso. — Ele só está com medo, Cal, não é culpa dele. Ele vai voltar, tenho certeza que sim.
Não conte com isso, pensou Cal. Afinal, Brick era Brick. Ele deixaria o mundo inteiro acabar se fosse para salvar a própria pele.
— Cadê o novo garoto? — perguntou Cal. — Ele estava com você ou fugiu também?
— Howie. Ele estava lá. Eu... não sei para onde ele foi. Você acha que ele está bem?
Cal não tinha sentido outra morte, não como quando Chris morrera em Fursville. Olhou ao redor, perguntando-se onde estaria Marcus. E Rilke.
— Ela foi atrás de Brick — respondeu Daisy. — Tentei conversar com ela, mas...
— Mas ela é Rilke.
— Ela não está bem, Cal. Brick fez muito mal a ela. Não sei se tem conserto. Mas precisamos trazê-la de volta. Precisamos de todo mundo, ou não vamos conseguir enfrentá-lo.
Schiller estava morto. E Jade fora apagada como uma vela. Quanto mais demoraria até o corpo mutilado de Rilke também entregar os pontos? Ainda havia outros. O homem com a arma, lá em Fursville, aquele em quem Rilke tinha dado um tiro. Ele tinha um anjo dentro de si. A pessoa no carro em chamas, aquela por quem ele passara ao sair de Londres de carro. As pessoas com quem Marcus tinha viajado, que tinham sido mortas no caminho. Quantas mais?
Deve haver dezenas de nós, pensou ele. Centenas. Mas elas nunca tiveram a menor chance, não com a Fúria. Por que tinha de ser assim? Não fazia sentido.
— Acho que os anjos não tinham escolha — disse Daisy, tossindo outra vez. — Quando eles vêm do mundo deles, precisam entrar na primeira pessoa que veem, ou não sobrevivem. — Como ela sabia disso? — É só o que eu acho. E não existem centenas de nós. Não acho que haja mais alguém, só a gente.
Cal balançou a cabeça, fixando o olhar entre as árvores. Acima do poço, o céu estava mais escuro agora. Parecia que um milhão de metralhadoras estavam sendo disparadas, obuses ladrando fundo sob a superfície.
— Só nós — disse Daisy. — Mas é o suficiente, Cal. Somos suficientes. Você tem razão, podemos derrotá-lo.
Ela sorriu para ele, e ele de repente viu algo, uma lembrança que vazou da cabeça dela, levada pelo vento como um aroma. Duas pessoas numa cama, dormindo, como bonecos de cera.
— Eu... eu não estou com medo — falou ela.
Daisy estendeu a mão e ele a pegou, tomando seus dedos fininhos.
— Mas como fazer isso? — perguntou ele.
Não teve tempo de responder porque alguns galhos moveram-se. Uma figura magricela se agachou debaixo de uma árvore e, derrapando, parou ao lado deles. Marcus abriu um sorriso enorme, o rosto com arranhões em zigue-zague.
— Estavam pensando que se livrariam de mim, é? — disse ele.
Daisy riu, o som de algum modo mais alto do que a terra a ribombar.
— Tudo bem, cara? — falou Cal. — Achou um jeito de descer?
— Não, você que achou um jeito de subir — respondeu ele. — Qual é o plano, então? Voar para casa, tomar um chá?
Cal sorriu. Como Marcus podia estar tão relaxado? Não entendia como não estavam todos encolhidos em um canto, gritando, chorando e arrancando os cabelos. Aquilo tudo não bastava para enlouquecer uma pessoa, para deixá-la arrasada, sem falar coisa com coisa? Ele achou que ainda podia estar em choque, numa reação retardada. Se sobrevivessem àquilo, podiam todos terminar no hospício.
— São os anjos, seu bobo — disse Daisy, outra vez colhendo os pensamentos da cabeça dele. — Eles nos mantêm em segurança de várias maneiras.
— Você precisa ficar fora da minha mente, Daisy — falou Cal. — Sou um adolescente. Tem coisas aqui dentro que você não quer ver.
— Como a Georgia? — disse ela, dando outra risadinha.
— Cala a boca — protestou ele, olhando dentro da cabeça dela e vendo ali um menino no palco, a imagem tão nítida que poderia ser uma memória sua. — Ou então vou começar a falar do Fred.
— Ei! — disse ela, dando-lhe um tapinha com as costas da mão. — Nada disso!
Riram baixinho, e, em seguida, ficaram sentados em silêncio, ouvindo a tempestade distante.
— Sério — disse Cal. — Como vamos derrotá-lo?
— Vamos começar do começo — falou Daisy. — Precisamos achar Brick e os outros. Não conseguiremos sem eles.
— Mais fácil falar do que... — Cal parou, inclinando a cabeça para o lado. Seus ouvidos zumbiam, como na manhã que sucede um show. — Está ouvindo?
— Parou — disse Daisy.
Era isso. A tempestade tinha silenciado, tão de repente e tão completamente que a quietude na floresta era quase irritante. Cal colocou um dedo na orelha, flexionando o maxilar.
— Você acha que acabou? — perguntou Marcus.
— Não — falou Daisy, inclinando o tronco para a frente, seus olhos se movendo de um lado para o outro enquanto ouvia. — Acho que não. Só mudou de lugar.
O zumbido no ouvido de Cal ficou mais alto, e a floresta se acendeu, repleta de fogo. Uma silhueta despencou dentre as árvores, provocando um baque no chão, brilhando com tanta força que Cal só distinguiu a pessoa dentro das chamas quando elas se extinguiram. Ele piscou para eliminar os pontos de luz da visão, vendo o novo garoto agachado.
— Howie! — disse Daisy. — Tudo bem?
— Eu estou bem — falou ele com a voz rouca, cuspindo uma bolota de catarro escuro. — Fiquei perdido quando me transportei, ou sei lá o que foi aquilo. Fui para algum lugar escuro e frio. Achei que nunca mais ia voltar. E você? Vi você sendo sugada.
— Eu saí — disse ela.
Howie deitou de costas, parecendo exausto. Também parecia assustado.
— Acho que ele me viu.
— Viu você? — perguntou Cal. — Como assim?
— O homem na tempestade — falou Howie. — Acho que ele sabe para onde eu fui. Acho que ele está vindo.
Brick
Rio de Janeiro, 14h52
Ele irrompeu do céu como um relâmpago, provocando uma leve trovoada quando o mundo se refez ao redor. Desorientado, tropeçou, caindo em uma chapa de ferro corrugado. Era algum tipo de casa, ou de barraco, seu fogo frio refletido no metal fosco. Rodopiou, e as asas cortaram o metal, transformando-o em pó. Havia construções similares por toda parte, centenas delas, estendendo-se por um morro. À distância, havia outra cidade, e outro oceano. Ele viu uma montanha com uma estátua enorme em cima, que reconheceu da televisão.
Onde diabos estava?
Ouviu um barulho próximo, alguém ganindo. Virou-se mais uma vez, e viu um rosto aparecer entre duas das construções. Era uma criança, mas a expressão era a de um bicho, repleta de ódio furioso. Outros gritos se somaram ao do menino, até que o lugar soava como um zoológico na hora da comida. Passos vinham para cima de Brick, pisoteando a terra, um enxame proveniente de todas as direções, com os olhos arregalados, as mãos retorcidas em garras.
Vão embora!, gritou ele, tentando conter as palavras na garganta, onde não causariam mal nenhum. Mesmo assim, o pensamento parecia ter força própria, ondulando pelas construções e transformando em cinzas a primeira fileira de furiosos. Não, desculpem, desculpem!, disse ele, batendo as asas, só o tamanho delas já chutando a nuvem de carne e ossos em pó em redemoinhos que se precipitavam, brincando entre as casas. Levantou voo, vendo os furiosos abaixo, agora centenas deles, pisoteando-se para alcançá-lo.
Algo detonou no céu, uma onda de choque explodindo sobre a favela, achatando as casas de latão e tudo o mais. Brick ergueu as mãos para se proteger, e entre os dedos viu Rilke disparando em direção à terra. Ela o alcançou em uma fração de segundo, o impacto socando-o através de metal, terra e rocha, como se ele estivesse sendo jogado em uma cova por um trem. Sentiu os dedos da mente dela esgueirarem-se em sua cabeça, em seu coração, tentando desfazê-lo, e a xingou, cada palavra uma martelada que a forçava para trás.
Brick conseguiu se desvencilhar, com o anjo ardendo em potência máxima, seu zumbido elétrico como a coisa mais ruidosa do mundo. Disparou como um foguete pelo canal que tinha talhado na pedra, escapando para a luz do sol. Rilke o esperava pairando, tão luminosa quanto se o sol tivesse caído do céu. Em volta dela, havia apenas uma cratera de destruição, as construções em ruínas. Pessoas ainda jorravam dos escombros, tropeçando em cadáveres de amigos e vizinhos, ofuscadas pelo próprio ódio instintivo.
Ele estendeu as asas, pronto para fugir outra vez, mas Rilke o agarrou com mãos invisíveis, prendendo-o ali. Ela tapou a boca dele com algo, um punho de ar enterrado em sua garganta. Como poderia ser tão forte, quando estava tão machucada?
Desculpe, Rilke, disse ele.
Olhe só para ele, Schill, ouviu-a. Veja como ele suplica feito um cachorrinho. O que vamos fazer com ele? O mesmo que ele fez com você? Vamos arrebentá-lo pedacinho por pedacinho?
Brick lutava, incapaz de se soltar. Não podia sequer fazer uma palavra escapar pela garganta bloqueada.
Você o matou, ganiu Rilke. Matou meu irmão!
Não!, foi o máximo que Brick conseguiu emitir antes que Rilke abrisse a boca e despejasse um som. Não propriamente uma palavra, só um som molhado e gorgolejante, mas proveniente do anjo dela, e, quando tal som o atingiu, ele teve a impressão de que o universo inteiro virara do avesso. Despencou no chão de novo, rolando em meio a aço e rocha. Mesmo através do fogo gélido, foi tomado pela dor.
Uma eternidade pareceu se passar até que ele enfim parasse de se mover. Levantou-se, seu anjo não mais ardendo. Um líquido pingou de seu rosto, bem quente contra a pele e, quando o tocou com os dedos, eles ficaram vermelhos.
Não, pensou ele, os ouvidos zumbindo tanto que só ouviu os furiosos quando o primeiro deles apertou sua garganta. Rosnou, tentando soltar aqueles dedos, e sentiu algo bater em sua bochecha, um punho ou uma bota. Fogos de artifício incolores dançavam contra o céu, esburacando sua visão. Tentou fazer o anjo pegar no tranco, assim como fazia com sua motocicleta, mas não sabia como. Uma unha longa e suja foi contra seu olho, e ele gritou. Funcione, droga, por favor! POR FAVOR!
Mais furiosos vieram para cima dele, tantos que ele não via mais o sol. Não tantos que chegassem a esconder Rilke, porém, quando ela flutuou pelo ar até ele, com as asas plenas. Brick ouviu então um barulho além do zumbido martelante do anjo, agudo e feio, como um prego contra vidro. Era o riso de Rilke.
Quem ela achava que era? Tinha matado Lisa com um tiro na cabeça. E quantos mais? Milhares. E ainda tinha a ousadia de acusar ele de assassinato? A raiva de Brick subiu do estômago: um incêndio explosivo que incinerou a turba e jogou Rilke para trás, permitindo a Brick sair do chão.
Ele não deu a Rilke a chance de se recuperar: foi para cima dela com tudo o que tinha. Ela agitava os braços como se estivesse em uma briga de bar, cada golpe mandando enormes lufadas de energia pelo ar. Errava a maioria delas, talhando trincheiras no morro, na cidade, chicoteando o mar à distância. Ele também gritava, sem se importar com o que dizia, deixando o anjo falar por si. Rilke contra-atacava, e havia relâmpagos disparando em todas as direções, o ar ao redor agitando-se febrilmente.
Um dos ataques dele deve ter acertado o alvo, porque, de repente, Rilke saiu rodopiando e ardendo, sumindo em meio a um mar de detritos. Brick passou a mão no ar, seus dedos invisíveis erguendo mil toneladas de metal, madeira e gente como se fossem um lençol. Cerrou o punho, e o lençol virou uma bola, aquilo tudo maior do que um estádio de futebol. Ele a mandou para longe, vendo-a ser lançada pelo ar como se disparada por uma catapulta, deslizando sobre a superfície do oceano.
Tinha de estar morta, aquilo por certo a teria matado.
O oceano explodiu, e Rilke disparou dele como um míssil vindo de um submarino. Ela desapareceu para, então, reaparecer no mesmo instante no céu acima de Brick. Seu fogo se intensificou, e ela desapareceu de novo, e de novo, preenchendo o ar de brasas. Ele ouvia a voz dela aparecendo e sumindo, ainda entremeada de insanidade: acabou com a gente, acabou com a gente, não vou contar, irmãozinho, ela não precisa saber, não se o matarmos.
Chega!, disse ele. Basta!
Rilke removeu a si mesma da realidade outra vez, e, agora, ao refazer-se, apareceu bem atrás dele, o fogo dela projetando sua sombra dourada sobre a terra. Envolveu-o com seus braços, os dela e os do anjo, travando os dele na lateral do corpo. O som que os anjos deles faziam juntos era surreal, um martelar tão alto que Brick era capaz de ver pedras dançando no chão lá embaixo, tudo o que era sólido virando líquido. Faíscas sibilavam e estalavam em volta deles.
— Você devia tê-lo deixado em paz! — disse ela, os lábios contra o ouvido dele, as palavras detonando contra sua armadura de fogo, ricocheteando em todas as direções.
O ar ia ficando mais agitado, rosnando para a força deles. À distância, a cidade desabava, seus prédios transformados em pó. A imensa estátua se partiu em dois pedaços e caiu, com metade da encosta desabando depois.
Brick a enfrentava, tentava se desvencilhar, mas não conseguia se mexer. A terra abaixo estava sendo afastada, como se um helicóptero pairasse sobre a água, formando uma imensa cratera. O pulsar sônico dos anjos ficou mais alto e mais agudo. Aqueles flashes de luz branca, dourada, azul e laranja zuniam feito chicotes, cada um fazendo o céu tremer. Ele mal conseguia ouvir Rilke com o barulho.
— Você não devia ter acabado com a gente!
Não acabei!, gritou ele. Não acabei! Foi o homem na tempestade! Ele matou o seu irmão!
As palavras dele devem ter soado verdadeiras, porque sentiu que ela afrouxou a pegada. Brick aproveitou a oportunidade para escapar de seus braços. No momento em que desfez o contato, algo se acendeu no espaço entre eles. Foi como outra explosão nuclear, impelindo-o para cima em uma onda luminosa. Precisou de um instante para achar as asas, estendendo-as e se detendo, com os olhos arregalados diante da visão do que tinham feito.
A força da explosão não tinha deixado nada — nem prédios, nem gente, nem água —, só um deserto de poeira cor de areia de um horizonte a outro. O oceano fervilhava do outro lado, distante da terra ao tentar nivelar-se de novo, o rugido audível mesmo dali do alto. O ar subia e caía em volta dele, o planeta recuperando o fôlego, e um estalo aqui e ali precipitando-se contra o céu.
Não fui eu que fiz isso!, disse ele consigo, o próprio coração batendo quase com a mesma força do coração do anjo. Foi ela, ela fez isso, ela matou todo mundo, não eu!
Não havia o menor sinal de Rilke em lugar nenhum. De repente, ela explodira a si mesma, arrebentando-se em átomos, espalhando-os pelo túmulo sem limites abaixo. Por Brick, tudo bem, até porque nunca se sentira tão cansado, tão fraco, mesmo com o fogo correndo em suas veias.
Algo atraiu sua atenção para o sol, e ele ergueu a cabeça, vendo-o partir-se em dois. Rilke se lançava contra ele, o grito dela levantando a poeira dos mortos, criando dunas de cinzas. Brick ergueu as mãos, pronto para se defender, percebendo, ao fazer isso, que não poderia derrotá-la, não sozinho.
Usou a mente, abrindo o tecido do espaço-tempo e atravessando-o. Desta vez, porém, sabia exatamente para onde ia.
Daisy
São Francisco, 15h01
— Ele está chegando.
Howie mal tinha terminado de falar quando Daisy ouviu um som de tiro na floresta. Ela olhou por entre os galhos no momento em que um relâmpago negro partiu o céu em dois, tão escuro que feriu a retina deles. Veio outro, com nuvens de trevas infiltrando-se do ar cindido como tinta vertendo em água. O trovão pingava do céu fraturado, preenchendo a floresta de ruído.
— Preparem-se! — disse Cal. — O que quer que aconteça, vamos nos manter juntos, certo?
O céu agora estava sujo de fumaça, com gotas de um fogo negro e horrível espraiando-se do centro do caos como manchas solares envenenadas. Uma forma se avolumava daquela insanidade oscilante, com duas enormes asas que batiam com força suficiente para rachar os troncos das árvores, despojá-las de tudo. A besta rugia ao libertar-se, um rugido para dentro, como uma respiração asmática ensurdecedora. Seu rosto estava oculto pela fumaça, mas Daisy pôde ver a silhueta de sua boca ali, a coisa mais escura do céu.
— Fiquem juntos! — disse Cal outra vez, agora gritando. — O que a gente faz agora?
Daisy olhou para ele, depois para Howie e, em seguida, para Marcus, que segurava Adam em seus braços fininhos. Todos olhavam para ela à espera de uma resposta. Mas por quê? Por que achavam que ela sabia o que fazer? Ela só tinha doze anos. Não era uma heroína, nem forte, nem tão inteligente assim, para falar a verdade. Não sabia de nada. Não sabia.
Só que... sabia sim! A verdade estava em algum lugar no fundo dela, gritando o mais alto que podia, dizendo-lhe que, se eles não se mantivessem firmes ali e tentassem enfrentar o homem na tempestade, todos iriam morrer. Ela chegava a visualizar isso: Marcus e Adam primeiro, transformados em pó, porque ainda não tinham seus anjos. Depois ela, porque estava exausta. Cal e Howie revidariam com tudo, mas não seria suficiente, não contra aquilo.
A besta içava-se do vazio atrás do mundo, estilhaçando a realidade. Trazia consigo aquela sensação horrenda, sugando todo o calor do dia, toda a bondade, fazendo Daisy querer simplesmente sentar e chorar pelo resto da existência. Não havia nada acima dela além de um oceano invertido de piche fervilhante, o sol era um halo tênue. Era como se a noite tivesse caído, de repente e sem aviso. Os olhos do homem eram holofotes escuros que perscrutavam a floresta, procurando por eles. Sua boca arquejante sugava árvores, raízes e pedras. Porém, ele ainda não os tinha visto.
Precisamos ir!, disse ela. Agora mesmo!
Como assim?, perguntou Cal. Podemos enfrentá-lo, somos três. Nós o enfrentamos em Londres, vamos enfrentar de novo.
Espere!, ela lhe disse, mas Cal já tinha se despojado de sua pele humana, com uma fornalha irrompendo nos vazios de seus olhos, espalhando-se pelo corpo. As asas expandiram-se em suas costas: um farol ardente que fez a noite tornar-se dia outra vez. O homem dirigiu seu olhar sem luz para onde estavam, e Daisy chegou a sentir a pútrida alegria dele ao perceber que os tinha pego.
Ela mergulhou na própria cabeça, destrancando a porta e deixando seu anjo sair. Howie fez o mesmo, irrompendo em chamas. Daisy ergueu os olhos do anjo e viu o homem atacar com um punho de fumaça, que veio com a força de um meteoro, com uma velocidade inacreditável.
Daisy usou a mente para alcançar o tempo e prendê-lo em seus dedos em chamas. Era como tentar segurar um dobermann pela coleira — sentia que era ela a ser arrastada. Porém, fincou os calcanhares, ouvindo o universo gemer de dor quando suas regras foram quebradas, cada átomo estremecendo em protesto.
Não consigo segurar, disse ela, vendo o céu cair em câmera lenta, aguardando o momento em que seria alvejada e tudo terminaria. Cal, porém, soube o que fazer, abrindo uma porta e os puxando através dela — primeiro Marcus e Adam, depois Howie, e, por fim, Daisy —, batendo-a após a passagem.
Ela olhou para trás quando a realidade se fechou, vendo as garras da noite liquefeita acertarem o chão onde estavam, explodindo árvores em farpas. Então o tempo libertou-se de seu domínio — a barriga dela dançando quando arderam e voltaram. Através da algazarra de brasas reluzentes, ela via os outros, dois anjos que brilhavam como aço derretido, além de Adam e Marcus envoltos nos braços um do outro, um fogo azul queimando abaixo da pele do peito deles.
O mundo revirou-se até voltar ao lugar, esvoaçando um pouco como uma cenografia prestes a desabar. Quando assentou-se, Daisy distinguiu uma paisagem de gelo e neve, uma cordilheira de montanhas projetando-se do horizonte como dentes. Estava quase escuro ali.
Daisy desceu ao chão, desconectando-se de seu anjo para que ele descansasse. Assim que o fez, arrependeu-se; ali estava congelando, o vento como que os dedos de um morto subindo e descendo por suas costas.
— Podia ter avisado — disse Marcus, enxugando o vômito da boca. Ele e Adam estavam curvados, uma poça de fluido branco à frente. — Não me importo de ser arrastado pelo mundo, mas poderia me dar a chance de me preparar da próxima vez? O vômito não é nada; só que acho que fiz cocô nas calças.
Daisy riu enquanto estremecia. Adam correu até ela, que o envolveu nos braços.
— Também podia ter levado a gente para um lugar mais quente — disse Marcus, batendo os dentes.
— Desculpe — respondeu Cal. — Ainda não peguei o jeito disso. No mais, aqui está tudo quieto, não tem ninguém por perto para tentar matar a gente. — Suspirou. — A gente devia tê-lo enfrentado.
— Pois é — disse Howie, balançando a cabeça. — Agora ele sabe que a gente está com medo.
— A gente não teria vencido — falou Daisy. — Teria sido suicídio. — A palavra ficou presa na garganta dela, junto a imagens da mãe morta na cama. E nós teríamos machucado você. — Nós não éramos fortes o bastante.
— Como você sabe? — disse Howie.
— Cara — disse Cal —, chega! Nenhum de nós tem a menor ideia do que está acontecendo, mas a Daisy, ela entende as coisas. Desde o começo. Você pode fazer o que quiser, mas eu confio nela.
Cal exibiu um sorriso, e Daisy retribuiu, mesmo que fosse bem difícil, porque os músculos de seu rosto estavam congelados. Howie apenas passou um braço pelo ar, deixando-os de lado e examinando as montanhas, aninhadas na penumbra.
— Podemos vencê-lo — disse Daisy. — Mas precisamos de todo mundo. De Brick e de Rilke.
— Rilke? — falou Marcus. — A essa altura, ela já deve ter morrido, depois do que ele fez com ela.
— De você e de Adam também — prosseguiu Daisy. — Precisamos que os anjos de vocês nasçam.
— Pois é, estou tentando — disse Marcus, batendo no peito. — Mas esse negócio não está me dando a menor bola. Deve ser o anjo mais preguiçoso do... da... da terra dos anjos.
— Por que vocês os chamam de anjos? — perguntou Howie, virando-se para eles.
— Você sabe — disse Cal. — Fogo, asas, voo, dar uma surra em um demônio malvadão no céu. Bem óbvio, para dizer a verdade.
— Mas eles não são anjos, são? — indagou o novo garoto. — Quer dizer, para começar, os anjos não existem. E, se existem, são bons. Tipo, totalmente bonzinhos, ou algo parecido. Estes são diferentes. Essa coisa... — ele estendeu as mãos, como se ainda tivessem fogo brotando delas — ... essa coisa meio que me dá vontade de explodir tudo.
— Acho que eles não estão na Bíblia — falou Cal. — Falamos com um sacerdote uns dias atrás. — Ele parou, franzindo o rosto. — Cara, não, foi hoje de manhã. — Fez que não com um gesto de cabeça, como se não conseguisse acreditar. — Bom, ele disse... Bem, para ser sincero, não lembro, eu estava muito mal. Mas algumas pessoas acham que a Bíblia se baseia em coisas que as pessoas viram, tipo, séculos atrás, em histórias que foram transmitidas.
— E... — disse Howie, porque Cal havia parado de falar.
— E aí que, você sabe, isso pode ter acontecido antes, essas coisas feitas de fogo lutando com a coisa feita de fumaça, ou o que quer que seja. As pessoas viram, contaram para os filhos, e eles ganharam o nome de anjos. Que tal?
Howie deu de ombros.
— Que diferença faz? — questionou Marcus. — A gente só sabe que eles estão aqui, dentro da gente, e que querem botar pra quebrar. Fim da história.
— Tem certeza? — falou Howie. — E se eles estiverem do lado dele; e se nós é que devemos ajudar o homem na tempestade?
— Nem me venha com esse papo — disse Cal. — A gente ouviu isso de Rilke, e veja o que aconteceu com ela.
Howie ergueu as mãos, rendendo-se.
— Estou só tentando eliminar todas as possibilidades. Não é muito difícil passar de bêbado na praia para possuído por um ser mais ou menos anjo que quer salvar o mundo da destruição certa.
— Você estava bêbado? — perguntou Daisy. — Quantos anos você tem?
— Treze — disse ele. — Idade mais do que suficiente.
— Você ainda está bêbado? — perguntou Cal.
Howie sorriu.
— Infelizmente, não. Acho que uma garrafa de rum poderia ajudar bastante a lidar com essa situação.
— Eca! — disse Daisy.
Ficaram um pouco calados, e ela se voltou para dentro, para falar com seu anjo. Ele tem razão? Você é bom? Você já esteve aqui? Ele não respondeu, limitando-se a ficar sentado como uma estátua na alma dela. Daisy pensou no que tinha visto antes, no lugar de onde haviam vindo, um lugar frio e inerte onde nada acontecia. Estremeceu ao pensar que, quando aquilo acabasse — em derrota ou vitória —, seu anjo teria de voltar. Ficaria trancado de novo em sua cela até a próxima vez que se fizesse necessário.
— E aí, como é que a gente faz? — perguntou Marcus. — Meu anjo pode levar dias para acordar. Até lá, pode não haver mais nada para salvar.
— Não necessariamente — disse Cal. — Existe um jeito de... dar motivação a eles.
— É?
Cal fez que sim com a cabeça, mas, em vez de falar, pareceu transmitir uma imagem. Daisy o viu de pé à beira de um precipício, e, em seguida, caindo. Se seu anjo não tivesse despertado naquele momento, teria morrido, e Cal também. Fora uma aposta arriscadíssima.
— O quê? Cara, de jeito nenhum! — falou Marcus. — Você é maluco! Não tem a mínima chance de eu fazer isso!
— Foi só uma ideia — disse Cal. — Tem alguma melhor?
— Talvez eu tenha — falou Daisy.
Ela sorriu para Marcus e se conectou com seu anjo, olhando a chama azul no peito do garoto, a força que ela fazia para sair, para alcançá-la. Marcus recuou, apertando os olhos para proteger-se do brilho nos olhos dela, murmurando:
— Por que tenho a sensação de que não vou gostar disso?
Cal
Manang, Nepal, 15h15
Confie em mim, disse Daisy. Não dói.
Cal observava enquanto ela flutuava em direção a Marcus, seu fogo ardendo, mas sem exalar calor. Dedos de luz projetaram-se da neve, desabando quase de modo instantâneo. O ar tremia com a força dela, soando como uma dúzia de amplificadores de guitarra no volume máximo. Seus olhos eram como poças de luz solar liquefeita, e Cal ainda sentia o medo fazer cócegas em sua espinha, pensando na surrealidade daquilo.
— Ah, tá! — disse Marcus, dando um passo hesitante para trás. — Vou simplesmente confiar em você, claro.
Daisy não retrucou, só estendeu a mão para o peito de Marcus. Cal não viu nada até apertar o botão psíquico e se conectar com o anjo. De repente, Marcus era um motor cheio de engrenagens, seu peito repleto de fogo azul. Aquelas chamas pareciam estender-se para Daisy, procurando-a. Os dedos dela eram genuíno fogo, projetando-se através da camisa de Marcus e para dentro da pele dele.
— Opa, opa, opa! — gritou Marcus, dando um passo para trás, seu caminho bloqueado por Howie. — Isso não é legal, Daisy, só...
Vai ficar tudo bem, falou ela, insistindo na tentativa. A lâmina de sua mão aplanada cortou-o como o bisturi de um cirurgião, seus dedos tocando o fogo que ardia em seu peito. Assim que ela fez contato, ouviu-se um nítido estrondo, e Daisy voou para trás, como se tivesse levado um choque elétrico. Porém, ela sorria, porque o fogo de Marcus se espalhava no peito dele, atravessando as veias e saindo pelos poros. Ele resistiu, dando tapas na pele, dançando parado, ganindo palavrões, amaldiçoando Daisy o tempo inteiro.
Não resista, disse ela. Está vendo? Não dói, dói?
Ele não respondeu, só ficou saltitando e chutando bocados de neve. As chamas frias e azuis bruxuleavam para cima e para baixo, tentando firmar-se, até que, de repente, ganharam vida com força total, vermelhas, laranja, douradas. Marcus gritou, o ruído ecoando pelas montanhas distantes. Seus olhos estavam repletos de luminosidade incandescente, cuspindo faíscas. Ele foi ao chão quando uma asa, batendo para baixo, virou-o na diagonal. Cal precisou levantar voo para sair do caminho enquanto Marcus esperneava no chão, arrancando nacos de pedra com as novas mãos.
Somente quando a outra asa de Marcus deslizou para fora, ele pareceu acalmar-se, pairando a cerca de um metro do chão. Seu peito se enchia e esvaziava, ainda que Cal tivesse certeza absoluta de que não precisavam efetivamente respirar quando estavam daquele jeito. Marcus girou para cima e levou as mãos ao rosto, examinando a nova pele.
— Lega... — As sílabas ricochetearam entre eles, e Marcus tapou a boca com a mão.
Voz interior, falou Daisy.
Esta?, respondeu ele, as palavras na cabeça de Cal, fracas, mas cada vez mais fortes. Opa, eu... Isto... Que loucura, cara! Só pode ser um sonho!
Se é, então estamos todos no mesmo sonho, disse Cal. Tudo bem?
Tudo, tudo bem. É... É como ter tomado Valium, sei lá. Você se sente... calmo, uma coisa assim.
O que é Valium?, perguntou Daisy.
Um remédio para ficar legal, respondeu Howie.
Achei que seria diferente, prosseguiu Marcus, com as asas estendidas acima da cabeça, filtrando a fria luz do sol em filamentos de ouro. Achei que sentiria algo mais forte, sabe? Como se estivesse possuído ou algo assim. Mas... não tem nada a ver. Parece que sou o Super-Homem.
Você é magricela demais para ser o Super-Homem, protestou Cal. Ele se virou para Daisy. Como você sabia que devia fazer isso?
Apenas sabia respondeu ela. Acho que o anjo me mostrou.
Queria que ele tivesse mostrado a você antes de eu pular de um precipício, falou Cal. Teria ajudado bastante.
Daisy riu, o som erguendo-se acima das batidas do coração deles como o canto de um pássaro após uma tempestade.
Desculpe, disse ela. Cal riu também, e meu Deus, como era bom, ele se sentia dez toneladas mais leve. Daisy ajoelhou ao lado de Adam, sua mão incandescente repousando no ombro dele. O garotinho não parecia assustado; não parecia nada, para dizer a verdade. Mas seus grandes olhos estavam repletos de confiança ao olhar para ela.
Você vai ficar bem?, perguntou a ele. Não precisa fazer isso se não quiser. Mas não dá medo, Adam; eles estão aqui para cuidar de nós.
Deixe-o assim, disse Howie. É uma criança, não vai ajudar muito em uma luta.
Provavelmente era verdade, mas, mesmo que Adam não lutasse, ao menos o anjo o manteria em segurança. A chaminha no peito dele procurava Daisy, que delicadamente levou a mão até ela.
Estou aqui, viu? Não precisa ficar com medo.
Ela fez contato, liberando outra supernova de luz e som. Cal precisou virar para o lado desta vez e, quando olhou de novo, viu Daisy e Adam no ar, deixando um rastro de chamas ondulantes. O garotinho estava em dificuldades — Cal não via, mas percebia —, e Daisy o segurava, recusando-se a soltá-lo. O trovão rasgou o céu, e um clarão surgiu quando Adam se transformou. Após um ou dois minutos, os dois anjos desceram, sem chegar exatamente a pousar na neve.
Tudo bem?, perguntou Cal. Adam fez que sim com a cabeça, os olhos como duas piscinas de minério derretido que não piscavam.
Você foi tão corajoso!, disse Daisy. Sabia que seria.
Adam sorriu para ela, suas asas batendo acima da cabeça. Cal aguardou, perguntando-se se ele falaria agora que não tinha boca. Não havia sinal dele, porém, na profusão de vozes em sua cabeça. O que quer que o garoto tivesse enfrentado quando a Fúria havia começado, aniquilara mais do que apenas sua voz.
Dê uma chance a ele, disse Daisy, capturando os pensamentos de Cal como borboletas em uma rede. Logo ele vai falar, sei que vai.
Cal fez que sim com a cabeça, e, por alguns instantes, ficaram suspensos ali, os cinco, as asas arqueadas contra o dia evanescente, suas pontas quase se tocando. Os anjos espalhavam luz e som pela neve, fazendo tudo parecer uma dança. Até as montanhas estrondavam contra o horizonte, tremendo como se tivessem medo. E fazem bem em tê-lo, pensou Cal. Porque agora estamos prontos.
Quase, disse Daisy.
Pois é, precisamos de um plano ou algo assim, não é?, falou Marcus. Uma estratégia, ou coisa parecida.
Eu tenho um plano, disse Howie.
Mesmo? Marcus virou seus olhos flamejantes para o novo garoto. Legal. Qual?
Não morrer.
Excelente, cara, disse Cal. Mas ele riu outra vez, o som correndo dentro de si, quente contra a gelidez do anjo. Não morrer é um plano?
É, disse Howie, rindo também. O que quer que aconteça, por pior que fique, não morrer.
Todos riram, tão silenciosamente quanto podiam, o ar entre eles tremendo e cintilando com a força daquele ato. Até Adam riu. Cal se perguntava o que as pessoas diriam se pudessem vê-los ali — cinco criaturas talhadas em fogo frio, dando risada, as asas se agitando acima. Essa imagem fez com que Cal risse com ainda mais força, e precisou se afastar, encarar as montanhas, para tentar se conter.
Vocês são malucos!, disse Howie. Totalmente, completamente malucos, sabiam?
Pois é, falou Marcus. Acho que já faz um tempo que a gente sabia disso, cara.
“Não precisa ser maluco para trabalhar aqui, mas ajuda”, acrescentou Daisy, gerando novas risadas. Que foi? Minha mãe tinha um adesivo que dizia isso. Só agora entendi o sentido.
Então, disse Cal, sentindo as lágrimas congelarem no rosto, caindo na neve abaixo como diamantes. Não temos um plano, não temos ideia do que está acontecendo. O que falta fazer?
Só uma coisa, respondeu Daisy, olhando além de Cal, além das montanhas, por cima de continentes e oceanos. Precisamos achar Brick, e também Rilke.
Ele não vai voltar, disse Cal. Sei que tem fé nele, Daisy, mas pode acreditar: neste momento, Brick está o mais longe possível do homem na tempestade, e somos as últimas pessoas que ele quer ver.
Brick
São Francisco, 15h18
Eles tinham de ainda estar ali, tinham de ajudá-lo.
Brick seguiu o caminho que tinha feito havia poucos minutos no piloto automático, deixando que seu anjo o guiasse pelo espaço atrás do universo. Quando fora cuspido de volta ao mundo real, porém, era noite em vez de dia, e onde antes ficava a floresta havia agora uma extensão nua de terra que se estendia até o horizonte cindido. O vento batia contra ele enquanto tentava pousar, como se o esmurrasse, o zumbido do coração do anjo tão alto que Brick precisou de um instante para se recompor ao ribombar do trovão acima.
O homem na tempestade estava suspenso no céu, parecendo um corvo gigante em um ninho de trevas. Suas asas se erguiam dos dois lados, feitas de um fogo da cor de fumaça e petróleo. Entre elas, havia um vórtice que girava e girava, um furacão que sugava tudo à vista. Brick sentia seu toque frio contra a pele, levando-o junto com a rocha partida da encosta. Tropeçava em pleno ar, chamando com a voz e a mente ao mesmo tempo, mal conseguindo ouvir a si mesmo. Era como se fosse uma pulga sendo sugada por uma turbina de avião.
Não havia nem sinal dos outros.
Onde estavam? Tinham voado para longe, abandonando-o. Aqueles desgraçados egoístas! Tinham-no deixado ali para morrer. Lutava para controlar as asas, tentando libertá-las da corrente. Mas ela era forte demais, com aquela pressão incansável, sugando Brick para a boca do homem. Soltou um palavrão, que se desprendeu de seus lábios como uma bala de canhão de luz, disparando pela terra na direção completamente errada.
— Socorro! — gritou ele, tentando fugir por meio do fogo, como fizera com Rilke. Rilke... em comparação a isso, ela era um filhotinho.
Tentou ouvir a voz de Daisy, a de Cal, a de qualquer pessoa, mas era como se seus ouvidos tivessem virado purê. O universo inteiro girava em torno dele, ficando mais escuro e mais frio, fechando-se em volta de sua cabeça. Ele girava rápido demais até para ver aonde ia, a mandíbula enorme e triturante do homem aparecendo e desaparecendo em alta velocidade.
Brick esticou as asas para firmar-se, passando a mão pelo ar e lançando uma lufada de energia contra a coisa acima. Abriu a boca e amaldiçoou-a, urrando sua fúria contra a besta. O homem na tempestade não pareceu nem sentir, com a respiração incansável de turbina ainda sugando-o para cima. Brick girou na vertical, a terra tão longe dele que ele já enxergava a curva do horizonte. Batia as asas, as pernas, as mãos, como se nadasse, tentando estabilizar-se com desespero. Porém, a corrente de ar era impiedosa.
— Não! Não vou permitir! — gritou ele. O mundo ia escurecendo à medida que ele era sugado para as nuvens tempestuosas, o barulho da boca do homem como punhos de metal machucando seu cérebro. — Não vou!
Sentia-se uma criança a gritar, arrastado pela mão de um pai. Sentia-se tão pequeno, tão impotente, tão ridículo, com tanta raiva. Passara a vida inteira furioso com o mundo. Tinha levado aquela raiva consigo para todo lugar, sem nunca conseguir se livrar dela. A raiva era a razão de estar onde estava quando a Fúria atacara. Era por causa dela que tudo isso tinha acontecido com ele. E agora ela o mataria.
Não! Não precisava ser daquele jeito. Ele não precisava ficar com raiva. Talvez fosse assim que as coisas acontecessem com eles, os anjos; talvez fosse por isso que tentavam anestesiar tudo na sua cabeça. Talvez só se colocavam em ação se você não estivesse com raiva — nem triste, nem feliz, nem com medo. As emoções eram demasiado humanas, só serviam para atrapalhar. Quantas vezes não tinha dito isso a si mesmo, só para se acalmar e deixar a raiva passar?
Agora, Brick! É agora, ou você vai morrer!
Fechou os olhos, tentando ignorar o vento nos ouvidos e o ar frio e úmido que se agarrava a seu corpo feito terra, como se estivesse em uma cova. Acalme-se, disse ele. O coração não obedeceu, batendo em um ritmo febril no peito, parecendo prestes a estourar com a pressão. Acalme-se. Forçou-se a pensar na praia em Hemmingway, no belo oceano, plano e brilhante como papel-alumínio, nada além de calor, silêncio e quietude.
Deu certo: a raiva fervilhante no estômago começou a se amenizar, a brasa no cerne de sua mente passou a esmorecer. Na ausência dela, ele conseguia sentir o anjo ocupando cada célula de seu corpo, esperando que ele entendesse e fizesse a coisa certa. Ainda havia algo desagradável entremeado em suas entranhas, mas imaginou que aquilo era o melhor que poderia fazer.
Ajustando as asas, virou-se para enfrentar a tempestade, tapando as escotilhas para conter a maré de emoção. Era capaz de sentir algo ardendo dentro de si, vindo do anjo, uma onda de calor frio. Ela rasgou seu esôfago e detonou de seus lábios, tão poderosa que deixou o ar em chamas. A palavra talhou um caminho incandescente, formando um rastro de míssil ao desaparecer na fumaça. Aguardou a explosão, aguardou que o rosto do homem derretesse, que mugisse em um grito de derrota.
Nada aconteceu.
Brick abriu a boca, esperando o anjo se recompor. Aquela cócega de medo ainda estava ali, a raiva voltava crescente. Ele entrou em pânico, lutando contra o arrasto da inspiração do homem, as asas batendo como as de um cisne.
Um arame de relâmpago negro disparou do vórtice, tão escuro que parecia um rasgão na realidade. Veio zunindo na direção de Brick, rápido demais para que o evitasse, e chocou-se contra sua asa. A dor foi tão forte, tão diferente de tudo o que já tinha sentido, que de início sequer pôde assimilá-la. Então ele veio, um sofrimento que o abalou até o âmago, parecendo emanar não de seu corpo, mas do corpo do anjo.
Gritaram juntos quando outra chicotada desceu serpenteante, golpeando suas costas. Brick olhou para trás, vendo a escuridão presa à outra asa, retendo-a como uma criança pinçando um bichinho indefeso. Jogou a mão para trás, tentando contê-la, mas ela girava rápido demais, subindo, subindo e subindo para o tornado. Ouviu o som de algo se rasgando, e veio outro jato de dor incandescente. Quando Brick olhou de novo, viu a asa esvoaçar, uma folha de fogo pálido que se enroscava ao vento, esvanecente.
Seu anjo gritou mais uma vez, agora sem força na voz. E, sem uma asa, Brick tombou para dentro da tempestade.
Rilke
Rio de Janeiro, 15h22
Saia, saia de onde quer que esteja!
Rilke espiava por entre a pele do mundo, tentando achar o menino com asas. Era isso que ela fazia agora? Brincava de esconde-esconde com Schiller?
Não, ele morreu, lembra?, algo lhe disse. Ela estendeu a mão feita de éter reluzente e tocou a testa. Havia um buraco ali, como um terceiro olho, mais ou menos do tamanho do dedo. Não conseguia de jeito nenhum se lembrar de como tinha feito o buraco. Um garoto de asas, um garoto com fogo no lugar do cabelo, o mesmo garoto que matou seu irmão.
Quase podia vê-lo na confusão dos pensamentos, um garoto alto chamado Brick. Mas por que ela brincava de esconde-esconde com ele? Não fazia sentido nenhum, e, quando tentou pensar a respeito, a cabeça pulsou com ondas de desconforto, os pensamentos travados como se alguém houvesse jogado um graveto entre duas engrenagens. Deixou aquilo de lado. Aquele pensamento logo voltaria; provavelmente só estava cansada e... e...
Olhou ao redor e viu um deserto parecido com uma praia, só que a areia abaixo era de várias cores — dourado, branco, cinza e vermelho. Pequenas espirais de fogo serpenteavam em sua direção, como dedos que a procurassem, desfazendo-se depois de um ou dois segundos. Distinguia cada grãozinho, e, dentro de todos eles, havia cidades de luz e matéria. Era hipnotizante.
Concentre-se, Rilke, disse a si mesma. Encontre o menino. Você não se lembra? Ele acabou com você.
Era isso! Ele acabara com ela, a quebrara, como se ela fosse uma boneca. E tinha acabado com Schiller também. Isso devia tê-la deixado zangada, mas não havia nada dentro dela além de um torpor enfurecedor, como se tivesse sido recheada com algodão da cabeça aos pés. Mas era isso o que acontecia com bonecas quebradas, não era? Empacotadas e deixadas de lado, ou jogadas na lixeira.
Algo zumbiu acima, uma mosca, e ela estendeu uma mão que não era realmente a dela, os dedos invisíveis tirando o objeto do céu e esmagando-o. A mosca caiu no chão, acertando a areia com um estampido mecânico e incendiando-se. Havia agora mais delas, voando acima e fazendo um som de tud, tud, tud, e ela as golpeou, derrubando mais duas antes que o resto fosse embora. Ótimo, agora tinha esquecido por completo o que deveria estar fazendo.
Descamou o mundo de novo, como se abrisse uma porta.
Alguma coisa tinha perturbado o ar ali, deixando uma espécie de ondulação dourada, quase como a esteira que um barco faz na água. O garoto alto obviamente não era muito bom em se esconder; tinha deixado um rastro para que pudesse segui-lo.
Peguei você!, disse ela, abrindo um sorriso enorme ao entrar pela porta. O corpo dela explodiu em átomos e houve uma súbita vertigem, como chegar à beira de uma cachoeira, e, em seguida, estava inteira de novo, o mundo refirmando-se ao seu redor. Passou a mão no corpo para limpar as brasas, tentando entender o caos à sua volta.
O céu tinha vida: uma tempestade em forma de homem. Ele se agitava dentro de um oceano de nuvens negras, quase como se estivesse se afogando ali. Algo nele parecia familiar, mas Rilke não sabia o quê. O vento ali era incrível, um furacão que fazia o que podia para sugá-la. Parecia um vasto campo que acabara de ser arado. À distância, havia um buraco no mundo, como se algo enorme houvesse feito uma escavação do centro da terra e rastejado de lá de dentro. Rilke estendeu as asas, firmando-se e esquadrinhando a terra para encontrar o garoto alto.
De repente, um tiro acima dela. Mas era um tiro mesmo? Não, era alto demais. Nem mil tiros poderiam emitir aquele som. Ela olhou para cima, para o oceano invertido, vendo uma centelha contra a treva espiralante. É ele! Ela teve certeza. Era o garoto feito de fogo. Ele estava desaparecendo em meio à fumaça, tentando se esconder dela.
Não o deixe ir!, disse-lhe sua mente. Ele acabou com você, acabou com você. Ela não o deixaria se esconder, não agora, nem nunca. Elevou-se do chão e bateu as asas, ascendendo em direção ao fogo. O garoto alto estava em dificuldades, línguas de luz negra envolvendo-o. Uma delas socou suas asas, arrancando uma delas, e Rilke o ouviu gritar acima do estrondo de estourar os tímpanos do céu em movimento. Ele desapareceu no vórtice giratório de nuvens, e ela aumentou a velocidade. Outros garfos de relâmpago negro vibraram ao lado dela, mas ela desviou de todos, concentrando-se na única coisa que importava.
Saia, saia de onde estiver!, disse outra vez, rindo enquanto seguia o garoto incandescente pelas trevas.
Daisy
Manang, Nepal, 15h25
Está pronta?
Cal fez a pergunta encarando-a com seus olhos de anjo. Os cinco formavam um círculo saturado de fogo. O som de seus corações parecia liquefeito, enchendo os ouvidos dela, provocando uma sensação engraçada em sua cabeça. Também estava achando difícil se mexer, como se todos fossem ímãs, atraindo-se. Perguntou-se o que aconteceria se todos se tocassem, se isso seria demais para aquele pequeno mundo. Tinha a sensação de que abririam um buraco nele.
Daisy?
Ela assentiu, mas era mentira. Não se sentia nem um pouco pronta. Como alguém poderia estar pronto para algo daquele tipo?
Cal se virou para os outros. E vocês?
Marcus deu de ombros. Não que eu tenha outra coisa mais importante para fazer agora.
Daisy estendeu a mão para Adam, seus dedos soltando raios de estática ao tocar o rosto dele. Ele não pareceu se importar, sorrindo para ela. Os olhos dele pareciam não ter fundo. Ela tinha a sensação de que podia cair naqueles poços geminados de fogo e nunca mais sair.
Ele não precisa ir, falou Cal. Quer dizer, talvez seja mais seguro ele ficar aqui, esperando a gente.
Você vai ficar bem, não vai, Adam?, perguntou Daisy. Seria mais perigoso para ele ficar sozinho. E se fosse atacado pela Fúria? E se o homem na tempestade decidisse mudar de lugar outra vez e fosse atrás dele? Vamos manter você em segurança. Mas não precisa lutar. Assim que pousarmos, você fica escondido. Combinado?
O que fazer a respeito de Brick?, perguntou Cal.
Ele vai estar à nossa espera, disse ela. Não sabia como, mas tinha certeza disso; praticamente podia enxergá-lo afogando-se na escuridão. Ele tinha mudado de ideia e voltado para ajudá-los, e agora enfrentava a besta sozinho. Daisy respirou fundo o ar de que não precisava, sentindo o martelar dos dois corações. O anjo era capaz de mantê-la calma, mas ela continuava assustada, e sentia isso como uma coceira no estômago. Isso a fazia sentir-se fraca, incerta, o que a levou a se perguntar sobre outra coisa.
Eu acho... ela começou, mas depois se deteve, tentando entender seus pensamentos.
O quê?, perguntou Cal.
Ela ruminou um instante a mais, depois disparou: Acho que precisamos permanecer calmos.
Ah, claro, falou Howie. Sempre me sinto calmo quando estou prestes a arrumar briga com uma criatura que está tentando engolir o mundo.
Não, disse Daisy. Estou falando sério. É como aquilo que você estava dizendo sobre o remédio pra ficar legal. Os anjos nos mantêm calmos, não deixam as emoções interferirem. Acho que é assim que eles lutam. Só podem fazer isso se as nossas emoções não atrapalharem.
É?, falou Cal. Quando moveu os ombros, suas asas subiram e desceram. Acho que faz sentido.
Tudo o que Daisy tinha era seu instinto, e o que havia acabado de dizer parecia certo.
Então o negócio é manter as emoções sob controle, disse Marcus.
Beleza, tudo bem. Mais algum conselho?, perguntou Cal.
Ela bem que queria ter outro conselho, mas não havia mais nada. Só o não morrer de Howie. Era basicamente tudo o que tinham. Daisy negou com a cabeça, dizendo sinto muito.
Cal expirou com um pouco de força, fazendo o ar tremer.
Em Fursville, tudo parecia tão simples, disse ele. Quer dizer, em comparação com isso aqui. Lá a gente só precisava sobreviver.
Parecia que tinham estado no parque temático meses atrás, anos até. Mas haviam deixado Hemmingway naquela manhã, menos de doze horas antes. Para Daisy, aquilo não fazia sentido nenhum, exceto pelo fato de entender que, de algum modo, o tempo era diferente para os anjos — e agora era diferente para eles também. Por um período que pareceu uma eternidade todos ficaram em silêncio, e Daisy viu os pensamentos deles como se flutuassem na frente dela: Fursville, andar nos cavalos do carrossel, jogar futebol — Cal estava sempre pensando em futebol —, correr pelo campo com o vento nos ouvidos, uma menina bonita assistindo da arquibancada, um piquenique na floresta com um cachorro grande e peludo que ficava tentando comer os sanduíches, outro garoto ali que era bem parecido com Marcus, talvez seu irmão. Eram as lembranças que eles queriam levar consigo, percebeu ela, imaginando as suas próprias — pegar sol no quintal atrás de casa, sentindo o aroma de lavanda, o pai trazendo uma bandeja de comida chinesa e uma garrafa de espumante sem álcool, que tinham bebido para celebrar a boa notícia de que o câncer da mãe havia ido embora, todos cheios de alegria, correndo um atrás do outro entre os arbustos e, depois, deitando-se na grama, lado a lado, inspirando seu aroma enquanto miravam os galhos acima. Se, quando morresse, ela pudesse viver dentro de qualquer memória da vida, seria essa que escolheria.
A coceira do medo tinha se tornado outra coisa, uma cunha de pedra em sua garganta. Mesmo do outro lado do dique que o anjo tinha construído dentro dela, Daisy sentia as lágrimas prestes a jorrar. Excelente, Daisy, que ótimo jeito de esquecer suas emoções, disse a si mesma, na esperança de que os outros não a ouvissem. Contudo, deviam ter ouvido, porque Cal riu.
Vamos, disse ele. Antes que a gente comece a chorar feito bebês.
Fale por si, falou Howie. Ele abriu as asas, flexionando-as na frente do sol e transformando sua luz em espirais de âmbar.
Vai fazer as honras?, perguntou Cal.
Daisy fez que sim com a cabeça, tomando a mão de Adam, o ar entre os dedos deles estalando feito uma fogueira. Ela fechou os olhos e abriu o mundo, um buraco grande o suficiente para levar todos.
Boa sorte, falou ela. Então, eles sumiram.
Cal
São Francisco, 15h32
Na fração de segundo em que se moveram, ele tentou preparar-se, tentou controlar os nervos. E então chegaram, com a realidade cerrando-se ao seu redor como uma armadilha de urso, afundando seus dentes em volta dele para tentar travá-lo onde estava. Tinham voltado para o vasto cânion vazio que antes fora uma cidade, o oceano ainda estrondando dentro dele. O céu inteiro pareceu vibrar por um instante, um grito de trovão ecoando pela terra enquanto as leis da física ajustavam-se para encaixá-los na realidade. Porém, o barulho não durou muito tempo, sendo engolido pela tempestade que rugia acima.
A besta estava em um trono de fumaça, com as asas estendidas de um horizonte a outro, a boca parecendo uma imensa e doentia lua suspensa sobre o mundo. Não restava praticamente mais nada dela, apenas fiapos de carne solta e morta inacreditavelmente compridos, esvoaçando para os lados como bandeiras rasgadas. Seus olhos eram bolsões de noite.
Aqueles faróis invertidos vasculharam o chão, encontrando-os em segundos. Assim que aquela não luz cor de vômito o focalizou, Cal teve a sensação de que tinha levado um soco no estômago, na alma, como se o impacto houvesse sugado dele a última gota de vida. Gemeu diante do horror, do vazio total e completo, sabendo que era o que sentiria caso o homem na tempestade o engolisse.
Cal sentiu uma súbita lufada de vento dominá-lo, puxando-o para cima, para a boca da besta, que parecia um aspirador. Abriu as asas, tentando conter as emoções, gritando para que o anjo o enfrentasse. Não precisava dizer-lhe o que fazer: um som engatilhou-se na garganta e disparou da boca como uma bala mortífera que subiu rasgando, queimando um caminho pelas nuvens raivosas até explodir contra o rosto da criatura.
Outros gritos vieram logo depois. Daisy estava suspensa no ar a seu lado, gritando com sua voz e com a do anjo também. Marcus e Howie encontravam-se à direita, suas cabeças indo para trás como canos de revólver toda vez que ladravam um tiro. O ar entre eles e a tempestade transformaram-se em fogo líquido, fervendo e sibilando como algo com vida própria. A besta soltou mais um grito, como o de um Leviatã no fundo do mar.
Está funcionando! Mesmo que a voz de Daisy estivesse em sua cabeça, ele tinha dificuldades para ouvi-la. Continuem atirando nele!
Cal bateu as asas, erguendo-se no céu fervilhante. Abriu a boca, deixando o anjo lançar outra palavra. Esta chocou-se contra o rosto da besta, arrancando dele um naco de fumaça e de matéria negra do tamanho de um prédio, que foi imediatamente sugado pelo vácuo giratório, como se a criatura devorasse a si mesma. O movimento de sua boca travou e diminuiu, o estrondo de quebrar os ossos diminuindo por um momento antes de recuperar a força.
Algo chicoteou de dentro da escuridão, e um flagelo farpado de relâmpago negro estourou no ar bem à frente do rosto de Cal. Ele caiu, ofuscado pela negra ferida deixada em sua retina. Ouviu outro disparo, torcendo o corpo para evitá-lo, piscando para recuperar a visão do mundo.
Daisy e os outros estavam acima dele, indo de um lado para o outro como vaga-lumes enquanto lançavam golpes sucessivos. Miravam os olhos da besta, uma barragem de explosões rasgando-os. O homem se contorcia dentro da tempestade, aquela inspiração se extinguindo e recomeçando, de novo e de novo. Ele começava a entrar em pânico, percebeu Cal. Estava com medo.
Cal bateu as asas, abrindo caminho em direção a Daisy. Eram pequeninos em comparação com o homem na tempestade, mas isso trabalhava a favor deles. Toda vez que ele disparava um garfo de relâmpago, eles saíam do caminho, seus ataques já lentos demais, desajeitados demais. Cal jogava os braços para a frente, socando com punhos invisíveis: marteladas que se chocavam contra a besta. Era como observar um imenso navio de guerra disparando cada arma de seu arsenal.
O céu então se moveu, e a coisa inteira desabou no chão; a imponderabilidade daquilo fez Cal gritar. Protegeu o rosto com as mãos quando uma onda de energia veio com toda a força, fazendo-o girar para longe como uma bola de críquete. Acertou o chão, abrindo um buraco por raízes e rochas, transformando tudo em pó, até parar.
Mesmo com o anjo, ele sentia dor. Levantou o tronco, vendo o homem na tempestade contra o horizonte, bem longe. O céu ainda caía, só que não era o céu, eram as asas da criatura. Aquelas plumas enormes de fogo putrefato desceram banindo tudo, liberando um furacão. Não conseguia ver Daisy em lugar nenhum, nem os outros. Todos tinham sido lançados para longe.
Endireitou o tronco, dando ao anjo um momento para reencontrar sua força. Em seguida, levantou-se do chão, lançando-se de novo ao caos.
Era tarde demais. Aquelas asas bateram uma terceira vez, e o homem na tempestade desapareceu em uma profusão de cinzas negras.
Brick
São Francisco, 15h40
Era como estar dentro de uma máquina de lavar funcionando a toda velocidade, e ele não tinha mais nada com que lutar.
Seu anjo agonizava. Os ferimentos eram graves demais. Brick tentou abrir as asas, mas uma não estava mais lá, e a outra pendia, rasgada e inútil. Felizmente, sua pele blindada ainda ardia, apesar de o fogo agora estar mais fraco, com força suficiente só para iluminar o funil de fumaça e de nuvens à sua volta. Mesmo que ainda tivesse as asas, elas não teriam servido de nada. Brick já não sabia de onde tinha vindo, nem para onde deveria ir.
Algo crescia na escuridão, rápido demais para evitar. Varou aquilo, vendo nacos de alvenaria virarem pó. Havia outras coisas ali, presas como restos de comida no esôfago do homem. Pessoas também, ou o que restava delas, pedaços de cartilagem que ainda tinham rostos humanos presos no limiar da garganta. Elas apareciam em clarões para ele, centenas, talvez milhares. E aqueles eram só os resquícios. Quantos outros milhões teriam sido devorados?
E ele era um deles. Brick, tolo, ridículo, furioso. Ninguém ia sentir falta dele. Não, ele já era um fantasma, já estava esquecido.
Não pense nisso, disse a si mesmo, com as emoções filtradas através do coração do anjo. Isso vai enfraquecê-lo. Você precisa lutar!
Ele esvoaçava, pairando sobre uma vasta montanha flutuante de pedra. Do outro lado, de repente, viu onde o túnel se afunilava, terminando em um ponto que irradiava escuridão total. Nuvens de fumaça e de matéria atomizada espiralavam em volta, provocando relâmpagos. O rugido da tempestade diminuía, e o silêncio que pulsava do buraco era a coisa mais aterrorizante que Brick já ouvira. Tudo ali era errado; o tempo parecia se partir, tudo desacelerando ao circundar aquele ralo.
Ali não era a morte, jamais poderia ser algo tão simples assim. Era a eternidade, o infinito, um golfo atemporal de nada do qual nunca poderia escapar. Era um buraco negro, uma ruptura na realidade que devoraria tudo, que engoliria, engoliria e engoliria, até que nada mais restasse.
— Não! — gritou ele. A voz do anjo se manifestou como um ínfimo tremor, como se ele tivesse sido colocado no mudo.
Brick ganiu, os braços girando, sua asa mutilada batendo. Conseguiu se virar, olhando para a direção de onde tinha vindo, as paredes do túnel espiralando incansavelmente, arrastando mais e mais do mundo para seu fim. Havia outra coisa ali, um bruxulear de fogo contra a insanidade. Ah, Deus, por favor, por favor, por favor!, pediu Brick. A silhueta se aproximou, explodindo por nacos de detritos flutuantes. Tinha de ser Daisy, ou Cal, tem de ser, por favor, meu Deus.
Não adianta se esconder, disse Rilke, e Brick sentiu seu coração afundar até o pé. Ela se lançou contra ele, as asas abrindo no último instante, como as de um dragão. Mirava-o com as piscinas derretidas de seus olhos, com um sorriso enorme. O terceiro olho ainda flamejava na testa, o olho que ele tinha criado, com gotas viscosas de fogo caindo dele como se o cérebro dela derretesse.
Aí está você!, disse ela. Encontrei você!
Por favor, Rilke, pediu Brick. O contraste entre o silêncio num ouvido e o trovão no outro lhe dava náuseas. Por favor, por favor, me ajude, me tire daqui!
Rilke virou a cabeça para o lado, o sorriso desfazendo-se, frouxo e mole.
Ajudar você?, falou ela, a voz arranhando a superfície do cérebro dele. Por quê?
Porque estou morrendo!, gritou ele, tentando agarrar o ar, tentando alcançá-la. Essa coisa vai me matar!
Mas você me matou, disse ela, batendo as asas para lutar contra a corrente de ar. Você me partiu em duas, e agora mamãe vai ficar furiosa.
Desculpe, disse ele. Ela estava louca, estava em cacos. Desculpe, Rilke, não foi minha intenção.
E Schiller, você quebrou ele também.
Não, isso não!, disse ele, sentindo que deslizava para mais perto do buraco. Tinha a sensação de que estava sendo esticado, como se fosse ser estraçalhado. Não fui eu, foi ele, o homem na tempestade! Você precisa acreditar em mim!
Não, foi você, o garoto com asas, disse ela, encarando-o com aquelas órbitas flamejantes.
Não, eu... Eu não tenho asas!, gritou ele, tentando girar e mostrar as costas. Não fui eu, veja só! Como poderia ter sido eu?
Ela franziu o rosto, o zumbido dos anjos dos dois fazendo o túnel inteiro sacudir.
Ele acabou comigo, gaguejou Brick. O homem com asas, com asas enormes. Ele acabou comigo, e agora quer me matar. Precisamos lutar contra ele, Rilke, juntos, por favor!
Onde ele está?, disse Rilke, voando para mais perto, quase perto o bastante para que Brick a tocasse. Ele a buscou, não com os braços, mas com a mente, tentando enganchar-se nela, ancorar-se, mas não sabia como fazê-lo.
Estamos dentro dele, falou. Ele está tentando comer a gente.
Deixe de bobagem, Schill, ela respondeu, rindo. Ele não pode comer a gente.
Ele vai, falou Brick. Relâmpagos de luz branca detonavam em sua visão, como fogos de artifício. O fogo dele se apagava rápido. Seu anjo agonizava. Ele odeia a gente, vai acabar com todos nós, a menos que a gente o enfrente. Por favor, Rilke, não me deixe morrer. Eu sou... sou seu irmão.
Schiller?, disse ela. É você? Não consigo enxergar direito.
Brick sentiu algo enroscar-se em sua cintura, um tentáculo invisível que o atraiu para a garota incandescente. O buraco negro não queria soltá-lo, agarrando-se a cada célula do seu corpo. Era como se estivesse se desfazendo, era uma folha de papel na água, dissolvendo-se. Rilke o puxou, levando-o de volta para o rugido e o trovão da tempestade, e ele se agarrou a ela, segurando-a como uma criança faria com sua mãe. Ela o abraçou por um instante, depois recuou.
Você não é o meu irmão, falou ela com uma voz fria como o incêndio à sua volta. Você mentiu para mim.
Sou sim, disse ele, rezando para que ela estivesse louca o suficiente para acreditar nele. Não está me reconhecendo, irmã?
Ela parecia perdida, o fogo de seus olhos bruxuleando enquanto as engrenagens quebradas de sua mente rangiam, tremiam, e tentavam girar. A tempestade uivou, e nuvens de detritos transbordaram das paredes do túnel. Um rugido poderosíssimo levantou-se em volta, seguido de outra explosão, como se alguém estivesse disparando tiros de canhão contra eles. Que droga estaria acontecendo lá fora?
Rilke, por favor, você precisa tirar a gente daqui antes que seja tarde demais!
O corpo inteiro dela tremeu, como se estivesse tendo uma convulsão, emanando grandes ondas de energia. Quando parou, ela o agarrou com os dedos da mente, rebocando-o ao lado dela enquanto batia as asas e se afastava. A corrente tentava sugá-los de volta, mas ela era forte demais, abrindo caminho torrente acima. Em volta deles, a tempestade se agitava, abalada pelo trovão. Brick sentiu algo, vozes em sua cabeça — Daisy, Cal, os outros também. Eram eles? Estavam atacando a tempestade? Por favor, tomara que sim!, pensou ele no instante em que as nuvens se afastaram à frente, com trechos de um facho de luz fraca e enevoada alcançando-o.
É isso aí, irmã, você está acabando com ele!
Ela parou, girando-o no ar, seus olhos em chamas.
Você não é ele, constatou ela. Você não é Schiller.
Ele tentou se soltar, perguntando-se se seu anjo precisava de asas para se transportar, ou se podia apenas arder e voltar para o chão, como fizera antes. Os dedos invisíveis de Rilke eram como bastões de ferro nas costelas dele, ancorando-o a ela.
Não ouse! O ganido dela bateu em seu cérebro, a pressão ficando ainda mais forte. Ele estapeou a área com as mãos, mas não havia nada a combater. Seu fogo ardia, mas nem de longe com a mesma luminosidade do de Rilke. É você, eu sabia, você mentiu para mim, acabou comigo e com ele também.
Brick atacou: uma flecha de chama translúcida cortou a garota. Sua pressão psíquica se afrouxou, e ele desfolhou o mundo, pronto para fugir rumo à ausência.
Então o homem na tempestade rugiu. Alguma coisa estava acontecendo, luz negra irrompeu das paredes, fazendo a fumaça revirar. Então o mundo se desintegrou em volta de Brick, e seu grito se extinguiu ao explodir em átomos e ser sugado para o vácuo.
Daisy
São Francisco, 15h44
— Não podemos deixá-lo fugir! — o grito de Cal ecoou pela terra deserta, vibrando acima de Daisy conforme o ar agitado corria para o espaço onde o homem na tempestade estivera. O céu estava repleto de flocos de cinzas incandescentes; atrás delas, porém, ele começava a romper as nuvens que iam se afinando. Sua luz espalhava-se quase de um modo nervoso pela terra enegrecida, como se estudasse os danos causados em busca de sobreviventes. Não havia nenhum. Nem poderia haver. Daquele ponto no céu, Daisy enxergava quilômetros em cada direção, todo vestígio de vida banido pela besta.
O poço ainda crescia, deformando-se com a enxurrada de água do mar que se precipitava dentro dele. Enormes trechos de terra desabavam no vácuo crescente. Daisy se perguntava se o homem na tempestade tinha voltado para o subterrâneo, mas não o sentia ali. Não, era mais como se ele houvesse cortado uma parte tão grande do mundo que não conseguia mais se manter em um lugar.
Ela o sentia bem longe dali. Ele deixara um rastro que desaparecia em pleno ar, um pouco como a cauda de um rato sob um tapete. Se ela levantasse o mundo, conseguiria ver para onde ele tinha ido.
Cal voou para seu lado. Howie e Marcus também estavam ali, examinando o horizonte. Ela olhou para baixo, entrando em pânico quando não avistou Adam. O alívio que se apossou dela ao vê-lo surgir atrás quase a fez chorar. Ela o abraçou por um segundo, o ar entre eles faiscando em protesto, e o soltou.
Estou bem, disse ela. Tudo bem comigo. Nós o assustamos, Cal, com certeza o assustamos, para ele fugir desse jeito...
Esse cara é um frangote, falou Howie.
Vamos, sugeriu Cal, antes que ele possa se recuperar.
Desta vez, não esperou por ela, o corpo explodindo em pó incandescente. Daisy o seguiu, usando a mente para levantar o tapete, correndo atrás da cauda do rato no vazio. Era como se tivesse sido capaz de fazer isso a vida inteira, algo tão natural quanto andar. Uma batida de coração, e o mundo recuperou a forma em volta deles, com um protesto de estrondos. As cinzas se soltavam do ar destituído — era isso que eram, percebeu ela, as partes do mundo que tinham sido queimadas para abrir espaço para os anjos. Através delas, viu a besta. Estava suspensa sobre outra cidade, que parecia ter saído de um conto de fadas, repleta de prédios antigos e torres. Um rio enorme e de aparência suja serpenteava por ela. Havia pessoas, milhares, todas encarando a tempestade e gritando para ela, e para a coisa que morava nela.
Cal era um floco aceso contra a noite taciturna, a voz de seu anjo abrindo caminho, ecoando pela cidade.
Daisy se apressou até Cal, sentindo os outros a seu lado. Desta vez, Adam os acompanhou: ela entendeu que ele não queria ficar sozinho. A turbina da boca da besta reiniciava, os prédios abaixo começando a se desintegrar, subindo aos pedaços. O rio parecia uma chuva virada do avesso, secando-se contra a gravidade. As pessoas também estavam sendo sugadas, exatamente como as formigas do aspirador. Daisy alcançou-as com a mente, tentando segurá-las, mas eram muitas, frágeis demais, e se despedaçavam ao seu toque. Desculpem, falou ela, e o horror daquilo ia inchando dentro de sua barriga, de seu peito.
Concentre-se, Daisy!, pediu Cal. Ignore suas emoções!
Ela tentou, sufocando-as. Ao abrir a boca, soltou um grito que rasgou as nuvens, cortando o rosto do homem. Cal atacava os olhos outra vez; Marcus e Howie disparavam um tiro atrás do outro contra os restos maltrapilhos de seu corpo. O vento era um punho que os agarrava e os sacudia enquanto os soprava para dentro da boca cavernosa. Daisy precisou de toda a força para não ser levada por ele.
A besta revidava, vomitando mais daqueles relâmpagos negros horríveis. O ar vibrava com tudo aquilo, nenhum dos relâmpagos roçando o alvo. A maior parte acertava o chão, explodindo como bombas, reduzindo a cidade a ruínas. Aquela respiração infinda era um grito uivante, repleto de fúria, tão alto que fazia cada osso do corpo de Daisy estalar.
Estamos vencendo!, disse ela, contendo a vertigem de empolgação e alívio, forçando-se a permanecer calma. Continuem disparando!
Não precisavam que ela mandasse. Cal tinha praticamente demolido o rosto da besta, nacos de matéria negra soltando-se dos olhos, sugados para a boca. O homem parecia estar reconstruindo a si mesmo porém, a fumaça preenchendo as lacunas e solidificando-se. Daisy ardeu no céu, deixando o anjo falar. A palavra foi como uma bala gigante fendendo o crânio da tempestade, sua força fazendo-a recuar. Daisy deu um salto para trás em pleno ar, sentindo outro ataque surgir da garganta e sair pela boca. Havia tantas explosões detonando contra a tempestade que o homem era mais fogo que fumaça. Não havia jeito de ele sobreviver a muito mais daquilo, jeito nenhum.
E, no entanto, sua fúria aumentava, fervilhando dele em ondas negras e imensas, curando os ferimentos que os anjos abriam. Ela soltou mais um grito, e este foi recebido por uma chicotada de treva genuína, as duas forças ribombando ao se anularem. Os relâmpagos eram usados para bloquear também os gritos de Cal, como um campo de força.
Daisy mergulhou, evitando um dedo de luz invertida disparado contra ela. O chão se precipitou para cima, perto o suficiente para ela ver a cidade arruinada, as manchas que antes haviam sido pessoas. Ela se virou no último instante, a terra embaixo explodindo quando o homem na tempestade atacou de novo. Bateu as asas, lançando-se pela fumaça e parando ao ver o fogo irromper de dentro da boca da besta. O homem na tempestade uivou de novo, aquele grito horrendo, para dentro, sugando tudo. Algo estava acontecendo ali.
Brick!, percebeu ela, sentindo-o, e, assim que falou seu nome, ouviu a resposta: um frágil grito de socorro. Mais fogo de dentro, como se o homem na tempestade houvesse engolido um enxame de vaga-lumes.
Socorro!, a voz dele era uma trovoada distante dentro da cabeça dela.
Está ouvindo?, perguntou Cal, aparecendo ao lado dela. Parecia exausto, mas seu anjo ardia com força. É Brick!
Daisy afastou-se com um movimento repentino quando outro raio rasgou o ar entre eles. Cal abriu a boca e disparou uma palavra contra ele, o som desaparecendo nas nuvens em volta da besta, sem causar qualquer ferimento.
Não está funcionando, falou ele. O homem é forte demais.
Ele tinha razão: estavam ferindo a besta, mas não a estavam matando; eram como marimbondos picando o couro de um elefante. E estavam dando seu máximo, não estavam? Haviam desligado suas emoções, dado aos anjos tudo que estes demandavam. O que estava faltando? O que eles estavam fazendo de errado?
Por sobre o uivo da tempestade, Daisy distinguiu outro grito de Brick.
O que ele está fazendo lá dentro?, Cal perguntou.
Daisy não sabia; mas sabia que Brick não estava sozinho. Cal balançou a cabeça, e ela escutou seu grito: Estou indo, Brick, aguente firme!
Espere, Cal!
Daisy o seguiu. No entanto, antes que o alcançasse, o mundo se enegreceu. Um punho de fumaça se projetou da tempestade, tão grande que toldou até o último raio de sol. Daisy gritou e se comburiu em fuga do mundo antes que a fumaça a atingisse. Quando retornou à existência, tonta devido à brusca mudança de perspectiva, achava-se do outro lado da tempestade. A imensa massa de escuridão descaiu sobre a cidade, como se alguém despejasse do céu bilhões de barris de petróleo. Cal, com Adam, se desvencilhou, enquanto Howie explodiu em brasas conforme fugia.
Marcus não teve a mesma sorte. Quando olhou para cima, já era tarde demais; o grito que deixou escapar sumiu na fumaça, que o atingiu como um soco, prensando-o contra o solo, o punho maior do que a cidade que existia até então. A fumaça não se deteve, conferindo à terra a forma de funil, empurrando o garoto cada vez mais para as profundezas, gerando uma teia crescente de rachaduras. Daisy gritou por Marcus, mas, onde antes havia os pensamentos do garoto, agora só havia uma ausência escancarada.
Não! Daisy se ergueu; a raiva em seu interior brandindo como uma coisa viva. Abriu a boca, e desta vez o grito que se libertou foi tão poderoso que formou uma bolha no ar, um caminho de fogo que desembocou no coração da tempestade. Houve um breve instante no qual ela pensou que seu ataque tinha se desvanecido, mas, então, uma explosão ocorreu dentro da besta, como se uma bomba atômica tivesse sido detonada. Imensas nuvens de uma substância podre se desprenderam do céu, e a fumaça tóxica desenhou trilhas em direção à terra.
Daisy se acercou com a mente e segou a ferida recém-aberta a fim de agarrar qualquer coisa que encontrasse ali e extirpá-la. As mãos invisíveis de seu anjo desferiram puxões e arranhões, e a besta mugiu o som de milhões de bois feridos. A raiva de Daisy fervia, e desta vez a garota não a impediu; permitiu que lhe servisse de combustível.
Meu Deus!, pensou. Não poderia ter estado mais errada. Não era para eles esconderem suas emoções: era para as usarem!
Daisy destrancou a porta que tinha batido na cara de seus sentimentos, e centenas de sensações se convulsionaram em seu íntimo. Como um vulcão, o magma raivoso ia se expelindo. Ela soltou outro grito, e o céu inteiro pareceu tremer. O buraco que o grito fez na tempestade era colossal e perfeitamente redondo, e a luz do dia vazou através dele. A besta gemeu e flectiu as asas, e uma floresta de raios brotou da carne em farrapos. Estava prestes a sumir de novo.
Bateu as asas, o que provocou uma onda de poeira. Mas não desapareceu. Em vez disso, ergueu-se, içou-se paulatinamente, ganhando velocidade a cada batida de asas.
Para onde está indo agora?, Daisy se indagou. Sentiu a presença de Cal ao seu lado. Uma chuva de poeira e cinzas se derramava, uma espécie de neve preta.
Está fugindo!, disse Cal, sorrindo. Vamos atrás desse desgraçado!
Cal
Termosfera, 15h58
A besta subia como um foguete, deixando atrás de si uma pluma de fumaça profundamente escura. O ar tremia em seu rastro. Cal se jogou para o lado, vendo parte da cidade passar por ele, desintegrando-se no processo. Havia construções, prédios comerciais que desabavam, gritos em rostos visíveis do lado de dentro. Cal fechou os braços e ardeu através do céu, vendo o mundo se encolher. O horizonte encurvou-se, o céu escureceu, e as estrelas apareceram em pleno dia.
Howie voava ao seu lado. Daisy também estava ali, outra vez na ofensiva, os gritos inacreditavelmente altos e luminosos, chocando-se contra o corpo da besta.
Marcus tinha sumido, esmagado dentro da terra com tanta força que nem mesmo seu anjo conseguira salvá-lo. Cal sentira o momento da morte do menino, uma fração de segundo de agonia, e, depois, nada.
Nem pense nisso, disse a si mesmo. Não deixe as emoções o dominarem.
Cal atacou com a mente, jatos de energia rasgando o caminho garganta acima, desaparecendo nas trevas. A tempestade ainda subia, perfeitamente camuflada contra o vazio do espaço. Somente os clarões de fogo dentro de sua garganta o entregavam, parecendo explosões subaquáticas. Brick, pensou Cal, sabendo que o garoto estava preso junto com Rilke. Os dois precisavam de ajuda.
Uma língua de relâmpago negro estalou pelo ar ao lado de Cal, detonando com força suficiente para disparar um diapasão em seu ouvido. Ele rolou, berrando ao mesmo tempo, seu grito perfurando a tempestade. Não estava adiantando nada. Era como usar um estilingue contra um tanque. Não conseguiam atravessar a blindagem.
Ele precisava chegar mais perto.
Howie, chamou, vendo o outro menino abaixo dele, suspenso acima do contorno azul da Terra. Cal não tinha percebido o quão alto eles tinham chegado, e, de repente, entrou em pânico, receando não poder respirar, até que se lembrou de que não precisava. Suas entranhas reviraram em uma súbita vertigem, e ele precisou olhar para cima a fim de se recompor. Sentiu Howie aproximar-se.
Sim?, disse o outro garoto.
Você consegue distrair a besta? Preciso chegar perto dela. Cal apontou para a boca, tão escura que parecia um buraco no espaço.
Vou ver o que consigo, respondeu Howie, partindo e deixando um rastro de luz ao se arquear para cima. A besta tentou acertá-lo, mas ele era rápido demais, ziguezagueando para evitar o relâmpago. Alguma outra coisa acontecia dentro da tempestade, e a turbina de sua boca girava outra vez. Não fazia barulho no vácuo do espaço, mas Cal pôde sentir sua força quando ela começou a puxá-lo. Desta vez, ele não resistiu; só guardou as asas e se permitiu subir. Abaixo, algo de estranho acontecia nas nuvens, correndo pela superfície do planeta como água ensaboada no banho. Um túnel de vapor serpenteou para cima, sacudindo Cal ao passar. Mas o que... — foi o máximo que conseguiu dizer antes de entender que a besta devorava a atmosfera, o ar, o oxigênio.
Fique calmo, não pense nisso.
Baixou a cabeça, subindo mais rápido, desacelerando apenas ao ouvir a voz de Daisy dentro de sua cabeça.
Cal!
Ele olhou e a viu ali, de asas estendidas. Era como se fosse feita de magnésio incandescente, uma chama tão brilhante que mesmo com os olhos do anjo ele precisou virar o rosto.
Tudo bem?, perguntou ele.
Eu estava errada, falou ela. Parou ao lado dele, que arriscou olhar de novo, tendo a sensação de que pairava ao lado do sol. Cal, precisamos nos entregar. Os anjos querem que usemos nossas emoções, é o único jeito de ficarem fortes o bastante.
O quê? Como você sabe?
Apenas sei, disse ela. Tudo bem ficar assustado.
Não, ela estava errada. O medo o deixaria fraco. Tinha aprendido isso várias e várias vezes nas aulas de artes marciais — a manter o foco, a nunca ficar com raiva, nunca ter medo; do contrário, a derrota era certa. Concentre-se, deixe tudo passar por você, focalize, e então ataque.
Espere aqui, disse ele. Cuide de Adam.
Ignorou os protestos dela, disparando para cima até que a boca do homem estivesse próxima. Dali ela parecia grande o suficiente para engolir o mundo inteiro. Aqueles mesmos flashes de fogo irrompiam de dentro da carne fumacenta da garganta da besta, e lampejos de som ficavam aparecendo no peso ensurdecedor do silêncio, vozes-mentes que poderiam pertencer tanto a Brick quanto a Rilke. Cal estava equilibrado no limiar de um redemoinho, e cerrava os dentes diante do terror que era aquilo.
Ele foi com tudo, sentindo-se tragado para cima com tanta violência que achou que tivesse deixado o estômago para trás. Caiu na maçaroca que girava, sentindo o cheiro do ar e do mar nos vapores ao redor. O mundo abaixo ia encolhendo, pequenino e vulnerável em seu leito de noite sem fim. Em seguida, também desapareceu: a tempestade o engoliu.
Assim que entrou, Cal abriu as asas, a turbulência fazendo sua cabeça girar. Era como estar dentro de uma caverna, só que uma caverna feita de fumaça encaracolada. Nacos de terra e de cidade espiralavam em volta dele em uma dança silenciosa, desintegrando-se ao colidirem. Tudo ali convergia para um ponto distante, um pontinho de treva absoluta. Ela tinha razão, pensou ele. É um buraco negro. Entre ele e o buraco, preso no fluxo de matéria a girar, havia um orbe bruxuleante de fogo que tinha de ser Brick ou Rilke. Ou ambos, percebeu, ao ver duas formas ali dentro esperneando e lutando.
Brick!, chamou ele, velejando em sua direção. O vento espocava contra seus ouvidos, tentando agarrá-lo, e ele precisou usar toda sua força para resistir. Brick! Rilke!
Socorro!, gritou Brick. Raios dentados de eletricidade faiscavam deles, liberando uma energia fria e espinhenta que Cal era capaz de sentir contra a pele. Permitiu-se chegar mais perto e perdeu o equilíbrio, subitamente sendo atraído para a garganta. O empuxo era forte demais. Cal não conseguia manter-se ali. Se chegasse mais perto deles, correria o risco de ser estraçalhado.
Brick teria de esperar. Cal gritou. Ali, debaixo da couraça da tempestade, seu ataque foi como uma granada lançada por um foguete, mergulhando fundo na parede antes de explodir. Abriu a boca outra vez, deixando o anjo falar, um massacre de força que abriu caminho até o buraco negro à frente.
Cal sentiu a tempestade se agitar, um gigante afundando, mas a inspiração infinda estava mais forte do que nunca. Sentiu-se preso nela, seu anjo ardendo em força total, mas ainda sem poder resistir à corrente. Não era suficiente. Ele não era suficiente.
É sim, Cal, ouviu Daisy dizer, um sussurro no meio de sua mente. Mas você precisa usá-las, você precisa ser você.
Usar o quê? Suas emoções? Ele tinha visto o que aquilo tinha feito com Brick e Rilke. Tinha enlouquecido os dois. Ainda agora enxergava o modo como tinham se arranhado, se mordido, enfrentando-se no éter. Limpe a mente, concentre-se, ataque.
Confie em mim, Cal.
E ele então confiou. Mais do que tudo.
Respirou fundo, e então soltou: todo o medo, toda a tristeza, toda a confusão e toda a fúria, a sua fúria. Ela disparou no estômago, no coração, na cabeça, um fogo puro e branco que irrompeu de sua boca. O ar rugiu, um facho de luz cruzou a tempestade, cortando a pele da nuvem, perpassando a carne esfarrapada. Cal gritou até achar que iria virar do avesso. A emoção ainda fervilhava, um estoque infinito dela, uma vida inteira dela, dando-lhe força, dando poder ao anjo. Abriu a boca e gritou de novo, o mundo em volta dele finalmente se acendendo.
Rilke
Termosfera, 16h03
Rilke precisou fechar os olhos para se proteger do súbito brilho das explosões, mas não havia som, nem trovão, só os gritos patéticos do garoto em chamas.
Por favor, por favor, me deixe ir embora!
Não que ele ainda ardesse. Só havia um brilho débil cobrindo sua pele, e mesmo esse brilho se apagava e se acendia como uma vela ao vento. Rilke o mantinha à frente, usando as mãos que não eram realmente mãos para protegê-los. O mundo não era nada além de fumaça e sombra — não havia solo nem céu, só um túnel de trevas enrodilhadas pontuadas por explosões. Aquilo tentava sugá-los, mas as asas dela mantinham os dois parados. Estava tão cansada, e tão confusa, que não se lembrava se já tinha sido diferente. Quase tudo dentro dela estava gasto agora, mas tudo bem. Só tinha mais um trabalho a fazer, depois poderia ir para casa e ficar de novo com o irmão.
Porém, o menino em chamas não morria.
Estendeu as não mãos, apertando a cabeça do garoto. O fogo dele ardia onde ela encostava, crepitando e cuspindo. Era como uma segunda pele, encouraçada, que ela não podia atravessar. Mas toda boneca podia ser quebrada. Ela o sacudiu, batendo-o contra uma ilha flutuante de pedra, quebrando-a em mil pedacinhos.
Por favor, não sou quem você pensa!, gritou o garoto dentro da cabeça dela, sua voz como o zumbido de uma mosca-varejeira, inquietante. Por que ele não parava? Puxou-o de volta para si, mantendo-o parado, examinando o brilho derretido de seus olhos. Ele estendeu a mão para ela. Não o machuquei. Não fui eu.
Talvez ele não morresse porque estava dizendo a verdade. Será que ela podia acabar com ele se fosse inocente? Mas Schiller era inocente, e tinham acabado com ele. Tudo era muito confuso. Imaginou o irmão, seu belo rosto, tão parecido com o dela e, ao mesmo tempo, tão diferente. Seu cabelo loiro, aqueles olhos azuis grandes e redondos. As asas de fogo que se estendiam de suas costas...
Ei, isso não podia estar certo, podia? O irmão dela não era o garoto com asas.
Estendeu a mão, a mão que sempre fora dela, sentindo o buraco na cabeça, a dor que pulsava ali. Onde tinha arranjado aquilo? Quem tinha feito isso com ela? Tinha uma lembrança de uma figura em chamas, de um anjo com asas, ardendo em sua cabeça. A coisa na frente dela, aquele trapo chorão, não tinha nada a ver com aquilo.
O que ela estava fazendo?
As últimas reservas de força dela foram sugadas. Era demais. Tudo o que queria era estar com Schiller, de volta na biblioteca de casa, sentada junto da janela enorme, mergulhada em sol, respirando o ar pesado e poeirento. Sempre haviam estado em segurança ali, protegidos dos estranhos, protegidos da mãe, protegidos dos homens. Aquele era o espaço deles, sempre seria.
Schiller, disse ela. Soltou Brick mentalmente, o garoto já meio esquecido quando rolou para longe. Estou indo, disse ela. Espere por mim.
Ela não sabia para onde ir, mas, com certeza, se se limitasse a relaxar, chegaria lá. Ela recolheu as asas, sentindo a corrente de ar envolvê-la com uma mão fria, puxando-a. Não era isso o que acontecia quando você morria? Um túnel? Uma luz no final? Não havia nada no final deste túnel, ao menos nada que ela enxergasse, embora pressentisse a morte ali, mais real e mais certa do que qualquer outra coisa.
Socorro! Era o garoto em chamas de novo, flutuando ao lado dela, esperneando contra o ar. Ela o ignorou, sorrindo ao flutuar docemente pela corrente, para o fim de tudo, para o irmão, nos braços da morte.
Entregou-se à morte. Para ela, era o fim.
Daisy
Termosfera, 16h07
Daisy soltou mais um disparo do canhão que era sua boca, um míssil alimentado pelas emoções que a tomavam, o qual perfurou o rosto do homem na tempestade, explodindo na carne de fumaça. Agora já não havia quase mais nada dele, só aquela boca escancarada, um buraco no espaço que ficava girando, engolindo tudo o que conseguia.
Cal estava lá dentro em algum lugar. Brick e Rilke também. Estavam todos ainda vivos, isso Daisy sabia, mas a garota não sabia se estavam vencendo ou não. Explosões silenciosas lançavam teias de luz que ondulavam dentro da escuridão, e línguas de fogo protuberantes se esgueiravam pela pele de nuvem.
Daisy baixou o olhar para a tigela azul de seu planeta. Sempre parecera tão vasto, todo lugar sempre dando a impressão de ser tão longe. Agora, porém, ela podia estender os braços e segurá-lo entre eles. Parecia tão frágil.
Você não vai ficar com ele!, gritou, virando-se, abrindo a boca e soltando outro grito, um grito de cólera, que explodiu dentro da tempestade, sendo ecoado por outras três ou quatro detonações em sua garganta. Cal. Não havia sinal de Howie, mas ela podia ouvi-lo gritar. Adam estava perto, um pontinho de luz suspenso abaixo. Quase o chamou para perguntar se estava bem, antes de lembrar que ele não podia responder.
Não, não é que não podia. Não queria.
Ela parou, fechando a boca, lembrando-se do dia em que Adam chegara a Fursville. Estavam sentados em torno da mesa, tentando entender o que acontecia, apenas alguns dias — alguns milhões de anos — atrás. Era Brick, isso, fazendo tum-tum, tum-tum, assustando o menino. E Adam gritou, o som daquilo rasgando o ar, quebrando vidros, apagando a vela. O medo tinha feito isso com ele, o grito de seu anjo não nascido. O único som que fizera em todo o tempo em que o conheciam.
Adam!, chamou ela, mergulhando em sua direção. Parecia tão assustado, as pernas contra o peito, o rosto protegido pelos braços cruzados. Ele lembrava uma pequena tartaruga, mas com um casco de fogo. As asas reluzentes estavam estendidas, mantendo-o em órbita. Eram imensas e brilhantes.
Ela o puxou para perto com a mente e, em seguida, abraçou-o. O espaço entre os dois crepitava e cuspia, uma força invisível tentando separá-los; era como tentar manter uma boia debaixo d’água, mas Daisy segurou firme.
Sei que está com medo, disse ela. Sou eu, Adam, Daisy. Olhe para mim.
Ele ergueu a cabeça, aqueles olhos enormes e incandescentes sem jamais piscar. Daisy sorriu para ele, dolorida pelo esforço de mantê-lo próximo. Ela não o soltava.
Sei que tudo isso é muito louco. Mas confie em mim. Eu vou cuidar de você, Adam, sempre. Prometo. Tudo bem?
Ele fez que sim com a cabeça. Daisy olhou para trás e viu algo formar-se no caos da tempestade.
Sei que isso assusta, por isso tudo bem ficar com medo. Todos estamos com medo. Eu, Cal, o novo garoto, estamos todos com medo. Acho que é para ficarmos com medo.
Ele franziu o rosto, o próprio semblante parecendo o de um fantasma debaixo da pele de fogo.
É como... Ela tinha dificuldade para encontrar as palavras certas. É como quando uma coisa muito ruim acontece e você quer gritar, sabe? Mas você não grita porque não quer levar bronca. Sabe como é? Os seus pais brigavam com você quando você gritava?
Ele fez que sim com a cabeça, e ela visualizou uma imagem, emitida da cabeça dele para a dela, uma casinha, repleta de lixo — não havia um trechinho de chão visível embaixo da bagunça. Uma sala de estar, cheia de fumaça de cigarro fedorenta e do cheiro de vinho, mas não do vinho bom que a mãe e o pai dela às vezes compravam, e sim de algo mais forte e mais rançoso. Um quarto, também, repleto de brinquedos quebrados. Ali não era permitido fazer barulho, ainda que a televisão estivesse berrando no quarto ao lado, ainda que ela, Daisy, sentisse seu estômago — que não era realmente o seu — torcer de fome, ainda que ela estivesse com frio e cansada. Fazer barulho traria o homem, o homem que ela não via, mas que tinha um odor tão asqueroso e fétido quanto a casa. Melhor ficar em silêncio, guardar tudo, não chorar nunca.
Ah, Adam, falou ela. Era assim que eles eram, seu pai e sua mãe? Eram horrendos assim?
Ele esperneou para se afastar, como se estivesse com vergonha, mas ela continuou abraçando-o, como se o espaço entre eles estivesse prestes a explodir. Outra lembrança — Adam chorando no escuro depois de um pesadelo, uma figura abrindo com força a porta do quarto, irrompendo no ambiente, batendo nele com tanta força que o menino viu estrelas. Ela sentiu a dor como se fosse dela, o sangue na boca, a raiva também. Sentiu a confusão em sua barriga.
Ele batia em você?, perguntou ela, sem acreditar. Precisava se livrar daquilo; a sensação era horrível. Sentia Adam fazendo a mesma coisa, escondendo aquilo bem lá no fundo, onde não poderia lhe fazer mal.
Não, falou ela. Não fuja. Use isso! Todo esse negócio aí dentro, você precisa colocar para fora. É como uma parte ruim em um pêssego, um pedaço podre. Se você cortar, tudo bem, mas, se deixar, ele vai apodrecer tudo. Ela balançou a cabeça, tentando pensar em um jeito melhor de dizer aquilo. Você precisa pensar em tudo, em toda a raiva, em toda a tristeza, em todo o medo. Ponha para fora, Adam, por favor. Apenas grite, e grite, e grite!
A boca de Adam se abriu e ela quase conseguiu sentir, subindo em borbulhos dentro dele, anos e anos de tristeza e silêncio, uma represa prestes a se romper.
Isso!, falou ela. Sabia que você ia conseguir, eu sabia!
Estava quase lá, quase fora dele.
Os olhos de Adam se arregalaram, seu rosto se retorcendo em uma máscara de horror. Daisy levantou a cabeça, vendo tarde demais uma gui- lhotina de fumaça que caía bem em sua direção. Estendeu a mão antes de perceber que fazia isso, abrindo a porta do mundo, empurrando Adam por ela.
Você consegue, Adam. Eu te amo.
O ar entre eles explodiu como uma bomba quando se separaram, um incêndio de luz branca que a mandou girando espaço afora.
Cal
Termosfera, 16h13
Ela simplesmente sumiu.
Cal se virou e olhou através da fumaça. Em um instante, Daisy estava ali; no outro, tinha sido envolta em trevas, levada para longe. Procurou-a em sua cabeça, mas não podia dizer se era a voz dela ou só o eco.
Daisy?, chamou. Nenhuma resposta. Ele bateu as asas, indo contra a corrente, forçando um caminho para fora da tempestade. O ar acima irrompeu em cinzas, e uma figura apareceu ali. Adam franziu o rosto ao ver Cal, suas asas tendo espasmos enquanto tentava controlá-las.
O que aconteceu?, perguntou Cal. A resposta estava no rosto do garotinho no instante em que ele olhou o vazio. Ela tinha sumido. A raiva dentro de Cal fulgia, uma supernova que ardia em seu centro. Olhou para a tempestade, o homem espaçosamente deitado em seu leito de nuvem, engolindo o mundo. Ela era só uma menina! Seu canalha, era só uma menina! A tristeza era insuportável, como se o queimasse por dentro.
Olhou para Adam e viu em seus olhos estreitados a mesma indignação. O garotinho não sabia como lidar com aquilo, com o medo, a raiva.
Mas seu anjo sabia. Cal praticamente visualizava a emoção ali, além da névoa transparente de sua pele. Era algo que não se parecia com nada no mundo, átomo nenhum girando na órbita, nenhuma faísca elétrica, só uma bola de luz, mais brilhante que o sol, subindo pela garganta do garoto.
Grite!, disse Cal. Por favor.
Adam abriu a boca e berrou o nome de Daisy.
O grito se desprendeu dele como se um lança-chamas tivesse disparado com o rugido de uma turbina de avião, luminoso o bastante para sugar toda a cor do mundo. A onda de choque atingiu Cal como um punho, fazendo-o girar. Abriu as asas, vendo o fogo do garoto socar a tempestade, cortando seu caminho pelo rosto da besta. E ele parecia continuar interminavelmente. Podia não ter mais ar nos pulmões, mas mesmo assim berrava, num incêndio que iluminava o céu.
Cal sentiu as engrenagens da mente protestarem ao ver aquilo, a imponderabilidade daquilo. Era demais. O anjo dentro dele pareceu alimentar-se do que havia de febril em sua emoção, tirando-a da alma, expulsando-a pela garganta. Cal sufocou-se com ela, engasgando enquanto cada coisa ruim da vida era subitamente regurgitada. Pensou em Daisy, sempre sorrindo, sempre corajosa, sempre pronta para abraçá-lo com aqueles bracinhos de palito. Tudo aquilo tinha acabado. Ela tinha acabado.
Ele urrou para a tempestade, cuspindo um incêndio de luz e chamas, purgando-se. O ar sacudiu com o poder daquilo, o mundo abaixo gemendo enquanto a física da qual ele dependia começava a fraturar-se. As vozes dos dois ardiam incansavelmente — sua fúria sem fim, sem misericórdia.
O fogo deles estava afastando as nuvens da tempestade, revelando as pálidas fendas de carne estendidas abaixo. O motor daquela boca estava falhando, girando e depois parando, girando e depois parando. As trevas se afastaram, como se a besta vomitasse o vazio atrás do universo.
Mesmo assim, Cal gritava, ainda que tivesse a sensação de que se afogava, ainda que seu cérebro lhe pedisse para parar. Mas não achava que seria possível, nem se quisesse. Sentia-se um fantasma, como se não tivesse mais lugar dentro da carne e dos ossos de seu corpo. Se morresse agora, não faria diferença, porque seu anjo estava ali. Tinha se encaixado em sua pele como um sobretudo. Achara um jeito de se fazer real.
Essa ideia era assustadora, e seu medo alimentava ainda mais o fogo, que ardia entre seus lábios enquanto gritava, gritava e gritava.
Daisy
Espaço, 16h19
Era o túmulo dela. Um túmulo sem fim.
O punho de fumaça a envolveu, assim como envolvera o poço. Só que, desta vez, não a atraía para o homem na tempestade, mas a projetava para longe dele, do planeta, dos amigos. O caracol de noite liquefeita a devorava por dentro, espalhando-se pela boca e pelo rosto, sufocando-a, cegando-a. Seu anjo trabalhava com força total, combatendo-o. Mas ele não duraria muito mais. Ela podia sentir sua dor em cada célula, sua exaustão. Morreriam juntos, no vácuo frio e escuro do espaço.
Não, era horrível demais. Não queria que tudo acabasse ali, onde não havia sol, nem pássaros, nem flores. Como ela encontraria a mãe e o pai? Atacou-o com os dedos, rasgando a máscara mortuária, descamando-a a tempo de ver um enorme medalhão de prata no céu à frente. Sua mente em pânico precisou de um instante para entender que era a lua, e uma batida de coração depois ela a atingiu, socando através da rocha branca. Outra vez estrondeou em uma enxurrada de detritos, mas não conseguiu desacelerar. Sentia-se um peixe enganchado por uma farpa sombria sendo puxado para fora do oceano.
Estava ficando mais frio, e algo acontecia com sua cabeça — a visão dela começava a falhar. A fumaça a envolveu como se a morte já a possuísse, tudo escuro, silencioso, tirando o zumbido martelante do coração do anjo. Aquilo a estava digerindo, dissolvendo. Quando atacou a fumaça de novo, não havia sinal da terra, nem sinal de nada que não fossem as estrelas.
Não!, gritou. Desta vez, achou que ouviu uma resposta, em algum lugar lá no fundo de si. Era uma voz que conhecia, mas precisou esperar que ela voltasse antes de acreditar. Mãe? É você?
Não era. Como poderia ser? Era só uma parte do cérebro dela tentando mantê-la calma. Não se importava. Como era bom rever a mãe e o pai na luz hesitante da imaginação. A dor escavava as costas dela à medida que a fumaça a sulcava, seu fogo se reduzindo. Quando acabasse, não teria mais defesas contra a tempestade. Ao menos, seria rápido.
Fechou os olhos. Os pais estavam ali, e ela sorriu para eles. Parecia ter sido tanto tempo atrás. Levou-se até eles, de volta ao dia em que tinham feito um piquenique no jardim. A mãe estava fraca demais para percorrer qualquer distância que fosse, mas tinha chegado ao quintal com a ajuda deles, e estava deitada no cobertor à sombra da árvore do vizinho. Um dos gatos da sra. Baird tentara fugir com o almoço do pai enquanto ele estava na cozinha fazendo chá. Daisy o afugentou até metade do caminho rumo à cerca, pegando a coxa de galinha do leito de flores e limpando-a.
— Ele nem vai reparar — dissera à mãe.
O pai voltou e deu uma mordida, e ela e a mãe rolaram pelo chão, rindo com tanta força que Daisy nem conseguia respirar, especialmente quando ele tirou um pelo de gato dos dentes.
Daisy ria agora. O zumbido do anjo ficou mais alto, e ela pôde sentir o súbito rugido de seu fogo quando ele se acendeu.
Ele está rindo também, percebeu. A sensação era diferente de tudo o que já havia sentido, como se seu corpo inteiro fosse feito de som. Mesmo que estivesse, como de fato estava, longe demais para encontrar o caminho de volta, mesmo que a fumaça quisesse enterrá-la no nada infinito do universo, ela sorria.
O que mais havia? A vez que tinham ido a uma fazenda de salmão na Escócia, e o pai tentara andar no teleférico acima do lago. Ele sentou do lado errado e acabou dentro d’água até a cintura — embora tivesse passado o dia inteiro dizendo a ela para não se molhar. Tiveram de mandar o bote resgatá-lo. Ela riu, a barriga doendo, o fogo ardendo como se tivesse colocado uma boca de fogão na potência máxima.
Não entendia de onde vinham essas memórias, mas sua cabeça de repente estava repleta delas, cada uma mais brilhante do que a outra. Seu anjo parecia uma criança ouvindo música pela primeira vez, com fogo por fora e por dentro. Seu próprio riso pulsava de cada poro, absolutamente desconhecido e familiar ao mesmo tempo. Era um não som na mente, um badalar como o de sinos. Ele talhava a fumaça como uma coisa física, cortando-a, soltando faixas de noite que se retorciam.
Você é ridículo!, disse ela, falando com o homem na tempestade, com a besta que bramia no céu distante. Poderia comer tudo o que quisesse, mas jamais poderia vencer, jamais. Como poderia triunfar enquanto houvesse riso no mundo? Eu não tenho medo de você, você é uma piada, você não passa de uma piada!
O riso dela — o riso do anjo — explodiu contra a fumaça, quebrando-a em feixes. Do outro lado, havia uma extensão de estrelas tão imensa que Daisy não podia absorver tudo com o olhar. Era como se estivesse suspensa no centro de um vasto planeta vazio cuja crosta fosse cravejada de diamantes. Eram milhões, bilhões, de cores diferentes, todas muito distantes. Ela girava, hipnotizada, aterrorizada, pensando: qual é o meu planeta? Ah, meu Deus, qual? Mesmo com os olhos do anjo, todas as estrelas pareciam iguais. Podia voar para qualquer uma delas só com um pensamento, mas precisaria de todo o tempo que lhe restava para achar o caminho de casa. Morreria ali, mas não precisava morrer sozinha.
Fechou as asas em torno de si, deixando as lembranças escorrerem por ela como a luz do dia. O anjo as bebia, nutrindo-se delas, ficando mais forte, seu fogo tão brilhante que ela sentiu que precisava recuar um passo na própria cabeça. Ele queria mais, e ela entendeu.
Começou a buscar mais memórias. A vez em que a cadeira de Chloe quebrou enquanto ela estava sentada na aula de inglês, e ela praticamente saíra rolando porta afora. Daisy tinha quase feito xixi nas calças de tanto rir.
Apesar do medo, Daisy ria, o anjo ria, o som daquilo expulsando o fim da fumaça. Desta vez, até o vácuo do espaço permitia, o som ecoando em seus ouvidos. No caminho todo até ali, só tinha havido ausência. Nada mais do que ausência, infinita e insuportável. Aquele lugar, o vazio entre as estrelas, era o que ele gostava, o homem na tempestade. Ele queria deletar tudo para que só restasse aquilo.
Bom, ela não deixaria, de jeito nenhum. Preencheria tudo com riso.
Desta vez, Fursville, andar nos cavalos do carrossel com Adam e Jade. Depois brincar de pega-pega, perseguindo uns aos outros no chão ensolarado, as pernas magricelas de Brick escorregando no cascalho, seu riso agudo e surpreendente. A Fúria não importava. Nada importava. Ali, naquela hora, apesar de tudo, tinha sido feliz.
Ela riu, o anjo ardeu, tomado pela maravilha de tudo aquilo. Ele emanou um badalo silencioso que cortou o vácuo e encontrou um eco nos outros anjos, um chamado que conduzia ao lar.
Daisy estendeu as asas, sintonizou-se, ardeu e se consumiu.
Brick
Termosfera, 16h27
Brick nadava contra uma corrente que era forte demais para ele, braços e pernas inúteis contra o fluxo de ar. Ainda ardia, mas não tinha energia para se transportar. Rilke tinha feito seu melhor para matá-lo e devia ter chegado perto, porque tudo nele doía, tudo parecia fora de lugar. Seu anjo tinha aguentado o que podia, e agora funcionava com quase nada.
A tempestade seguia enfurecida em volta dele, sugando-o para sua garganta, de volta ao buraco no fim do mundo. Pedaços de planeta passavam flutuando, rompendo-se no caminho, e através dos detritos Brick a vislumbrava, vislumbrava Rilke, brilhando como o sol mas recusando-se a lutar. Ele não entendia o que ela estava fazendo. Era como se tivesse desistido. Se quisesse, ela poderia tirar os dois dali. Estava ferida, sim, mas só seu corpo humano. O anjo ainda funcionava com força total.
Rilke!, chamou ele de novo, no que devia ter sido a centésima vez. Por favor, não faça isso!
A tempestade se agitou, aquela mesma artilharia detonando em algum lugar do lado de fora. Agora havia também outra coisa, algo que rugia mais alto do que o furacão. O que quer que fosse, tinha de estar funcionando, porque as nuvens giravam mais devagar, e a corrente estava mais fraca.
Mas não fraca o suficiente. Ele deslizava pelo esôfago da besta, sem conseguir firmar-se. Ela ia engoli-lo inteiro, no vazio infinito de seu estômago. Essa ideia — de uma eternidade de nada, de uma eternidade sozinho — o fazia uivar, o som saindo tanto dele quanto do anjo. Não queria morrer sozinho. Tinha ficado sozinho por tempo demais, sem deixar ninguém entrar em sua vida, nem mesmo Lisa. Sua raiva sempre o tinha preenchido, nunca dera espaço para mais nada.
Rilke, espere!, clamou. Se ela ouvia, não dava sinal, flutuando contra a corrente em sua teia de fogo. Ele esperneava em pleno ar, sentindo-se um paraquedista em queda livre. Resistir à corrente era uma coisa, mas cruzá-la era outra. Ela estava ligeiramente à frente dele, e ele girava braços e pernas, aproximando-se — Espere, pelo amor de Deus! — talvez dez metros, depois cinco.
O ar entre eles começou a faiscar, como se alguém soltasse fogos de artifício. Dedos invisíveis puxaram-no de volta, e ele pensou que poderia ser ela tentando afastá-lo. Porém, ela sorria, como se estivesse no meio de um sonho acordado.
Rilke!, disse ele, usando o que restava de força para se empurrar na direção dela. Raios de energia zapearam por seu braço quando pegou o pé dela. Ele a escalou como se ela fosse uma escada, assustado demais para se soltar. Exatamente como antes, quando brigavam, o zumbido de seus corações ficou mais agudo, soando como se estivessem prestes a estourar. Ele a abraçou, grato apenas por ter alguém ao lado enquanto girava rumo ao fim.
O que você quer?, perguntou Rilke, mirando às cegas da concha que era seu corpo.
O que ele deveria dizer? Que não queria estar sozinho quando fosse devorado pela besta? Não respondeu, só continuou agarrado a ela. Não ia demorar muito mais, o buraco negro bem à frente, nuvens de matéria espiralando-se em volta dele, sendo esmagadas até virar poeira e sendo depois sugadas. Até o som estava sendo puxado, restando apenas o silêncio.
Não é tarde demais, disse ele, com a voz muito alta naquele silêncio. Você pode tirar a gente daqui.
Estou cansada, respondeu ela. Só quero ir para casa. Quero ver Schiller.
A tempestade sacudiu de novo, pedaços dela desabando enquanto o ataque continuava do lado de fora. Ele se agarrou a Rilke com os braços trêmulos, sentindo a pressão aumentar entre eles. Não poderia se segurar por muito mais tempo, mas não precisava. Em segundos, apenas desintegraria; seria como se nunca tivesse existido.
Não queremos você aqui, disse Rilke. Enfim os olhos dela se voltaram para ele, duas poças de chumbo derretido e uma terceira no meio da testa, aquela que ele tinha feito. Ela ergueu os braços e o empurrou, mas ele se manteve preso a ela com toda a força. Só eu e meu irmão. Vá embora.
Não, falou ele.
Vá embora!
Ela o empurrou com força, escorregando das mãos dele. Os dois estavam agora no silêncio profundo e ensurdecedor, deslizando para o buraco negro. Rilke já se desfazia, pedaços dela se soltando como se fosse feita de areia. O anjo ardia, tentando mantê-la integrada. Brick puxou-a para perto outra vez, seu terror tão intenso que não encontrava semblante através do qual se revelar. O ar entre eles pulsava, cuspindo fogo líquido, mas Brick enfrentava aquilo. Não se soltaria, não encararia o fim sozinho.
Um clarão ofuscante surgiu e, de repente, ele estava dentro de uma sala, uma biblioteca, observando grãos de poeira vagando preguiçosamente entre as prateleiras. Schiller estava sentado em uma janela na frente dele, a respiração umedecendo o vidro. Não havia nada ali além de dourado, como se a sala flutuasse em um oceano de luz solar. Brick chorava, mas entendia que as lágrimas não eram dele, que pertenciam a outra pessoa, a Rilke.
— Ele se foi — disse Schiller, voltando-se para Rilke, para Brick. — Não vou deixá-lo machucar você de novo, prometo.
— Eu sei, irmãozinho, eu sei — ele se ouviu dizer. — Vamos proteger um ao outro, para sempre. Eu te amo.
Schiller se inclinou para a frente e o abraçou, e a memória — Aquilo era uma memória? — esvaneceu. Tinha sido tão real que Brick quase esquecera o homem na tempestade, o buraco negro no fundo da garganta dele. Olhava para Rilke, vendo a vida dela como se tivesse sido a dele: o pai sumido há tempos, a mãe louca, e o homem, o homem mau que dizia ser médico. Seu rosto apareceu, o bafo de café e álcool, as unhas compridas e sujas. Brick quase berrou, forçando a memória a se afastar, a dor que vinha com ela. Esperneava, tentando ficar preso a Rilke, sabendo que ela precisava dele tanto quanto ele precisava dela.
Não preciso, disse ela. Eu tenho Schiller. Sempre vou ter Schiller.
Ele não está lá dentro, falou Brick, ambos se dissolvendo na luz sombria do buraco negro. Não tem nada lá, está vazio. Schiller se foi.
Os olhos deles se encontraram, e ele percebeu que, lá no fundo, além da loucura, além da exaustão, ela sabia a verdade.
Não importa, disse ela. Vou encontrá-lo.
Rilke sorriu, os lábios explodindo em cinzas. Brick sentiu os dedos escorregarem quando o corpo dela se desfez, tentando pegá-la com as mãos em concha, juntá-la. Assim que se separaram, o ar entre eles se acendeu, a mesma explosão nuclear de antes fazendo-o subir de volta pela garganta da besta. Rolava como um pião, impelido por uma onda de energia. Chamou Rilke, tentando alcançá-la com as mãos, com a mente, tentando levá-la junto.
Mas era tarde demais. Ela se fora.
Cal
Termosfera, 16h29
Ele cuspia fogo, e a tempestade queimava.
A besta se desfazia, seu corpo virando fumaça, só a boca ainda suspensa acima do chão, ainda escancarada. Mesmo ela perdia sua força, sua inspiração não muito além de um sussurro. Nacos de detritos semidigeridos caíam dela, junto com fios bruxuleantes de luz negra. Era quase como se o homem na tempestade virasse a si mesmo do avesso.
Adam pairava como um dragão, com a mesma pluma de fogo integrado rugindo dos lábios. Howie também urrava jatos de magma da boca. Os dois faziam o céu tremer. Cal em momento nenhum parou de pensar em Daisy, a tristeza e a raiva alimentando o incêndio dentro dele. Nunca pararia de pensar nela.
Isso é muito fofo, disse uma voz, a voz dela. O choque cortou o grito ardente do anjo, e Cal olhou para o firmamento. Uma das estrelas se movia, caindo em direção à terra. Ela emanava um som, e ele precisou de um instante para perceber que era riso.
Daisy? Mas como?!
Não sei, disse ela, bruxuleando fora de seu campo de visão antes de reaparecer ao lado dele em um halo de cinzas incandescentes. Ele a mirou, boquiaberto, e ela riu ainda mais.
Vai engolir uma mosca se ficar com a boca aberta desse jeito.
Então ela se jogou nos braços dele, o ar entre os dois estalando em protesto. Ele abriu um sorriso enorme, abraçando-a com toda a força. O alívio era como um rio irrompendo em sua alma.
Use-o, disse ela, desvencilhando-se e olhando a besta.
O quê?
Isto, disse ela, apontando o peito dele. Isto.
Ele usou, rindo um relâmpago de fogo que flagelou a treva evanescente da tempestade. Daisy fazia a mesma coisa, o som das risadas como um canto de pássaro. Adam tinha parado para recuperar o fôlego, e, ao ver Daisy, também começou a rir. Não só ele, mas também o anjo. Cada jato de som era uma arma que rasgava o vazio acima de suas cabeças.
O homem na tempestade tentava arder e sumir, mas suas asas estavam em farrapos. Os cotocos se moviam em espasmos, como os de um corvo ferido, o relâmpago apenas ondulando na superfície. O ar estava repleto de movimento, uma saraivada de penas negras caindo. Ele já não emitia nenhum som, só os estertores lamentáveis de uma coisa moribunda. Um último suspiro desesperado.
Uma pérola de luz branca apareceu no coração das trevas, parando um momento como uma gota de orvalho. Ela se expandiu em um instante, como uma supernova silenciosa. Cal mergulhou a cabeça no braço e, quando olhou de novo, a besta estava perdida no silêncio. Uma figura solitária precipitava-se do inferno frio, girando pelo ar como uma boneca de pano em chamas.
Brick, disse ele. Mas Daisy já estava em seu encalço, voando para longe da existência e reaparecendo quase instantaneamente com o outro garoto nos braços. Ele estava vivo, mas por um triz, toda parte dele despojada do fogo do anjo, exceto os olhos. Tinha perdido as asas: uma por completo, e a outra parecia um lenço pendendo do ombro.
Tudo bem, cara?, perguntou Cal.
Rilke, disse ele. Cal procurou-a na mente, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele olhou para Daisy, os olhares se encontrando, e ela também entendeu. Rilke tinha desaparecido, mas levara consigo meia tempestade.
Vamos, disse Cal. Não havia praticamente mais nada dele, sua mente e seu corpo vazios. Mas havia o suficiente. Cal bateu as asas, subindo rumo à tempestade. As nuvens se dissipavam agora, como ratos desertando de um navio que afundava. Atrás delas havia um espantalho de carne velha, uma ferida aberta que emitia luz negra. Tinha chegado ao fim. Estava morto. Terminado. Vamos acabar com isso de uma vez.
A Fúria
Termosfera, 16h32
Cal lutava. Disparava com cada pedaço de si, com cada resto de emoção. O anjo fazia o que fazia, convertendo-a em energia, em fogo, urrando contra a besta. O homem na tempestade agora não era nem uma coisa nem outra. Tudo nele tinha sido praticamente arrancado, deixando apenas aquele núcleo giratório, aquele orbe negro, como um mármore de obsidiana no céu. Até isso encolhia, a luz negra se extinguindo. Assim como os anjos, ela não podia resistir sozinha, pensou Cal. Sem seu hospedeiro, não era nada. Bombeava ondas de silêncio ensurdecedor, cada qual como um grito invertido. Cal sentia que seu corpo nem lhe pertencia mais. Sentia-se desajeitado por dentro, como se operasse uma máquina desconhecida. Mas não importava. Sentia a alegria emergir, subindo pela garganta e ardendo de sua boca. Nada mais importava, porque tinham derrotado a besta; tinham vencido.
Brick lutava, ainda que não conseguisse segurar o próprio peso. Daisy o mantinha suspenso no ar, a mente como uma correia em volta dele. Ele mal enxergava. Sua cabeça era um caos de ruído branco. Mas sabia o que fazer, os braços pelo éter, de algum modo encontrando a energia para atacar o que restava da tempestade. Tudo em que conseguia pensar era Rilke. A garota que tinha matado Lisa, que tinha tentado matá-lo; a garota cujo irmão fora assassinado; a garota cuja mente ele destruíra, cuja sanidade ele tinha arrancado pelo buraco em sua cabeça; a garota que fora tão triste, tão enfurecida, que se recusava a conversar com todo mundo sobre isso, inclusive com o irmão — tão parecida com Brick, tão parecida com ele. Não a entendia, nem o que tinha acontecido, mas a raiva dela agora pertencia a ele, e ele podia usá-la, como aliás o fez, gritando até a besta sumir. Esta é por você, Rilke, sinto muito, espero que encontre seu irmão. De verdade, sinto muito, sinto muito, sinto muito...
Howie lutava, o fogo dentro de si tão natural que ele se perguntava se tinha sido sempre assim, se tinha acabado de acordar de um sonho de uma vida normal, de um sonho de uma família perto do mar, com amigos, com noites na praia bebendo rum. Como qualquer coisa ali poderia ser real? Tudo parecia artificial demais, algo que ele poderia ter visto na TV. A verdade é que agora era uma criatura cuja energia era capaz de destroçar o mundo com apenas uma palavra. A tempestade era agora um trêmulo floquinho de sombra na tela brilhante do espaço. Ela bruxuleava, raízes venenosas de luz crescendo dela, sumindo quase de imediato. Howie atacava, pisoteando-a com a mente como se esmagasse um besouro, de novo, de novo e de novo. O som era como o do trovão. Não queria adormecer nunca, nunca voltar para a vida de sonho, para o lugar em que não tinha força. E seu anjo também não queria, percebeu ele, porque, se o deixasse, o único lugar para onde iria era a escuridão, a gelidez, o lugar fora do tempo. Ele se agarrava ao anjo, sentindo seu fogo congelante arder dentro da alma, rindo.
Adam lutava, gritando para a besta, vendo o rosto da mãe no céu, o do pai também. Tinha tanta raiva deles, ele os odiava. Durante aqueles anos todos, o tinham mandado calar a boca, ficar quieto, parar de reclamar, parar de chorar. Não mais.
— Agora quem fala sou eu! — gritou ele, e a voz era ainda mais alta do que a da mãe e a do pai quando berravam, mais alta ainda do que a do homem na tempestade. Era a coisa mais alta do mundo, e era dele. — Estou falando, e vocês não podem fazer nada! — Ele não permitiria que o machucassem nunca mais, não toleraria aquilo. Nunca mais queria vê-los, e não precisava se não quisesse. Moraria com Daisy, com Cal, talvez até com Brick, apesar de ele resmungar o tempo todo. Ele olhou para eles, que reluziam ao sol como enfeites de árvore de Natal. Eram todos feitos de fogo, exatamente como ele. Eram seus irmãos e irmã, e ele os amava tanto que seu coração doía. Gritavam para o céu e ele também, todos juntos, tal como seria para sempre.
Daisy lutava. Não parecia que lutava, porém, porque tudo o que fazia era rir. Aquilo borbulhava dentro dela como se tivesse ficado represado um milhão de anos, mas enfim em liberdade. Não conseguiria parar nem se quisesse. Cada risada era uma chama dourada despejada pela boca, lembrando-a do vapor que saía por ela em dias frios. Elas subiam até o homem na tempestade, indo parar em sua pele velha e nojenta, sufocando-o. Não que ainda restasse muito dele; só um círculo de trevas, um buraco gigante afundado no céu. Ele ficava menor e mais pálido, o universo em processo de cura. Daisy abriu as asas e voou até ele, ainda rindo de alívio. O anjo ria também, o zumbido como um diapasão, fazendo com que cada célula em seu corpo parecesse mais leve do que o ar. A tempestade tinha se encolhido para longe dela, que chegou a sentir pena da besta, porque jamais poderia saber o que ela sentia. A besta — embora não fosse realmente uma besta, pois, diferente de um animal ou uma pessoa, não estava de fato viva — vagava pelo vazio frio e escuro do espaço procurando vida, porque não a suportava. Tudo o que conhecia era o nada, a ausência. Para ela, este mundo era um equívoco, uma lacuna horrenda nas regras, algo que não podia ser tolerado, que tinha de ser reequilibrado, ajustado. Mas ela não contara com os anjos, nem com as pessoas. E, por certo, não contara com o riso. Se havia algum oposto exato do vazio, daquele nada infinito que ela tanto amara, tinha de ser o riso, não tinha? Não havia nada mais humano. Daisy lutava contra a tempestade, atingindo-a, ela que agora não passava de um grão de poeira que a garota podia prender entre dois dedos, logo menor do que os diminutos átomos que compunham o ar, enfim tão pequena que nem os olhos do anjo de Daisy a entreviam, pequenina o bastante para cair no meio das fendas do mundo. Uma única centelha de relâmpago negro bruxuleou pelo céu, e então Daisy sentiu seu fim, tudo o que ela era irrompendo em uma explosão ondulante. A onda de choque lançou-a para trás, e ela ardeu para fora do tempo e do espaço, levando consigo os outros, surfando ao som do riso até chegar em casa.
Noite
Do tempo triste somos os arrimos;
digamos tão somente o que sentimos.
Muito o velho sofreu; mais desgraçada
nossa velhice não será em nada.
William Shakespeare, O Rei Lear
Cal
Hemmingway, 16h47
De início, não sabia onde estavam. Então o mundo os alcançou, envolvendo-os com seu braço, e, através do halo espiralante de cinzas, ele o reconheceu. À direita estava o mar, ainda perturbado, mesmo após aquele tempo todo. À esquerda havia um estacionamento e uma pequena construção achatada com as portas presas com tábuas. O chão ainda estava coberto de cinzas — menos agora, mas o suficiente para mostrar pegadas, e também marcas de pneu, de quando haviam partido naquela manhã. Tudo parecia diferente aos olhos do anjo, mas, quando foi para dentro da mente a fim de tentar se desconectar do fogo, nada aconteceu.
Acabou? A voz era de Brick, e Cal, virando-se, viu-o deitado no chão, apoiado contra a duna. Seu fogo ainda ardia, mesmo que fraco, e o garoto se arrastava desconfortável nele. Seus grandes olhos brilhantes piscavam.
Melhor que tenha acabado, falou Howie, pairando acima do chão ao lado dos banheiros, com as asas semidobradas. Porque eu estou completamente acabado.
Acho que acabou, sim, disse Daisy. Ela e Adam ficaram lado a lado, os anjos zumbindo alto o suficiente para erguer areia e cinzas em uma dança. Outro ruído veio dela, um badalo de cristal que criou uma sensação estranha na cabeça de Cal. O homem na tempestade está morto.
Tem certeza?, perguntou Brick. Daisy inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse ouvir algo. Após alguns instantes, ela fez que sim.
Tenho certeza. Você não sente? Ele se foi.
Cal sentia, e era a sensação como a de ter comido algo ruim, algo que o deixara nauseado por dias e mais dias, e ele finalmente o vomitara. Perguntava-se se o anjo também estava aliviado, porque sua cabeça parecia diferente. Sentia-se pegando carona dentro do próprio crânio, impelido para um lado pelo gelo da criatura. Não conseguia entender se a sensação era resultado de um ferimento, de algo que tinha acontecido durante a batalha, mas, quando pôs as mãos na cabeça, no corpo, não parecia estar faltando nada.
Não consigo me desconectar dele, disse Brick. O garoto maior se retorcia na areia e na cinza, sua única asa se arrastando embaixo dele como um membro mutilado. Ele não vai embora.
Cal tentou de novo, apertando aquele interruptor invisível que o colocava de volta no controle do corpo. Nada aconteceu, e teve um ligeiro vislumbre de pânico no estômago. O anjo pareceu gostar, sua segunda pele se acendendo, bombeando aquele mesmo pulsar que entorpecia a mente. Fique calmo, fique calmo, falou a si mesmo, mas, de repente, a veste de chamas pareceu errada, como se vestisse a carne de outra pessoa. Não queria mais ver através dos olhos do anjo, não queria ver os mecanismos secretos do mundo, os pequenos motores atômicos que giravam incansavelmente; não queria sentir o vazio imenso e escancarado que aguardava bem do outro lado da concha de papel da realidade. Ele deu de ombros, tentando libertar-se, mas o anjo estava bem no meio de sua cabeça, sufocando seus pensamentos.
O que está acontecendo?, perguntou ele.
Faça ele ir embora!, gritou Brick, agora de pé, agitando os braços diante do rosto como se estivesse em meio a um enxame de abelhas. O medo do garoto era contagioso. Howie começava a coçar o incêndio à sua volta, suas asas cortando a parede de um banheiro e transformando-a em pó. Adam choramingava, cada chorinho fazendo o ar tremer ao derramar-se dos lábios.
Esperem, está tudo bem!, falou Daisy. Não se assustem!
— Vá embora! — Agora Brick gritava, as palavras como socos através das dunas, mandando bolos de areia para a espuma branca do mar. — Vá embora! Já terminamos, não precisamos mais de vocês!
Brick! Chega!
Cal mordeu o lábio para conter o pânico e viu Daisy flutuar, carregando Brick nos braços. Foi como observar mãe e filho, e Brick logo se acalmou, ainda que o espaço entre eles tenha criado um show de fogos de artifícios. Ela o soltou, com o baque de um pulsar de energia escapando, levantando redemoinhos de poeira.
Mas eu não consigo desligar, disse Brick, as mãos apertando as têmporas. Ele não sai da minha cabeça.
Eles... Ela procurava as palavras. Eles não querem voltar para o lugar de onde vieram. Lá é frio e escuro.
Aqui eles não podem ficar, disse Brick, agora se socando. A cabeça é minha, está ouvindo? Vá embora!
Chega, falou Daisy, dando-lhe a mão. Quanto mais emotivo você ficar, pior vai ser. É isso que eles querem, emoções. Estão se alimentando dessa raiva toda.
Você falou para nós que era isso que devíamos fazer, argumentou ele, com seus olhos ardentes fixos nela. Você nos disse para usar isso. A culpa é sua!
Pare com isso, cara, disse Cal. Se ela não tivesse dito isso, agora estaríamos mortos, entendeu? Dê um tempo pra ela.
Vá para o inferno, Cal, Brick resmungou. Não pedi que nada disso acontecesse. Ele torceu a cabeça para cima, gemendo. Consigo sentir ele aqui dentro. Saia, saia, SAIA!
Daisy olhou para Cal, o rosto dela cheio de tristeza. Aquele som de badalo tinha ido embora, e o ar parecia mais pesado por causa disso.
Eles ficam muito sozinhos lá, falou ela. Eles detestam. Não podem ficar?
Se ficarem, nós vamos morrer, respondeu ele. É a Fúria, Daisy. Assim que qualquer pessoa se aproximar de nós, vai querer nos destroçar. Não podemos nos esconder para sempre, é só uma questão de tempo. Ele pensou na criatura dentro de si, na coisa que o mantivera vivo, e sentiu-se inexplicavelmente culpado ao dizer: Fale para irem embora; é o único jeito. Você consegue?
Daisy olhava o mar, mas, na verdade, enxergava outra coisa. Cal tentou espreitar os pensamentos dela, mas o que sentiu ali — uma pressão no peito dele, na garganta — era insuportável.
Daisy?, perguntou ele. Ela o olhou e sorriu, o sorriso mais triste que ele já vira.
Acho que sei o que preciso fazer.
Daisy
Hemmingway, 16h59
Ela não sabia por que os tinha levado de volta para aquele lugar, Hemmingway. Agora ali era a casa, imaginava ela, a única que tinha. A única de que precisava. Parecia ter sido séculos atrás quando ela e Cal entraram de carro naquele estacionamento, e uma vida inteira quando saíram. Parecia ter passado anos ali, na beira do mar, ao sol, com Cal, Brick, Adam e os outros. Mas os anos — e os segundos, minutos, horas, dias — eram diferentes agora. O tempo era uma coisa fragmentada.
Casa. Ela tinha sido feliz ali. Não o tempo todo, claro. Tinha ficado doente, com medo e com raiva também, de Rilke, de Brick e de todos os furiosos, e sobretudo do homem na tempestade. Mas ter encontrado nem que fosse um pouquinho de felicidade no meio daquilo tudo tinha sido como quando o sol irrompe pela nuvem mais pesada, pintando o mundo de dourado. Sim, ela tinha sido feliz ali. Sempre seria feliz ali.
Eles também podiam ser felizes ali, os anjos. Por que eles precisavam voltar para seu lugar de origem só porque seu trabalho tinha terminado? Eles não eram máquinas prontas para serem guardadas de volta no armário. Daisy lembrou-se de ter pensado que os anjos eram como robôs, armas sem alma a serem usadas na guerra contra a besta. Mas estava equivocada. Eram mais como bebês que aprendiam a usar suas emoções pela primeira vez, descobrindo todas as coisas maravilhosas que poderiam sentir. Não tinham nada de seu, disso ela tinha bastante certeza, mas isso não significava que não podiam sentir o que ela sentia.
E quem iria querer voltar para um lugar vazio e horrendo para sempre se pudesse ficar aqui, rindo, amando, em meio a tudo o que é bom? No momento exato em que ela pensou isso, sentiu seu anjo rir, aquele diapasão invadindo o ar, tão diferente do riso humano e, mesmo assim, tão inconfundível. Riu também.
Como assim?, perguntou Cal. O que você precisa fazer?
Ela sorriu de novo, olhando o anjo que estava dentro da alma dele. Ainda não entendia o que eles eram de verdade, nem de onde vinham. Como poderia? Aquelas coisas eram mais velhas do que o tempo, mais velhas do que o universo. Haviam estado ali desde sempre, em plena existência eterna. E também o homem na tempestade. Ele era o para sempre, os zilênios intemporais e vazios. Só de tentar pensar naquilo, a cabeça dela doeu, por isso, parou. Nada daquilo importava, não agora que tinham encontrado um lar. Estava cansada, os anjos estavam cansados. Era hora do repouso.
Aproximou-se de Brick, o garoto esperneando em seu traje de fogo. Mas que bebezão ele era.
Brick, chamou ela. Ele a ignorou, os braços girando como se ele de algum modo pudesse puxar-se para fora do próprio corpo. Brick!, repetiu, tocando o ombro dele. Ele franziu o rosto e a olhou zangado.
Simplesmente tire ele de mim!, disse ele.
Quero que me escute, respondeu ela. Quero que fique menos zangado. E também menos egoísta. Ele ia começar a responder, mas algo na expressão dela o deteve. As coisas se tornam mais fáceis quando a gente é legal, não é? E não custa nada.
Do que você está falando?, perguntou ele. Isso não tem nada a ver com você, Daisy.
Apenas tente, falou ela. Você acha que todo mundo detesta você, mas não é verdade. Você não vê, nós amamos você, Brick. Sempre amaremos. Seja legal, prometa.
Ele ficou de queixo caído e lentamente fez que sim. Ela riu outra vez — agora, para ela e para o anjo, o riso era facílimo — e, em seguida, moveu uma mão até o peito dele, empurrando os dedos dentro do fogo. Era como colocar uma folha na frente de uma joaninha e observá-la subir. O fogo de Brick disparou com força suficiente para catapultá-lo para trás, fazendo-o rolar pelo estacionamento. Fogo escorreu do braço de Daisy, abrindo caminho até o som dos sinos que soavam no centro dela. Sentiu o instante em que o anjo juntou-se ao dela, os dois sentados em seu peito, badalando com tanta força que os dentes dela batiam.
Brick deu um grito, retorcendo-se no concreto cheio de areia onde pousara, a trinta metros de distância mais ou menos. Ele a mirou com os próprios olhos, arregalados, úmidos, humanos.
Agora você é humano, lembre-se disso. Não pode chegar perto de mim.
Ele se levantou, mas ficou onde estava.
— O que você fez? — balbuciou Brick, as palavras débeis e gaguejadas, como se aquela fosse a primeira vez que falava.
Daisy se voltou para Howie, que recuou para os banheiros destruídos e estendeu as mãos para ela.
Espere aí, e se eu quiser ficar com o meu?, disse ele.
Ele vai matar você mais cedo ou mais tarde, respondeu ela. E depois vai morrer também.
Mas, e você?
Eu estou oferecendo outra coisa a eles, acho, falou ela, flutuando até ele e procurando seu peito. Queria ter tido tempo de conhecer você melhor.
O anjo dele veio de bom grado, ardendo pelo braço dela e entrando em sua alma. A força daquilo fez com que Howie fosse girando quase até as árvores. Após um ou dois segundos, levantou a cabeça, colocando as mãos nos ouvidos. Não era de admirar: o zumbido que emanava dela era ensurdecedor, três corações de anjo batendo no mesmo lugar. Ela agora se sentia muito fria, muito pesada. Mas não podia parar. Olhou para Adam, sorrindo para ele.
Pronto?, ela lhe perguntou.
Mas eu quero ficar com você, respondeu ele, e foi bom ouvir sua voz. Ela flutuou até ele, sentindo aquela mesma descarga elétrica crescer entre os dois.
Vou estar sempre aqui, disse ela. Preciso que você seja corajoso, Adam. Preciso que seja forte. Prometa-me que nunca vai ter medo de usar sua voz de novo, está bem?
Ela o soltou, e ele piscou para ela com seus olhos em chamas.
Prometa.
Prometo, prometo.
Não vai doer.
Ela apertou os dedos contra o peito dele, seu anjo se libertando mais rápido do que os outros. Ele rasgou seu caminho pela pele e mergulhou dentro dela. Era como se ela tivesse comido demais, como se estivesse prestes a explodir. A súbita corrente de energia mandou Adam para longe, depositando-o gentilmente aos pés de Brick. O garoto maior se abaixou, segurando-o com força quando ele tentou correr para ela de novo.
Daisy quase não conseguiu se virar para encarar Cal, tão pesado estava seu corpo, tão cheio de gelo e fogo.
Como sabia que isso não ia matar você?, perguntou ele. Como sabia disso tudo?
Eu não sabia, respondeu ela. Mas eles sabiam.
E agora?
Ela deu de ombros.
Vamos vivendo.
Endireitou o braço, procurando o peito dele, mas ele pairou para longe.
Obrigado, falou Cal. Nunca teríamos conseguido sem você.
Eu sei, disse ela, dando outra risada. Prometa-me que vai cuidar de Adam. Nunca se separe dele.
Cal se virou e sorriu para o menino.
Claro, vou tentar, Daisy, mas não sei o que vai acontecer...
Cal...
Certo, prometo. Nunca vou me separar dele.
Ela tentou de novo, mas ele recuou mais ainda.
Não sei mais o que dizer, ele falou.
Então não diga nada. Ela estendeu a mão uma quarta vez, os dedos entrando no peito dele. Fez-se um clarão, como um choque elétrico, um jato de pura energia estalando dentro do corpo dela. Cal voou para trás, rolando pelo chão. Quando levantou a cabeça, seu rosto estava coberto de cinzas. Parecia um fantasma, e isso só fez com que ela risse com ainda mais força. Os anjos riram também. O corpo dela estava oco e repleto de badaladas. O zumbido que vinha dela era alto o suficiente para fender a terra.
— Daisy? — gritou alguém, mas ela não conseguiu ouvir direito quem tinha sido.
Também não pôde enxergar muito bem, o incêndio que ardia dela tão brilhante que até os olhos do anjo enfrentavam dificuldades. Era demais, o mundo tremendo por contê-la, a pele da realidade esticando-se para fazê-la caber. Os anjos estavam agitados; podia senti-los nos pensamentos, no sangue, na alma. Ela parecia estar prestes a explodir e levar o universo junto.
Piscou algumas vezes e viu Cal, Brick e Adam através da visão turva, parecendo tão pequenos, tão humanos. Lembrou-se da primeira vez que os encontrara: Cal, quando a salvara no carro, falando-lhe da Dona Mandona como se ela nunca tivesse ouvido falar de navegação via satélite antes; Adam, quando chegara com os outros, tão calado, com tanto medo, até que haviam brincado nos cavalos do carrossel, Angie, Geoffrey e Wonky-Butt, o Cavalo-Maravilha, e seu rosto se abria como uma flor; e Brick, coitado, triste, zangado, o Brick que os encontrara bem ali, naquele lugar exato, que os levara a Fursville, cujo riso era como o de um pássaro quando enfim se esquecia de ficar zangado com o mundo. Como era possível amar as pessoas tanto, com tanta força?
Vocês precisam ir embora, disse ela. Acho que algo está prestes a acontecer.
— Daisy, não, não vá embora! — pediu Adam. Ele quis se aproximar dela, mas Cal o segurou.
— Adeus, Daisy — falou Cal, sorrindo para ela.
Não é um jeito tão ruim de ir embora, pensou Daisy. Vendo um sorriso.
Sorriu em resposta, virando-se antes que o riso se tornasse lágrimas. Ela os veria de novo, tinha certeza. Talvez não do mesmo jeito que antes, mas tudo bem. Não era o fim do mundo. Vagou pelas dunas, o mundo descamando-se a seus pés, o mar sibilando quando o sobrevoou. Mesmo que se sentisse pesada, subiu como um balão, dirigindo-se para o azul brilhante. O movimento dos anjos ia ficando mais frenético, como se fossem gatos presos juntos em uma cesta. Mandou que se acalmassem, mas eles não entenderam. O martelar de seus corações ficava mais agudo. Quanto tempo mais ela tinha antes que o mundo não pudesse mais contê-la? Horas? Minutos? Segundos?
Mas o tempo está fragmentado, disse a si mesma. Ele nunca vai nos alcançar.
Virou-se e olhou para baixo, observando os garotos abrindo caminho para as árvores sem folhas. Abaixo dela, o mar ia sendo varrido, e também a superfície, a energia vertida por ela talhando uma cratera na Terra. O ar se agitava como se tentasse escapar, como se soubesse o que estava por vir. O tempo rangia, tentando pegá-la com seus dedos, mas ela agora estava pesada demais para ele, ele não conseguiria carregá-la.
Ela se manteve firme até não poder mais vê-los — Brick foi o último a sumir, erguendo uma mão trêmula, as lágrimas como cristais no rosto sujo enquanto desaparecia. Vá embora, ela lhe disse. Nada de ruim vai acontecer agora — e, em seguida, o universo se fragmentou sob o peso dos anjos.
Eles pareciam arder dentro dela, uma explosão que começou na alma e se expandiu para fora, chegando às margens da floresta antes que ela estendesse mentalmente a mão e segurasse o tempo, libertando-se. Algo gemeu, o som como o de uma gigantesca buzina de navio no centro do mundo. Tudo sacudia, a realidade ameaçando fazer-se em pedaços, a explosão desesperada para terminar o que tinha começado. Porém, Daisy não desistiria. Os anjos trabalhavam com ela, segurando as rédeas do tempo.
Na cabeça, ela se atinha com a mesma força àquela memória, deitada em seu jardim à sombra das árvores, observando contas de luz solar se perseguirem pela grama. Repousava a cabeça na perna da mãe, sentindo o cheiro do tecido e de amora. O pai acenava para ela da janela da cozinha, parecendo cem anos mais jovem do que antes, parecendo ele mesmo outra vez. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, e sabia que sempre ficaria assim, porque nunca mais precisaria sair daquele jardim, nunca mais precisaria dizer adeus. Deitaria ali com a brisa no rosto, a mão da mãe no braço, o gato do vizinho passando por seus pés, ronronando como um trem a vapor, para todo o sempre.
Ela riu, e do lado de fora o mundo moveu-se sem ela. De início, lentamente — ela viu gente lá embaixo, uma multidão —, mas logo se acelerando. O dia virou noite, e a noite virou dia. Os rostos mudaram, mas ela viu gente que conhecia, Cal, Brick, Adam movendo-se rápido demais para que enxergasse o que faziam. Houve chuva, depois neve. A floresta desapareceu, sendo trocada por prédios, e eles também desapareceram, a linha do litoral mudando a cada batida de seu coração. Mas ela ainda os via, os amigos, os irmãos, de pé perto do mar, observando-a por uma fração de segundo. A cada vez que apareciam estavam mais velhos, até que estivessem grisalhos e recurvados, mas, ainda assim, ela os reconhecia.
O mundo continuou sem ela, os anos passando, as décadas, os séculos, e ela observou a terra recuar e o oceano avançar. Viu as cidades no céu, e os foguetes, viu o sol ficar grande e vermelho, e, durante tudo isso, o mesmo riso ecoava dela, uma única inspiração que mantinha todo o tempo à distância. Em algum momento, ela precisaria soltar o fôlego, sabia disso, quando o homem na tempestade aparecesse de novo, ou alguma outra criatura como ele. Em algum momento, os anjos se libertariam dela para poder combater em outra batalha. Mas, até lá, haveria só o jardim, o sol, e a mãe e o pai — amo vocês tanto, mas tanto —, e um riso que ressoava ao longo das eras.
Brick
Hemmingway, 17h23
Brick não suportava a ideia de deixá-la ali sozinha, mas que escolha ele tinha? Ele podia ouvir o pulsar sônico dos anjos dentro dela, aumentando o tempo todo, como se ela estivesse prestes a explodir.
— A gente precisa ir embora — disse Cal, tomando Adam pela mão e levando-o para longe do mar. O garotinho resistiu, tentando se soltar, mas Cal o segurou. — Cara — falou para Brick —, é sério. Esse barulho não é bom.
Não parecia bom mesmo. O mundo despedaçava-se em volta de Daisy, a terra e a água fervendo enquanto ela flutuava céu acima. Brick sentia o tremor nos pés, o chão se agitando, prestes a se despedaçar. Ele mal conseguia ver a garota através do orbe de fogo que a cercava. Parecia um pássaro em uma gaiola em chamas.
— Não quero ir embora — disse Adam aos soluços. — Eu quero a Daisy!
— Vai ficar tudo bem com ela — falou Cal. — Não está ouvindo?
Era incrível, mas ela ainda ria, o som cristalino mais alto do que o zumbido dos anjos. Cal se abaixou e colocou o garoto em cima dos ombros. Começou a correr para as árvores, e Brick foi atrás, aquele pulsar afastando-o, rugindo contra suas costas. Howie já tinha sumido. Brick escorregava nas cinzas, no concreto cheio de areia do estacionamento, tão cansado que mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Parecia estar aprendendo do zero a usar seu corpo, agora que o anjo fora embora. Sentia-se leve demais, frágil demais, como se fosse se quebrar em mil pedacinhos ao menor toque.
Porém, era um milagre que pudesse sequer se mover. Seu anjo devia ter curado os ferimentos mais graves, remendando seu interior.
Manquitolou por entre as árvores, olhando para trás, através dos galhos nus. Daisy estava suspensa sobre o mar, brilhando tanto quanto o sol. A água fumegava abaixo dela, congelando e depois fervendo, de novo e de novo, formando estátuas de gelo que duravam meros segundos antes de derreter de vez. Era hipnotizante, e Brick quase se esqueceu de si na maravilha caleidoscópica daquilo. Estendeu a mão para ela, percebendo que chorava. E, mesmo que não tivesse mais o anjo, ouvia a voz dela em sua cabeça, como se ela estivesse bem ao lado dele, sussurrando em seu ouvido.
Vá embora. Nada de ruim vai acontecer agora.
Deteve-se entre as árvores, e o mundo atrás dele ficou branco e silencioso. Uma onda sem som o pegou, carregando-o pelo ar, tão rápido que não conseguiu nem gritar. Então ele caiu no chão macio e arenoso, e a vida escureceu.
Não soube depois de quanto tempo abriu os olhos. Estava deitado de costas, mirando um céu que estava a meio caminho do dia e da noite. Seus ouvidos apitavam, como se ele tivesse passado a noite em um show, mas acima do gemido incômodo ouvia vozes. Tentou se sentar, sentindo como se cada fibra do corpo estivesse ferida. Até as pupilas doíam, e a visão parecia leitosa. Inclinou a cabeça para o lado, piscando para afastar as lágrimas. Algo se movia à frente, talvez vários algos. Não tinha certeza.
Ele se apoiou levantando um ombro, e passou a outra mão nos olhos. Ao olhar de novo, as silhuetas tinham se solidificado em figuras, em pessoas, uma correndo em sua direção. Um jato de adrenalina percorreu seu corpo exausto. A Fúria.
Ele foi embora, tentou dizer às pessoas, a boca recusando-se a formar as palavras. O anjo foi embora.
A silhueta estrondou na direção dele, e ele ficou de pé com dificuldade, conseguindo dar um passo antes de cair de cara no chão. Eram gritos que ele ouvia? Berros sufocados e furiosos? Depois de tudo o que acontecera, depois de tudo o que fizera para combater o homem na tempestade, era assim que ia terminar? Dentes na garganta, unhas nos olhos? Tentou de novo, mas não havia mais nada dentro dele. Mãos o seguraram, rolando-o de lado, o buraco negro de uma boca caindo em sua direção. Rezou para que fosse rápido. Era o mínimo que merecia.
— Tudo bem?
Não ouvia direito as palavras com aquele apito nos ouvidos.
— Cara, está me ouvindo?
Brick ficou deitado, o coração tentando sair do peito. Piscou até o rosto inclinado sobre ele ganhar foco.
— Cal? — rosnou Brick.
O outro garoto abriu um sorriso enorme, cheio de hematomas, cansado, mas de resto intacto.
— Tudo bem? — repetiu Cal.
Por que ele ficava perguntando? Era bem óbvio que ele não estava bem. Cal fez força para sentar-se, tentando recordar como tinha chegado ali. Tudo em sua cabeça era ruído branco, mas ele se lembrava de correr com Cal e com Adam, lembrava de Daisy flutuando por cima do oceano. O que tinha acontecido com ela? Ela tinha explodido? Ele pegou o braço de Cal, usando-o como apoio para levantar-se.
— Daisy — falou ele. Por favor, tomara que ela esteja bem, tomara que não tenha morrido.
— Ela está lá — disse Cal, apontando.
Brick continuou apoiado no outro garoto, o mundo girando. Podia estar no meio do deserto. Só que a areia ali tinha um milhão de cores diferentes, e logo à frente estava o oceano, tão espumoso que alguém parecia ter derramado mil toneladas de detergente nele. O sol estava parado no horizonte, alto sobre a água, mas, quando Brick se virou, também estava suspenso sobre a cabeça de Cal. A imponderabilidade daquilo lhe causou vertigens.
— Você precisa se sentar — disse Cal.
Brick se desvencilhou do garoto e seguiu cambaleante pela praia rumo ao primeiro sol, o sol dela. Havia mais pessoas à frente, que o brilho transformava em silhuetas. Brick teve de se aproximar para que seus olhos leitosos identificassem Adam e Howie. Ambos estavam imundos, as roupas em farrapos, mas os anjos tinham cuidado bem deles, curado os piores ferimentos antes de ir embora. Ambos sorriam.
— Ei — falou Howie, a voz parecendo papel-areia. — Você está um lixo.
Brick riu, mesmo que doesse. Howie estava preto e azul, seu cabelo prateado.
— Você também não está lá muito bem — falou ele. — Parece o meu avô.
— Deve ser um homem muito bonito — disse Howie, fazendo Adam dar uma risadinha.
Brick olhou de novo para o sol. Era forjado em luz, em cores que ele jamais vira, ondas de energia que cintilavam indo e vindo pela superfície. Ele não conseguia ver nada dentro da esfera, mas um badalo cristalino emanava dela, o som inconfundível.
— Ela está rindo — falou Adam. — Está feliz.
— Você acha? — indagou Brick.
O garoto tinha razão, não havia a menor dúvida. Quantas vezes Brick tinha ouvido aquela risada, que tinha tirado sua raiva, e o tornado humano outra vez?
— Daisy — disse ele, e a ideia dela ali, presa naquela bolha de fogo, deixou-o com raiva. Por que tinha de ser ela? Ela era só uma menina, deveria ter sido outra pessoa. Ela devia ter podido ir para casa, viver sua vida. Não era justo, não era...
Sentiu uma mão no ombro e, ao olhar, viu Cal.
— Você fez uma promessa a ela — disse ele.
Brick percebeu que tinha os punhos cerrados, as unhas penetrando a carne das palmas. Ele tinha prometido algo, tinha prometido não viver com raiva. Mas como poderia manter essa promessa?
— Sério, cara — falou Cal, apontando a água com a cabeça. — Quer realmente correr o risco de ela vir atrás de você? Ela vai te fritar.
Brick riu de novo, sem querer, deixando o corpo relaxar. A verdade é que estava cansado demais para estar com raiva. Inspirou profundamente o cheiro do mar, o cheiro de casa. Podia tentar, por Daisy. Ela tinha salvo a todos, várias e várias vezes. Devia isso a ela.
— Está bem — concordou. — Você está olhando para o novo eu, um mané todo feliz novinho em folha.
Cal riu para ele, e por um instante ficaram ali, estreitando os olhos contra o brilho do segundo sol. A Brick, parecia impossível que menos de uma semana atrás ele estivesse sentado naquela mesma praia preocupado com dinheiro, combustível e Lisa. Como era possível que tantas mudanças acontecessem em um período tão curto? Essa ideia fez suas pernas bambearem, e ele quase caiu, as mãos de Cal segurando-o.
— Ei! — A voz veio de trás deles, e todos se voltaram ao mesmo tempo, vendo um policial uniformizado andando sobre as dunas. Brick deu um passo para trás, calculando a distância entre eles. Trinta metros. Por favor, não, pensou ele. Por favor, não se transforme. O homem — não um policial, mas um bombeiro — agora corria, apontando o novo sol. — O que é que vocês estão fazendo?
Vinte e cinco metros. Vinte. O homem tropeçou e resmungou. Ah, não. Não pode ser. Quinze metros, e Brick já tinha quase se virado e começado a correr, antes que o bombeiro ficasse de pé outra vez.
— Precisam dar o fora daqui! — disse o bombeiro, passando correndo por eles, levantando areia no caminho. — Vão, vão pra casa já!
Brick se lembrou de respirar, observando o bombeiro que corria para o mato, gritando algo no rádio. Obrigado, disse para Daisy, para os anjos, para qualquer outra coisa que estivesse ouvindo.
— Precisamos ir embora! — falou Cal.
— Para onde? — perguntou Brick. — O que vamos fazer depois disso? Fingir que nunca aconteceu? Que talvez não aconteça de novo?
Cal deu de ombros.
— A única coisa que eu sei é que estou louco por uma lata de Dr. Pepper. Todo o resto pode esperar.
— Você sabe que isso é puro veneno — disse Brick. — Só açúcar e química.
— Eu sei — respondeu Cal. Ele se virou, seguindo pela praia na direção contrária do mar. Os outros foram atrás, cada qual levando as duas sombras de dois sóis. — Mas, se eu consegui sobreviver ao dia de hoje, com certeza vou sobreviver a uma lata de refrigerante.
Brick balançou a cabeça, e então notou que sorria, com tanta força que as bochechas doíam. Cal tinha razão. Realmente, não importava o que ia acontecer depois. Agora estavam em segurança, tinham sobrevivido. Olhou de novo em direção a Daisy, oculta em sua bolha de luz. Será que ela os observava agora? Levantou a mão e acenou para ela.
— Adeus, Daisy — falou. — Logo a gente se vê. Cuide-se.
Depois se virou e correu atrás dos outros, ouvindo o riso dela encher o ar a suas costas conforme perseguia sua sombra ao sol.
Domingo, Hemmingway, 23h56
Daisy Brien estava em toda parte e em parte alguma, possuída por uma criatura de fogo e trancafiada em um mundo de gelo.
Não sabia quanto tempo fazia desde que tinha sucumbido. O tempo parecia não existir ali, onde quer que ela estivesse. Poder-se-iam ter passado alguns poucos segundos ou um milhão de anos, não havia como saber. Estava suspensa em uma teia de vidas, em um número infinito delas. Pareciam cubos de gelo, e, através da superfície fosca de cada um deles, ela vislumbrava lugares e pessoas. Se fizesse um grande esforço, via nitidamente dentro do gelo e conseguia encontrar sentido naqueles mundos, mas esse esforço lhe provocava enjoo, como se estivesse no banco de trás de um carro que fizesse uma curva rápido demais.
Porém, a criatura estava com ela, e a criatura queria que Daisy olhasse. A garota a sentia dentro de sua cabeça: era algo feito de luz. A coisa não falava — Daisy achava que não era capaz de falar —, mas a guiava, mostrando-lhe o que importava, impedindo-a de ficar à deriva no infinito oceano de gelo.
Viu os acontecimentos dos últimos dias como se os estivesse revivendo — não apenas suas memórias, como também as memórias dos novos amigos: de Cal, Brick, Adam, Marcus, Jade e até de Rilke e Schiller. O início fora o mesmo para todos, ainda que não se conhecessem, ainda que estivessem separados por centenas de quilômetros. Era uma dor de cabeça que durara dias — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, como se alguém estivesse tentando quebrar seu crânio.
E, assim que a dor de cabeça passara, começara então a Fúria.
O mundo inteiro queria matá-los. Ela viu isso dentro dos cubos de gelo. Cal fugindo para salvar sua vida, com centenas de pessoas perseguindo-o na escola, com seus melhores amigos tentando estraçalhá-lo. E Brick, sentado com a namorada no porão de um parque temático abandonado, tão feliz quanto Brick era capaz de ficar, até que ela passara a tentar devorar sua garganta. Adam — pobre Adam, que não dissera uma palavra sequer desde que a Fúria tinha começado — estava no dentista. Jade, em um táxi. Marcus, em casa. Rilke e Schiller, os gêmeos, em uma festa, sendo quase pisoteados na lama no meio da noite.
E ela, que agora observava aquilo, não era mais a menina magrinha de doze anos que chorava no quarto dos pais, não mais. A mãe e o pai estavam mortos a seu lado, apoiados um contra o outro como bonecos em uma prateleira. A mãe envenenara a si mesma e, depois, o pai. Tinha feito isso para não machucar Daisy, para protegê-la. Porém, isso não fora suficiente para salvá-la das pessoas da ambulância que invadiram sua casa querendo matá-la. Mas ela conseguira — por pouco — escapar com vida. Como todos eles.
Não, nem todos. Quantos haviam morrido? Daisy não tinha certeza, mas sabia que existiam outros como ela, dezenas, talvez centenas. Tinham sido assassinados pelos próprios amigos, pelas próprias famílias. E então o mundo os esquecera, como se nunca tivessem existido.
Tal pensamento era horrível, e ela se afastou do gelo. No entanto, não conseguia escapar das visões, não ali, não naquele lugar. Observou Cal a resgatando, conduzindo-os de carro até o parque temático onde Brick os aguardava, atraídos para lá por uma espécie de instinto. Fursville. O parque, caindo aos pedaços, fedia a coisas úmidas e mortas. Mas se mostrara um abrigo. Um lar.
Até que ela chegara. Rilke. Aparecera uma manhã com Schiller, seu irmão. O menino estava congelado, trancafiado no gelo. Daisy se sentira intimidada por ela desde o primeiro momento. Percebera de cara que Rilke era perigosa. Mas não se dera conta do quanto até Rilke matar a namorada de Brick — que estava trancada no porão — e um furioso. Havia atirado neles a sangue-frio. Dizia que a Fúria estava acontecendo porque eles — ela, Schiller, Daisy, todos eles — não eram mais humanos. Estavam se transformando em outra coisa, dissera ela, em algo incrível. Parecia louca.
Mas ela tinha razão.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_TEMPESTADE.jpg
Schiller fora o primeiro a mudar. Daisy vira com os próprios olhos. Quando acordara de seu sono, ele já não era um menino, mas uma criatura feita de fogo, cujos olhos ardiam; era uma criatura alada. Um anjo. Mas não um anjo como os das histórias contadas por sua mãe; não era um querubim com harpa e auréola. Era, sim, um ser ancestral, poderosíssimo — tão poderoso que não podia viver ali, no tempo e no espaço deles, sem um hospedeiro. Era por isso que precisava do corpo de Schiller.
Cada um deles era habitado por um ancestral. Era isso que os tornava especiais, era isso que fazia o resto do mundo detestá-los tanto. Daisy sentia o dela: estava prestes a despertar, exatamente como o de Schiller. Cal, Brick, Adam, Rilke, todos tinham um anjo dentro de si. Cedo ou tarde, seus anjos nasceriam e eles também seriam seres de fogo, capazes de abrir uma fenda na realidade com um simples pensamento.
Daisy estremeceu, embora não sentisse frio. Onde quer que estivesse, não lhe passava mais pela cabeça que tinha um corpo. Ela levara um tiro de um policial. Ela e os outros tinham saído à procura de comida, mas foram atacados por furiosos — por centenas deles. Era culpa de Rilke, que havia chamado a polícia. Rilke queria que eles fossem atacados; ela dissera que esse era o único jeito de enxergarem a verdade sobre sua transformação.
Que cabia a eles banir a humanidade da face da terra.
E ela lhes mostrara como fazer isso. Daisy não precisava olhar no gelo; cada detalhe daquilo estava gravado em sua mente. Schiller, mergulhado em fogo, flutuando acima do chão, os olhos como dois bolsões de luz. Com um estalar de dedos, ele transformara a multidão de furiosos — centenas deles — em cinzas e depois espalhara ao vento seus restos. E proferira — não ele, mas seu anjo — uma palavra que não pertencia àquele lugar, que cindira o mundo, desfizera a realidade. Sua voz limpara a terra até onde a vista alcançava. Sacudira o tempo e o espaço, deixando o universo trêmulo.
Rilke tomara isso como prova de que estava certa. Mas ela não estava. Daisy sabia. Os anjos eram fortes, mas não maus. Não eram nada. Ela não sentia nenhuma emoção vinda da coisa escondida em sua alma. Eles só faziam o que lhes era mandado fazer. Estavam mais para máquinas que eram manuseadas para consertar as coisas.
Porque havia outra coisa errada, tão errada que ela não a suportou nem mesmo em pensamento. Via agora, com o canto do olho, um iceberg que estalava e rugia em sua direção, com algo dentro que a fez ter vontade de gritar.
O homem na tempestade.
Ele havia chegado no mesmo momento que os anjos, só que nascera de um cadáver. Estava suspenso em um furacão e sugava o mundo pelo buraco negro que era sua boca, devorando tudo. Daisy não sabia exatamente onde ele estava, mas sabia que milhares já haviam morrido, tragados pelo vórtice colérico; vidas inteiras transformadas em nada. Ele era o motivo de estarem ali. Daisy sabia. Precisavam detê-lo antes que ele engolisse todos.
É isso?, perguntou à criatura. Por favor, me diga.
Se a criatura respondeu, Daisy não entendeu. Sentiu-se muito só e buscou conforto em outra visão, que acontecia naquele instante — três garotos dormindo dentro de um carro amassado. Aproximou-se mais do gelo e viu Cal, Brick e Adam, todos tendo o mesmo sonho. Ela também estava ali, ao menos seu corpo, deitado no porta-malas, em um casulo de gelo. Como seria, ela se perguntava, quando o anjo irrompesse de seu peito? Doeria? Ela saberia o que fazer?
Tudo o que sabia era que logo o anjo iria acordar e ela também seria uma coisa de fogo e de fúria.
O homem na tempestade estaria esperando por ela.
Roly
Segunda-feira, Hemsby, 0h22
Roly Highland, bêbado, cambaleava pela praia. A noite de rum barato fazia o mundo rodopiar. Em determinado momento, deu um passo em falso e se estatelou de cara no chão. Achou aquilo insanamente engraçado, morrendo de rir na areia fria e macia. Depois do que lhe pareceu meses, ele se levantou e percebeu que deixara a garrafa cair em algum lugar. A escuridão era quase absoluta; havia apenas uma tênue insinuação de luar atravessando as nuvens. O mar estava bem à frente dele, escuro e plano como um piso de ardósia. Ouviu-o sussurrando, chamando-o. Não gostava do mar, não desde que quase se afogara, aos onze anos.
— Mas hoje ele não pode me fazer mal! — falou enrolado enquanto se esforçava para se manter em pé. — Porque eu estou bêbado!
Desistiu de procurar o rum — só restavam uns golinhos de nada mesmo! — e andou para a esquerda. Seus melhores amigos, Lee e Connor, estavam ali em algum lugar, e também Hayley, a nova namorada de Connor. Howie, o irmão de treze anos de Roly, também estava por perto, embora tivesse saído mais ou menos uma hora atrás, dizendo que não estava se sentindo muito bem. Era o rum; o rum tinha esse efeito. A cabeça de Roly não tinha parado de latejar a noite toda.
— Ei! — gritou para a escuridão.
Alguma coisa disparou para o céu ali perto — o farfalhar de asas soando como palmas. O silêncio que aquilo deixou, rompido apenas pelo perpétuo murmúrio das ondas, dava calafrios.
— Uôôô! — disse Roly, quase caindo de cara na areia outra vez, agitando-se feito um siri com as mãos no ar até se reequilibrar.
Os outros provavelmente estavam se escondendo, planejando pular em cima dele ou algo do tipo. Mas ele não lhes daria a satisfação de verem-no encolhido de medo.
— Porque sou invencível! — gritou, e suas palavras foram engolidas pelo ruído do mar.
Deu outra risadinha, pensando em como ficariam impressionados ao constatarem que não o haviam assustado. Connor era dois anos mais velho, já tinha dezessete, e havia momentos em que Roly se sentia um completo bebê perto dele. Era por isso que tinha bebido tanto naquela noite — havia tomado exatamente a mesma quantidade de rum que o amigo e ainda estava de pé. Connor ia ficar impressionado, e Hayley também. Ela era bonitinha e, quem sabe, se a impressionasse o suficiente aquela noite, ela largaria Connor e sairia com ele.
Mas, para isso, ele precisava encontrá-los. Onde é que tinham se enfiado?
— Ei! — gritou, lançando alguns palavrões contra a escuridão da noite.
A praia permanecera deserta a noite inteira, algo esquisito, considerando que era um domingo em pleno verão. Provavelmente tinha a ver com o que acontecera mais cedo no litoral. Parecia ter sido uma explosão no lado norte, perto do velho parque temático de Fursville. Roly não tinha visto nada, mas sentira os tremores por volta das sete.
— Minas — comentara Connor despreocupadamente. Estavam sentados no apartamento do garoto mais velho, e a explosão fora tão forte que as janelas chegaram a chacoalhar.
— Hã? — dissera Lee.
— Minas marítimas antigas, da época da guerra, ou algo assim. Encontram coisas desse tipo o tempo todo. Acho que uma delas explodiu.
Todos concordaram com um gesto de cabeça, e o assunto fora encerrado. Connor ia para o exército em breve. Ele entendia dessas coisas de explosivos.
Deus do céu, isso tudo parecia ter acontecido anos atrás. Roly cambaleou para a frente, engolindo uma lufada de ar salgado e tentando se lembrar do que mais havia acontecido naquela noite. Uma parte dos acontecimentos já estava desbotada, como se fosse sangue do diabo, aquela tinta que desaparece.
— Vão se ferrar! — gritou ele, já de saco cheio daquela brincadeira sem graça. — Vou para casa!
Parou e começou a dar voltas para ver se descobria o caminho para a cidade. O mar estava à direita, vasto, negro e ameaçador, por isso dirigiu as teimosas pernas para a esquerda, para as dunas. Uma brisa suave parecia chutar os grãos de areia, levando-os bem para sua boca, onde se alojavam entre seus dentes. Roly murmurava palavrões enquanto enfrentava o chão que se desfazia sob seus pés, agarrando filetes grossos de vegetação para conseguir sair da praia. Depois de passar pelo topo da duna, o trajeto ficou mais fácil, e o garoto percorreu o caminho do outro lado meio correndo, meio tropeçando, enquanto se perguntava se havia algum jeito de beber mais um pouco.
A primeira fileira dos feiosos bangalôs de madeira de Hemsby surgiu assim que Roly ouviu vozes à frente. Eram vozes mesmo? Pareciam mais rosnados e gemidos. Cachorros, talvez. Apoiou-se em um dos joelhos, escorando-se no chão para não cair. Era imaginação dele ou de repente o ar tinha ficado mais frio? Estremeceu, virando a cabeça para o lado e esperando para ver se os ruídos voltavam.
Voltaram: um guincho distante e fungado, que combinava com o abatedouro ali da estrada. Havia também passos, secos, rápidos, vindo na direção dele. Provavelmente, eram Connor e Lee mijando. Deviam estar tentando assustá-lo — e estava funcionando. A pulsação de Roly se acelerou, o doce torpor do rum começando a se dissipar.
Seja homem, Roly!, disse a si mesmo. Não podia mostrar que estava assustado, não na frente dos outros. Nunca o deixariam esquecer daquilo. Levantou-se sem firmeza, indo devagar para o asfalto, que parecia brotar organicamente da praia. Contornou um bangalô conforme os ruídos ficavam mais altos, perguntando-se quanto tempo faltaria até que as luzes das casas fossem acesas e os moradores começassem a berrar com eles, como acontecia quase todo fim de semana.
A estrada fazia uma curva à direita, ficando mais larga no calçadão à frente. Havia postes que formavam poças de luz amarelo-vômito que pareciam deixar ainda mais escuras as partes da rua sem iluminação. Outro grito soou perto dos dois fliperamas fechados, uns cinquenta metros mais para frente, e os passos secos se aproximando. Então alguém berrou, um som tão carregado de sofrimento e terror que Roly só reconheceu quem era depois que a figura derrapou pela estrada, escorregando no asfalto cheio de areia e se estatelando contra um amontoado de entulho.
— Howie? — perguntou Roly, olhando o irmão menor, que tentava recuperar o equilíbrio.
Que droga ele estava tentando fazer? Howie ergueu a cabeça. Ainda estava um pouco longe, mas Roly notou algo de errado com seu rosto. A boca estava escancarada, larga demais, e os olhos, esbugalhados, tinham um brilho insano. Roly deu um passo à frente, com a adrenalina diluindo o último resquício de álcool dele, deixando-o mais sóbrio do que nunca.
— Howie? O que foi?
Havia mais passos, percebeu Roly, vindos da mesma direção. O irmão conseguiu ficar em pé e começou a correr na direção dele, com os braços se agitando no ar, bem na hora em que Connor disparou dentre os fliperamas. O garoto mais velho não parou sequer para recuperar o fôlego, virando na curva e também vindo na direção de Roly. Hayley veio atrás, depois Lee, e, em seguida, um sujeito que Roly nunca tinha visto na vida — todos partindo na sua direção a toda velocidade. Algo bem ruim devia ter acontecido, porque todos pareciam estar cheios de raiva.
Raiva não, pensou Roly. Fúria.
O irmão já estava na metade do caminho, sua boca espumando. Connor se aproximava rapidamente de Howie, soltando os mesmos guinchos guturais. A vontade de se virar e fugir foi tão forte que Roly quase fez isso, mas não podia largar o irmão.
— Howie, o que foi? — gritou.
Howie não respondeu, só continuou correndo, pisoteando a rua com seu tênis Nike herdado de Roly no Natal passado. Todos corriam, uma maré de gente surgindo pelo calçadão, com o olhar cheio da mais absoluta fúria, e de nada mais.
— Howie? — chamou Roly outra vez, a voz falhando. — Howie!
Howie pareceu vê-lo pela primeira vez, e sua expressão se inundou de alívio.
— Roly! — gritou ele. — Socorro!
Assim que as palavras saíram da boca de Howie, Connor o alcançou, puxando-o pela camiseta. Caíram um em cima do outro, braços e pernas se emaranhando.
Roly correu até eles, sem acreditar que estava vendo Connor esmurrar o rosto de Howie. Mesmo a vinte e cinco metros, ouviu o baque surdo. Howie gritou, as mãos estapeando o agressor, os olhos vidrados em Roly, berrando socorro, socorro, socorro em sua mudez.
— Ei! — gritou Roly, ainda correndo, agora a uns vinte metros. — Sai de cima de...
Seu mundo virou do avesso; uma explosão branda e sombria surgiu dentro de sua cabeça, obliterando qualquer pensamento.
Menos um.
Matar, matar, matar, matar, matar.
O garoto no chão não era seu irmão. Não era sequer humano. A repulsa fervilhava nas entranhas de Roly, intensificando-se em uma fúria incandescente que o movia pela rua. O tempo ficou mais lento, tudo perfeitamente tranquilo em comparação ao fogo que irradiava do centro de sua mente. Só uma coisa era importante. Havia apenas uma coisa no mundo inteiro que precisava fazer...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... porque aquela coisa era poderosa, era seu inimigo, era algo que não deveria existir, que não podia existir...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... algo dentro daquele saco de carne tinha de ser aniquilado.
Matar, matar, matar, matar, matar.
Queria que aquilo sumisse, morresse, morresse; sentia que não conseguiria respirar até que matasse aquilo. Era como se se afogasse, os pulmões queimando, e o único jeito de poder voltar à superfície era
Matar, matar, matar, matar, matar.
Socou, arranhou, apertou, estrangulou, bateu, e sonhou com o fôlego que recuperaria quando aquilo morresse, e então surrou, surrou e surrou ainda mais.
Matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar.
Howie já não sentia mais os golpes. Já não sentia mais nada. Era como se estivesse afundando em uma cova escura, anestesiante, fria e tranquila. Seus pensamentos estavam devastados, estilhaçados, mas, naqueles estilhaços, via o que tinha acontecido: a dor de cabeça que sentira por dias de repente sumiu, e então se voltaram contra ele do nada — Lee, Hayley e aquele idiota do Connor —, indo para cima dele na frente da loja de ferramentas, uivando feito bichos. Não tinha muita certeza de como escapara da primeira investida; só havia abaixado a cabeça e corrido. Ele era bom de corrida, sempre fora, mas Connor tinha sido mais rápido.
E Roly, seu irmão! Como ele poderia ter feito isso? Howie sentiu sua cabeça deslocar-se para o lado e, por um instante, saiu da cova e voltou para a rua. Não tinha certeza se seus olhos estavam abertos ou se ele apenas imaginava aquilo, mas agora via Roly ajoelhado a seu lado com as falanges dos dedos vermelhas. É meu sangue nas mãos dele, compreendeu Howie. Ele está tirando o meu sangue.
Tentou chamar pelo irmão, mas voltou para os sete palmos debaixo da terra, ou ao menos era o que parecia, com vermes rígidos como dedos sulcando sua pele. Não quero morrer, Roly, pensou na esperança de que as palavras chegassem ao irmão, embora não houvessem saído de sua boca. Só tinha treze anos, ainda não tinha beijado nenhuma menina nem testado o quadriciclo do pai de Lee, como tinham lhe prometido. Ainda não chegou a minha hora! Parem, parem!
Ao menos sentia-se anestesiado ali. Estava escuro demais, como se alguém houvesse despejado pás de terra em cima dele. A ideia era assustadora, e o choque de adrenalina que se seguiu levou-o de volta à rua por um momento — a rua com seus tons de amarelo, cinza e vermelho. Punhos e pés subiam e desciam como pistões, como se Howie estivesse preso debaixo de um motor, e em algum lugar da mente estilhaçada mexesse em alavancas tentando se afastar dali.
Ele ergueu uma das mãos, perguntando-se por que sua pele cintilava como se vestisse uma roupa de gelo. Roly o lançou para o lado com um tapa, preparando-se para desferir o próximo golpe.
Que nunca veio. O braço do irmão se desintegrou, tornando-se uma nuvem de cinzas que pairou no ar por um instante antes de se espiralar lentamente pela rua. Roly nem se deu conta do que ocorrera e atacou com o outro punho. Os dedos da mão esquerda se separaram do corpo, deixando rastros de vermelho e branco no ar, como bandeirolas. Em seguida, o restante de seu corpo se desfez, dissolvendo-se como uma escultura de sal arremessada em um furacão.
Howie não podia mover a cabeça, mas, com o canto do olho, viu Connor fundir-se com a noite. A brisa suave fez as cinzas do menino dançarem em uma ciranda. Mais dois estalos baixinhos, e o ar tornou-se uma cintilante bruma de pó.
— Ele está vivo? — As palavras pareciam vir de uma distância de um milhão de quilômetros.
Alguém se agachou ao lado dele, uma menina, sacudindo o pó de ossos da saia. Baixou a mão até sua cabeça e a manteve ali por alguns segundos. Howie tentou dar uma cabeçada nela, mas ela afastou os dedos e os envolveu na outra mão.
— Está congelando — disse ela. — Ele é um de nós.
Obrigado, Howie quis dizer. As palavras foram esquecidas, porém, quando um menino apareceu ao lado dela. No lugar onde deveriam estar os olhos dele, apareceram bolsões de fogo, e de suas costas estenderam-se duas asas imensas e perfeitas, genuínas e brilhantes como o próprio sol. Um anjo, pensou Howie, e se perguntou se tinha morrido.
Então o menino piscou, e o olhar de fogo se apagou.
— Não, você não está morto — disse o menino-anjo. — Está tudo bem. Vamos cuidar de você.
— Levante-o — disse a menina.
Howie sentiu mãos embaixo dele, erguendo-o, e não houve dor.
— Meu nome é Rilke. Este é o Schiller. Agora você vai para um lugar longe daqui, mas não vai demorar tanto. Quando acordar de novo, bem... — Ela sorriu, mas Howie não compreendeu bem a mensagem daquele sorriso. — Você também vai ter fogo dentro de você, como nós temos. Não se assuste, você foi escolhido.
Não estava assustado, ainda que sua visão estivesse escurecendo e parecesse haver algodão em suas orelhas. Desta vez, não tinha a impressão de estar afundando em uma cova; parecia mais estar deitado na cama, adormecendo aos poucos, aquecido, confortável, em segurança.
A menina chamada Rilke colocou a mão no rosto do menino-anjo, oferecendo-lhe o mesmo sorriso.
— Está ficando bom nisso, irmãozinho — disse ela.
— Obrigado — respondeu ele.
— Vamos — prosseguiu ela. — Queime tudo; não deixe nada além de areia.
E essa foi a última coisa que Howie ouviu antes de mergulhar no sono, já sonhando com o fogo que pertenceria a ele quando acordasse.
O Outro: I
Mas, quando acabarem seu testemunho, a Besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará.
Apocalipse 11, 7
Graham
Segunda-feira, Londres, 5h45
O som do telefone invadiu seu sonho, e por um instante ele se viu em meio a um oceano de badaladas. Em seguida, despertou. Acendeu a luminária e tateou em busca do celular, ao lado da cama. O aparelho já estava a meio caminho da orelha quando percebeu que não era ele a fazer aquele barulho, e essa percepção dissipou o último vestígio de sono.
Era o outro celular. O celular só para coisas ruins.
Praguejando, rolou da cama e ignorou os protestos murmurados pelo namorado. O toque, um ruído estridente e incansável, atravessava sua cabeça. Coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, cantarolava sua mente enquanto ele revirava a calça pendurada na porta do armário. Tirou dela o celular; as vibrações o faziam parecer algo vivo que tentava rastejar rumo à liberdade. Quase o deixou cair — seria melhor que se quebrasse antes de descobrir o motivo da ligação. Apesar disso, abriu-o e levou-o ao ouvido.
— Hayling falando — disse, embora aquela apresentação fosse inútil.
A pessoa do outro lado da linha sabia que ele era Graham Hayling, comandante da Divisão de Contraterrorismo do exército; do contrário, não teria discado aquele número. A linha era para emergências — não as velhas emergências que envolviam serial killers, incêndios, colisões de trem ou assaltos a banco, mas as de alerta máximo, cruciais, apocalípticas. Coisas ruins.
— Senhor... — A voz pertencia a Erika Pierce, sua subcomandante, mas soava meio oca, artificial.
Não fale, rezou ele. Por favor, não fale aquilo. Mas ela falou:
— Aconteceu algo.
— Um ataque? — Ele usou o ombro para manter o telefone grudado na orelha enquanto vestia a calça com pressa.
Erika suspirou; ele a imaginou mastigando o lábio inferior. Na pausa que se seguiu, ouviu o eco de sirenes na linha.
— Acho que sim — enfim disse ela. — Alguma coisa...
Terrível, pensou ele, já que ela não concluíra. Porém, pior do que o 7 de julho não podia ser. Ou podia? Aquela tinha sido a última vez que havia precisado pegar aquele telefone, só que na ocasião estava em Maiorca e fora levado para Londres em um VC10. Olhou para a cama, onde David, apoiado em um dos ombros, piscava, sonolento.
— Onde? — Graham perguntou a Erika.
— Londres — respondeu ela. — Em algum lugar da estrada M1. Ainda não sabemos com certeza.
Não sabemos com certeza significava que não podiam se aproximar, e isso deixou Graham tão assustado que desabou na beirada do colchão. Não sabemos com certeza significava bombas sujas, ou algo pior: significava contaminação.
— Mandamos duas equipes — continuou ela. — Nenhuma delas voltou. Tem alguma coisa... Alguma coisa errada.
— Já estou chegando, Erika — disse ele. — Não fique assustada.
Essa era sem dúvida a coisa mais idiota que poderia ter dito a Erika Pierce, que tinha sido a primeira da turma na academia em praticamente tudo; que tinha descoberto sozinha um plano para levar explosivos líquidos a um cargueiro da Marinha; e que uma vez dera um soco tão forte em um suspeito que quebrara o maxilar dele. Porém, a voz ao telefone não parecia a da sua parceira, e sim a de uma criança perdida e assustada.
— Não — respondeu ela. — Não venha. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe.
— O quê? Erika, do que você está falando? Olha, estou saindo de casa agora, espere aí.
— Não estarei aqui. — O sussurro parecia o de um fantasma. — Desculpe, Graham.
Ele a chamou outra vez antes de perceber que ela havia desligado. Que droga está acontecendo? Olhou para o telefone como se, de algum modo, o aparelho pudesse lhe dar maiores explicações; depois, guardou-o no bolso e apertou o cinto.
— O que foi? — perguntou David, esfregando os olhos.
— Nada — mentiu ele, vestindo a camisa do dia anterior e colocando um paletó por cima. Não se deu ao trabalho de procurar por meias; só colocou os sapatos: o couro frio e desagradável contra a pele. — Preciso ir. Telefono quando souber de algo.
Tinha dado três passos para a porta do quarto, quando algo o deteve, um nó no estômago. Parecia que uma corda se enroscara em suas entranhas, pressionando-as. Medo, pensou. Sim, mas também havia algo diferente, algo mais. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe, dissera Erika. Não venha. Graham voltou-se para David e desejou pegá-lo pela mão e sair correndo, sem parar para olhar para trás. Em vez disso, saiu do quarto e desceu o degrau que levava à porta da frente do apartamento.
Do lado de fora, a aurora tinha fracassado. Pelo lábio do mundo, por onde a luz do sol devia estar passando, havia apenas uma neblina opaca. Ela pairava no ar, putrefata, da cor da pele de um morto. A sensação no estômago de Graham se acentuou, a pulsação se acelerando, e aquele mesmo cantarolar nervoso — coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins — se debateu dentro de sua cabeça como um pássaro cativo. Havia gente demais ali, percebeu ele. Àquela hora, deveria haver um monte de motoristas fazendo entregas, feirantes, e algumas poucas pessoas embriagadas saindo de boates. Porém, a rua estava abarrotada, e buzinas tocavam em um engarrafamento que ia até a loja da esquina, onde uma van branca ocupava as duas faixas, com o motor fumegando. Ficou impressionado pelo fato de o barulho não tê-lo despertado antes. Uma multidão seguia pelo asfalto, acotovelando-se em meio ao tráfego imóvel, dirigindo-se à estação de metrô Gospel Oak. Todos seguiam rumo ao leste, e, quando Graham virou a cabeça para ver de onde vinham, entendeu por quê.
Acima dos telhados e das árvores de Hampsted Heath, o céu tinha se fendido.
A fumaça espiralava para cima, um vórtice tão espesso e escuro que parecia de granito. Assemelhava-se a um tornado, exceto pelo fato de ter mais de três quilômetros de largura, talvez mais. Girava lenta, quase graciosamente, formando um aglomerado de nuvens cor de chumbo. Explosões detonavam dentro desse espaço, embora sem nenhuma luminosidade — eram lampejos negros que deixavam vestígios na visão de Graham, manchas pretas, quando piscava. Toda vez que havia um lampejo, o ar se fendia em dois, revelando o que estava dentro do vórtice. Ou, melhor: o que não estava dentro dele.
Nada, pensou Graham, com a sensação de que estava no limiar de uma vasta e horrível loucura. Não há nada ali. Aquilo não era apenas um espaço oco; estava totalmente, totalmente vazio. Distinguia dali porções de céu que não eram nem escuras nem negras — simplesmente não eram nada. Parecia que um espelho tinha se quebrado, e os estilhaços espalhados revelavam a verdade por trás dele.
Outro jato destituído de luz cortou o vórtice, tornando distinta uma silhueta em meio à fumaça. Havia uma pessoa ali? Era grande demais, alto demais. Mas estava ali, uma figura no centro do redemoinho, um homem na tempestade. Graham, apesar de estar a quilômetros, sentiu que o homem olhava direto para ele com seu olhar de fogo às avessas. Olhar que o queimava, e a escuridão se expandindo em sua visão até cegá-lo. Não importa, ele se ouviu pensando. Melhor não ver, melhor só...
Algo esbarrou nele, fazendo-o cambalear de volta para a porta do prédio. Uma mulher balbuciou um pedido de desculpas, arrastando uma criança aos berros pela rua atrás de si. Graham recuperou o fôlego, livrando-se um pouco da escuridão em seus olhos. Quase olhou para cima de novo, mas deteve-se por um momento, erguendo a mão para se proteger dos céus. O que quer que estivesse no alto, era uma coisa ruim, uma coisa muito ruim. E o trabalho dele era garantir que coisas ruins não acontecessem. Afastou-se, pegou o celular e discou o primeiro número da agenda. Bastou um toque para que alguém atendesse, e Graham nem deixou que esse alguém falasse:
— Ponha o general Stevens na linha — disse ele. — Estamos sob ataque.
Amanhecer
E onde um incêndio furioso encontra outro,
Ambos devoram o que nutre sua fúria.
William Shakespeare, A megera domada
Cal
Hemmingway, 6h01
Pedaços do mundo partido ainda caíam quando Cal abriu os olhos.
Os fragmentos deslizavam pelo para-brisa do Freelander, formando uma camada translúcida que parecia neve, mas que ele sabia ser de pedra, metal e carne pulverizada. Sentou-se, as costas dormentes após uma noite no banco do passageiro, os pés parecendo repletos de agulhas. O carro inteiro vestia um paletó de sujeira, exceto a janela lateral do motorista. Do outro lado dela, a terra ficara da cor de osso, coberta com aquela mesma poeira fina. Era como se tudo sobre a terra tivesse sido apagado.
Tudo, menos nós, pensou ele.
Devia ser de manhã, porque uma luz amarelo-pergaminho infiltrava-se no carro. E havia pássaros também, percebeu Cal, que cantavam tão alto e com tanto vigor que ele se perguntou se não tinha sido isso o que o despertara. Tinham memória curta, os pássaros; já haviam esquecido o que acontecera. Não era o caso dele. Ele tinha passado a noite sonhando com aquilo repetidamente — a polícia, a Fúria, e Schiller, o menino no fogo.
O anjo.
Cal balançou a cabeça, girando ligeiramente o pescoço dolorido e vendo Adam deitado no banco de trás. O garotinho estava morrendo de frio, tremendo enquanto dormia. Não era de surpreender. Daisy estava no porta-malas do Freelander, afogada em casacos, cobertores, basicamente em tudo o que haviam conseguido achar, mas continuava fria como gelo. Literalmente fria como gelo. A baixa temperatura que emanava dela havia embaçado a janela de trás e transformado em cristal os bancos de couro. A coitadinha levara um tiro, uma bala no ombro de um dos poucos policiais que não tinham ficado furiosos. E agora...
Estava se transformando. Cal sabia. Schiller tinha passado pela mesma coisa, preso no gelo antes de ser apanhado pelo fogo. Daisy estava em uma espécie de casulo, e, quando acordasse, ficaria exatamente como Schiller. Cedo ou tarde, todos ficariam.
Não, disse a si mesmo. Como ele, não; não seremos todos assassinos.
As lembranças fizeram-no transpirar apesar do frio que sentia. Abriu a porta, libertando uma avalanche de poeira que invadiu seus olhos, nariz e boca. Saiu do carro com dificuldade, cuspindo, e precisou ignorar os protestos dos músculos enrijecidos das costas. Ao menos seu dedo estava melhor — rígido, mas sem doer. O nariz, também. Não achava que tivesse quebrado nada.
O inverno tinha chegado de um dia para o outro, e o mundo estava coberto pelo mesmo lençol de neve cinza. Nuvens negras feriam o céu frio e azul — não nuvens de chuva, de temporal, apenas terra, carros, árvores e pessoas reduzidas a átomos, mais leves do que o ar. Nacos desciam dançando ao chão, sendo chutados depois pela brisa que vinha sussurrando do mar.
— Precisamos sair daqui. — A voz não parecia pertencer àquele lugar, e provocou um sobressalto em Cal.
Ele se virou, olhando por cima do capô do Freelander e vendo Brick. O cabelo ruivo do garoto mais velho era a coisa mais chamativa à vista, reluzindo como cobre. Um rastro de pegadas espiralava em torno dele, serpenteando em volta dos banheiros e indo até as dunas. Um dia, aquilo fora um estacionamento, lembrou-se Cal, o lugar onde ele e Daisy tinham conhecido Brick. Há quanto tempo tinha sido aquilo? Três dias? Parecia uma eternidade. O universo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo e sacudido como um globo de neve.
— Agora! — disse Brick, com seu tom direto e enfurecido como sempre. — Já estamos aqui há tempo demais.
— Bom dia pra você também, cara — respondeu Cal, passando os dedos pelo capô e formando sulcos no pó.
Bem de perto, distinguiu as diferentes cores — marrom, prata e vermelho, muito vermelho. Sangue, músculo, cérebro, tudo reduzido a pó pela força que tinha flamejado do novo corpo de Schiller. Não que fosse algo possível, mas ali estava, em volta dele, a vida transformada em cinzas num piscar de olhos incandescentes.
Só que não tinha sido Schiller, tinha? Era ele que tinha se transformado, mas fora a irmã que o forçara a matar aquela gente toda.
— Rilke — Cal praticamente cuspiu ao dizer, lembrando-se de algumas das últimas palavras que a ouvira dizer: Mas ele explicou para você por que estamos aqui, não explicou? Para fazer a guerra contra a humanidade. Os olhos de Schiller ardiam, sim, mas a insanidade no olhar de Rilke assustara Cal muito mais.
— O que tem ela? — perguntou Brick. — Rilke já se foi há muito tempo, não foi?
Cal fez que sim com a cabeça. Não sabia explicar como sabia disso, mas Rilke estava a quilômetros de Hemmingway. Ele quase era capaz de vê-la andando com Schiller, Marcus e Jade, deixando atrás de si um rastro de morte. Ou talvez fosse só sua imaginação. Queria que Daisy acordasse. Ela com certeza saberia para onde Rilke tinha ido. Daisy sabia das coisas, mesmo quando ninguém lhe dizia nada. Porém, Daisy estava congelada, e, quando acordasse, seria um ser totalmente diferente.
— Precisamos conversar — disse Cal, arrastando os tênis no chão. — Sobre o que aconteceu. Precisamos pensar num plano.
Brick mais fungou que riu, uma risada sem o menor humor, passando a mão pelo cabelo e ornamentando a si mesmo com um pálido halo de poeira. Não tinham conversado muito na noite anterior; estavam exaustos demais. Haviam achado o carro, entrado e caído no sono.
— Não precisamos conversar — disse ele. — Só precisamos sair daqui. Já estamos aqui há tempo demais; só Deus sabe como dormimos no meio dessa confusão.
Era algo esquisito mesmo. Tinham dormido quase doze horas direto. Era um dos efeitos de estar em choque, imaginou Cal. Você era nocauteado para o seu corpo poder se recuperar.
— Mas Rilke e Schiller estão matando gente por aí — disse Cal. — Precisamos contar isso a alguém, à polícia.
— Dã... Eles mataram uns cem policiais na noite passada — disse Brick. — Acho que a polícia já está sabendo. Não há nada que a gente possa fazer. Você viu o que ele fez...
Brick pareceu engasgar com as palavras, e Cal soube o que ele via: pessoas amontoadas por braços invisíveis, esmagadas umas contra as outras até que não sobrasse nada além de uma bola giratória de carne comprimida; um helicóptero caindo de repente, com os pilotos dentro; uma explosão que obliterou tudo de um horizonte a outro. E Schiller suspenso no ar, perdido dentro de um inferno, comandando tudo.
— Como é que a gente pode deter isso? — perguntou Brick, ao recuperar-se. — Nem consigo acreditar que Rilke deixou a gente ir embora.
Porque, o que quer que Schiller fosse, eles também eram. Você vai ver, Cal, dissera Rilke. Pode levar um dia, pode levar uma semana, mas você vai ver. E ele ia mesmo. Sabia que um dia também ficaria gelado, e então algo terrível irromperia de sua alma. Estremeceu, e percebeu que Brick ainda falava:
— A gente aparece agora, se mete no caminho dela, e é claro que ela vai colocar Schiller contra nós. Uma palavra dela, e nós... — Ele pegou um punhado de pó do capô do carro e deixou escorrer por entre os dedos. Depois, com nojo, esfregou a palma da mão no jeans imundo, lançando um olhar zangado para Cal, como se aquilo tudo fosse culpa dele. — Não passei por tudo isso só para ser morto pelo cãozinho de estimação dela. Precisamos sair daqui, e, para onde quer que ela tenha ido, seguiremos na direção oposta.
— Mas e a Daisy? — perguntou Cal. — Ela precisa de ajuda.
Brick olhou para a traseira do Freelander.
— Ela vai ficar igual ao Schiller, não vai? — falou ele. Cal não respondeu. Mas ambos sabiam a resposta. — Tem uma dessas coisas dentro dela.
— Um anjo.
Brick deu uma fungada.
— Isso foi o que Rilke disse que eles eram. Mas ela não sabe de nada. Está falando bobagem.
Porém, Daisy tinha dito a mesma coisa, pensou Cal, e ela sabia a verdade. E sabia de outras coisas também.
— Mas e se a Daisy estiver certa? — disse Cal. — E se houver algum motivo para estarmos aqui... para combater o que quer que ela tenha visto? — O homem na tempestade, era como ela o havia chamado.
— Claro, Cal. O mundo está em perigo e somos eu, você e um bando de moleques que estamos destinados a salvá-lo! Estou exausto. Só quero que isso tudo acabe.
Cal fez que sim com a cabeça, erguendo os olhos para as árvores. A maior parte das folhas tinha sido arrancada pelas explosões, e os pássaros, empoleirados nos galhos feito pinhas, não tinham onde se esconder. Ainda cantavam, contudo. Havia em algum lugar uma mensagem naquilo, pensou ele. Inclinou-se contra o Freelander, o metal congelado. Era o carro da mãe; ele o tinha roubado quando tudo começara, para sair da cidade. Da última vez que vira a mãe, ela estava no retrovisor, gritando furiosamente, tentando matá-lo. Ela o teria matado se houvesse tido a chance; teria feito Cal em pedacinhos e depois entrado em casa e guardado as compras como se nada tivesse acontecido. A Fúria.
— Você acha que todo mundo ainda quer matar a gente? — perguntou a Brick, que deu de ombros.
— Acho que agora as pessoas têm preocupações maiores, com Rilke à solta por aí. Talvez nem reparem mais em nós. — Fez uma pausa, cuspiu, quase sorriu. — Caramba, se ela fizer o que quer, talvez nem sobre ninguém para reparar na gente. — Era um sorriso sem humor, porém, e, quando ele passou a mão no rosto, lágrimas deixaram rastros na poeira.
Cal se virou, fingindo não reparar.
— Certo — disse ele. — Vamos ir para longe daqui, de Rilke. No caminho a gente descobre o que fazer.
— Será que o carro ainda funciona? — perguntou Brick, dando uma fungada.
Cal pulou no banco do motorista e procurou as chaves no bolso. O Freelander tinha levado uma surra considerável no caminho de Londres até ali, mas o massacre de Schiller parecia não tê-lo alcançado. Girou a ignição, abrindo um sorriso enorme quando o motor tossiu, gemeu e, enfim, pegou. Ouviu um farfalhar vindo de trás e, virando-se, viu Adam, erguendo-se no banco e correndo o olhar ao redor, os olhos arregalados e úmidos.
— Está tudo bem, cara — disse Cal, deixando o carro em ponto morto para poder tirar o pé do pedal e se virar. — Você está em segurança. Sou eu, Cal, lembra?
Adam concordou com um gesto de cabeça, relaxando um pouco, mas ainda sem piscar.
— Você teve pesadelos? — O garoto fez que sim com a cabeça outra vez. Não tinha falado nada desde que aparecera em Fursville, e nada indicava que começaria a fazê-lo tão cedo. — Eu também — continuou Cal. — Mas são só sonhos, eles não podem nos fazer mal. Está em segurança aqui, comigo e com Brick. Com Daisy também, ela está dormindo ali.
Adam olhou para o porta-malas, estendendo a mão para tocar o rosto de Daisy. Rapidamente recolheu a mão e levou os dedos aos lábios.
— Está tudo bem com ela — falou Cal. — Ela... Você conhece a história da Bela Adormecida, não conhece? Foi isso o que aconteceu com a Daisy. Ela vai acordar logo, prometo. Pode me fazer o favor de colocar o cinto de segurança, Adam?
Ele obedeceu com a mansidão de um cão surrado. Brick abriu a porta do carona, deslizando o corpo esguio para dentro e batendo a porta. Foram necessárias algumas tentativas para conseguir fechá-la; quando conseguiu, o carro estava lotado de pó, com incontáveis mortos cremados nadando em suas orelhas, bocas e narizes. Cal baixou o vidro da janela, pôs o carro em movimento e o guiou pelo estacionamento, deixando atrás de si um perfeito círculo de marcas de pneu nas cinzas.
— Sabe para onde a gente está indo? — perguntou Brick.
O carro dava solavancos pelo caminho esburacado que passava em meio às árvores, voltando para a estrada do litoral.
— Cal? — disse Brick.
— Sei para onde estamos indo — respondeu ele assim que chegaram à estrada, verificando se a barra estava limpa antes de rumar ao sul, para longe de Fursville. Pensou em Daisy em seu caixão de gelo e na criatura dentro dela. O anjo. Um hospital não seria de grande ajuda, nem a polícia, nem o exército. Só conseguia pensar em um lugar onde poderiam encontrar respostas. Pisou fundo, o carro acelerando e arrastando atrás de si uma capa esvoaçante. Então olhou para Brick e falou: — Precisamos achar uma igreja.
Rilke
Caister-on-Sea, 7h37
Vermes, todos eles.
Homens, mulheres e crianças aglomeravam-se na grama morta do camping, os olhos negros, pequenos e vazios, os dentes à mostra. Enxameavam trailers, chalés e carros, cegos para tudo exceto o próprio ódio. Alguns tropeçavam e logo eram soterrados na debandada. Outros se acotovelavam, a colisão de carne contra carne quase tão ruidosa quanto o estrondo dos passos. Outros guinchavam e uivavam, o ar vibrando com os gritos dos condenados. E estavam condenados, não havia dúvida quanto a isso.
— Está pronto, irmãozinho? — perguntou Rilke, voltando-se para Schiller.
Ele ficou de pé ao lado dela, pálido, assustado e débil. Parecia exausto, a pele do rosto em pregas soltas, os cantos da boca caídos como os de um palhaço entristecido.
O chão estremecia à medida que os furiosos se aproximavam, o primeiro deles — um homem enorme e peludo, um verdadeiro gorila de shorts e colete — a uns dez metros. Perto o bastante para que seu odor se fizesse sentir. Ah, como ela os odiava, como odiava aqueles parasitas. Antes talvez até tivesse ficado assustada, mas não mais. Agora só havia a fúria — a fúria dela, incandescente e tão perigosa quanto a deles.
— Schiller — disse Rilke. — Agora!
— Por favor, Rilke — começou ele, mas ela o interrompeu, pegando seu braço e torcendo-o com força.
Atrás dele, estavam Jade e Marcus, o rosto de ambos parecendo o de uma ovelha. O novo garoto, aquele que tinham achado em Hemsby, estava entre eles, ainda congelado. Rilke virou-se outra vez para o irmão.
— Agora!
Se Schiller estava hesitante, a criatura dentro dele estava muito disposta. Os olhos do irmão se acenderam com tanta força que uma fornalha parecia ter prorrompido em seu crânio. Em um instante, as chamas se espalharam como uma segunda pele que o envolveu em luz raivosa, e ele abriu a boca em um silencioso grito de fogo. Com um estampido, como o de um tiro, suas asas despontaram dos ombros, irradiando uma onda de choque que levantou pó e areia e mandou a primeira linha de furiosos de volta para a multidão. Aquelas asas batiam devagar, quase com preguiça, forjadas na chama. A força genuína emanada fazia o ar tremer, um zumbido de gerador que parecia despedaçar a realidade. Rilke precisou cerrar o maxilar e fechar os olhos com força para controlar a vertigem, e, quando olhou outra vez, Schiller já fazia seu trabalho.
Devia haver uns cem deles, rápidos e raivosos. Não davam a impressão de ter se assustado com a transformação de Schiller. Na verdade, ela pareceu deixá-los ainda mais irados. Jogavam-se contra o menino incandescente, as mãos em garras, os mesmos gritos horrendos e guturais como latidos produzidos no fundo da garganta. Cem deles, e mesmo assim não tinham a menor chance.
Schiller abriu os braços, o ar ao redor dele cintilando. Agora pairava, ondulações espalhando-se sobre a terra como se esta fosse água. O homem peludo despedaçou-se com um estalido tímido, o corpo atomizado mantendo a figura por uma fração de segundo antes de se decompor. Os outros correram por sobre seus restos flutuantes antes de se desintegrarem com a mesma velocidade, produzindo o som de alguém brincando com plástico-bolha. Porém, outros continuavam vindo, até que uma nuvem em redemoinho, escura e espessa como fumaça, apareceu diante de Schiller.
— Rilke!
Ela se virou e viu Jade gritando, porque mais furiosos vinham de trás deles. Dois adolescentes vinham à frente dessa multidão. Ambos se lançaram em cima de Marcus, tropeçando em uma rede de dentes e de membros. Outros três vieram, empilhando-se sobre o menino magrinho até que ele sumisse. Outros correram para Jade, e outros ainda, em maior número, em direção a Rilke. Não tenha medo deles; são ratos, ordenou a si própria, mas o medo petrificou suas pernas. Não tinha os poderes de Schiller, não ainda. Ela ainda era um ser humano patético, quatro litros de sangue em uma armação de papel. Iriam dilacerá-la com a facilidade de quem arranca pétalas de uma flor.
— Schill! — gritou.
Uma mulher saltou sobre ela, tropeçando em um dos braços de Marcus, que se agitava no ar, e errando o alvo. Um homem veio atrás, arranhando o rosto de Rilke e fazendo-a tropeçar. Enquanto ela caía, a outra mão do homem se lançou em sua garganta, os olhos dele como poços negros de ódio absoluto.
Sequer chegou ao chão. O ar abaixo dela se solidificou, sustentando-a. O homem se movia com uma lentidão inacreditável. Seus dedos estavam praticamente congelados à frente do pescoço dela, como um filme passando em câmera lenta. Viu a terra embaixo das unhas dele, o anel de pátina no dedo mindinho. Gotas de saliva voavam de seus lábios, subindo quase com graça, suspensas ao sol como orvalho.
Tudo parecia ter parado, o tempo operando com relutância ao longo de seu eixo. Uma das furiosas estava sentada sobre Marcus, erguendo um punho fechado, uma gota de sangue suspensa nos dedos. Outros se aproximavam, mas o ritmo da corrida era agora um rastejar de caracol. Rilke se percebeu rindo, mas seus movimentos também eram lentos, como se nadasse em um lago de gosma. Ela ainda caía, notou, mas tão lentamente que parecia imóvel.
Somente Schiller era imune. Ele flutuou pelas turbas até chegar perto de Rilke, depois, pressionou uma mão incandescente contra o peito do homem. Este não explodiu e virou pó. Mas dobrou-se ao meio com um coral de ossos partidos e, em seguida, dobrou-se de novo, e de novo, até se tornar menor do que uma caixa de fósforos. Com um peteleco, Schiller o mandou para longe, e voltou sua atenção para os outros furiosos. Ainda que não se movessem em câmara lenta, não seriam capazes de enfrentá-lo. Tudo o que o irmão de Rilke fez foi virar as palmas das mãos para o céu, e qualquer furioso à vista, fosse homem, mulher ou criança, esticou-se para cima como uma marionete presa por um fio. E, à medida que se esticavam, iam se despedaçando, os membros se soltando, roupas e pele tornando-se retalhos, dentes e unhas se despregando do corpo, todos unidos por espirais de sangue — erguendo-se até que ficassem pequenos como pássaros distantes que depois desapareciam.
Então, o tempo pareceu se dar conta de si novamente, com seus dedos envolvendo Rilke e empurrando-a para o chão. Os ouvidos dela estalaram e o coração bateu com certo descompasso antes de encontrar seu ritmo. Marcus retorceu-se no chão antes de perceber que os agressores tinham sumido, ao passo que Jade ficou sentada em um montículo, os olhos petrificados, subtraída de outra porção da sanidade que lhe restava. Rilke se pôs de pé em um salto e apoiou as mãos nos joelhos para não cair de novo.
— Tudo — disse ela. Tossiu, antes de repetir: — Tudo, Schill. Não podemos deixar nada para trás.
Ele olhou para ela, os olhos que não piscavam parecendo portais para outro mundo. Mirá-los provocava um tipo sorrateiro de loucura, que a deixava nauseada. A vibração no ar intensificou-se, e ela sentiu um dedo de sangue descer de seu ouvido. Mas não desviou o olhar.
— Agora, Schiller — disse outra vez.
E foi o irmão que cedeu, a cabeça pendendo. Desta vez, ele nem se mexeu, mas mesmo assim a paisagem se desfez, exatamente como em Hemmingway e em Hemsby. Trailers levantaram-se do chão, portas e janelas batendo como membros agitados, até virarem pó. Chalés desabaram como se fossem de areia, deixando cair migalhas ao cruzar o céu. Carros, motocicletas e cadeiras quebraram-se com ruídos metálicos abafados. Rilke os observou sumir, uma maré de matéria que corria acima deles como um rio, indo para as dunas e o mar.
Schiller baixou os braços, e os restos do camping desabaram com um estrondo de trovão, a água agitando-se enfurecida. Rilke sentiu o borrifar salgado no rosto e o enxugou. Odiava o cheiro do mar. Talvez, se Schiller jogasse coisas suficientes nele, ele secaria – terra e oceano, ambos perfeitamente limpos. Virou-se para o irmão quando os ecos morreram, vendo as chamas que emanavam de sua pele ondulando, as asas se dobrando e se apagando. Como sempre, os olhos foram a última coisa a voltar ao normal, a chama laranja dando lugar ao azul aquático. Ele pendeu para o lado, e ela o alcançou antes que ele caísse. Rilke o deitou delicadamente no chão e afastou o cabelo de seus olhos.
— Você agiu bem, irmãozinho — sussurrou ela. — Você nos manteve em segurança.
Ele parecia semimorto, mas as palavras dela produziram um sorriso. Marcus se agachou ao lado dos dois e tirou uma garrafa de água da mochila. Tinham juntado suprimentos em Hemsby, antes que Schiller arrasasse a cidadezinha. Rilke tomou a garrafa da mão dele, desenroscou a tampa e levou-a aos lábios do irmão. Ele bebeu com sofreguidão, como se tentasse apagar uma fogueira que ardesse em seu íntimo.
— Obrigado, Schill — disse Marcus. — Achei que não ia me livrar dessa.
Rilke também tomou um gole de água e depois devolveu a garrafa.
— Nada vai acontecer conosco — disse ela. — Somos importantes demais.
— Eu sei — respondeu Marcus, mas franziu o rosto.
— O que foi? — retrucou ela.
Estava exausta. Não dormiam desde Fursville. Tinham tentado descansar a caminho de Hemsby, em uma clareira entre as dunas, mas a polícia os tinha encontrado depois de cerca de meia hora, e Schiller fora forçado a cuidar deles. Desde então, não haviam mais parado, e a polícia aparentemente tinha decidido deixá-los em paz. Ou era isso, ou não havia mais polícia — o irmão não tinha demonstrado nenhuma misericórdia deles.
— Nada, Rilke — disse Marcus. — É só que... Eles são tantos, e alguns eram crianças.
A raiva fervilhou na garganta dela, mas ela tapou a boca para contê-la. Não podia culpar Marcus por duvidar, mesmo com tudo o que ele tinha visto. Ela própria tinha dificuldade de aceitar a verdade quando as turbas se desintegravam diante de seus olhos, especialmente as crianças. Havia bebês também, recém-nascidos com rostos franzidos que berravam com uma fúria que jamais poderiam entender.
Porém, a verdade era inconfundível e inescapável. Estavam ali para subjugar a raça humana, para fazer com que ela entendesse que havia uma força superior; que a ilusão de rédea solta, de impunidade, era só isto: uma ilusão. Eles eram os anjos da morte, o grande dilúvio, o fogo purificador. As pessoas eram más. Rilke sabia disso melhor do que ninguém. São todas iguais a ele, ao homem mau, pensou ela, lembrando-se do médico da mãe, com aquele mau hálito e aqueles dedos gananciosos. Lá no fundo, todos têm segredos, todos são podres. Marcus só tinha dúvidas porque ainda não havia se transformado, era isso. Assim que seu anjo nascesse, ele enxergaria a verdade. Schiller tinha se transformado, e enxergava.
— Estamos fazendo a coisa certa, não estamos, irmãozinho? — Foi uma pergunta retórica.
Schiller olhou para ela com olhos arregalados, tristes, e acabou fazendo que sim com a cabeça.
— Acho que sim — disse ele.
— Você sabe que sim.
Rilke de súbito lembrou-se de um incidente de anos atrás, quando ela e Schiller brincavam em casa. Ela não recordava exatamente qual era a brincadeira, só que os dois corriam, e ela derrubara do aparador da mesa de jantar uma das bonecas de porcelana da mãe. A boneca se quebrara em mil pedaços, e, por um instante, a vida de Rilke acabara. A mãe estava começando a perder a sanidade naquela época, os alicerces de sua mente sendo pouco a pouco corroídos, embora ela continuasse a amar aquelas bonecas mais do que amava os próprios filhos. Quebrar uma era um crime hediondo, a ser punido com uma surra. Assim, Rilke convencera Schiller a assumir a culpa. Ele tinha protestado. Tinha mais medo da mãe do que ela. Mas era fraco, sempre fraco, e não demorou até que cedesse. Quando subiram e Schiller confessou seu crime, Rilke teve certeza de que ele acreditava mesmo que era culpado. Por que estaria pensando nisso agora?
— Você sabe que sim — disse ela outra vez, acariciando a cabeça dele. Quando afastou a mão, havia nacos do cabelo dele entre seus dedos, como se fossem algas, e ela os limpou na saia. — Confie em mim, Schiller.
Ele tentou se levantar, mas não teve forças e caiu de costas. Sua testa estava viscosa de suor, e a pele, cinzenta. É só cansaço, Rilke se convenceu. Precisamos achar um lugar para descansar, para dormir. Mas havia também outro pensamento presente: Isso o está matando. Afastou a ideia. O que Schiller tinha dentro de si era um milagre, algo bom, que o fortalecia. Algo que o deixava em segurança, que nada faria para feri-lo.
— Eu vejo coisas — disse o irmão, olhando para o céu. — Quando acontece, quando eu me transformo, eu vejo coisas.
— Tipo o quê? — perguntou Rilke.
— Não sei — disse ele depois de um momento. — Uma coisa ruim. Parece um homem, mas um homem mau. Não consigo ver o rosto dele, só... Não sei, parece que ele mora dentro de um furacão ou algo parecido. Não paro de vê-lo, Rilke. E ele me assusta.
— Esqueça isso, irmãozinho — disse ela. Mas também o tinha visto no silêncio entre dormir e acordar, uma criatura ainda mais poderosa do que seu irmão. O homem na tempestade. — É um de nós — falou. Ele está aqui pelo mesmo motivo que nós. Não se preocupe com ele, ele está do nosso lado.
Schiller pareceu ruminar as palavras dela, mas não por muito tempo. Nunca por muito tempo. Você quebrou a boneca, Schill, foi culpa sua ela estar em pedaços, mas tudo bem, porque vou estar do seu lado quando você contar para a mamãe; estou sempre aqui do seu lado, eu te amo. Você é um bom menino, diga a ela que quebrou.
— Você é um bom menino, Schill — disse ela, acariciando-o por dentro da blusa. — Vamos passar por essa juntos. Sabe que estou sempre do seu lado.
Ele fez que sim com a cabeça, e o camping ficou em silêncio. Até o mar parecia tranquilo, as pequeninas ondas mal emitindo sons ao bater contra a praia. Ele está com medo de nós, pensou ela. Quer que vamos embora.
— Estou realmente cansado, Rilke — disse Schiller. — Podemos parar?
— Em breve — respondeu ela. — Assim que acharmos um lugar seguro.
Isso seria muito mais fácil se ela também se transformasse, mas o anjo dentro dela não dava nenhum sinal de que nasceria. O único motivo pelo qual sabia que ele estava ali eram as dores de cabeça que sentira — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, seguidas pela Fúria. Ele estava ali, e cedo ou tarde renasceria com os mesmos poderes do anjo do irmão.
E quando isso acontecesse...
Rilke abriu um sorriso enorme, a ideia aniquilando os últimos resquícios de exaustão. Ficou de pé, ainda ao lado de Schiller. O mundo nunca parecera tão grande, e tinham muito trabalho a fazer.
— Mais uma cidade, irmãozinho, você consegue?
Ele suspirou, mas concordou com um gesto de cabeça.
— Bom garoto.
Ela aguardou Marcus e Jade ajudarem a levantar o outro garoto, que ficou entre eles. Os dois tremiam, mas sabiam que discutir com ela não era boa ideia. Rilke deu o braço ao irmão, sustentando parte do peso dele, e juntos seguiram pela terra arruinada, deixando atrás de si a poeira dos mortos.
Cal
East Walsham, Norfolk, 7h49
O Freelander estrebuchou, pareceu por um instante que iria continuar, mas depois ofegou baixinho e morreu.
— Droga! — disse Cal, girando a chave.
O motor deu umas tossidelas insignificantes, mas, por mais que o jovem quisesse, não conseguia fazer o medidor de combustível levantar. — O tanque está vazio.
— Ótimo! — resmungou Brick, o rosto contorcido de um jeito que fez o sangue de Cal ferver de imediato. — Você não trouxe mais?
— Pois é, Brick, eu parei num posto quando saí de Londres, lutei com os furiosos e enchi o tanque. Peguei também umas jujubas e um cafezinho. O que você acha?
Brick deu um tapa no painel e abriu a porta. Cal respirou fundo e saiu depois dele. O ar ali era muito mais puro; não tinha gosto de crematório. A viagem havia tirado praticamente toda a carne pulverizada do carro, deixando apenas bolsões nos cantos das janelas e nas rodas. Cal respirou fundo, absorvendo o ar do ambiente: nada além de campos, árvores e sebes em todas as direções. O único indício do lugar de onde tinham vindo era uma névoa cinzenta no céu. Ao menos fazia calor, o sol nascente parecendo um casaco jogado nos ombros de Cal.
— Onde estamos? — perguntou Brick, reunindo uma bola de cuspe e lançando-a na beira da estrada.
— Não sei muito bem — respondeu Cal. — A gente basicamente dirigiu para oeste, é difícil dizer. — A navegação via satélite estava funcionando, mas Cal não sabia qual endereço colocar, por isso só a usara como guia, seguindo o emaranhado de estradas que saía de Norwich. Tinha se limitado às menores, e até ali só haviam passado por outros três veículos: dois carros que zuniram rápido o bastante para sacudir o Freelander, e um trator, atrás do qual permaneceram até que ele entrara em uma fazenda. Tinham passado por algumas cidadezinhas, mas estavam bem desertas. — A última placa que eu vi dizia “Tuttenham”.
— E onde fica isso? — retrucou Brick.
— Você que é daqui que devia saber.
Por alguns segundos, os dois se encararam, fumegando em silêncio.
— Ok — disse Cal, suspirando. — Vamos ter que continuar a pé, não é?
Brick deu de ombros, parecendo ter um quarto de seus dezoito anos. Arrastou os tênis sujos no chão, depois passou os dedos pelo cabelo.
— Deve ter alguma cidadezinha por aqui — murmurou ele. — Talvez uma fazenda. Daria para pegar um pouco de diesel.
Cal deu de ombros.
— Vale a pena tentar. Quer levar Adam ou Daisy?
Brick não respondeu, só começou a caminhar pela estrada, o corpo coberto de pó parecendo um fantasma estranho e delgado na branda luz da manhã. Cal abriu a porta de trás do carro e deu de cara com Adam, como sempre de olhos arregalados. O garotinho tremia.
— Quer sair do carro? — perguntou Cal. — Pegar um pouco de sol? Está congelando aqui. — Adam olhou nervoso para a menina no porta-malas. — Está tudo bem, Daisy também vem com a gente. De repente o calor vai até descongelar ela. Vamos.
Adam arrastou-se do assento para o asfalto. Cal sorriu para ele, e em seguida andou até a traseira do Freelander. As janelas ali estavam foscas devido ao gelo, como se fosse Natal, e, quando ele tentou abrir o porta-malas, descobriu que o gelo o havia travado. Deu alguns chutes para soltar os flocos de cristal até conseguir abri-lo. Daisy estava encasulada em uma teia de seda, o rosto branco e frágil como porcelana. Parecia morta, mas ele sabia que ela apenas dormia. Qual era o termo correto? Metamorfoseava-se. Cal pensou em Schiller, consumido pelo fogo, e se perguntou se para Daisy não seria melhor morrer de uma vez. Para todos eles.
— Lá vamos nós — disse, passando as mãos por baixo do corpo de Daisy e levantando-a.
Ela parecia mais leve, apesar da crosta de gelo, e o modo como cintilava era quase assustador. A pele de Cal queimava com o frio, as mãos já quase dormentes, mas ele a segurava com firmeza. — Aguente firme, Daisy, a gente vai encontrar ajuda.
Adam, que esperava à frente do carro, deu um ligeiro sorriso quando viu Daisy.
— Está vendo? Vai dar tudo certo com ela — disse Cal. — Com todos nós.
Ele lançou um olhar para o Freelander vazio, e em seguida partiu pela estrada. Brick tinha sumido, mas, depois de mais ou menos cinquenta metros de caminhada, sua cabeça surgiu da alta grama que ladeava o asfalto.
— Melhor sair da estrada — disse ele. — Com ou sem Fúria, os motoristas de Norfolk são todos malucos.
Cal esperou Adam correr até a beira da estrada e depois cambaleou até lá. Quase caiu após tropeçar em um canteiro de flores amarelas brilhantes, conseguindo por pouco ficar de pé, e torcendo o tornozelo no processo. Engoliu um palavrão e mancou até Brick.
— Obrigado pela ajuda — disse ele, mas o outro garoto já se afastava.
Cal o seguiu, respirando fundo algumas vezes para se acalmar. Adam trotava do seu lado, de vez em quando dando uma corridinha para acompanhar o ritmo. O único som, tirando o baque dos pés na terra seca, era o chilrear dos pássaros. Eles não param de cantar, pensou Cal, mesmo com o mundo desabando em volta deles.
— O que é que vamos fazer se as pessoas ainda estiverem com a Fúria? — perguntou Brick após alguns minutos.
— Sei lá — disse Cal.
— Acha que vão vir atrás da gente?
— Sei lá.
Brick chutou uma pedra, que rolou para as sombras em meio à vegetação. Andaram calados, cruzando um dique seco e abrindo caminho por uma sebe na extremidade do campo. O trecho seguinte de terra era quase deserto, o que facilitou a travessia. Deram apenas alguns passos até que Cal sentiu Adam puxando suas calças esportivas. O garoto apontava e, quando Cal seguiu seu dedo, viu uma pequena torre de pedra erguendo-se das sebes.
— Boa, garoto! — disse ele, sorrindo. Adam sorriu em resposta, mais radiante do que o sol. — Está vendo aquilo, cara?
Brick ergueu os olhos para protegê-los, embora o sol estivesse atrás deles. Era difícil dizer a que distância estava a igreja, talvez a uns dois ou três quilômetros.
— Ainda não sei para que você quer uma igreja — respondeu Brick. — Não sei que grande coisa ela vai nos oferecer.
— Bem, não é como se você tivesse me dado outras sugestões — disparou Cal, com a sensação de que ele próprio estava prestes a ter um acesso de Fúria. Alguma coisa em Brick provocava isso nas pessoas, deixava-as irritadas. — Só achei... Sei lá, mas, se essas coisas dentro de nós são mesmo anjos...
— Não são anjos, Cal.
— Bem, se são anjos, então talvez um pastor possa ajudar a gente; talvez ele saiba nos dizer o que fazer. Talvez tenha alguma coisa na Bíblia. Não sei. — O simples fato de dizer aquilo o fez perceber a futilidade de suas palavras. O que quer que estivesse acontecendo, não tinha nada a ver com cristianismo. — Sei lá. Mas não consigo pensar em mais nada. Você consegue?
Brick limitou-se a fungar.
— Vai se ferrar, então! — falou Cal. — Se quiser seguir seu caminho sozinho, não sou eu que vou impedir.
— Certo — disse ele. — Vamos tentar a igreja. Mas não vai adiantar nada.
Cal levantou Daisy até o peito, os dentes batendo. Levaram uns dez minutos para chegar ao fim do campo; e já levavam uns cinco tentando atravessar uma cerca de arame farpado. Do outro lado, havia uma pista de terra que passava ao lado de um pasto cheio de vacas, os animais encarando-os com aqueles olhos tristes e negros. Ao menos não ameaçavam atacá-los. Ser pisoteado até a morte por um bando de vacas furiosas não era um bom jeito de passar desta para uma melhor.
— Já deu tiro em bosta de vaca? — A pergunta era tão surreal que Cal precisou parar para ter certeza de que tinha ouvido direito.
— Se eu já dei tiro em bosta de vaca?
— É, tiro de espingarda.
— Não, Brick. Eu sou de Londres. Lá não tem espingarda nem bosta de vaca. Por quê?
Brick emitiu um som que poderia ser uma risada.
— É como assistir a um vulcão de cocô — disse ele, e Cal ouviu o sorriso em sua voz. — Meu amigo Davey tinha uma doze. Um dia ele me levou para a fazenda dele, e a gente deu uns tiros num campo inteiro de bosta. Sério, ela sobe uns dez metros, nunca vi nada igual.
Cal sacudiu a cabeça, sem saber o que dizer. Conhecia Brick havia menos de uma semana, mas achava que poderia passar anos com ele e não entender suas variações de humor.
— Dei um tiro num monte de bosta e deixei Davey coberto de esterco. Foi a coisa mais engraçada que já vi.
— Parece mesmo engraçado — respondeu Cal.
— Quisera eu ter uma agora.
— Bosta de vaca? Pode escolher, aqui tem centenas.
— Uma espingarda, panaca. Eu me sentiria bem mais seguro de andar até a igreja se tivesse uma arma.
— Pois é, da última vez que a gente teve uma arma foi realmente ótimo. — Cal jamais esqueceria da arma apontada para ele pelo homem em Fursville, nem do jeito como Rilke lhe dera um tiro na cabeça sem hesitar. Rilke também tinha dado um tiro na namorada de Brick, lembrou Cal de repente, e suas bochechas arderam. — Foi mal, cara. Não pensei direito antes de falar.
Brick não respondeu, só chutou o chão, espalhando pedrinhas. E fez tanto barulho que Cal quase não ouviu o som de um motor à frente, aumentando e diminuindo. Conteve os passos, erguendo a cabeça quando outro rugido distante soou e sumiu.
— Deve ser uma estrada — disse Brick. — O que vamos fazer?
— Vamos chegar mais perto para ver, o que acha?
Não era o melhor plano do mundo, mas era esse o problema com a Fúria: você só sabia se ela estava presente chegando perto. E, ao chegar perto, provavelmente alguém já estaria lhe dando uma dentada.
Brick não respondeu, só pulou a cerca. Estendeu as mãos, e Cal passou Daisy para ele. Seus braços eram dois blocos de pedra fria, mas ainda assim conseguiu erguer Adam acima da cerca antes de ele mesmo pulá-la. O campo começava a formar um aclive no caminho de terra, e eles subiram a colina calados, ouvindo o tráfego adiante. Cal contou sete veículos passando antes que chegassem ao final.
Agachou-se, espiando pela cerca e vendo uma estrada abaixo. Havia calçada dos dois lados, e casas uma na frente da outra — grandes propriedades separadas com telhados de palha e largas rampas de acesso. À esquerda, a estrada levava a uma cidadezinha. Cal distinguiu o que poderia ter sido uma padaria e uma loja Tesco. Erguendo-se acima de tudo, estava a torre da igreja. Havia gente ali, seis ou sete pessoas, longe demais para enxergá-las direito. Três sumiram supermercado adentro, suas risadas ecoando pela estrada.
— O que você acha? — perguntou Cal.
— Como é que eu vou saber? — respondeu Brick, estreitando Daisy ao peito e tremendo de frio. — Podemos descer lá e ter a cabeça arrancada por eles.
Cal endireitou as costas, abrindo um sorrisinho nervoso para Brick.
— Acho que só tem um jeito de descobrir.
Brick
East Walsham, 8h23
Brick observou Cal tropeçar pelo campo, com Adam em seu encalço, mas não conseguiu segui-los. Carregava Daisy em seus braços, e o frio que irradiava dela congelara seus ossos, fazendo com que ele criasse raízes. De repente, percebeu o quanto estava exausto, o corpo e a mente funcionando à base de nada, prestes a dar um soluço e morrer, tal como o carro. Cal pareceu ler sua mente, porque olhou por cima do ombro e disse:
— Vamos, cara, não posso encarar essa sozinho!
Aos tropeços por causa do chão irregular, Adam retornou até Brick. O garotinho estendeu a mão e segurou a camiseta do outro, dando-lhe um leve puxão. Seus olhos eram bolsões de luz solar, ofuscantemente brilhantes, e ofereceram certo calor ao corpo de Brick, que respirou fundo e ficou de pé. Uma ligeira tontura deu-lhe a impressão de que dava piruetas pelo campo. Quando ela parou, deu um passo, depois outro, e foi seguindo Cal em direção à torre.
— Será que a gente podia fazer aquele negócio da distração de novo? — disse Cal. — Que nem na fábrica, lembra?
Brick deu de ombros, ainda que soubesse que Cal não estava vendo. Na fábrica, só havia um guarda para distrair, e mesmo assim tinha dado errado.
— Eu podia atraí-los para fora e abrir caminho para você levar Daisy e Adam para dentro da igreja — continuou Cal. — Ou, se você for mais rápido do que eu, você os atrai.
Até parece, pensou Brick, dizendo, por fim:
— E se a igreja estiver cheia?
— Segunda de manhã? Não vai estar.
— E se estiver trancada?
Cal colocou as mãos na cabeça e puxou os cabelos.
— Ok — disse Brick. — Tá, beleza, vamos tentar.
À frente, o campo se inclinava rumo à estrada, estendendo-se junto a ela até o início da cidadezinha. Havia um trechinho de sebe, mais buraco do que folhas, que não ofereceria rigorosamente nenhuma proteção se os furiosos sentissem a presença deles. Cal se agachou, descendo o declive com rapidez. Outro carro passou pela estrada, talvez a uns trinta metros de distância, seguido por um caminhão dos correios. Para uma cidadezinha, até que havia bastante movimento.
— Você devia ir por trás — disse Cal. — Por aqueles jardins. Veja se dá para cortar caminho.
Ele apontava para onde o campo se juntava às casas, no limiar da cidadezinha, onde havia pequenos jardins protegidos por cercas.
— E você? — perguntou ele.
— Eu vou pela rua principal. Se ainda estiverem com a Fúria, eu atraio eles. — Enxugou a boca com a mão. Seus dedos tremiam. Cal não parecia ser capaz de percorrer nem mais vinte metros, quanto mais correr por uma cidadezinha inteira cheia de furiosos. — De repente, eu chego lá e ninguém repara em mim.
Brick deu de ombros outra vez. Ele levantou Daisy; a menina era levíssima e, estranhamente, também a coisa mais pesada do mundo.
— Fique com Brick, Adam, ele vai cuidar de você até eu voltar.
O garotinho abriu a boca, mas não falou nada. Cal olhou para Brick e fez que sim com a cabeça, e depois se pôs em movimento, descendo o declive rumo à estrada. Brick olhou-o por mais alguns segundos, praguejou e depois partiu na direção das casas. Com Daisy nos braços, e Adam preso à sua camiseta, não estava nada fácil. Duas vezes ele tropeçou na terra árida; pareceu demorar uma eternidade até chegar à primeira cerca. Não ouviu gritos, nem pneus cantando, nem explosões.
A cerca era um pouco mais baixa do que ele, e ele ficou na ponta dos pés para olhar por cima dela. Do outro lado, havia um microjardim que levava a uma casa geminada. A casa tinha uma passagem lateral, e Brick deu uns passos para a esquerda, para ter uma visão mais ampla. Havia um portão, provavelmente trancado. Foi aos tropeços até o jardim seguinte, que estava cercado por uma espessa sebe. O outro jardim tinha arame farpado acima da cerca, e a quarta casa estava caindo aos pedaços, com uma estufa abandonada sem várias placas de vidro. Uma olhadela rápida pela passagem revelou um caminho reto até a estrada do outro lado.
Não havia portão, mas o jardim não era exatamente Alcatraz. Brick chutou a cerca que estava se soltando, disparando uma saraivada de farpas. Outro chute, e, com um rangido abafado, o painel caiu na grama alta. A casa tinha as cortinas bem fechadas em cada janela.
— Vamos — disse ele, andando pelo jardim e chegando à passagem.
Seus passos ecoavam, dando a impressão de que havia alguém bem atrás deles, e duas vezes olhou por cima do ombro para se certificar de que ninguém os seguia. A luz do sol se derramava pelo arco do outro lado, e Brick deu um passo cauteloso dentro do calor, apertando os olhos até que a estrada iluminada ganhasse foco. Era uma rua residencial, com casas pequenas ombreando-se como soldados. Reteve a respiração, outra vez procurando algum ruído. O ar estava quente e silencioso, como se a cidade inteira o imitasse, também retendo a respiração, esperando o momento certo para ganhar vida.
Engoliu em seco, a garganta uma bola de areia, e em seguida deixou a passagem rumo à calçada. Estava deserta, mas será que não havia gente dentro das casas? Será que já não o teriam pressentido? Não surgiriam jorrando de portas e janelas? Voltou o olhar para a torre da igreja, perto o bastante para distinguir as gárgulas gastas e o campanário.
Uma buzina distante cortou o silêncio pesado, sobressaltando Brick de tal maneira que Daisy quase escorregou de seus braços. Ele a apertou contra o peito. Acorde, Daisy, pensou ao atravessar a rua, indo para a passagem do outro lado. Por favor, acorde, não posso carregar você para sempre.
Então se lembrou do que ela seria quando acordasse, e sugou o desejo de volta para as trevas de seus pensamentos.
As casas desse lado tinham portões que davam para fora, mas um pouco adiante as casas enfileiradas acabavam e davam espaço a casas maiores, parcialmente separadas. Pegou um atalho por uma rampa de acesso de cascalho e seguiu por um jardim comprido e cuidado com perfeição. O zumbido do tráfego era mais alto ali, e o garoto pensou ter ouvido vozes também. Chegou a um muro e se apoiou nos tijolos em ruínas, tentando recuperar o fôlego.
— Consegue subir? — perguntou a Adam.
O garotinho olhou o muro, os dois metros de muro, e balançou a cabeça. Brick resmungou, frustrado, agachando-se e pousando Daisy no chão com delicadeza. Esfregou os braços, tentando aquecê-los, e em seguida pegou Adam pelas axilas. As mãos dele estavam tão dormentes, e o menino era tão leve, que parecia estar levantando ar. Colocou-o no alto do muro e o sentou ali.
— É só descer. Não é tão alto.
Adam balançou de novo a cabeça, o temor estampado no rosto.
— Desça! — disparou Brick. — A menos que prefira que eu o empurre.
O garoto passou o braço pelo rosto, enxugando as lágrimas. Virou-se com calma, apoiando-se nos dedos brancos enquanto se deixava cair. Brick se agachou para pegar Daisy, e foi ao endireitar a coluna que ouviu o som de uma porta se abrindo. Voltou os olhos e viu um homem sair da casa; ele usava calças de moletom e colete, o rosto com a barba por fazer, e parecia zangado.
— Ei! Você aí, o que acha que está fazendo?
A que distância estava ele? Era um jardim grande, talvez fosse uns vinte metros entre a porta dos fundos e o muro, mais ou menos. Brick não se mexeu; até seu coração pareceu conter o batimento frenético, à espera. O homem deu um passo à frente. Ele já estava perto o bastante para um acesso de Fúria, não estava?
— Estou falando com você! — gritou. — Saia do meu jardim ou vou chamar a polícia!
Mais um passo. Brick recuou até colar as costas no muro. O homem tinha parado e o encarava, ambos num impasse. Talvez o cara fosse entrar e pronto. Brick era alto, e tinha um rosto do tipo que faz você pensar duas vezes antes de querer brigar. Talvez o homem simplesmente voltasse, trancasse a porta e chamasse a polícia.
Porém, havia uma parte de Brick que precisava saber se a Fúria ainda estava ali.
O homem esfregou o rosto, franzindo-o. Tentava distinguir o que Brick tinha nos braços.
— O que é isso aí? — perguntou ele. — O que...?
Brick ignorou-o, virando-se para o muro e tentando erguer Daisy. Seus braços pareciam feitos de vidro, prontos para se estilhaçar, e ele não teve forças. Tentou de novo, gemendo com o esforço. Desta vez, conseguiu levá-la até o alto do muro, mas não conseguia virar seu corpo. Os músculos cederam, e ela caiu no chão diante de seus pés como uma boneca de pano, uma coisa morta.
— Ei, se afaste dela! — gritou o homem.
Brick ouviu-o começar a correr. Abaixou-se e agarrou nacos das roupas e da carne de Daisy, sem se preocupar se a machucava. Levantou-a, apoiando-a com o peito contra o muro, enquanto reposicionava os braços.
— Afaaaaaaaaste-se deeel... — A voz do homem era um som gorgolejante, e Brick quase deu um grito ao ouvi-la.
Colocou o corpo sob o de Daisy, erguendo-a como um halterofilista olímpico. O homem cuspiu outras palavras, os passos martelando o chão, mais alto, mais perto. Não olhe, Brick, apenas pule o muro, pule o maldito muro! Ele lançou Daisy com toda a força e ela rolou por cima, caindo do outro lado. Em seguida, ele agarrou os tijolos, içando-se.
O homem agarrou sua perna, dedos de ferro em sua panturrilha. Outra mão pegou sua coxa, puxando-a. Brick deu um grito, enfiando as unhas no muro em ruínas. Ele desferiu chutes no ar. O homem uivava alto o bastante para convocar a cidade inteira.
Brick deu outro chute, e desta vez seu pé encontrou algo macio. Ouviu-se um barulho, um grito gorgolejado de fúria, e ele se libertou. Lançou-se de cabeça, dando um salto-mortal desajeitado em pleno ar e caindo de costas. O impacto esvaziou seus pulmões, fazendo-o gemer, mas ele se forçou a se levantar.
Daisy estava deitada sobre um montículo, com Adam ao lado. Estavam em outro jardim, esse cheio de engradados e geladeiras enferrujadas. Vinham ruídos de trás do muro, gritos enfurecidos e um som de algo raspando. O homem pularia o muro em segundos.
— Vamos! — ofegou Brick, empurrando Adam para poder pegar Daisy.
Desta vez, colocou-a em cima do ombro e cambaleou pelo jardim seguindo pela lateral da construção. Ao chegar à frente, percebeu que era uma loja de eletrônicos. A porta da frente estava aberta, mas não havia ninguém dentro dela. Na verdade, não havia ninguém na rua, só lojas e, subindo à esquerda, a igreja. Foi na direção dela, ouvindo um grito quando estava a meio caminho.
Não era um grito de uma só pessoa. Era o grito de muitas pessoas.
Parou e voltou os olhos. Do outro lado da rua deserta, havia um cruzamento, e estava lotado. Devia haver umas trinta pessoas ali, talvez mais.
— Cal!
Cal estava em algum lugar ali, e precisava de ajuda.
A massa febril e uivante mudou de direção, como pássaros em um bando, convergindo para um ponto fora do alcance da visão. Brick quase deu um passo na direção deles. Quase. Mas você não pode ir, você precisa cuidar de Daisy. E essa desculpa foi suficiente para fazê-lo se virar, andar rumo à igreja, rangendo os dentes com tanta força que pareciam prestes a saltar das gengivas. Ele não veria aquilo, não veria a morte de Cal, a criatura de chamas que subiria de seu cadáver e se evaporaria no ar de verão. Ele não assistiria ao momento em que ficaria por conta própria.
Abafou os gritos, correndo os últimos metros até o portão da igreja e atravessando o cemitério arborizado. A porta era de carvalho antigo, pesada, mas não estava trancada. Empurrou-a, e Adam entrou logo atrás. Então jogou o corpo contra a porta, mantendo do lado de fora a loucura e a culpa, confinando-se na escuridão fresca, silenciosa, secreta.
Cal
East Walsham, 8h37
Ele estava morto.
Praticamente morto. Não havia para onde correr. À frente, pessoas jorravam de uma loja como se fossem um rio transbordante, todas urrando. Vinham também de trás dele; a porta de vidro de uma padaria desfeita em estilhaços brilhantes conforme dez, quinze pessoas se lançaram para fora. Cal cambaleou para longe, tropeçando no meio-fio. Do outro lado da rua, dois homens saíam a passos trôpegos de uma imobiliária, a Fúria retorcendo o semblante deles, deixando-o com o aspecto de máscaras de Halloween.
Havia furiosos demais, todos correndo; o primeiro deles — uma criança de onze ou doze anos, com o braço engessado — já estava a segundos de distância. Cal cambaleou de novo. Bateu em um carro, um dos que estavam estacionados na rua, e, antes de se dar conta do que estava fazendo, já tinha corrido para debaixo dele.
Mal havia espaço para ele ali, a estrutura metálica do carro nas costas, achatando-o contra o asfalto. O que você tinha na cabeça, cara?
Algo colidiu com o carro, transformando em ocaso a luz do dia. Depois, foi como se os céus tivessem se aberto, e um estrondo saraivou ao redor de Cal, imergindo-o em uma noite absoluta. Os gritos eram tão altos que o afogavam; não conseguia respirar, não conseguia se mexer, não conseguia fazer nada além de ficar deitado e ouvir aquele coral horrendo e ensurdecedor.
Uma multidão surgiu embaixo do carro, uma torrente de membros e dentes. Mãos o agarravam e beliscavam, tentando puxá-lo. Corpos se arrastavam ao lado dele, superpovoando sua tumba. O carro balançava de um lado para outro, com a suspensão rangendo. Iam virar o carro, iam se jogar sobre ele, e ele deixaria de existir.
Porém, não era esse o pensamento que o assustava. Depois de tudo, a morte lhe parecia uma velha amiga. Sem mistério, sem surpresas, só um último suspiro e, em seguida, o nada. O que o assustava era a ideia de ficar frio, de virar gelo, enquanto algo se nascia no casulo congelado de seu corpo.
Uma mão agarrou seu rosto, unhas rasparam suas pálpebras. Ele abanou as mãos desesperadamente para afastá-la. A mão tentou alcançá-lo outra vez, dedos sujos em sua boca, e ele mordeu com força. Gosto de sangue. Tentou se virar, mas não havia espaço suficiente para os ombros. Era a morte.
Não, Cal, enfrente-os!
A voz não parecia ser dele, mas não havia dúvida de que vinha de dentro de sua cabeça. O que ela queria que ele fizesse? Havia outro carro à frente, era tudo o que ele sabia. Havia uma fileira deles estacionados na rua, quase grudados um ao outro. Será que ele conseguiria passar para baixo do próximo?
Começou a se arrastar. Pernas impediam seu avanço, formando uma cerca entre o carro sob o qual estava e o seguinte, mas ele a atravessou aos tapas e empurrões. O pouco espaço impedia que eles o agarrassem, os para-choques escudavam Cal contra seus socos e chutes, e poucos segundos depois ele estava debaixo do outro carro.
Não adiantou nada. A multidão o seguiu, o radar sintonizado no que quer que estivesse dentro do garoto. Rastejar para longe não era uma opção válida, pois eles não precisavam de olhos para encontrá-lo. Cercaram-no, bloqueando o sol, cem dedos à procura de sua pele.
Queime-os.
A voz de novo. Não era a dele, mas era conhecida. Tentou localizá-la, mas, o que quer que ela fosse, estava agora perdida no caos de outras vozes.
— Como? — berrou ele.
Alguém rastejava para perto dele, um rosto tenebroso com o maxilar escancarado. Cal soltou o cotovelo no nariz da mulher, nocauteando-a. Isso acabou sendo bom, porque os outros furiosos não conseguiam passar pelo corpo dela. Mas eles continuavam se espremendo por todos os demais lados, beliscando e mordendo, enquanto a mesma voz continuava clamando: queime-os, queime-os, queime-os.
Combustível. Era isso! Estava sob um carro, e em algum lugar ali ficava o tubo que levava combustível ao motor. Não entendia muito de carros, mas não era preciso ser engenheiro para saber que, se você danificasse vários canos, alguma coisa inflamável começaria a vazar dali.
Fez um esforço para se virar e ergueu a mão enquanto algo mordia sua perna. Havia dezenas de tubos, canos enormes e outros menores, mais moles. Pegou um desses e puxou com força. O cano resistiu, mas Cal não o soltou, retorcendo-o com toda a força até arrancá-lo do lugar. Escorreu um fluido dali, mas não era gasolina: Cal percebeu pelo cheiro. Procurou outro. Estava escuro demais para enxergar, e por duas vezes o garoto sentiu uma mão agarrar seus dedos, conseguindo se desvencilhar por pouco.
— Droga! — disse ele. — Qual é? Qual é?
Outro cano, e, desta vez, quando Cal o tirou do encaixe, o cheiro pungente de combustível invadiu suas vias aéreas. Teve vontade de vomitar ao sentir o fluxo constante de combustível nas roupas, que formaram uma poça debaixo dele. Isso era preocupante, porque, mesmo que achasse um jeito de produzir uma faísca, seria queimado vivo pela bola de fogo.
Existe um jeito, disse a voz. E Cal de repente viu de novo o restaurante em Fursville, as velas. Pôs a mão no bolso, sentindo a caixa ali. Fósforos. Pegou-os. Algo bateu em seu braço, e eles quase caíram, mas Cal segurou firme a caixinha, abrindo-a e tirando um fósforo.
Ainda havia o pequeno detalhe de ser queimado vivo.
— Pense! — gritou, a voz se perdendo em meio aos gritos à sua volta.
Precisava se mover de novo, ir para o carro seguinte. Segurou no veículo, usando-o para se impulsionar para trás. Outra vez havia furiosos no caminho, mas o espaço entre os carros era apertado demais para que o segurassem com força. Ele foi se arrastando, a multidão atrás, grudada nele como larvas em carne podre.
Esfregou o fósforo na caixa, uma, duas, três vezes, até que se acendesse. Tomando cuidado para não jogá-lo em si mesmo, lançou o palitinho em chamas para o lugar de onde tinha vindo. O palito quicou em um pneu, depois pareceu prestes a se apagar, e enfim pousou na sarjeta, em uma poça de gasolina.
A escuridão explodiu em luz, cada pedaço de metal abaixo do carro, cada rosto retorcido, cada unha ensanguentada revelada em detalhes inacreditáveis. As chamas se espalharam rápido, envolvendo as pessoas mais próximas do carro. Um dos homens que rastejava sob ele perdeu o rosto para o fogo, mas, mesmo naquele inferno, mesmo enquanto os olhos derretiam, ele continuava furioso.
Os sapatos de Cal pegaram fogo, e ele agitou as pernas para apagar as chamas. Não havia ar; seus pulmões estavam tomados por fumaça e pelo forte cheiro de carne queimada.
Houve uma explosão no carro da frente, quando seu tanque de combustível pegou fogo: a onda de choque fez a multidão voar. Era a chance dele; era agora ou nunca. Rolou para o lado, socando as pessoas no caminho, atacando olhos, gargantas, tudo que encontrasse pela frente, até que o céu se abrisse.
Já estavam sobre ele antes mesmo que conseguisse se levantar, mas ele se lançou para longe, para a fumaça, assim não o veriam. Colidiu com uma figura flamejante e empurrou-a enquanto outra explosão fazia a rua estremecer. Corria agora, um trote trôpego e arrastado, mas, caramba, era muito bom estar se mexendo. Tinha a sensação de ter escapado de seu caixão. Baixou a cabeça: nada funcionava exatamente como deveria, mas cada passo desajeitado o levava para mais longe da matilha.
Foi só quando não sentia mais o calor do fogo nas costas que arriscou se virar para trás. A rua estava um caos, com pelo menos quatro ou cinco dos carros estacionados em chamas. A fumaça era espessa demais para deixar ver algo a mais, mas Cal distinguiu uma dezena de figuras ali, corpos vestidos de fogo da cabeça aos pés, ziguezagueando em volta uns dos outros, quase se batendo, como dançarinos. Mesmo naquele momento tentavam persegui-lo, e Cal sentiu certa gratidão pela Fúria, pois aqueles seres jamais tomariam consciência do horror da própria morte. Uma criatura incandescente caiu de joelhos, e mais outra, e a dança chegava ao fim. Porém, outras figuras abriam caminho na ondulante cortina negra, silhuetas pretas de fuligem que tropeçavam na direção dele.
Mas não o alcançariam. Nem agora, nem nunca. Cal se virou, outra vez preparando-se para correr, enquanto aquela mesma voz baixinha surgia de novo em seu crânio.
Queime-os. Queime-os todos.
Rilke
Great Yarmouth, 8h52
— Queimar quem, irmãozinho?
Schiller estremeceu como se tivesse sido acordado de um sonho. Umedeceu os lábios, como se para apagar qualquer vestígio das palavras, e fitou Rilke com olhos grandes e tristes. Ainda andavam ao longo do litoral, deixando uma vasta camada de pó no caminho. Não tinham visto mais do que um punhado de gente desde a última cidadezinha, no camping. A notícia de que algo ruim se aproximava devia estar correndo.
Não, algo bom, pensou ela. Algo maravilhoso.
— Fiz uma pergunta, Schiller — disse ela. O irmão tinha começado a sussurrar aquelas palavras alguns minutos antes: queime-os, queime-os, como se recitasse um mantra. Rilke presumiu que ele estivesse falando dos humanos. Era assim que ela havia passado a chamá-los, sabendo que já não era um deles e que o propósito de sua missão era enfim compreendido por Schiller. Porém, havia algo na urgência com que ele falava, e no modo como seus olhos iam de um lado para o outro, vendo um mundo que ela não era capaz de ver, o que a fez pensar que ele escondia algo. — Queimar quem?
— Ninguém — disse ele. — Quer dizer, todo mundo. Desculpe, eu nem sabia que estava falando alguma coisa.
Ela continuou encarando-o, até ele virar o rosto e mirar a água tranquila, cor de ardósia. Ele ruminava algum pensamento, Rilke tinha certeza. Conhecia o irmão melhor do que ele conhecia a si mesmo, e havia algo dentro daquela cabecinha que ela queria que Schiller colocasse para fora.
— Schill, não vou perguntar de novo.
— Eu... — Ele chutou a areia molhada; montinhos se agarraram ao seu calçado. Em seguida, levantou a cabeça. Não havia fogo em seus olhos, mas de certo modo eles pareciam mais luminosos. — Não é nada, de verdade. Só estou cansado.
Ela abriu a boca para voltar a pressioná-lo, mas desistiu. Estavam todos cansados. Exaustos, para dizer a verdade. Schill, ela, Marcus e Jade, que caminhavam atrás com o novo garoto entre eles. Era incrível não terem todos caído duros de tanta fadiga.
— Haverá tempo mais do que suficiente para dormir — falou ela. — E um mundo inteiro no qual repousar nossas cabeças. Imagine só, Schiller, como vai ser silencioso. Como vai estar vazio.
Ele fez que sim com a cabeça, encarando os pés enquanto os arrastava pela praia. Era enfurecedor, pensava Rilke, que o irmão tivesse voltado ao seu eu de sempre. Por que não podia ser um anjo o tempo inteiro? Por que ela tinha de aguentar esses choramingos entre as exibições de fúria divina? Ela sabia o motivo: estava claro pela ausência de cabelos acima da orelha esquerda dele, no brilho ceroso da pele. Fogo demais acabaria por matá-lo.
— Mais uma — disse ela. A praia larga e arenosa levava a uma cidade, aparentemente grande. Um aglomerado de casas se estendia à direita deles, e, do outro lado, havia vários píeres e calçadões assolados por torres. — Você pode acabar com este lugar?
Schiller pareceu encolher diante da ideia, as costas encurvadas como se o mundo inteiro se apoiasse nelas. Parecia pronto a se reduzir a pó e areia. Era patético. Onde estava a criatura dentro dele? Onde estava o anjo? Rilke sentiu a raiva fervilhar e subir pelo esôfago, e por um instante enxergou tudo branco. Schiller deve ter pressentido: ele conhecia o temperamento dela o bastante para ter medo dele, e rapidamente assentiu com a cabeça.
— Então acabe.
Em algum lugar, lá longe na praia, uma pipa de um amarelo vivo focinhava o céu como um peixe faminto. Talvez a notícia não tivesse chegado tão longe quanto ela achava. Talvez as pessoas não tivessem ouvido falar de Hemsby, de Caister. Bem, logo saberiam.
O mundo irrompeu em cores quando Schiller se transformou: línguas de fogo azul e alaranjado lambendo a praia, congelando a areia úmida e espalhando um gelo parecido com seda até a beira d’água. Estava ficando mais fácil para ele, percebeu Rilke. Ele nem franzira o rosto quando as asas se desdobraram às suas costas, velas de pura energia que emitiam um pulsar ininterrupto, o qual fez os ossos dela zumbirem como um diapasão que jamais esmorecia. Os olhos dele, com o contorno avermelhado, irromperam, e a luz ali dentro era como pedra derretida, cuspindo e transbordando por seu rosto.
Schiller começou a andar — a flutuar — em direção ao mar, a luz como gavinhas de uma planta enrolando-se a partir do chão para tocar seus pés. A água fugiu dele como um gato selvagem, encolhendo-se em movimentos desesperados, sibilando e soltando fumaça. Seu fogo era frio, mas ele tentava outra coisa, algo novo. Como é, irmãozinho, pensou ela, querer que o mundo acabe e vê-lo obedecer; espreitar a essência das coisas, as órbitas giratórias de que somos todos constituídos, e arrancá-las de nosso interior?
Schiller abriu a boca e pronunciou algo que não era uma palavra, mas poderia acabar com o mundo. Ela não viu, mas ouviu, ou, melhor, sentiu, porque o som da voz dele era tão descomunal que os ouvidos dela quase não eram capazes de registrá-lo, como quando um órgão de igreja toca uma nota subsônica. Mas aquilo crepitava dentro de sua cabeça, de seu estômago, dentro de cada célula, forçando-a a ficar de joelhos.
O mar se levantou, um paredão d’água espesso como pedra, tão imenso e tão repentino que Rilke deu um grito. A vertigem atingiu-a como um soco no estômago: a visão do oceano suspenso, o murmurar insuportável de um bilhão de litros de água erguidos contra a vontade, era demais. Precisou desviar os olhos, encolher-se, sem conseguir impedir os gritos que se desatavam de seus lábios. O chão tremia, e ela esperava que ele se abrisse, se desintegrasse ao toque de Schiller e os imergisse em trevas.
O paredão de água emitiu um ruído como o de um milhão de trovões estrondando ao mesmo tempo, a areia tão agitada que saltou meio metro. Não ver era pior do que ver, e Rilke espiou com os olhos semicerrados, vendo Schiller, seu menino incandescente, de pé diante da onda, que se erguia acima dele cinquenta, cem metros... Era impossível dizer. Um ou outro dedo de luz solar jorrava através dela, colorindo a água com um tom que Rilke jamais vira, um verde profundo e enraivecido, com pontos que poderiam ser peixes, barcos, pedras ou pessoas. O mar se revirava, se enfurecia, uivando de raiva com a maneira como Schiller o tratava, mas nada podia impedi-lo.
Schiller virou-se, a boca ainda aberta, ainda falando naquele sussurro surdo, embora ensurdecedor, insuportável. Em seguida, ergueu as mãos para a cidade, e tirou a coleira de seu novo bicho de estimação. A água afluiu ao lado dela, acima dela, um túnel de ruído e movimento que parecia não ter fim.
Mas terminou. A agitação e os estrondos pouco a pouco cederam, deixando restar apenas um zumbido no ouvido de Rilke. Ela levantou o rosto e viu a praia arruinada, despojada de areia até a pedra branca feito osso, e, além, uma linha negra e turva apagando o horizonte em movimentos frenéticos e desesperados, deixando rastros de espuma que tentavam alcançar o céu. Ouviu-se outro som atrás dela: a explosão sônica do oceano deslocado preenchendo o espaço criado por Schiller. O oceano chicoteava e cuspia na direção deles como se quisesse vingança, mas deteve-se contra a bolha invisível de energia que os cercava.
Foi como se mil anos houvessem passado antes que o mar se aquietasse de novo, sua cólera transformando-se em uma descrença silenciosa e perplexa. Rilke tentou ficar de pé, o chão inquieto espalhando-se sob ela, fazendo-a perder o equilíbrio. Schiller não deu sinal de voltar a ser o menino, pairando diante dela, aqueles olhos como dois portais observando o restante do tsunami ser absorvido pela terra.
— Muito bem, Schiller — disse ela, e, antes que percebesse, uma risadinha escorregou de sua boca. Olhou para trás para ter certeza de que os outros ainda estavam ali; Marcus e Jade devolveram seu olhar, os olhos arregalados, e ela se perguntou o quanto deles permanecia intacto; se haveria mesmo algo dentro da cabeça dos dois para que os anjos possuíssem. — Prontos para caminhar?
Marcus concordou com um gesto lento de cabeça, como se cada movimento exigisse a última gota de sua inteligência. Jade nem respondeu.
— Vamos para longe daqui — disse ela, enfim conseguindo levantar-se. — Vamos achar um lugar para descansar. Acho que você merece, Schill.
Ele ergueu a cabeça, os olhos derretidos fixos nela. E ela se perguntou quanto controle ele tinha. Não sobre a terra, porque já estava claro pelo que tinha acontecido, mas sobre ela. Ela o havia treinado bem ao longo dos anos, como se treina um cão para saber quem está no comando. Porém, quantos cães, se soubessem que são mais rápidos, mais fortes, mais mortíferos que os donos, continuariam a se deixar dominar? Por favor, pensou ela, enviando a mensagem para um lugar bem profundo dentro de si, para a parte da alma que seu anjo ocupava, venha logo, porque não vamos controlá-lo para sempre. E o que aconteceria então? Qual seria seu destino se Schiller se voltasse contra ela?
Ela o observou flutuar e, pela primeira vez, perguntou-se com quem ele estaria falando — queime-os —, e, mais importante, de quem estaria falando. E, ao fazer isso, deu-se conta de que, pela primeira vez na vida, estava com medo do irmão.
Brick
East Walsham, 9h03
Não eram as explosões que o preocupavam, e sim a suave movimentação dentro da igreja. Brick balançou a cabeça para mandar o torpor para longe após perceber que quase adormecera na imobilidade incomum do átrio. Seu cansaço era como estar vestido com um paletó de chumbo, que o empurrava para baixo, cada movimento cem vezes mais difícil do que deveria ser.
O ruído voltou, rápido, baques que ecoavam parecendo ser passos. O garoto apoiou uma das mãos contra a parede e se esforçou para ficar de pé, esfregando os olhos até que pontos de luz dançassem à sua frente. Havia outra porta na extremidade oposta àquela pela qual tinham entrado, igualmente antiga, igualmente sólida. Estava uns três ou cinco centímetros entreaberta, uma corrente de ar fresco passando pela fresta.
Uma explosão distante ribombou pela pedra ancestral. Mas que droga era aquilo? Parecia que alguém estava bombardeando a cidade. É Cal, pensou Brick. É o som da morte dele. Mas ele não tinha sentido a morte de Cal, como tinha sentido a de Chris, por exemplo, no campo ao lado de Fursville: aquela súbita angústia interior, como se um pedaço dele tivesse sido arrancado. Talvez, então, estivesse vivo — por favor, por favor, por favor —; talvez Brick não estivesse sozinho.
Por um instante, cogitou deixar Daisy onde estava, apoiada contra a porta, mas desistiu da ideia. Havia a possibilidade de ter de sair logo dali. Ela parecia tão morta. Adam sentou-se ao lado dela e encarou Brick com uma expressão que era metade medo, metade ódio. Bom, que o garoto se danasse; não era trabalho dele deixá-lo feliz. Adam não tinha nem ajudado a carregar Daisy. Não tinha feito nada.
Brick foi até a porta e espiou a penumbra do outro lado. Divisou umas colunas de pedra e a última fileira dos bancos de madeira, mas foi só. Havia vitrais enormes, mas pareciam reter o dia do lado de fora, apenas um fio de luz cor de vômito conseguindo entrar. Os santos de vidro, ou o que quer que fossem, encaravam Brick com olhos pétreos, e ele quase esperava que começassem a avisar a qualquer momento: Tem alguém aqui, tem alguém aqui! Usou um joelho para abrir a porta, entrando na igreja.
Era maior do que parecia do lado de fora, muito maior. Devia haver quinze fileiras de bancos até o altar. Aquilo ali fedia a frio, pedra, umidade e séculos sem fim. Brick franziu o nariz, esperando ouvir gritos, esperando que uma criatura viesse correndo dentre os bancos, querendo seu sangue. Ou talvez ali as coisas fossem diferentes. Afinal, era uma igreja. Não se podia dizer que Brick fosse alguém que tivesse fé, mas sempre mantivera a mente aberta. É que parecia meio idiota presumir qualquer coisa se não havia um jeito de saber ao certo, pelo menos não antes de morrer. Então, talvez Cal tivesse razão e fosse ali que encontrariam respostas.
Algo moveu-se à frente, uma figura escura, no espaço atrás do altar. Ela se arrastou para um lado, o som de pés passando sobre pedra, e o estômago de Brick quase subiu pela garganta e saiu pela boca. Aquilo o fez pensar em Lisa — não pense, não pense nela — presa no porão, um mero saco de ossos quebrados no chão, ainda tentando atacá-lo, ainda tentando feri-lo. A figura tossiu e, para total alívio de Brick, falou.
— Olá? — A voz parecia ter tanta idade quanto a igreja. — Posso ajudar?
— Não se aproxime — disse Brick. — Fique exatamente onde está.
— Como? — A figura aproximou-se do altar, adentrando um facho de luz turva e multicolorida, revelando a roupa preta de um sacerdote, o colarinho branco. Era um homem roliço, de mais idade, completamente careca e de óculos, os quais tirou, limpou na manga e pôs de volta.
— Estou falando sério — disse Brick. — Fique aí.
— Não sei quem você pensa que é, meu rapaz, mas não gosto que falem assim comigo. — O sacerdote deu um passo desafiador, afastando-se da plataforma, e Brick ergueu Daisy contra o peito.
— Mais um passo, e juro por Deus que vou fazer mal a ela — falou, sem saber o que mais poderia fazer. — Vai, pode me testar. Mas, se alguma coisa acontecer, a culpa é sua.
Percebia o tremor de desespero na própria voz, e o sacerdote também deve ter percebido, porque ergueu as mãos e recuou para o altar. Havia uns bons vinte e cinco ou trinta metros entre eles. Desde que ninguém cruzasse a linha invisível da Fúria, os dois se dariam muito bem.
— Sente-se — disse Brick.
O homem ofegou ao abaixar-se até o degrau mais alto.
— Hoje em dia, isto não é tão fácil para mim — disse ele, com uma risada nervosa. — Mas levantar é que é difícil mesmo.
— Então não se levante — retrucou Brick. — Tem mais alguém aqui?
— Só eu — respondeu o sacerdote, balançando a cabeça. — Margaret tira folga na segunda; ela vai a Norwich ver nossa filha, nossos netos. E...
— Melhor não mentir para mim — disse Brick.
— Não estou mentindo.
A última fileira de bancos estava bem na frente dele, e Brick depositou Daisy em um deles. Ali, cercada de pedra, ela parecia ainda mais fria do que antes.
— Sente-se ali — disse ele a Adam, apontando o espaço ao lado dela. — Não diga nada. — O menino obedeceu, e Brick envolveu-se com os próprios braços, tentando conter o tremor. Se o sacerdote estivesse falando a verdade, então estariam em segurança ali, ao menos por ora.
— Está tudo bem com ela? — perguntou o homem. — Com a menina? Ela parece doente. Se quiser, posso dar uma olhada nela. Eu era médico, muitos anos atrás, antes de encontrar a fé. Fui médico no exército.
Essa última palavra foi pronunciada com um tom que pareceu de advertência, mas Brick ignorou-a. Andava de um lado para o outro atrás dos bancos, tentando esboçar um plano. Se Cal estava morto, cabia a ele descobrir o que fazer a respeito de Daisy e Adam, e de Rilke e seu irmão, e também do homem na tempestade. A ideia de que aquilo tudo dependia dele bastou para fazer seu coração ficar do tamanho de uma uva-passa e cair no poço de seu estômago. Ele bateu na testa com a palma da mão.
— Qualquer que seja o problema — disse o sacerdote —, deixe- -me ajudar.
— Calado! — disse Brick, apontando a cortina decorativa suspensa atrás do altar, borlas de corda pendendo de cada lado. — Preciso que você se amarre. Use aquilo.
— Meu rapaz, por favor...
— Rápido, antes que eu perca a cabeça! — O sacerdote fez menção de se levantar, e Brick quase guinchou para ele. — Não mandei se levantar!
Calma, pelo amor de Deus, ele é só um velho, não vai fazer mal a você. A menos que chegasse perto demais, claro; nesse caso, partiria para cima de Brick com aquelas mãos enrugadas e abocanharia sua garganta com a dentadura. Sim, estava sendo mais grosseiro do que nunca, mas não podia arriscar. Observou o sacerdote inclinar-se para trás e soltar as cordas, tendo dificuldade para atar os punhos.
— Um momento — disse Brick. — Amarre a corda no altar primeiro. Ao balaústre ali. Só um punho basta, não se preocupe com o outro.
O homem fez como ele mandou, dando a volta na estaca de madeira do balaústre antes de atá-la com firmeza em volta do punho esquerdo. Deu um safanão para mostrar que estava apertada, e em seguida deu de ombros para Brick.
— Mais um nó.
— Se estiver em dificuldades, sempre existe uma saída — disse o sacerdote, obedecendo às ordens. — Por favor, rapaz, permita que eu ajude você, que eu ajude a menina, antes que as coisas saiam do controle.
— Saiam do controle? — disse Brick, com uma risada amarga. — Cale a boca um instante! Preciso pensar.
— Isso tem a ver com o ataque? O ataque em Londres?
— Ataque? — perguntou Brick. — Do que é que você está falando?
— Você não sabe? Passou no noticiário a manhã inteira. Houve um ataque terrorista na zona norte de Londres, uma espécie de bomba. Coisa grande. Ainda estão tentando entender o que foi. Estamos todos com medo, mas vamos passar por essa juntos.
Brick levou um instante para entender. Não era uma bomba, mas uma tempestade, e um homem dentro dela que queria devorar o mundo. Não respondeu; limitou-se a enxotar as palavras do sacerdote como faria com um inseto. Prioridades. A primeira coisa que precisava fazer era comer algo. Depois que houvesse comida em sua barriga, e também um pouco de água, poderia pensar direito.
— Pelo menos me diga seu nome — disse o sacerdote. — E o nome dos seus amigos. O meu é Douglas. Pode me chamar de Doug.
— Tem alguma comida aí, Doug? — perguntou ele.
— Na igreja, não, Margaret não deixa. Mas tem bastante na casa paroquial, do outro lado do pátio. Se me deixar sair daqui, ficarei contente em mostrar onde é.
— Você fica aí — disse Brick, agarrando as costas da camiseta de Adam e colocando-o de pé. — Vou levar o menino e, se eu voltar e você tiver se mexido, juro por Deus que vou fazer uma coisa ruim. Fui claro?
Sentia-se um ladrão de banco mantendo reféns, e odiou a si mesmo por isso, mas que escolha ele tinha? Já estava correndo um risco enorme ao deixar Daisy, porque, se o sacerdote se livrasse da corda e tentasse ajudá-la, acabaria fazendo a menina em pedacinhos.
— Vou perguntar de novo: fui claro?
— Sim — respondeu Doug, anuindo com a cabeça. — Não vou me mexer. Estou do seu lado, rapaz, o que quer que esteja tentando fazer. Está tudo na cozinha; a porta da frente está aberta, a gente nunca tranca.
Brick deu uma última olhada em Daisy e, em seguida, partiu, puxando Adam ao lado pelos cabelos da nuca. O garotinho tentava se soltar sem tanta vontade assim, fazendo tanto alarde que Brick só ouviu o barulho de passos quando a porta da igreja começou a se mover para dentro. Ele recuou, quase caindo em cima de Adam. A luz do sol concentrou-se em uma figura, fazendo reluzir o sangue nas roupas e na pele, transformando-a em mais um santo de vitral com bolsões de pedra no lugar dos olhos. A figura cambaleou para dentro da igreja, arrastando consigo um miasma de fumaça.
— Cal?
O garoto tropeçou, quase caindo, e Brick pegou-o desajeitadamente por baixo dos braços. Arrastou-o para dentro da igreja, amparando-o até que ficasse sentado contra a parede dos fundos. Marcas de arranhões cobriam seu rosto como veias, cobriam também o pescoço e os braços, e os tênis estavam pretos e deformados, como se tivessem sido queimados.
— Cal? Pelo amor de Deus, está tudo bem com você?
Era uma pergunta idiota, mas, depois de alguns segundos, o olhar incerto de Cal enfim se fixou em Brick, e ele assentiu com um movimento. Abriu a boca, enunciando uma percussão de notas secas do fundo da garganta.
— Tudo... Tudo bem. Frio?
— Hã?
— Eu estou frio? — perguntou Cal, os olhos como um poço de medo.
Brick entendeu o que ele estava perguntando e pousou a mão em sua testa. A pele estava quente.
— Não, você está fervendo.
Cal soltou um suspiro de alívio, bolhas de sangue estourando nos lábios rachados.
— Água... Preciso de água, cara.
— Sim, claro. Como está lá fora? Estamos em segurança?
Cal fez que sim com a cabeça.
— Melhor estarmos mesmo. — Foi tudo o que Brick conseguiu dizer. Depois endireitou as costas, perguntando-se se deveria pegar com a mão um pouco de água benta ou algo assim, antes de concluir que isso traria azar. E azar era a última coisa de que precisava agora. Foi até o átrio e apontou um indicador para o sacerdote. — Volto num instante. Se tentar fugir, ele vai fazer mal a você, entendeu?
Cal não parecia estar em condições de fazer mal nem a uma mosca, mas o velho parecia resignado com o fato de que ficaria ali por bastante tempo.
— Adam, sente-se e não se mexa. — Brick completou.
Foi até a porta e espiou pela fresta. A luz do sol derramava-se sobre as árvores, compondo uma iluminação dourada digna de uma discoteca na grama e nos túmulos por ali, embora o cemitério estivesse deserto. Não havia nada à frente além da rua, por isso partiu para a direita, unindo-se à parede coberta de liquens da igreja, virando no canto e vendo outra construção bem perto. Também era feita de pedra, com janelas de metal e telhado de palha. Parecia ter saído de um conto de fadas.
Verificando mais uma vez se a barra estava limpa, correu pelo cemitério, virou a maçaneta da construção e entrou. Ali estava quase tão frio quanto dentro da igreja, mas havia um odor no ar, de uma espécie de sabão, que o fez pensar na mãe, morta havia muito tempo, enterrada em uma igreja exatamente como aquela, perto de King’s Lynn, onde a família dela morava. Era doloroso demais pensar naquilo, então expulsou os pensamentos da mente, usando a raiva para enxotá-los, como sempre fazia.
A cozinha era pequena, mas fácil de achar. Havia uma cesta de pão na mesa, e ele pegou uma fatia, branca e macia. Enquanto a mastigava, abriu a geladeira, tirando um pouco de presunto e uma fatia de cheddar. Engoliu tudo, um gole de leite ajudando a comida a descer. Havia uma garrafa de cerveja Golden Badger no fundo da geladeira, e ele a pegou, arrancando a tampa na beirada do balcão. Nunca tinha sido de beber muito — havia visto o que a cerveja e o uísque barato tinham feito com o pai —, mas havia certas ocasiões que exigiam álcool. Aniversários, casamentos, e ser possuído por anjos que querem que você salve o mundo de uma genuína força maléfica.
Sorveu dois goles profundos e longos, deixando a mente ficar quieta e silenciosa. Meu Deus, qual fora a última vez que tinha feito aquilo? O silêncio era tão avassalador que chegava a dar nos nervos, beirando a ameaça, e ele se endireitou, limpando a garganta e dando mais um gole na cerveja espumosa. Precisava de água.
Andou até a pia, notando a TV portátil sobre o balcão. Talvez devesse ver o noticiário. Se aquilo, o homem na tempestade, estava realmente em Londres, e achavam que se tratava de um ataque terrorista, aquilo estaria sendo transmitido o tempo todo, em todos os canais. Levou o dedo até o botão de ligar, mas parou na metade do caminho. Será que queria mesmo ver aquilo? Queria mesmo ver aquela coisa que eles deveriam encontrar e combater? Até agora, o homem na tempestade — palavras de Daisy, ele sabia, mesmo que nunca as tivesse dito — estava só na sua cabeça. Vê-lo na tela o tornaria real.
Manteve a mão erguida por mais um instante, depois apertou o botão. Era uma TV antiga, que precisou de alguns segundos para esquentar, a tela cinza pouco a pouco dando lugar a um programa infantil. Um pinguinzinho com um bico laranja engraçado andava de moto em volta de um iglu, buzinando. Aquilo era boa notícia, não era?
Apertou o botão para passar os canais, e era como se a televisão fosse uma barragem que acabara de se romper, com um milhão de toneladas de água imunda jorrando da tela, inundando a cozinha, a casa paroquial, o cemitério e tudo o mais, enchendo o nariz, a boca e os pulmões de Brick. Ali ele viu, em meio às trevas, as imagens granuladas de um vasto vórtice giratório de fumaça e detritos, suspenso sobre a cidade, acima dos arranha-céus; viu as nuvens de matéria espiralando, todas sendo sugadas para o centro da tempestade, para...
Havia um homem ali, só que não era um homem. Como poderia ser? Era grande demais, o corpo do tamanho de um prédio, mas ali estava ele, a boca sendo o núcleo daquela abominação, o ponto de não retorno ao centro do buraco negro. Mesmo àquela distância, mesmo na telinha da TV, Brick sentiu a força daquela coisa, a genuína e incansável força daquela coisa que ia desintegrando o mundo pedaço por pedaço.
Caiu de joelhos, a garrafa escorregando da mão, esquecida. E, de algum modo, de um modo inacreditável, o homem na tempestade pareceu vê-lo ali, encolhendo-se naquela cozinha, porque seus olhos sem vida giraram nas órbitas, enchendo-se de algo que não era riso, não era loucura, não era júbilo, mas sim uma combinação de tudo isso. Ele olhou para Brick e falou, uma voz perdida em meio ao estrondo do furacão, abafada pelo ribombar de sua fúria; uma voz que não falava língua nenhuma que existisse na Terra; mas uma voz que ele compreendia com total facilidade, porque era como se houvesse se infiltrado em seus ouvidos e soprado as palavras espinhosas diretamente em seu cérebro.
Você chegou tarde demais.
O Outro: II
Se eu acaso morrer, de mim pensai somente:
há um recanto, numa terra estrangeira,
que há de ser a Inglaterra, eterna, eternamente.
Rupert Brook, “O soldado”
Harry
Londres, 9h14
O estômago do capitão Harry Botham virou do avesso, como sempre virava na hora da decolagem, mas já tinha voltado ao normal quando Harry manobrou o helicóptero, tirando-o da Base Naval de Portsmouth. O monstruoso motor Rolls-Royce do Apache rugia, e o estrondo das hélices se tornou tão habitual quanto batimentos cardíacos conforme o chão encolhia e o céu se abria.
— Coordenadas no sistema — disse Simon Marshall. O atirador estava sentado à frente e abaixo dele, mas sua voz vinha dos fones de ouvido no capacete de Harry. — Norte. Em vinte minutos estaremos lá.
Harry verificou o monitor de alerta e puxou o acelerador, levando a máquina a mil pés e a duzentos e noventa quilômetros por hora. A luz se derramava na cabine como ouro líquido, o visor escurecendo automaticamente para anular o ofuscamento. Dois pontinhos apareceram no radar, movendo-se rápido, e logo depois um par de caças da Royal Air Force zuniu acima. Seus rastros eram a única mácula contra o azul, em um dia de verão absolutamente perfeito. Dias como aquele eram raros, mesmo no verão — Harry estava inclusive tomando um pouco de sol quando fora chamado. Por mais que ele gostasse de voar, não teria reclamado de algumas horas a mais de folga.
— São os chineses, estou dizendo! — disse Marshall, lendo a mente dele. — Enfim decidiram que querem mandar no mundo.
Harry deu uma fungada.
— Não seja tolo — respondeu, a voz sendo transmitida para os próprios ouvidos e soando como se não fosse real.
— Mas o que é isso, então? — disse o outro. — Um exercício?
— Falaram que não era um exercício — respondeu Harry. Seu superior tinha deixado isso muito claro, mas as instruções apressadas do homem não haviam dado mais informações além de que algo acontecia em Londres. Algo importante. — Provavelmente terroristas. — Harry deu de ombros.
— Eles que se preparem para a minha chegada! — disse Marshall, dando um tapinha no painel de controle.
Harry sorriu. O Apache estava com carga completa: uma metralhadora de trinta milímetros sob a fuselagem, capaz de despejar seiscentos e vinte e cinco tiros por minuto, e uma bela combinação de mísseis Hydra e Hellfire nos pilones. O que quer que os aguardasse, estava prestes a voar em pedaços.
Mas por que ainda havia um vestígio de desconforto no estômago dele, desconforto que não tinha nada a ver com o movimento do helicóptero? Havia passado dois períodos servindo no Afeganistão, e nunca se sentira assim, nem quando fora abatido por uma granada lançada por um foguete em Helmand e precisara fazer um pouso forçado. Naquela ocasião, a adrenalina sugara cada gotícula de medo do organismo dele, transformando-o em uma máquina. Agora era diferente: ele se sentia humano demais, vulnerável demais. Talvez porque sobrevoasse a pátria, vendo os campos e as cidadezinhas da Inglaterra flutuando abaixo como detritos em um rio lento e esverdeado. Talvez fosse porque voasse para Londres, a cidade onde vivera. Engoliu mais ar, subitamente desconfortável no assento.
Tudo o que lhe haviam dito confirmava que ocorrera uma espécie de ataque à capital. A ordem de partir para o combate viera do próprio general Stevens, o que era um indício da gravidade do que quer que houvesse acontecido. Aquele cara só saía da cama por uma guerra mundial.
— Identificar e interceptar o alvo — ele havia dito pelo rádio. E pronto: eram essas as ordens, cinco palavras que Harry deveria obedecer, mesmo que isso significasse arriscar sua integridade física.
— Não cabe a nós entender por quê — falou para Marshall, lembrando o único poema que tinham decorado. Todos no pelotão dele o haviam decorado.
— A nós só cabe agir e morrer — concluiu Marshall. — É isso aí!
Harry verificou as coordenadas e deu um leve toque no manche para recolocar a máquina na trajetória correta. Sobrevoavam Guildford, a um ou dois minutos da autoestrada M25. O Apache ia comendo os quilômetros.
— Opa! — disse Marshall. — Mas que...
Harry mirou através da janela estreita, para além do leque de cores do monitor de alerta. Algo dominava o horizonte, um punho de fumaça negra. Uma turbulência fez o helicóptero oscilar, e Harry teve a súbita impressão de que aquele punho cerrado, com suas falanges, sacudia o mundo, tentando tirá-lo do eixo. Checou sua posição: ainda a mais de trinta quilômetros do objetivo, certamente longe demais para contato visual. Outra vez sentiu as vísceras revirarem, a mão tendo espasmos querendo dar meia-volta no helicóptero. Precisou forçar-se a continuar.
— Aquilo é... Aquilo deve ser gigante, Harry.
— Base, estamos vendo o objetivo — disse ele, sabendo que o centro de comando tinha uma linha aberta com o helicóptero. — Parece uma explosão. Como proceder?
Ouviu-se um sibilo agudo de estática, e em seguida a voz do subcomandante se fez ouvir:
— Como ordenado, capitão. Investigar e interceptar. Manter um perímetro de oito quilômetros. Não sabemos que perigo essa coisa representa.
— Entendido — disse ele, desacelerando o Apache e levando-a para dois mil pés. O que quer que estivesse lá embaixo, queria chegar o mais alto que podia sem entrar no espaço aéreo da Força Aérea Real. Nada o mataria mais rapidamente do que uma colisão em pleno ar com um caça. — As armas estão prontas?
Outra pausa. Em seguida:
— Armas prontas.
Harry sentiu a pele esfriar e formigar. Qualquer esperança de que aquilo fosse um exercício tinha acabado de ser extinta: não havia a menor chance de que deixassem as armas prontas para disparo acima da maior cidade da Europa a menos que aquilo fosse para valer.
A janela dianteira era tomada cada vez mais pela fumaça, tão espessa e escura que uma montanha de granito parecia brotar da cidade. Não, parecia mais que alguém tinha cortado um pedaço do céu. O visor polarizado compensava a falta de luminosidade, mas, mesmo assim, Harry se viu inclinando-se para a frente no assento, tentando entender o que enxergava.
— Não tem nada aqui — disse Marshall, a voz sussurrada no ouvido de Harry. — Meu Deus, não tem nada aqui.
Claro que tem alguma coisa, pensou Harry. Tinha de haver, com toda aquela fumaça. Só que não era fumaça, percebeu ele ao chegar mais perto. Eram coisas. Era uma nuvem espiralada de matéria: havia ali prédios, desfazendo-se em pedaços ao serem sugados para cima. Ele distinguiu figuras reluzentes que poderiam ser carros, e outras menores, mais escuras — não gente, não pode ser gente —, que se retorciam e se debatiam ao se erguer. O furacão girava incansavelmente, em um raio de oito quilômetros, talvez, sugando tudo para...
O que era aquilo? Havia uma forma distinta em meio ao caos. Tudo espiralava em volta dela, tal qual a água suja de um banho dando voltas em torno do ralo; ela disparava dedos de relâmpago que eram escuros, e não brilhantes, deixando imensas cicatrizes negras nas retinas de Harry, que não piscava. Não ousava fechar os olhos nem por um instante, caso aquela coisa, aquele pesadelo inacreditável, viesse atrás dele. Apenas encarava o ser no centro da tempestade — porque era isso que era: um homem. Enorme, sim, e deformado, como se seu corpo fosse um balão que fora inflado até ficar irreconhecível, mas, ainda assim, inconfundivelmente, humano. E o pior era a boca dele, vasta e escancarada, inspirando tudo com um uivo infindo que podia ser ouvido mesmo com os motores do helicóptero em ação.
Harry vomitou antes que percebesse, tirando o bocal bem a tempo, o café da manhã atingindo a tela de vidro reforçado que o separava do atirador. O helicóptero virou com força, e o chão foi se avultando na janela direita.
— Caramba, Harry! — gritou Marshall, e Harry percebeu que havia soltado o manche. Pegou-o, reequilibrou o Apache e o deixou imóvel, limpando a boca com a mão livre. Cuspiu uma bola de ácido, o corpo inteiro encharcado de suor e o estômago retorcendo com violência.
Houve um lampejo de trovão quando um caça passou por cima: era o sibilar de dois mísseis Sidewinder sendo disparados. Os mísseis se precipitaram contra a noite matutina, colidindo com o centro da tempestade. Uma explosão borbulhou do caos, a onda de choque fazendo o helicóptero balançar. Mas o fogo não durou, sugado para dentro da imensa e sombria garganta do homem e, então, foi extinto. Na verdade, pareceu até fazer o tornado girar mais rápido, com mais vigor, se despregando mais do chão e sendo levado pelo vórtice. E o homem continuava ali, seus olhos como dois poços de breu a fervilhar, a boca sugando tudo o que podia.
— Fogo! — gritou Harry, sentindo a loucura se esgueirar no fundo da mente. Tinha de destruir aquela coisa, não para salvar Londres, mas porque compreendia que, se precisasse olhá-la por mais tempo, seu cérebro entraria em curto-circuito. — Fogo, cacete!
Marshall não hesitou, mandando ver na metralhadora. Um chacoalhar ensurdecedor preencheu a cabine, e as rajadas abriram caminho em direção ao homem na tempestade. O fogo rasgou um pouco da cortina de detritos em espiral antes de achar o alvo, mas as balas de trinta milímetros desapareceram no morticínio. Ouviu-se um sibilar baixinho, e o helicóptero balançou quando quatro mísseis foram disparados. Harry contou os segundos — um, dois, três — antes que uma bola de ouro ondulante acendesse. Outra vez a explosão foi engolida, tragada pela cavernosa boca do homem, junto com a constante torrente de detritos. Marshall tentou mais uma vez, esvaziando a munição do Apache e transformando o céu em fogo.
— Não está funcionando! — disse o atirador.
Harry, porém, não ouvia. A fumaça se dissipava, e percebia-se que mais do mundo tinha sido extinto. Não era só a escuridão, o modo como as coisas sumiam na falta de luz; era o nada. Era o vazio total. Só de olhar aquilo a cabeça doía, porque não havia como compreender o que se via. Aquilo simplesmente não fazia sentido.
— Harry, tire a gente daqui! — gritou Marshall. Ele tinha se virado, com os olhos esbugalhados. — Harry!
Algo estourou, como um tiro de canhão, e o helicóptero começou a descer lentamente. Harry precisou de um instante para se dar conta de que era a mudança de pressão, com o ar sendo tragado pela tempestade. Estavam mesmo sendo sugados por ela, presos ao fluxo, com alarme demencial do helicóptero martelando no fone de ouvido. Marshall batia no vidro que os separava, mas Harry não conseguia despregar os olhos da janela. O helicóptero se inclinava para baixo, dando-lhe uma visão perfeita das ruas. Elas se fendiam, dissolvendo-se como esculturas de areia ao vento. Prédios, carros e pessoas, todos explodiam em pó, sendo sugados pelo furacão.
— Harry, por favor! — disse Marshall.
Harry sentiu o helicóptero resistir. Ele se virava devagar, os motores protestando, mas a força que os puxava era intensa demais. Parecia um barco indo para uma cachoeira. Não, parecia mais uma nave espacial sendo atraída para um buraco negro. Não havia nada que pudessem fazer, percebeu. Era o fim.
— Não cabe a nós perguntar por quê — disse ele.
O Apache balançava com tanta violência que a cabeça dele bateu no teto da cabine. O metal rangeu, e, em seguida, os rotores soltaram-se acima, girando para a escuridão. Marshall gania, e Harry arrancou o capacete, subitamente afogando-se no uivo da tempestade e na inspiração infinda do homem suspenso.
— A nós só cabe agir e morrer — prosseguiu ele, agora mais alto. — Não cabe a nós entender por quê, a nós só cabe agir e morrer — repetiu de novo e de novo, como um cântico, uma prece, enquanto a frente do helicóptero começava a se desfazer, espatifando-se em pedaços como um modelo em miniatura.
Depois foi a vez de Marshall, seus braços, pernas e cabeça se soltando, tudo suspenso contra o fundo negro do céu. Harry olhou para baixo e percebeu que não estava mais no helicóptero. Pedaços dele flutuavam à sua volta, suspensos na turbulência, uma milha acima do chão que ia sumindo. Tinha sonhado com isso quando criança, noite após noite — sonhado que podia voar. A lembrança apagou o medo, e, mesmo que estivesse vendo a própria carne começando a se desintegrar, camadas rosadas e depois avermelhadas, ele sorriu.
— Não cabe a nós entender por quê — disse, os lábios retorcidos.
Em seguida, sua mente rompeu-se em meio a um ruído límpido e à luz negra, e tudo o que era Harry Botham foi tragado pelo abismo.
Graham
Londres, 9h24
O pior de tudo era o barulho. Realmente ensurdecedor. Não ouvia as pessoas gritando, nem os motores ligados, tampouco o alarme dos carros ou a batida de metal contra metal nos cruzamentos, nem mesmo as explosões. Havia apenas a tempestade, um estrondo perpétuo que fazia as ruas tremerem, como se a cidade fosse uma coisa viva, com tremores permanentes de terror. O barulho era tão alto que Graham, ao atravessar a cidade, não vira mais do que meia dúzia de janelas ainda intactas, o vidro arrancado dos caixilhos pelo pulsar sônico vasto e ribombante que martelava as ruas. O pulsar produzia o mesmo efeito em seu cérebro, como se o som fosse algo sólido e vibrante, que buscasse a frequência correta para partir seus ossos e deixar seus miolos esparramados pela calçada.
Abriu caminho por uma multidão de turistas fugindo na direção oposta, e depois virou rumo a Millbank. Por um instante, surgiu, no espaço entre os prédios, uma imensa massa giratória que se enroscava e se espiralava em torno de um núcleo de trevas. Dali, a dezesseis quilômetros de distância, parecia algo entre uma nuvem de bomba atômica e uma tempestade; o céu estava inacreditavelmente escuro, como se um pedaço da noite tivesse se soltado e despencado em Londres. Porém, nas lacunas entre os detritos, e em meio aos náufragos de sua cidade, viu algo pior do que a escuridão. Viu os fragmentos extintos do mundo.
Alguma coisa acontecia ali, naquelas brandas explosões que se detonavam no meio da tempestade. Havia caças no céu, e também helicópteros, sendo tragados para o buraco como brinquedos em um rio. Graham virou a cabeça para frente e se concentrou no lugar para onde estava indo. Tinha levado — quanto tempo? — quase quatro horas para fazer o percurso de casa até Millbank. Precisara andar. A cidade estava atulhada de gente tentando fugir, ninguém indo na mesma direção. Todas as principais estradas estavam totalmente paralisadas por acidentes; os trens e o metrô estavam fechados — por isso as pessoas precisavam se deslocar a pé. Tinha a sensação de ter enfrentado cada um dos oito milhões de habitantes de Londres só para chegar a Thames House. Primeiro fora até Whitehall, onde ficava a Unidade de Contraterrorismo, mas Erika Pierce não mentira para ele: não havia ninguém ali. O MI5 era, na lógica, o próximo lugar a ser visitado, mas tinha a horrenda sensação de que, ao chegar lá, também não encontraria ninguém.
Todos fugiram, e você também deveria fugir, porque ela vai devorar você; a tempestade vai devorar você. Sabia que essa era a verdade; sabia que deveria se virar e ir embora. Tinha telefonado para David três horas antes e falado para ele ir para o sul; se possível, para fora do país. Com um pouco de sorte, David já teria chegado ao litoral e poderia cruzar o Canal e chegar à França. Ou talvez tenha ido para o outro lado, talvez tenha ficado preso e sido levado pela tempestade. Talvez esteja agora mesmo circulando o buraco, ou perdido dentro dele. E a ideia de David sendo tragado para o nada, sendo apagado como uma chama, sua essência se extinguindo, fez Graham ter vontade de morrer. Poderia ir também, telefonar no caminho, encontrá-lo em Calais e limitar-se a sobreviver. Faça isso, apenas faça isso.
Afastou as palavras, virando a esquina e vendo o rio bem à frente. Até a água estava agitada, as vibrações fazendo-a se espiralar e formar redemoinhos, cuspindo sujeira e impregnando o ar com o fedor do esgoto. O ruído era mais alto ali, ecoando de um lado a outro dos prédios sobre o aterro. Parecia uma vasta turbina sugando cada restinho de ar para dentro do motor. E, no entanto, também parecia outra coisa. Soava como trombetas, como um milhão de sirenes de guerra sendo sopradas nos céus acima de sua cabeça.
Era o som de Londres sendo digerida em vida.
Correu os últimos cem metros até Thames House e encontrou as portas principais abertas e desobstruídas. Não havia ninguém no saguão, só uma chuva de papéis no piso de mármore. Ao menos as luzes estavam acesas. Por sorte, o prédio tinha o próprio gerador de energia — aliás, vários —, porque, pelo que Graham via, a cidade estava às escuras.
Entrou no primeiro elevador usando seu cartão-chave da unidade antiterrorismo para ativar o painel de controle. Se ainda houvesse alguém ali, estaria no bunker do centro de controle de emergência: um procedimento-padrão em caso de ataque. Contou os segundos enquanto o elevador descia, perguntando-se até que ponto iria o poder dessa tempestade, já que podia ouvi-la reverberar tão abaixo da superfície, no balançar daquele elevador, na vibração ganida dos cabos de metal.
A porta deslizou para o lado e revelou a vasta sala sem divisórias. De início, Graham confundiu o movimento constante com gente, mas logo percebeu que eram apenas os monitores que cobriam cada parede e ficavam em cada mesa, exibindo imagens da cidade e da tempestade. Enxugou o suor da testa, perguntando-se como poderia cuidar daquilo sozinho, quando uma mulher apareceu. Ela desviou os olhos de uma pilha de documentos, franziu o rosto e, em seguida, abriu um sorriso enorme.
— Graham? Meu Deus, achei que ninguém fosse aparecer!
Ele reconheceu Sam Holloway, membro da equipe de decifradores de códigos do MI5. No ano anterior, ela tinha feito alguns trabalhos para ele na Unidade de Contraterrorismo.
— Sam, que bom ver você! — disse ele, entrando na sala. — Por favor, diga-me que não está aqui sozinha.
— Não, Habib Rahman está na sala de comunicação tentando descobrir o que está acontecendo. É isso. O resto do pessoal ou se mandou, ou está em Downing Street tentando tirar o primeiro-ministro e os outros ministros de lá. Essa é a Prioridade Um.
Pois é, salvar aqueles imbecis do governo, certamente uma prioridade.
— Qual é a situação no momento? — perguntou ele, andando até a mesa do diretor. No monitor instalado ali, mais da cidade era sugada pela garganta da tempestade.
— A força aérea enviou uma equipe de ataque, mas...
Não precisou terminar. Ele tinha visto com os próprios olhos.
— Alguma ideia do que seja isso?
— Não — respondeu Sam. — Mas é grande. Tudo do norte de Edgware até Fortune Green sumiu.
— Sumiu?
— Isso. Sumiu. Simplesmente não está mais lá. — Havia certo tremor na voz dela, sem relação nenhuma com o estrondo da tempestade. — Esta filmagem é de um Black Hawk americano, posicionado a cinco milhas do marco zero.
Cinco milhas, mas a imagem era nítida o suficiente para distinguir o vasto golfo que se tinha aberto abaixo do furacão. Parecia não ter fundo. Mais do que isso. Graham teve a impressão de que, se desse um passo para dentro dele, simplesmente deixaria de existir.
— Alguma outra imagem? — perguntou ele.
Sam fez que sim e passou a mão pelo monitor touchscreen, até que a imagem mudasse.
— De um Sentinel — disse ela.
Essa filmagem era de um ponto mais alto, fazendo com que a tempestade parecesse mais do que nunca um furacão, uma corrente espiralada de sombras que se esgueirava sobre a cidade, agora talvez com cinco quilômetros de largura. Enquanto assistia, Graham viu um naco de chão soltar-se da terra, erguendo-se lentamente, quase de modo gracioso, e entrando na tormenta, onde começou a se desfazer. A sala inteira tremeu, poeira caindo do teto e várias telas desligando-se antes de se reiniciar. Era como se ele estivesse de novo no Golfo, escondido em uma caverna enquanto os foguetes do inimigo martelavam seu esconderijo. A ilha de terra devia ter um diâmetro de quinhentos metros. Quantas pessoas?, perguntou-se enquanto ela se desintegrava, presa na espiral urrante do vórtice, puxada para a boca da tempestade. Quantos mais acabaram de morrer?
— Alguma teoria? — ele praticamente tossiu as palavras.
— Nenhuma — disse Sam. — Não há assinatura radioativa, nem indício de ameaça biológica. Porém...
Ele a encarou, prestando atenção na maneira como a cor sumia de seu rosto, e sentiu um milhão de dedos gelados percorrendo suas costas.
— Porém o quê?
— O marco zero. O epicentro da tempestade. Havia alguma coisa ali quando isso tudo começou.
— Uma bomba?
— Não, um homem. Um homem morto. — Ela mordeu o lábio inferior, carregando outro filme na tela, que mostrava uma mesa de necrotério, uma das que ficavam no andar de cima daquele mesmo prédio, deduziu Graham. Deitado nela, estava o corpo de um homem, aberto pelos instrumentos do legista e revelando a carcaça vazia de seu tronco. No entanto, mesmo vendo aquilo em um monitor, era óbvio para Graham que havia alguma espécie de vida naqueles olhos opacos e mesmo assim agitados, e em sua inspiração perpétua. Meu Deus, é o mesmo barulho, percebeu. É o mesmo som da tempestade. — Ele chegou na sexta. Foi a Scotland Yard que trouxe.
— Por que ninguém me avisou? — perguntou Graham.
— Era tudo confidencial, nenhuma comunicação entrava ou saía. O plano era levar... aquilo para Northwood, aplicar todos os procedimentos de segurança, e depois trazer as pessoas. Mas elas nunca chegaram. Algo ocorreu no caminho; só descobrimos quando tudo isso começou.
Graham enxugou a boca, fitando a tela, fitando o cadáver vivo. Aquela era a imagem que ele tinha visto no furacão, a silhueta suspensa no centro do caos. O homem na tempestade, pensou ele, as palavras aparecendo do nada. E, de repente, a avassaladora surrealidade daquilo atingiu-o como um soco no estômago, um gemido agudo estourando em seus tímpanos. Inclinou-se para a frente, perguntando-se se iria vomitar, engolindo de volta o ácido em golfadas ruidosas e arquejantes.
Endireitou as costas, pigarreou e falou em um sussurro áspero:
— Então, o que sabemos com certeza?
— Que aquilo está se expandido com rapidez. É por isso que aqui está deserto. Estamos a uns quinze quilômetros do centro do ataque.
Não é um ataque, pensou Graham, é muito mais do que isso, é muito, muito pior.
— Mas, considerando a velocidade com que essa coisa cresce — continuou Sam —, vamos ter de sair daqui em breve. Tirando isso, não sabemos de nada.
— Sam, precisamos de satélites.
— Estou tentando me conectar agora, mas o único que está perto o bastante é o da NSA, e os americanos não querem liberar nada.
— Faça o que precisar — disse ele, fazendo força para ficar de pé. — Invada o satélite se puder. — Passou por algumas telas enfileiradas e encontrou Habib em sua mesa. Não o conhecia pessoalmente, mas o sujeito era bem famoso por escrever cifras inquebráveis para o exército. — Habib, alguma notícia do general?
— Ele foi alertado quanto ao ataque — respondeu o outro, dando de ombros. — Northwood foi evacuada, mas ele nos deu uso de todas as unidades táticas, e apreciará discutir outras opções.
Outras opções? Não havia opções, pelo menos não que Graham entrevisse. Eles nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Parte dele queria acreditar que era uma bomba atômica, uma das grandes. Sim, seria terrível. Sim, partes da cidade seriam destruídas, ficariam radioativas por décadas, e centenas de milhares de pessoas morreriam. Porém, uma bomba nuclear era uma bomba nuclear, uma ogiva de fissão, um nêutron batendo em uma massa concentrada de urânio-235 e iniciando uma reação em cadeia de liberação de energia. Uma bomba nuclear era algo que ele compreenderia, uma das primeiras coisas que havia estudado. Essa possibilidade estava bem no topo da lista de pesadelos — e se alguém detonasse uma arma atômica numa cidade britânica de grande porte... —, e existiam procedimentos para lidar com isso. Caramba, durante as Olimpíadas, não tinham feito outra coisa senão se preparar para um ataque desses. Uma bomba ele poderia encarar.
Isso era diferente. Porque não é ciência. O que quer que seja, esta coisa não obedece às regras do universo; ela as destrói. E era isso o que era verdadeiramente aterrorizante, porque não havia manuais de instrução para lidar com esse fato, nem simulações de computador, nem ensaios de emergência. Aquilo era incognoscível.
Pressionou as palmas das mãos contra as órbitas dos olhos, desejando estar de volta na cama e que aquilo fosse apenas um pesadelo. Quantas vezes tivera sonhos como aquele? Os sonhos de coisas ruins, nada mais que estresse ou excesso de queijo e vinho do Porto antes de dormir. Por que ele não acordava agora também?
— O senhor precisa dar uma olhada aqui.
Abriu os olhos, uma tempestade solar de flashes preenchendo a sala. Sam estava de pé ao lado de sua mesa, as duas mãos contra o cabelo curto. Em sua tela, havia um boletim do comando distrital. Graham estreitou os olhos, leu a mensagem duas vezes e ainda assim não acreditou.
— Outro ataque? — perguntou ele. — Onde, exatamente?
— No litoral — falou Sam. Sentou-se e digitou instruções.
As imagens na tela desapareceram e foram trocadas por uma fotografia de qualidade rudimentar. Por um instante, Graham não conseguiu entender direito para o que olhava: uma praia, um céu cinzento e zangado. Havia algo de errado naquilo, mas ele não conseguia captar bem o que era.
— O que é isso? — perguntou.
— É uma onda.
Graham percebeu enquanto ela respondia. Só que não era uma onda propriamente. A forma não estava certa. Aquela imensa massa de água tinha o formato de um punho, como se uma colossal explosão tivesse acontecido abaixo do oceano. Estava suspensa no horizonte, e Graham só percebeu a vasta escala da imagem ao reparar que havia uma cidade ali: prédios, casas, carros e pessoas, todos diminuídos pela imensa sombra manchada que era a água.
— Meu Deus do céu! — disse ele, encolhendo-se na cadeira. — De quando é essa imagem?
— De meia hora atrás — falou Sam. — Foi em Norfolk, Yarmouth.
— Meia hora? Por que só soubemos agora?
— Ela foi gravada pelas autoridades locais, mas tudo está em função daquilo. — Sam acenou para a tela de Graham, onde ainda ardia a tempestade. — Não tem gente suficiente aqui; acabei de ver isso nos boletins de hora em hora.
Graham soltou um palavrão, outra vez sentindo aquela vontade de se levantar e sair correndo.
— A cidade, na verdade um vilarejo, foi banida do mapa. Não sobrou nada.
— O que causou isso? — perguntou ele, outra vez esfregando os olhos.
Sam balançou a cabeça.
— Não sabemos. Este ataque tem a ver com outro de ontem à noite, na mesma região. Uma explosão, ou ao menos achamos que foi uma explosão. Ela destruiu uma cidade chamada Hemmingway. Não havia nada ali, ao menos nada que valesse a pena atacar. Mas, por algum motivo, foi o que aconteceu.
— Meteoros? — indagou ele. Quem dera.
— Nada disso. A estação de radar de Holmont não registrou nenhuma atividade de meteoros. Nada veio dos céus.
O que também anulava a possibilidade de ataques de mísseis. Isso era bom; significava que ninguém — o Irã ou a Coreia do Norte, por exemplo — tinha decidido lançar um monte de bombas nucleares contra eles. Graham respirou fundo, tentando silenciar o ruído límpido do medo, tentando dispor seus pensamentos em padrões lógicos claros e organizados. Uma coisa de cada vez; é preciso estabelecer uma cadeia objetiva de pensamentos.
— Existe alguma filmagem do ataque da noite de ontem? — perguntou.
Sam mexeu na tela e carregou um vídeo.
Ela apertou o play, e eles assistiram juntos. Era uma filmagem noturna, tudo aparecia verde. Um bando de oficiais da SWAT trotava sobre o que parecia uma duna de areia; o mar, uma grande placa de ardósia à frente deles, era a imagem mais escura na tela. Graham ouviu ordens sendo grunhidas, e a respiração áspera e ofegante de quem quer que estivesse usando a câmera no capacete. Os policiais chegaram ao topo da duna e começaram a descer em direção a...
— Crianças? — disse Graham ao notar o grupo na praia. Duas meninas e dois, talvez três meninos, ao que parecia, o medo evidente no rosto deles, mesmo em tons de verde e preto. — Mas que droga eles querem com essas crianças?
Ouviu-se um grito, e a fileira da frente dos policiais começou a correr. Partiram para cima das crianças, urrando com fúria. A pele dos braços de Graham ficou totalmente arrepiada na hora em que a polícia atacou, uns tropeçando nos outros, parecendo mais bichos do que pessoas.
Uma das crianças berrou algo; um nome, talvez. Schiller.
— Você entendeu? — perguntou ele. — Parecia...
A tela se iluminou, a luz tão forte que Graham teve de fechar os olhos com força. Quando olhou de novo, um instante depois, a cena era um caos. A câmera tremia demais, tudo estava borrado, mas isso não o impediu de ver um dos policiais torcido em pleno ar como um peixe em um anzol. O homem, ou mulher, porque Graham não podia ter certeza, sacudiu-se e ganiu e, em seguida, estourou. Graham não foi capaz de pensar em outra maneira de descrever a cena. O corpo simplesmente explodira em flocos de cinzas que vagaram pela bruxuleante luz esverdeada, parecendo comida de peixe jogada em um aquário. Outro policial foi dilacerado por dedos invisíveis, depois outro, e o tempo todo o homem com a câmera no capacete ficou sentado na praia balançando a cabeça. Uivou de novo, ficando de pé com dificuldade, e, em seguida, virou a cabeça para o mar.
Foi só um instante — antes que a imagem se arrastasse para cima e se desmanchasse em estática —, mas parecia haver algo na praia, algo onde as crianças estavam, algo queimando.
— Volte! — berrou Graham, ouvindo o pânico na própria voz. — Volte e congele!
Sam voltou a filmagem, depois reproduziu-a normalmente, frame por frame, cada expressão capturada com perfeita clareza, os olhos dos policiais brilhando de insanidade. Os semblantes deles não se pareciam com nada que Graham já tivesse visto, tão repletos de fúria que não pareciam reais. A cena se arrastou instante a instante, a praia aparecendo, depois uma menina, depois um clarão branco, ardendo como um fósforo aceso. Sam parou a filmagem, e por algum tempo os dois ficaram ali mirando o garoto nas chamas, duas enormes plumas de fogo arqueando-se de suas costas, os olhos sendo bolsões de absoluto brilho, chegando a provocar coceira nas retinas de Graham.
— Eles incendiaram o garoto? — perguntou Sam.
Graham balançou a cabeça... Mas o que mais poderia ser? Esse garoto, ele não é humano; veja só, ele é alguma outra coisa. Sam deixou a filmagem prosseguir, o garoto incandescente visível apenas por mais uma dúzia de frames, antes que o câmera ficasse suspenso no ar e a imagem se perdesse.
— Mande estas imagens para o general — disse Graham, sentindo frio, apesar do calor da sala. — Diga a ele para mandar um pelotão ao litoral, para tentar entender o que aconteceu. Alguma coisa no satélite?
— Eu consigo capturar as imagens — falou Sam. — Desde que não se importe em cometer um crime.
— Capture.
Ela abriu um novo painel no monitor, e Graham a assistiu invadir o satélite da Nasa. A operação toda levou trinta segundos.
— Já está apontado — disse Sam. — Estão nos observando.
Claro que estavam. A NSA devia estar monitorando Londres e o litoral para ter certeza de que o que quer que estivesse acontecendo ali não fosse uma ameaça para eles lá. Muito gentil compartilharem conosco. Sam carregou uma imagem na tela. Felizmente, o céu estava perfeito naquele dia — exceto pela tempestade —, e a visão do litoral também era perfeita. Ele fora arrasado. Só restavam detritos e ruínas reluzindo ao sol.
— Podemos voltar para a hora do ataque? — perguntou Graham.
Sam negou com um gesto de cabeça.
— Isso é quase ao vivo. Só nos resta contar com a sorte.
Ele se inclinou para a frente, examinando as imagens na tela, o atoleiro que um dia havia sido estradas, prédios e gente. Tinha algo mais ali.
— Você consegue entender o que é isto? — perguntou, apontando. Parecia uma ilha de terra no mar, e, nela, uma bola de luz, quase uma erupção solar, forte demais para a câmera do satélite captar direito. Sam deu de ombros. — Isso é mesmo de verdade? Não pode ser algum erro na transferência de dados?
— De um satélite da NSA? De jeito nenhum. É de verdade.
Além daquele ofuscamento, Graham distinguiu cinco pontinhos pretos, cinco pessoas. Não havia como distinguir quem eram, a imagem era aberta demais, distante demais, mas ele teve o palpite de que eram as mesmas crianças do vídeo da polícia. Afinal, aquilo ficava a poucos quilômetros de distância.
— Será que podemos rastreá-los, caso se movam?
— Sim, mas na hora em que eu fizer isso a NSA vai saber que estou controlando o satélite. E a última coisa que queremos agora é irritar os norte-americanos.
— Rastreie — disse ele, batendo na tela, nos pontinhos ali. — O que quer que aconteça, precisamos ficar de olho neles.
Sam suspirou, digitando códigos até que a imagem na tela mudasse de lugar. Do outro lado da sala, um telefone começou a tocar. Graham ignorou; seria alguém dos Estados Unidos, alguém muito, muito zangado.
— Estão tentando recuperar o controle — disse Sam.
— Evite-os pelo tempo que for necessário — falou ele. — Vou pedir ao general que monte uma equipe. Precisamos trazê-los vivos para cá.
— Sim, senhor — respondeu Sam.
O telefone parou de tocar, mas depois voltou a fazê-lo, de algum modo conseguindo soar mais alto e mais encolerizado do que antes. Graham ignorou-o, encarando o monitor. A tela ainda mostrava o garoto em chamas, aquelas plumas de fogo estendendo-se de suas costas. Parecem asas, pensou Graham, sentindo outra vertigem avassaladora. Era inacreditável, e no entanto o cataclismo que ardia a menos de quinze quilômetros de onde estava sentado também era inacreditável. Pensou na figura na escuridão, no homem que estava suspenso na tempestade. Não havia certa semelhança ali, entre ele e o garoto em chamas? Uma similaridade? De maneira nenhuma aquilo podia ser apenas coincidência. Havia uma conexão entre o que acontecia em Londres e o que acontecia no litoral.
Se eles achassem aqueles garotos, encontrariam respostas.
Manhã
Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas, como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os sete trovões ressoaram.
Apocalipse 10, 1-3
Daisy
East Walsham, 9h27
Era tanta violência, e ela não sabia como detê-la.
Desenrolava-se diante de seus olhos, dentro das geleiras gigantes do seu mundo congelado, cada cena mais horripilante que a outra. Em uma, ela via Cal sob um carro enquanto o fogo mordia suas pernas. Ela o chamava, estendia a mão para ele, mas aquele lugar, onde quer que ela estivesse, a havia transformado em um fantasma. Mas tinha ficado tudo bem, porque Cal havia escapado, deixando um rastro de cadáveres carbonizados atrás de si. Em outra cena, observava Schiller erguer o oceano e usá-lo como um martelo, reduzindo a nada uma cidade, com todas aquelas pobres almas sendo levadas embora para sempre. A cena era tão maluca que Daisy se perguntava se era mesmo real; talvez fosse só uma ilusão na sua cabeça. Porém, a garota sentia o gosto do sal no fundo da garganta; ouvia o som horrendo do mar que se levantava e comia a terra. Era real. Era tudo real.
Schiller ia ficando cada vez mais poderoso, isso era óbvio, transformando-se de menino em anjo com um simples pensamento. Mas essa transformação cobrava seu preço. Daisy via o fogo no peito dele, o lugar onde seu anjo repousava, e o fogo estava se espalhando. Isso a fez se lembrar do vídeo que tinham visto na escola sobre câncer, sobre o modo como ele... Como era mesmo? Meta-alguma coisa de órgão para órgão, usando veias e artérias como estradas para transportar seu veneno pelo corpo. A chama azul dentro do peito de Schiller tinha estendido os dedos até sua garganta, indo até os ombros, roçando as costelas. Ela via isso como se olhasse uma radiografia. O que aconteceria quando o fogo o consumisse?
Havia alguém mais com Rilke e Schiller agora, não Marcus, não Jade — apesar de ainda vê-los ali; de sentir o medo, o pavor deles —, mas outro garoto. O nome dele era Howard, soube, mas, bem na hora em que pensou nisso, ouviu uma voz tênue, como se viajasse por um longo caminho em meio a uma ventania.
Howie, disse a voz. Meu nome é Howie. Onde é que estou?
Era ele, o novo garoto, falando com ela. Talvez ele estivesse ali também, em algum lugar daquele palácio de gelo e sonhos.
— Acho... — começou ela, perguntando-se qual seria o melhor jeito de explicar. — Acho que você foi ferido.
Meu irmão, prosseguiu o garoto, e mesmo naquele brando sussurro ela ouvia o pesado fardo da tristeza. Ele me matou. Estou no céu?
— Ele não matou você. Ele... Você ainda está vivo, mas está se transformando.
No quê?
— Num anjo. Mas não exatamente num anjo. É que a gente chama assim. Eles são... Não sei direito, Howie, mas são bons, e vieram para nos ajudar.
É isso o que ele é? Ele se referia a Schiller, Daisy compreendeu. Não quero ficar daquele jeito. Não quero matar gente. Não quero queimar.
— Isso não é obrigatório. Não é ele que faz isso, é ela.
Rilke. A coitada, triste, enfurecida e louca Rilke. Como ela podia ter entendido tudo tão errado?
Só quero ir para casa. Por favor, me deixe ir para casa.
— Você vai, eu juro — disse Daisy, tentando espreitar além do labirinto sem fim de cubos de gelo, esforçando-se para encontrá-lo. — Não vai demorar. Essas coisas, elas não querem fazer mal à gente. Estão tentando nos ajudar. Tem uma coisa que a gente precisa fazer.
O homem na tempestade se agitava dentro do gelo, mais claro do que nunca. Estava suspenso sobre a cidade, transformando tudo em nada. Sua boca era imensa, horrenda e infinita, sugando prédios, carros e gente — milhares e milhares de pessoas. Era horrível. Era como aquela vez em casa, quando tinham achado um formigueiro logo atrás da porta dos fundos, e o pai dela pegara o aspirador e sugara todas as formigas. Eles tinham um desses aspiradores caros e modernos, que possuíam um receptáculo transparente em vez de uma bolsa, e ela tinha visto as formigas girando e girando com toda a sujeira e o pó, centenas delas capturadas na tempestade, até que implorara ao pai que desligasse o aspirador.
Perguntava-se se Howie enxergava aquilo também, onde quer que ele estivesse. Mas o garoto parecia ter sumido.
Talvez também fosse possível dialogar com o homem na tempestade. Afinal, ela tinha convencido o pai a desligar o aspirador; ele só não havia se dado conta do que fazia, do mal que provocava. E se aquilo fosse igual? Se pudesse falar com ele, dizer-lhe que o que fazia era errado, talvez ele parasse.
Mas como ela poderia fazer isso ali dentro? Flutuava pelo gelo como se estivesse em um salão de espelhos. E o tempo todo seu próprio anjo repousava no peito. Sabia que estava sendo gestado ali, e um dia nasceria como alguém que acordasse de um sono profundo. O anjo viera de um lugar distante, disso ela sabia, de um lugar onde nem a espaçonave mais rápida poderia chegar. A viagem fora longa, e agora o anjo despertava, recordando-se de como usar braços e pernas, assim como ela às vezes precisava fazer quando acordava de um sono profundo. E, quando ele nascesse...
Você vai ficar igual ao Schiller, pensou ela. Vai ser feita de fogo frio, e vai ser capaz de aniquilar o mundo com o estalar dos dedos.
Isso a assustava, porque às vezes ela sentia raiva. Uma vez, quando tinha uns seis ou sete anos, não conseguia encontrar a mãe. Elas nem tinham saído nem nada, estavam as duas dentro de casa, mas Daisy chamava e chamava e chamava, porque tinha feito um desenho e queria mostrá-lo a ela. A mãe não respondia, e a raiva no peito de Daisy fora tão súbita, tão inesperada, que ela rasgara o desenho em dois. Claro, a mãe estava no quintal, guardando algo no galpão, e, ao voltar, encontrara Daisy fervilhando de raiva, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe consertara o desenho com durex e o colocara acima da lareira, e tudo acabara bem. Daisy nunca tinha esquecido daquele dia, porém, e do jato de fúria incandescente que tinha jorrado de sua barriga. E se aquilo acontecesse de novo? E se o anjo dentro dela achasse que isso era um comando? Agora não seria só um desenho de um farol meio torto a ser destruído.
Mas e se ela precisasse do anjo para falar com o homem na tempestade? Naquele momento, ela era um fantasma; podia ver tudo, mas não podia tocar nada. E, antes disso, ela tinha sido uma menina; quase uma adolescente, é verdade, mas a voz dela era tão baixinha que as pessoas sempre lhe diziam para falar mais alto, especialmente a professora de teatro, a sra. Jackson. O homem nunca a ouviria. Quando o anjo dela nascesse, porém; quando despertasse de dentro do coração dela, então a voz dela soaria alto, alto o suficiente para ser ouvida mesmo em meio ao estrondo uivante da tempestade — alto como a de Schiller lá em Fursville. Ela diria ao homem para deixar o mundo em paz, para simplesmente ir embora. Ele teria de ouvi-la; teria de respeitá-la.
— Howie? — chamou ela, perguntando-se aonde teria ido o menino. Será que Schiller o havia ouvido? Ou Rilke? Será que o mantinham calado de algum jeito? — Se puder me ouvir, não preste atenção em Rilke. Ela não é má pessoa, mas entendeu tudo errado. Não estamos aqui para machucar as pessoas, eu sei. Estamos aqui para ajudá-las.
Não houve resposta. A voz dela era baixa demais. Mas não demoraria agora; seu anjo estava quase pronto. Então ela não seria mais um fantasma, e também não seria mais uma garota.
Seria uma voz, alta o bastante para expulsar a tempestade.
Cal
East Walsham, 9h29
Só agora, no silêncio sepulcral da igreja, o corpo dele parecia se lembrar do que era dor. Ela começou nos pés e subiu até o abdômen. Sentia o coração como um calor pulsante na pele. Mas estava vivo. Vivo e em segurança — se alguém o tivesse seguido até a igreja, já estaria ali, urrando entre os bancos.
E ele estava quente. Isso era o principal. Não estava escorregando para dentro de uma piscina de gelo como Schiller e Daisy. O que era muito bom. Significava que o que quer que estivesse dentro dele não estava com pressa de sair. Tudo o que Cal desejava era beber alguma coisa, trancar a porta da igreja e dormir por cem anos.
Mas e o sacerdote? O velho estava sentado no altar, murmurando algo bem baixinho e às vezes dando um sorriso nervoso para Cal; ficava tirando os óculos e limpando-os no paletó sem parar. Se não tomasse cuidado, não sobraria vidro nenhum. Ajeitou-os no nariz, deu uma tossidela e depois falou em uma voz branda que chegou ao outro lado da igreja:
— Seu amigo precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Por favor, podemos resolver isso juntos. Só me diga o que está acontecendo.
Você não vai querer saber, pensou Cal. Flexionou o maxilar, e um espasmo formigou pelo músculo. Quando engoliu, foi como se tivesse uma meia enrolada no fundo da garganta. Tinha a sensação de que, se não bebesse nada logo, viraria uma daquelas estátuas de pedra que o fitavam com benevolência.
— Olha — disse o sacerdote —, me solte e eu cuido dos seus ferimentos. Tem um kit de primeiros socorros na casa paroquial. Juro que vou fazer tudo o que puder.
— Não — murmurou Cal. — Você não entende. Se chegar perto de mim, se chegar perto de qualquer um de nós, vai tentar nos matar.
— Isso é absurdo. Eu jamais faria mal a uma criança, jamais faria mal a ninguém. Por favor, acredite em mim. Sou um homem de Deus.
— Não acho que Deus tenha nada a ver com isso. Isso é... mais antigo que Ele. — Não tinha muita ideia do que estava dizendo. — Conte-me o que você sabe sobre anjos.
— O quê? — perguntou o sacerdote, limpando os óculos. — Anjos? Por quê?
— Só me conte. Anjos.
O homem limpou a fleuma da garganta, um ruído que poderia ter sido uma risada. Depois deve ter notado a expressão no rosto de Cal, porque franziu o cenho e mirou o chão.
— Os anjos. Bem. Não sei o que quer saber. Na Bíblia, eles são seres espirituais, são os mensageiros de Deus. Aliás, é isso que a palavra quer dizer: mensageiro. Vem do grego. Hum... — Deu de ombros, a corda presa se levantando e em seguida chicoteando o chão. — É isso o que quer saber?
Cal não tinha ideia do que queria saber.
— Não. — Esforçava-se para pensar na pergunta certa. — Eles podem possuir as pessoas? Como os demônios? Eles podem vir à Terra?
As perguntas eram uma insanidade só. O sacerdote balançou a cabeça.
— Veja só, filho...
— Cal.
— Cal, veja só, não sei o que você quer saber. Eu...
Ouviu-se um barulho no cascalho do lado de fora, e em seguida o ranger da porta. Brick se arrastou para dentro da igreja carregando um copo- -d’água em uma mão e uma fatia de pão na outra. Parecia pálido, cada sarda em evidência como se tivesse sido feita a caneta na pele branca; e, quando estendeu o copo, sua mão tremia — tanto que a maior parte da água transbordou para o braço. Cal deu um gole, que queimou feito ácido. Em seu estômago, porém, a sensação foi de frescor, e ele se sentiu melhor instantaneamente.
— Achei que tivesse mandado não falar nada — disse Brick, encarando o sacerdote.
— Você me disse para não tentar fugir — respondeu o homem.
Cal sorveu outro gole, desta vez maior, antes de acrescentar:
— Tudo bem, Brick, fui eu que fiz uma pergunta. Sobre anjos.
Brick sibilou pelo nariz, despencando no último banco, ao lado de Adam. Entregou ao garoto uma fatia de pão, que Adam engoliu como um cão faminto.
— Anjos — fungou Brick, cuspindo migalhas. — Estou dizendo que isso é bobagem.
— Não custa perguntar, custa? — falou Cal, a raiva fazendo tudo doer o dobro. — Já que estamos aqui, não faz mal perguntar. — Ele se voltou de novo para o sacerdote, aguardando o homem continuar.
— Se me disser o que quer saber a respeito, talvez eu possa dar uma resposta melhor.
— Porque... — Cal começou, hesitante, perguntando-se se dizer aquilo em voz alta dentro de uma igreja não faria tudo ganhar uma dimensão de realidade que não tinha antes. À frente dele, Brick arrancava mais um pedaço de pão com os dentes, balançando a cabeça. Cal terminou a frase: — Porque acho que estamos possuídos por eles.
O sacerdote não respondeu, só engoliu ruidosamente e começou a encarar a porta da igreja. Era como se transmitisse seus pensamentos: são loucos, drogados; é só eu afrouxar esta corda e sair correndo, se é que vou conseguir chegar à rua...
— Senhor... Quer dizer, reverendo... — começou Cal.
— Doug — disse Brick. — O nome dele é Doug.
— Doug, sei que isso parece uma maluquice. Se pudéssemos provar, nós provaríamos. — Ele ergueu a cabeça, uma ideia debatendo-se no mar de dor que constituía seus pensamentos. — Peraí, você tem uma câmera?
Brick não demorou muito para achá-la dentro da casa paroquial e voltou depois de cinco minutos com uma Flipcam pequena. Despencou no banco, mexendo na câmera e abrindo o visor.
— Cuidado com isso, por favor — disse Doug. — É da Margaret. Ela ficaria muito chateada se você a quebrasse.
— Não vai quebrar, vamos tomar cuidado — falou Cal. — Preciso que você tenha certeza de que essa corda está firme, está bem? Ela precisa estar bem apertada. Dê mais um nó, só para ter certeza.
O sacerdote seguiu as instruções, e, em seguida, deu dois safanões na corda. O arranjo parecia seguro, mas naquele momento ele era apenas um velho gordo. Dali a um instante, quando cruzassem a linha invisível, ele seria outra coisa, uma criatura de raiva ancestral, primitiva.
— Vai lá — disse Cal.
— Vai você — respondeu Brick. — Eu não vou lá de jeito nenhum.
— Olha só — falou Doug, sua voz uma oitava acima do que estava antes. — O que quer que estejam pensando em fazer comigo, não façam.
— Brick, vai logo.
O garoto mais velho fez uma cara que fez Cal ter vontade de matá-lo ali mesmo. Parecia prestes a entregar a câmera a Adam, mas depois se levantou e foi para o corredor. Parou por um instante, incerto, olhou ameaçadoramente para Cal e, em seguida, foi relutante até o altar. Na hora em que começou a gravar, a câmera emitiu um som baixinho.
— Por favor, fique parado aí — gemeu Doug, tentando mexer no nó com a mão livre.
— Pode parar com isso — disse Cal. — Não vamos machucar você, eu juro.
Brick deu outro pequeno passo, arrastado, e mais outro, diminuindo o espaço entre ele e o sacerdote. A que distância estaria agora? Vinte e cinco metros, talvez? Cal não podia ter certeza, mas não seria...
O sacerdote emitiu um choramingo nasal, que se aprofundou e tornou-se uma fungada. Mesmo do outro lado da igreja, Cal viu os olhos do homem escurecerem, a pele do rosto cair, como se a carne lentamente escorregasse de seus ossos. Seu corpo inteiro se agitou, fazendo-o cair no degrau de baixo, os braços socando o carpete, o piso de pedra, como se estivesse tendo uma síncope. Brick parou, e Cal quase pôde enxergar as ondas de medo pulsando dele, invadindo o ambiente com seu odor azedo e desagradável.
— Vai lá. Você ainda não está perto o bastante.
Brick murmurou algo que Cal não pôde ouvir, e depois cruzou a linha invisível da Fúria. Doug ficou de pé imediatamente, um grito rangendo do abismo negro de sua boca. Partiu para cima de Brick, avançando um metro antes que a corda se esticasse e o prendesse onde estava. O ímpeto fez suas pernas ficarem no ar, o corpo fazendo em seguida um baque contra o piso de pedra. Ele não se importou, agitando-se e urrando.
— Basta, Brick — disse Cal.
Brick cambaleou para trás, quase tropeçando nos próprios pés. E bastou cruzar a linha para que o sacerdote voltasse a ser apenas um sacerdote, um amontoado de pano preto no corredor, ofegando e cuspindo sangue. Ele demorou vários minutos para se lembrar de onde estava, tentando recuperar o fôlego enquanto ia até o degrau mais baixo do altar, enxugando o suor reluzente de sua careca. Apertou o punho, viscoso de sangue, os olhos enevoados perdidos pela igreja até pararem em Cal.
— O que... o que fizeram comigo?
— Mostre a ele — disse Cal. Brick fechou a câmera e deslizou-a pelo chão como uma bola de boliche. O objeto de plástico foi deslizando pelo piso de pedra irregular, batendo no balaústre de madeira ao qual Doug estava amarrado. Ele não parecia mais preocupado com a integridade da câmera. Não parecia mais preocupado com nada, como se a Fúria o tivesse capturado e colocado para fora tudo o que um dia tivera importância, deixando-o vazio.
— Veja a gravação — falou Cal.
Uma eternidade de silêncio se passou, e depois Doug estendeu a mão e pegou a câmera. Ouviram-se uns bipes, e então Cal escutou a própria voz — Vai lá. Você ainda não está perto o bastante —, seguida da trilha sonora inconfundível da Fúria. Mesmo ouvi-la assim lhe dava arrepios. Os olhos do sacerdote pareciam bolas de golfe, enormes e brancos, enquanto se olhava na pequena tela. Como era ver a si mesmo assim? Saber que, por um breve período, você não era você, você era outra coisa, algo terrível? O homem assistiu à cena de novo, depois fechou a câmera e a depositou a seus pés.
— Meu Deus — suspirou ele, de repente uma criança, como se fosse Cal o sacerdote. — O que aconteceu comigo?
— Nós. Nós acontecemos — respondeu Cal. — Agora, por favor, conte-nos o que sabe.
Brick
East Walsham, 9h52
— Os anjos são mais agentes de Deus do que do homem. São mensageiros, basicamente, portadores de revelações. Como quando Gabriel foi a Maria na Visitação, por exemplo. Mas também são guerreiros.
Tentando não ouvir, Brick encarava os próprios pés enquanto o sacerdote falava. Nada do que aquele homem dizia poderia ter relação com o que estava acontecendo, de jeito nenhum. Ele falava da Bíblia, um livro escrito centenas de anos atrás, por gente que não tinha nada melhor para fazer. Aquilo... Aquilo era outra coisa, algo diferente. E no entanto havia palavras que o sacerdote usava, palavras que pareciam acertar bem no alvo. Guerreiros, pensou Brick, ouvindo-o. Não foi isso que Daisy falou? Que estamos aqui para combater?
— Como assim, guerreiros? — perguntou ele. — Os anjos não são querubins bonzinhos com rostos rechonchudos, halos, aquelas coisas?
— Não — disse o sacerdote, negando com um gesto de cabeça. Ainda estava pálido, tremendo, e, na forte penumbra do outro lado da igreja, parecia um fantasma. — Talvez hoje, nos cartões de Natal. Mas originalmente eram mais como um exército, ou... Talvez a melhor palavra seja guardiães. É comum serem representados com espadas flamejantes. Alguns ficam ao lado do trono de Deus.
— Como uma guarda imperial, algo assim — disse Cal lá da parede dos fundos. Brick era capaz de sentir a exaustão na voz do garoto, e se perguntou quanto tempo mais qualquer um deles ficaria acordado. Tudo ali era perfeitamente impassível, como se o tempo tivesse decidido lhes dar uma folga, parar um pouco. Adam já estava enroscado no banco feito um cachorrinho, os olhos totalmente fechados. — Sabe, como o Imperador de Guerra nas Estrelas.
— Bem, essa comparação talvez não seja adequada — disse Doug. — Mas deve servir. Quanto aos outros, sua ocupação principal é levar mensagens para a humanidade. Eles não estão só na Bíblia. Você os encontra em todas as religiões do mundo.
— Então, do que são feitos? — perguntou Cal.
— Não consigo entender por que você acha que os anjos são responsáveis por isso, pelo que quer que esteja acontecendo — respondeu Doug. — Tem de ser... Tem de ser uma coisa química, uma reação de algum tipo. Talvez uma doença.
— Confie em mim — disse Cal. — Você não viu o que nós vimos. Continue.
— Do que são feitos? — O sacerdote se mexeu desconfortavelmente, limpando os óculos de novo. Desta vez, não os colocou de volta, só os ergueu nas mãos e os examinou como se a resposta estivesse escrita neles. — São etéreos, isso eu sei. São espíritos. Já ouviu a expressão “quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete”? A resposta é um número infinito, porque não são criaturas deste mundo. Os teólogos nos ensinam que eles são capazes de se mover instantaneamente de um lugar para outro, o que lhes permite ficar indo e vindo daqui para o céu. Por causa disso, muitas vezes são representados como se fossem feitos de fogo.
Ao ouvir isso, Brick voltou-se para trás e encarou Cal. Sentiu um súbito arrepio e um tremor nos braços, recolhendo-os contra o peito, como se para escondê-los. Brick olhou para a frente outra vez, sentindo as bochechas corarem e se perguntando por quê.
— Então, nada de túnicas nem de harpa? — falou ele.
Doug recolocou os óculos e piscou, sem ter muita certeza se a pergunta era séria ou não.
— Mas deve haver alguma coisa na Bíblia que diga o que eles fazem, como falam com as pessoas, não? — perguntou Cal. — Eles simplesmente aparecem para um café, é isso?
— Não, costumam ser mais um espírito interno; falam de dentro, sem se mostrar.
— Muito conveniente — resmungou Brick.
— Brick, você não acha que tem algo no que ele está dizendo? — perguntou Cal. — Feito de fogo, vivendo dentro de você, guerreiros. Nada disso parece familiar?
Brick não respondeu, só ficou ali sentado ruminando sua raiva.
— Como assim, guardiães? — perguntou Cal.
— Bem, eles nos protegem. Muitas pessoas acreditam que... Você deve ter ouvido a expressão anjo da guarda, não?
— Claro. Mas também existem anjos maus, certo? — perguntou Brick, pensando no que tinha acabado de ver na TV, o homem na tempestade. A imagem já esmorecia em sua mente, apenas uma grande marca escura em sua visão, como se as retinas tivessem sido raspadas. Melhor isso do que ver aquilo de novo, a besta com seu manto de tempestade e sua inspiração infinita. Estremeceu com tanta força que o banco chacoalhou.
— Anjos maus? Claro, claro. De acordo com a Bíblia, Lúcifer tinha sido um anjo, na verdade, um arcanjo. Ele achou que poderia ser mais poderoso do que Deus e tentou liderar, como direi... uma rebelião com seu exército de anjos. Por causa do seu pecado de orgulho, Deus mandou-o para o Lago de Fogo, o inferno, junto com os que ficaram a seu lado. Essa é uma parte das escrituras com a qual, pessoalmente, tenho dificuldade. É sempre tentador acreditar que o mal humano pode ser atribuído ao demônio, e, sim, há ocasiões em que é esse o caso. Mas também acho que o mal é parte de quem somos. Devemos culpar apenas a nós mesmos pelas coisas ruins do mundo.
Houve um tempo em que Brick poderia ter acreditado nisso. Não agora, não depois de tudo o que tinha visto. O homem na tempestade, aquilo não era humano. Era o exato oposto de humano, o exato oposto de toda a vida. Porém, também não era o demônio, não o que está na Bíblia. Era outra coisa, algo que vagava pelos mundos muito antes de qualquer pessoa ter dito a palavra Deus. Brick sentia a veracidade disso em suas entranhas, no rangido colossal do peso do tempo e do espaço a se quebrar; quase podia ouvi-lo no enorme silêncio da igreja. Era impossível explicar, mas estava ali mesmo assim.
— Isso não vai nos levar a lugar nenhum — disse ele, só para que houvesse contradição.
— Pois é, eu sei — respondeu Cal. — Eu sei. Veja só, Doug, algumas das histórias da Bíblia devem ser baseadas em ocorrências reais, não é? Sem ofensa nem nada, cara. Lembro de ouvir que o dilúvio, aquele com Noé e tal, deve ter acontecido por causa de um tsunami ou algo do tipo.
— Sim — disse Doug. — Claro que existem teorias relativistas. Aliás, estudei a ciência na Bíblia na época em que fui capelão em Oxford. Você está falando da teoria do dilúvio do Mar Negro. Por volta de 5.600 a.C., a água do Mediterrâneo abriu uma brecha para o Estreito de Bósforo, acho. Isso teria causado uma inundação terrível. Existem também outros exemplos. A história de Moisés e o Mar Vermelho. Há condições em que um vento forte poderia de fato dividir as águas de um rio. Já aconteceu outras vezes, no delta do Nilo. É bem impressionante.
— Então, o que você quer dizer? — perguntou Brick. — Que a ciência é que faz tudo e Deus só leva o crédito?
O sacerdote riu, fazendo que não com a cabeça.
— Estou dizendo que muitos anos atrás não sabíamos o que hoje sabemos. Um... um vulcão, digamos, era um animal zangado sob a superfície. Um furacão eram os deuses lutando no céu. Os humanos precisam conhecer a verdade das coisas, mesmo que essa verdade seja ficção. Faz parte da nossa natureza tentar entender a vida. Se a ciência não pode explicar algo, inventamos nossa própria ciência para explicar esse algo. E essa ciência costuma se chamar religião.
— Então a religião não é real? — perguntou Brick. — Um sacerdote falar isso... Que besteira.
— Não, você não está entendendo. Religião tem a ver com fé, e fé é uma espécie de conhecimento muito diferente. Deus é um fato científico, e há uma ciência que explica a natureza de Deus. Claro que há. Mas ainda não sabemos que ciência é essa. Talvez um dia a compreendamos, assim como hoje compreendemos a ciência da gravidade, do relâmpago, de, digamos, certos comportamentos de partículas quânticas. Talvez um dia saibamos a verdade científica a respeito de Deus e de nossa criação. Nesse ponto, a ciência e a religião serão a mesma coisa.
Brick sibilou uma risada pelo nariz, ainda que houvesse algo nas palavras do sacerdote que fazia sentido.
— Está dizendo que coisas esquisitas aconteceram muito tempo atrás — disse Cal. — E que as pessoas viram essas coisas e as atribuíram a Deus. Disseram para seus filhos que era Deus, e esses filhos disseram para os filhos deles, e depois alguém acabou escrevendo um livro chamado Bíblia, e se lembraram desse negócio, e ficaram sabendo do mar se dividindo, de um dilúvio, sei lá, e foi assim que a Bíblia foi escrita.
O sacerdote passou a mão pela cabeça e fez que sim.
— Bem, em parte. Alguns milagres são de Deus, sem dúvida. Mas talvez não todos. Tudo é ciência. Tem de ser. Mas o fato de ser uma ciência que ainda não compreendemos não o torna automaticamente falso.
— Os anjos, então — prosseguiu Cal, e Brick percebeu que era com ele que o sacerdote falava. — Talvez isso tenha acontecido antes. Talvez, milhares de anos atrás, as pessoas tenham ficado possuídas por... pelo que quer que esteja dentro de nós. Só que não sabiam o que eram essas coisas; só viam que eram feitas de fogo, com asas. Criaturas que podiam destruir uma cidade inteira com uma só palavra. Elas as viam, e as chamavam de anjos, de mensageiros de Deus, e disseram isso aos filhos, e isso acabou virando parte da religião. Faz sentido, não faz?
Fazia, mas Brick não disse nada.
— E aquela coisa em Londres, o homem na tempestade? Talvez ele tenha estado aqui antes. Talvez as pessoas o tenham visto e pensado que ele era como nós, quer dizer, como os anjos, mas uma versão do mal. Podem ter inventado uma história de como ele foi derrotado e quis se vingar. Isso tudo pode já ter acontecido, Brick.
— E daí, Cal? — falou Brick, virando-se.
Cal estava encostado na parede, envolto nos próprios braços. Parecia pequeno e fraco, mas seu olhar emanava força.
— Isso significa que os anjos já lutaram com ele — disse Cal. — Significa que o impediram de fazer o que quer que tenha vindo fazer aqui. Significa que eles o venceram.
— Como você sabe?
— Porque, se não fosse assim, não estaríamos aqui, estaríamos? Essa coisa quer que a gente aniquile tudo. Parece um buraco negro. E não vai parar até a destruirmos.
— É mesmo? — Brick precisou engolir um azedo caroço de bile que subiu do poço revirado que era seu estômago. A imagem do homem na tempestade apareceu diante dele e encheu a igreja de trevas. Tentar lutar com aquilo seria como tentar parar um trem com um palito de dentes. Seriam arrasados, tragados por aquela boca furiosa junto com tudo o mais. E depois? Não haveria vida após a morte, nem céu nem inferno, não ali dentro. Não haveria nada, exceto o fim das coisas. — E como a gente vai fazer isso, Cal?
— Esperando — respondeu o outro garoto. — Até que nasçam.
Essa ideia era tão ou ainda mais aterrorizante, a ideia de que havia algo em seu peito — não, ainda mais fundo: em sua alma — que aguardava o momento certo para irromper em um punho de fogo e tomar o controle de seu corpo. Essa ideia lhe dava vontade de gritar, e ele se colocou de pé e foi para o corredor, andando de um lado para o outro com as mãos fincadas no cabelo. Ia e voltava, querendo cavar uma trincheira com os pés no piso de pedra e enterrar-se ali para sempre com os esqueletos sob a igreja. Foi só quando chegou perto demais do sacerdote, quando ouviu a respiração do homem tornar-se o gemido insuportável da Fúria, que se obrigou a sentar-se outra vez.
— Mas por que as pessoas nos detestam? — acabou perguntando Brick. — Essa é a parte que eu realmente não entendo. Se estamos aqui para combater aquela coisa, com certeza as pessoas deviam estar do nosso lado, nos ajudar, em vez de tentar nos matar.
— Não sei — disse Cal. — Doug, você se lembra de alguma coisa do que aconteceu quando estávamos filmando?
O pastor ficou alguns tons mais pálido e negou com um gesto de cabeça.
— Parece que... que aquela parte da minha memória, da minha vida, simplesmente não existiu. Num minuto estava falando com vocês, e em seguida apaguei. Depois, tudo voltou ao normal. Só... só que não voltou, porque tentei matar vocês. — Ele enxugou o rosto com a mão, e Brick percebeu que o velho chorava. — Não era eu. Não era eu.
— Vocês já odiaram alguém tanto que perderam a cabeça por causa disso? — perguntou Brick, as palavras saindo de sua boca antes mesmo que ele se desse conta delas. — Já odiaram tanto que sua visão ficou inteirinha branca e foi como se vocês virassem outra pessoa?
Ninguém respondeu. Ele arrastou o pé no chão, desconfortável por estar compartilhando tanto de si.
— Eu, sim. Várias vezes. Costumava ficar com muita raiva.
— Costumava? — disse Cal, com mais do que uma ponta de sarcasmo.
Brick sentia aquilo naquele momento, enquanto falava, como se algo irrompesse de seu estômago.
— Às vezes, não consigo me controlar. Acho que serei capaz de fazer alguma coisa sem volta, algo ruim, como bater em alguém ou até pior, como matar alguém. Quando fico assim, tenho a sensação de que eu, quer dizer, aquela parte minha que pensa nas coisas e evita fazer bobagem, é expulsa da minha cabeça, como se alguma outra coisa simplesmente tomasse o controle. É difícil sair desse estado.
O som da própria voz, falando por tanto tempo, parecia-lhe estranhamente alheio. Umedeceu os lábios, querendo um pouco da água de Cal. Percebeu que não tinha tirado os olhos dos tênis imundos desde que começara a falar.
— Acho que é assim. A Fúria. Você fica com tanta raiva, tão cheio de cólera, que apenas perde a cabeça. Só que é um milhão de vezes pior.
Engoliu ruidosamente, e percebeu que corava de novo. Aquela raiva ainda fervilhava em sua garganta. Após algum tempo, Cal se pronunciou:
— Pois é, faz sentido. Mas não é uma coisa química, nem emocional; é isto: anjos. As pessoas não conseguem aceitá-los porque eles são tão... qual é a palavra mesmo?
— Estranhos? — disse Brick.
— Acho que é isso. Eles são tão estranhos que fazem as pessoas perderem a cabeça. Elas precisam matá-los, precisam matar a gente. Não consigo pensar em nenhum outro motivo.
Mais silêncio, profundo como o oceano. Brick mirou a igreja e viu a barraquinha de cachorro-quente de Fursville queimando, e, atrás dela, o pavilhão. Abriu os olhos de súbito, percebendo que o sono o tinha emboscado.
— A gente precisa ir embora — disse ele, esfregando os olhos. Como Cal não respondeu, Brick olhou para trás e viu que ele também tinha sucumbido, a cabeça repousando nos joelhos. — Cal, não podemos adormecer.
— Tudo bem — disse o sacerdote. — Podem dormir. Vocês têm a minha palavra; não vou me mexer. Sei o que vai acontecer. Não suportaria ficar daquele jeito de novo.
Brick fez cara feia para o homem. Ele era um furioso; não podia confiar nele. É só por um instante, só para recuperar as forças. Fechou os olhos e viu, além do pavilhão, o mar. Havia um barco no mar, um barco que se tornava uma ilha, depois uma casa, e, quando Brick nadou até ela, abriu a porta e entrou, não sabia mais que estava sonhando.
Rilke
Great Yarmouth, 10h07
O chão se dobrou e então recuperou a forma, soando como se o mundo inteiro esticasse as juntas. Uma ponte de pedra ergueu-se da praia encharcada, parecendo a espinha de algum animal colossal rompendo a pele da terra. Ela serpenteava pelo solo sulcado onde um dia estivera o vilarejo. Seu arquiteto, Schiller, retorcia o ar com dedos incandescentes, cordas invisíveis remoldando pedra, areia e terra até que houvesse um caminho distinto vindo do mar.
Foi só quando ele terminou que a transformação começou, as chamas extinguindo-se como um forno a gás ao vento, até que a pessoa que estava ali era não mais um anjo, mas outra vez um menino. Conseguiu sorrir, desgastado, antes de as pernas cederem e ele tombar ao leito protuberante da própria criação. Rilke levantou-se de onde tinha se ajoelhado, os joelhos esfolados pela vibração do chão, e andou até ele. Quando o ajudou a sentar-se, outra mecha de cabelos dele se soltou. Não eram mais loiros, percebeu ela, mas cinza.
— Fez bem, irmãozinho — disse ela, acariciando a bochecha dele. Ainda estava muito frio, como se, toda vez que deixasse o rapaz, o fogo roubasse um pouco mais do calor de seu corpo. — Você acabou com tudo. Ouça, ouça o resultado do que você fez.
Ele escutou, e, por um tempo, ambos ficaram sentados, absorvendo a quietude. O único som era o doce lamber do mar, reduzido a um cão que gania em seus calcanhares. Não havia gritos, nem mesmo alarmes. A onda de Schiller tinha feito bem seu trabalho.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller, quase sussurrando. Os olhos dele estavam fechados e espasmavam como os de um filhote sonhando.
Ela sacudiu os ombros dele, trazendo-o de volta. Por que ele precisava dormir se restava tanto trabalho a ser feito?
— Logo — disse Rilke. Puxou-o até que ele reagisse e se levantasse com dificuldade. Ela colocou um braço embaixo dele, apoiando-o com seu corpo. Era muito pesado, e depois de alguns segundos a garota desistiu. — Ok, podemos descansar um pouco. Mas não aqui. Precisamos achar um lugar seguro.
— Seguro? — veio uma voz atrás dela, que se virou e viu Jade, sentada na praia recém-erigida ao lado dos dois garotos. Parecia uma marionete mal-acabada, os olhos grandes demais, a boca frouxa, o corpo mole.
Rilke tinha quase esquecido que os outros existiam. Aliás, precisava deles? Quando seu anjo nascesse, ela e Schill poderiam mudar o mundo por conta própria. Não precisavam ser supervisionados por ninguém. Por ora, porém, fazia sentido mantê-los por perto. Poderiam vir a ser úteis, em especial o novo garoto, que estava quase despertando.
— Não vai demorar até virem atrás de nós — disse Rilke, dando um passo na ponte de pedra e arrastando Schiller atrás de si.
— A polícia?
— Sim. E outros também. O exército. — E Daisy, pensou ela, mas não falou.
A garotinha também devia estar perto de sua transformação. Porém, Rilke achava que isso ainda não havia acontecido. Teria sentido. Não, estavam descansando, Daisy, Brick, Cal e Adam. Tentou transportar a mente, como tinha feito em Fursville. Sentiu um banco de madeira desconfortável, o odor de algo velho e empoeirado, viu uma luz de cor estranha passando por grandes janelas. Uma igreja, atinou, a respiração um tanto ofegante. Talvez tivessem ouvido histórias sobre anjos vingadores; talvez enfim tivessem compreendido o que precisavam fazer.
E se não fosse isso? E se tivessem ido lá para tentar deter Schiller?
Rilke tentou imaginar o que aconteceria se dois anjos lutassem um contra o outro. Isso por si bastaria para colocar o mundo de joelhos. Schiller teria força suficiente para lutar com Daisy? Ela era só uma garotinha, mas tinha uma força interior que o irmão não possuía.
— Não consigo mais carregá-lo — disse Jade. — Está gelado demais.
— Consegue sim — falou Rilke. — Só até o alto da colina, até acharmos abrigo.
Não esperou pela resposta. Jade faria o que ela mandasse, e Marcus também. Rilke caminhou com Schiller nos braços, e cada passo era um desafio. Isso a fez se lembrar da manhã em que havia chegado ao parque temático, uma manhã que parecia ter sido muito tempo atrás, mas que tinha sido... O quê? Há dois dias? Como tudo o mais, o tempo estava fragmentado. Aqueles dois dias equivaliam a uma vida inteira. As coisas eram tão simples antes... O mundo era só o mundo, e as pessoas, só pessoas.
Esse pensamento era tão absurdo que ela riu. Schiller a encarou com seus olhos sonolentos e semicerrados e sorriu em resposta; ela reparou que um de seus dentes da frente estava faltando. Seu estômago deu um nó, a pele subitamente gélida. Isso o está matando. Não. Estava deixando-o mais forte. Como poderia não estar? Aquilo o havia deixado mais poderoso do que qualquer outra coisa no mundo. Tinha feito dele um deus. E, no entanto, uma voz a chamava, talvez a dela mesma, talvez não: isso o está matando, usando-o e comendo-o por dentro.
— Calada — sussurrou ela; Schiller ouviu-a e franziu o cenho. — Preste atenção no caminho, irmão — disse ela, só para não precisar olhar o buraco enorme na gengiva onde antes havia o dente. E daí que aquilo o estava matando? E daí que seu corpo humano caísse em pedaços? Uma vez que a carne sucumbisse, só haveria fogo e fúria.
Seguiram cambaleando em silêncio pela trilha de pedra fragmentada. Quanto mais avançavam, mais descortinavam a destruição produzida por Schiller. À esquerda deles, havia outro mar, este feito de tijolos, concreto e corpos, boiando em sedimentos e água. Fumaça subia de três ou quatro pontos. Rilke se perguntou se ainda havia alguém vivo ali, depois pensou no paredão de água que esmagara a cidade como o punho de Deus. Nada poderia ter sobrevivido àquilo. Não houvera tempo sequer de alguém desconfiar do que estava acontecendo.
Após pouco menos de um quilômetro percorrido, chegaram ao fim da ponte que Schiller tinha tirado da terra. Ela se transformara em uma boca repleta de dentes; além dela, só havia um caos de destroços. Rilke saiu dela para um gramado, o solo úmido mas firme. Era tão plano que mesmo dali conseguia ver a linha cinzenta do mar, como se ele espreitasse o horizonte para ter certeza de que eles tinham mesmo ido embora. Passou pela cabeça da garota que ele fosse se encolher outra vez e se esconder atrás da cidade em ruínas.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller. — Rilke, por favor, não estou me sentindo bem.
Ela não olhou para ele, só examinou o campo em busca de abrigo. Havia uma cerca ali perto, semiafundada na lama. Um cavalo jazia morto, emaranhado em fios e madeira. Devia ter tentado fugir quando ouvira o estrondo do oceano, pensou ela, sentindo pela criatura uma compaixão surpreendente. Mandou embora aquela emoção — emoções são para os humanos, Rilke, não para você —, os olhos fixando-se na única estrutura, à exceção dos postes de telefone, que avistava dentro de quilômetros. Era um moinho que perdera as hélices.
Foi na direção dele, arrastando os outros atrás de si como se puxasse um carrinho. Sua sombra ia à frente, ainda comprida, varrendo a grama como uma nuvem escura. Como o homem na tempestade, pensou ela, e isso lhe trouxe de novo aquela sensação esquisita no estômago. Se ele estava ali pelo mesmo motivo que os anjos, então por que não tinha tentado se comunicar com eles? Ele não tinha instruções, ordens? Talvez até tivesse, mas eles é que não conseguiam ouvi-lo. Ou talvez isso só fosse acontecer depois que os anjos nascessem. Pensou em perguntar a Schiller se ele tinha ouvido — sentido — alguma coisa do homem na tempestade, mas o irmão estava tão fraco que não achou que a resposta faria sentido, mesmo que ele soubesse. Melhor levá-lo para dentro, deixá-lo descansar, para depois perguntar.
Demorou mais do que ela esperava para chegar ao moinho, a superfície plana fazendo-o parecer mais próximo do que de fato era. Quando terminaram de cruzar uma pequena represa, o sol tinha mudado de lugar, e havia um ruído se aproximando no horizonte, um estrondo grave que começou parecendo um trovão, mas que era um helicóptero. Rilke ergueu a mão para se proteger da ofuscante luz do dia, vendo a mancha pairando sobre a cidade. Parecia um abutre sobrevoando um cadáver, ao lado das gaivotas que já se reuniam ali, como vastas nuvens acinzentadas à procura de restos. Isso era tudo o que tinha sobrado: pedaços de carne, de ossos, e amanhã nem isso haveria mais. O helicóptero virou e recuou, os baques sônicos reduzindo até sumirem sob o acelerado ritmo do coração dela.
— Está tão quieto — disse Marcus. — Parece que o mundo foi desligado.
Rilke fez que sim com a cabeça, e, em seguida, percorreu os últimos metros até a porta do moinho. Estava trancada, mas era velha, e, depois de alguns chutes, abriu-se, balançando. O fedor de umidade e podridão os bafejou, mas ao menos ficariam escondidos. Deixou Jade e Marcus entrarem, carregando para dentro o novo garoto. Depois, indicou a porta a Schiller. Ela o seguiu na escuridão rançosa, espiando outra vez o mar atrás da terra. O helicóptero havia ido embora, mas algo os observava; ela podia sentir um olhar dançando de cima a baixo por sua espinha. Ergueu os olhos para o céu de um azul perfeito e mordeu o lábio. Em seguida, empurrou a pequena porta de madeira e fechou-a, virando-se e descobrindo-se em uma pequena sala circular. A única janela estava tapada com tábuas dispostas de modo rudimentar, fachos de luz âmbar chegando ao chão com dificuldade, revelando uma escultura de engrenagens e madeira velha, mas não muito mais que isso. Schiller já desabara contra a parede, a cabeça entre as mãos. Jade e Marcus haviam deitado o novo garoto ao lado do maquinário, esfregando os braços e tremendo.
— Vamos descansar aqui por uma hora — disse Rilke, batendo os pés de impaciência. Não tinha gostado dali. Achara que se sentiria segura, oculta, mas parecia o contrário, como se houvesse uma bandeira enorme balançando no alto do moinho, uma bandeira que dizia: “Estamos aqui, podem mandar um míssil”. E era isso o que fariam, se soubessem a verdade. Mandariam um avião, dez aviões, e bombardeariam aquele campo inteiro até que sumissem. Se Schiller estivesse desperto, e transformado, tudo bem. Porém, se estivesse dormindo, se não os ouvisse chegar, então tudo acabaria antes mesmo de começar.
— Uma hora — repetiu ela quando Schiller fez menção de protestar. — Eu acordo vocês.
Os outros se sentaram, mas ela continuou de pé. Também tinha passado a noite em claro e sabia que, se deixasse a cabeça encostar em algum ombro, o sono a tomaria. Andou de um lado para o outro perto da porta, vendo Schiller adormecer, depois Jade e, por fim, alguns minutos depois, Marcus, encolhido como um porco-espinho sob a janela. Ridículos, todos eles. Tanto trabalho a fazer, e só pensavam em descansar. Se o anjo dela estivesse pronto, se tivesse nascido, ela os forçaria a seguir adiante. Ninguém ousaria discutir com ela.
Schiller teve um espasmo, murmurando algo no sono. Rilke ergueu a cabeça, tentando entender o que ele tinha dito. Ele não era de ficar falando enquanto dormia. Ela sabia disso graças às incontáveis noites em que ele ficara assustado demais no quarto e fora dormir na cama dela, ou na cadeira, ou no chão, onde quer que ela o deixasse se acomodar. Assim que ele adormecia, apagava até a manhã seguinte. Ele disse outra coisa, e de súbito Rilke começou a se perguntar se o irmão dormia mesmo ou se sua mente estaria em outro lugar. Isso já não tinha acontecido antes, em Fursville? Daisy tinha falado sobre isso, de como se encontravam nos sonhos. E se Schiller estivesse com ela agora? E se estivessem conversando?
Moveu-se na direção dele, pronta para acordá-lo com um chute. Então hesitou. Não seria melhor descobrir? Perguntou-se o que veria caso sentasse e adormecesse. Daisy iria aparecer? Brick e Cal também? Tentariam fazer Schiller mudar de ideia? Ou será que ela veria o homem na tempestade? Será que enfim ouviria dele o que queria que eles fizessem?
Não havia sons vindo de fora, estrondo nenhum de hélices de helicóptero, rugido nenhum de aviões e mísseis. Era provável que ficassem bem ali por um tempo. Sentou-se ao lado do irmão, assegurou-se de que ninguém a olhava, depois repousou a cabeça no ombro dele. Não demorou para que o sono a encontrasse, varrendo o campo, derramando-se no moinho, sufocando-a. Sentiu pânico por um instante, como no momento em que a montanha-russa para no topo da subida, na expectativa de cair — mas cair onde, e quem vai me segurar? —, e assim caiu na escuridão e no silêncio.
Daisy
East Walsham, 11h09
Havia agora mais gente em seu reino de gelo. Sentiu a chegada dessas pessoas como se fossem pássaros pousando em um galho, fazendo-o balançar quase imperceptivelmente. Os cubos de gelo tilintavam, quicando uns nos outros, cada qual ainda repleto da vida de outros seres. O mundo inteiro nadava em um movimento líquido, com a água sempre em agitação, como a de uma piscina.
— Oi? — disse ela. Seria o novo garoto, aquele que se chamava Howie? Ele ainda estava ali em algum lugar, perdido no labirinto de espelhos gelados. Ela o tinha ouvido gritando pela mãe e pelo irmão. — Diga algo, por favor, sei que está aí!
— Daisy? — A voz veio bem de trás dela, e ela se virou com um semigiro.
A criatura que viu era tão bonita, mas tão assustadora, que Daisy não soube se ria ou se chorava. A criatura se erguia em vestes de chamas brancas como diamante, as asas postadas para cima. Era tão brilhante que a garota se afastou antes de perceber que não a encarava de fato; não com os olhos, pelo menos. Relanceou o olhar para a criatura, reconhecendo-a.
— Schiller? — disse ela. Não era o rosto dele, e, ao mesmo tempo, era. Ele cintilava à luz, como um reflexo em uma piscina ensolarada e ondulada pelo vento. Mas não havia dúvida de que era ele, porque, assim que ela pronunciou seu nome, ele abriu um sorriso enorme e ofuscante. — Mas é você. Como está aqui?
— Não sei — disse ele, e, ainda que tivesse a aparência de seu anjo, sua voz era aguda e branda, bem parecida com a de Rilke. — Acho que estou dormindo.
Claro! Já tinha acontecido antes, não com Schiller, mas com Brick e Cal. Na primeira noite deles em Hemmingway, tinham compartilhado um sonho. Não parecia algo que pudesse realmente acontecer, mas nada daquilo tudo era algo que pudesse realmente acontecer. Além disso, se todos tinham anjos dentro de si, por que não seriam capazes de se comunicar assim? Deveria haver uma espécie de laço entre eles agora, um laço que não era afetado nem por distância, nem por tempo, nem por espaço.
— Tudo bem? — disse ela. — Me diga como é seu anjo.
Schiller deu de ombros, as asas de repente subindo e descendo. Aquele movimento pareceu tão tolo que ela deu uma risadinha. Era a primeira vez que ouvia a voz dele, percebeu. A primeira vez que efetivamente o encontrava, já que ele tinha ficado congelado por muito tempo. Não, você ouviu essa voz, lembre-se, disse uma parte do seu cérebro. Em Hemmingway, quando ele falou e acabou com aquele lugar: uma única palavra que transformou em cinzas uma centena de pessoas. Você estava inconsciente, mas mesmo assim ouviu.
— Eu não queria fazer aquilo — disse ele, lendo os pensamentos dela. — Mas iam nos fazer mal, fazer mal à minha irmã. Não sabia o que mais podia fazer.
Tudo bem, pensou ela. Você não tinha escolha.
Ele deu de ombros outra vez, mas os cantos de sua boca pareciam tão caídos que davam a impressão de terem sido desenhados, um sorriso de cabeça para baixo.
— Falou com ele? — perguntou Daisy.
— Acho que sim — disse Schiller. — Ele não tem palavras, só... sei lá, emoções. Ele tenta me mostrar coisas, mas nem sempre eu entendo.
— Ele mostrou por que está aqui?
— O homem na tempestade — respondeu Schiller sem hesitar. — É isso o que eu vejo o tempo todo.
Daisy fez que sim com a cabeça. Com ela, era igual. Quantas vezes não tinha sido atraída para aquele cubo de gelo em particular, aquele cheio de uma furiosa escuridão, aquele em que ele morava? Naquele momento mesmo em que ela pensou nele, ele se evidenciou, vindo na direção dela com o som de geleiras se rompendo. Mas ela agora sabia como afastá-lo, e fazia isso delicada e insistentemente.
— Rilke diz que é porque ele está nos dizendo o que fazer, o homem na tempestade; que ele é um de nós. Ela acha que temos de seguir o exemplo dele, e destruir as coisas.
Balançou a cabeça enquanto falava, e Daisy notou sua relutância.
— Sua irmã está errada — disse ela. — Terrivelmente errada! Não estamos aqui para nos juntar a ele, mas para combatê-lo.
Como que em resposta, Daisy sentiu algo se apertando em seu peito. Bem, não era exatamente no peito, e sim mais fundo, em algum lugar que ela não conseguia identificar direito. Parecia haver uma pressão ali, como se seu coração estivesse prestes a estourar, mas de um jeito bom, como era acordar e lembrar que é Natal. Era o anjo dela. Logo ele nasceria.
— Não sei — disse Schiller, e havia algo em sua voz; medo, talvez. — Rilke costuma estar certa sobre as coisas. Ela é inteligente. Eu não sou inteligente, só faço o que ela manda.
— Você é inteligente. Sua irmã é metida a valentona. Você não devia deixá-la mandar em você.
O espaço em volta dela ficou mais frio, como se os cubos de gelo estivessem filtrando o calor do ar. Então outra pessoa falou, uma voz igualmente fria:
— Sabia.
Daisy se virou e viu outra figura. Essa era definitivamente humana, ainda que aquele mesmo fogo azul ardesse no lugar onde deveria ficar seu coração. Rilke não andou exatamente até eles, mas flutuou, com o rosto tão retorcido de raiva que poderia ser uma furiosa.
— Sabia que encontraria você aqui, irmãozinho.
— Rilke, só estávamos conversando — disse Daisy.
Rilke se lançou sobre ela como uma ave de rapina, encarando-a com raiva. Não era a garota de quem Daisy se lembrava; era quase como uma personagem de um sonho, alguém que não se parecia com eles, mas que com certeza era um deles. Claro, porque ela não está realmente aqui, nem eu; eu estou com Cal, Brick e Adam. Saber disso a fez se sentir mais segura: com certeza Rilke não poderia fazer mal a ela naquele lugar imaginário.
— Não dê ouvidos a ela, Schill — disse Rilke. — Ela não sabe o que está dizendo. Não viu o que nós vimos.
Rilke então viu, no gelo, um paredão de água que tremia atravessando a terra. Por um instante, sentiu aquilo também, aquele enorme peso de trevas engolindo o céu, caindo sobre ela, e precisou se afastar da sensação antes que desse um grito.
— Ah, Schiller, não — disse. — Aquela gente toda... Você não precisava fazer mal a elas, não precisava ter feito aquilo.
— Você está errada, Daisy — Rilke quase cuspiu as palavras. — Ele precisava, sim. Você ainda não percebeu? Isso ainda não entrou na sua cabecinha idiota? Pode protestar o quanto quiser, mas cedo ou tarde você vai ter de enxergar a verdade. Ele nos chamou, o homem na tempestade. Ele quer que nos juntemos a ele, quer que o ajudemos a limpar o mundo.
— Não — disse Daisy. — Você está errada, Rilke. Como pode não enxergar? — Voltou-se para Schiller, rogando em silêncio para que ele enfrentasse a irmã. Porém, mesmo que ardesse como uma sentinela gigante feita de vidro fundido, ele não conseguia olhar nenhuma das duas nos olhos. — Por favor. — Sentia-se tão impotente, tão pequena. Por que não podia ser como Schiller agora; por que o anjo dela não podia fazer algo para ajudá-la? Se ele já tivesse nascido, Rilke teria de lhe dar ouvidos.
— Não me ameace — disse Rilke, ainda que Daisy não tivesse se dado conta de qual era a ameaça. — Logo você vai se transformar, mas nem pense em se meter no meu caminho. Não vou hesitar em matar você. Schiller não vai hesitar, não é mesmo?
Não era uma pergunta, e, após um instante de hesitação desconfortável, Schiller fez que sim com a cabeça.
— E não é só ele agora. Temos outro, também pronto para se transformar.
— Howie — disse Daisy, lembrando-se da voz que tinha ouvido.
A expressão de Rilke bruxuleou, incerta. Ela correu o olhar pelo caleidoscópio de gelo, como se pudesse vê-lo ali.
— Ele é um dos nossos — sibilou ela. — Está me ouvindo? E, caso esteja me ouvindo, Howie, saiba de uma coisa: se eu achar que você vai ficar contra mim, vou simplesmente esmagar sua cabeça antes de você acordar. Ficou claro?
Como ela podia ser tão horrenda, pensou Daisy. E a resposta era bem clara: ela é louca, ela é completamente insana. E desde muito antes disso tudo. Daisy tinha visto coisas terríveis dentro da cabeça da garota: a mãe maluca, e o homem mau, o médico, cujo hálito cheirava a café, cujas mãos eram ásperas. Coitada, coitada da Rilke; não era culpa dela. Aquilo tinha abalado os alicerces de sua mente, e a Fúria tinha piorado muito a situação. Agora tudo desabava. Daisy praticamente lia isso no rosto da menina, no modo como seus traços pareciam crescer e se encolher, como uma pintura horrível se retorcendo no frio. Ela estava se dilacerando por dentro.
— Deixe-a em paz, Rilke. — Era outra voz, e esta muito, muito bem-vinda.
Daisy se virou e viu Cal ali, ou ao menos uma figura onírica cintilante que parecia ser ele. Brick estava bem atrás, e Adam também, flutuando contra o mar de gelo em constante movimento.
— Vejam só, o herói retorna à casa — disse Rilke. — Inconveniente e arrogante como sempre. Vá embora, Cal, ninguém quer você aqui.
— É mesmo? Não vi seu nome na porta, Rilke — respondeu ele. — O que você quer?
— Quero que vocês deixem Schiller em paz — disse ela. — Deixem-nos todos em paz. Deixem a gente fazer o que viemos fazer. Pouco me importa se vão ficar escondidos em uma igreja esperando o fim do mundo, encolhidos nos braços um do outro. Mas não vão ficar entre nós e o nosso dever. Estão me ouvindo? Estou falando sério, Daisy. Se descobrir que está falando de novo com Schiller, ou com qualquer um de nós, vou acabar com você.
— Mas você está errada! — gritou Daisy, e o gelo se agitou, os cubos batendo uns nos outros. — Você está errada, errada, errada, errada, errada! — Enquanto falava, a pressão no peito aumentou. Sentia-se como uma lata de refrigerante agitada e prestes a estourar.
— Estou mesmo? — Rilke parecia estar refletindo sobre algo; sua expressão absorta se expandiu e então se contraiu, como pulmões. — Talvez a gente tenha que descobrir de uma vez por todas.
O sorriso de Rilke, frouxo e aquoso, era um sorriso de palhaço. Ela olhou para Schiller e, em seguida, para três outras figuras atrás dela que Daisy não tinha visto chegar. Eram Jade e Marcus, e entre eles estava Howie, o novo garoto. Todos tinham o mesmo fogo sem calor ardendo no peito. Rilke se virou, os olhos pequenos e negros, repletos de algo que Daisy não entendia, algo totalmente humano e, mesmo assim, completamente antinatural. Pela primeira vez, Daisy percebeu que o anjo dentro de Rilke talvez lhe gritasse a verdade, tentando fazê-la entender, em uma linguagem que nenhum deles jamais poderia sonhar ouvir. Lamentou por ele, sentindo sua frustração. Quem dera ao menos houvesse um jeito de saberem de uma vez por todas por que estavam ali e por que tinham sido escolhidos.
— Mas há — disse Rilke, puxando seus pensamentos outra vez com dedos gélidos. — Não percebe? Só precisamos ir até lá.
Ir aonde?, perguntou-se Daisy, e outra vez apareceu para ela a tempestade no gelo, rasgando a massa gélida em uma rajada de farpas. Olhou e viu o homem ali, a besta, envolto em um manto espiralante de detritos, a boca aberta, devorando tudo o que podia, transformando substância em ausência. Ele girava os olhos para ela como se soubesse que estava ali, e no estrondo de sua voz ela ouviu risos. Afastou-os com os dedos da mente, gritando em silêncio não, não, não, não.
— Sim, Daisy. É o único jeito de você aprender. — O sorriso de Rilke se alargou, até parecer grande demais para sua cabeça. Ela começou a recuar, levando consigo o irmão flamejante. — Quando acordarmos, vamos até lá, até o homem na tempestade, e vamos perguntar a ele.
Rilke
Great Yarmouth, 11h43
Acordaram juntos; Rilke emergiu do sono a tempo de ver os olhos opacos de Schiller se abrindo, e Marcus encolheu-se contra a parede como se soubesse o que estava por vir. Rilke passou a mão nos lábios secos, pensando no sonho que tinha acabado de compartilhar.
Daisy estava se tornando um problema; ela se recusava a reconhecer a realidade da situação. Rilke estava muito decepcionada, mas não era culpa da garotinha. Era dos outros, de Cal e Brick. Meninos, pensou ela, tão fracos, tão convencidos da própria autoridade. Podia tê-los matado ainda em Hemmingway; deveria ter colocado Schiller contra eles, ou talvez matado os dois com as próprias mãos, assim como fizera com a garota no porão. Tinha sido tão fácil tirar uma vida, tão sem consequência! Apertar, bang, morreu, apertar, bang, morreu, e aí quem sabe Daisy tivesse lhe dado ouvidos, quem sabe até estivesse ali com ela agora.
Haveria tempo para isso, porém. Assim que seu anjo despertasse, encontraria Cal e Brick, e acabaria com eles. Tudo seria muito mais fácil sem os dois. A menos que o anjo deles nascesse primeiro, pensou ela, tremendo, subitamente desconfortável. Como queria se libertar daquilo tudo, da carne, dos ossos, das cartilagens, do fedor humano, e ser uma criatura de genuíno fogo.
Por favor, disse ela para a coisa em seu coração. Por favor, não demore muito. Preciso de você!
Essas palavras fizeram-na se sentir insuportavelmente fraca, e ela se levantou para que seu enrubescimento ficasse menos óbvio. Não sabia quanto tempo tinha dormido — tempo demais —, mas precisavam voltar a andar. O que ela havia dito no sonho-que-não-tinha-sido-um-sonho era real. Só havia um jeito de saberem qual era a verdade. Precisavam encontrar o homem na tempestade e ouvir o que ele tinha a dizer. Essa ideia era como um punho cerrado com firmeza em seu estômago, mas o medo era só outro lembrete de sua fraqueza, de sua desprezível humanidade, por isso o ignorou. Tinha visto o homem na tempestade em sua mente; tinha visto o quanto ele era parecido com Schiller, com tudo o que estava dentro deles todos. Ele era um deles, um anjo, a quem cabia eliminar essa espécie ridícula e pastorear o que restasse de volta ao estábulo. Não havia outra explicação.
Mas como chegar até ele?
— Rilke, ainda estou cansado — disse Schiller naquele irritante ganido de filhote com que se expressava. Apoiou-se nos cotovelos, tudo nele frouxo, leve e repulsivo. — A gente nem dormiu direito.
— Cale a boca, Schiller — falou ela. — Você só sabe reclamar e dormir. Levante-se.
— Mas...
— Mandei levantar, irmão. — Ela deu um passo à frente, a mão erguida, prestes a explicar com um tabefe a seriedade de sua ordem.
Ele se encolheu, movimentando-se até ficar de pé, encurvado e assustado sob os dedos de luz viscosa que penetravam pela janela com tábuas. Rilke encarou Marcus e Jade, e eles obedeceram sem que ela precisasse pedir.
— Estou com fome — murmurou Jade. Com aquele rosto e cabelo imundos, parecia um porco-espinho, o que só serviu para deixar Rilke ainda mais furiosa. A comida era desnecessária, agora que eram feitos de fogo.
Rilke foi até a porta, abrindo uma fresta e espiando o calor incandescente do dia. A única mácula na vasta tela azul do céu era uma névoa opaca acima da cidade que haviam aniquilado, uma tênue nuvem negra que a fez pensar em um véu funerário. Espirais de gaivotas investiam através dela, banqueteando-se com o que quer que tivesse sobrado. Parecia tão distante. Como iam conseguir chegar a Londres, ao homem suspenso na tempestade? Não podiam andar até lá, com certeza não, já que agora carregavam o novo garoto. Rilke não sabia dirigir, e não era como se eles tivessem a opção de pegar um trem. A frustração fervilhava em sua cabeça, e a jovem desejou ser capaz de acabar com a distância do mundo com um grito, apenas urrando pela terra e trazendo a cidade e a tempestade a seus pés. Havia chegado mesmo a abrir a boca, quando percebeu que qualquer som que emitisse seria lastimável. Cerrou os dentes e os punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Teriam de se contentar em ir a pé e ver o que a sorte lhes traria.
— Vamos — disse ela, dando um passo em direção ao dia, seu calor fazendo-a se sentir ainda mais desconfortável sob a própria pele. Queria arder com a ferocidade do sol, e não senti-lo roçar nela, condescendente. Ouviu-se o farfalhar de movimentos atrás dela, e um instante depois Jade saiu pela porta com o braço do novo garoto sobre o ombro, Marcus apoiando-o do outro lado. Schiller foi o último; parecia ter um metro de altura ao sair encolhido do moinho. — Vocês todos são mais fortes do que acham que são agora — ela lhes disse. — Vocês têm anjos dentro de vocês, e eles os manterão em segurança. A fraqueza é apenas uma lembrança da vida antiga. Ignorem-na, e ela vai embora.
Mesmo enquanto falava, sentiu o sangue se esvair da cabeça e o mundo girar atordoado em volta dela. Deu um passo à frente para restabelecer o equilíbrio, começando a contornar o moinho. Havia uma casa distante uns cinquenta metros, e, aos fundos dela, nada além de campos até uma linha de árvores distantes. Porém, se andassem por bastante tempo, com certeza encontrariam uma estrada, não encontrariam? Só que parecia tão, tão longe.
— Rilke, por favor — disse Jade. — Tem uma casa ali. Será que a gente não pode pedir comida ou algo assim?
Rilke olhou para a casa e o viu: um flash negro atrás de uma das paredes caiadas. Ele desapareceu antes que a garota pudesse entendê-lo devidamente, mas isso bastou; ela sabia o que era. Seu sangue pareceu congelar dentro de si.
— Schiller! — gritou ela, virando-se para o irmão, vendo mais figuras negras surgindo, usando capacetes e segurando rifles. Eram demais para serem contados, todos avançando em direção a eles. Como os tinham encontrado?
— Não se movam! — alguém gritou. — Ou vamos abrir fogo, não duvidem!
Eles chegavam de todos os ângulos, jorrando de trás da casa e dos campos em ambos os lados. Rilke correu para Schiller, pegando o colarinho de sua blusa e sacudindo-o com tanta força que mais uma mecha de seu cabelo caiu.
— Mate-os! — ordenou ela, querendo que se transformasse. — Mate-os agora, irmãozinho, agora!
— Fiquem onde estão! — ladrou a voz outra vez.
Schiller choramingou, sem qualquer sinal de fogo naqueles enormes olhos azuis e úmidos.
— Não posso, estou muito cans...
Ela lhe deu um tapa na cara, depois outro, mais forte, até que ele a encarasse.
— Preciso de você, irmãozinho! — falou ela. Em poucos segundos, alguém começaria a atirar, ou eles cruzariam aquela linha que os transformava em selvagens. Fosse como fosse, se Schiller não encontrasse sua fúria, Rilke e seus companheiros iriam morrer. — Preciso que você se transforme, agora mesmo! Preciso que faça aquilo que você faz!
Os soldados avançaram, a luz do sol reluzindo de seus visores, de suas armas. Jade, ajoelhada, gritava; Marcus engatinhava de volta para o moinho. Só restava Schiller; Schiller, um pobre coitado assustado, acabado, humano.
— Não me deixe na mão — disse Rilke, apertando com mais força ainda a blusa dele, sua pele sob a roupa, até que fizesse uma careta.
— No chão, agora! — gritou a voz. — Todos vocês!
— Não ouse me deixar na mão! — a voz de Rilke era um grito, enquanto a garota o sacudia.
Ele explodiu em luz, uma segunda pele de chama azul ondulando pelo corpo, o baque da transformação lançando-a para trás, fazendo-a rolar pelo chão. O ar irrompeu naquele zumbido que anestesiava a mente, tão alto e profundo que apagava os demais sons. Schiller pairou acima do chão, o fogo abrindo caminho até seu pescoço, cobrindo-lhe o rosto, uma asa desfolhando-se das costas.
Algo foi disparado. Tiros, percebeu ela, rindo. Chegaram tarde demais; agora não podem mais feri-lo. Porém, a cabeça de Schiller foi para trás, como que acertada por um martelo invisível. Sua chama bruxuleou e se apagou, e ele foi ao chão, gemendo e agarrando o próprio rosto.
— Não! — gritou Rilke, arrastando-se pelo chão. — Schiller!
Ele a encarou, a chama irrompendo de novo, agora tão forte que ela precisou esconder a cabeça nos braços. Rilke ainda estendia a mão para ele quando ouviu mais tiros e berrou o nome do irmão com toda a força que tinha. Não poderiam tirá-lo dela, não agora, nem nunca. O mundo escureceu e ela o olhou de novo, vendo-o deitado de lado, com uma ferida escancarada em sua têmpora esquerda.
Tudo bem, Schiller, você vai ficar bem, prometo. Só mate eles, por favor, mate todos eles; mas não sabia se tinha falado mesmo as palavras ou só pensado nelas.
Uma bala ricocheteou da terra a centímetros do irmão, e, em seguida, bateu no peito dele, estourando suas costas e abrindo um leque de vermelho vivo, tão brilhante que não parecia real. Rilke gritou de novo, jogando-se pelo último metro até alcançá-lo, envolvendo-o com as mãos, querendo que a criatura ali dentro encontrasse seu poder e reagisse. E ela encontrou; Schiller outra vez irrompeu em fogo frio. Desta vez, Rilke se agarrou a ele, abraçando-o com força, tentando nutri-lo, passando a ele cada gota de energia que possuía.
Ele falou, a voz como um pulso sônico que rasgou o ar, transformando o moinho em uma tempestade de pó, misturando homens e lama, até que o campo parecesse a paleta de um pintor. Porém, o grito falhou após um momento, voltando a ser a voz titubeante do irmão. Ele gemeu, o sangue brotando da cabeça, esparramando-se nela como água fervente após o irromper do fogo. As chamas ondulavam de um lado para o outro em sua pele, sem conseguir se fixar, os olhos se acendendo e se turvando, se acendendo e se turvando, como um avião com falha no motor.
Rilke se abraçou a ele enquanto os soldados avançavam. Os que estavam na frente já haviam se tornado furiosos, largando as armas e partindo para cima dos dois, a carne dos rostos frouxa, as mentes tomadas pela Fúria. Outros ainda disparavam, deixando o ar vibrante com o chumbo incandescente. Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ela os odiava tanto! Odiava os humanos, odiava a si própria por ser tão fraca. Não podia terminar assim, não agora, não quando tinham tanta coisa para fazer. Por que você não acorda?!, urrou ela para o anjo dentro de si. Cadê você? CADÊ VOCÊ?
Outra bala acertou Schiller, arrancando um naco de seu ombro. Desta vez, ele gritou de dor, o fogo se acendendo outra vez. As asas se abriram nas costas, batendo e erguendo-o em meio a um furacão de pó. Ele falou outra vez, o tsunami de palavra-que-não-era-palavra rasgando o campo, desfazendo os soldados em nuvens de cinzas que mantinham as silhuetas por um instante, como se não entendessem o que lhes tinha acontecido, antes de desaparecerem. Mas ainda assim eles vinham, de todas as direções, gritando, atirando, em um número grande demais para serem combatidos.
Como na rave, pensou ela, lembrando-se da primeira noite em que a Fúria quase os tinha feito sucumbir. Era um campo bem parecido com aquele, só que daquela vez era noite, e havia um exército de gente tentando fazê-la em pedaços, o homem de luvas laranja, os dedos de aço na garganta de Schiller. Tinham sobrevivido a eles, tinham escapado; de alguma maneira, haviam saído dali.
Mas como? Como tinham feito aquilo?
Nossos dedos se tocaram, e derrubamos as estrelas.
Ela olhou para Schiller, e ele pareceu saber o que ela pensava. O fogo empalideceu, e ele se curvou para trás, apagando-se da vida, mas ela o abraçou. Vendo Jade ao lado eles, estendeu a mão; percebeu também que Marcus corria de volta, o entendimento do que estavam prestes a fazer de algum modo refletido em seus olhos — não me abandonem. Ele deslizou até eles e deu uma mão para Rilke, que deu uma mão para o garoto que ardia, que pegou a mão do garoto congelado, ao lado dele; Jade se agarrou ao braço de Rilke, e Schiller rugiu, envolvendo todos em fogo frio, e o mundo se despedaçou.
Desta vez, Rilke sabia o que esperar, a sensação de que a vida era um tapete que tinha acabado de ser puxado de debaixo de seus pés. Seus dentes rangeram diante da súbita precipitação e força daquele ato, e ela se esforçou para manter os olhos abertos. Uma onda de energia explodiu de onde estavam, e, em seguida, o campo foi como que projetado com tanta força que o grito de Rilke sequer pôde sair de seus pulmões.
Um instante depois, a vida os reencontrou, envolvendo-os em seu punho cerrado, furiosa por terem achado uma maneira de se libertar. O mundo recuperou sua forma com o som de um milhão de celas de cadeia fechando as portas ao mesmo tempo, trancafiando-os de novo. Rilke se inclinou para a frente, um jato de vômito branco como leite disparando de sua boca, caindo sobre o asfalto. Enxugou as lágrimas com a mão trêmula, vendo que estavam em uma estradinha do interior. Um bosque os protegia de um lado, um declive alto e verdejante do outro, mas ainda ouviu o distante ruído de tiros. Uma chuva de cinzas vagava em volta deles, dançando ao sabor da brisa.
Virou-se ao ouvir o som de gente vomitando, vendo Jade e Marcus também borrifando fluidos na estrada. Somente Schiller estava imóvel, outra vez só um garoto, apenas seu irmão. O sangue formava uma poça embaixo dele, parecendo preto em contraste com o cinza. Ela apertou a mão contra a ferida em seu peito, e a ferida derramou-se por entre seus dedos. Era o sangue dele. Tinham compartilhado o mesmo útero, e isso fazia daquele sangue o sangue dela também, um único sangue. Fez pressão com a outra mão, tentando estancar a ferida. Ele não reagiu; só ficou deitado ali, mirando a imensidão de céu azul acima, os olhos claros indo de um lado para o outro como se ali lesse uma verdade.
— Mas o que foi que acabou de acontecer? — disse Marcus, tentando ficar de pé, mas caindo com o traseiro no chão. — Onde estamos?
— Schiller? — disse Rilke, ignorando o outro garoto. — Pode me ouvir?
Se podia, não dava sinal disso. Sua respiração era superficial, quase um engasgo, e bolhas cor-de-rosa brotavam de seus lábios quando ele expirava. O corpo trepidava, falhando, e os soluços saíram dela antes que pudesse detê-los. Suas lágrimas estavam tão quentes que teve a impressão de estar chorando sangue, mas, quando pingaram no rosto do irmão, eram apenas lágrimas.
— Irmãozinho — disse ela, alisando seu cabelo, ignorando as madeixas que se despregavam nos dedos vermelhos e viscosos —, sei que você deve estar achando que vai morrer. Mas não vai. Quero que preste bastante atenção, muita atenção. Eu sei como salvar você. — Era mentira, claro; ela não sabia nada disso. — Preciso que nos leve para algum lugar, como acabou de fazer. Preciso que nos leve para o homem na tempestade. Acho que ele pode dar um jeito em você.
O corpo de Schiller se agitou de novo, um leve tremor bem no fundo dele, como um terremoto sob o oceano. Ele girou os olhos para ela, a cor deles quase sugada por completo, os lábios retorcidos em uma quase palavra.
— O quê? — perguntou ela, passando o dedo pela bochecha dele.
— Não... Não consigo...
— Consegue, Schiller — disse ela, tentando trancar os soluços no peito, onde se debatiam dolorosamente contra suas costelas. — Você é forte, muito mais forte do que pensa, muito mais... Muito mais forte do que eu já permiti que acreditasse ser. Você é meu irmão, somos feitos das mesmas coisas, eu e você; tudo o que eu posso fazer, você também pode.
Os tiros à distância tinham cessado, mas ela distinguiu o ruído de um helicóptero. Não demoraria para os soldados os encontrarem. Ela tomou a mão de Schiller, beijando seus dedos.
— Faça isso por mim, irmãozinho — falou ela. — Leve-nos para lá. Sei que consegue.
— Ela... Ela não quer que eu faça isso — disse ele.
Quem?, Rilke quase perguntou, antes de responder à própria pergunta.
— Daisy. — E o fogo branco dentro dela fez seus ouvidos apitarem. Ela estava falando com ele agora: como ela ousa... contrapor-se às ordens dela, revirar a mente do irmão e envenenar seus pensamentos.
— Ignore-a, Schill, ela não ama você como eu amo!
Ao ouvir isso, os olhos de Schiller se acenderam. Ele apertou a mão dela com toda a força que lhe restava. Foi como ser apanhada pela garra de um pássaro, algo tão débil que ela teve medo de que os dedos dele se soltassem.
— Amo você, irmãozinho, mais do que tudo.
— Também amo você — ele conseguiu dizer, tossindo mais sangue.
— Então faça isso por mim. — Ela o agarrou com firmeza e depois olhou para Marcus e Jade.
— Não quero — disse Jade, arrastando-se para longe, de costas, e balançando a cabeça. — Não aguento mais.
— Eles vão matar você — disse Rilke. Mas não importava; eles não precisavam de Jade. Ela que fosse morta, seria uma ovelha a menos para Rilke pastorear. Marcus colocou uma das mãos em Schiller, agarrando sua blusa com os dedos esbranquiçados. Apertou o braço do garoto novo, e então fez que sim com a cabeça.
— Você consegue, Schill — falou Marcus.
Rilke fechou os olhos, imaginando a tempestade que ardia sobre Londres e a criatura que sugava a podridão do mundo com aquela inspiração colossal e infinita. Leve-nos para lá, pensou, dirigindo as palavras para a cabeça de Schiller. Leve-nos para ele; sei que você consegue. Não havia uma única dúvida na mente dela. Era por isso que estavam ali. Ele salvaria Schiller, salvaria todos. Aquele homem era o anjo da guarda deles.
Schiller assentiu, depois falou, e outra vez o universo — o tempo, o espaço e todas as órbitas da vida em movimento — não teve outra escolha a não ser deixá-los partir.
Cal
East Walsham, 11h48
Cal acordou, mas achou que ainda estivesse dormindo, porque Brick estava sentado no último banco da igreja acariciando os cabelos de Daisy. Brick, a pele quase azul, sarapintada com a luminosidade colorida dos vitrais, tremia ao contato gélido do corpo dela; sentiu que Cal acordara, pois se levantou, passando as costas da mão pelo nariz.
— Está tudo bem com ela — disse ele. — Você viu.
Ele não falou: aquilo foi um sonho? ou a gente realmente se encontrou? Cal afastou os últimos vestígios de sono, erguendo-se e imediatamente sentindo que fora jogado em uma piscina de lâminas. Ele resmungou e tentou não se mexer, com a dor enfim se assentando em uma supernova atrás da testa.
— Ai! — disse ele. Eufemismo do século. — Você por acaso não viu algum analgésico por aí, viu?
— Na casa paroquial tem um kit de primeiros socorros, como falei — disse o sacerdote.
Doug. Cal tinha se esquecido totalmente dele. Estava sentado onde prometera ficar sentado, esfregando as pernas como que para manter o sangue em circulação. Cal agradeceu com um gesto de cabeça, e, em seguida, olhou para Brick. O garoto maior precisou de um instante para perceber o que lhe estava sendo pedido, e balançou a cabeça em uma negativa.
— Eu fui da última vez — falou. — Agora é sua vez. — Baixou os olhos para Daisy mais uma vez, e Cal tomou consciência do quanto ele a amava. Brick era bom em tentar esconder seus sentimentos, mas era um péssimo mentiroso. Apesar do rosto feito de pedra, seus olhos entregavam tudo. Quando toda aquela loucura terminasse, se eles sobrevivessem, Cal precisaria desafiá-lo para uma partida de pôquer. — Onde ficava aquilo? — perguntou Brick, atravessando o corredor e sentando-se no banco do outro lado. — Aquele gelo todo e tal.
— Sei lá — disse Cal, tentando outra vez levantar-se. Apoiou as costas contra a parede, deslizando para cima um centímetro de cada vez, até ficar mais ou menos na vertical. Pensou no lugar que havia visitado enquanto dormia, a lembrança um tanto esmaecida. Tinha gelo lá, era fato, mas havia outras coisas também. E outras pessoas. — Rilke. Ela estava lá.
Brick fez que sim com a cabeça, usando a unha de um dos dedões para cutucar a madeira do banco à frente.
— Pelo menos ela está bem — disse. — Daisy, digo. Ela estava lá e parecia em segurança. Não acho que Rilke possa lhe causar nenhum mal além de falar com ela.
— O que já é bem ruim — rebateu Cal. — Aquela garota é maluca.
Ao ouvir isso, Brick quase sorriu. Largou o que quer que estivesse cutucando.
— E agora? Rilke disse que está indo para lá, para a tempestade. Acha que ela estava falando sério?
Cal deu um passo hesitante em direção à porta. Agora que estava de pé e em movimento, a dor parecia mais branda, como se tivesse se entediado com ele. Deu mais um passo, esticando os braços com suavidade. As costas pareciam ter se transformado na mesma pedra da qual a igreja era constituída, como se ele lentamente houvesse se tornado uma das estátuas inertes que enfeitavam paredes e tumbas. A mãe sempre lhe dissera que sentar no chão por muito tempo lhe daria hemorroidas. Era só o que faltava mesmo: ser acometido por hemorroidas.
A mãe! Como tinha ficado tanto tempo sem pensar nela? Ela estava em Londres, bem no centro daquilo tudo. Agora já devia ter sido engolida inteira, devorada pela besta. Ele sacudiu a cabeça, tentando mandar para longe a ideia; melhor não pensar em nada disso.
— Brick, para ser sincero, pouco me importa se ela estava falando sério ou não. Sabe de uma coisa? Se ela for até lá, até aquela coisa, de repente vai ser o melhor que pode acontecer. De repente aquilo vai engoli-la, ela e o irmão. E vai fazer um favor a todos nós.
Ou talvez ela tenha razão, pensou ele. Talvez o homem na tempestade seja um de nós; talvez ela peça a ajuda dele e o traga para cá, bem para nosso esconderijo. E ele visualizou as nuvens enegrecerem, o teto da igreja se descascar, tudo indo para dentro do redemoinho furioso do céu, o homem ali, sugando o mundo para sua boca, obliterando tudo. Cal estremeceu com tanta força que quase caiu, a igreja escura demais, fria demais, quieta demais. Andou a passos incertos até a porta, onde um dedo de sol acenou para ele.
— Já volto — falou.
Adentrar a luz do dia era como entrar num banho quente, a luz era um líquido dourado em que podia mergulhar. O sol estava bem acima de sua cabeça, o que significava que tinham dormido por um bom tempo; talvez algumas horas. Ainda havia um restinho de fumaça no ar, mas não se ouvia nada mais na cidadezinha, nenhuma sirene, nenhum grito. Era como se nada tivesse acontecido. Não seria maravilhoso?, pensou ele. Se tudo simplesmente tivesse sumido?
Levou algum tempo para achar a casa paroquial, porque tinha saído pelo lado errado da igreja. O cemitério era grande e cercado por teixos e algo espinhento, a vegetação tão densa que poderia muito bem não haver mundo nenhum do outro lado. A casinha ficava entre leitos de flores e mais árvores, quase repulsivamente pitoresca. Ele abriu caminho pela porta, parando ao ouvir vozes adiante.
— ... o departamento afirma que cerca de um milhão de pessoas podem ter morrido, e outros milhões desapareceram.
A televisão; Cal reconheceu o tom formal do âncora do noticiário. Mesmo assim, caminhou pé ante pé, pronto para voltar correndo por onde tinha vindo se fosse necessário. O sacerdote não havia dito que tinha uma esposa? A ideia de ela vir guinchando pelo corredor, pronta para arrancar os olhos dele, dava-lhe vontade de sair dali imediatamente. Achava que seu corpo não resistiria a mais um ataque, nem se fosse o de uma velha senhora. Superando o medo, abriu a porta e entrou na cozinha. A televisão estava a um canto, um homem e uma mulher sentados à bancada do noticiário enquanto a tempestade ardia atrás deles. Cal desviou o olhar. Não queria ver aquilo. Porém, continuou ouvindo enquanto vasculhava o armário.
— Traremos mais notícias num instante — disse o homem. — Enquanto isso, uma declaração de Downing Street confirma que o primeiro-ministro e os demais ministros foram evacuados da cidade, em meio a críticas de que não estão fazendo o suficiente para ajudar o povo de Londres. Com a taxa de mortos já em sete dígitos, e ainda nenhum sinal de que a ameaça tenha sequer sido identificada, o governo enfrenta uma pressão cada vez maior da comunidade internacional para proteger a população.
Abriu uma segunda porta, mas só viu vasilhas e panelas. A terceira continha panos, e, bem no fundo, uma bolsa verde com uma cruz branca na frente. Abriu o zíper e tirou um frasco de aspirina, ainda ouvindo o que estava sendo dito.
— Nossa correspondente em Londres, Lucy White, ainda está em campo. Lucy, pode nos dizer o que estão falando nas ruas?
A voz da mulher era quase sufocada pelo som ininterrupto da tempestade, o som de um milhão de trombetas soando.
— Como pode ver, Hugh, aqui só se fala em caos, o que é compreensível. Estou do lado sul do rio, bem pertinho da roda-gigante London Eye. Ainda ontem havia milhares de pessoas aqui, moradores e turistas aproveitando a cidade. Agora as ruas estão lotadas de uma multidão tentando fugir do ataque que acontece a menos de trinta quilômetros. Do outro lado do rio, talvez você possa ver os veículos do exército. Estavam montando uma zona de quarentena no aterro norte. As pontes foram fechadas. Ninguém pode ir para lá, nem a imprensa. O que quer que aconteça, vamos ter de assistir daqui.
— Pode descrever esse ataque, Lucy?
— Sim, é uma nuvem, uma nuvem quase em forma de cogumelo, igual à de uma explosão atômica. Só que... — Ela engoliu em seco em busca de palavras. — Ela se move, como um furacão. É enorme. Estima-se que tenha oito quilômetros de diâmetro, e está crescendo. Tudo o que se aproxima, e temos informações confiáveis de que estão incluídos nesse meio aviões da força aérea, é... como dizer... sugado: prédios, carros, até ruas inteiras.
Cal abriu o frasco e engoliu uma aspirina. Depois da segunda, tomou mais uma, usando as mãos para jogar a água da pia na boca e no rosto.
— Há relatos de uma figura dentro da nuvem — prosseguiu a mulher, e ao ouvir isso Cal se virou para a televisão. — Um homem. Acreditamos que seja uma espécie de ilusão de óptica, mas... Mas não sabemos de fato.
Na tela, a repórter foi empurrada por um estrangeiro zangado que gritou alguma coisa para a câmera antes de sair correndo. Havia muita gente ali, centenas de pessoas só naquela tomada, a maioria fugindo na mesma direção. Acima da cabeça dela, o equivalente a uma noite de inverno, o céu negro feito breu. A tela era pequena demais para que se pudesse realmente distinguir o que estava suspenso ali, mas aquilo rodopiava e se agitava, uma espiral giratória de vespas. A repórter tinha razão: era enorme.
— O secretário de defesa anunciou a convocação de um grupo de especialistas para tentar identificar a ameaça — prosseguiu a mulher. — Mas, até que esse relatório seja liberado para o público, não temos nada oficial.
Um soldado adentrou a filmagem, empurrando a mulher e fazendo um gesto para a câmera. A repórter lutou para falar enquanto era deslocada para fora da tela.
— Estão nos dizendo que a linha de quarentena está passando para o sul. É com você, Hugh.
Estática, e de volta para o estúdio. O homem arrumava os papéis, a boca aberta como a de um peixinho dourado. Ele tossiu, e Cal desviou de novo o olhar. Era sempre mau sinal quando os âncoras ficavam sem fala; era assim que você sabia que a encrenca era para valer. Cal esfregou as têmporas e, vendo o telefone ao lado da televisão, seus pensamentos se voltaram para a mãe. Ela estaria terrivelmente preocupada com ele, teria deixado incontáveis mensagens em seu celular, mas não havia nenhum sinal em Fursville, e o celular tinha se perdido em algum lugar entre o ataque à fábrica e a destruição de Hemmingway por Schiller. Pegou o telefone sem fio, parou um instante e, em seguida, ligou para casa.
O que diria a ela? Oi, mãe, desculpe ter sumido por uns dias; é que da última vez que nos vimos você tentou arrebentar o vidro do carro para me matar, lembra? Claro que ela não lembraria. Era assim que a Fúria funcionava; era o que ela tinha de mais cruel. Atacavam você, matavam você, e depois o esqueciam. Era como se você nunca tivesse existido.
A ligação foi atendida, mas foi ele quem respondeu do outro lado da linha. O som da própria voz lhe deu palpitações, uma descarga forte de adrenalina detonando em sua barriga.
— Olá, você ligou para a família Morrissey. Não estamos em casa no momento, mas deixe um recado, por favor. Ou, se quiser falar comigo, ligue para o meu celular. Valeu.
Ele parecia tão jovem, tão distante, tão não ele mesmo, como se houvesse outra versão de Cal Morrissey sentada em casa, uma versão sem um anjo no coração. Ouviu o bipe, percebendo que respirava alto ao telefone, e encerrou a chamada com o dedão. Não queria que a mãe achasse que ele era algum tarado obcecado; ela já tinha muito com que se preocupar. Esticou a cabeça, tentando se lembrar do celular dela, e apertou os números. Começou a tocar. Por favor, que tudo esteja bem com você, pensou ele. E estaria, certo? Moravam em Oakminster, era bem a leste da cidade, a quilômetros da tempestade. A menos que ela tenha ido para Londres, pensou. De repente, ela está lá me procurando.
— Alô?
Aquela única e simples palavra pegou-o totalmente de surpresa, inundando-o. Antes que percebesse, ele chorava, os gritos saindo com tanta força que não foi capaz de articular uma só palavra. Desabou contra o balcão, as lágrimas escorrendo do rosto, chegando salgadas à língua, o corpo inteiro sacudindo com a força daquele momento.
— Callum? Cal, é você? Meu Deus, onde você está? Está tudo bem?
Ele soltou um punhado de quase-palavras, respirou fundo e tentou de novo:
— Estou bem, mãe — gemeu, o choro se atenuando em brandos soluços. Enxugou as lágrimas, os olhos como que recheados de algodão, a garganta ardendo. — Estou bem.
— Meu Deus! — disse ela, e Cal percebeu que a mãe também chorava. — Estava tão preocupada, Cal, eu achei... Achei que alguma coisa terrível tivesse acontecido. Onde você está?
— Estou em segurança. Fora da cidade. Você também precisa sair daí, mãe, tem uma coisa realmente terrível acontecendo.
Um som de fricção, como se ela destrancasse uma porta ou algo assim. Cal ouviu vozes.
— Estou bem — disse a mãe, fungando. Havia no tom de voz dela certo enrijecimento agora. Cal o conhecia bem: depois que as lágrimas iam embora, sempre vinha a raiva. — Tem ideia do quanto fiquei preocupada? Você simplesmente sumiu com o carro. Estou presumindo que foi você quem levou o carro.
— Sim, desculpe, eu...
— Cal, mandei a polícia ir atrás de você! Os vizinhos, ninguém conseguia entender por que você teria fugido! Foi por causa do que aconteceu na escola? Seus amigos estão assustados, Cal, e também furiosos; eles acham que você os abandonou. A coitada da Georgia continua no hospital. Por que, Cal? É melhor ter uma boa explicação!
Tem uma coisa dentro de mim, uma criatura que vai nascer para me transformar em uma arma, e assim poderemos combater o homem na tempestade, mas ela é tão poderosa e tão estranha que as pessoas não aguentam ficar perto dela, por isso tentam me matar. Essa ideia era tão absurda que ele fungou em meio a uma risada amarga.
— Não é engraçado, Cal! Seu pai chega amanhã, e ele vai ficar muito zangado!
— Desculpe, não estava rindo. Olha, mãe, não posso contar tudo, não agora. Só queria que soubesse que estou em segurança, que estou bem. Logo eu vou para casa, prometo, mas tem uma coisa que preciso fazer primeiro.
Era mesmo verdade? Ele realmente poderia ir para casa? O que aconteceria se combatessem o homem na tempestade, se de algum modo pudessem derrotá-lo? Os anjos simplesmente iriam embora? Ou teriam vindo para ficar?
— Não vá para casa! — disse a mãe. — Não estou lá. Estou na casa de sua tia Kate. Você não viu as notícias?
— Vi. — Cal ofertou um agradecimento mudo ao ar por ela estar em segurança, ou pelo menos fora da cidade. Kate vivia em Southend, bem ao lado do mar. Se elas precisassem, podiam pegar um barco e ir para outro lugar da Europa. — Pois é, a situação está difícil mesmo, mãe.
— Estão dizendo que milhões de pessoas vão morrer, ou já estão mortas. Meu Deus, Cal, você pode vir para cá? Onde você está? Juro que não vou ficar zangada se resolver dar as caras agora aqui na casa da Kate.
— Eu... Não posso, mãe, ainda não. Mas em breve, está bem? — O choro bateu em seu peito outra vez, mas ele o trancafiou. — Olha, preciso desligar, mas eu te amo.
— Cal, por favor, só me diga onde está! Eu vou aí e pego você!
— Eu te amo, mãe.
Ela precisou de um instante para escutá-lo, não suas palavras, mas a verdade dentro delas, a compreensão de que talvez fosse a última vez que se falavam. Ela começou a chorar de novo, e Cal a visualizou na casa de Kate, sentada no sofá de courino com o casaco de estampa de onça, a cabeça apoiada nas unhas perfeitamente vermelhas, cercada por aquela névoa de laquê e de Chanel nº 5. Viu-se colocando um braço em volta dela, apertando-a, do modo como fazia quando ela e o pai brigavam, dando-lhe um beijinho na pele macia da bochecha.
— Eu te amo, Cal — disse ela, a voz não mais que um sussurro. — Eu te amo muito. Diga que tudo vai dar certo.
— Tudo vai dar certo. Juro, vai dar certo mesmo. — Tinha a sensação de que havia uma pedra na garganta; quase não conseguia forçar o ar a passar por ela. — Preciso desligar, mãe.
— Não, Cal.
Sim. Ele desligou com o dedão e ficou ali, em um mar de luminosidade solar, sentindo-se exausto demais até para chorar. Deixou o telefone cair dos dedos, e o aparelho despencou do balcão para o piso de pedra, a tampa da bateria se soltando.
Diga que tudo vai dar certo, disse ele à criatura dentro de si, a coisa que se alojava em sua alma, o anjo-mas-não-anjo. Prometi a ela, o que significa que você prometeu também. Você tem de cumprir a promessa; tem de dar um jeito nas coisas.
Não houve resposta, só o batimento irregular do próprio coração. Virou-se, perguntando-se se teria forças para sair da cozinha, quanto mais para chegar à igreja. Ao menos a aspirina estava fazendo seu trabalho, anestesiando a dor. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Talvez, se continuasse dizendo aquilo, aquelas palavras se tornassem verdade. E tinha quase conseguido se convencer disso quando ouviu uma mudança no som da televisão, um coral de gritos transmitidos em ondas. Olhou para o aparelho e viu a tempestade, de algum modo ainda vasta mesmo na tela pequenina, e então ouviu a repórter avisar:
— É verdade, acabamos de obter confirmação: essa coisa está se movendo.
O Outro: III
A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, não a ausência de medo.
Mark Twain
Graham
Thames House, 11h59
— Está se movendo.
Graham tirou os olhos da tela, piscando para dissipar os pontinhos de luz. A filmagem da operação de campo tinha chegado havia alguns minutos, e ele já a assistira quatro vezes. Os soldados usavam câmeras no capacete — procedimento-padrão para qualquer ação ofensiva —, mas o que tinham gravado simplesmente não fazia nenhum sentido. Os garotos haviam saído do moinho, e o menino, o mesmo de antes, tinha de algum modo se transformado. Não tinham nenhuma imagem decente; a luz que ele emitia era brilhante demais para as câmeras, saturando-as, fazendo-as sangrar em brancura. Porém, em algum lugar do borrão, Graham jurava ter visto uma criatura em chamas, com duas asas enormes e incandescentes.
Então, em um lampejo, ela desaparecera. Graham tinha voltado e avançado a filmagem frame a frame, uma mera décima terceira parte de segundo entre eles. Em um, quatro garotos normais e o menino em seu inferno; no seguinte, um círculo de fogo, como quando você fotografa fogos de artifício em movimento. E, depois disso, apenas uma saraivada de cinzas e brasas. Aquilo que via era inacreditável, totalmente impossível. Tinha de ser algum defeito da câmera, só que todas as filmagens disponíveis, de meia dúzia de câmeras diferentes, mostravam a mesma coisa.
O pior de tudo era que eles tinham perdido mais de trinta homens. Graham ainda não dispunha do relatório completo, mas, pelo que ouvira em seu breve telefonema ao general Stevens, não havia sequer cadáveres; os soldados tinham sido vaporizados com o moinho e um campo de beterrabas. Só tem pó, dissera-lhe o homem. Os outros soldados estavam sendo tratados por estarem em choque. Aparentemente, dois terços deles tinham tentado arrancar os próprios olhos.
— Graham, está me ouvindo? — Era Sam, sentada ao lado dele.
— Hã? Desculpe. O que foi?
— Está se movendo.
Ela dirigiu a mão para a tela, e ele seguiu o arco grosseiro da unha roída, vendo a filmagem via satélite da cidade, que mostrava tudo, de Watling Park a norte a Fortune Green ao sol, e a maior parte daquilo era apenas um sólido borrão. Era como assistir à previsão do tempo e ver a inequívoca espiral de um furacão. Este, também, tinha um olho no centro, um bolsão de noite absoluta que aparecia, negro e vazio, sob lentes normais, infravermelhas, ultravioleta e todas as outras de que dispunham. Era como se, além daquele ponto sem retorno, não houvesse mais nada, calor nenhum, matéria nenhuma, ar nenhum, só um buraco onde deveria estar o mundo. E Sam tinha razão: a tempestade parecia agora se dirigir para o sul, envolvendo as linhas de trem de West Hampstead. Graham viu um fragmento de algo enorme ser erguido pelo turbilhão, um armazém, talvez a loja Homebase que havia ali. Desfazia-se no caminho, soltando pedaços enquanto desaparecia na corrente giratória.
— Nós...
Foi só o que Sam conseguiu dizer antes de a sala inteira sofrer um solavanco. Graham quase gritou, segurando a cadeira com tanta força que achou que tivesse quebrado alguns dedos. Todos os monitores da sala se apagaram, as luzes piscando enquanto o sistema de emergência lutava para recuperar o controle. Quando as luzes reacenderam, Graham viu que uma fenda se abrira no teto de trinta metros de puro concreto do bunker. Mau sinal.
— Que droga foi essa? — perguntou ele. Ainda havia um tremor percorrendo a sala, fazendo seus dentes baterem.
O monitor de Sam se reacendeu, com a transmissão via satélite ainda em ação. O movimento da tempestade tinha se intensificado, deslizando para o sul como uma nesga de petróleo respingando lentamente em direção à parte inferior da tela. Atrás dela restava um oceano de breu, uma trincheira vazia onde antes havia uma cidade. Graham ficou de queixo caído. Sentiu o gosto do pó da sala na língua, no ressecamento da garganta. Está vindo em nossa direção, está vindo para cá.
— Não sobrou nada — falou Sam. — Meu Deus. Aquilo... aquilo destruiu tudo!
Porém, destruir não era a melhor palavra. Uma destruição deixava ruínas, destroços, cadáveres. Essa coisa não deixava nada, cadáver nenhum, destroço nenhum, cinza nenhuma. Devorava tudo. Graham sabia que, se fosse possível ficar à beira daquela trincheira, só veria escuridão e nada mais. A sala tremeu de novo, a própria terra em volta deles parecendo rugir escandalizada, como um animal indefeso que sofresse uma tortura horrível.
— Não há nada que possamos fazer — gritou uma voz atrás deles. Graham olhou e viu Habib dirigindo-se ao elevador. Ele deu de ombros, pedindo desculpas. — Vocês também precisam ir. Se estiverem aqui quando isso chegar...
Não precisava terminar a frase. Graham sabia que, se aquela besta — a besta... de onde vinha isso? É um ataque, só um ataque — se lançasse contra Thames House, o fato de estar no subterrâneo não os salvaria. Ela os alcançaria com seus dedos de tempestade, levando-os ao buraco escancarado de sua boca, e tudo o que fazia dele ele mesmo seria erradicado. Virou-se de novo para a tela, ouvindo o bipe baixinho da porta do elevador.
— Ele tem razão — falou. — Você precisa dar o fora daqui.
— Claro. E deixar você no comando? — disse Sam. — De jeito nenhum. Não confio que um homem vá tirar a gente dessa!
Ela sorriu com delicadeza, apertando o ombro dele, e ele colocou a própria mão sobre a dela por um instante. Se a tempestade continuasse indo para o sul, então iriam embora, mas ainda havia tempo. Uma explosão abafada ondulou pelo teto, e choveu mais pó, fazendo tanto estardalhaço que Graham quase não ouviu o telefone que começou a tocar na mesa. Atendeu.
— Hayling falando.
— Graham, aqui é Stevens. — Seus anos de serviço militar fizeram-no endireitar as costas ao ouvir a voz do general.
— General. Está se movendo.
— Estamos cientes. Não temos mais opções.
— Como assim, general?
— Lançamos outro ataque aéreo quinze minutos atrás, mas o canalha engole tudo o que mandamos. O que quer que esteja no centro disso, não permite nossa aproximação. E você, tem alguma ideia do que estamos enfrentando?
— Não — respondeu Graham. — O que nós sabemos, o senhor sabe. Não é atômico, não é meteorológico, não é geológico nem biológico. E agora sabemos que é móvel.
— Se a trajetória atual for mantida, o centro de Londres será atingido em uma hora. — A voz do general, normalmente tão forte, parecia a de um garotinho. — É quase como se... como se essa coisa soubesse aonde está indo. Consegue me entender?
Está indo aonde tem gente, pensou Graham.
— Não, senhor — disse ele.
— E o outro incidente, aquele do litoral? Alguma pista?
— Não, senhor.
— Graham, preciso que fale a verdade para mim. — Stevens pigarreou. Algo ruim estava por vir. — Acha que sua equipe será capaz de identificar essa ameaça antes que ela chegue ao centro de Londres?
— Minha equipe? — Graham olhou para Sam e para a sala vazia atrás dela. Ruminou por um instante, e, em seguida, disse: — Não, senhor. Acho que não.
Uma pausa, e, depois, um profundo suspiro.
— Então fique bem trancado, Graham, porque vamos mandar uma bomba nuclear.
— General? — Aquilo com certeza seria um erro. Graham quase riu diante daquela insanidade. — Pode repetir?
— Você me ouviu bem — disse o homem mais velho. — Estamos sem opções. Se não fizermos algo agora, é impossível saber o que vai acontecer. Aquela coisa está crescendo, está ficando mais forte, e está se movendo. Conter a ameaça, Graham, e neutralizá-la; preocupar-se com os efeitos colaterais depois. É essa a nossa política no exterior; vai ter de ser nossa política aqui também.
— Mas o senhor não pode — gaguejou ele. — O senhor não pode autorizar um ataque nuclear em solo britânico, em Londres.
— Está feito. O primeiro-ministro deu sinal verde cinco minutos atrás. Estamos fazendo o melhor que podemos para evacuar a cidade, mas precisamos fazer isso com rapidez. Por esse motivo estou telefonando, Graham. Feche bem esse bunker até tudo isso acabar. Ou isso, ou você vai embora, mas não posso garantir que vá ficar fora da zona da explosão, não agora. Neste momento, o Dragão 1 está no ar.
— Quanto tempo temos? — perguntou ele.
— No máximo noventa minutos; é quase certo que menos. Lamento, Graham. Aguente firme. Com sorte, a gente acaba com esse negócio de vez e uma equipe vai buscar você assim que possível.
— E se não funcionar?
O general fungou ao telefone.
— Se não funcionar, então Deus nos ajude. Boa sorte.
— Para o senhor também — falou Graham, mas eram palavras vazias. Colocou o telefone suavemente na base, mirando-o como se o esperasse tocar outra vez, para ouvir o general dizer: Rá! Peguei você, hein, Graham? É a minha vingança por aquela vez que você esfregou pimenta no papel higiênico lá no Iraque! Mas claro que o telefone não tocou. Não tocaria de novo. Virou-se para Sam. — Você ouviu?
Ela tinha ouvido; Graham sabia pelo tom cinza-pergaminho da pele dela, pelo olhar vazio.
— Uma bomba nuclear em Londres — disse ela, balançando a cabeça. Uma lágrima desceu por seu rosto, criando uma trilha pela poeira que se assentara nele. — Meu Deus, Graham, isso está realmente acontecendo.
Ele olhou a tela, vendo a cidade. A cidade dele. Se o ataque — não, a besta; lá no fundo, você sabe a verdade — não a devorasse, então uma explosão atômica acabaria com ela, transformando-a em ruínas nas quais ninguém poderia pisar por décadas. Tinha de haver outro jeito, mas sua mente era uma tigela vazia. Soltou um palavrão e deu um soco na mesa, frustrado.
— Vamos trancar tudo? — perguntou Sam. — Aqui tem suprimentos para manter cem pessoas por um mês, a gente vai ficar bem.
Esconder-se, fechar a porta, deixar a cidade arder. Como poderia viver consigo mesmo se fizesse isso? Mas quais eram as opções? Sair correndo para o sul, onde o general comandava a operação? Ao menos teria uma boa visão da nuvem de cogumelo na hora em que se erigisse acima do Big Ben. Pensou em David; rezou para que tivesse saído da cidade, para que não estivesse esperando-o voltar para casa.
— Eu... — começou a falar, e então o vídeo do satélite piscou, mostrando um lugar perto do Maida Vale. Um pontinho de cor bruxuleante sob a tempestade furiosa, como se algo irrompesse pela tela do outro lado. Inclinou-se para a frente, o nariz quase achatado no vidro. — O que é isso?
A imagem era larga demais para que distinguisse a fonte da luminosidade e, após um segundo ou dois, desapareceu.
— Podemos dar zoom ali? — perguntou ele, apontando o local onde a chama desaparecera.
Sam fez que sim com a cabeça e digitou uma linha de código. A imagem ficou borrada, depois se aproximou, tornando-se mais nítida; borrou-se de novo, se aproximou mais e, depois, ficou mais nítida, e três vezes mais, até que exibisse um punhado de ruas em formato de lua crescente e casas em formato de caixa. A tempestade não era mais visível, mas estava próxima, porque sua sombra manchava a metade superior da imagem. Ali não havia sinal de vida além dos quatro pontinhos, indistintos, mas inequívocos.
— São eles! — disse Graham, esmurrando a tela com o dedo.
— Quem? — perguntou Sam.
— As crianças do litoral! — Parecia absurdo, impossível, mas tudo o mais que acontecera naquele dia também parecia. De algum modo, ele tinha certeza; teria apostado tudo naquilo; teria apostado a própria vida. Na verdade, era exatamente isso que estava disposto a fazer. Levantou-se. — Fique trancada aqui, Sam, mantenha-se em segurança!
— Não! — disse ela, levantando-se da cadeira. — De jeito nenhum! Se você for, eu vou também!
— Sam...
— Nada de “Sam”. É meu trabalho cuidar da cidade; não vou enfiar minha cabeça num buraco. O que quer que você esteja planejando, eu vou junto.
Ele concordou com um gesto de cabeça, andando até o elevador. Noventa minutos até a detonação. Tempo suficiente se conseguisse achar uma moto e ligar o motor. Não tinha ideia do que encontrariam caso fossem até lá, mas ao menos estariam fazendo alguma coisa. Se aquelas crianças tivessem algo de bom, ao menos poderia alertá-las. E, caso não tivessem, teria a satisfação de vê-las pegar fogo. A porta do elevador se fechou, e Sam segurou a mão dele enquanto se dirigiam para a tempestade.
Tarde
A eles não cabe entender por quê,
A eles cabe agir e morrer:
Para o Vale da Morte
Foram os seiscentos.
Alfred Lord Tennyson, “O ataque da brigada ligeira”
Rilke
Norte de Londres, 12h14
Pareceu ter demorado mais, desta vez, para que a vida os alcançasse.
O mundo se encaixou com um estalo em volta dela, e com ele veio um barulho diferente de tudo o que Rilke já ouvira, um rugido tão alto que deu a impressão de empurrá-la para dentro da terra. Apertou as orelhas com as mãos enquanto outro jato de vômito leitoso irrompia de seus lábios. O barulho persistia, parte estrondo, parte urro, parte badalo, como se ela estivesse dentro do sino gigante de uma catedral.
Forçou-se a abrir os olhos, já sabendo o que veria. O céu estava vivo, uma movimentação frenética que fervilhava acima como um caldeirão de óleo virado para baixo. Vastas nuvens de matéria circulavam em órbitas lentas, quase graciosas. Nelas Rilke enxergava pedaços de coisas, o reluzir de um caminhão, a silhueta de uma árvore ou do topo de uma igreja, além de incontáveis objetos similares — gente, percebeu ela — que bem poderiam ser folhas levantadas pelo vento. O tornado era tão denso que o sol era uma moedinha de cobre no céu, esquecido, as ruas ao redor escuras, à penumbra.
E, no centro daquilo tudo, estava ele, o homem na tempestade. Rilke não o via direito além do caos de nuvens, mas ele estava lá. Podia senti-lo, assim como podia sentir a gravidade atraindo-a, chamando-a com aquela respiração atemporal e infinita. Era ele o fantasma dentro da máquina, dentro daquele motor de trevas e poeira que rugia acima dela, e a voz dele era o grito de um milhão de trombetas. Exatamente como no Apocalipse, pensou ela, lembrando-se das histórias que ouvira na igreja. Os anjos soam suas trombetas, e o mundo acaba.
Uma risada lunática escapou dela e foi sufocada pela tempestade. Rilke ainda estava de joelhos quando percebeu Schiller caído à sua frente. Havia gotas de sangue sobre os ferimentos dele, as quais apenas flutuavam, como se não se lembrassem muito bem do que deveriam fazer, como se estivessem presas entre o lugar de onde tinham vindo e o lugar onde estavam agora. Schiller piscou para a irmã, seu olho esquerdo era uma piscina escarlate. Parte de seu crânio estava fendido onde levara um tiro, lascado como um fragmento de pedra. O que havia embaixo era viscoso, escuro e fosco. Ela colocou as mãos em concha ali, como se fosse segurar seu cérebro.
Você conseguiu, Schiller, ela enviou esse pensamento para ele, sabendo que sua verdadeira voz não lhe chegaria, que não havia espaço para ela em meio ao ar que berrava. Você nos trouxe até ele; estou tão orgulhosa de você!
Ele sorriu para ela, e seus olhos se reviraram nas órbitas. Ela sacudiu a cabeça dele com delicadeza até que ele recuperasse o foco, e, em seguida, mirou a tempestade. Será que ele sabia que estavam ali? Será que podia senti-los? Ajude-nos, gritou ela dentro da cabeça. Não deixe meu irmão morrer!
A tempestade se agitava na própria fúria, em nuvens gigantes como os tentáculos de cem criaturas se retorcendo e se enroscando. Rilke correu o olhar ao redor, para além de Marcus, cujo rosto era um retrato de puro horror, e de Howie, ainda trancafiado em seu casulo de gelo, avistando uma rua e casas dos dois lados. Tudo estava coberto de pó e cinzas, numa chuva fina que ainda caía do céu em ruínas. Não havia ninguém mais à vista. Como falariam com o homem? Pense, Rilke, pensou ela, vendo o irmão perder a consciência outra vez. Pense, pense, pense, sua idiota!
Schiller precisava se transformar. Era o único jeito. Se o irmão voltasse a ser anjo, o homem na tempestade teria de notar sua presença. Ele era grande demais para vê-los onde estavam agora, barulhento demais; ele era como uma colheitadeira prestes a esmagar um passarinho. Colocou a outra mão na bochecha de Schiller, erguendo sua cabeça do chão. Ele gemeu, mas ainda estava ali, ainda estava vivo.
Mais uma vez, irmãozinho, ela lhe disse. Deixe-o sair, e a tempestade vai ver você.
Ele sacudiu a cabeça, um movimento mínimo, que ela sentiu nos dedos.
De novo, repetiu ela. Ele só precisa saber que você está aqui e vai dar um jeito em você. Sei que vai, Schiller. Eu sei; você precisa confiar em mim. Apoiou a cabeça dele na barriga e colocou a mão livre em seu coração. Deixe-o sair, deixe-o falar. Ele vai curar você, e você nunca mais vai precisar ser fraco. Deixe-o sair.
Os olhos do irmão esvaziaram-se e, por um instante, ela achou que o tivesse perdido. Mas ele deve ter tido algum vislumbre da morte, de algo pior do que a dor, pior do que a Fúria, pior ainda do que a tempestade, porque seu corpo inteiro de súbito retorceu-se para cima, como se fosse acordado de um pesadelo. E, com esse movimento, veio o fogo, irrompendo das fornalhas de seu olhar, derramando-se sobre o corpo, transformando-o em um fantasma de azul, vermelho e amarelo. As asas se abriram, um brilho enorme contra as nuvens. Ele gritou uma palavra para a tempestade, uma palavra que abriu caminho pela rua, demolindo uma casa após a outra.
E o homem na tempestade o ouviu.
Algo detonou no meio do furacão, um barulho poderoso que poderia ter sido a terra se abrindo. Uma onda de choque explodiu, fazendo uma nuvem de detritos subir pelo céu e atravessar a cidade, removendo as nuvens e revelando o que estava atrás delas.
Ele estava suspenso ali, grande demais para ser humano, muito maior do que os prédios acima dos quais se erigia, e, no entanto, de algum modo, ainda um homem. Cintilava na atmosfera perturbadora como uma névoa de calor, quase uma miragem, seu corpo feito de sombras ondulantes, as mãos erguidas para os lados. O rosto não era realmente um rosto, só um vórtice giratório que fez Rilke pensar naquelas enormes brocas que cavavam túneis em montanhas, um giro infindo e vibrante que detonava tudo ao redor.
Mas eram os olhos dele... Duas órbitas vazias em sua cabeça, totalmente inertes e, ao mesmo tempo, plenas de um júbilo odioso. Era impossível dizer a que distância o homem estava, talvez dois ou três quilômetros, mas Rilke sabia que aqueles olhos a tinham visto; ela os sentia se arrastando por seu rosto como dedos de um cadáver, abrindo caminho até sua cabeça, até seus pensamentos. Sua mente de súbito era um brinquedo de dar corda, uma maçaroca desajeitada de latão e mola, desmontada e quebrada pelo toque dele. Ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau, uma coisa dentro dela berrava, mas ela lutou contra aquilo: ele não é, ele vai salvar Schill, ele precisa salvá-lo porque nada mais pode fazer isso, por favor, por favor, por favor.
Schiller agora estava de pé — ou pairando trinta centímetros acima da rua —, naquele pulsar atômico que fazia o concreto vibrar. Ele falou outra vez, numa descarga ondulante de energia que abriu uma trincheira na terra, dirigindo-se ao homem na tempestade. E o homem respondeu. Aquela inspiração infinita jamais parou, mas os olhos transmitiram sua mensagem direto para a cabeça dela; não palavras, nem imagens, só o horrendo silêncio e a imobilidade do fim de todas as coisas. O mero peso daquilo, do nada eterno e infinito, fez com que ela tivesse vertigens. Ela tropeçou em Howie, caindo de costas, o ar sendo removido dos pulmões. Essa coisa não vai deixar restar nada, pensou ela. Haverá apenas um buraco enorme onde antes havia o mundo.
— Não! — gritou ela, a palavra sugada de sua boca pelo vento furioso, pelo rugido sem fim da tempestade.
Não acreditaria naquilo. Vá até ele, Schiller, ajoelhe-se a seus pés, mostre que veio para servir. Ele com certeza abriria os braços e os receberia como filhos, não receberia? Ele esfolaria a pele da alma deles, rasparia os ossos, os deixaria em puro fogo. Vá até ele, irmãozinho. Não, corra, leve-nos daqui. Não, irmãozinho, é aqui o nosso lugar. As duas metades dela estavam em guerra, e sentia o mecanismo da mente se esfarelar.
Schiller ergueu-se, como que fisgado, a coisa mais brilhante no céu. O homem o observava, vastos tsunamis ainda inundando Londres, envolvendo tudo o que tocavam. Relâmpagos negros lançavam-se ao chão, vindo de sob a tempestade. Só que ali não havia chão, percebeu Rilke, só o vazio. O chão tinha simplesmente desaparecido. O homem mirava seu irmão como um lagarto espreita um inseto, os olhos negros cheios de ganância, de avidez. Mas havia também uma centelha de reconhecimento. Ele entendia quem era Schiller.
Ele conhece você, disse ao irmão, erguendo os olhos para onde ele ardia contra a luminosidade sobrenatural, como uma estrela que fora derrubada do firmamento. O coração dela pareceu levantar-se junto dele, e soube que estava certa, que estavam ali para servir o homem na tempestade. Ela abriu um sorriso enorme, a euforia como uma enchente de sol dentro de suas artérias, fazendo-a sentir que já não era nada além de luz e calor.
Não durou.
O homem na tempestade mexeu os dedos e virou o mundo do avesso.
O chão desabou sob seus pés, e o ar de repente ficou repleto de pedregulhos, rochas, casas. Ela abriu a boca para gritar, mas o grito não saiu porque ela caía em trevas, como se despencasse em uma cova sem fundo. Schiller ainda ardia bem acima dela, e ela estendeu a mão para ele, sabendo que, se não fizesse isso, cairia para sempre. Os olhos do irmão arderam, um lampejo de emoção bem no fundo do fogo, e ela sentiu os braços dele envolvendo-a — não sua carne, mas outra coisa. Ele a arrancou do poço, colocando-a a seu lado com Marcus e o outro garoto, abraçando-a com um pensamento, enquanto a cidade desabava em volta deles. Não havia mais superfície entre ela e a tempestade, só o vácuo, um oceano de vazio.
O homem fez outro gesto com as mãos, puxando a terra como se levantasse um cobertor. De ambos os lados, um bilhão de toneladas de matéria ergueram-se no ar, lançadas na direção deles. O ar rugiu, as orelhas de Rilke estalando com a onda de pressão que chegou primeiro. Ela levou as mãos ao rosto, sabendo que não trariam proteção nenhuma, que seria esmagada e viraria pó. Porém, mesmo que o mundo sacudisse e sacudisse e sacudisse, não havia impacto, nem dor.
Espiou entre os dedos, vendo uma bolha de luz de fogo bruxuleante ao redor deles. Pedaços de concreto do tamanho de casas batiam contra o escudo como ondas contra recifes, carros, caminhões, árvores e gente também, explodindo em líquido com a colisão. A maré não tinha fim, inundando as trevas ao redor, pressionando-os, jorrando para cima, dando a Rilke a sensação de estar em uma caverna, sem nenhum sinal à vista da fraqueza humana de Schiller, tudo ardendo com força total enquanto ele lutava para mantê-los vivos.
A torrente parou, o céu se abrindo de novo, ainda repleto de fumaça, uma cachoeira de matéria caindo na escuridão. À frente estava o homem suspenso em sua tempestade, e havia algo mais naquele olhar agora — não exatamente dentro dos olhos, ela percebeu, mas sendo canalizado através deles. Era ódio, puro e simples. Ele queria matá-los.
O que foi que eu fiz?, ela perguntou, entrando em pânico, vendo o abismo abaixo dos pés, uma boca aberta só esperando que ela caísse. O poder de Schiller era a única coisa que os sustentava; quanto tempo mais ele duraria? Agarrou o irmão, as chamas frias contra a pele dele fazendo cócegas. Ele bateu as asas, a bolha de fogo em volta deles se extinguindo, espirais de poeira dançando até findar em todas as direções. Marcus estava suspenso ao lado dela, sustentado por dedos invisíveis, e também o novo garoto, os quatro trancados na fúria dos olhos do homem. Ah, o que foi que eu fiz, Schiller? Eu estava errada, não estava? Totalmente errada!
O ruído da respiração infinita do homem aumentou, pinceladas negras tomando o ar como uma tela sendo rasgada. A tempestade outra vez começou a afunilar-se para sua bocarra escancarada, os detritos sendo sugados lá para dentro. Rilke também, seu estômago era uma montanha-russa enquanto se precipitava na direção dele. Ela se agarrou ao irmão com toda a força que possuía, mesmo que soubesse não ser preciso, sentindo-o ser puxado através do ar como um barco para um redemoinho.
— Enfrente-o! — ela gritou em seu ouvido, quase sem ouvir a própria voz.
A resposta dele flutuou para seus pensamentos.
Rilke, não consigo, ele é forte demais.
A corrente era muito poderosa, arrastando-os para as lâminas giratórias de sua boca. Iam mais rápido agora, o homem se avolumando à frente, enorme, um colosso. Seus olhos ardiam. Ele iria ingeri-los, e depois...? Depois nada, você nunca terá sido e nunca será outra vez.
— Schiller! — rogou ela.
O irmão falou, a palavra como um míssil detonando no meio da tempestade. O homem nem pareceu senti-la, precipitando-se, indo cada vez mais rápido, até que só houvesse sua boca, somente aquela garganta ilimitada e sem luz. Schiller falou outra vez, mas sua voz era humana, o miado de um gatinho. A capa de chamas desapareceu, e ele se agitou em pleno ar, preso na corrente. Tinha acabado. Era o fim. Tudo estava perdido.
Rilke fechou os olhos, sentindo o ar que fedia a carne e a fumaça, e gritou:
— Daisy!
Daisy
East Walsham, 12h24
— Daisy!
Daisy levantou a cabeça ao ouvir seu nome. Os cubos de gelo estavam agitados. Todos recuavam, menos um, o dele, onde o homem na tempestade ainda estava suspenso. Ela não queria olhar, mas como poderia desviar os olhos? A visão que o cubo continha era diferente agora, a cidade apagada sob o homem como se alguém houvesse apagado um desenho de que não gostasse. Tudo em volta dele estava sendo aspirado para sua boca.
— Daisy!
O nome dela outra vez, e desta vez ela reconheceu a voz. Era Rilke. E não eram ela, o irmão, Marcus e Howie, bem ali, como insetos se afogando em poeira enquanto eram sugados para a tempestade? Ah, Rilke, você foi se encontrar com ele, bem como falou, pensou ela, a tristeza fazendo pressão em seu peito. E agora a menina ia morrer. Por que Rilke não tinha lhe dado ouvidos? Por que não havia acreditado nela? Rilke era tão tola!
A pressão mudou de lugar, crescendo, e o coração de Daisy soltou um baque doloroso. Não era tristeza, era outra coisa. Colocou uma das mãos — aquela que na verdade não possuía naquele lugar — contra o peito, sentindo a frieza ali, e, ao olhar para baixo, línguas de fogo lambiam seus dedos.
Ah, não, pensou ela. É agora!
O anjo dela estava nascendo.
— Daisy? — Desta vez, outra voz, de um lugar perto.
Daisy espiou por entre os enormes cubos de gelo que batiam uns contra os outros e viu Howie, o novo garoto. Não seu corpo físico, que estava com Rilke na tempestade; aquela era uma outra parte dele. Sua alma, ela supôs. Ele tinha a mesma idade dela. Talvez fosse um pouco mais velho. Em seu peito, também havia um bolsão de fogo, espalhando-se para os ombros e descendo pela barriga, como se ele fosse feito de palha. Parecia aterrorizado, os olhos arregalados e brancos, encarando a si mesmo como um menino que tivesse visto aranhas irromperem da própria pele.
— Está tudo bem — ela lhe disse, tentando esconder o próprio medo. Estendeu as mãos e, num instante, ele estava ao lado dela, abraçando-a, sua cabeça-não-real enterrada em seu ombro-não-real. Ela acariciou os cabelos dele, sussurrando-lhe: — Não se preocupe, não vão fazer mal a você; eles estão aqui para nos deixar em segurança. São bons, são amigos. Não se assuste.
Não doía; era mais como quando você vai nadar e, então, entra na água: no começo, ela parece muito fria, mas logo você nem repara. O toque gélido das chamas já tinha chegado ao pescoço dela, e agora alcançava o queixo. Ela abraçou Howie e Howie a abraçou, ambos incendiando-se ao mesmo tempo. Algo badalou em sua cabeça, uma melodia muito parecida com a que sua caixinha de música tocava quando Daisy era criança. Não havia palavras, mas ela sabia que aquilo era uma voz, a voz do anjo.
— Está ouvindo? — perguntou ela, sentindo Howie assentir com a cabeça contra seu corpo. — Não assusta, assusta?
Ela baixou os olhos e viu que agora o fogo estava por toda parte, cobrindo-a por completo, e por dentro dela também. Sentia-se tão sem peso quanto o ar, como se fosse um facho de luz. Grãos de poeira subiam e desciam em volta dela, atraídos para ela, e o gelo derretia apesar do frio, riachinhos de água cristalina formando uma poça sob seus pés. A melodia na cabeça ia ficando mais alta à medida que o anjo encontrava sua voz, e, embora Daisy não fosse capaz de entendê-la, compreendia o que ele mostrava: os bilhões de anos de sua vida apresentados em um único segundo. Não houve tempo de processar aquilo antes que se sentisse puxada para cima, do mesmo jeito como às vezes acordava dos sonhos, como um mergulhador sendo içado do oceano em uma corda. Fechou os olhos com força contra a súbita vertigem.
Vai ficar tudo bem, disse ela enquanto Howie desaparecia, voltando para seu corpo no mundo real. Ele seria um anjo também, ela sabia. Confie em mim.
Ela rompeu a superfície do oceano onírico, o mundo real costurando-se em volta dela: uma igreja, vitrais, bancos de madeira, mas nada com a mesma aparência de antes. Tinha a sensação de poder espreitar o coração das coisas, ver do que eram feitas, os pequenos átomos e suas órbitas. Se quisesse, poderia arrebentá-los a um só pensamento. O fogo dela era a coisa mais brilhante ali, irradiando-se dela, emitindo um zumbido grave que parecia fazer tudo tremer.
Não era tão ruim, era? Era como...
E foi então que teve um súbito momento de pânico, a constatação colossal do que ela era. Olhou a si mesma, o incêndio na pele, o modo como as mãos pareciam translúcidas, diminutas máculas de energia subindo e descendo pelos dedos. Algo forçava suas costas também, como se as costelas tentassem abrir caminho à força. Não era dor, só uma coceira enlouquecedora. E, quando se deu conta do que causava aquilo — minhas asas, meu Deus, meu Deus —, gemeu diante do som de um monstruoso passarinho arrebentando a casca de seu ovo.
Virou-se para tentar vê-las, mas o movimento produziu força demais, lançando-a para o outro lado da igreja. Ela voou contra uma parede, com as asas tremendo, fora de controle, mandando-a em rodopios para o lugar de onde tinha saído. Em algum ponto daquele caos giratório, ela viu Brick, Cal e o pequeno Adam, todos se abaixando para se proteger. Havia também outro homem, aparentemente um sacerdote, gritando para ela, após sucumbir à Fúria. Estendeu as mãos para ele, dizendo-lhe para não se assustar, mas, para o horror dela, ele explodiu em uma nuvem de cinzas, suspenso como um fantasma no ar, até lembrar-se de se espalhar.
Daisy gritou, o barulho sendo o de motores de um avião colocados em funcionamento. Suas asas bateram outra vez, levando-a até as vigas no alto. Pare, por favor. Ah, Deus, eu só quero voltar a ser eu mesma. Por favor, por favor, por favor. Mas o anjo não lhe deu ouvidos, fazendo-a chocar-se contra o teto, as imensas asas a bater, soltando uma avalanche de madeira e pedras antigas. Afastou-se com um empurrão, caindo no chão, mas sem acertá-lo, só pairando acima dele como se nele houvesse uma almofada invisível.
— Daisy! — chamaram o nome dela outra vez, mas agora era Cal.
Ela o viu correr entre as fileiras em sua direção, tropeçando nos destroços de um banco. Daisy estendeu as mãos para ele, mas o movimento a mandou para trás aos rodopios. Gemeu outra vez, o som fazendo um vitral explodir, vertendo luz solar na escuridão.
Não se mexa, não se mexa, ordenou ao corpo. Ficou como uma estátua, ouvindo a estonteante sinfonia do anjo — é esse o som do coração dele — e escutando passos rápidos. Cal praticamente derrapou ao lado dela, estreitando os olhos contra a luminosidade. Parecia exatamente ele, mas, quando ela se concentrou, enxergou os pedacinhos de que era feito: os órgãos viscosos, como se ele estivesse em um açougue, os poros na pele e, mais fundo que isso, as células que nadavam no sangue e o show de fogos de artifício dentro de seu cérebro. Não gostou; não gostava de ver que as pessoas eram apenas motores de carne. Porém, não se afastou, para não lhe fazer mal.
— Daisy, você consegue me ouvir? — perguntou ele. Ergueu a mão, uma constelação de átomos, como que para tocá-la, e, em seguida, pareceu mudar de ideia. — Tudo bem com você?
Ela não ousou responder. A voz dela agora era outra coisa, uma arma. Um lembrete do que vira antes de seu anjo nascer, Rilke e os outros sendo sugados para a boca da tempestade. Era por isso que o anjo dela nascera agora, porque precisavam que ela os salvasse. Mas como? Estavam longe, lá na cidade. Bem na hora em que fez a pergunta, a coisa dentro dela deu uma resposta, não com sua voz, mas apenas com uma imagem — ela em um campo com Adam, presa em um carro, as mãos dadas, de algum modo em movimento. Claro, aquilo fazia sentido, não fazia? O tempo e o espaço não eram mais reais, não para ela.
— Está tudo bem com ela? — Desta vez, era Brick, de pé ao fundo da igreja, as mãos no cabelo avermelhado. O rosto dele era uma máscara de preocupação, e ela fez o melhor que pôde para sorrir. Isso não ajudou muito a acalmá-lo, o que não foi de surpreender. Se ela se parecesse com Schiller, seus olhos pareceriam feitos de aço derretido.
— Acho que sim — respondeu Cal. — Daisy, está me ouvindo?
Sim, disse ela, falando com eles dentro de sua cabeça, de algum modo emitindo as palavras. Aquela voz não podia lhes fazer mal. Estou aqui, Cal, não se assuste.
Cal abriu um sorriso enorme, olhando para trás.
— Está ouvindo? — perguntou ele, e Brick fez que sim com a cabeça. Cal se virou de novo. — Como você faz isso?
Daisy não respondeu, porque não sabia. Brick deu alguns passos pelo corredor, e Daisy reparou que ele deu a mão para Adam.
Ela o chamou com sua mente, acostumando-se com o som das palavras dentro da cabeça. Sei que estou diferente, mas continuo sua amiga, está bem?
O menino fez que sim com a cabeça, um estremecimento de sorriso correndo por seus lábios. Daisy respirou fundo — ainda que não achasse que precisava de ar, considerando sua versão física atual — e saiu do chão. Movimentos lentos, bem estudados, era esse o truque. Nada muito exagerado. Ficou de joelhos e em seguida deu uma batida de asas para experimentar. Era estranho, como se tivesse um par de braços a mais. Sentia que elas cortavam o mundo real como uma faca quente cortaria manteiga, içando-a até que ficasse de pé, ou melhor, até que pairasse sobre o chão. Era estranho estar assim, mais alta do que Brick. Sentia-se uma adulta, o que era empolgante, mas também um pouco triste. Não queria ter crescido ainda.
— Como é? — perguntou Cal, os olhos parecendo prestes a pular do rosto.
Não dói, respondeu ela. É... Não consigo explicar. É como usar uma roupa de super-herói ou dirigir um carro. Sim, é um pouco assim, como dirigir, porque, se fizer algo errado, pode machucar alguém.
Ela se lembrou do sacerdote. Tapou a boca com a mão ao virar-se para o outro lado da igreja; tudo o que restava do homem era um montinho de cinzas incandescentes. Um halo de brasas brilhantes flutuava em círculo ao redor dele, como se ainda não quisessem deixar de viver, como se pudessem manter a morte distante com uma dança.
Ah, não, o que foi que eu fiz?, falou. Eu o matei.
Porém, a emoção fervilhante que ela esperava, aquela torrente insuportável de tristeza, não veio. Uma vez, quando tinha cerca de oito anos, achara um besouro no quintal dos fundos, um besouro pequenino, do tamanho da unha do dedão. Queria levá-lo para casa, ser amiga dele e guardá-lo em uma caixa de fósforos, e tentou fazer com que ele se agarrasse a um palito. Mas o besouro ficava esperneando e correndo para longe; frustrada, bateu nele por acidente com força demais e o matou. Tinha chorado, chorado e chorado; o pobre besourinho havia morrido por causa dela. Ela achava que jamais perdoaria a si mesma.
Agora, porém, a tristeza estava esquecida em sua barriga. Estava ali, mas esquecida. O anjo está me protegendo dela, percebeu, como um escudo. E, com essa compreensão, veio o entendimento de que aquilo não duraria para sempre; que, assim que voltasse ao normal, aquela tristeza horrível de súbito a atingiria.
— Você não fez de propósito, Daisy — disse Cal, usando um banco como apoio para levantar-se. — Não foi culpa sua.
Eu sei, respondeu ela. Ela lamentaria depois, porque agora havia outra coisa que precisava fazer. Cal, precisamos salvar Rilke e Schiller, eles precisam de nós. Ela viu a imagem na cabeça, o homem na tempestade sugando-os em sua boca espiralante, e compreendeu que Cal, Brick e Adam também a tinham visto. Eles vão morrer.
No fundo da igreja, Brick quase cuspiu uma risada.
— Eles que se danem! — falou ele. — Por que eu iria ajudá-la? Ela que provocou isso.
— Ele tem razão — disse Cal, dando de ombros. — Ela fez por onde.
Não se trata dela, falou Daisy. Precisamos dela, precisamos de todos eles, para combater aquilo. Não acho que vamos conseguir fazer isso sozinhos. Não tinham tempo, talvez já fosse tarde demais. Cal, por favor, precisamos ir.
A ideia de abrir um buraco no espaço e entrar nele, e ver-se à sombra do homem na tempestade, era para ser assustadora. Mas isso também era anestesiado pela presença do anjo. Parecia mais um eco de medo, algo de que Daisy não podia se lembrar muito bem. Ele me deixa forte, pensou consigo. Me dá coragem.
Cal, por favor, pediu outra vez, estendendo-lhe a mão. Gavinhas de luz ergueram-se da pedra abaixo dela, cada qual sumindo após um instante. Cal examinou-as, e, em seguida, voltou os olhos para ela.
— Temos escolha? — perguntou ele.
Claro, disse ela. Vocês todos têm escolha. Mas precisam fazer a escolha certa.
Cal olhou para Brick, os dois garotos compartilhando um pensamento que Daisy não conseguiu entender bem. Em seguida, Cal se virou para ela e fez que sim com a cabeça. O medo saía dele em ondas grandes e escuras, mas sua expressão era firme. Ele engoliu ruidosamente, e depois lhe deu a mão. Ela pareceu ver a vida inteira dele desenrolar-se em um instante, sua casa, a mãe e uma garota bonita chamada Georgia; o coração dela ficou pesado, como se tivesse vivido aquela vida ao lado dele. Segurou a mão de Cal com delicadeza, tomando cuidado para não feri-lo. Adam desvencilhou-se de Brick e correu por entre os bancos, abraçando-a pela cintura.
Brick?, perguntou ela. O garoto mais velho ficou parado ali, arrastando os pés no chão, mordendo o lábio. Ela viu os lampejos que apareciam dentro do crânio dele, os pensamentos correndo de um lado para o outro, lutando entre si, e viu também o momento em que tomou sua decisão. Ela nem esperou que ele assentisse. Apenas usou a mente para abrir um buraco no ar, a realidade incendiando-se à sua volta como se a pele do mundo tivesse pegado fogo. Do outro lado, estavam a cidade e a tempestade, e com um bater de asas ela os levou rumo a elas.
Brick
Londres, 12h32
Daisy nem lhe deu chance de responder. Em um segundo, ele estava na igreja, perguntando-se como ia se livrar daquela situação, e no seguinte, passou a se sentir como um pião em movimento.
Deu um salto-mortal para cima, e tudo se tornou um borrão, com seu estômago espremendo-se até ficar do tamanho de uma pinha. Em seguida, seus sentidos voltaram para o devido lugar num estalo, e ele já estava em outro lugar, deitado de costas. Abriu a boca para gritar, mas tudo o que saiu foi um jato de vômito branco. O ar estava repleto de cinzas, pousando em sua língua e deixando ali um gosto amargo. Ele as cuspiu, limpando o resquício de vômito dos lábios e levantando-se em seguida com dificuldade.
Daisy estava alguns metros à frente. Só que não era Daisy. Não mais. A criatura que ela se tornara agora, aquela que tinha roubado o corpo da menina, pairava acima do chão, ainda envolvida em chamas. Suas asas eram como as velas de um navio incandescente, duas vezes mais altas do que ela. E o ruído que emanava era uma descarga elétrica que pulsava através do ar, pelo chão, fazendo os dedos de Brick formigarem e o cabelo se eriçar. Não fazia sentido que aquela garotinha que eles carregavam algumas horas atrás, aquele saco de ossinhos-palito, agora fosse aquilo. Brick precisou desviar o olhar.
Porém, o que viu era infinitamente pior.
O céu acima do horizonte era como um oceano de ponta-cabeça, um mar ondulante de trevas cujas ondas levavam a cidade — Isso é Londres? Não pode ser, não sobrou nada! — para suas profundezas. E, em meio ao oceano, havia uma figura, iluminada por relâmpagos negros que chicoteavam através do caos; estava suspensa como um leviatã, uma descomunal criatura do mar revirando a água. A visão era tão horrenda que um gemido insurgiu da barriga de Brick, frágil, débil, derramando-se de sua boca. E, antes que o garoto pudesse se conter, soluçava, tateando para trás, gritando.
— Por que você me trouxe aqui? Por quê?
— Brick... Cuidado... — Era Cal, gritando de onde estava, a alguns metros de distância, as palavras roubadas pelo vento uivante. Ele estava encolhido, o cabelo batendo no rosto. Adam, o garotinho, ainda abraçava Daisy, o rosto enterrado tão fundo na barriga dela que Brick se perguntou como a pele dele não tinha sido queimada pelas chamas. — Venha para cá.
Brick balançou a cabeça em uma negativa, arrastando-se para trás. Bateu em algo, ganiu e virou-se, avistando um carro, tão coberto de poeira alaranjada que parecia estar ali fazia um século. O jovem o usou como apoio para se levantar, os pés mergulhando em algo macio. Era um corpo, percebeu ao baixar os olhos. Uma coceira que apitava formou-se na mente de Brick; algo ali não estava certo. Ele afastou o pé do cadáver, sacudindo o tênis sujo e vendo outros corpos caídos como uma trilha de dominó que tivesse sido derrubada. Eram dezenas.
Ah não, ah não, ah não; por que não o tinham deixado na igreja? Lá ele estava em segurança, ainda mais com o sacerdote morto. Poderia ter ficado lá durante dias, poderia ter ficado lá para sempre.
Porque precisamos de você, Brick. A voz de Daisy soava tão alto em sua cabeça, com tanta nitidez, que bem poderia estar dentro de sua carne. Brick chegou até a dar uma pancadinha na têmpora, como que para afastá-la com uma sacudidela. Mas não, ela ainda estava pairando acima do chão, emoldurada pelos destroços de uma dezena de casas, os olhos fervilhando, cuspindo flocos de fogo, a boca aberta e revelando uma garganta de genuína e alva luminosidade, como se tivesse engolido o sol. Preciso de você, Brick, não posso fazer isso sozinha.
— Mas que droga eu posso fazer aqui? — gritou ele de volta.
Abaixo da tempestade, o chão tinha sido eliminado; só havia um poço que devia ter mais de quinze quilômetros de diâmetro. Como ele poderia enfrentar uma criatura capaz de fazer aquilo? Ela o viraria do avesso só com o olhar.
Acredite em mim, disse Daisy. É só disso que eu preciso.
Ele balançou a cabeça outra vez, como se tentasse afastar uma mosca dos pensamentos.
Brick, por favor.
Um trovão ensurdecedor disparou do centro da tempestade, e Brick viu o relâmpago — desta vez, não era escuro, mas luminoso. Uma onda de ar escaldante explodiu pela cidade, quase rígida o bastante para jogá-lo para trás, e, no centro do tornado, ele viu uma enorme mandíbula escancarada. Ao lado dela, havia uma silhueta incandescente, tão pequena que poderia ser um plâncton prestes a ser devorado por uma baleia. Brick percebeu quem era, e chamou o menino em voz alta:
— Schiller!
Preciso me aproximar dele, disse Daisy dentro da cabeça de Brick, a voz metade dela, metade do anjo. Se eu não for, eles vão morrer.
Ela dirigiu a fornalha de seu olhar para o céu, para a batalha que ardia à distância. Era insano. Anjo ou não, aquela coisa, o homem na tempestade, a esmagaria. Ela era só uma garotinha.
Cal berrou algo que Brick não conseguiu entender.
Mas eu preciso, respondeu ela. Preciso. É exatamente como na peça. Brick não tinha ideia do que ela queria dizer com aquilo, embora suas palavras levassem imagens para a mente dele: um palco, crianças vestidas com roupas de época. Um verme de desconforto sulcou seu estômago. Assusta, assusta mesmo, mas você sabe que precisa fazer. Ela olhou para Cal, depois para Brick. Seja forte. Cuide de Adam.
— Daisy, espere! — disse Cal, mas era tarde demais.
Ela flexionou as asas, as pontas parecendo incendiar o ar como se fossem de papel. Fez-se um clarão, um buraco escancarado no céu, e ela sumiu. Como se fosse água, a realidade inundou o buraco de novo, houve um barulho como o de um tiro ecoando pela rua em ruínas quando o vácuo foi preenchido. Adam cambaleou para a frente, quase caindo antes que Brick o pegasse, ambos ficando em meio a uma chuva de cinzas.
Outro estouro, e Brick olhou para a tempestade e viu um clarão bem ali, em seu coração trevoso. Daisy, ardendo em luz. Ela é só uma garotinha, pensou ele, subitamente furioso. Está contente agora? Ela é só uma garotinha, e você a matou.
Deu um passo para a tempestade, mas, de súbito, parou. Ele precisava ajudá-la, mas o que poderia fazer? Nunca na vida tinha se sentido tão pequeno, tão ridículo. Ele e Cal trocaram um olhar, e Brick viu sua frustração, sua impotência, espelhando a dele.
— Temos de fazer algo! — disse Brick. — Ela vai morrer!
Cal inclinou a cabeça para o lado.
— Que foi? — perguntou Brick.
— Não está ouvindo?
Passaram-se mais alguns instantes até que Brick ouvisse um gemido baixinho subindo pelo estrondo infindo da tempestade. Um motor, vindo na direção deles.
— Daisy vai saber se virar — disse Cal, apontando uma moto que contornava uma pilha de detritos no fim da rua demolida, acelerando para onde estavam. — Temos problemas maiores agora.
Daisy
Londres, 12h38
Era como jogar-se em um rio veloz, a corrente rápida carregando-a, levando-a contra sua vontade, tão forte e veloz que ela perdeu a noção de onde estava. Girava em pleno ar, vendo tempestade e céu, tempestade e céu, e depois ele, a boca tão grande que parecia se precipitar em um vulcão. Também viu os olhos dele, como dois sóis invertidos no céu, enormes, irradiando trevas e encarando-a diretamente.
Estendeu os membros, os seis: braços, pernas e asas. Era como abrir um paraquedas, retardando assim sua derrocada. O vento era algo vivo que vinha em lufadas, com porções enormes de coisas voando, sugadas para o vórtice. Sentia-se Dorothy no furacão, vendo casas inteiras ali dentro, inclusive com gente, tudo sendo devorado.
Um clarão surgiu à frente, no meio da boca do homem. Schiller! pensou ela. Estou chegando!
Daisy!, a voz era dele, transmitida direto para a cabeça dela. Socorro!
A boca do homem da tempestade moía sem parar, mas o medo de Daisy ainda era algo pequenino em sua barriga, como se o anjo o contivesse para ela, como se tomasse conta dele. Era como andar de bicicleta, pensou ela. No começo, você acha que é impossível, você acha que nunca, nunca vai conseguir se equilibrar, e, de repente, lá está você, em alta velocidade pela rua, sem conseguir sequer se lembrar de como era não ser capaz de pedalar. Era como se tivesse aquele corpo desde sempre, como se houvesse nascido com ele.
Daisy desviou para um lado a fim de evitar um pedaço de concreto que veio girando, espatifando-se ao colidir contra a parede lateral de uma casa flutuante. A casa se desfez em volta dela em uma explosão de pó de tijolos. À frente, distinguiu não um anjo, mas dois. Howie, claro, seu anjo também nascera. Ele e Schiller pairavam dentro de uma bolha de fogo laranja, os dois à primeira vista tão luminosos que Daisy nem reparou em Rilke e em Marcus ao lado deles, presos por um fio invisível. Não havia sinal de Jade.
Aguentem firmes, pensou para eles. Em um instante, estava à beira do vórtice. A corrente era inacreditavelmente forte, o homem fazendo tudo o que podia para puxá-la para seu esôfago. Do outro lado, não havia nada, nem escuridão, nem luz, só uma ausência tão evidente que fazia a cabeça de Daisy doer só de olhar. O pior de tudo, porém, era que, mesmo que a tempestade ainda ardesse, o que emanava da boca dele era um silêncio sinistro e ensurdecedor. Era como se Daisy tivesse ficado surda de um ouvido.
Bateu as asas de novo, firmando-se em sua posição. Schiller e Howie fizeram o mesmo. Precisavam de toda a força possível para evitar sumir no ralo daquela boca. O que ela poderia fazer? Falar com ele, disse a si mesma, como você disse que faria. Fale para ele deixá-los em paz.
Daisy bateu as asas, alçando-se à altura dos olhos ardentes do homem. Nem tinha certeza se eram mesmo olhos, porque, além deles e da boca, o homem não tinha realmente um rosto, só um vórtice giratório de fumaça e tempestade. Mas, mesmo assim, os supostos olhos pareciam estudá-la; o ódio do homem era algo com vida própria, que se agitava e se retorcia. Ela abriu a boca, sentindo o fogo arder na barriga e queimar a garganta, sendo disparado boca afora.
O que ela queria dizer era “Deixe-nos em paz”, mas o que saiu foi uma palavra que não conhecia, uma palavra que não era humana. Era como se houvesse cuspido um foguete, um pulso de energia escapando dos lábios com tanta força que a jogou para trás. Endireitou-se a tempo de ver a onda de choque atingir o homem no olho esquerdo, uma onda de fogo que consumiu a ondulante carne negra como a água faz com a neve.
Desculpe!, gritou Daisy. Ela não queria feri-lo, só queria que ele fosse embora. Abriu a boca para lhe dizer isso, mas outra palavra foi disparada, esta abrindo caminho pelo outro olho, soltando fragmentos de matéria escura bruxuleante que escorreram em direção à boca do monstro.
A cabeça dele balançou para trás, e aquela inspiração arquejante se extinguiu. Foi como se a gravidade tivesse sido subitamente religada, despencando tudo para o vazio abaixo. Daisy bateu as asas, e viu Schiller e Howie fazerem a mesma coisa. Voou até onde os dois estavam, atravessando uma monção de poeira e detritos.
Schiller!, ela gritou. Os dois anjos eram tão parecidos que quase não conseguia distingui-los, mas de algum modo ainda sabia quem era quem. Ele a fitou com os sóis gêmeos de seus olhos, e mesmo através do fogo ela notou o quanto estava ferido. Rilke se agarrava a ele como um filhote de canguru. Marcus estava suspenso ao lado deles, sustentado por alguma força invisível. Todos pareciam muito fracos, muito vulneráveis. Vá, tire-os daqui!
Não quero deixar você aqui, respondeu Schiller na cabeça dela. Daisy estendeu-lhe a mão, feita de fogo, translúcida, uma mão de fantasma. Passou-a pelo rosto espectral dele, as chamas se sobrepondo, se juntando. Ao afastar-se, levou gotículas de luz dourada da pele dele.
Pode ir, vou ficar bem.
Ele fez que sim com a cabeça, fechou os olhos e incendiou a si mesmo e aos outros para fora da existência. O ar correu para preencher o espaço que ocupavam até então, fazendo as cinzas incandescentes brincarem uma com a outra. Daisy olhou através delas e viu Howie, seu rosto sendo o de um menino e o de um anjo, os dois em um. Ela teve a sensação de que o conhecia havia tanto tempo que era difícil acreditar que aquela era a primeira vez que efetivamente se encontravam.
Tudo bem com você?
Ele nem teve chance de responder. O homem na tempestade se recuperou, o motor de sua boca reiniciando, sugando Daisy. O barulho era tão alto que parecia um punho martelando o cérebro dela, uma orquestra com um milhão de tambores de aço tocando sem sintonia. Ela berrou, a voz quase tão alta quanto os tambores, uma coisa física que subiu cortando o céu espiralante, afastando as nuvens para que — por apenas um momento — o sol aparecesse.
Bateu as asas, imaginando que era um pássaro voando para longe. Outro enorme fragmento de prédio destroçado veio na direção dela, mas Daisy passou através dele, fazendo-o em pedaços. Howie estava a seu lado agora, as asas agitando-se.
Precisamos combatê-lo, disse Daisy. É só falar; os anjos sabem o que fazer.
Viraram-se juntos, encarando o homem. Daisy abriu a boca, a palavra a meio caminho em sua garganta, mas um relâmpago negro disparou da tempestade e chicoteou seu peito. Teve a sensação de que tudo dentro de si tinha sido solto, o golpe lançando-a velozmente pelo ar. Estendeu as asas, mas isso só deu a impressão de que ela rodopiava ainda mais rápido. Outro estrondo, depois um grito que só poderia ter sido Howie reagindo.
Vamos!, gritou para si mesma, movendo as asas com cada gota de força que lhe restava, controlando a queda. Olhou de novo a tempestade, que agora parecia estar a quilômetros de distância, e tocou as chamas do próprio corpo para ter certeza de que estava tudo bem. Seu coração humano batia com força, enquanto o coração de anjo também martelava, mas aquela sensação horrível continuava como um nó no estômago. Era a mesma sensação que havia tido ao encontrar a mãe e o pai mortos na cama, só que muito pior. Era a tempestade; era assim que a tempestade queria que o mundo se sentisse.
Essa ideia deixou-a furiosa, diminuindo o medo. Daisy bateu as asas, precipitando-se para a palpitante massa do furacão. Howie estava ali, um borrão de fogo contra as trevas, os gritos dele chocando-se contra a pele da besta. Outros espinhos de relâmpago vieram na direção dele, criando uma fonte de centelhas ao baterem contra sua blindagem incandescente.
Daisy abriu a boca e deixou o anjo falar, a palavra fervilhando pelo ar, chocando-se contra a besta, que disparou outro estilhaço de luz negra fendida. Ela desviou com um bater de asas, falando de novo, e de novo, e de novo, Howie juntando-se a ela, forçando a tempestade a recuar. A inspiração sugadora da besta extinguiu-se mais uma vez, a turbina de seu esôfago falhando. Daisy não parou, gritando mais palavras, vendo-as serem absorvidas pela pele do rosto do homem.
Está funcionando, está funcionando, continue!, ela disse a Howie, as palavras em sua cabeça juntando-se com outras de sua boca, algo ancestral e sobrenatural que rachava o ar ao rugir rumo à tempestade. Continue, Howie, vamos derrotá-lo!
A boca do homem se abriu ainda mais, parecendo abranger o céu inteiro. Desta vez, ele não inspirou, mas expirou um vigoroso urro que a golpeou, fazendo-a cambalear para trás. Ela apagou por um instante, como se seu cérebro fosse um computador se reiniciando, e, quando voltou a si, percebeu que caía. Gritou, e a voz era a dela. Quando tentou bater as asas, elas não obedeceram. Baixou os olhos para si, e não havia mais chamas, só o próprio corpo, seu uniforme escolar, um calçado faltando. Caía para o abismo lá embaixo, gritando para seu anjo: Onde está você? Volte!
A besta ainda disparava seu grito, uma palavra que parecia não ter fim. O ar estava repleto de movimento, um milhão de detritos vindo em sua direção, um tsunami. Algo acertou-a, e uma dor inacreditável invadiu seu corpo inteiro enquanto o abismo parecia se erguer para recebê-la.
Cal
Londres, 12h42
Cal observou a moto derrapar e parar no meio da rua, ao lado das ruínas de uma casa. Havia duas pessoas nela, um homem e uma mulher, nenhum dos dois usando capacete.
— Precisamos dar o fora daqui! — disse Brick.
Tinha soltado Adam e seguia aos tropeços por entre os destroços do asfalto. A criança nem pareceu reparar no que acontecia, os olhos arregalados mirando o céu. Acima deles, a tempestade ainda ardia, e Cal conseguia ver Daisy, uma lua incandescente orbitando um núcleo de trevas. Tenha cuidado, disse a ela antes de se virar.
O homem saiu da moto e ergueu as mãos como que para mostrar que não estava armado. A mulher veio atrás, dando alguns passos na direção deles. Os dois se entreolharam e falaram entre si, o homem dando de ombros.
— Mas quem são essas pessoas? — perguntou Cal. Brick não respondeu, ainda recuando, deixando Adam entre ele e os recém-chegados. Inacreditável, pensou Cal, estendendo a mão para o garoto. — Adam, cara, vem pra cá!
O homem gritou algo, mas o estrondo da tempestade era alto demais.
— ... não quero... vocês... perguntas — tentou o homem outra vez, seu grito reduzido a um murmúrio.
A mulher se adiantou e Cal a mandou voltar com um gesto.
— Não, fique onde está, não se aproxime!
Como não o ouvia, ela deu mais um passo à frente. Brick se afastou um pouco mais, tropeçando no asfalto rachado. Cal aproximou-se de Adam, pronto para pegá-lo no colo e carregá-lo para longe.
— Esperem! — o homem da moto gritou. — Voltem...!
A mulher deu mais um passo, e, do nada, se transformou, precipitando-se para a frente. Cal soltou um palavrão e começou a correr. A mulher se lançou sobre Adam, os lábios arreganhados, os dentes à mostra. Ela era rápida, e meio que atacou, meio que caiu em cima do garoto, pegando-lhe os cabelos.
— Saia de cima dele! — Cal se jogou contra ela como se estivesse em uma partida de rúgbi, o impacto fazendo os dois rolarem pelo chão.
A boca dela era a de uma naja, procurando os braços e a garganta dele, os dentes rangendo. Cal conseguiu prendê-la debaixo de si e preparou um soco, mas se desequilibrou com o corpo dela se retorcendo. Ele agarrou sua carne, firmando-se bem, e tentou outra vez. Seu punho acertou em cheio o nariz dela em uma erupção de sangue, mas ela sequer pareceu sentir, tentando arranhá-lo com as unhas quebradas.
Brick!, Cal tentou gritar, mas não havia ar suficiente em seus pulmões. Olhou para trás e viu o garoto maior atrás de um carro, só olhando. Seu babaca egoísta!, pensou. Um olhar na outra direção lhe disse que ao menos o homem não se aproximava. A mulher — a coisa — abaixo dele agarrou seu rosto com mãos de ferro, um dedo em um olho dele. Cal soltou um grito gutural, afastando-a a pancadas, e ouviu algo estalar sob o punho. Enfiou o cotovelo na garganta dela, colocando todo o seu peso, tentando desviar dos braços agitados com sua mão livre. Ela gemia, sufocando, o som mais horripilante que Cal já ouvira na vida, mas o ímpeto homicida não deixava os olhos arregalados dela.
— Desculpe! — gritou ele. — Desculpe!
Um tiro rasgou a rua. Cal se deteve, ofuscado pelo fogo, percebendo que não tinha sido tiro nenhum. Schiller estava ali, uma estátua de chamas, as asas sendo a coisa mais alta na rua em ruínas. Rilke e Marcus estavam ajoelhados ao lado dele.
Schiller fixou seus olhos derretidos, e a mulher debaixo de Cal se desfez. Cal desabou na maçaroca que ela havia sido transformada, soterrando-se de repente em uma nuvem de cinzas. Tossiu, rolou para longe e ficou deitado de costas até se lembrar do homem. Ao olhar outra vez, porém, viu que ele tinha despencado no chão, boquiaberto.
— Espere! — gritou Cal. — Você... não...
Rilke apontou para ele.
— Mate-o também. — A voz dela soara com total clareza.
A tempestade tinha amainado. Cal levantou a cabeça e viu que ela não sugava mais o ar. As chamas gêmeas que eram Daisy e o outro garoto estavam suspensas ao lado da boca destruidora do furacão, ladrando gritos que pareciam explodir contra a escuridão como uma bateria antiaérea. Eles estão vencendo, pensou ele, o alívio em seu interior como a luz do sol.
Então a besta abriu a mandíbula e um punho de ruído irrompeu de sua boca. Ela vomitou uma nuvem de pó, uma cidade inteira reduzida a detritos e projetada à frente, obscurecendo a luminosidade, fazendo o dia ficar ainda mais escuro. Schiller abriu as asas, respirou fundo e, em seguida, desapareceu tão rápido que a irmã desabou no ponto onde ele estava até um segundo antes. Ela cambaleou sobre as mãos e os joelhos até encontrar o equilíbrio.
— Schiller, não! — gritou Rilke para a tempestade, estendendo-lhe as mãos. — Não! Ela não precisa de você, eu é que preciso!
O homem na tempestade expirou sua nuvem de veneno, o chão sacudindo tanto que Cal precisou se agachar para não cair. Uma faísca se acendeu no redemoinho — era Schiller lutando contra a corrente.
— Schiller! — gritou Rilke outra vez.
Mas era tarde demais. Ele já se fora. Cal se levantou rápido e atravessou a rua correndo, parando a vinte e cinco, trinta metros do homem da moto.
— Quem é você? — berrou ele. Teve de repetir a pergunta duas vezes até que o homem o ouvisse em meio à tempestade. O homem deu um passo à frente, mas Cal ergueu a mão. — Se você se aproximar, vai morrer! Apenas me diga o que quer!
— Meu nome é Graham Hayling! — gritou ele em resposta. — E eu quero ajudar!
Daisy
Londres, 12h46
Ela se sentia uma pedra jogada no oceano, mergulhando nas profundezas frias e sem luz. De ambos os lados, via distantes paredes de pura pedra, onde a cidade fora separada em duas partes, uma cachoeira de detritos caindo do alto delas. Abaixo, nada além de um poço.
— Por favor! — ela chamou o anjo, mas ele não respondeu. Algo ruim acontecera com ele. — Me ajude!
Despencou, a cabeça virada para baixo, o mundo ficando mais escuro e mais silencioso a cada violento compasso de sua pulsação. A qualquer instante, bateria no fundo e pronto. Ficaria enterrada para sempre naquele buraco, a quilômetros de tudo e de todos. Era o pior pensamento do mundo, até que outro lhe ocorreu — o poço poderia não ter fundo; ela poderia nunca parar de cair. Gritou mais uma vez por socorro, o grito desesperado perdido no estrondo do vento em seus ouvidos.
O fogo irrompeu, e, por um instante, ela achou que seu anjo tivesse voltado. Então ela sentiu braços em volta de si e, virando-se, viu Schiller, caindo com ela. Ele estendeu as asas, as chamas mais luminosas do que seria possível contra a penumbra, e depois veio a já conhecida vertigem de revirar o estômago quando ele a conduziu para fora do poço. Reapareceram em plena tempestade, no centro do uivo furioso da besta, e Daisy bateu as asas antes mesmo de perceber que seu anjo havia voltado.
Obrigada, disse ela para os dois, desvencilhando-se de Schiller para desviar de uma saraivada de concreto e metal que passou voando. Outra coisa zuniu em sua direção, um prédio, ainda intacto. Abriu a boca e permitiu que o anjo falasse, a palavra alvejando o prédio como um míssil, demolindo-o em pleno ar. Pairou acima da poeira, atravessando os muitos destroços que ainda jorravam da boca da besta, dirigindo-se para uma chama distante que tinha de ser Howie. Ele ainda gritava, ainda lutava.
Vamos!, disse ela, chamando Schiller, que apareceu ao seu lado, entrando e saindo da tempestade, os olhos como fachos de farol penetrando a penumbra. A besta estava à frente, sua boca a maior coisa que Daisy já vira, um buraco no céu do tamanho de uma montanha. Berrou para ela, uma onda sonora de choque que vaporizou um caminho em meio ao caos, acertando-a entre os olhos. Ao lado dela, Schiller gritou também, sua voz como um tiro de canhão. Daisy se agachou e ziguezagueou até parar ao lado de Howie, os três disparando uma palavra atrás da outra, até que o rosto do homem se tornasse um ninho de vermes negros incandescentes.
Está funcionando?, perguntou Schiller. O trovão da tempestade era tão alto que Daisy tinha dificuldade para ouvir as palavras dele, mesmo que estivessem dentro da cabeça dela.
Ele está morrendo?
Acho que sim, respondeu ela, disparando outra palavra, dilacerando ainda mais a tempestade. Ele se sentia como uma brisa de verão que limpasse as nuvens do céu com seu sopro. Continue!
A besta sacudiu sua cabeça gigante, tão grande que parecia mover-se em câmera lenta. Um som semelhante a disparos de uma metralhadora emergiu de seu interior, seguido por um relâmpago negro, tão escuro que gravou sua silhueta nos olhos de Daisy. O relâmpago roçou nela, mas foi Schiller quem sofreu o impacto. A luminosidade acertou seu rosto com um estampido, e outro raio serpenteou e golpeou seu corpo como um arpão, desaparecendo tão rápido quanto tinha surgido. O fogo do menino bruxuleou, e ele começou a cair.
— Não! — gritou Daisy, a palavra geminada com uma do anjo, queimando em seus lábios, alvejando a besta como um enorme martelo invisível.
Howie berrou também, seu grito detonando no meio da tempestade. Daisy encolheu as asas, mergulhando atrás de Schiller, vendo-o bater em um fragmento grande, o corpo girando como o de uma boneca de pano. Ela o alcançou com a mente, envolvendo-o com mãos-fantasma, usando o mesmo pensamento para protegê-lo dos detritos voadores. Trouxe-o para perto de si, segurando-o perto dela, quando outro garfo de relâmpago sem luz disparou pelo céu, passando perto o bastante para que ela sentisse seu gélido toque na pele. Schiller não se movia. Ela não podia sequer ter certeza de que ele respirava e, quando espiou dentro do crânio dele, não enxergou nenhum dos pequenos pensamentos bruxuleantes.
A raiva de Daisy esquentou em seu íntimo como um motor, acelerou por sua garganta e explodiu em outro grito. O som que ele fez ao sair de seus lábios foi como o estrondo de um trovão e, quando atingiu o homem, abriu caminho na tempestade e revelou a pele branca e macilenta de seu rosto inchado. A carne parecia derreter, pingando dos olhos como cera de vela. Ela não hesitou, gritando de novo, de novo e de novo, as palavras dela e do anjo em coro:
— Morra, morra, morra!
Ele soltou um gemido ensurdecedor, como o som de um enorme navio afundando no oceano. A tempestade que saía de sua boca praticamente parou, e a cólera em seus olhos foi substituída por algo diferente, algo que poderia ser medo. Ele olhou para ela, para Schiller, para Howie, como se os estudasse, marcando o rosto deles na memória. Em seguida, o céu ficou negro, como se tivesse coberto a si mesmo com a noite.
Daisy só entendeu o que tinha acontecido quando levantou a cabeça e as viu. Asas, duas, produzidas com uma chama tão negra que alguém parecia ter recortado seu contorno para fora do mundo com um par gigantesco de tesouras. Elas irradiavam sua luz negra através do que sobrava da cidade, e Daisy pensou que, se o fogo pudesse apodrecer, essa seria sua aparência. Era horrível, mas, suspensa diante daquilo, com as próprias asas abertas e os próprios olhos em chamas, ela não poderia ignorar a imagem. Podia estar olhando para um espelho: claro, um espelho de brincadeira, daqueles que distorciam seu reflexo, mas ainda assim era um espelho.
A besta baixou as vastas asas. A tempestade ondulou, o fogo da criatura se espalhando, ardendo ao longo do corpo e do rosto. Daisy percebeu o que ela fazia e gritou outra palavra, mas era tarde demais. Com um barulho estrondoso e outro clarão de escuridão ofuscante, a besta desapareceu. O ar logo preencheu o espaço que ela antes ocupava, e tudo o que estava suspenso pela tempestade caiu no poço. Algo enorme passou a milímetros dela, e ela agarrou Schiller, mantendo-o bem perto.
Vamos, disse para Howie. Ele fez que sim com a cabeça, com seu olhar ardendo, e, juntos, sumiram da existência em um piscar de olhos.
Rilke
Londres, 12h57
Não existia mais Londres, só um buraco, como se alguém tivesse arrancado a cidade de um mapa gigante, embora ainda houvesse prédios no limiar do poço. Rilke tinha a impressão de estar vendo a roda-gigante London Eye cambaleando na extremidade, à distância, e também o prédio Shard, ainda que estivesse sem o topo. Porém, tudo o mais havia sumido. Só sobraram ausência e ruínas, um abismo envolto em uma terra devastada. Rilke tinha a sensação de que sua mente estava igual: um abismo enorme onde deveria estar sua sanidade, com todos os outros pensamentos reduzidos a destroços. Ao menos a tempestade tinha desaparecido. O que quer que Schiller tivesse feito, havia funcionado. Tirando a chuva sem fim de poeira e detritos que caía no poço, o céu agora estava limpo.
Por favor, permita que ele fique bem, pensou ela. Por favor, Deus, permita que ele volte para mim.
Fez-se um clarão ao lado dela, que a fez se encolher, mas, quando se virou, era apenas Daisy se materializando. Ela segurava uma figura flácida nos braços, um saco vazio que não podia ser seu irmão. Não podia.
Rilke foi o mais rápido que pôde até ela, derrapando de joelhos ao lado de Schiller. Havia uma ferida enorme em seu estômago, a umidade ali escura como tinta preta, mas pigmentada com filetes de sangue. Ela o abraçou, alisando seu cabelo. Havia apenas uma ou outra madeixa; o couro cabeludo se enrugara e ele estava quase careca. Na verdade, seu rosto inteiro parecia o de um velho, com os olhos inchados e a boca frouxa. Ele não parecia real; parecia feito de papel, o rabisco de um rosto feito por uma criança. Ah, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz?
— Schiller, fale comigo, por favor! Por favor, irmãozinho!
Ao lado dela, Daisy respirou fundo e seu fogo esmaeceu, as asas esvanecendo e fechando-se, até que voltou a ser uma garotinha. Ela cambaleou, e Cal correu até ela, amparando-a antes que caísse. O nariz dela sangrava, e o garoto limpou-o delicadamente. Ela também aparentava ter cem anos de idade. Adam se aproximou dela, capturando sua mão como se fosse uma borboleta. Rilke a odiava, odiava todos eles. E odiava a si mesma, acima de tudo. Como podia ter sido tão tola?
— O que você fez com ele? — disse ela, apertando o irmão contra o peito. A emoção batia em suas costelas com punhos de ferro, gritando para poder sair, mas ela a trancou, a dor na garganta dando a impressão de que engolira vidro. — O que você fez com ele, Daisy?
— Pare com isso, Rilke! — falou Cal. — Você viu o que aconteceu; ele nos salvou, salvou todos nós.
Rilke acariciou o rosto do irmão com força suficiente para sulcar a pele pálida. Sacudiu-o enquanto o chamava, mas ele tinha o olhar vidrado e perdido ao longe. Onde está você, Schill?, ela perguntou. Saia daí agora mesmo.
— Aquela coisa morreu? — veio uma voz de trás dela. Rilke se virou e deu com Brick surgindo do alicerce de um prédio, fungando poeira pelo nariz. — Você a matou?
— Não — respondeu Daisy. Certa dose de cor voltou às suas bochechas, fazendo as rugas desaparecerem. Ela se sentou, apoiando a mão no peito de Cal, ainda ofegante, respirando fundo. Fez-se outro clarão e, de repente, o outro garoto estava com eles, os braços se agitando no ar enquanto lutava para recuperar o equilíbrio. Não teve sucesso e caiu de joelhos, olhando ao redor, em choque. Daisy sorriu para ele. — Howie, tudo bem?
— Acho que não — respondeu ele após um instante, deixando-se deitar. — Acho que bebi rum demais.
Rilke puxou o irmão pela camisa, apertando-o com tanta força que achou que os dedos fossem quebrar. Como ele ousava brincar enquanto o irmão dela estava ali, à beira da morte?
— E agora? — disse Brick.
— Acho que a tempestade só mudou de lugar — falou Daisy. A garotinha enxugou o rosto com o dorso da mão, fazendo das gotículas de sangue uma horrenda máscara para os olhos. — Assim como nós, ela se transportou.
— Para onde? — perguntou Brick.
— Para a Califórnia — gritou o homem, aquele que tinha aparecido de moto, ainda à distância na rua. Ele tinha dito seu nome antes, mas Rilke não se importava. Ele era um deles, um dos humanos, e Schiller deveria tê-lo matado, assim como havia matado a mulher. Mas isso é errado, Rilke, argumentou seu cérebro. Você estava errada, lembra? Errada a respeito de tudo. Ela mandou aquele pensamento embora, observando o homem enquanto ele fechava o celular. Estava coberto de pó, parecendo um fantasma à bizarra luz alaranjada do dia em ruínas. — Aquela coisa apareceu nos Estados Unidos, acabam de confirmar!
— Cal, quem é ele? — perguntou Daisy.
— Acho que é um amigo — respondeu Cal. — Pessoal, este é Graham. Graham, este é nosso pessoal.
O homem acenou com a cabeça, franzindo o rosto.
— Vocês se importam em me dizer o que está acontecendo? — perguntou ele. — Quem são vocês?
— Apenas garotos — respondeu Daisy. — Mas somos outra coisa também.
— Cale a boca! — berrou Rilke, a raiva parecendo tão viva dentro dela que se perguntou se não seria seu anjo. Os dois tinham de estar conectados. — Vocês todos, calem a boca! O meu irmão precisa de ajuda!
Schiller parecia estar afundando em si mesmo, desinflando. Rilke o puxou para si, os soluços enfim irrompendo da prisão de sua garganta, derramando-se da boca dela como vômito. Não era mais capaz de detê-los; não conseguia respirar, forçando-se a sugar grandes lufadas de ar entre gritos estrangulados. Não suportava ser tão fraca.
— Ajudem ele! — disse ela para ninguém e para todos. — Não sei o que fazer! Ele vai morrer!
— Pois é. E de quem é a culpa? — disse Brick para ela, agachando-se e cuspindo uma bolota de secreção enegrecida. — Foi você que o trouxe aqui.
Rilke quis matá-lo. Enxugou as lágrimas, mas elas continuaram a escorrer, e ela enfiou o rosto na umidade da barriga de Schiller, para que ninguém as visse. Ele cheirava a cobre e fuligem; a algo velho, a um objeto antigo que houvesse sido descoberto. Queria poder entrar nele, trancar-se em seu sangue. Desse jeito, não o deixaria morrer.
— Eu tinha tanta certeza — disse ela.
— E estava tão errada — murmurou Brick.
— Tudo bem, Brick — falou Daisy. A voz dela estava próxima e, quando Rilke levantou a cabeça, viu a menina perto dela, a mão repousando na testa de Schiller. Não queria que Daisy o tocasse, mas não encontrava forças para objetar. — Schiller, está me ouvindo? É Daisy.
Não houve resposta; ele podia já ser um cadáver. Daisy ergueu a cabeça, e Rilke percebeu que ela ainda falava com ele, mas com a mente. Olhou aquilo horrorizada, como se fosse ela que estivesse sangrando. Puxou-o para ela, repousando a cabeça dele em seu joelho.
— Estou falando sério, Schiller — disse Daisy. — Não se assuste. Eles vão cuidar de você.
— Do que você está falando? — perguntou Rilke. — Eu vou cuidar dele, só eu e mais ninguém, está me ouvindo?
Daisy não tirava os olhos de Schiller. O menino tossiu outra vez, e seus olhos opacos se desanuviaram. Ele olhou para Daisy, depois para Rilke.
— Está tudo bem, Schill — falou Rilke. — Você vai melhorar.
Você vai fazer o que eu mandar, ela lhe disse com a mente. Ele sempre tinha feito o que ela mandava, sempre. Rilke não era capaz de se lembrar de uma única vez em que ele a tivesse desobedecido; nenhuma vez em todos aqueles anos juntos. Porque ela sempre fazia o que era melhor para ele. Era função dela cuidar dele, e ele sabia disso, confiava nela. Você não vai morrer, não vou deixar. E então ela se deu conta da ideia insuportável de ficar sem ele. Porque nunca tinham passado um dia sequer separados, nem um único dia. Ele era tão parte dela quanto seu próprio coração, seus próprios pensamentos. Incubados juntos, nascidos juntos, tinham vivido juntos, eram um só. Porque não posso viver sem você, Schill. Não consigo. Então, descanse, melhore, e voltaremos às coisas como eram antes.
Ele sorriu para ela. Rilke visualizou a vida se esvaindo dele, e mais daquele fluido de um negro viscoso saiu de sua barriga, como se seu sangue tivesse sido envenenado. Ele abriu a boca para falar, mas, em vez disso, vomitou um jato escuro. Seu corpo era uma enorme coisa quebrada que ele não conseguia mais controlar; que ela não conseguia mais controlar.
— Schiller! Não! — gritou Rilke. Pegou o queixo dele, erguendo-o. — Não vou deixar você morrer, está me ouvindo? Você não vai me deixar.
— Não estou com medo — disse ele em um sussurro gorgolejante. — Não dói.
— Mas eu preciso de você, irmãozinho — disse Rilke. — Eu te amo.
A resposta dele não foi uma palavra, mas um pensamento — um pensamento emitido com tanta força que Rilke o sentiu. Era dourado, luminoso, repleto do aroma de lavanda e dos livros velhos que havia na biblioteca de casa, o lugar onde passavam dias e mais dias lendo um para o outro, brincando de esconde-esconde, e, depois, onde ela se escondia das coisas ruins, onde o irmão cuidava dela; algo tão maravilhoso que parecia soprar para longe os últimos vestígios de escuridão da cidade. De repente, era verão de novo, quente, silencioso, cheio de um riso que era sentido, mas não ouvido. Por que não podiam estar lá, no assento perto da janela da mãe, as pernas dela repousando nas dele enquanto contavam as histórias do que fariam ao sair de casa? Não, isso nunca. Rilke afundou a cabeça no peito de Schiller, abrindo caminho como se pudesse arrancar a doença dali. Schiller conseguiu erguer a mão, colocando-a na nuca dela, a pele dele tão fria que era como se estivesse congelando de novo.
— Eu sinto muito — soluçou ela. — Sinto muito mesmo.
Não precisa se desculpar, disse ele, e ela entendeu que seria a última vez que ouviria sua voz. O corpo de Schiller estremeceu, a mão se afrouxando e escorregando, batendo contra o chão. Ele inspirou pela última vez, mas não havia em seus olhos nem medo nem tristeza, só um lampejo de alívio e, em seguida, absolutamente nada. Um gotejar de chamas ardeu no peito dele, subindo, crescendo, voando para cima com as asas abertas, uivando enquanto se esvanecia na luz. O fogo pareceu dilacerar a raiva dela em suas entranhas, porque Rilke viu-se de pé, gritando para ele:
— A culpa é sua! Você fez isso com ele! Desgraçado! Desgraçado!
Mas ele já tinha sumido. Ela se voltou para Daisy, depois para Cal, e, em seguida, para Brick, querendo matar todos eles, socá-los até que morressem por terem matado Schiller. Porém, sem ele, Rilke era apenas meia pessoa, meia alma, e não conseguia se equilibrar. Cambaleou e caiu ao lado do corpo do irmão, agarrando-se a ele como se pudesse ressuscitá-lo, tremendo à medida que o calor de seu gêmeo partia com o anjo rumo ao céu que clareava.
Cal
Londres, 13h12
Pareceu ter passado uma eternidade antes que alguém dissesse algo. Cal se levantou e ficou olhando para Rilke enquanto ela soluçava abraçada ao irmão morto. Exceto por ela, o único som era o bate-bate dos detritos que despencavam do céu, dando a impressão de uma chuva de granizo.
— Sinto muito — disse Daisy. Ainda estava ajoelhada no chão junto a Rilke e Schiller, com a mão no peito do menino. — Sinto muito, muito mesmo, Rilke.
Rilke não respondeu: seus os olhos escuros e pequenos encaravam algo que ninguém mais podia ver. Daisy olhou para Cal, que abriu um arremedo de sorriso e estendeu as mãos para ela. Daisy se levantou com esforço e correu para ele, abraçando-o com força, os delicados soluços dela arrebentando contra o peito do garoto.
— E agora? — perguntou Brick. Ele chutava fragmentos de pedra no chão, as mãos enfiadas nos bolsos. — Acabou, enfim. Quer dizer, para nós.
— Não — falou Daisy, enxugando os olhos. — Precisamos ir atrás dele. Ele não morreu.
Os olhos de Brick se arregalaram, e ele fez que não com um gesto de cabeça.
— De jeito nenhum. Fizemos nossa parte. Mandamos aquilo para longe. Agora os outros que se virem com a situação.
— Não tem mais ninguém para fazer isso, Brick — respondeu ela. — Só a gente.
— Mas quem são vocês? — perguntou Graham, o sujeito da moto. Ele ainda estava do outro lado da rua, logo atrás do limiar invisível da Fúria. Ficava olhando nervoso para o céu, o celular aberto na mão. — Não consigo entender.
— Bem-vindo ao clube — respondeu Brick.
— Você não acreditaria se a gente contasse — acrescentou Daisy.
O homem mais fungou que riu.
— Não acreditaria que vi você em chamas, com asas, voando lá no alto e enfrentando... o que era aquela coisa? Vamos ver se eu acredito ou não. Minha mente agora está mais aberta do que estava de manhã.
— Não importa o que somos — disse Daisy. — Importa o que precisamos fazer. Estamos aqui para detê-lo.
— Mas o que é aquilo?
— O mal — falou Marcus, a voz vindo de onde se encontrava encolhido no chão. — É Lúcifer, o demônio.
Porém, “o mal” era o termo errado, pensou Cal. Aquilo era mais um buraco negro, sem mente, mecânico, devorando matéria e luz, até que não sobrasse nada. Só não disse isso porque pareceu muito idiota.
Graham negou com um gesto de cabeça.
— Estão me dizendo que vocês são os mocinhos? — perguntou ele.
Cal pensou na polícia em Hemmingway, nas dezenas de policiais transformados em cinzas. Olhou para a cidade, observando o poço que fora escavado bem no meio dela — com mais de quinze, talvez mais de vinte quilômetros, e só Deus sabe com que profundidade —, aberto durante uma batalha entre os anjos e a tempestade. Quantas pessoas haviam morrido por conta disso? Um milhão? Não tinha sido culpa deles, mas Schiller, Daisy e o novo garoto não tinham exatamente economizado na força do ataque.
— Sim — disse Daisy. — Somos.
Graham pareceu ruminar isso por um instante, e, em seguida, colocou o telefone no ouvido, falando bem baixo para que Cal não o ouvisse.
— É sério — reclamou Brick. — Não é mais problema nosso.
Graham agora berrava, com as bochechas vermelhas de raiva.
— Esta pode ser nossa única chance — falou o homem. — Está disposto a apostar tudo nisso? General? General?
Ele fechou o telefone com força, andando de um lado para o outro. Olhou para o céu, protegendo os olhos do sol, cada vez mais brilhante.
— Ok. Temos um problema. Precisamos ir para o subterrâneo. Tem uma estação de metrô aqui perto; ela vai nos proteger até as equipes de proteção contra radiação chegarem.
— Proteger do quê? — perguntou Daisy. — Acho que a tempestade não vai mais voltar. Acho que a gente deu um susto nela.
— Não da tempestade — disse Graham. — De uma bomba nuclear.
— Do quê? — perguntou Cal.
— De um ataque nuclear tático contra a cidade. O alvo principal era a tempestade, mas estão mirando em vocês também. Eles acham que vocês são parte disso.
— Mas por quê? — disse Daisy, desvencilhando-se de Cal.
— Por causa do que aconteceu no litoral. Vocês destruíram uma cidade inteira lá. Ela simplesmente sumiu do mapa.
— Mas não foi a gente — falou Daisy, olhando para Rilke. — Foi... Foi um acidente. Não foi culpa nossa.
— Não sou eu que decido — afirmou o homem. — O ataque já foi lançado. Temos minutos. Vamos!
Ele voltou pelo caminho de onde viera, mas ninguém o seguiu.
— Rilke, o que foi que você fez? — perguntou Cal. — Você acabou com uma cidade inteira? — Ela não respondeu, nem parecia ouvi-lo. — Meu Deus!
— Deixe-a em paz, Cal — falou Daisy. — Não foi culpa dela.
— Não foi culpa dela — repetiu Brick. — Ela é uma psicopata, vocês já esqueceram? Deixem-na aqui; deixem essa maluca fritar.
— Estou falando sério — disse o homem, olhando para trás. — Vocês podem conversar quando estivermos no metrô, mas, se não começarem a se mexer agora mesmo, todos vão morrer.
— Não — disse Rilke. — Não vamos.
Ela se levantou lentamente, alisando a roupa em uma tentativa de tirar o sangue e a terra que a enlameavam. Havia algo em seus olhos, algo que ardia. Virou-se para o homem, depois para Daisy.
— Você consegue encontrá-la? — perguntou ela.
— A tempestade? — Daisy arrastou o pé no chão. Estava faltando um dos pés de calçado, reparou Cal. — Não sei. Acho que sim. Por quê?
— Porque vou exterminá-la — falou ela. — Ela vai morrer por causa do que fez com o meu irmão.
— Escutem — disse Graham. — Se não formos embora, não vamos sobreviver.
— Ele tem razão — falou Brick, indo aos tropeços atrás do homem. — Precisamos ir com ele.
— E depois? — perguntou Cal. — Vamos nos esconder? E o que é que você vai fazer quando ele começar a tentar arrancar a sua cara?
Brick parou, sem saber o que fazer. Soltou um palavrão, pegando uma pedra e lançando contra o que restava de uma casa.
— A gente devia ir, devia terminar isso — disse Cal. — Você viu do que é capaz, Daisy. Você assustou aquela coisa. Feriu ela, acho. Algo que pode ser ferido pode morrer, não pode?
— Acho que sim — respondeu Daisy. — Acho que ela fugiu porque a gente podia matá-la.
— Então vamos fazer isso — disse Rilke, aproximando-se de Daisy. — Leve-nos até ela.
— De jeito nenhum — falou Brick. — Você é maluca.
Algo rosnou acima, uma trovoada distante. O coração de Cal pareceu parar por um segundo, porque pensou que a tempestade tinha voltado. Então se deu conta de que era outra coisa, talvez um avião, ou um míssil. O barulho ia aumentando, rasgando um caminho no céu.
— Chegou a hora — disse Graham. — Última chance.
Rilke olhou para Cal, o semblante dela tomado por uma fúria selvagem. Havia uma pergunta ali, tão nítida quanto se a tivesse enunciado. Você vem? Que escolha ele tinha, na verdade? Se não enfrentassem a tempestade, cedo ou tarde o mundo inteiro ficaria daquele jeito. Fez que sim com a cabeça. Rilke voltou-se para Marcus, que abriu um ligeiro sorriso.
— Estou dentro! — falou ele.
— E eu também! — concordou Howie. — Vamos acabar logo com isso.
Todos se viraram para Brick, o barulho no céu aumentando a cada instante. A bomba não precisava atingir o chão, Cal sabia. Seria detonada acima da cabeça deles, onde causaria o máximo de estrago. Quanto tempo tinham? Um minuto? Cinco? Brick devia estar pensando a mesma coisa, porque soltou outro palavrão.
— Certo — disse ele. — Vamos fazer do seu jeito.
— Vá logo! — Daisy falou para o homem. — Antes que seja tarde demais!
— E quanto a vocês? — respondeu ele. — Vocês precisam ir para o subterrâneo também, para um lugar seguro!
— A gente vai ficar bem — falou ela. Fechou os olhos, as chamas se espalhando lentamente a partir do peito, as asas se estendendo como as de um cisne ao despertar. — Diga a eles que estamos do lado deles — continuou, o fogo frio chegando ao seu pescoço. — Diga a eles que estamos tentando ajudar. E obrigada pelo aviso.
O incêndio a envolveu e, quando abriu os olhos, era como se fossem as janelas de um grande navio em chamas. O ar vibrava perante sua força, aquele mesmo zumbido de anestesiar a mente, mas, ao fundo, o rugido de um avião ficava cada vez mais alto.
— Tem certeza? — perguntou Brick. — Quer dizer, a gente poderia apenas...
Daisy não o deixou terminar, apenas ergueu os braços e virou o mundo do avesso. O estômago de Cal revirou. Viu Marcus desaparecer, depois Adam, e, em seguida, Howie. Rilke também, com um último olhar de partir o coração para o corpo do irmão. O homem, Graham, foi levado com eles. Na hora em que partiram, algo explodiu acima, com uma luminosidade que parecia ainda mais forte do que a de Daisy, uma explosão sem som que deixou o céu prateado. Cal viu o estrago que a bomba causou ao explodir, uma reação em cadeia que destruía tudo. Um anjo teria sido capaz de resistir àquilo? Será que teriam sobrevivido se não tivessem sido avisados?
Depois não houve nada além da vertigem e do turbilhão do éter, além da terrível constatação do que os aguardava do outro lado.
Daisy
Londres, 13h26
Desta vez, ela manteve os olhos abertos.
Era como quando o pai costumava fazê-la voar, quando era criança. Ele a segurava com força, as mãos enormes envolvendo as dela, e, em seguida, ele a girava em um rodopio, erguendo-a no ar. Das primeiras vezes, ela tinha fechado os olhos, com medo de olhar, apesar da emoção. Mas, quando teve certeza de que ele não a soltaria, mandando-a em um voo por sobre o telhado de casa, ela os abriu, vendo o mundo se mover tão rápido que ficava só um borrão — a única coisa constante era o rosto sorridente do pai, que girava com ela. Ela era a lua da gravidade dele; sabia que, por mais rápido que ele fosse, ela nunca se soltaria dali.
Não era o pai que a prendia agora, era o anjo, e, enquanto ela escapava do mundo, desprendendo-se das gotas de realidade como um cão que se sacode após nadar, teve a impressão de vê-la. Era como se o mundo fosse feito de areia colorida espalhada por um furacão. Na hora em que ela saiu do tempo — com Cal, Brick, uma pobre coitada e perdida Rilke, e os demais ao lado —, a paisagem foi completamente apagada. A luz branca que Daisy vira, aquela que ardia no céu, mais forte do que o sol, mais forte até do que a luminosidade dos anjos, era uma bomba, deu-se conta, enfim. Espiou seu próprio coração com os novos olhos, viu os átomos colidindo, a força que explodia de cada um enquanto a reação se espalhava. A explosão tentou alcançá-los, mas — graças àquele homem e a seu aviso — já tinham escapado pelas fendas, passado para um lugar onde nada, nem mesmo uma explosão nuclear, poderia lhes fazer mal. Pouco a pouco a luz se apagou, a cidade destroçada desapareceu, deixando-os suspensos em um local vazio e silencioso.
Mas não por muito tempo. Logo sentiu os dedos da realidade esgueirando-se por suas costelas, pela barriga, do mesmo jeito que você sente a gravidade tentando puxá-lo para baixo. A vida os queria de volta; ela não gostava nem um pouco quando arrumavam um jeito de se desvencilhar dela. Daisy concentrou-se, mantendo os olhos abertos — fazer isso parecia desacelerar o processo, dando-lhe mais tempo para pensar. Agora não havia em volta dela nada além de escuridão, mas era um tipo estranho de escuridão, que também era luz — podia ver os outros flutuando a seu lado, como se estivessem todos afundando. Estavam com os olhos fechados, mas, mesmo que não estivessem, ela achava que não seriam capazes de enxergá-la. Não é igual para eles, pensou ela. Isto acontece num piscar de olhos, em uma única batida do coração. Era engraçado vê-los daquele jeito, como se dormissem, e Daisy quase deu uma risada.
Até que sentiu. Uma perda súbita. Jade, pensou, vendo a garota por um instante em uma floresta cercada de soldados. Em seguida, o som de um tiro, e mais nada. Sinto muito, disse ela, seu anjo outra vez anestesiando a tristeza.
O mundo em volta dela vibrava, bem de leve, apenas um ligeiro roçar no ar, na pele dela. O tremor ia ficando mais forte, mais insistente. Era o universo, ela percebeu; eles corriam o risco de fragmentá-lo. As pequeninas engrenagens giratórias da realidade não tinham sido feitas para mantê-los ali. O que aconteceria se ela resistisse por mais tempo? Talvez o tempo e o espaço se fechassem atrás dela, encerrando-os para sempre, trancafiando-os dentro daquele bolsão de nada. A ideia assustou-a, então começou a relaxar a mente, pronta para deixar a vida puxá-la de volta.
Só que... alguma coisa a deteve, outra ideia. Vasculhou na cabeça, na alma, atrás do anjo que agora vivia ali, mas ele não reagiu, não pareceu notá-la, o que não era de surpreender. Esses anjos não eram anjos de jeito nenhum, não aqueles anjos sobre os quais tinham lhe falado. Pareciam mais bichos, algo assim. Não, pareciam mais máquinas. Não sabiam se comunicar, pensou ela. Talvez nem soubessem que a comunicação era uma possibilidade. Eram absolutamente obstinados, construídos para um propósito: combater o homem na tempestade em qualquer lugar e ocasião. Tudo o mais lhes era alheio, incognoscível. Tinham sido programados para defender a vida, mas sequer conheciam a mágica, a maravilha daquilo por que lutavam. Se isso era verdade, pensou ela, era horrível.
As vibrações em volta dela pioravam, fazendo seus dentes rangerem ainda que tivesse total certeza de que ali, naquele lugar, ela não tinha dentes. Os outros se agitavam onde estavam suspensos, em pleno ar, parecendo lençóis secando ao sabor de um vento forte, os rostos ficando distorcidos e estranhos. Daisy diminuiu a força com que se agarrava ao éter, permitindo-se escorregar de volta para o mundo, só se ancorando de novo quando sentiu algo mover-se dentro do peito. O anjo... Será que o anjo estava querendo lhe dizer alguma coisa? Ou será que estava só se mexendo ali, do mesmo jeito que ela costumava se mexer quando estava em um carro numa viagem longa, tentando achar uma posição confortável?
Me diga, pediu ela. Pode falar comigo, sou sua amiga. Me diga quem você é, por favor.
Uma coceirinha dentro da alma, uma sensação que era indolor mas, ao mesmo tempo, desagradável, como se ela tivesse penas crescendo na medula óssea. Era dessa maneira que eles falavam? Daisy se sentia como uma das formigas que o pai tinha aspirado. Até onde sabia, aquelas criaturas podiam estar tentando chamá-los, falar com eles. Mas como pode uma formiga se comunicar com um humano, e como poderia um humano se comunicar com um anjo? Era impossível.
No entanto, surgiu subitamente um pensamento em sua cabeça, uma sensação. Era desconfortável também, penas que coçavam, eriçando-se na carne de seu cérebro, mas ela parecia entender a tradução. Esse lugar, esse lugar horrendo, vazio, que tremia, congelante, rangente, perdido no tempo, era o lar. Era ali que os anjos viviam até que fossem convocados para a luta, e era para lá que voltavam quando a guerra terminava. Não havia vida, não ali, nem felicidade, nem diversão, nem família, nem amizade, só lampejos de dever imersos em zilênios de nada.
É isso mesmo?, disse ela, com a sensação de que as vísceras tinham sido removidas e jogadas fora. Essa ideia era terrível, insuportável. Mas o anjo não disse mais nada, não de um jeito que ela conseguisse entender. Coitado. Coitado, tão sozinho. Queria poder fazer algo. Queria poder ajudar você. Você pode ficar comigo para sempre, se quiser. Prometo que nunca mais mando você para cá.
E, assim que disse essas palavras, desejou não tê-las dito, porque não falava realmente a sério. Depois disso — se houvesse depois; se sobrevivesse e houvesse um mundo onde viver —, queria voltar para sua vida, para... talvez não para sua casa, porque isso seria triste demais. Mas havia outros com quem ela poderia viver, talvez a avó, ou com Jane, irmã da mãe. Ao menos poderia tentar ser normal de novo, e, após algum tempo, quem sabe, talvez isso tudo fosse parecer uma memória distante, apenas um sonho. Poderia voltar para a escola, ir para a universidade, casar-se, ter filhos e ser uma pessoa normal, ser simplesmente Daisy. Porém, nada disso seria possível se tivesse um anjo dentro de si, se a qualquer momento pudesse se incendiar e transformar o planeta em cinzas.
Afastou aqueles pensamentos, na esperança de que o anjo não tivesse ouvido sua oferta, ou ao menos não a tivesse entendido. Arrancando do mundo os ganchos da mente, deixou-se cair, sentindo os ouvidos tamparem-se com a mudança de pressão. Os outros caíam junto, aquelas pequenas chamas azuis ardendo no peito de todos. Quer dizer, todos menos Brick. A chama dele tinha crescido, espalhando-se pelos ombros e descendo para a barriga.
Ele é o próximo, pensou Daisy enquanto a descida deles se acelerava, o rugido do vento nos ouvidos, o estrondo da queda fazendo os ossos chacoalharem. Fechou os olhos outra vez contra a vertigem, contendo-se ao máximo para não gritar. Era assustador, mas ela também sentia outra coisa, algo diferente — entusiasmo. Era uma sensação tão peculiar, aliada ao medo, que precisou de um instante para entender que a sensação não era dela, mas, sim, do anjo — a emoção da fuga, de sair daquele lugar, de nascer outra vez no mundo. O que quer que estivesse dentro dela — sobrenatural, anjo ou máquina cósmica intemporal projetada para manter o equilíbrio do universo — estava ansioso, desejoso, queria estar longe dali.
Com o fim da queda, com o mundo recuperando sua forma ao redor, Daisy outra vez desejou não ter dito o que dissera. E se, quando tudo terminasse, o anjo não quisesse ir embora?
Brick
São Francisco, 13h26
Quase na mesma hora em que os destroços da Londres esburacada tinham desaparecido, outra paisagem apareceu, envolvendo Brick com força suficiente para fazê-lo cambalear. Foi para trás, tropeçando nos próprios pés, a luz do sol como um punho esmurrando seu rosto. Seu estômago revirou, o jato azedo acumulando-se na boca enquanto o garoto caía. Caiu sentado, cuspindo, gemendo por entre os lábios úmidos e tentando ver além da umidade nos olhos.
Estavam em uma floresta, num pinheiral que, à primeira vista, parecia tão semelhante ao de Hemmingway que Brick teve um lampejo de saudade, quase de partir o coração. Porém, não demorou a perceber que ali as árvores eram maiores, e balançavam com força por causa da onda de choque criada pela chegada de Daisy. Os galhos se soltavam, desabando no chão; vinte, trinta segundos passaram-se antes que tudo ficasse imóvel. Uma brisa vagava pela quietude da penumbra, carregando a fragrância das coníferas. Através das árvores, Brick viu que o sol estava mais baixo, como se fosse manhã, e perguntou-se aonde Daisy os teria levado. Os outros estavam espalhados pelo solo da floresta, todos limpando o resquício de vômito dos lábios, menos Daisy e Howie, o novo garoto.
Brick se levantou, ignorando o modo como o mundo parecia girar. Não entendia nada do que estava acontecendo, mas tinha certeza de que ser repetidas vezes desfeito e refeito em átomos não devia fazer nada bem. A verdade era que não estava mesmo se sentindo muito bem. Havia algo de errado em seu estômago. Colocou a mão nele, tendo a sensação de que faltava um pedaço, um pedaço que fora deixado em Londres. Não doía, só era esquisito. Essa ideia, de estar danificado, deixou-o com raiva. Ou, ao menos, deveria tê-lo deixado. Porém, estranhamente, aquilo apenas lhe inspirava calma.
— Onde estamos? — perguntou Cal, levantando-se com dificuldade.
Daisy, outra vez apenas uma menina, deu de ombros, mirando a floresta com uma expressão confusa. Adam correu até ela, e ela o abraçou.
— Eu... não sei. Achei que seríamos levados para onde ele estava.
Brick olhou através das árvores, esperando ver o céu escurecer, mas havia apenas a luz do sol e o canto dos pássaros.
— Talvez você o tenha matado — disse ele. — Talvez seja o fim.
— Não — respondeu Daisy. — Não matamos. Os anjos teriam ido embora se o homem na tempestade estivesse morto.
Por que ela parecia tão nervosa ao dizer isso?
— Talvez eles tenham ido embora — falou Brick. — Como sabe que eles não voltaram para o lugar de onde vieram?
Daisy fechou os olhos e, quando os abriu de novo, eram duas poças de metal fundido tão brilhantes que Brick precisou erguer o braço para proteger a vista.
— Nossa! — Foi tudo o que ele conseguiu dizer.
— Vou dar uma olhada por aí — disse Daisy, desvencilhando-se de Adam.
Brick ouviu o ssshhh do fogo quando ela se virou, seguido do bater lento e vigoroso de asas. Entreviu-a, em meio à pele imunda e sardenta do braço, ardendo pelos galhos. Era como ver o sol nascer, e logo ela estava suspensa contra o azul, a coisa mais brilhante no céu. Brick mirou Cal, depois Marcus e Howie, e, enfim, Rilke, que estava ajoelhada no chão, encolhida, seus olhos eram duas pedrinhas escuras que não piscavam. Perguntou-se se deveria dizer algo a ela, mas achou melhor não. Por mais que Rilke fosse má, acabara sentindo pena dela. Não devia ser nada fácil saber que você tinha provocado a morte do próprio irmão.
Por outro lado, ela tinha dado um tiro em Lisa, assassinado sua namorada bem embaixo do seu nariz. Esfregou a barriga, perguntando-se o que seria aquilo que lhe causava aquela sensação tão esquisita. Era quase uma sensação de alívio.
— O que aconteceu com aquele homem? — perguntou Cal. — Graham. Ele não veio junto?
— Pois é — disse Marcus. — Veio. Acho que aquilo é ele.
O desengonçado garoto apontava para o espaço entre duas árvores, e, quando Cal se virou e olhou, levou a mão à boca, engasgando. Brick aproximou-se deles, curioso, espreitando as sombras e vendo um amontoado vermelho, pequeno e úmido, como o embrulho que um açougueiro lhe daria. Só que esse tinha o que parecia metade de um rosto junto, e uma cordilheira de dentes enterrada em uma órbita sem olho. Afastou-se, fechando os olhos com força.
Cal soltou um palavrão.
— Mas que droga aconteceu com ele?
— Ele não era um de nós — disse Rilke, sussurrando as palavras para a terra. — Não podia sobreviver a isso, e se desfez.
Ninguém falou nada por alguns instantes, e, em seguida, Cal pediu:
— Bem, não contem para Daisy. Acho que ela não lidaria muito bem com isso.
Brick não se preocupava mais com Daisy, não mais. Ela parecia capaz de enfrentar qualquer coisa. Ele, por outro lado... Achava que mais uma reviravolta, mais um horror, poderia ser a última gota; poderia arrancar tudo o que sobrava de sua sanidade e fazer da sua cabeça uma tigela vazia. E, no entanto, não sentia medo, não sentia praticamente nada naquela hora, o que o desconcertava.
— Vou cobrir isso — disse Marcus, andando em círculos até achar um galho solto, usando-o para cobrir o cadáver deformado do homem. Recuou com rapidez, limpando as mãos nas calças.
O rosto do homem não era mais visível, mas Brick podia vê-lo em sua cabeça, claro como o dia. Imaginou que provavelmente o veria para sempre, até o fim. E, de novo, não havia uma sensação, mas a ausência dela, algo que não conseguia entender direito. Um pedaço dele que tinha estado ali até onde se lembrava agora havia sumido. Dessa vez, levantou a camiseta e cutucou de verdade a barriga suja de terra.
— Está com fome? — perguntou Howie, o novo garoto. Brick deixou cair a camiseta e o encarou. O garoto tinha uns treze ou catorze anos, e, mesmo que tivesse se transformado, sua pele ainda estava marcada por hematomas e cortes. — Deus sabe que eu poderia bater um enorme prato de qualquer coisa agora mesmo. Será que tem algum lugar aqui perto onde a gente possa comer?
— Como você pode estar com fome? — perguntou Cal.
— Comer é necessário — disse Howie.
A floresta ficou mais brilhante com o retorno de Daisy, seu fogo sugado de volta para os poros na hora em que pousou. Ela balançou a cabeça, e o motor dos olhos foi desligando.
— Estamos no alto de um grande declive — disse ela, apontando para a esquerda. — Tem uma cidade para o lado de lá, com muitos morros e uma torre pontuda. E o mar. E também uma grande ponte laranja. Não vejo nenhum sinal do homem na tempestade.
— Ainda acho que você assustou de vez aquele canalha — disse Brick, estremecendo. — Você arrancou a cara dele. Acha que tem volta depois disso?
Como ninguém respondeu, ele levantou a cabeça e viu que todos o olhavam. Daisy tinha um sorriso suave nos lábios. Ele franziu o rosto para ela, preparado para aquela raiva fervilhante surgir do estômago, quase decepcionado quando isso não aconteceu. Só havia aquela mesma calmaria em sua barriga, aquela sensação de vazio. Entendeu de repente: a raiva não estava mais ali. Deu um tapa na barriga, como se alguém tivesse lhe tirado um rim. A raiva era tão inerente a ele que era quase assustador não senti-la.
— Que foi? — perguntou ele, com todos ainda o mirando. — O que aconteceu?
— É você — disse Cal. — Olhe.
Ele não queria, mas que escolha tinha? Levantou a camiseta outra vez, e a pele ali estava azulada. Poderia ter sido a terra, só que havia um brilho brando, um cintilar sutil quando a luz batia. Colocou a mão, sentindo que era frio. Esfregou a pele, soltando flocos de gelo.
— Não! — disse, esperando o medo, a raiva, qualquer coisa. Porém, seu estômago estava vazio, sua cabeça estava vazia. Aquilo era ainda pior do que o gelo que lentamente subia por suas costelas, que se esticava das pontas dos dedos como uma infecção, transformando suas mãos em pedra, porque ele não ligava de verdade para o corpo. Nunca tinha gostado dele: era alto demais, com um rosto agressivo demais. Mas a raiva... era o que ele era, era o que o fazia ser Brick. Tirando isso, o que sobrava?
— Apenas se entregue — disse Daisy, aproximando-se dele. — Sei que é assustador, mas eles vieram ajudar. Eles vão cuidar de você, mantê-lo em segurança.
— Como fizeram com Schiller? — retrucou Brick, os lábios frios demais para dar a devida forma às palavras. Tinha a sensação de que saíra para uma tempestade de neve, a pele congelada, rígida como plástico. Cambaleou, batendo em uma árvore, tentando levar as mãos ao rosto, ou virar a cabeça. Os outros perderam a nitidez, e o mundo ficou cinza. Por que aquilo estava acontecendo? Não precisava ser ferido primeiro? Como Schiller, como Howie?
As coisas estão se acelerando, disse Daisy, a voz dela no centro do cérebro dele. Porque não há muito tempo. Não se assuste, Brick, estou aqui.
Ele sentiu que estava caindo, nenhuma dor ao pousar na grama espinhenta da floresta. Não sabia se olhava para cima ou para baixo. Uma rajada de pânico provocou um baque em seu coração, um rápido lampejo de raiva, tragado com rapidez pela mesma calma avassaladora.
Não resista, disse Daisy.
Ele resistiu, tentando reavivar a raiva, como um piloto em queda livre tentando religar um motor morto. Outra explosão seca, branda demais, breve demais para combater a paralisia. Tentou de novo, e, desta vez, reuniu forças para abrir os olhos. Ficou de pé com dificuldade, tropeçando em direção à luz, sem se importar para onde estava indo, querendo apenas se mexer, se afastar. Deu três passos antes de perceber que não estava mais na floresta. Se deu conta de que não tinha mais pés. Estava suspenso dentro de um palácio de gelo, as paredes mudando de lugar constantemente, preenchidas com a vida dos outros. Era o mesmo lugar que havia visitado nos sonhos ao adormecer na igreja.
Virou-se, em busca de uma saída, encontrando-se face a face com Daisy. Ela estava envolvida em fogo, o corpo como uma teia cintilante de luz, o rosto saído de um sonho, não exatamente real, não exatamente capaz de manter sua forma. As asas arquearam-se acima da cabeça dela, erguendo-se como uma fonte de fogo, cuspindo faíscas derretidas em azul, vermelho e amarelo. Ela estendeu para ele uma mão que não era realmente uma mão, fria contra o rosto dele.
Você confia em mim, Brick?
Ele não respondeu, só ficou encarando-a, encarando a criatura que a tinha possuído. Tudo nela emanava poder — uma energia pura, impoluta, concentrada. Se quisesse, ela poderia arrebentar o mundo, fazendo dele fragmentos de poeira e sangue, e, no entanto, não havia nada naquele ato que prenunciasse violência, raiva, ódio.
É porque eles são bons, disse Daisy.
Não, eles não eram bons. Não havia nada neles, assim como não havia emoção em uma arma nem em uma bomba, só uma coleção de partes móveis que faziam o que quer que lhes mandassem fazer. Schiller tinha provado isso ao destruir Hemmingway, quando matara aqueles policiais. Talvez, então, não fosse tão ruim ser poderoso, ter o controle. Se seu anjo tivesse sido o primeiro a nascer, se isso tivesse acontecido em Hemmingway, jamais teria deixado Rilke descer ao porão, e Lisa ainda estaria viva.
Pensar em Rilke fez seu estômago revirar, ainda que Brick tivesse bastante certeza de que ali naquele lugar, qualquer que fosse, ele não possuía um estômago. Alguma coisa começou a arder nele, como se uma vela tivesse sido acesa. Essa coisa, essa criatura — não um anjo, é o termo errado; essa coisa é mais antiga do que a Bíblia, mais antiga do que a religião, mais antiga do que as estrelas —, tentava sufocar seu medo e sua raiva. Era parte do trato, ele percebeu; em troca do fogo, você precisava dar uma partezinha de si, as emoções que poderiam levá-lo a usar esses poderes em outra direção. Sentiu o calor bruxuleante em suas vísceras se ensopar.
Apenas deixe acontecer, disse Daisy. Ele precisa da sua ajuda.
Ele precisava de Brick, e Brick também precisava dele. O garoto relaxou, inspirando profundamente o ar que na verdade não existia, tentando se desligar da raiva. Por ora, ao menos. Essa criatura não o conhecia, não entendia que ele era feito de raiva. Nada podia deletá-la. Fingiria estar calmo, acompanharia a criatura, mas sua fúria ainda estaria ali. Sempre estaria ali. Mesmo com um ser como aquele dentro dele, era capaz de encontrá-la.
E, quando a encontrasse, Rilke pagaria caro.
— Ok — disse ele a Daisy, sorrindo para ela com seus lábios inexistentes. — Estou pronto.
Daisy
São Francisco, 13h38
Daisy deslizou de volta para o mundo real a tempo de ver o anjo de Brick nascer. O fogo ardia através da pele dele, começando pelo peito e se espalhando com rapidez. Ele abriu a boca para gritar, uma luz branca subindo pela garganta, os olhos irrompendo em supernovas. Suas costas se dividiram, asas abriram-se com força suficiente para rachar o tronco da árvore atrás dele, enchendo a floresta com barulhos ao cair. Resistia à transformação, lançando-se do chão para os galhos acima, com gritos disparando de sua boca, altos o bastante para fazer o chão tremer. Os pássaros dispersaram-se das árvores, tantos que fizeram o céu escurecer.
Fique calmo, ela lhe disse enquanto ele despencava pela folhagem, chocando-se contra o chão. Ele esperneava, como se alguém o tivesse coberto de gasolina e ateado fogo, aquelas asas enormes bruxuleando até ficarem quase invisíveis, e depois se acendendo de novo. Calor nenhum saía dele, só um frio tremendo, que transformava a terra em gelo. Dedos de luz se projetavam do gelo, procurando Brick e, depois, desabando no nada. E aquele mesmo zumbido entorpecente agitava o ar, fazendo com que os ouvidos de Daisy doessem. Não tem problema, disse ela. Esse barulho. É esse o som do seu novo coração.
Brick decolou de novo, desta vez de lado, atravessando uma árvore e transformando seu tronco em farpas. Virou, retorcendo-se em uma profusão de chamas, gritando para cima com tanta força que Daisy viu alguns dos pássaros caírem do céu, despencando para a terra como pedras — dezenas deles.
Brick, chega!, falou ela. Ele deve tê-la ouvido, porque parou de se retorcer e ficou pairando a cerca de trinta centímetros do chão, as asas dobradas abaixo dele como se fossem um tapete voador. Ele levou a mão ao rosto, tateando-o, passando os dedos pelo peito e pela barriga.
— Tudo bem, cara? — perguntou Cal, ao lado de Daisy. — Brick?
— Ele vai ficar bem — respondeu Daisy. Brick?, falou ela com a outra voz, a da mente. Fale comigo. Aguardou a resposta, mas tudo o que podia sentir era algo saindo do garoto, algo que ardia com mais ferocidade do que o fogo. Não foi capaz de distinguir o que era com seus olhos humanos, então deixou o anjo assumir o controle, o mundo outra vez se rompendo em nuvens de átomos dançantes. Agora a coisa dentro de Brick estava mais límpida. Ele estava com raiva. Não fique assim. É por isso que eles anestesiam você, porque é mais fácil quando não está com raiva nem com medo. Brick, você precisa acreditar em mim.
Brick se virou para ela, o incêndio nos olhos encontrando-a. Ele resistia, tentando aferrar-se à raiva. Mas isso era ruim. Não era o que os anjos queriam.
É o que eu quero, disse ele. Com um leve bater de asas, endireitou-se, suspenso ali, com o chão abaixo dele já como um lago congelado, aquelas mesmas estranhas gavinhas de luz subindo antes de desaparecer. Daisy quase enxergava o que acontecia dentro dele — Brick tentando forçar-se a ficar com raiva, e o anjo resistindo. Ele começou a flutuar pelas árvores, seu novo corpo sugando o calor do ar, dos galhos, cobrindo tudo com fogo. Continuava falando enquanto ia, ainda que Daisy não soubesse se todos podiam ouvi-lo, ou se apenas ela podia.
Não pedi isso, não tive escolha. Então, se vou fazer isso, esse anjo — ou como queira chamá-lo — também precisa fazer algo por mim.
Como assim? Mas ela tinha a sensação de que já sabia. Lisa, a namorada de Brick, presa no porão de Fursville, encurralada como um rato por Rilke, e, em seguida, morta a sangue-frio. Daisy virou-se para os outros, vendo Rilke ainda agachada no chão, encarando Brick com olhos frios, escuros, assustados.
Não, falou Daisy. Brick, por favor, ela não sabia o que estava fazendo.
Sabia. Sabia sim.
Brick deslizou para a clareira como um guerreiro, as asas abertas, duas vezes maiores do que ele. Aquele som irradiava dele e de Daisy também, revirando o chão, fazendo as pedrinhas dançarem e as pinhas caírem dos pinheiros. Ele parou ao lado delas, seus olhos ardendo pela clareira, nunca deixando Rilke. Ela devia ter entendido, porque se levantou sem firmeza, recuando. A garota olhou para Daisy, e não precisava haver um laço telepático entre as duas para que Daisy entendesse que ela dizia: Socorro.
— O que está acontecendo? — perguntou Cal, os outros aglomerados em volta dele, como se pressentissem que algo ruim estava prestes a acontecer.
— Mantenha-o longe de mim! — disse Rilke, a voz dela quase sumindo no zumbido trepidante. Estava encolhida, parecendo tão fraca, tão humana. Foi recuando até bater nos galhos baixos de uma conífera, quase se afundando neles, como se pudesse se esconder. — Juro...
Jura o quê? Brick não disse essas palavras em voz alta — não podia, não sem abrir um buraco no mundo —, mas sua voz pareceu ecoar pelas árvores, quicando pela cabeça de Daisy. Os outros também ouviram desta vez, porque todos levaram as mãos às orelhas. O que vai fazer comigo, Rilke? Me dar um tiro?
Chega!, gritou Daisy, emitindo as palavras para ele. Não podemos lutar uns contra os outros, não podemos!
Cale a boca, Daisy, disse Brick. Isso não é da sua conta. Isso não tem nada a ver com nenhum de vocês. É entre mim e ela.
— Brick, já chega, cara, deixa para lá, tá bom? — Cal deu um passo para Brick, mas o garoto maior limitou-se a erguer a mão e flexionar os dedos. Foi como se um vento forte tivesse detido Cal, fazendo-o cair de costas e arrastando-o pelo chão.
Não!, gritou Daisy. Brick, não o machuque, por favor!
Ela estendeu as próprias asas, sentindo a força dentro de si, como se seu corpo estivesse cheio de um milhão de vespas. Do outro lado da clareira, Howie se transformou, irrompendo em chamas, os olhos como ferro derretido, mas ainda repletos de incerteza, olhando de um para o outro.
Não é ele que eu quero, falou Brick enquanto Cal se levantava. Só quero ela. Só quero mostrar a ela como é. Que tal, hein, sua psicopata?
Ele quase não falou a última palavra, o som dela fazendo as árvores se agitarem, provocando uma chuva de agulhas. Rilke emitiu um som que estava entre um resmungo e um ganido, como um rato encurralado contra a parede. Ela ficava batendo o punho cerrado contra o peito, e Daisy precisou de um momento para entender que ela tentava despertar seu anjo, tentava se transformar.
Agora já não é tão legal, não é?, prosseguiu Brick, movendo-se lentamente na direção de Rilke. Não é muito bom quando sou eu que tenho as armas e você está indefesa. Falei que ia matar você por causa daquilo, lembra?
Ele estendeu a mão outra vez, e, apesar de não tocar Rilke, a cabeça dela foi para trás. Ela gritou, os dedos pressionados contra a testa.
Por favor!, gritou Daisy. Ela olhou para Cal, para os outros, mas ninguém se mexeu. Até Howie, banhado em chamas, estava imóvel. Por que ninguém fazia nada?
— Ela era um deles! — justificou Rilke, engasgada com as próprias palavras. — Ela era um dos furiosos; precisava morrer!
Brick se aproximou, os dedos brincando com o ar. Mesmo através da névoa cintilante que o cobria, era óbvio que ele sorria. Estendeu um dedo, apontando-o bem para o rosto de Rilke.
Ela não precisava morrer. Não estava fazendo mal a ninguém lá embaixo. Você devia tê-la deixado em paz; ela teria melhorado. Mas você a matou, você deu um tiro na cabeça dela.
— Ela teria nos ferido! — falou Rilke. — Eu precisava...
Está gostando da sensação?
Ele moveu os dedos, e Rilke começou a levitar. Esperneava contra seu toque invisível, mas não havia nada que pudesse fazer.
Chega!, Daisy comunicou-se com a mente, e seus pensamentos tornando-se uma força física que atingiu Brick, arremessando-o para longe. Ele rolou duas, três vezes, as asas emaranhando-se, levantando um redemoinho de pó. Mas isso não durou muito. Em seguida, estendeu-as de novo, voltando-se para encarar Daisy. O sorriso tinha ido embora, seus olhos agora eram dois poços ardentes de fúria.
Fique fora disso, Daisy, disse ele, com as palavras de algum modo transmitidas para dentro do zumbido do coração do anjo, um tanto faladas, outro tanto pensadas. Não quero ferir você.
Ele não faria isso, faria?
Rilke, perguntei se estava gostando.
Ele projetou o dedo à frente. A uns seis metros de distância, a cabeça de Rilke foi para trás, sua cabeça se partiu. O sangue brotou de sua testa ferida, escorrendo por seu nariz e para dentro de sua boca, transformando os gritos dela em gorgolejos desesperados e horrendos.
Brick, não!, gritou Daisy. Brick ficou ali, mergulhado em chamas, seu dedo ainda se projetando. Era difícil distinguir a expressão em seu rosto. Ele deixou a mão cair, e virou-se para Daisy.
Eu... Eu não quis...
Rilke se afastou cambaleando, ofuscada pelo sangue. Seu pé bateu numa raiz e ela caiu, a cabeça batendo contra o chão com tanta força que lançou um halo escarlate na terra. A menina gemia, tentando rastejar para a frente.
Rilke?, disse Daisy, movendo-se na direção dela.
Só estava tentando assustá-la!, falou Brick, a voz dele como a de um garotinho dentro de sua cabeça. Desculpe!
Ele estendeu a mão outra vez, e o mundo se revirou, espalhando Cal e os outros como se fossem balinhas jogadas para cima. O ar se agitou, e uma onda de choque empurrou Daisy com tanta força que ela precisou estender as asas para se manter onde estava. O trovão ondulou pela clareira, não só no céu, mas também no solo, como se uma explosão tivesse sido detonada ali embaixo. Até Brick chacoalhou sob esse efeito, as chamas se apagando, os olhos arregalados e temerosos por um instante, antes que o incêndio irrompesse outra vez. Encarou as mãos, como se não pudesse acreditar no que tinha feito.
Daisy quase não teve coragem de olhar para Rilke. Porém, quando se virou, viu que a menina ainda estava viva, retorcendo-se no chão, as mãos no rosto. Daisy olhou de novo para Brick, perguntando: O que você...
Outro rugido, tudo se movendo, como se a floresta fosse uma vasta criatura que houvesse decidido se levantar e andar com eles no lombo. O chão se inclinava, Cal e Adam rolando entre as árvores nos braços um do outro, Rilke escorregando sob a cauda da conífera.
Não fui eu!, gritou Brick, sua voz-mente despojada de raiva, repleta de terror. Não fui eu, juro!
Aquele conhecido lamento infindo e horrendo se precipitou, o rugido uivante de um bilhão de trombetas no céu, um som que parecia capaz de agitar o universo e estilhaçá-lo. Daisy bateu as asas, impelindo-se para cima da floresta, subindo outra vez além das árvores trêmulas. À distância, estava a mesma cidade que vira antes, agora chacoalhando e virando pó com a força dos tremores. Do outro lado, o mar estava branco, febrilmente agitado.
Não fui eu, ouviu Brick dizer de novo, agora mais baixo. Claro que não tinha sido. Aquilo era muito pior.
Era o homem na tempestade.
Brick
São Francisco, 13h51
Brick foi atrás de Daisy, usando as asas para elevar-se acima da floresta. Examinava as mãos enquanto subia, esperando ver sangue nelas, como se tivesse esmagado a cabeça de Rilke com os próprios dedos. A raiva tinha sumido, submersa em um mar de calmaria, mas deixara um gosto amargo na boca, como o de bile. Não pretendia feri-la daquele jeito. Quase a tinha matado.
Ele irrompeu da copa das árvores, o céu se abrindo em volta, a vertigem apertando seu estômago como um punho de ferro. Nunca tinha gostado de altura, e, agora, estava ali, pairando cem metros acima da superfície com nada para impedi-lo de cair além de um par de asas flamejantes. A ideia era tão absurda, tão assustadora, que chegou a rir — uma risada insana e esganiçada que durou menos de um segundo, até que olhasse o horizonte e visse a cidade desaparecendo.
Ela se desfazia como um castelo de areia, os prédios sumindo primeiro, depois as colinas — montes sólidos de rocha — dissolvendo-se em poças. O chão tinha virado um oceano, um vasto redemoinho que girava em um círculo lento. O próprio oceano estava tão branco que poderia ser feito de neve, gemendo ao ser sugado para o vórtice. Brick viu uma ponte — uma coisa enorme e vermelha — arrebentar como se fosse feita de palitos de fósforo, sugada para o fluxo. O redemoinho espalhava-se pela cidade com velocidade incontrolável, tudo desabando em pó e fumaça. A terra parecia berrar, um grito de pura aflição que fazia os ouvidos de Brick doerem.
É ele, disse Daisy a seu lado, a voz repleta de pesar. Ah, Brick, ele matou todos.
Quantas pessoas? Cem mil? Um milhão? Elas nem teriam percebido, sugadas pelo esôfago tão rápido que teriam morrido antes mesmo de conseguirem recuperar o fôlego. Não pode ser real, não pode ser real, mas era; ele podia sentir o miasma do concreto atomizado, do sangue derramado e da fumaça — tanta fumaça. Podia sentir a força do vento que se precipitava para o abismo, tentando puxá-lo junto.
Precisamos enfrentá-lo, prosseguiu Daisy. Howie tinha subido e se postado ao lado dela, sua forma de anjo tão parecida com a dela que poderiam ser gêmeos. Onde está ele? Não estou entendendo.
Não era como em Londres. Para começar, não havia tempestade. Lá ele tinha ficado suspenso no ar, sugando tudo com aquela boca que era um poço, o céu repleto de escuridão. Ali não havia sinal dele, só a cidade se afogando.
Ele está no subterrâneo, disse Brick, entendendo de súbito.
O epicentro da destruição agora era um buraco escancarado, com quase dois quilômetros de diâmetro, e aumentava com rapidez. Terra e mar vertiam juntos no poço, lançando arco-íris contra o céu sem nuvens, o efeito estonteante. Algo mais também estava acontecendo, fendas vastas e serpenteantes irradiando-se da destruição, despedaçando a terra. Uma ia abrindo caminho para a floresta na colina abaixo deles, escavando uma trincheira nas ruas, atravessando as casas. Tudo desmoronava.
Espere aí, falou Brick. Onde estamos? Aquele homem não tinha dito que aquilo tinha reaparecido em São Francisco?
Acho que sim, respondeu Daisy. Por quê?
Por causa da falha, respondeu Howie, antes que Brick pudesse fazê-lo. A falha de Santo André.
A... o quê?, perguntou Daisy, mirando Brick com seus olhos ardentes.
É... começou ele, parando enquanto uma colina inteira, cheia de casas e de prédios, afundou no chão que se desintegrava, o som diferente de tudo o que Brick já ouvira na vida. É uma fenda na Terra, um ponto fraco.
Era como se o homem na tempestade rasgasse os alicerces, o esqueleto que mantinha a unidade da Terra. Se quebrasse ossos suficientes, o continente inteiro desabaria.
Então o que faremos?, perguntou Daisy. Como vamos lá embaixo?
Brick olhou para ela, depois para Howie, sabendo a resposta mas recusando-se a dizê-la, porque dizê-la a tornaria real. Não que ainda fizesse algum sentido esconder alguma coisa. Daisy podia enxergar dentro da cabeça dele com a mesma facilidade com que enxergaria dentro da própria.
Vamos lá embaixo, falou ela.
Brick negou com um meneio de cabeça. A única coisa que ele queria era se virar e ir embora. Era isso o que fazia melhor; escondia-se das coisas, fingia que elas não existiam. Era por isso que gostava tanto de Fursville: porque ninguém podia se aproximar dele quando estava lá. Estava em segurança. A lembrança do lugar, dos momentos em que fora lá sozinho e escapara das brigas, do estresse, do lixo sem fim que era sua vida, fez a já conhecida raiva fervilhante subir por seu estômago. Danem-se eles, por que seria ele a lutar? Aquela batalha não era para ele. Nem a bravura, bem sabia. Era o anjo mexendo com a cabeça dele, fazendo-o pensar em coisas nas quais não lhe cabia pensar. Não, melhor se mandar logo, enquanto ainda podia, achar outra Hemmingway, sobreviver.
Até o homem na tempestade achar você, falou Daisy. Porque ele vai. Ou acha que ele vai parar por aqui? Ele vai destruir tudo, Brick, o mundo inteiro. Vai engolir tudo. Ainda não entendeu? Não vai sobrar nada.
Ele se afastou do vácuo estrondoso e virou-se para o horizonte banhado em ouro. Vá, vá, apenas vá. Eles podem resolver isso sozinhos.
Não podemos.
Agora ele podia voar, podia ir para qualquer lugar que quisesse só com um pensamento, podia deixá-los ali para resolver a situação. Aquelas pessoas nem eram amigas dele; depois daquilo, nunca as veria outra vez, mesmo que sobrevivessem. Nunca precisaria olhar para a cara delas de novo.
Brick, não!
Era muito melhor do que ser engolido pelo homem na tempestade.
Por favor, pediu Daisy, estendendo-lhe a mão, as chamas da mão dela enroscando-se nas dele, entremeando-se como dedos, tentando detê-lo ali. Ele se afastou, batendo as asas uma vez, talhando um caminho no céu, batendo-as outra vez, a loucura e o caos se encolhendo, os pedidos de Daisy ficando mais baixinhos, o estrondo da cidade em ruínas desaparecendo atrás do ar em agitação enquanto ele voava. E era tão bom estar em movimento, em movimento, sempre em movimento.
Cal
São Francisco, 13h56
O chão tremia tanto que ele não conseguia se manter em pé. Toda vez que tentava, a superfície se inclinava como um barco em uma tormenta, fazendo-o girar. Apoiou-se em Adam com toda a força, a mão presa na camiseta do garotinho. Estava escuro demais para enxergar o que quer que fosse, e as árvores desabavam ao redor, bloqueando o sol.
— Daisy! — gritou ele, o ar repleto do fedor das pinhas. Não havia como ela ouvi-lo com o ribombar da terra, os estalos e os ganidos das árvores, mas ela não precisava de ouvidos, ela o sentia.
O chão virou para baixo com tanta força que, por um momento, Cal ficou suspenso em pleno ar. Caiu de costas, encolhendo-se. Adam rolou para o lado dele, sem fazer o menor barulho, os olhos leitosos de pânico. Cal agarrou-o, abraçando-o com força. Um facho de luz atravessou os galhos, revelando a encosta de um penhasco que não estava ali antes. Raízes de árvores projetavam-se da lama como minhocas, e uma avalanche de solo martelou contra o chão. Esperou outro tremor, esperou o mundo se abrir sob ele e finalizar seu trabalho, mas não havia nada além de silêncio.
Isto é, um relativo silêncio. Ainda era capaz de ouvir um gemido distante, o som de um Leviatã monstruoso nas profundezas. Não tinha muita certeza do que era, mas podia chutar: era o homem na tempestade, suspenso sobre alguma cidade, devorando-a por completo. Apoiou-se nos cotovelos, esperando pela dor insuportável de um osso quebrado ou de um membro torcido, mas só encontrou hematomas.
— Tudo bem com você? — perguntou a Adam. O garoto fez que sim com a cabeça, colocando a mão na bochecha. Havia uma dúzia de agulhas de pinheiro enterradas em sua pele, fazendo-o parecer um porco-espinho. Cal puxou-as com delicadeza. — Vai arder por algum tempo — falou ele, sentindo o calor das agulhas no próprio corpo. — Mas elas não vão matar você. Vamos, precisamos achar os outros.
Ele se levantou, o chão irregular fazendo-o sentir-se bêbado enquanto ajudava Adam a ficar de pé. Tinha perdido qualquer senso de direção que não fosse para cima e para baixo. Espiou por entre os galhos, vendo o brilho do sol — ou talvez de um anjo, não dava para ter certeza.
— Daisy! — gritou ele outra vez, sua voz provocando um sobressalto em Adam. — Onde você está?
— Cal?
Ele reconheceu Marcus, o som vindo de algum lugar acima. Perguntou-se se o outro garoto tinha se transformado, se pairava no ar, e em seguida deparou com seu rosto magrinho espiando do alto do precipício. Tinha um sorriso enorme no rosto.
— Cara, que bom te ver! Achei que estaria... Você sabe. Como foi parar aí embaixo?
— Como foi que você foi parar aí em cima? — rebateu Cal.
— Terremoto — falou Marcus. — Mas não um terremoto-terremoto; só pode ter sido ele.
— Está vendo Daisy em algum lugar? — perguntou Cal. — Brick, ou alguém?
Marcus olhou para trás e deu de ombros.
— Nada; devem ter ido brigar em algum lugar. Mas foi legal da parte deles ajudar a gente.
Cal fez que sim com a cabeça automaticamente, tentando enxergar um jeito de subir o penhasco. A terra ainda estremecia, os tremores vibrando em seus calçados e provocando dor nos ossos das pernas. Sempre tinha confiado na terra firme, mas agora não podia deixar de pensar no quanto era fina a crosta do planeta, no quanto era frágil, e no oceano sem fim de pedra derretida sobre o qual ela flutuava. Tudo seria muito mais fácil se algum deles tivesse se transformado; podiam simplesmente abrir as asas e voar para longe dali. Porém, não havia nenhum sinal de que o anjo dele estava sequer próximo de nascer. Como sempre, tinha ficado com o preguiçoso. Tentou rir, mas o riso saiu mais como uma fungada.
— Está vendo algum caminho, alguma alternativa? — perguntou ele.
Marcus balançou a cabeça em uma negativa.
— Está assim até onde enxergo; do outro lado, também. Não posso me mexer, vou ter de esperar uma carona. Você, talvez, consiga sair por aquele lado. — Ele apontou para a direita. — De repente tem algum espaço entre as árvores.
— Vou lá dar uma olhada — falou Cal, a caminho. O progresso era lento porque o chão tinha fendas menores, os pés se afundando na terra. Toda vez que ele dava um passo, rangia os dentes, esperando um buraco se abrir e as trevas o envolverem. Duas vezes, Adam se desvencilhou, porque Cal segurava a mão do menino com força demais. — Foi mal, cara, de repente é melhor você ficar aqui.
Adam negou com a cabeça, apertando os dedos de Cal com a mesma força. Prosseguiram, abrindo caminho por aglomerados de galhos quebrados, cheios de seiva. Não havia sinal de espaço entre as árvores, como sugerira Marcus, mas, depois de mais ou menos cinco minutos, Cal ouviu alguma coisa. Ele parou e virou a cabeça para o lado, ouvindo o que parecia os grunhidos de um animal selvagem. Pela primeira vez, perguntou-se onde exatamente estavam, e que tipo de criatura viveria naquela mata.
Esgueirou-se entre duas árvores, examinando a penumbra à frente, e acabou por ver uma silhueta. Dois olhos enormes e brancos, sem corpo, podiam ser vistos na penumbra, olhos de fantasma. Então a sombra se arrastou, e ele percebeu que era Rilke. O rosto dela estava tão coberto de sangue que era quase invisível. Ela murmurava algo entre aquelas inspirações guturais, ainda que Cal estivesse longe demais para entender quais eram as palavras dela. Arrastou Adam por entre as árvores, apoiando-se em um joelho ao lado da garota.
— Rilke? — chamou ele. Daquela distância, podia ver o buraco na cabeça dela, o buraco feito por Brick. Era do tamanho de uma moeda de cinquenta centavos, e ainda escorria sangue dele. Pelas marcas viscosas da pele, podia-se entrever o osso, e algo de um tom escuro de rosa projetava-se do buraco como se tentasse escapar dali. Como ela ainda podia estar viva?
Rilke ainda murmurava, flashes ocasionais de dentes brancos luminosos contra a vermelhidão. Cal se aproximou, sua pulsação martelando nos ouvidos.
— ... culpa minha, não foi culpa minha, ele colocou no porão, pintou de ouro, pintou de um jeito brilhante e não estava lá, não posso fazer nada, posso, Schill? Não se está ali, não se é ouro...
— Rilke! — chamou outra vez. — Está me ouvindo?
Ela disse mais algumas palavras, palavras que não faziam absolutamente nenhum sentido, e, em seguida, franziu o rosto. Exceto pelo ferimento, sua testa estava praticamente sem sangue, dando a impressão de que usava um véu.
— Schill, é você? — A voz dela, partida em um milhão de pedacinhos, era a de uma senhora de idade. — Irmãozinho? Não estou vendo você.
— É o Cal — disse ele. Ele mexeu a mão na frente do rosto dela, mas ela não deu sinal de que o viu.
O que Brick tinha feito com ela? Cal sussurrou um palavrão, olhando para Adam, depois para a floresta. Rilke precisava de um hospital, mas, mesmo que vivesse tempo suficiente para chegar a um, os médicos a despedaçariam assim que passasse pela porta.
— Quebrei a boneca, não quebrei, Schill? — perguntou Rilke, o sangue escorrendo do canto dos lábios. — Quebrei, quebrei a boneca, desculpe ter colocado a culpa em você. Quebrei, quebrei a boneca... Eu me quebrei, você me quebrou, não conte para a mamãe; eu te amo.
Ela começou a tremer, como se estivesse tendo uma convulsão. O que Cal deveria fazer? Adam se deitou ao lado de Rilke, tomando a cabeça dela em sua mão, afastando as madeixas de cabelo de seus olhos. Ele a abraçou com força, pressionando a bochecha contra a dela, até que os tremores passaram. Cal sentiu seus olhos arderem, já não mais pelas agulhas dos pinheiros. Precisou passar o braço no rosto para enxugar as lágrimas. Tomou a mão de Rilke na sua, a pele dela bem fria, entrelaçando seus dedos com os dela.
— Vai ficar tudo bem — disse ele. — Vamos ficar com você, até...
Não terminou, sem saber o que estaria por vir. Rilke começou a tremer de novo, seu corpo inteiro tendo espasmos, quase se levantando do chão. À distância o mundo acabava; Cal podia ouvir o terrível estrondo massacrante daquilo, o som da terra, do mar e do céu sendo engolidos inteiros. Em contraste, a clareira era quase pacífica. Havia até um pássaro cantando em algum lugar, o mesmo som que Cal ouvira naquela mesma manhã — como podia ser o mesmo dia? Parecia um milhão de anos atrás —, altivo até o fim. Talvez ele, Adam e Rilke, e aquele passarinho, pudessem só aguardar ali, no ninho de pinheiros, no escuro e no silêncio, até tudo terminar. Provavelmente nem perceberiam quando acontecesse, seria apenas um estrondo súbito e game over.
A clareira iluminou-se por um breve instante e, em seguida, escureceu de novo. Cal se arrastou para trás quando uma onda de fogo desceu sobre Rilke, se extinguindo rapidamente. Aconteceu de novo, as chamas espremendo-se de seus poros, tentando ganhar força, e apagando-se em um piscar de olhos. Rilke estava alheia a isso, ainda balbuciando coisas sem sentido, com seus olhos grandes, brancos e opacos.
— Adam, afaste-se! — disse Cal, estendendo a mão para o garoto, que fez que não com a cabeça, abraçando Rilke com mais força ainda.
A menina se incendiou de novo, as chamas se enroscando no tronco, bruxuleando pelo pescoço e pelo rosto, morrendo depois. Desta vez, Rilke pareceu senti-las, os lábios congelando no meio de uma palavra. Colocou uma das mãos no peito, uma inspiração fraca e gorgolejante. Línguas de fogo lambiam seus dedos, agora mais fortes.
— Quebrada? — disse ela. — Boneca quebrada, Schill, está me ouvindo? Consegue me consertar? Me conserte antes que ela descubra, ela nunca vai saber. Você vai ficar em segurança comigo, irmãozinho, estou aqui para te proteger.
As chamas se mantinham, ardendo no peito dela, espalhando-se pelos membros, emitindo um frio inacreditável. O mesmo ronronar martelante ergueu-se no ar, ficando mais alto, depois diminuiu, como um motor tentando ligar. Sumia, depois voltava com força total, as chamas ardendo com tanta violência que, dessa vez, Adam se arrastou para longe. Não parecia a mesma coisa que acontecera com Brick, com Daisy. Aquilo era diferente, o fogo mais urgente, ardendo da cabeça aos pés, como se a atacasse. Rugia como mil bocas de fogão acesas, com força total, e lutava para permanecer vivo, para se estabilizar. Cal praticamente podia enxergar o anjo ali, a silhueta dele se retorcendo nas chamas. Entendeu que ele não queria morrer — não, morrer era a palavra errada. Ele não queria voltar para o lugar de onde tinha vindo, qualquer que fosse. Gritava, um ruído débil como o de um filhote de passarinho, de um pintinho que tivesse sido chocado cedo demais.
— Vamos! — disse Cal, estendendo a mão para Adam.
Não tinha ideia do que ia acontecer, mas não podia ser bom. Rilke disparava ar frio enquanto o anjo sugava o calor da floresta, aquele ruído ficando mais agudo, como se ela fosse explodir. Mesmo que não explodisse, mesmo que se transformasse, sua mente estava despedaçada. Não seria capaz de controlar seu poder e acabaria tão perigosa quanto o homem na tempestade. Por um segundo, Cal cogitou pegar um galho e afundar na cabeça dela antes que se transformasse. Porém, o anjo pareceu ler sua mente, agitando-se com mais vigor, o som de seu coração de uma força que impelia Cal para longe.
O incêndio ficou mais forte, projetando-se dos olhos e do buraco na cabeça dela, como se houvesse uma fornalha no crânio. Quando Cal olhou de novo, Rilke estava no ar, uma única asa semiformada erguendo-a em diagonal. Desapareceu, e ela caiu, depois se acendeu de novo, as duas asas se desenroscando para fora, levando-a para o céu, onde ela desapareceu no brilho do sol.
Cal virou o rosto, piscando para tirar as manchas de luz da visão. Deu a mão a Adam e conduziu-o por entre as árvores, torcendo para que ainda restasse algum pedaço de Rilke e para que esse pedaço ainda se lembrasse do que deveria fazer, se lembrasse de resistir, mas não se lembrasse do que Brick fizera com ela.
Daisy
São Francisco, 14h17
Daisy estava arrasada. A cidade — agora nada além de um vazio fumegante, com vinte, trinta quilômetros de diâmetro — ficava para um lado. Parecia as fotos que a garota tinha visto do Grand Canyon, a não ser pelo chão de fumaça turva. Com dificuldade, ela entrevia uma figura na escuridão, o homem na tempestade, que parecia uma aranha monstruosa em sua teia. E o poço ainda crescia, as bordas desabando feito areia, tragadas na maré espiralante de matéria que circundava sua boca. O oceano se derramava dentro dele, soltando nuvens de vapor, uma cachoeira que se estendia até onde Daisy enxergava.
Atrás dela, Brick não era muito mais do que uma manchinha no céu, uma estrela cadente. Ela não conseguia acreditar que ele tivesse ido embora. Fora muito egoísta da parte dele. Que covarde. Mas até que ela entendia, pois estava assustada também. Aliás, estava aterrorizada, mesmo com o anjo dentro de si. Mas eles não podiam ir embora, pois não havia mais ninguém. Se não lutassem com o homem, se não o vencessem, não sobraria nada.
Ouviu Cal na floresta chamando por ela. Ao menos, estavam em segurança lá embaixo. Mais seguros do que estariam lá no alto. Iria até eles quando pudesse, se pudesse. Agora, tinha problemas maiores para resolver.
Pronto para o segundo round?, perguntou Howie ao lado dela. O sol estava atrás dele, a luz brilhando pela fina renda de suas asas abertas. Como eram belas. Daisy poderia mirá-las por horas. Nós o ferimos uma vez, podemos fazer isso de novo.
Daisy não tinha tanta certeza. Antes eles eram em três, e agora o homem na tempestade estava debaixo da terra. Por que Brick não tinha ficado com eles? Poderiam derrotá-lo se permanecessem juntos. Algo surgiu da floresta atrás, rasgando um caminho pelo céu. Caiu, subiu de novo, a luz se acendendo e se apagando com dificuldade.
Rilke!, chamou Daisy, reconhecendo-a. Aqui, precisamos de você!
Não houve resposta, e Daisy tentou captar os pensamentos da garota, afastando-se imediatamente quando viu o caos dentro dela, a escuridão — boneca quebrada, boneca quebrada, ele acabou comigo, Schill, o garoto acabou comigo, vou acabar com ele também, não conte para a mamãe, por favor, eu vou... Algo terrível tinha acontecido, ainda pior do que a loucura que ela vivera antes.
Rilke, por favor, me escute! Rilke girou em pleno ar, concentrando-se naquela luz distante e evanescente que era Brick. Não, por favor, precisamos de você!
Rilke desapareceu, detonando uma explosão sônica que ondulou pelo ar e lançando Daisy para trás. Ela usou as asas para se endireitar, observando o espaço onde estivera Rilke, as brasas que pingavam para a terra. Não! Não era justo; por que tinham de agir assim? Iam acabar se matando. Daisy abriu a boca e soltou um choro que abalou o céu. Ela sentiu ódio. Por que não a ouviam? E por que Cal não havia se transformado ainda? Ele saberia o que fazer; ele a ajudaria.
Precisava se concentrar, do jeito que a mãe tinha lhe ensinado fazer em situações muito assustadoras. Inspirar profundamente pelo nariz, segurar, depois expirar pela boca, como se colocasse para fora todas as coisas ruins. Foi só assim que Daisy conseguira subir no palco pela primeira vez, quando ensaiavam para a peça. Foi só assim que conseguiu dizer a primeira fala. Inspirou, sem nem saber se ainda precisava de ar, sentindo a pressão no peito diminuir, segurando o ar por um instante antes de soltá-lo. Parecia ver o medo indo embora, a ansiedade, todas as coisas horríveis dentro dela.
Vamos!, falou para si, antes que as coisas ruins voltassem. Eu consigo!
Nós conseguimos, disse Howie. Ele assentiu com a cabeça, e ela retribuiu o gesto. Em seguida, apontou a cabeça para baixo, rasgando a pele da realidade. Reapareceu acima do centro do cânion, apanhando dos ventos que uivavam no vórtice abaixo. Era enorme, muito maior do que tinha parecido à distância, um mar furioso de pedra e água. Relâmpagos — pretos e brancos — chicoteavam para cima, arranhando os paredões, provocando labaredas monstruosas e escuras onde quer que tocassem.
Era o homem na tempestade, era a besta. Não podia vê-lo direito, não com os olhos, mas usou os do anjo para enxergá-lo, suspenso no centro da tempestade, respirando naquela mesma inspiração infinita. Ele a viu também, porque parou de respirar para bradar o mesmo grito de fazer tremer a terra, um berro que regurgitou uma cidade em ruínas, e uma nuvem de matéria negra veio na direção de Daisy.
Ela abaixou a cabeça, sentindo o anjo energizar-se dentro de cada célula de seu corpo. Howie voou para seu lado, e os dois mergulharam de cabeça, indo ao ataque. Daisy abriu a boca, uma palavra sendo disparada de seus lábios, abrindo caminho pelos detritos. Os anjos de ambos falaram, uma linguagem de pura força, abrindo uma trilha na tempestade. O mundo escureceu com esse mergulho, o fogo dela revelando cada pedra, cada pedaço reluzente de metal, cada cadáver mutilado que se precipitava a seu lado. Ela ignorou tudo, descendo, gritando uma palavra atrás da outra até enfim vê-lo.
Aquela criatura, de algum modo, ainda era um homem — sim, inchado e monstruoso, mas com dois braços, duas pernas e uma cabeça. O corpo dele tinha o tamanho de um prédio, de um arranha-céu, a pele era esticada, rachada em alguns lugares, unida por uma rede de fios negros envenenados que antes podiam ter sido veias. Uma escuridão se convulsionava na fenda, como se ele tivesse sido esvaziado e, depois, enchido de fumaça. Aquelas asas, aquelas asas horríveis e trevosas que eram muito semelhantes às dela, embora fossem ao mesmo tempo muito diferentes, encontravam-se estendidas atrás dele como uma teia de penumbra.
Porém, acima do pescoço, não havia nada humano. Havia só aquela boca, aquele buraco escancarado onde deveria estar o rosto, parecendo mais do que nunca um redemoinho ou um furacão. Ela não enxergava os olhos dele, mas podia senti-los observando-a, ganchos embutidos em sua pele.
Ela abriu a boca outra vez, sentindo a energia incendiar um caminho até sua garganta, jorrando de seus lábios. Acertou o homem no meio do peito, arrancando pedaços de carne velha e morta. Howie gritou também, a palavra dele rasgando o ar e arrancando um naco de escuridão da tempestade. Ela disparou de novo, ambos falando juntos, gritando, jogando tudo o que tinham contra ele.
Algo aconteceu com o homem. Ele começou a girar, como um motor, uma turbina, não mais soprando, mas, como antes, inalando.
Daisy sentiu a mudança na corrente de ar, que agora a sugava. O vácuo na boca dele ficou mais próximo, maior, o som como um trovão abalando a mente dela. Ela gritou em resposta, sua voz e a do anjo perdidas em meio à loucura. Outra coisa chicoteou da boca dele, uma lâmina de trevas que cortou o ar ao lado de Daisy. Outra se seguiu, esta enroscando-se em seu corpo, uma língua de noite liquefeita que a envolveu como um punho.
Daisy entrou em pânico, tentando abrir as asas, mas descobrindo que estavam bem presas. Seu anjo faiscava violentamente, lutando contra a escuridão, e ela torcia o corpo tentando se desvencilhar. Rodopiava para dentro do poço, a mente incapaz de entender o que a segurava. Não havia nada senão um facho de ausência completa e absoluta que parecia comê-la, tentando ingeri-la e tirá-la da existência.
Não!, gritou, berrando contra aquilo de novo e de novo, até que o pedaço de noite começasse a se desfazer, dissolvendo-se no frio fogo de seu anjo. Mas era tarde demais; a corrente a levava, puxando-a para as nuvens de fumaça e poeira que circundavam a garganta da besta.
O rugido do vórtice ficou ainda mais alto, e o movimento se tornou mais vigoroso — era como ser sugado por um ralo. Ela fechou os olhos, e logo percebeu que não ver era infinitamente pior do que ver. Ao abri-los de novo, viu, à frente, o fim — um ponto de breu total para o qual tudo estava sendo sugado. Era o menor dos buracos, pequeno demais para sugar todas aquelas coisas. Mas ele inspirava cada pedaço de matéria, com raios, não exatamente relâmpagos, estalando dele, dezenas a cada segundo. Porém, som nenhum vinha dali, e ela se perguntou se tinha ficado surda.
Outro esvoaçar de noite liquefeita, mas Daisy se retorceu e o evitou, sentindo o insuportável nada passar por ela. Abriu a boca, lutando. Algo estranho acontecia à medida que se aproximava do buraco bruxuleante. As coisas se desaceleravam — não propriamente, mas despedaçando-se, como se nem o tempo pudesse manter-se ali. O tempo, o som, a matéria, a vida: o homem na tempestade detestava tudo, detestava absolutamente tudo. Quase podia enxergar sua história na imensa quietude que lhe cercava a garganta. Aquela coisa, o que quer que fosse, vinha de um lugar em que não havia nada. Essa coisa era o que existia antes de a vida existir, antes das primeiras estrelas, antes do Big Bang. Era o vazio anterior ao universo, e o vazio que o sucederia.
O horrendo senso de solidão que a envolveu foi intenso demais. Não o suportou. Aquela criatura era um buraco negro que devoraria tudo, se alimentaria e se alimentaria, até que não sobrasse nada — nenhum afeto, nenhuma alegria, nenhum amor. Só o silêncio, para todo o sempre. Não havia nada que pudessem fazer contra aquilo. Não havia chance.
Ouviu Howie chamando-a, mas o ignorou. Deu uma última olhada na besta, e, em seguida, vergou as asas e se apagou conforme saía do alcance dela.
Rilke
São Francisco, 14h32
Havia algo de errado com a cabeça dela, mas a garota não era capaz de entender o quê. Para começar, a cabeça doía: havia uma agulha latejante de sofrimento bem no centro de seu cérebro. Parecia que dali um barulho se irradiava, o som de campanários de catedrais badalando, e havia também uma coceira sussurrante e enlouquecedora em seus ouvidos. Não conseguia pensar direito, sendo incapaz de se fixar em um pensamento. Tudo o que ela sabia era que ele tinha feito aquilo, aquele garoto alto. Brick, era esse o nome? Rilke tentava lembrar, mas as imagens e as memórias na mente dela eram peças de um quebra-cabeça soltas em uma caixa; não faziam sentido nenhum.
Também não conseguia enxergar muito bem. Na verdade, não enxergava nada. Porém, algo enxergava por ela, o mundo era uma teia de fios dourados que compunham as árvores, os campos, as colinas e o céu. Havia algo dentro dela, algo feito de fogo. Ou será que ela tinha sido sempre assim? Não tinha certeza, não sabia quais pensamentos eram reais, quais eram fantasia. Ela era uma boneca? Quebrada? O que a tinha trazido à vida?
A vingança. Alguém tinha morrido. Schiller. Ele era um boneco também? Sim, um boneco bonito, o boneco dela. Alguém o tinha quebrado. O garoto alto, o garoto alto com asas. O motor do cérebro dela parou, o assovio ficando mais agudo, como se as pessoas gritassem bem em sua orelha. Sentiu o corpo tremer, uma convulsão que provocou espasmos em cada músculo. Era como se tivesse cordas: não era exatamente uma boneca, mas uma marionete.
Olhou ao redor com seus novos olhos, vendo o mundo disposto diante dela, nu e vulnerável. Eram átomos que ela via como tijolos que compunham cada pedra, cada nuvem, cada passarinho a cantar, cada lufada de ar que engolia? Eram tantos, galáxias deles, mas pareciam fazer sentido para ela. Via uma trilha brilhante no céu, onde alguém tinha estado, como o rastro de uma ave. O garoto alto, ele tinha passado por ali.
Bateu as asas. Ela sempre tivera asas? Não sabia. O barulho era insuportável; não era capaz de enxergar nada além dele. Toda vez que tentava, era como se se esforçasse demais. Alguma coisa no brinquedo de corda de seu cérebro poderia arrebentar se não tomasse cuidado. Talvez não existisse o antes, só o agora. Podia ter acordado pela primeira vez. Isso fazia sentido, pensou ela. Se era uma boneca, então talvez estivesse dormindo. Talvez estar quebrada fosse o que a despertara.
Não, talvez o fato de terem acabado com Schiller fora o que a despertara. Achou que o tivesse visto, a pele cintilante, como se ele fosse talhado em vidro — ou gelo —, os olhos como contas negras. O garoto alto havia acabado com ele. Sim, era isso. Por que outro motivo ela estaria com tanta raiva dele, desse garoto que se chamava Brick?
Tudo bem, Schiller, falou, ou tentou dizer, embora não se lembrasse de como fazer para abrir os lábios. Tudo bem. Bonecas não precisavam falar. Pensou aquilo receosa de que, se não o fizesse, talvez aquilo escorregasse para fora da bagunça que era sua cabeça. Sei o que preciso fazer. Preciso achá-lo, aquele garoto alto; preciso acabar com ele também, só assim a gente vai ficar junto de novo, não é, Schill? Diga que sim. A mamãe não vai ficar zangada se... se eu acabar com ele.
A cabeça dela gritava como uma turbina de avião. Ela fazia o melhor que podia para ignorá-la, seguindo o rastro, o mundo passando abaixo como se ela estivesse sendo conduzida, como se algo a levasse sob o braço. Mas, claro, ela era uma boneca, então algo tinha de a estar carregando, algo ancestral, horroroso e cheio de fogo. Quase conseguiu ouvi-lo, além do caos, uivando para ela com palavras que Rilke nunca entenderia, tentando lhe dizer alguma coisa.
Tudo bem, falou. Eu sei o que você quer que eu faça. Ela pensou no boneco chamado Schiller e pensou no garoto alto. Vou acabar com ele, vou acabar com ele, vou acabar com ele.
Cal
São Francisco, 14h34
Cal parou de andar, percebendo uma escuridão crescente na cabeça. O ar tremia, com lufadas de vento estalando entre as árvores, levando o fedor de fumaça e sangue. O chão parecia ter vida própria, tremendo com tanta força que seus dentes batiam. Adam se segurava no bolso de seu jeans, encarando-o.
— Daisy! — disse Cal, sentindo o terror dela.
O que estaria acontecendo com ela? Aquilo era totalmente errado. Nunca tinha se sentido tão inútil a vida inteira. As coisas sempre haviam estado sob controle. A vida, os amigos, tudo. Era perfeito. Agora, porém, não era capaz nem de cuidar de uma garotinha.
Soltou um palavrão e bateu no peito, com força suficiente para causar dor.
— Vamos! — berrou ele para aquela coisa dentro de si, aquela criatura. Sabia que ela estava ali porque ela fizera seus amigos tentarem matá-lo, sua mãe também, no que parecia um milhão de anos atrás. — Vamos, sua porcaria inútil! Se vai fazer alguma coisa, então faça.
Bateu em si mesmo de novo e de novo, mas o anjo não respondia. Talvez o dele não funcionasse. Talvez tivesse morrido na viagem de onde quer que tivesse vindo. Lembrou-se de um dia, na escola, quando eram crianças, em que havia brincado de Imagem e Ação. Megan — Meu Deus, Megan, onde você deve estar agora? Será que você sobreviveu ao ataque a Londres? Está morta? A súbita sensação de perda era insuportável — levara um pintinho para a escola. Os pais dela tinham galinhas, e uma delas procriara. Havia dúzias deles, e ela tinha levado um naquele dia. No caminho, porém, ele morrera. De susto. Quando ela abriu a caixa, tudo o que tinha sobrado era um montinho de carne e penas, já frio. Aquilo teria acontecido também com o anjo dele? Estaria agora deitado dentro de Cal, um monte de partes quebradas e sem peso chacoalhando dentro da alma dele? A ideia o fez ter vontade de se abrir e tirar tudo de dentro, só para se livrar daquilo.
E o que ele poderia fazer sem o anjo? Ir até o homem na tempestade e pedir-lhe delicadamente que desse o fora? O homem só precisaria pensar, e o corpo de Cal, o corpo que tivera a vida toda, cada célula dele, seria deletado. Cinco litros de sangue, alguns ossos, todos embrulhados em couro bem fino. Todos aqueles anos de treinamento, Choy Li Fut, lutar com seu mestre, tudo isso para nada. No que dizia respeito a armas, era tão útil quanto uma meia encharcada.
— Droga! — disse ele, mandando a escuridão para longe e dando mais um passo.
Adam seguiu, sendo arrastado junto. Também não dava nenhum sinal de se transformar. Aliás, parecia mais jovem e mais frágil do que nunca. O novo garoto, Howie, tinha ido com Daisy, não tinha? E Brick? Cal não podia ter certeza. Rilke, pobre Rilke, perdida, também tinha se transformado. Talvez os quatro estivessem lutando. Com certeza isso bastava, não bastava? Tinham assustado a besta quando eram só três, lá em Londres. Tinha de ser o bastante.
Só que não era. Ele sabia. Cal bateu no peito outra vez, gritando:
— O que é que você tem? Está com medo? Você é ridículo, ridículo!
Nenhuma resposta ainda, e seu desespero, sua exaustão, seu medo subitamente se transformaram em uma fúria que lhe subiu pela barriga.
Ele disparou pelas árvores, correndo agora, indo para uma faixa ensolarada que ficava adiante. Que se dane. Não importava que fosse humano, não importava que fosse morrer. Lutaria de qualquer jeito com o homem na tempestade. Ao menos teria tentado. Nada poderia ser pior do que ficar para trás, escondido na floresta. Nada. Cruzou a última fileira de árvores, a luz do sol ofuscando-o tanto que ele quase não viu. Então teve um vislumbre dela entre os dedos, uma trincheira que corria paralela à floresta, um súbito precipício que descia a metros de seus pés. Deteve-se derrapando, chutando pedrinhas para o abismo. Ouviu passos atrás dele, e estendeu um dos braços para que Adam não despencasse.
— Meu Deus — disse ele, indo devagarzinho até a beirada e dando uma olhada. Abaixo — talvez trinta, quarenta metros — estava o solo que um dia estivera conectado à floresta. Entre Cal e esse solo, havia um desfiladeiro aberto pela terra estremecida, estendendo-se nas duas direções até onde o jovem podia ver. Sentiu a cabeça girar e deu um passo para trás, erguendo o rosto para o horizonte. Um buraco negro o dominava, estendendo-se de norte a sul, terra e mar fervilhando para dentro dele enquanto ele próprio continuava a fervilhar. Estava em uma colina, perto do topo, e podia enxergar quilômetros, mas tudo o que havia contra o céu era o poço, um halo de nuvem escura suspenso sobre ela.
Cal bateu as mãos na cabeça, como que tentando impedir que sua sanidade fugisse com o vento. Aquilo era gigantesco, inacreditável. O homem na tempestade ingeria tudo, toda pedra, toda gota de água do mar. Devorava. Se Cal fosse até ali — se sequer se aproximasse do chão fendido —, ele o sugaria sem nem reparar. Seria só mais um pedacinho junto do milhão de outras almas que antes haviam vivido ali. A morte dele não significaria nada, a vida dele não significaria nada. Seria apenas tragado para aquele esôfago horrendo, expurgado de sua existência.
Caiu de joelhos, entorpecido demais para falar, anestesiado demais para chorar, para se mexer. Tinha acabado. Daisy morreria, os outros também, e o mundo chegaria ao fim. Fechou os olhos, ouvindo o martelar infindo da tempestade, o som ensurdecedor dos ossos do mundo se fraturando abaixo dele.
Algo tocou seu ombro, e ele se encolheu. Olhou e viu Adam bem a seu lado, o rosto do garotinho sem expressão, como sempre.
— Sinto muito — disse Cal. — Acho que acabou. Não há nada que possamos fazer.
Adam pegou a cabeça de Cal, colocando-a contra seu peito. Cal ficou ali, ouvindo o bater do coração do garoto, rápido como o de um coelho. Deveria ser o contrário, pensou ele. Ele é que devia confortar o garoto. Afastou-se, envolvendo a cintura de Adam com as mãos, abraçando-o.
— Você foi muito corajoso — falou ele. — Lamento que tudo isso tenha acontecido com você.
Adam levantou a cabeça para o horizonte, e Cal seguiu seu olhar, vendo mais do mundo escorregar para dentro da garganta da besta. O mar fazia um barulho que ele nunca tinha ouvido, um gemido sônico quase humano, como se o oceano não pudesse acreditar no que lhe acontecia. Tanto dele já fora engolido, bilhões e bilhões de litros, que, mesmo que encontrassem um jeito de deter o homem na tempestade, o mundo jamais seria o mesmo.
— Não olhe — disse Cal, puxando Adam mais para perto. — Melhor não ver. Apenas finja... — Finja o quê? Nunca tinha sido bom com crianças, nunca soubera o que dizer. — Finja que é uma brincadeira, tipo esconde-esconde. Vamos voltar para a floresta, achar um lugar para nos esconder. Só um tempinho. Depois... — Ele engoliu em seco, e, em seguida, tentou tossir para desanuviar o nó na garganta. — Você tem saudade da sua mãe? Do seu pai?
Adam fez que não com a cabeça, estreitando os olhos.
— Eu sinto. Sinto muita saudade da minha mãe. Acho... Acho que logo a gente vai vê-los de novo. Não vai demorar, vai?
Você não vai ver ninguém, pensou ele, porque não tem vida após a morte ali, não tem nada depois, só a escuridão, o nada, por toda a eternidade. Pense, Cal, tem de haver um jeito!
Colocou a mão no peito. Talvez seu anjo só precisasse de um incentivo — tipo uma arma na cabeça.
— Preciso que espere aqui — disse ele. — Jure que não vai vir atrás de mim.
Cal estreitou o rosto do garoto entre as mãos e, depois, o abraçou.
— Vai dar tudo certo. Se não me vir de novo, volte para as árvores. Alguém vai achar você.
Ele se afastou do garoto, virando-se para o desfiladeiro. Dali ele parecia não ter fundo, como se levasse direto ao centro da Terra. Aquilo era tão idiota, tão insano, mas que escolha ele tinha? Fechou os olhos, pensou na mãe, no pai, em Megan e em Eddie. Em Georgia também. Se fizesse isso, nunca saberia como era beijá-la, nunca conheceria a sensação do corpo dela em seus braços. Mas tudo bem. Tudo bem.
Respirou fundo, inclinou-se para a frente e se deixou cair.
Brick
Clear Lake, Califórnia, 14h42
A aterrissagem de Brick foi desajeitada; as asas atrapalharam quando ele se materializou, fazendo-o tropeçar. O chão chegou cedo demais, e Brick cobriu a cabeça com as mãos, gritando, o som rasgando o caminho pela grama, depois pela pedra e, por fim, pela água. Caiu de ponta-cabeça, ouvindo o gelo rachar enquanto se formava em volta dele, o ímpeto fazendo-o cruzar a superfície de um lago e, em seguida, jogando-o na outra margem, onde enfim rolou até parar.
Não havia dor. Achava que não poderia sentir dor naquele estado. Porém, havia alívio. Ele tinha ido embora. Não precisava lutar. Sentou-se, o mundo uma miríade móvel de átomos e de moléculas que deveria ser inconcebível, mas que, por algum motivo, fazia sentido. Ao estender a mão, conseguia ver as coisas de que era feito, as células da pele, dos ossos, do músculo e da gordura, a corrente do sangue e o fogo que ardia, de algum modo, dentro e fora dele ao mesmo tempo, fazendo-o parecer transparente. Havia uma mancha escura em sua pele incandescente, e ele precisou de um instante para entender que via através da mão. Deixou-a cair de lado, avistando uma nuvem de fumaça no céu acima das colinas distantes. Não tinha ido longe o bastante.
Levantou-se tão logo pensou nisso. Agora que se acostumara à criatura dentro dele, aquilo não era tão estranho. Na verdade, era bom. Quantas vezes na vida não tinha desejado um poder como aquele? Quantas vezes não quisera poder correr de tudo, ou esmagar a cara das pessoas que o irritavam? Não tinham sido poucas. Deus sabe o que não teria feito para ter esse poder quando estava na escola. Ninguém teria rido da cara dele.
Isso o fez pensar em Rilke, e ele estremeceu. Ela mereceu, disse a si mesmo. Mereceu mesmo, porque matou Lisa. Mas as palavras fizeram seu estômago revirar.
Tentou esquecer aquilo, indo fundo em sua mente e se desconectando do anjo. Era a melhor maneira de entender aquilo, como se fosse uma máquina, um traje, tipo o Homem de Ferro. O anjo é que era poderoso, mas não tinha controle nenhum. Só podia fazer o que mandavam. Brick não entendia por que, mas isso fazia algum sentido. Eles não podiam viver ali, naquela realidade, sozinhos. Precisavam viver dentro de você, como um parasita em um hospedeiro. E, quando estavam ali, não tinham escolha; só podiam fazer o que você queria que eles fizessem. Brick tinha certeza absoluta de que seu anjo tentava se comunicar com ele; provavelmente estaria tentando dizer que voltasse e enfrentasse a besta. Mas dane-se. O corpo era dele, as regras eram dele. Se o anjo não gostasse, que voltasse para o seu lugar de origem.
As chamas se apagaram, e o rapaz teve um instante de desconforto enquanto as asas se dobraram de volta em sua coluna. Ser humano de novo não era agradável. Sentia-se real demais, só carne e cartilagem. Os dentes pareciam esquisitos na boca, grandes, sem ponta, frouxos. Ele também estava cansado e, quando passou a mão pelo cabelo, vestígios de cobre se depositaram entre seus dedos. Sacudiu-os.
Porém, era bom ver com seus antigos olhos. Estava em um campo. Não, talvez em um vale. Não havia nada plantado, só havia flores silvestres. O lago com o qual colidira na descida era enorme, estendendo-se até o horizonte, a superfície ainda agitada por causa do impacto. Junto da margem mais próxima, havia algumas casas. Talvez houvesse comida ali. Brick estava faminto.
Ele partiu, a luz do sol como uma segunda pele, provocando-lhe coceiras. O calor o lembrava de Hemmingway, e isso, por sua vez, o fez pensar em Daisy. Você a largou lá para morrer sozinha, disse sua cabeça. Mas era mentira. Howie estava lá. Ela não estava sozinha. Prosseguiu, forçando-se a esquecer. A primeira casa estava próxima, enorme, de madeira: devia ser um rancho ou algo assim. Havia cavalos no jardim, alguns olhando-o com enormes olhos negros, as caudas balançando. O que deveria fazer? Bater na porta e pedir um sanduíche? Apenas entrar e pegar o que quisesse. Afinal, os proprietários não poderiam impedi-lo, não agora.
Deu mais alguns passos e uma porta se abriu na casa, e uma senhora de idade saiu. Segurava uma cesta de alguma coisa, talvez de roupa suja, e estava tão concentrada em descer os degraus da varanda que demorou um pouco para reparar em Brick. Quando o fez, encolheu-se.
— Oi — disse ela, com seu sotaque americano. — Posso ajudar?
— Estou com fome — ele falou, sem ter certeza do que mais dizer. — Faz tempo que não como.
— Ah... — A mulher recuou na direção da porta enquanto Brick continuava avançando. — Você precisa ir embora. Aqui não alimentamos imigrantes. Tem uma cidade do outro lado do lago, talvez lá você encontre um... um...
Brick virou a cabeça para o lado, tentando entender o que ela dizia. As palavras dela agora eram longas e gorgolejantes, disformes, e um lado do rosto dela ficara paralisado, como se estivesse tendo um AVC. Ela emitiu um som, como o de um cachorro ao vomitar, a cesta escorregando de seus dedos, deixando a roupa suja cair no chão. Em seguida, passou a correr, indo direto para ele, os olhos eram duas bolhas de ódio quase explodindo de seu rosto. Brick soltou um palavrão e recuou. Como podia ter esquecido da Fúria?
— Espere! — disse ele, virando-se e tropeçando nas próprias pernas.
Caiu desajeitadamente, e um jato de dor agudíssima atingiu o punho esquerdo. Levantou-se, mas era tarde demais, as mãos da senhora já estavam em volta de seu pescoço, as unhas dela querendo perfurar a pele de sua garganta. Brick engasgou com o súbito fedor corporal misturado com perfume, gritando enquanto os dedos dela sulcavam um caminho até sua bochecha.
O pânico acendeu a força dentro dele, e o som das chamas preencheu seus ouvidos, seguido pelo zumbido do anjo. Ele se lançou para cima, virando-se ao subir, e assistiu aos braços da idosa desintegrarem-se em cinzas. Ela ainda assim estendia a mão para ele, sufocando no pó do próprio corpo, as protuberâncias dos ombros ainda rotando.
— Vá embora! — disse ele, e suas palavras fizeram a mulher explodir em uma névoa vermelha, transformando a casa de madeira em farpas. A força o lançou para trás, e ele gritou de novo, um som que acertou o lago como um foguete, fazendo a água explodir. Acalme-se, ordenou a si mesmo, sem ousar se mexer, só pairando acima da grama congelada. Agora havia movimento vindo das outras casas, pessoas que saíam por causa do som da explosão.
Hora de ir. Levantou-se, pronto para disparar para longe daquele lugar, sentindo o ar à sua volta estremecer e cambalear enquanto o anjo se preparava para rasgar a realidade. Estava prestes a transportar-se, o mundo começando a derreter, quando viu uma silhueta no céu — outra chama, igual à dele. Deteve-se, observando aquele sol enquanto o anjo se aproximava. Seria Daisy, para falar com ele? Não adiantaria. Estava decidido.
Deixe-me em paz!, falou, desta vez mantendo as palavras dentro da cabeça, onde não causariam mal nenhum, sabendo que ela as ouviria mesmo assim. Vá embora, Daisy, estou cansado disso tudo!
Ela respondeu, mas ele não entendeu direito, captando pedaços de palavras: garoto alto, boneca quebrada, e aquela era a voz de Daisy ou de...
Rilke, percebeu Brick, e, assim que pensou no nome dela, Rilke disparou em sua direção, um grito rasgando o vale com força suficiente para criar um tsunami de terra. A onda de choque o golpeou, fazendo-o cambalear para trás e atravessar os destroços de duas casas. Ele se envolveu com as asas, o fogo protegendo-o, mas não houve tempo para se recuperar antes que ela atacasse outra vez. Brick sentiu-se alçado do chão e, agora, sim, havia dor, como se sua coluna estivesse sendo arrancada. Rilke nadava à sua frente, com os dedos incandescentes dela dançando no ar, puxando fios invisíveis de sua pele.
Ele está aqui, disse ela, as palavras ecoando na mente de Brick. Está aqui, Schiller, aquele garoto alto. Vamos dar um fim nele? Vamos arrancar as asas dele como se fosse uma borboleta? Mamãe ficaria orgulhosa.
O rosto dela era o de um anjo, seus olhos dois bolsões de luz solar putrefata, e, no entanto, atrás do fogo, quase invisível, ele enxergava a verdadeira expressão da garota — que era aterrorizante. Era frouxa, caída, como a de uma boneca mal-acabada. Havia ainda um buraco na cabeça dela, o buraco que ele tinha feito. Louca ela sempre fora, mas ele tinha feito aquilo com ela. Tudo o que havia de bom na garota tinha vazado por aquele buraco, gotejado para fora, e ela se tornara quebrada, vazia.
Não!, disse ele, lutando com ela. Desculpe, não foi minha intenção!
Ela puxou a cabeça dele para cima, como se tentasse arrancar a rolha de uma garrafa. Ele cuspiu um grito gorgolejado, seus braços girando sem parar. Algo estalou, uma vértebra, e dessa vez ele reagiu, gritando com Rilke, deixando seu anjo falar. A palavra disparou para cima, estrondando pelo vale como um trovão. Ele não a acertou e tentou de novo, desta vez berrando, com seus ouvidos zumbindo devido ao esforço. Ela foi como que golpeada por um martelo, mas ele não esperou para ver o que aconteceria. Fechou os olhos, abriu um buraco no mundo e nele entrou.
Cal
São Francisco, 14h46
Ele caiu, sentindo o fluxo do vento roubar o fôlego de seu corpo. Chocou-se contra o paredão do desfiladeiro, toda a dor perdida no estrondo de adrenalina. Depois, começou a girar, acertando outra vez o paredão, tudo escurecendo.
Por favor, funcione! Por favor, Por favor!
Não havia sinal de que seu anjo estivesse despertando. Mas era muito frio ali, congelante. Tinha a sensação de estar mergulhando no coração de uma geleira que não tinha fim nem fundo.
Outro impacto, agora sem dor. Vamos, seu maldito, é agora ou nunca! Se Cal chegasse ao fundo do desfiladeiro antes de se transformar, ele e o anjo morreriam. O frio se espalhava, parecendo irradiar-se de seu peito. Tentou olhar para as mãos, mas estava escuro demais, e ele caía muito rápido, rodopiando loucamente. Quanto tempo mais teria? Segundos?
Vamos!, disse, sentindo-se um paraquedista cujo paraquedas tivesse de ser aberto por outra pessoa. Vamos, vamos, vamos!
E então algo irrompeu de sua pele, uma chama trêmula que foi logo apagada pelo vento.
É isso!
Outra chama trêmula invadiu seu corpo, desaparecendo tão rápido quanto aparecera. No clarão, ele divisou os paredões do desfiladeiro se estreitando. Ele ia bater no fundo, ele ia...
Sentiu, levantando-se dentro dele, uma figura fria que se libertou de sua alma, berrando como um bebê recém-nascido ao irromper em fogo. Hesitou diante do horror daquilo, resistindo, de repente preferindo morrer a ser hospedeiro da criatura em seu interior. Ao se agitar, o movimento o fez passar através da pedra, fazendo-a em mil pedacinhos. Abriu a boca e soltou um uivo que abriu uma fenda na pedra, como um machado faria com a madeira. Berrou de novo, sentindo duas formas inacreditáveis desdobrarem-se de sua coluna, velas de pura energia que abriam caminho através de tudo ao redor, levando-o para cima até que irrompeu do chão.
Obrigou-se a parar, a ficar ali, a cem metros da terra que jazia abaixo. Seu horror passara, substituído por uma empolgação que se agitava em sua barriga. O anjo martelava, seu fogo em cada célula, o pulsar sônico de seu coração fazendo o ar cantarolar. Nunca tinha imaginado que se sentiria assim, como se pudesse tomar o mundo inteiro na mão e esmagá-lo. Jamais tinha imaginado que a sensação seria tão boa. Todas as outras emoções — o medo, o desespero que sentira havia poucos minutos — tinham sumido.
— Dem... — disse ele, a palavra disparando da boca com tanta força que Cal foi projetado para trás. Ele desfraldou as asas como se as tivesse tido a vida inteira, endireitando-se. Seus lábios formigavam com a força da palavra, e concluiu dentro da cabeça: Demorou, hein! Achei que você nunca fosse aparecer.
Se o anjo o entendeu, não deu nenhum sinal disso. Cal não sentia nenhum resquício de humanidade, nada vagamente familiar. Recolheu as asas, começando a mergulhar. O rugido do vento nos ouvidos lembrou-o das partidas de futebol, da pura alegria de correr o mais rápido que era capaz. O mundo se apressava para encontrá-lo, uma construção de partículas douradas, de bilhões e bilhões delas, cada qual movendo-se em sua pequena órbita, cada qual conectada com a outra de algum modo. Ele poderia mergulhar através delas caso quisesse, fendendo a realidade, como um nadador faz com a água. Riu, com a alegria borbulhando na garganta quando estendeu as asas outra vez e parou, lembrando-se do motivo de o anjo estar ali.
À frente dele, o horizonte estava fendido. Parecia diferente agora, através de seus olhos de anjo. A terra não tinha só desabado ali, tinha sido eliminada. Havia bolsões de completo vazio, nada daquelas engrenagens subatômicas que ele distinguia em todos os outros lugares. O homem na tempestade as tinha devorado. Não sobrara absolutamente nada.
E ele ainda estava lá embaixo.
Daisy!, pensou Cal, perguntando-se como pudera tê-la esquecido, mesmo que por um instante. Concentrou-se, libertando-se do mundo outra vez enquanto a rastreava. Ele logo se materializou, com a vida trancando a porta atrás de si com um baque que fez sua cabeça doer. Quando o halo de brasas sumiu, percebeu que estava de volta à floresta, e Daisy era só um monte de trapos, sentada contra uma árvore.
Cal desligou o motor do anjo e desceu ao lado dela. Não podia acreditar no quanto ela parecia velha, vendo as madeixas de um branco vivo em seus cabelos. Seus olhos estavam enevoados e repletos de tristeza.
— Daisy! — disse ele, aproximando-se da menina. Flocos de poeira vagavam para cima, saindo do corpo dela e desafiando a gravidade, como se ela se desintegrasse. Cal ajoelhou-se e colocou uma das mãos em seu rosto. Estava muito fria. — Você está bem?
Ela fez que não, colocando a mão dele sobre a dela. A floresta inteira tremia sob a ira da tempestade distante. Até os pássaros agora estavam calados.
— E Adam? — perguntou ela.
Cal olhou para trás, tentando entender onde estavam, e acabou vendo-a desaparecer em um pilar de fumaça. O ar estalou ao preencher o espaço que ela ocupava, mal tendo tempo de acomodar-se antes que ela reaparecesse em uma nuvem de cinzas incandescentes, com Adam preso ao peito. Os olhos do menino estavam arregalados, e ele despejou um vômito leitoso na camisa dela.
— Desculpe — ela lhe disse, enxugando sua boca.
Adam tremia, e Cal não soube se era por medo ou pelos tremo- res do chão.
— O que aconteceu? — perguntou Cal. — Você o viu lá embaixo? O homem na tempestade?
Daisy assentiu, engolindo ruidosamente.
— Ele está ainda mais poderoso do que antes — falou ela. — Ele quase me engoliu. Eu... acho que eu vi...
Suspirou, com o corpo inteiro tremendo.
— Viu o quê? — perguntou Cal.
— De onde ele vem. O que ele é.
Cal se sentou ao lado dela no chão macio e úmido, colocando a mão em seu ombro. Não insistiu, só esperou que ela encontrasse as palavras certas.
— Já ouviu falar de buracos negros? — perguntou ela enfim.
Cal fez que sim com a cabeça.
— Claro. Estrelas que sofreram um colapso, algo assim.
— Não sei direito. Mas elas devoram as coisas, não devoram? Tipo, tudo. Simplesmente devoram até não sobrar nada.
— Daisy — começou ele, mas sem nada para dizer depois.
— O homem na tempestade é como um buraco negro — falou ela, limpando uma lágrima do olho. — Porque ele nunca vai parar, não até que... — Ela estendeu os braços para a frente. — Até que tudo desapareça.
— Ei! — disse ele. — Ei, Daisy. Está tudo bem. Não é um buraco negro. Não pode ser.
Talvez alguma coisa parecida com um buraco negro, pensou ele, algo igualmente poderoso. Ela teria razão? Será que aquilo ficaria devorando e devorando tudo até o planeta inteiro ser apenas pó? Será que a criatura então pararia, ou devoraria a lua também, e o sol, virando do avesso aquele trechinho do universo?
Daisy levantou o rosto para ele, fungando: era apenas uma garotinha que ele resgatara em um carro um milhão de anos atrás. O medo e a dúvida a devoravam também. A tempestade tinha sugado todo o resto. Cal viu a pergunta no rosto dela.
— Podemos derrotar aquilo, Daisy. Precisamos.
Ela fez que sim com a cabeça, respirando fundo e parecendo se recompor.
— Precisamos de todos — disse ela, a voz pouco mais que um suspiro.
— Todos? Está falando de Brick? Ele não estava lá com você?
— Ele fugiu — falou ela. Cal abriu a boca, pronto para reclamar, mas ela o interrompeu antes disso. — Ele só está com medo, Cal, não é culpa dele. Ele vai voltar, tenho certeza que sim.
Não conte com isso, pensou Cal. Afinal, Brick era Brick. Ele deixaria o mundo inteiro acabar se fosse para salvar a própria pele.
— Cadê o novo garoto? — perguntou Cal. — Ele estava com você ou fugiu também?
— Howie. Ele estava lá. Eu... não sei para onde ele foi. Você acha que ele está bem?
Cal não tinha sentido outra morte, não como quando Chris morrera em Fursville. Olhou ao redor, perguntando-se onde estaria Marcus. E Rilke.
— Ela foi atrás de Brick — respondeu Daisy. — Tentei conversar com ela, mas...
— Mas ela é Rilke.
— Ela não está bem, Cal. Brick fez muito mal a ela. Não sei se tem conserto. Mas precisamos trazê-la de volta. Precisamos de todo mundo, ou não vamos conseguir enfrentá-lo.
Schiller estava morto. E Jade fora apagada como uma vela. Quanto mais demoraria até o corpo mutilado de Rilke também entregar os pontos? Ainda havia outros. O homem com a arma, lá em Fursville, aquele em quem Rilke tinha dado um tiro. Ele tinha um anjo dentro de si. A pessoa no carro em chamas, aquela por quem ele passara ao sair de Londres de carro. As pessoas com quem Marcus tinha viajado, que tinham sido mortas no caminho. Quantas mais?
Deve haver dezenas de nós, pensou ele. Centenas. Mas elas nunca tiveram a menor chance, não com a Fúria. Por que tinha de ser assim? Não fazia sentido.
— Acho que os anjos não tinham escolha — disse Daisy, tossindo outra vez. — Quando eles vêm do mundo deles, precisam entrar na primeira pessoa que veem, ou não sobrevivem. — Como ela sabia disso? — É só o que eu acho. E não existem centenas de nós. Não acho que haja mais alguém, só a gente.
Cal balançou a cabeça, fixando o olhar entre as árvores. Acima do poço, o céu estava mais escuro agora. Parecia que um milhão de metralhadoras estavam sendo disparadas, obuses ladrando fundo sob a superfície.
— Só nós — disse Daisy. — Mas é o suficiente, Cal. Somos suficientes. Você tem razão, podemos derrotá-lo.
Ela sorriu para ele, e ele de repente viu algo, uma lembrança que vazou da cabeça dela, levada pelo vento como um aroma. Duas pessoas numa cama, dormindo, como bonecos de cera.
— Eu... eu não estou com medo — falou ela.
Daisy estendeu a mão e ele a pegou, tomando seus dedos fininhos.
— Mas como fazer isso? — perguntou ele.
Não teve tempo de responder porque alguns galhos moveram-se. Uma figura magricela se agachou debaixo de uma árvore e, derrapando, parou ao lado deles. Marcus abriu um sorriso enorme, o rosto com arranhões em zigue-zague.
— Estavam pensando que se livrariam de mim, é? — disse ele.
Daisy riu, o som de algum modo mais alto do que a terra a ribombar.
— Tudo bem, cara? — falou Cal. — Achou um jeito de descer?
— Não, você que achou um jeito de subir — respondeu ele. — Qual é o plano, então? Voar para casa, tomar um chá?
Cal sorriu. Como Marcus podia estar tão relaxado? Não entendia como não estavam todos encolhidos em um canto, gritando, chorando e arrancando os cabelos. Aquilo tudo não bastava para enlouquecer uma pessoa, para deixá-la arrasada, sem falar coisa com coisa? Ele achou que ainda podia estar em choque, numa reação retardada. Se sobrevivessem àquilo, podiam todos terminar no hospício.
— São os anjos, seu bobo — disse Daisy, outra vez colhendo os pensamentos da cabeça dele. — Eles nos mantêm em segurança de várias maneiras.
— Você precisa ficar fora da minha mente, Daisy — falou Cal. — Sou um adolescente. Tem coisas aqui dentro que você não quer ver.
— Como a Georgia? — disse ela, dando outra risadinha.
— Cala a boca — protestou ele, olhando dentro da cabeça dela e vendo ali um menino no palco, a imagem tão nítida que poderia ser uma memória sua. — Ou então vou começar a falar do Fred.
— Ei! — disse ela, dando-lhe um tapinha com as costas da mão. — Nada disso!
Riram baixinho, e, em seguida, ficaram sentados em silêncio, ouvindo a tempestade distante.
— Sério — disse Cal. — Como vamos derrotá-lo?
— Vamos começar do começo — falou Daisy. — Precisamos achar Brick e os outros. Não conseguiremos sem eles.
— Mais fácil falar do que... — Cal parou, inclinando a cabeça para o lado. Seus ouvidos zumbiam, como na manhã que sucede um show. — Está ouvindo?
— Parou — disse Daisy.
Era isso. A tempestade tinha silenciado, tão de repente e tão completamente que a quietude na floresta era quase irritante. Cal colocou um dedo na orelha, flexionando o maxilar.
— Você acha que acabou? — perguntou Marcus.
— Não — falou Daisy, inclinando o tronco para a frente, seus olhos se movendo de um lado para o outro enquanto ouvia. — Acho que não. Só mudou de lugar.
O zumbido no ouvido de Cal ficou mais alto, e a floresta se acendeu, repleta de fogo. Uma silhueta despencou dentre as árvores, provocando um baque no chão, brilhando com tanta força que Cal só distinguiu a pessoa dentro das chamas quando elas se extinguiram. Ele piscou para eliminar os pontos de luz da visão, vendo o novo garoto agachado.
— Howie! — disse Daisy. — Tudo bem?
— Eu estou bem — falou ele com a voz rouca, cuspindo uma bolota de catarro escuro. — Fiquei perdido quando me transportei, ou sei lá o que foi aquilo. Fui para algum lugar escuro e frio. Achei que nunca mais ia voltar. E você? Vi você sendo sugada.
— Eu saí — disse ela.
Howie deitou de costas, parecendo exausto. Também parecia assustado.
— Acho que ele me viu.
— Viu você? — perguntou Cal. — Como assim?
— O homem na tempestade — falou Howie. — Acho que ele sabe para onde eu fui. Acho que ele está vindo.
Brick
Rio de Janeiro, 14h52
Ele irrompeu do céu como um relâmpago, provocando uma leve trovoada quando o mundo se refez ao redor. Desorientado, tropeçou, caindo em uma chapa de ferro corrugado. Era algum tipo de casa, ou de barraco, seu fogo frio refletido no metal fosco. Rodopiou, e as asas cortaram o metal, transformando-o em pó. Havia construções similares por toda parte, centenas delas, estendendo-se por um morro. À distância, havia outra cidade, e outro oceano. Ele viu uma montanha com uma estátua enorme em cima, que reconheceu da televisão.
Onde diabos estava?
Ouviu um barulho próximo, alguém ganindo. Virou-se mais uma vez, e viu um rosto aparecer entre duas das construções. Era uma criança, mas a expressão era a de um bicho, repleta de ódio furioso. Outros gritos se somaram ao do menino, até que o lugar soava como um zoológico na hora da comida. Passos vinham para cima de Brick, pisoteando a terra, um enxame proveniente de todas as direções, com os olhos arregalados, as mãos retorcidas em garras.
Vão embora!, gritou ele, tentando conter as palavras na garganta, onde não causariam mal nenhum. Mesmo assim, o pensamento parecia ter força própria, ondulando pelas construções e transformando em cinzas a primeira fileira de furiosos. Não, desculpem, desculpem!, disse ele, batendo as asas, só o tamanho delas já chutando a nuvem de carne e ossos em pó em redemoinhos que se precipitavam, brincando entre as casas. Levantou voo, vendo os furiosos abaixo, agora centenas deles, pisoteando-se para alcançá-lo.
Algo detonou no céu, uma onda de choque explodindo sobre a favela, achatando as casas de latão e tudo o mais. Brick ergueu as mãos para se proteger, e entre os dedos viu Rilke disparando em direção à terra. Ela o alcançou em uma fração de segundo, o impacto socando-o através de metal, terra e rocha, como se ele estivesse sendo jogado em uma cova por um trem. Sentiu os dedos da mente dela esgueirarem-se em sua cabeça, em seu coração, tentando desfazê-lo, e a xingou, cada palavra uma martelada que a forçava para trás.
Brick conseguiu se desvencilhar, com o anjo ardendo em potência máxima, seu zumbido elétrico como a coisa mais ruidosa do mundo. Disparou como um foguete pelo canal que tinha talhado na pedra, escapando para a luz do sol. Rilke o esperava pairando, tão luminosa quanto se o sol tivesse caído do céu. Em volta dela, havia apenas uma cratera de destruição, as construções em ruínas. Pessoas ainda jorravam dos escombros, tropeçando em cadáveres de amigos e vizinhos, ofuscadas pelo próprio ódio instintivo.
Ele estendeu as asas, pronto para fugir outra vez, mas Rilke o agarrou com mãos invisíveis, prendendo-o ali. Ela tapou a boca dele com algo, um punho de ar enterrado em sua garganta. Como poderia ser tão forte, quando estava tão machucada?
Desculpe, Rilke, disse ele.
Olhe só para ele, Schill, ouviu-a. Veja como ele suplica feito um cachorrinho. O que vamos fazer com ele? O mesmo que ele fez com você? Vamos arrebentá-lo pedacinho por pedacinho?
Brick lutava, incapaz de se soltar. Não podia sequer fazer uma palavra escapar pela garganta bloqueada.
Você o matou, ganiu Rilke. Matou meu irmão!
Não!, foi o máximo que Brick conseguiu emitir antes que Rilke abrisse a boca e despejasse um som. Não propriamente uma palavra, só um som molhado e gorgolejante, mas proveniente do anjo dela, e, quando tal som o atingiu, ele teve a impressão de que o universo inteiro virara do avesso. Despencou no chão de novo, rolando em meio a aço e rocha. Mesmo através do fogo gélido, foi tomado pela dor.
Uma eternidade pareceu se passar até que ele enfim parasse de se mover. Levantou-se, seu anjo não mais ardendo. Um líquido pingou de seu rosto, bem quente contra a pele e, quando o tocou com os dedos, eles ficaram vermelhos.
Não, pensou ele, os ouvidos zumbindo tanto que só ouviu os furiosos quando o primeiro deles apertou sua garganta. Rosnou, tentando soltar aqueles dedos, e sentiu algo bater em sua bochecha, um punho ou uma bota. Fogos de artifício incolores dançavam contra o céu, esburacando sua visão. Tentou fazer o anjo pegar no tranco, assim como fazia com sua motocicleta, mas não sabia como. Uma unha longa e suja foi contra seu olho, e ele gritou. Funcione, droga, por favor! POR FAVOR!
Mais furiosos vieram para cima dele, tantos que ele não via mais o sol. Não tantos que chegassem a esconder Rilke, porém, quando ela flutuou pelo ar até ele, com as asas plenas. Brick ouviu então um barulho além do zumbido martelante do anjo, agudo e feio, como um prego contra vidro. Era o riso de Rilke.
Quem ela achava que era? Tinha matado Lisa com um tiro na cabeça. E quantos mais? Milhares. E ainda tinha a ousadia de acusar ele de assassinato? A raiva de Brick subiu do estômago: um incêndio explosivo que incinerou a turba e jogou Rilke para trás, permitindo a Brick sair do chão.
Ele não deu a Rilke a chance de se recuperar: foi para cima dela com tudo o que tinha. Ela agitava os braços como se estivesse em uma briga de bar, cada golpe mandando enormes lufadas de energia pelo ar. Errava a maioria delas, talhando trincheiras no morro, na cidade, chicoteando o mar à distância. Ele também gritava, sem se importar com o que dizia, deixando o anjo falar por si. Rilke contra-atacava, e havia relâmpagos disparando em todas as direções, o ar ao redor agitando-se febrilmente.
Um dos ataques dele deve ter acertado o alvo, porque, de repente, Rilke saiu rodopiando e ardendo, sumindo em meio a um mar de detritos. Brick passou a mão no ar, seus dedos invisíveis erguendo mil toneladas de metal, madeira e gente como se fossem um lençol. Cerrou o punho, e o lençol virou uma bola, aquilo tudo maior do que um estádio de futebol. Ele a mandou para longe, vendo-a ser lançada pelo ar como se disparada por uma catapulta, deslizando sobre a superfície do oceano.
Tinha de estar morta, aquilo por certo a teria matado.
O oceano explodiu, e Rilke disparou dele como um míssil vindo de um submarino. Ela desapareceu para, então, reaparecer no mesmo instante no céu acima de Brick. Seu fogo se intensificou, e ela desapareceu de novo, e de novo, preenchendo o ar de brasas. Ele ouvia a voz dela aparecendo e sumindo, ainda entremeada de insanidade: acabou com a gente, acabou com a gente, não vou contar, irmãozinho, ela não precisa saber, não se o matarmos.
Chega!, disse ele. Basta!
Rilke removeu a si mesma da realidade outra vez, e, agora, ao refazer-se, apareceu bem atrás dele, o fogo dela projetando sua sombra dourada sobre a terra. Envolveu-o com seus braços, os dela e os do anjo, travando os dele na lateral do corpo. O som que os anjos deles faziam juntos era surreal, um martelar tão alto que Brick era capaz de ver pedras dançando no chão lá embaixo, tudo o que era sólido virando líquido. Faíscas sibilavam e estalavam em volta deles.
— Você devia tê-lo deixado em paz! — disse ela, os lábios contra o ouvido dele, as palavras detonando contra sua armadura de fogo, ricocheteando em todas as direções.
O ar ia ficando mais agitado, rosnando para a força deles. À distância, a cidade desabava, seus prédios transformados em pó. A imensa estátua se partiu em dois pedaços e caiu, com metade da encosta desabando depois.
Brick a enfrentava, tentava se desvencilhar, mas não conseguia se mexer. A terra abaixo estava sendo afastada, como se um helicóptero pairasse sobre a água, formando uma imensa cratera. O pulsar sônico dos anjos ficou mais alto e mais agudo. Aqueles flashes de luz branca, dourada, azul e laranja zuniam feito chicotes, cada um fazendo o céu tremer. Ele mal conseguia ouvir Rilke com o barulho.
— Você não devia ter acabado com a gente!
Não acabei!, gritou ele. Não acabei! Foi o homem na tempestade! Ele matou o seu irmão!
As palavras dele devem ter soado verdadeiras, porque sentiu que ela afrouxou a pegada. Brick aproveitou a oportunidade para escapar de seus braços. No momento em que desfez o contato, algo se acendeu no espaço entre eles. Foi como outra explosão nuclear, impelindo-o para cima em uma onda luminosa. Precisou de um instante para achar as asas, estendendo-as e se detendo, com os olhos arregalados diante da visão do que tinham feito.
A força da explosão não tinha deixado nada — nem prédios, nem gente, nem água —, só um deserto de poeira cor de areia de um horizonte a outro. O oceano fervilhava do outro lado, distante da terra ao tentar nivelar-se de novo, o rugido audível mesmo dali do alto. O ar subia e caía em volta dele, o planeta recuperando o fôlego, e um estalo aqui e ali precipitando-se contra o céu.
Não fui eu que fiz isso!, disse ele consigo, o próprio coração batendo quase com a mesma força do coração do anjo. Foi ela, ela fez isso, ela matou todo mundo, não eu!
Não havia o menor sinal de Rilke em lugar nenhum. De repente, ela explodira a si mesma, arrebentando-se em átomos, espalhando-os pelo túmulo sem limites abaixo. Por Brick, tudo bem, até porque nunca se sentira tão cansado, tão fraco, mesmo com o fogo correndo em suas veias.
Algo atraiu sua atenção para o sol, e ele ergueu a cabeça, vendo-o partir-se em dois. Rilke se lançava contra ele, o grito dela levantando a poeira dos mortos, criando dunas de cinzas. Brick ergueu as mãos, pronto para se defender, percebendo, ao fazer isso, que não poderia derrotá-la, não sozinho.
Usou a mente, abrindo o tecido do espaço-tempo e atravessando-o. Desta vez, porém, sabia exatamente para onde ia.
Daisy
São Francisco, 15h01
— Ele está chegando.
Howie mal tinha terminado de falar quando Daisy ouviu um som de tiro na floresta. Ela olhou por entre os galhos no momento em que um relâmpago negro partiu o céu em dois, tão escuro que feriu a retina deles. Veio outro, com nuvens de trevas infiltrando-se do ar cindido como tinta vertendo em água. O trovão pingava do céu fraturado, preenchendo a floresta de ruído.
— Preparem-se! — disse Cal. — O que quer que aconteça, vamos nos manter juntos, certo?
O céu agora estava sujo de fumaça, com gotas de um fogo negro e horrível espraiando-se do centro do caos como manchas solares envenenadas. Uma forma se avolumava daquela insanidade oscilante, com duas enormes asas que batiam com força suficiente para rachar os troncos das árvores, despojá-las de tudo. A besta rugia ao libertar-se, um rugido para dentro, como uma respiração asmática ensurdecedora. Seu rosto estava oculto pela fumaça, mas Daisy pôde ver a silhueta de sua boca ali, a coisa mais escura do céu.
— Fiquem juntos! — disse Cal outra vez, agora gritando. — O que a gente faz agora?
Daisy olhou para ele, depois para Howie e, em seguida, para Marcus, que segurava Adam em seus braços fininhos. Todos olhavam para ela à espera de uma resposta. Mas por quê? Por que achavam que ela sabia o que fazer? Ela só tinha doze anos. Não era uma heroína, nem forte, nem tão inteligente assim, para falar a verdade. Não sabia de nada. Não sabia.
Só que... sabia sim! A verdade estava em algum lugar no fundo dela, gritando o mais alto que podia, dizendo-lhe que, se eles não se mantivessem firmes ali e tentassem enfrentar o homem na tempestade, todos iriam morrer. Ela chegava a visualizar isso: Marcus e Adam primeiro, transformados em pó, porque ainda não tinham seus anjos. Depois ela, porque estava exausta. Cal e Howie revidariam com tudo, mas não seria suficiente, não contra aquilo.
A besta içava-se do vazio atrás do mundo, estilhaçando a realidade. Trazia consigo aquela sensação horrenda, sugando todo o calor do dia, toda a bondade, fazendo Daisy querer simplesmente sentar e chorar pelo resto da existência. Não havia nada acima dela além de um oceano invertido de piche fervilhante, o sol era um halo tênue. Era como se a noite tivesse caído, de repente e sem aviso. Os olhos do homem eram holofotes escuros que perscrutavam a floresta, procurando por eles. Sua boca arquejante sugava árvores, raízes e pedras. Porém, ele ainda não os tinha visto.
Precisamos ir!, disse ela. Agora mesmo!
Como assim?, perguntou Cal. Podemos enfrentá-lo, somos três. Nós o enfrentamos em Londres, vamos enfrentar de novo.
Espere!, ela lhe disse, mas Cal já tinha se despojado de sua pele humana, com uma fornalha irrompendo nos vazios de seus olhos, espalhando-se pelo corpo. As asas expandiram-se em suas costas: um farol ardente que fez a noite tornar-se dia outra vez. O homem dirigiu seu olhar sem luz para onde estavam, e Daisy chegou a sentir a pútrida alegria dele ao perceber que os tinha pego.
Ela mergulhou na própria cabeça, destrancando a porta e deixando seu anjo sair. Howie fez o mesmo, irrompendo em chamas. Daisy ergueu os olhos do anjo e viu o homem atacar com um punho de fumaça, que veio com a força de um meteoro, com uma velocidade inacreditável.
Daisy usou a mente para alcançar o tempo e prendê-lo em seus dedos em chamas. Era como tentar segurar um dobermann pela coleira — sentia que era ela a ser arrastada. Porém, fincou os calcanhares, ouvindo o universo gemer de dor quando suas regras foram quebradas, cada átomo estremecendo em protesto.
Não consigo segurar, disse ela, vendo o céu cair em câmera lenta, aguardando o momento em que seria alvejada e tudo terminaria. Cal, porém, soube o que fazer, abrindo uma porta e os puxando através dela — primeiro Marcus e Adam, depois Howie, e, por fim, Daisy —, batendo-a após a passagem.
Ela olhou para trás quando a realidade se fechou, vendo as garras da noite liquefeita acertarem o chão onde estavam, explodindo árvores em farpas. Então o tempo libertou-se de seu domínio — a barriga dela dançando quando arderam e voltaram. Através da algazarra de brasas reluzentes, ela via os outros, dois anjos que brilhavam como aço derretido, além de Adam e Marcus envoltos nos braços um do outro, um fogo azul queimando abaixo da pele do peito deles.
O mundo revirou-se até voltar ao lugar, esvoaçando um pouco como uma cenografia prestes a desabar. Quando assentou-se, Daisy distinguiu uma paisagem de gelo e neve, uma cordilheira de montanhas projetando-se do horizonte como dentes. Estava quase escuro ali.
Daisy desceu ao chão, desconectando-se de seu anjo para que ele descansasse. Assim que o fez, arrependeu-se; ali estava congelando, o vento como que os dedos de um morto subindo e descendo por suas costas.
— Podia ter avisado — disse Marcus, enxugando o vômito da boca. Ele e Adam estavam curvados, uma poça de fluido branco à frente. — Não me importo de ser arrastado pelo mundo, mas poderia me dar a chance de me preparar da próxima vez? O vômito não é nada; só que acho que fiz cocô nas calças.
Daisy riu enquanto estremecia. Adam correu até ela, que o envolveu nos braços.
— Também podia ter levado a gente para um lugar mais quente — disse Marcus, batendo os dentes.
— Desculpe — respondeu Cal. — Ainda não peguei o jeito disso. No mais, aqui está tudo quieto, não tem ninguém por perto para tentar matar a gente. — Suspirou. — A gente devia tê-lo enfrentado.
— Pois é — disse Howie, balançando a cabeça. — Agora ele sabe que a gente está com medo.
— A gente não teria vencido — falou Daisy. — Teria sido suicídio. — A palavra ficou presa na garganta dela, junto a imagens da mãe morta na cama. E nós teríamos machucado você. — Nós não éramos fortes o bastante.
— Como você sabe? — disse Howie.
— Cara — disse Cal —, chega! Nenhum de nós tem a menor ideia do que está acontecendo, mas a Daisy, ela entende as coisas. Desde o começo. Você pode fazer o que quiser, mas eu confio nela.
Cal exibiu um sorriso, e Daisy retribuiu, mesmo que fosse bem difícil, porque os músculos de seu rosto estavam congelados. Howie apenas passou um braço pelo ar, deixando-os de lado e examinando as montanhas, aninhadas na penumbra.
— Podemos vencê-lo — disse Daisy. — Mas precisamos de todo mundo. De Brick e de Rilke.
— Rilke? — falou Marcus. — A essa altura, ela já deve ter morrido, depois do que ele fez com ela.
— De você e de Adam também — prosseguiu Daisy. — Precisamos que os anjos de vocês nasçam.
— Pois é, estou tentando — disse Marcus, batendo no peito. — Mas esse negócio não está me dando a menor bola. Deve ser o anjo mais preguiçoso do... da... da terra dos anjos.
— Por que vocês os chamam de anjos? — perguntou Howie, virando-se para eles.
— Você sabe — disse Cal. — Fogo, asas, voo, dar uma surra em um demônio malvadão no céu. Bem óbvio, para dizer a verdade.
— Mas eles não são anjos, são? — indagou o novo garoto. — Quer dizer, para começar, os anjos não existem. E, se existem, são bons. Tipo, totalmente bonzinhos, ou algo parecido. Estes são diferentes. Essa coisa... — ele estendeu as mãos, como se ainda tivessem fogo brotando delas — ... essa coisa meio que me dá vontade de explodir tudo.
— Acho que eles não estão na Bíblia — falou Cal. — Falamos com um sacerdote uns dias atrás. — Ele parou, franzindo o rosto. — Cara, não, foi hoje de manhã. — Fez que não com um gesto de cabeça, como se não conseguisse acreditar. — Bom, ele disse... Bem, para ser sincero, não lembro, eu estava muito mal. Mas algumas pessoas acham que a Bíblia se baseia em coisas que as pessoas viram, tipo, séculos atrás, em histórias que foram transmitidas.
— E... — disse Howie, porque Cal havia parado de falar.
— E aí que, você sabe, isso pode ter acontecido antes, essas coisas feitas de fogo lutando com a coisa feita de fumaça, ou o que quer que seja. As pessoas viram, contaram para os filhos, e eles ganharam o nome de anjos. Que tal?
Howie deu de ombros.
— Que diferença faz? — questionou Marcus. — A gente só sabe que eles estão aqui, dentro da gente, e que querem botar pra quebrar. Fim da história.
— Tem certeza? — falou Howie. — E se eles estiverem do lado dele; e se nós é que devemos ajudar o homem na tempestade?
— Nem me venha com esse papo — disse Cal. — A gente ouviu isso de Rilke, e veja o que aconteceu com ela.
Howie ergueu as mãos, rendendo-se.
— Estou só tentando eliminar todas as possibilidades. Não é muito difícil passar de bêbado na praia para possuído por um ser mais ou menos anjo que quer salvar o mundo da destruição certa.
— Você estava bêbado? — perguntou Daisy. — Quantos anos você tem?
— Treze — disse ele. — Idade mais do que suficiente.
— Você ainda está bêbado? — perguntou Cal.
Howie sorriu.
— Infelizmente, não. Acho que uma garrafa de rum poderia ajudar bastante a lidar com essa situação.
— Eca! — disse Daisy.
Ficaram um pouco calados, e ela se voltou para dentro, para falar com seu anjo. Ele tem razão? Você é bom? Você já esteve aqui? Ele não respondeu, limitando-se a ficar sentado como uma estátua na alma dela. Daisy pensou no que tinha visto antes, no lugar de onde haviam vindo, um lugar frio e inerte onde nada acontecia. Estremeceu ao pensar que, quando aquilo acabasse — em derrota ou vitória —, seu anjo teria de voltar. Ficaria trancado de novo em sua cela até a próxima vez que se fizesse necessário.
— E aí, como é que a gente faz? — perguntou Marcus. — Meu anjo pode levar dias para acordar. Até lá, pode não haver mais nada para salvar.
— Não necessariamente — disse Cal. — Existe um jeito de... dar motivação a eles.
— É?
Cal fez que sim com a cabeça, mas, em vez de falar, pareceu transmitir uma imagem. Daisy o viu de pé à beira de um precipício, e, em seguida, caindo. Se seu anjo não tivesse despertado naquele momento, teria morrido, e Cal também. Fora uma aposta arriscadíssima.
— O quê? Cara, de jeito nenhum! — falou Marcus. — Você é maluco! Não tem a mínima chance de eu fazer isso!
— Foi só uma ideia — disse Cal. — Tem alguma melhor?
— Talvez eu tenha — falou Daisy.
Ela sorriu para Marcus e se conectou com seu anjo, olhando a chama azul no peito do garoto, a força que ela fazia para sair, para alcançá-la. Marcus recuou, apertando os olhos para proteger-se do brilho nos olhos dela, murmurando:
— Por que tenho a sensação de que não vou gostar disso?
Cal
Manang, Nepal, 15h15
Confie em mim, disse Daisy. Não dói.
Cal observava enquanto ela flutuava em direção a Marcus, seu fogo ardendo, mas sem exalar calor. Dedos de luz projetaram-se da neve, desabando quase de modo instantâneo. O ar tremia com a força dela, soando como uma dúzia de amplificadores de guitarra no volume máximo. Seus olhos eram como poças de luz solar liquefeita, e Cal ainda sentia o medo fazer cócegas em sua espinha, pensando na surrealidade daquilo.
— Ah, tá! — disse Marcus, dando um passo hesitante para trás. — Vou simplesmente confiar em você, claro.
Daisy não retrucou, só estendeu a mão para o peito de Marcus. Cal não viu nada até apertar o botão psíquico e se conectar com o anjo. De repente, Marcus era um motor cheio de engrenagens, seu peito repleto de fogo azul. Aquelas chamas pareciam estender-se para Daisy, procurando-a. Os dedos dela eram genuíno fogo, projetando-se através da camisa de Marcus e para dentro da pele dele.
— Opa, opa, opa! — gritou Marcus, dando um passo para trás, seu caminho bloqueado por Howie. — Isso não é legal, Daisy, só...
Vai ficar tudo bem, falou ela, insistindo na tentativa. A lâmina de sua mão aplanada cortou-o como o bisturi de um cirurgião, seus dedos tocando o fogo que ardia em seu peito. Assim que ela fez contato, ouviu-se um nítido estrondo, e Daisy voou para trás, como se tivesse levado um choque elétrico. Porém, ela sorria, porque o fogo de Marcus se espalhava no peito dele, atravessando as veias e saindo pelos poros. Ele resistiu, dando tapas na pele, dançando parado, ganindo palavrões, amaldiçoando Daisy o tempo inteiro.
Não resista, disse ela. Está vendo? Não dói, dói?
Ele não respondeu, só ficou saltitando e chutando bocados de neve. As chamas frias e azuis bruxuleavam para cima e para baixo, tentando firmar-se, até que, de repente, ganharam vida com força total, vermelhas, laranja, douradas. Marcus gritou, o ruído ecoando pelas montanhas distantes. Seus olhos estavam repletos de luminosidade incandescente, cuspindo faíscas. Ele foi ao chão quando uma asa, batendo para baixo, virou-o na diagonal. Cal precisou levantar voo para sair do caminho enquanto Marcus esperneava no chão, arrancando nacos de pedra com as novas mãos.
Somente quando a outra asa de Marcus deslizou para fora, ele pareceu acalmar-se, pairando a cerca de um metro do chão. Seu peito se enchia e esvaziava, ainda que Cal tivesse certeza absoluta de que não precisavam efetivamente respirar quando estavam daquele jeito. Marcus girou para cima e levou as mãos ao rosto, examinando a nova pele.
— Lega... — As sílabas ricochetearam entre eles, e Marcus tapou a boca com a mão.
Voz interior, falou Daisy.
Esta?, respondeu ele, as palavras na cabeça de Cal, fracas, mas cada vez mais fortes. Opa, eu... Isto... Que loucura, cara! Só pode ser um sonho!
Se é, então estamos todos no mesmo sonho, disse Cal. Tudo bem?
Tudo, tudo bem. É... É como ter tomado Valium, sei lá. Você se sente... calmo, uma coisa assim.
O que é Valium?, perguntou Daisy.
Um remédio para ficar legal, respondeu Howie.
Achei que seria diferente, prosseguiu Marcus, com as asas estendidas acima da cabeça, filtrando a fria luz do sol em filamentos de ouro. Achei que sentiria algo mais forte, sabe? Como se estivesse possuído ou algo assim. Mas... não tem nada a ver. Parece que sou o Super-Homem.
Você é magricela demais para ser o Super-Homem, protestou Cal. Ele se virou para Daisy. Como você sabia que devia fazer isso?
Apenas sabia respondeu ela. Acho que o anjo me mostrou.
Queria que ele tivesse mostrado a você antes de eu pular de um precipício, falou Cal. Teria ajudado bastante.
Daisy riu, o som erguendo-se acima das batidas do coração deles como o canto de um pássaro após uma tempestade.
Desculpe, disse ela. Cal riu também, e meu Deus, como era bom, ele se sentia dez toneladas mais leve. Daisy ajoelhou ao lado de Adam, sua mão incandescente repousando no ombro dele. O garotinho não parecia assustado; não parecia nada, para dizer a verdade. Mas seus grandes olhos estavam repletos de confiança ao olhar para ela.
Você vai ficar bem?, perguntou a ele. Não precisa fazer isso se não quiser. Mas não dá medo, Adam; eles estão aqui para cuidar de nós.
Deixe-o assim, disse Howie. É uma criança, não vai ajudar muito em uma luta.
Provavelmente era verdade, mas, mesmo que Adam não lutasse, ao menos o anjo o manteria em segurança. A chaminha no peito dele procurava Daisy, que delicadamente levou a mão até ela.
Estou aqui, viu? Não precisa ficar com medo.
Ela fez contato, liberando outra supernova de luz e som. Cal precisou virar para o lado desta vez e, quando olhou de novo, viu Daisy e Adam no ar, deixando um rastro de chamas ondulantes. O garotinho estava em dificuldades — Cal não via, mas percebia —, e Daisy o segurava, recusando-se a soltá-lo. O trovão rasgou o céu, e um clarão surgiu quando Adam se transformou. Após um ou dois minutos, os dois anjos desceram, sem chegar exatamente a pousar na neve.
Tudo bem?, perguntou Cal. Adam fez que sim com a cabeça, os olhos como duas piscinas de minério derretido que não piscavam.
Você foi tão corajoso!, disse Daisy. Sabia que seria.
Adam sorriu para ela, suas asas batendo acima da cabeça. Cal aguardou, perguntando-se se ele falaria agora que não tinha boca. Não havia sinal dele, porém, na profusão de vozes em sua cabeça. O que quer que o garoto tivesse enfrentado quando a Fúria havia começado, aniquilara mais do que apenas sua voz.
Dê uma chance a ele, disse Daisy, capturando os pensamentos de Cal como borboletas em uma rede. Logo ele vai falar, sei que vai.
Cal fez que sim com a cabeça, e, por alguns instantes, ficaram suspensos ali, os cinco, as asas arqueadas contra o dia evanescente, suas pontas quase se tocando. Os anjos espalhavam luz e som pela neve, fazendo tudo parecer uma dança. Até as montanhas estrondavam contra o horizonte, tremendo como se tivessem medo. E fazem bem em tê-lo, pensou Cal. Porque agora estamos prontos.
Quase, disse Daisy.
Pois é, precisamos de um plano ou algo assim, não é?, falou Marcus. Uma estratégia, ou coisa parecida.
Eu tenho um plano, disse Howie.
Mesmo? Marcus virou seus olhos flamejantes para o novo garoto. Legal. Qual?
Não morrer.
Excelente, cara, disse Cal. Mas ele riu outra vez, o som correndo dentro de si, quente contra a gelidez do anjo. Não morrer é um plano?
É, disse Howie, rindo também. O que quer que aconteça, por pior que fique, não morrer.
Todos riram, tão silenciosamente quanto podiam, o ar entre eles tremendo e cintilando com a força daquele ato. Até Adam riu. Cal se perguntava o que as pessoas diriam se pudessem vê-los ali — cinco criaturas talhadas em fogo frio, dando risada, as asas se agitando acima. Essa imagem fez com que Cal risse com ainda mais força, e precisou se afastar, encarar as montanhas, para tentar se conter.
Vocês são malucos!, disse Howie. Totalmente, completamente malucos, sabiam?
Pois é, falou Marcus. Acho que já faz um tempo que a gente sabia disso, cara.
“Não precisa ser maluco para trabalhar aqui, mas ajuda”, acrescentou Daisy, gerando novas risadas. Que foi? Minha mãe tinha um adesivo que dizia isso. Só agora entendi o sentido.
Então, disse Cal, sentindo as lágrimas congelarem no rosto, caindo na neve abaixo como diamantes. Não temos um plano, não temos ideia do que está acontecendo. O que falta fazer?
Só uma coisa, respondeu Daisy, olhando além de Cal, além das montanhas, por cima de continentes e oceanos. Precisamos achar Brick, e também Rilke.
Ele não vai voltar, disse Cal. Sei que tem fé nele, Daisy, mas pode acreditar: neste momento, Brick está o mais longe possível do homem na tempestade, e somos as últimas pessoas que ele quer ver.
Brick
São Francisco, 15h18
Eles tinham de ainda estar ali, tinham de ajudá-lo.
Brick seguiu o caminho que tinha feito havia poucos minutos no piloto automático, deixando que seu anjo o guiasse pelo espaço atrás do universo. Quando fora cuspido de volta ao mundo real, porém, era noite em vez de dia, e onde antes ficava a floresta havia agora uma extensão nua de terra que se estendia até o horizonte cindido. O vento batia contra ele enquanto tentava pousar, como se o esmurrasse, o zumbido do coração do anjo tão alto que Brick precisou de um instante para se recompor ao ribombar do trovão acima.
O homem na tempestade estava suspenso no céu, parecendo um corvo gigante em um ninho de trevas. Suas asas se erguiam dos dois lados, feitas de um fogo da cor de fumaça e petróleo. Entre elas, havia um vórtice que girava e girava, um furacão que sugava tudo à vista. Brick sentia seu toque frio contra a pele, levando-o junto com a rocha partida da encosta. Tropeçava em pleno ar, chamando com a voz e a mente ao mesmo tempo, mal conseguindo ouvir a si mesmo. Era como se fosse uma pulga sendo sugada por uma turbina de avião.
Não havia nem sinal dos outros.
Onde estavam? Tinham voado para longe, abandonando-o. Aqueles desgraçados egoístas! Tinham-no deixado ali para morrer. Lutava para controlar as asas, tentando libertá-las da corrente. Mas ela era forte demais, com aquela pressão incansável, sugando Brick para a boca do homem. Soltou um palavrão, que se desprendeu de seus lábios como uma bala de canhão de luz, disparando pela terra na direção completamente errada.
— Socorro! — gritou ele, tentando fugir por meio do fogo, como fizera com Rilke. Rilke... em comparação a isso, ela era um filhotinho.
Tentou ouvir a voz de Daisy, a de Cal, a de qualquer pessoa, mas era como se seus ouvidos tivessem virado purê. O universo inteiro girava em torno dele, ficando mais escuro e mais frio, fechando-se em volta de sua cabeça. Ele girava rápido demais até para ver aonde ia, a mandíbula enorme e triturante do homem aparecendo e desaparecendo em alta velocidade.
Brick esticou as asas para firmar-se, passando a mão pelo ar e lançando uma lufada de energia contra a coisa acima. Abriu a boca e amaldiçoou-a, urrando sua fúria contra a besta. O homem na tempestade não pareceu nem sentir, com a respiração incansável de turbina ainda sugando-o para cima. Brick girou na vertical, a terra tão longe dele que ele já enxergava a curva do horizonte. Batia as asas, as pernas, as mãos, como se nadasse, tentando estabilizar-se com desespero. Porém, a corrente de ar era impiedosa.
— Não! Não vou permitir! — gritou ele. O mundo ia escurecendo à medida que ele era sugado para as nuvens tempestuosas, o barulho da boca do homem como punhos de metal machucando seu cérebro. — Não vou!
Sentia-se uma criança a gritar, arrastado pela mão de um pai. Sentia-se tão pequeno, tão impotente, tão ridículo, com tanta raiva. Passara a vida inteira furioso com o mundo. Tinha levado aquela raiva consigo para todo lugar, sem nunca conseguir se livrar dela. A raiva era a razão de estar onde estava quando a Fúria atacara. Era por causa dela que tudo isso tinha acontecido com ele. E agora ela o mataria.
Não! Não precisava ser daquele jeito. Ele não precisava ficar com raiva. Talvez fosse assim que as coisas acontecessem com eles, os anjos; talvez fosse por isso que tentavam anestesiar tudo na sua cabeça. Talvez só se colocavam em ação se você não estivesse com raiva — nem triste, nem feliz, nem com medo. As emoções eram demasiado humanas, só serviam para atrapalhar. Quantas vezes não tinha dito isso a si mesmo, só para se acalmar e deixar a raiva passar?
Agora, Brick! É agora, ou você vai morrer!
Fechou os olhos, tentando ignorar o vento nos ouvidos e o ar frio e úmido que se agarrava a seu corpo feito terra, como se estivesse em uma cova. Acalme-se, disse ele. O coração não obedeceu, batendo em um ritmo febril no peito, parecendo prestes a estourar com a pressão. Acalme-se. Forçou-se a pensar na praia em Hemmingway, no belo oceano, plano e brilhante como papel-alumínio, nada além de calor, silêncio e quietude.
Deu certo: a raiva fervilhante no estômago começou a se amenizar, a brasa no cerne de sua mente passou a esmorecer. Na ausência dela, ele conseguia sentir o anjo ocupando cada célula de seu corpo, esperando que ele entendesse e fizesse a coisa certa. Ainda havia algo desagradável entremeado em suas entranhas, mas imaginou que aquilo era o melhor que poderia fazer.
Ajustando as asas, virou-se para enfrentar a tempestade, tapando as escotilhas para conter a maré de emoção. Era capaz de sentir algo ardendo dentro de si, vindo do anjo, uma onda de calor frio. Ela rasgou seu esôfago e detonou de seus lábios, tão poderosa que deixou o ar em chamas. A palavra talhou um caminho incandescente, formando um rastro de míssil ao desaparecer na fumaça. Aguardou a explosão, aguardou que o rosto do homem derretesse, que mugisse em um grito de derrota.
Nada aconteceu.
Brick abriu a boca, esperando o anjo se recompor. Aquela cócega de medo ainda estava ali, a raiva voltava crescente. Ele entrou em pânico, lutando contra o arrasto da inspiração do homem, as asas batendo como as de um cisne.
Um arame de relâmpago negro disparou do vórtice, tão escuro que parecia um rasgão na realidade. Veio zunindo na direção de Brick, rápido demais para que o evitasse, e chocou-se contra sua asa. A dor foi tão forte, tão diferente de tudo o que já tinha sentido, que de início sequer pôde assimilá-la. Então ele veio, um sofrimento que o abalou até o âmago, parecendo emanar não de seu corpo, mas do corpo do anjo.
Gritaram juntos quando outra chicotada desceu serpenteante, golpeando suas costas. Brick olhou para trás, vendo a escuridão presa à outra asa, retendo-a como uma criança pinçando um bichinho indefeso. Jogou a mão para trás, tentando contê-la, mas ela girava rápido demais, subindo, subindo e subindo para o tornado. Ouviu o som de algo se rasgando, e veio outro jato de dor incandescente. Quando Brick olhou de novo, viu a asa esvoaçar, uma folha de fogo pálido que se enroscava ao vento, esvanecente.
Seu anjo gritou mais uma vez, agora sem força na voz. E, sem uma asa, Brick tombou para dentro da tempestade.
Rilke
Rio de Janeiro, 15h22
Saia, saia de onde quer que esteja!
Rilke espiava por entre a pele do mundo, tentando achar o menino com asas. Era isso que ela fazia agora? Brincava de esconde-esconde com Schiller?
Não, ele morreu, lembra?, algo lhe disse. Ela estendeu a mão feita de éter reluzente e tocou a testa. Havia um buraco ali, como um terceiro olho, mais ou menos do tamanho do dedo. Não conseguia de jeito nenhum se lembrar de como tinha feito o buraco. Um garoto de asas, um garoto com fogo no lugar do cabelo, o mesmo garoto que matou seu irmão.
Quase podia vê-lo na confusão dos pensamentos, um garoto alto chamado Brick. Mas por que ela brincava de esconde-esconde com ele? Não fazia sentido nenhum, e, quando tentou pensar a respeito, a cabeça pulsou com ondas de desconforto, os pensamentos travados como se alguém houvesse jogado um graveto entre duas engrenagens. Deixou aquilo de lado. Aquele pensamento logo voltaria; provavelmente só estava cansada e... e...
Olhou ao redor e viu um deserto parecido com uma praia, só que a areia abaixo era de várias cores — dourado, branco, cinza e vermelho. Pequenas espirais de fogo serpenteavam em sua direção, como dedos que a procurassem, desfazendo-se depois de um ou dois segundos. Distinguia cada grãozinho, e, dentro de todos eles, havia cidades de luz e matéria. Era hipnotizante.
Concentre-se, Rilke, disse a si mesma. Encontre o menino. Você não se lembra? Ele acabou com você.
Era isso! Ele acabara com ela, a quebrara, como se ela fosse uma boneca. E tinha acabado com Schiller também. Isso devia tê-la deixado zangada, mas não havia nada dentro dela além de um torpor enfurecedor, como se tivesse sido recheada com algodão da cabeça aos pés. Mas era isso o que acontecia com bonecas quebradas, não era? Empacotadas e deixadas de lado, ou jogadas na lixeira.
Algo zumbiu acima, uma mosca, e ela estendeu uma mão que não era realmente a dela, os dedos invisíveis tirando o objeto do céu e esmagando-o. A mosca caiu no chão, acertando a areia com um estampido mecânico e incendiando-se. Havia agora mais delas, voando acima e fazendo um som de tud, tud, tud, e ela as golpeou, derrubando mais duas antes que o resto fosse embora. Ótimo, agora tinha esquecido por completo o que deveria estar fazendo.
Descamou o mundo de novo, como se abrisse uma porta.
Alguma coisa tinha perturbado o ar ali, deixando uma espécie de ondulação dourada, quase como a esteira que um barco faz na água. O garoto alto obviamente não era muito bom em se esconder; tinha deixado um rastro para que pudesse segui-lo.
Peguei você!, disse ela, abrindo um sorriso enorme ao entrar pela porta. O corpo dela explodiu em átomos e houve uma súbita vertigem, como chegar à beira de uma cachoeira, e, em seguida, estava inteira de novo, o mundo refirmando-se ao seu redor. Passou a mão no corpo para limpar as brasas, tentando entender o caos à sua volta.
O céu tinha vida: uma tempestade em forma de homem. Ele se agitava dentro de um oceano de nuvens negras, quase como se estivesse se afogando ali. Algo nele parecia familiar, mas Rilke não sabia o quê. O vento ali era incrível, um furacão que fazia o que podia para sugá-la. Parecia um vasto campo que acabara de ser arado. À distância, havia um buraco no mundo, como se algo enorme houvesse feito uma escavação do centro da terra e rastejado de lá de dentro. Rilke estendeu as asas, firmando-se e esquadrinhando a terra para encontrar o garoto alto.
De repente, um tiro acima dela. Mas era um tiro mesmo? Não, era alto demais. Nem mil tiros poderiam emitir aquele som. Ela olhou para cima, para o oceano invertido, vendo uma centelha contra a treva espiralante. É ele! Ela teve certeza. Era o garoto feito de fogo. Ele estava desaparecendo em meio à fumaça, tentando se esconder dela.
Não o deixe ir!, disse-lhe sua mente. Ele acabou com você, acabou com você. Ela não o deixaria se esconder, não agora, nem nunca. Elevou-se do chão e bateu as asas, ascendendo em direção ao fogo. O garoto alto estava em dificuldades, línguas de luz negra envolvendo-o. Uma delas socou suas asas, arrancando uma delas, e Rilke o ouviu gritar acima do estrondo de estourar os tímpanos do céu em movimento. Ele desapareceu no vórtice giratório de nuvens, e ela aumentou a velocidade. Outros garfos de relâmpago negro vibraram ao lado dela, mas ela desviou de todos, concentrando-se na única coisa que importava.
Saia, saia de onde estiver!, disse outra vez, rindo enquanto seguia o garoto incandescente pelas trevas.
Daisy
Manang, Nepal, 15h25
Está pronta?
Cal fez a pergunta encarando-a com seus olhos de anjo. Os cinco formavam um círculo saturado de fogo. O som de seus corações parecia liquefeito, enchendo os ouvidos dela, provocando uma sensação engraçada em sua cabeça. Também estava achando difícil se mexer, como se todos fossem ímãs, atraindo-se. Perguntou-se o que aconteceria se todos se tocassem, se isso seria demais para aquele pequeno mundo. Tinha a sensação de que abririam um buraco nele.
Daisy?
Ela assentiu, mas era mentira. Não se sentia nem um pouco pronta. Como alguém poderia estar pronto para algo daquele tipo?
Cal se virou para os outros. E vocês?
Marcus deu de ombros. Não que eu tenha outra coisa mais importante para fazer agora.
Daisy estendeu a mão para Adam, seus dedos soltando raios de estática ao tocar o rosto dele. Ele não pareceu se importar, sorrindo para ela. Os olhos dele pareciam não ter fundo. Ela tinha a sensação de que podia cair naqueles poços geminados de fogo e nunca mais sair.
Ele não precisa ir, falou Cal. Quer dizer, talvez seja mais seguro ele ficar aqui, esperando a gente.
Você vai ficar bem, não vai, Adam?, perguntou Daisy. Seria mais perigoso para ele ficar sozinho. E se fosse atacado pela Fúria? E se o homem na tempestade decidisse mudar de lugar outra vez e fosse atrás dele? Vamos manter você em segurança. Mas não precisa lutar. Assim que pousarmos, você fica escondido. Combinado?
O que fazer a respeito de Brick?, perguntou Cal.
Ele vai estar à nossa espera, disse ela. Não sabia como, mas tinha certeza disso; praticamente podia enxergá-lo afogando-se na escuridão. Ele tinha mudado de ideia e voltado para ajudá-los, e agora enfrentava a besta sozinho. Daisy respirou fundo o ar de que não precisava, sentindo o martelar dos dois corações. O anjo era capaz de mantê-la calma, mas ela continuava assustada, e sentia isso como uma coceira no estômago. Isso a fazia sentir-se fraca, incerta, o que a levou a se perguntar sobre outra coisa.
Eu acho... ela começou, mas depois se deteve, tentando entender seus pensamentos.
O quê?, perguntou Cal.
Ela ruminou um instante a mais, depois disparou: Acho que precisamos permanecer calmos.
Ah, claro, falou Howie. Sempre me sinto calmo quando estou prestes a arrumar briga com uma criatura que está tentando engolir o mundo.
Não, disse Daisy. Estou falando sério. É como aquilo que você estava dizendo sobre o remédio pra ficar legal. Os anjos nos mantêm calmos, não deixam as emoções interferirem. Acho que é assim que eles lutam. Só podem fazer isso se as nossas emoções não atrapalharem.
É?, falou Cal. Quando moveu os ombros, suas asas subiram e desceram. Acho que faz sentido.
Tudo o que Daisy tinha era seu instinto, e o que havia acabado de dizer parecia certo.
Então o negócio é manter as emoções sob controle, disse Marcus.
Beleza, tudo bem. Mais algum conselho?, perguntou Cal.
Ela bem que queria ter outro conselho, mas não havia mais nada. Só o não morrer de Howie. Era basicamente tudo o que tinham. Daisy negou com a cabeça, dizendo sinto muito.
Cal expirou com um pouco de força, fazendo o ar tremer.
Em Fursville, tudo parecia tão simples, disse ele. Quer dizer, em comparação com isso aqui. Lá a gente só precisava sobreviver.
Parecia que tinham estado no parque temático meses atrás, anos até. Mas haviam deixado Hemmingway naquela manhã, menos de doze horas antes. Para Daisy, aquilo não fazia sentido nenhum, exceto pelo fato de entender que, de algum modo, o tempo era diferente para os anjos — e agora era diferente para eles também. Por um período que pareceu uma eternidade todos ficaram em silêncio, e Daisy viu os pensamentos deles como se flutuassem na frente dela: Fursville, andar nos cavalos do carrossel, jogar futebol — Cal estava sempre pensando em futebol —, correr pelo campo com o vento nos ouvidos, uma menina bonita assistindo da arquibancada, um piquenique na floresta com um cachorro grande e peludo que ficava tentando comer os sanduíches, outro garoto ali que era bem parecido com Marcus, talvez seu irmão. Eram as lembranças que eles queriam levar consigo, percebeu ela, imaginando as suas próprias — pegar sol no quintal atrás de casa, sentindo o aroma de lavanda, o pai trazendo uma bandeja de comida chinesa e uma garrafa de espumante sem álcool, que tinham bebido para celebrar a boa notícia de que o câncer da mãe havia ido embora, todos cheios de alegria, correndo um atrás do outro entre os arbustos e, depois, deitando-se na grama, lado a lado, inspirando seu aroma enquanto miravam os galhos acima. Se, quando morresse, ela pudesse viver dentro de qualquer memória da vida, seria essa que escolheria.
A coceira do medo tinha se tornado outra coisa, uma cunha de pedra em sua garganta. Mesmo do outro lado do dique que o anjo tinha construído dentro dela, Daisy sentia as lágrimas prestes a jorrar. Excelente, Daisy, que ótimo jeito de esquecer suas emoções, disse a si mesma, na esperança de que os outros não a ouvissem. Contudo, deviam ter ouvido, porque Cal riu.
Vamos, disse ele. Antes que a gente comece a chorar feito bebês.
Fale por si, falou Howie. Ele abriu as asas, flexionando-as na frente do sol e transformando sua luz em espirais de âmbar.
Vai fazer as honras?, perguntou Cal.
Daisy fez que sim com a cabeça, tomando a mão de Adam, o ar entre os dedos deles estalando feito uma fogueira. Ela fechou os olhos e abriu o mundo, um buraco grande o suficiente para levar todos.
Boa sorte, falou ela. Então, eles sumiram.
Cal
São Francisco, 15h32
Na fração de segundo em que se moveram, ele tentou preparar-se, tentou controlar os nervos. E então chegaram, com a realidade cerrando-se ao seu redor como uma armadilha de urso, afundando seus dentes em volta dele para tentar travá-lo onde estava. Tinham voltado para o vasto cânion vazio que antes fora uma cidade, o oceano ainda estrondando dentro dele. O céu inteiro pareceu vibrar por um instante, um grito de trovão ecoando pela terra enquanto as leis da física ajustavam-se para encaixá-los na realidade. Porém, o barulho não durou muito tempo, sendo engolido pela tempestade que rugia acima.
A besta estava em um trono de fumaça, com as asas estendidas de um horizonte a outro, a boca parecendo uma imensa e doentia lua suspensa sobre o mundo. Não restava praticamente mais nada dela, apenas fiapos de carne solta e morta inacreditavelmente compridos, esvoaçando para os lados como bandeiras rasgadas. Seus olhos eram bolsões de noite.
Aqueles faróis invertidos vasculharam o chão, encontrando-os em segundos. Assim que aquela não luz cor de vômito o focalizou, Cal teve a sensação de que tinha levado um soco no estômago, na alma, como se o impacto houvesse sugado dele a última gota de vida. Gemeu diante do horror, do vazio total e completo, sabendo que era o que sentiria caso o homem na tempestade o engolisse.
Cal sentiu uma súbita lufada de vento dominá-lo, puxando-o para cima, para a boca da besta, que parecia um aspirador. Abriu as asas, tentando conter as emoções, gritando para que o anjo o enfrentasse. Não precisava dizer-lhe o que fazer: um som engatilhou-se na garganta e disparou da boca como uma bala mortífera que subiu rasgando, queimando um caminho pelas nuvens raivosas até explodir contra o rosto da criatura.
Outros gritos vieram logo depois. Daisy estava suspensa no ar a seu lado, gritando com sua voz e com a do anjo também. Marcus e Howie encontravam-se à direita, suas cabeças indo para trás como canos de revólver toda vez que ladravam um tiro. O ar entre eles e a tempestade transformaram-se em fogo líquido, fervendo e sibilando como algo com vida própria. A besta soltou mais um grito, como o de um Leviatã no fundo do mar.
Está funcionando! Mesmo que a voz de Daisy estivesse em sua cabeça, ele tinha dificuldades para ouvi-la. Continuem atirando nele!
Cal bateu as asas, erguendo-se no céu fervilhante. Abriu a boca, deixando o anjo lançar outra palavra. Esta chocou-se contra o rosto da besta, arrancando dele um naco de fumaça e de matéria negra do tamanho de um prédio, que foi imediatamente sugado pelo vácuo giratório, como se a criatura devorasse a si mesma. O movimento de sua boca travou e diminuiu, o estrondo de quebrar os ossos diminuindo por um momento antes de recuperar a força.
Algo chicoteou de dentro da escuridão, e um flagelo farpado de relâmpago negro estourou no ar bem à frente do rosto de Cal. Ele caiu, ofuscado pela negra ferida deixada em sua retina. Ouviu outro disparo, torcendo o corpo para evitá-lo, piscando para recuperar a visão do mundo.
Daisy e os outros estavam acima dele, indo de um lado para o outro como vaga-lumes enquanto lançavam golpes sucessivos. Miravam os olhos da besta, uma barragem de explosões rasgando-os. O homem se contorcia dentro da tempestade, aquela inspiração se extinguindo e recomeçando, de novo e de novo. Ele começava a entrar em pânico, percebeu Cal. Estava com medo.
Cal bateu as asas, abrindo caminho em direção a Daisy. Eram pequeninos em comparação com o homem na tempestade, mas isso trabalhava a favor deles. Toda vez que ele disparava um garfo de relâmpago, eles saíam do caminho, seus ataques já lentos demais, desajeitados demais. Cal jogava os braços para a frente, socando com punhos invisíveis: marteladas que se chocavam contra a besta. Era como observar um imenso navio de guerra disparando cada arma de seu arsenal.
O céu então se moveu, e a coisa inteira desabou no chão; a imponderabilidade daquilo fez Cal gritar. Protegeu o rosto com as mãos quando uma onda de energia veio com toda a força, fazendo-o girar para longe como uma bola de críquete. Acertou o chão, abrindo um buraco por raízes e rochas, transformando tudo em pó, até parar.
Mesmo com o anjo, ele sentia dor. Levantou o tronco, vendo o homem na tempestade contra o horizonte, bem longe. O céu ainda caía, só que não era o céu, eram as asas da criatura. Aquelas plumas enormes de fogo putrefato desceram banindo tudo, liberando um furacão. Não conseguia ver Daisy em lugar nenhum, nem os outros. Todos tinham sido lançados para longe.
Endireitou o tronco, dando ao anjo um momento para reencontrar sua força. Em seguida, levantou-se do chão, lançando-se de novo ao caos.
Era tarde demais. Aquelas asas bateram uma terceira vez, e o homem na tempestade desapareceu em uma profusão de cinzas negras.
Brick
São Francisco, 15h40
Era como estar dentro de uma máquina de lavar funcionando a toda velocidade, e ele não tinha mais nada com que lutar.
Seu anjo agonizava. Os ferimentos eram graves demais. Brick tentou abrir as asas, mas uma não estava mais lá, e a outra pendia, rasgada e inútil. Felizmente, sua pele blindada ainda ardia, apesar de o fogo agora estar mais fraco, com força suficiente só para iluminar o funil de fumaça e de nuvens à sua volta. Mesmo que ainda tivesse as asas, elas não teriam servido de nada. Brick já não sabia de onde tinha vindo, nem para onde deveria ir.
Algo crescia na escuridão, rápido demais para evitar. Varou aquilo, vendo nacos de alvenaria virarem pó. Havia outras coisas ali, presas como restos de comida no esôfago do homem. Pessoas também, ou o que restava delas, pedaços de cartilagem que ainda tinham rostos humanos presos no limiar da garganta. Elas apareciam em clarões para ele, centenas, talvez milhares. E aqueles eram só os resquícios. Quantos outros milhões teriam sido devorados?
E ele era um deles. Brick, tolo, ridículo, furioso. Ninguém ia sentir falta dele. Não, ele já era um fantasma, já estava esquecido.
Não pense nisso, disse a si mesmo, com as emoções filtradas através do coração do anjo. Isso vai enfraquecê-lo. Você precisa lutar!
Ele esvoaçava, pairando sobre uma vasta montanha flutuante de pedra. Do outro lado, de repente, viu onde o túnel se afunilava, terminando em um ponto que irradiava escuridão total. Nuvens de fumaça e de matéria atomizada espiralavam em volta, provocando relâmpagos. O rugido da tempestade diminuía, e o silêncio que pulsava do buraco era a coisa mais aterrorizante que Brick já ouvira. Tudo ali era errado; o tempo parecia se partir, tudo desacelerando ao circundar aquele ralo.
Ali não era a morte, jamais poderia ser algo tão simples assim. Era a eternidade, o infinito, um golfo atemporal de nada do qual nunca poderia escapar. Era um buraco negro, uma ruptura na realidade que devoraria tudo, que engoliria, engoliria e engoliria, até que nada mais restasse.
— Não! — gritou ele. A voz do anjo se manifestou como um ínfimo tremor, como se ele tivesse sido colocado no mudo.
Brick ganiu, os braços girando, sua asa mutilada batendo. Conseguiu se virar, olhando para a direção de onde tinha vindo, as paredes do túnel espiralando incansavelmente, arrastando mais e mais do mundo para seu fim. Havia outra coisa ali, um bruxulear de fogo contra a insanidade. Ah, Deus, por favor, por favor, por favor!, pediu Brick. A silhueta se aproximou, explodindo por nacos de detritos flutuantes. Tinha de ser Daisy, ou Cal, tem de ser, por favor, meu Deus.
Não adianta se esconder, disse Rilke, e Brick sentiu seu coração afundar até o pé. Ela se lançou contra ele, as asas abrindo no último instante, como as de um dragão. Mirava-o com as piscinas derretidas de seus olhos, com um sorriso enorme. O terceiro olho ainda flamejava na testa, o olho que ele tinha criado, com gotas viscosas de fogo caindo dele como se o cérebro dela derretesse.
Aí está você!, disse ela. Encontrei você!
Por favor, Rilke, pediu Brick. O contraste entre o silêncio num ouvido e o trovão no outro lhe dava náuseas. Por favor, por favor, me ajude, me tire daqui!
Rilke virou a cabeça para o lado, o sorriso desfazendo-se, frouxo e mole.
Ajudar você?, falou ela, a voz arranhando a superfície do cérebro dele. Por quê?
Porque estou morrendo!, gritou ele, tentando agarrar o ar, tentando alcançá-la. Essa coisa vai me matar!
Mas você me matou, disse ela, batendo as asas para lutar contra a corrente de ar. Você me partiu em duas, e agora mamãe vai ficar furiosa.
Desculpe, disse ele. Ela estava louca, estava em cacos. Desculpe, Rilke, não foi minha intenção.
E Schiller, você quebrou ele também.
Não, isso não!, disse ele, sentindo que deslizava para mais perto do buraco. Tinha a sensação de que estava sendo esticado, como se fosse ser estraçalhado. Não fui eu, foi ele, o homem na tempestade! Você precisa acreditar em mim!
Não, foi você, o garoto com asas, disse ela, encarando-o com aquelas órbitas flamejantes.
Não, eu... Eu não tenho asas!, gritou ele, tentando girar e mostrar as costas. Não fui eu, veja só! Como poderia ter sido eu?
Ela franziu o rosto, o zumbido dos anjos dos dois fazendo o túnel inteiro sacudir.
Ele acabou comigo, gaguejou Brick. O homem com asas, com asas enormes. Ele acabou comigo, e agora quer me matar. Precisamos lutar contra ele, Rilke, juntos, por favor!
Onde ele está?, disse Rilke, voando para mais perto, quase perto o bastante para que Brick a tocasse. Ele a buscou, não com os braços, mas com a mente, tentando enganchar-se nela, ancorar-se, mas não sabia como fazê-lo.
Estamos dentro dele, falou. Ele está tentando comer a gente.
Deixe de bobagem, Schill, ela respondeu, rindo. Ele não pode comer a gente.
Ele vai, falou Brick. Relâmpagos de luz branca detonavam em sua visão, como fogos de artifício. O fogo dele se apagava rápido. Seu anjo agonizava. Ele odeia a gente, vai acabar com todos nós, a menos que a gente o enfrente. Por favor, Rilke, não me deixe morrer. Eu sou... sou seu irmão.
Schiller?, disse ela. É você? Não consigo enxergar direito.
Brick sentiu algo enroscar-se em sua cintura, um tentáculo invisível que o atraiu para a garota incandescente. O buraco negro não queria soltá-lo, agarrando-se a cada célula do seu corpo. Era como se estivesse se desfazendo, era uma folha de papel na água, dissolvendo-se. Rilke o puxou, levando-o de volta para o rugido e o trovão da tempestade, e ele se agarrou a ela, segurando-a como uma criança faria com sua mãe. Ela o abraçou por um instante, depois recuou.
Você não é o meu irmão, falou ela com uma voz fria como o incêndio à sua volta. Você mentiu para mim.
Sou sim, disse ele, rezando para que ela estivesse louca o suficiente para acreditar nele. Não está me reconhecendo, irmã?
Ela parecia perdida, o fogo de seus olhos bruxuleando enquanto as engrenagens quebradas de sua mente rangiam, tremiam, e tentavam girar. A tempestade uivou, e nuvens de detritos transbordaram das paredes do túnel. Um rugido poderosíssimo levantou-se em volta, seguido de outra explosão, como se alguém estivesse disparando tiros de canhão contra eles. Que droga estaria acontecendo lá fora?
Rilke, por favor, você precisa tirar a gente daqui antes que seja tarde demais!
O corpo inteiro dela tremeu, como se estivesse tendo uma convulsão, emanando grandes ondas de energia. Quando parou, ela o agarrou com os dedos da mente, rebocando-o ao lado dela enquanto batia as asas e se afastava. A corrente tentava sugá-los de volta, mas ela era forte demais, abrindo caminho torrente acima. Em volta deles, a tempestade se agitava, abalada pelo trovão. Brick sentiu algo, vozes em sua cabeça — Daisy, Cal, os outros também. Eram eles? Estavam atacando a tempestade? Por favor, tomara que sim!, pensou ele no instante em que as nuvens se afastaram à frente, com trechos de um facho de luz fraca e enevoada alcançando-o.
É isso aí, irmã, você está acabando com ele!
Ela parou, girando-o no ar, seus olhos em chamas.
Você não é ele, constatou ela. Você não é Schiller.
Ele tentou se soltar, perguntando-se se seu anjo precisava de asas para se transportar, ou se podia apenas arder e voltar para o chão, como fizera antes. Os dedos invisíveis de Rilke eram como bastões de ferro nas costelas dele, ancorando-o a ela.
Não ouse! O ganido dela bateu em seu cérebro, a pressão ficando ainda mais forte. Ele estapeou a área com as mãos, mas não havia nada a combater. Seu fogo ardia, mas nem de longe com a mesma luminosidade do de Rilke. É você, eu sabia, você mentiu para mim, acabou comigo e com ele também.
Brick atacou: uma flecha de chama translúcida cortou a garota. Sua pressão psíquica se afrouxou, e ele desfolhou o mundo, pronto para fugir rumo à ausência.
Então o homem na tempestade rugiu. Alguma coisa estava acontecendo, luz negra irrompeu das paredes, fazendo a fumaça revirar. Então o mundo se desintegrou em volta de Brick, e seu grito se extinguiu ao explodir em átomos e ser sugado para o vácuo.
Daisy
São Francisco, 15h44
— Não podemos deixá-lo fugir! — o grito de Cal ecoou pela terra deserta, vibrando acima de Daisy conforme o ar agitado corria para o espaço onde o homem na tempestade estivera. O céu estava repleto de flocos de cinzas incandescentes; atrás delas, porém, ele começava a romper as nuvens que iam se afinando. Sua luz espalhava-se quase de um modo nervoso pela terra enegrecida, como se estudasse os danos causados em busca de sobreviventes. Não havia nenhum. Nem poderia haver. Daquele ponto no céu, Daisy enxergava quilômetros em cada direção, todo vestígio de vida banido pela besta.
O poço ainda crescia, deformando-se com a enxurrada de água do mar que se precipitava dentro dele. Enormes trechos de terra desabavam no vácuo crescente. Daisy se perguntava se o homem na tempestade tinha voltado para o subterrâneo, mas não o sentia ali. Não, era mais como se ele houvesse cortado uma parte tão grande do mundo que não conseguia mais se manter em um lugar.
Ela o sentia bem longe dali. Ele deixara um rastro que desaparecia em pleno ar, um pouco como a cauda de um rato sob um tapete. Se ela levantasse o mundo, conseguiria ver para onde ele tinha ido.
Cal voou para seu lado. Howie e Marcus também estavam ali, examinando o horizonte. Ela olhou para baixo, entrando em pânico quando não avistou Adam. O alívio que se apossou dela ao vê-lo surgir atrás quase a fez chorar. Ela o abraçou por um segundo, o ar entre eles faiscando em protesto, e o soltou.
Estou bem, disse ela. Tudo bem comigo. Nós o assustamos, Cal, com certeza o assustamos, para ele fugir desse jeito...
Esse cara é um frangote, falou Howie.
Vamos, sugeriu Cal, antes que ele possa se recuperar.
Desta vez, não esperou por ela, o corpo explodindo em pó incandescente. Daisy o seguiu, usando a mente para levantar o tapete, correndo atrás da cauda do rato no vazio. Era como se tivesse sido capaz de fazer isso a vida inteira, algo tão natural quanto andar. Uma batida de coração, e o mundo recuperou a forma em volta deles, com um protesto de estrondos. As cinzas se soltavam do ar destituído — era isso que eram, percebeu ela, as partes do mundo que tinham sido queimadas para abrir espaço para os anjos. Através delas, viu a besta. Estava suspensa sobre outra cidade, que parecia ter saído de um conto de fadas, repleta de prédios antigos e torres. Um rio enorme e de aparência suja serpenteava por ela. Havia pessoas, milhares, todas encarando a tempestade e gritando para ela, e para a coisa que morava nela.
Cal era um floco aceso contra a noite taciturna, a voz de seu anjo abrindo caminho, ecoando pela cidade.
Daisy se apressou até Cal, sentindo os outros a seu lado. Desta vez, Adam os acompanhou: ela entendeu que ele não queria ficar sozinho. A turbina da boca da besta reiniciava, os prédios abaixo começando a se desintegrar, subindo aos pedaços. O rio parecia uma chuva virada do avesso, secando-se contra a gravidade. As pessoas também estavam sendo sugadas, exatamente como as formigas do aspirador. Daisy alcançou-as com a mente, tentando segurá-las, mas eram muitas, frágeis demais, e se despedaçavam ao seu toque. Desculpem, falou ela, e o horror daquilo ia inchando dentro de sua barriga, de seu peito.
Concentre-se, Daisy!, pediu Cal. Ignore suas emoções!
Ela tentou, sufocando-as. Ao abrir a boca, soltou um grito que rasgou as nuvens, cortando o rosto do homem. Cal atacava os olhos outra vez; Marcus e Howie disparavam um tiro atrás do outro contra os restos maltrapilhos de seu corpo. O vento era um punho que os agarrava e os sacudia enquanto os soprava para dentro da boca cavernosa. Daisy precisou de toda a força para não ser levada por ele.
A besta revidava, vomitando mais daqueles relâmpagos negros horríveis. O ar vibrava com tudo aquilo, nenhum dos relâmpagos roçando o alvo. A maior parte acertava o chão, explodindo como bombas, reduzindo a cidade a ruínas. Aquela respiração infinda era um grito uivante, repleto de fúria, tão alto que fazia cada osso do corpo de Daisy estalar.
Estamos vencendo!, disse ela, contendo a vertigem de empolgação e alívio, forçando-se a permanecer calma. Continuem disparando!
Não precisavam que ela mandasse. Cal tinha praticamente demolido o rosto da besta, nacos de matéria negra soltando-se dos olhos, sugados para a boca. O homem parecia estar reconstruindo a si mesmo porém, a fumaça preenchendo as lacunas e solidificando-se. Daisy ardeu no céu, deixando o anjo falar. A palavra foi como uma bala gigante fendendo o crânio da tempestade, sua força fazendo-a recuar. Daisy deu um salto para trás em pleno ar, sentindo outro ataque surgir da garganta e sair pela boca. Havia tantas explosões detonando contra a tempestade que o homem era mais fogo que fumaça. Não havia jeito de ele sobreviver a muito mais daquilo, jeito nenhum.
E, no entanto, sua fúria aumentava, fervilhando dele em ondas negras e imensas, curando os ferimentos que os anjos abriam. Ela soltou mais um grito, e este foi recebido por uma chicotada de treva genuína, as duas forças ribombando ao se anularem. Os relâmpagos eram usados para bloquear também os gritos de Cal, como um campo de força.
Daisy mergulhou, evitando um dedo de luz invertida disparado contra ela. O chão se precipitou para cima, perto o suficiente para ela ver a cidade arruinada, as manchas que antes haviam sido pessoas. Ela se virou no último instante, a terra embaixo explodindo quando o homem na tempestade atacou de novo. Bateu as asas, lançando-se pela fumaça e parando ao ver o fogo irromper de dentro da boca da besta. O homem na tempestade uivou de novo, aquele grito horrendo, para dentro, sugando tudo. Algo estava acontecendo ali.
Brick!, percebeu ela, sentindo-o, e, assim que falou seu nome, ouviu a resposta: um frágil grito de socorro. Mais fogo de dentro, como se o homem na tempestade houvesse engolido um enxame de vaga-lumes.
Socorro!, a voz dele era uma trovoada distante dentro da cabeça dela.
Está ouvindo?, perguntou Cal, aparecendo ao lado dela. Parecia exausto, mas seu anjo ardia com força. É Brick!
Daisy afastou-se com um movimento repentino quando outro raio rasgou o ar entre eles. Cal abriu a boca e disparou uma palavra contra ele, o som desaparecendo nas nuvens em volta da besta, sem causar qualquer ferimento.
Não está funcionando, falou ele. O homem é forte demais.
Ele tinha razão: estavam ferindo a besta, mas não a estavam matando; eram como marimbondos picando o couro de um elefante. E estavam dando seu máximo, não estavam? Haviam desligado suas emoções, dado aos anjos tudo que estes demandavam. O que estava faltando? O que eles estavam fazendo de errado?
Por sobre o uivo da tempestade, Daisy distinguiu outro grito de Brick.
O que ele está fazendo lá dentro?, Cal perguntou.
Daisy não sabia; mas sabia que Brick não estava sozinho. Cal balançou a cabeça, e ela escutou seu grito: Estou indo, Brick, aguente firme!
Espere, Cal!
Daisy o seguiu. No entanto, antes que o alcançasse, o mundo se enegreceu. Um punho de fumaça se projetou da tempestade, tão grande que toldou até o último raio de sol. Daisy gritou e se comburiu em fuga do mundo antes que a fumaça a atingisse. Quando retornou à existência, tonta devido à brusca mudança de perspectiva, achava-se do outro lado da tempestade. A imensa massa de escuridão descaiu sobre a cidade, como se alguém despejasse do céu bilhões de barris de petróleo. Cal, com Adam, se desvencilhou, enquanto Howie explodiu em brasas conforme fugia.
Marcus não teve a mesma sorte. Quando olhou para cima, já era tarde demais; o grito que deixou escapar sumiu na fumaça, que o atingiu como um soco, prensando-o contra o solo, o punho maior do que a cidade que existia até então. A fumaça não se deteve, conferindo à terra a forma de funil, empurrando o garoto cada vez mais para as profundezas, gerando uma teia crescente de rachaduras. Daisy gritou por Marcus, mas, onde antes havia os pensamentos do garoto, agora só havia uma ausência escancarada.
Não! Daisy se ergueu; a raiva em seu interior brandindo como uma coisa viva. Abriu a boca, e desta vez o grito que se libertou foi tão poderoso que formou uma bolha no ar, um caminho de fogo que desembocou no coração da tempestade. Houve um breve instante no qual ela pensou que seu ataque tinha se desvanecido, mas, então, uma explosão ocorreu dentro da besta, como se uma bomba atômica tivesse sido detonada. Imensas nuvens de uma substância podre se desprenderam do céu, e a fumaça tóxica desenhou trilhas em direção à terra.
Daisy se acercou com a mente e segou a ferida recém-aberta a fim de agarrar qualquer coisa que encontrasse ali e extirpá-la. As mãos invisíveis de seu anjo desferiram puxões e arranhões, e a besta mugiu o som de milhões de bois feridos. A raiva de Daisy fervia, e desta vez a garota não a impediu; permitiu que lhe servisse de combustível.
Meu Deus!, pensou. Não poderia ter estado mais errada. Não era para eles esconderem suas emoções: era para as usarem!
Daisy destrancou a porta que tinha batido na cara de seus sentimentos, e centenas de sensações se convulsionaram em seu íntimo. Como um vulcão, o magma raivoso ia se expelindo. Ela soltou outro grito, e o céu inteiro pareceu tremer. O buraco que o grito fez na tempestade era colossal e perfeitamente redondo, e a luz do dia vazou através dele. A besta gemeu e flectiu as asas, e uma floresta de raios brotou da carne em farrapos. Estava prestes a sumir de novo.
Bateu as asas, o que provocou uma onda de poeira. Mas não desapareceu. Em vez disso, ergueu-se, içou-se paulatinamente, ganhando velocidade a cada batida de asas.
Para onde está indo agora?, Daisy se indagou. Sentiu a presença de Cal ao seu lado. Uma chuva de poeira e cinzas se derramava, uma espécie de neve preta.
Está fugindo!, disse Cal, sorrindo. Vamos atrás desse desgraçado!
Cal
Termosfera, 15h58
A besta subia como um foguete, deixando atrás de si uma pluma de fumaça profundamente escura. O ar tremia em seu rastro. Cal se jogou para o lado, vendo parte da cidade passar por ele, desintegrando-se no processo. Havia construções, prédios comerciais que desabavam, gritos em rostos visíveis do lado de dentro. Cal fechou os braços e ardeu através do céu, vendo o mundo se encolher. O horizonte encurvou-se, o céu escureceu, e as estrelas apareceram em pleno dia.
Howie voava ao seu lado. Daisy também estava ali, outra vez na ofensiva, os gritos inacreditavelmente altos e luminosos, chocando-se contra o corpo da besta.
Marcus tinha sumido, esmagado dentro da terra com tanta força que nem mesmo seu anjo conseguira salvá-lo. Cal sentira o momento da morte do menino, uma fração de segundo de agonia, e, depois, nada.
Nem pense nisso, disse a si mesmo. Não deixe as emoções o dominarem.
Cal atacou com a mente, jatos de energia rasgando o caminho garganta acima, desaparecendo nas trevas. A tempestade ainda subia, perfeitamente camuflada contra o vazio do espaço. Somente os clarões de fogo dentro de sua garganta o entregavam, parecendo explosões subaquáticas. Brick, pensou Cal, sabendo que o garoto estava preso junto com Rilke. Os dois precisavam de ajuda.
Uma língua de relâmpago negro estalou pelo ar ao lado de Cal, detonando com força suficiente para disparar um diapasão em seu ouvido. Ele rolou, berrando ao mesmo tempo, seu grito perfurando a tempestade. Não estava adiantando nada. Era como usar um estilingue contra um tanque. Não conseguiam atravessar a blindagem.
Ele precisava chegar mais perto.
Howie, chamou, vendo o outro menino abaixo dele, suspenso acima do contorno azul da Terra. Cal não tinha percebido o quão alto eles tinham chegado, e, de repente, entrou em pânico, receando não poder respirar, até que se lembrou de que não precisava. Suas entranhas reviraram em uma súbita vertigem, e ele precisou olhar para cima a fim de se recompor. Sentiu Howie aproximar-se.
Sim?, disse o outro garoto.
Você consegue distrair a besta? Preciso chegar perto dela. Cal apontou para a boca, tão escura que parecia um buraco no espaço.
Vou ver o que consigo, respondeu Howie, partindo e deixando um rastro de luz ao se arquear para cima. A besta tentou acertá-lo, mas ele era rápido demais, ziguezagueando para evitar o relâmpago. Alguma outra coisa acontecia dentro da tempestade, e a turbina de sua boca girava outra vez. Não fazia barulho no vácuo do espaço, mas Cal pôde sentir sua força quando ela começou a puxá-lo. Desta vez, ele não resistiu; só guardou as asas e se permitiu subir. Abaixo, algo de estranho acontecia nas nuvens, correndo pela superfície do planeta como água ensaboada no banho. Um túnel de vapor serpenteou para cima, sacudindo Cal ao passar. Mas o que... — foi o máximo que conseguiu dizer antes de entender que a besta devorava a atmosfera, o ar, o oxigênio.
Fique calmo, não pense nisso.
Baixou a cabeça, subindo mais rápido, desacelerando apenas ao ouvir a voz de Daisy dentro de sua cabeça.
Cal!
Ele olhou e a viu ali, de asas estendidas. Era como se fosse feita de magnésio incandescente, uma chama tão brilhante que mesmo com os olhos do anjo ele precisou virar o rosto.
Tudo bem?, perguntou ele.
Eu estava errada, falou ela. Parou ao lado dele, que arriscou olhar de novo, tendo a sensação de que pairava ao lado do sol. Cal, precisamos nos entregar. Os anjos querem que usemos nossas emoções, é o único jeito de ficarem fortes o bastante.
O quê? Como você sabe?
Apenas sei, disse ela. Tudo bem ficar assustado.
Não, ela estava errada. O medo o deixaria fraco. Tinha aprendido isso várias e várias vezes nas aulas de artes marciais — a manter o foco, a nunca ficar com raiva, nunca ter medo; do contrário, a derrota era certa. Concentre-se, deixe tudo passar por você, focalize, e então ataque.
Espere aqui, disse ele. Cuide de Adam.
Ignorou os protestos dela, disparando para cima até que a boca do homem estivesse próxima. Dali ela parecia grande o suficiente para engolir o mundo inteiro. Aqueles mesmos flashes de fogo irrompiam de dentro da carne fumacenta da garganta da besta, e lampejos de som ficavam aparecendo no peso ensurdecedor do silêncio, vozes-mentes que poderiam pertencer tanto a Brick quanto a Rilke. Cal estava equilibrado no limiar de um redemoinho, e cerrava os dentes diante do terror que era aquilo.
Ele foi com tudo, sentindo-se tragado para cima com tanta violência que achou que tivesse deixado o estômago para trás. Caiu na maçaroca que girava, sentindo o cheiro do ar e do mar nos vapores ao redor. O mundo abaixo ia encolhendo, pequenino e vulnerável em seu leito de noite sem fim. Em seguida, também desapareceu: a tempestade o engoliu.
Assim que entrou, Cal abriu as asas, a turbulência fazendo sua cabeça girar. Era como estar dentro de uma caverna, só que uma caverna feita de fumaça encaracolada. Nacos de terra e de cidade espiralavam em volta dele em uma dança silenciosa, desintegrando-se ao colidirem. Tudo ali convergia para um ponto distante, um pontinho de treva absoluta. Ela tinha razão, pensou ele. É um buraco negro. Entre ele e o buraco, preso no fluxo de matéria a girar, havia um orbe bruxuleante de fogo que tinha de ser Brick ou Rilke. Ou ambos, percebeu, ao ver duas formas ali dentro esperneando e lutando.
Brick!, chamou ele, velejando em sua direção. O vento espocava contra seus ouvidos, tentando agarrá-lo, e ele precisou usar toda sua força para resistir. Brick! Rilke!
Socorro!, gritou Brick. Raios dentados de eletricidade faiscavam deles, liberando uma energia fria e espinhenta que Cal era capaz de sentir contra a pele. Permitiu-se chegar mais perto e perdeu o equilíbrio, subitamente sendo atraído para a garganta. O empuxo era forte demais. Cal não conseguia manter-se ali. Se chegasse mais perto deles, correria o risco de ser estraçalhado.
Brick teria de esperar. Cal gritou. Ali, debaixo da couraça da tempestade, seu ataque foi como uma granada lançada por um foguete, mergulhando fundo na parede antes de explodir. Abriu a boca outra vez, deixando o anjo falar, um massacre de força que abriu caminho até o buraco negro à frente.
Cal sentiu a tempestade se agitar, um gigante afundando, mas a inspiração infinda estava mais forte do que nunca. Sentiu-se preso nela, seu anjo ardendo em força total, mas ainda sem poder resistir à corrente. Não era suficiente. Ele não era suficiente.
É sim, Cal, ouviu Daisy dizer, um sussurro no meio de sua mente. Mas você precisa usá-las, você precisa ser você.
Usar o quê? Suas emoções? Ele tinha visto o que aquilo tinha feito com Brick e Rilke. Tinha enlouquecido os dois. Ainda agora enxergava o modo como tinham se arranhado, se mordido, enfrentando-se no éter. Limpe a mente, concentre-se, ataque.
Confie em mim, Cal.
E ele então confiou. Mais do que tudo.
Respirou fundo, e então soltou: todo o medo, toda a tristeza, toda a confusão e toda a fúria, a sua fúria. Ela disparou no estômago, no coração, na cabeça, um fogo puro e branco que irrompeu de sua boca. O ar rugiu, um facho de luz cruzou a tempestade, cortando a pele da nuvem, perpassando a carne esfarrapada. Cal gritou até achar que iria virar do avesso. A emoção ainda fervilhava, um estoque infinito dela, uma vida inteira dela, dando-lhe força, dando poder ao anjo. Abriu a boca e gritou de novo, o mundo em volta dele finalmente se acendendo.
Rilke
Termosfera, 16h03
Rilke precisou fechar os olhos para se proteger do súbito brilho das explosões, mas não havia som, nem trovão, só os gritos patéticos do garoto em chamas.
Por favor, por favor, me deixe ir embora!
Não que ele ainda ardesse. Só havia um brilho débil cobrindo sua pele, e mesmo esse brilho se apagava e se acendia como uma vela ao vento. Rilke o mantinha à frente, usando as mãos que não eram realmente mãos para protegê-los. O mundo não era nada além de fumaça e sombra — não havia solo nem céu, só um túnel de trevas enrodilhadas pontuadas por explosões. Aquilo tentava sugá-los, mas as asas dela mantinham os dois parados. Estava tão cansada, e tão confusa, que não se lembrava se já tinha sido diferente. Quase tudo dentro dela estava gasto agora, mas tudo bem. Só tinha mais um trabalho a fazer, depois poderia ir para casa e ficar de novo com o irmão.
Porém, o menino em chamas não morria.
Estendeu as não mãos, apertando a cabeça do garoto. O fogo dele ardia onde ela encostava, crepitando e cuspindo. Era como uma segunda pele, encouraçada, que ela não podia atravessar. Mas toda boneca podia ser quebrada. Ela o sacudiu, batendo-o contra uma ilha flutuante de pedra, quebrando-a em mil pedacinhos.
Por favor, não sou quem você pensa!, gritou o garoto dentro da cabeça dela, sua voz como o zumbido de uma mosca-varejeira, inquietante. Por que ele não parava? Puxou-o de volta para si, mantendo-o parado, examinando o brilho derretido de seus olhos. Ele estendeu a mão para ela. Não o machuquei. Não fui eu.
Talvez ele não morresse porque estava dizendo a verdade. Será que ela podia acabar com ele se fosse inocente? Mas Schiller era inocente, e tinham acabado com ele. Tudo era muito confuso. Imaginou o irmão, seu belo rosto, tão parecido com o dela e, ao mesmo tempo, tão diferente. Seu cabelo loiro, aqueles olhos azuis grandes e redondos. As asas de fogo que se estendiam de suas costas...
Ei, isso não podia estar certo, podia? O irmão dela não era o garoto com asas.
Estendeu a mão, a mão que sempre fora dela, sentindo o buraco na cabeça, a dor que pulsava ali. Onde tinha arranjado aquilo? Quem tinha feito isso com ela? Tinha uma lembrança de uma figura em chamas, de um anjo com asas, ardendo em sua cabeça. A coisa na frente dela, aquele trapo chorão, não tinha nada a ver com aquilo.
O que ela estava fazendo?
As últimas reservas de força dela foram sugadas. Era demais. Tudo o que queria era estar com Schiller, de volta na biblioteca de casa, sentada junto da janela enorme, mergulhada em sol, respirando o ar pesado e poeirento. Sempre haviam estado em segurança ali, protegidos dos estranhos, protegidos da mãe, protegidos dos homens. Aquele era o espaço deles, sempre seria.
Schiller, disse ela. Soltou Brick mentalmente, o garoto já meio esquecido quando rolou para longe. Estou indo, disse ela. Espere por mim.
Ela não sabia para onde ir, mas, com certeza, se se limitasse a relaxar, chegaria lá. Ela recolheu as asas, sentindo a corrente de ar envolvê-la com uma mão fria, puxando-a. Não era isso o que acontecia quando você morria? Um túnel? Uma luz no final? Não havia nada no final deste túnel, ao menos nada que ela enxergasse, embora pressentisse a morte ali, mais real e mais certa do que qualquer outra coisa.
Socorro! Era o garoto em chamas de novo, flutuando ao lado dela, esperneando contra o ar. Ela o ignorou, sorrindo ao flutuar docemente pela corrente, para o fim de tudo, para o irmão, nos braços da morte.
Entregou-se à morte. Para ela, era o fim.
Daisy
Termosfera, 16h07
Daisy soltou mais um disparo do canhão que era sua boca, um míssil alimentado pelas emoções que a tomavam, o qual perfurou o rosto do homem na tempestade, explodindo na carne de fumaça. Agora já não havia quase mais nada dele, só aquela boca escancarada, um buraco no espaço que ficava girando, engolindo tudo o que conseguia.
Cal estava lá dentro em algum lugar. Brick e Rilke também. Estavam todos ainda vivos, isso Daisy sabia, mas a garota não sabia se estavam vencendo ou não. Explosões silenciosas lançavam teias de luz que ondulavam dentro da escuridão, e línguas de fogo protuberantes se esgueiravam pela pele de nuvem.
Daisy baixou o olhar para a tigela azul de seu planeta. Sempre parecera tão vasto, todo lugar sempre dando a impressão de ser tão longe. Agora, porém, ela podia estender os braços e segurá-lo entre eles. Parecia tão frágil.
Você não vai ficar com ele!, gritou, virando-se, abrindo a boca e soltando outro grito, um grito de cólera, que explodiu dentro da tempestade, sendo ecoado por outras três ou quatro detonações em sua garganta. Cal. Não havia sinal de Howie, mas ela podia ouvi-lo gritar. Adam estava perto, um pontinho de luz suspenso abaixo. Quase o chamou para perguntar se estava bem, antes de lembrar que ele não podia responder.
Não, não é que não podia. Não queria.
Ela parou, fechando a boca, lembrando-se do dia em que Adam chegara a Fursville. Estavam sentados em torno da mesa, tentando entender o que acontecia, apenas alguns dias — alguns milhões de anos — atrás. Era Brick, isso, fazendo tum-tum, tum-tum, assustando o menino. E Adam gritou, o som daquilo rasgando o ar, quebrando vidros, apagando a vela. O medo tinha feito isso com ele, o grito de seu anjo não nascido. O único som que fizera em todo o tempo em que o conheciam.
Adam!, chamou ela, mergulhando em sua direção. Parecia tão assustado, as pernas contra o peito, o rosto protegido pelos braços cruzados. Ele lembrava uma pequena tartaruga, mas com um casco de fogo. As asas reluzentes estavam estendidas, mantendo-o em órbita. Eram imensas e brilhantes.
Ela o puxou para perto com a mente e, em seguida, abraçou-o. O espaço entre os dois crepitava e cuspia, uma força invisível tentando separá-los; era como tentar manter uma boia debaixo d’água, mas Daisy segurou firme.
Sei que está com medo, disse ela. Sou eu, Adam, Daisy. Olhe para mim.
Ele ergueu a cabeça, aqueles olhos enormes e incandescentes sem jamais piscar. Daisy sorriu para ele, dolorida pelo esforço de mantê-lo próximo. Ela não o soltava.
Sei que tudo isso é muito louco. Mas confie em mim. Eu vou cuidar de você, Adam, sempre. Prometo. Tudo bem?
Ele fez que sim com a cabeça. Daisy olhou para trás e viu algo formar-se no caos da tempestade.
Sei que isso assusta, por isso tudo bem ficar com medo. Todos estamos com medo. Eu, Cal, o novo garoto, estamos todos com medo. Acho que é para ficarmos com medo.
Ele franziu o rosto, o próprio semblante parecendo o de um fantasma debaixo da pele de fogo.
É como... Ela tinha dificuldade para encontrar as palavras certas. É como quando uma coisa muito ruim acontece e você quer gritar, sabe? Mas você não grita porque não quer levar bronca. Sabe como é? Os seus pais brigavam com você quando você gritava?
Ele fez que sim com a cabeça, e ela visualizou uma imagem, emitida da cabeça dele para a dela, uma casinha, repleta de lixo — não havia um trechinho de chão visível embaixo da bagunça. Uma sala de estar, cheia de fumaça de cigarro fedorenta e do cheiro de vinho, mas não do vinho bom que a mãe e o pai dela às vezes compravam, e sim de algo mais forte e mais rançoso. Um quarto, também, repleto de brinquedos quebrados. Ali não era permitido fazer barulho, ainda que a televisão estivesse berrando no quarto ao lado, ainda que ela, Daisy, sentisse seu estômago — que não era realmente o seu — torcer de fome, ainda que ela estivesse com frio e cansada. Fazer barulho traria o homem, o homem que ela não via, mas que tinha um odor tão asqueroso e fétido quanto a casa. Melhor ficar em silêncio, guardar tudo, não chorar nunca.
Ah, Adam, falou ela. Era assim que eles eram, seu pai e sua mãe? Eram horrendos assim?
Ele esperneou para se afastar, como se estivesse com vergonha, mas ela continuou abraçando-o, como se o espaço entre eles estivesse prestes a explodir. Outra lembrança — Adam chorando no escuro depois de um pesadelo, uma figura abrindo com força a porta do quarto, irrompendo no ambiente, batendo nele com tanta força que o menino viu estrelas. Ela sentiu a dor como se fosse dela, o sangue na boca, a raiva também. Sentiu a confusão em sua barriga.
Ele batia em você?, perguntou ela, sem acreditar. Precisava se livrar daquilo; a sensação era horrível. Sentia Adam fazendo a mesma coisa, escondendo aquilo bem lá no fundo, onde não poderia lhe fazer mal.
Não, falou ela. Não fuja. Use isso! Todo esse negócio aí dentro, você precisa colocar para fora. É como uma parte ruim em um pêssego, um pedaço podre. Se você cortar, tudo bem, mas, se deixar, ele vai apodrecer tudo. Ela balançou a cabeça, tentando pensar em um jeito melhor de dizer aquilo. Você precisa pensar em tudo, em toda a raiva, em toda a tristeza, em todo o medo. Ponha para fora, Adam, por favor. Apenas grite, e grite, e grite!
A boca de Adam se abriu e ela quase conseguiu sentir, subindo em borbulhos dentro dele, anos e anos de tristeza e silêncio, uma represa prestes a se romper.
Isso!, falou ela. Sabia que você ia conseguir, eu sabia!
Estava quase lá, quase fora dele.
Os olhos de Adam se arregalaram, seu rosto se retorcendo em uma máscara de horror. Daisy levantou a cabeça, vendo tarde demais uma gui- lhotina de fumaça que caía bem em sua direção. Estendeu a mão antes de perceber que fazia isso, abrindo a porta do mundo, empurrando Adam por ela.
Você consegue, Adam. Eu te amo.
O ar entre eles explodiu como uma bomba quando se separaram, um incêndio de luz branca que a mandou girando espaço afora.
Cal
Termosfera, 16h13
Ela simplesmente sumiu.
Cal se virou e olhou através da fumaça. Em um instante, Daisy estava ali; no outro, tinha sido envolta em trevas, levada para longe. Procurou-a em sua cabeça, mas não podia dizer se era a voz dela ou só o eco.
Daisy?, chamou. Nenhuma resposta. Ele bateu as asas, indo contra a corrente, forçando um caminho para fora da tempestade. O ar acima irrompeu em cinzas, e uma figura apareceu ali. Adam franziu o rosto ao ver Cal, suas asas tendo espasmos enquanto tentava controlá-las.
O que aconteceu?, perguntou Cal. A resposta estava no rosto do garotinho no instante em que ele olhou o vazio. Ela tinha sumido. A raiva dentro de Cal fulgia, uma supernova que ardia em seu centro. Olhou para a tempestade, o homem espaçosamente deitado em seu leito de nuvem, engolindo o mundo. Ela era só uma menina! Seu canalha, era só uma menina! A tristeza era insuportável, como se o queimasse por dentro.
Olhou para Adam e viu em seus olhos estreitados a mesma indignação. O garotinho não sabia como lidar com aquilo, com o medo, a raiva.
Mas seu anjo sabia. Cal praticamente visualizava a emoção ali, além da névoa transparente de sua pele. Era algo que não se parecia com nada no mundo, átomo nenhum girando na órbita, nenhuma faísca elétrica, só uma bola de luz, mais brilhante que o sol, subindo pela garganta do garoto.
Grite!, disse Cal. Por favor.
Adam abriu a boca e berrou o nome de Daisy.
O grito se desprendeu dele como se um lança-chamas tivesse disparado com o rugido de uma turbina de avião, luminoso o bastante para sugar toda a cor do mundo. A onda de choque atingiu Cal como um punho, fazendo-o girar. Abriu as asas, vendo o fogo do garoto socar a tempestade, cortando seu caminho pelo rosto da besta. E ele parecia continuar interminavelmente. Podia não ter mais ar nos pulmões, mas mesmo assim berrava, num incêndio que iluminava o céu.
Cal sentiu as engrenagens da mente protestarem ao ver aquilo, a imponderabilidade daquilo. Era demais. O anjo dentro dele pareceu alimentar-se do que havia de febril em sua emoção, tirando-a da alma, expulsando-a pela garganta. Cal sufocou-se com ela, engasgando enquanto cada coisa ruim da vida era subitamente regurgitada. Pensou em Daisy, sempre sorrindo, sempre corajosa, sempre pronta para abraçá-lo com aqueles bracinhos de palito. Tudo aquilo tinha acabado. Ela tinha acabado.
Ele urrou para a tempestade, cuspindo um incêndio de luz e chamas, purgando-se. O ar sacudiu com o poder daquilo, o mundo abaixo gemendo enquanto a física da qual ele dependia começava a fraturar-se. As vozes dos dois ardiam incansavelmente — sua fúria sem fim, sem misericórdia.
O fogo deles estava afastando as nuvens da tempestade, revelando as pálidas fendas de carne estendidas abaixo. O motor daquela boca estava falhando, girando e depois parando, girando e depois parando. As trevas se afastaram, como se a besta vomitasse o vazio atrás do universo.
Mesmo assim, Cal gritava, ainda que tivesse a sensação de que se afogava, ainda que seu cérebro lhe pedisse para parar. Mas não achava que seria possível, nem se quisesse. Sentia-se um fantasma, como se não tivesse mais lugar dentro da carne e dos ossos de seu corpo. Se morresse agora, não faria diferença, porque seu anjo estava ali. Tinha se encaixado em sua pele como um sobretudo. Achara um jeito de se fazer real.
Essa ideia era assustadora, e seu medo alimentava ainda mais o fogo, que ardia entre seus lábios enquanto gritava, gritava e gritava.
Daisy
Espaço, 16h19
Era o túmulo dela. Um túmulo sem fim.
O punho de fumaça a envolveu, assim como envolvera o poço. Só que, desta vez, não a atraía para o homem na tempestade, mas a projetava para longe dele, do planeta, dos amigos. O caracol de noite liquefeita a devorava por dentro, espalhando-se pela boca e pelo rosto, sufocando-a, cegando-a. Seu anjo trabalhava com força total, combatendo-o. Mas ele não duraria muito mais. Ela podia sentir sua dor em cada célula, sua exaustão. Morreriam juntos, no vácuo frio e escuro do espaço.
Não, era horrível demais. Não queria que tudo acabasse ali, onde não havia sol, nem pássaros, nem flores. Como ela encontraria a mãe e o pai? Atacou-o com os dedos, rasgando a máscara mortuária, descamando-a a tempo de ver um enorme medalhão de prata no céu à frente. Sua mente em pânico precisou de um instante para entender que era a lua, e uma batida de coração depois ela a atingiu, socando através da rocha branca. Outra vez estrondeou em uma enxurrada de detritos, mas não conseguiu desacelerar. Sentia-se um peixe enganchado por uma farpa sombria sendo puxado para fora do oceano.
Estava ficando mais frio, e algo acontecia com sua cabeça — a visão dela começava a falhar. A fumaça a envolveu como se a morte já a possuísse, tudo escuro, silencioso, tirando o zumbido martelante do coração do anjo. Aquilo a estava digerindo, dissolvendo. Quando atacou a fumaça de novo, não havia sinal da terra, nem sinal de nada que não fossem as estrelas.
Não!, gritou. Desta vez, achou que ouviu uma resposta, em algum lugar lá no fundo de si. Era uma voz que conhecia, mas precisou esperar que ela voltasse antes de acreditar. Mãe? É você?
Não era. Como poderia ser? Era só uma parte do cérebro dela tentando mantê-la calma. Não se importava. Como era bom rever a mãe e o pai na luz hesitante da imaginação. A dor escavava as costas dela à medida que a fumaça a sulcava, seu fogo se reduzindo. Quando acabasse, não teria mais defesas contra a tempestade. Ao menos, seria rápido.
Fechou os olhos. Os pais estavam ali, e ela sorriu para eles. Parecia ter sido tanto tempo atrás. Levou-se até eles, de volta ao dia em que tinham feito um piquenique no jardim. A mãe estava fraca demais para percorrer qualquer distância que fosse, mas tinha chegado ao quintal com a ajuda deles, e estava deitada no cobertor à sombra da árvore do vizinho. Um dos gatos da sra. Baird tentara fugir com o almoço do pai enquanto ele estava na cozinha fazendo chá. Daisy o afugentou até metade do caminho rumo à cerca, pegando a coxa de galinha do leito de flores e limpando-a.
— Ele nem vai reparar — dissera à mãe.
O pai voltou e deu uma mordida, e ela e a mãe rolaram pelo chão, rindo com tanta força que Daisy nem conseguia respirar, especialmente quando ele tirou um pelo de gato dos dentes.
Daisy ria agora. O zumbido do anjo ficou mais alto, e ela pôde sentir o súbito rugido de seu fogo quando ele se acendeu.
Ele está rindo também, percebeu. A sensação era diferente de tudo o que já havia sentido, como se seu corpo inteiro fosse feito de som. Mesmo que estivesse, como de fato estava, longe demais para encontrar o caminho de volta, mesmo que a fumaça quisesse enterrá-la no nada infinito do universo, ela sorria.
O que mais havia? A vez que tinham ido a uma fazenda de salmão na Escócia, e o pai tentara andar no teleférico acima do lago. Ele sentou do lado errado e acabou dentro d’água até a cintura — embora tivesse passado o dia inteiro dizendo a ela para não se molhar. Tiveram de mandar o bote resgatá-lo. Ela riu, a barriga doendo, o fogo ardendo como se tivesse colocado uma boca de fogão na potência máxima.
Não entendia de onde vinham essas memórias, mas sua cabeça de repente estava repleta delas, cada uma mais brilhante do que a outra. Seu anjo parecia uma criança ouvindo música pela primeira vez, com fogo por fora e por dentro. Seu próprio riso pulsava de cada poro, absolutamente desconhecido e familiar ao mesmo tempo. Era um não som na mente, um badalar como o de sinos. Ele talhava a fumaça como uma coisa física, cortando-a, soltando faixas de noite que se retorciam.
Você é ridículo!, disse ela, falando com o homem na tempestade, com a besta que bramia no céu distante. Poderia comer tudo o que quisesse, mas jamais poderia vencer, jamais. Como poderia triunfar enquanto houvesse riso no mundo? Eu não tenho medo de você, você é uma piada, você não passa de uma piada!
O riso dela — o riso do anjo — explodiu contra a fumaça, quebrando-a em feixes. Do outro lado, havia uma extensão de estrelas tão imensa que Daisy não podia absorver tudo com o olhar. Era como se estivesse suspensa no centro de um vasto planeta vazio cuja crosta fosse cravejada de diamantes. Eram milhões, bilhões, de cores diferentes, todas muito distantes. Ela girava, hipnotizada, aterrorizada, pensando: qual é o meu planeta? Ah, meu Deus, qual? Mesmo com os olhos do anjo, todas as estrelas pareciam iguais. Podia voar para qualquer uma delas só com um pensamento, mas precisaria de todo o tempo que lhe restava para achar o caminho de casa. Morreria ali, mas não precisava morrer sozinha.
Fechou as asas em torno de si, deixando as lembranças escorrerem por ela como a luz do dia. O anjo as bebia, nutrindo-se delas, ficando mais forte, seu fogo tão brilhante que ela sentiu que precisava recuar um passo na própria cabeça. Ele queria mais, e ela entendeu.
Começou a buscar mais memórias. A vez em que a cadeira de Chloe quebrou enquanto ela estava sentada na aula de inglês, e ela praticamente saíra rolando porta afora. Daisy tinha quase feito xixi nas calças de tanto rir.
Apesar do medo, Daisy ria, o anjo ria, o som daquilo expulsando o fim da fumaça. Desta vez, até o vácuo do espaço permitia, o som ecoando em seus ouvidos. No caminho todo até ali, só tinha havido ausência. Nada mais do que ausência, infinita e insuportável. Aquele lugar, o vazio entre as estrelas, era o que ele gostava, o homem na tempestade. Ele queria deletar tudo para que só restasse aquilo.
Bom, ela não deixaria, de jeito nenhum. Preencheria tudo com riso.
Desta vez, Fursville, andar nos cavalos do carrossel com Adam e Jade. Depois brincar de pega-pega, perseguindo uns aos outros no chão ensolarado, as pernas magricelas de Brick escorregando no cascalho, seu riso agudo e surpreendente. A Fúria não importava. Nada importava. Ali, naquela hora, apesar de tudo, tinha sido feliz.
Ela riu, o anjo ardeu, tomado pela maravilha de tudo aquilo. Ele emanou um badalo silencioso que cortou o vácuo e encontrou um eco nos outros anjos, um chamado que conduzia ao lar.
Daisy estendeu as asas, sintonizou-se, ardeu e se consumiu.
Brick
Termosfera, 16h27
Brick nadava contra uma corrente que era forte demais para ele, braços e pernas inúteis contra o fluxo de ar. Ainda ardia, mas não tinha energia para se transportar. Rilke tinha feito seu melhor para matá-lo e devia ter chegado perto, porque tudo nele doía, tudo parecia fora de lugar. Seu anjo tinha aguentado o que podia, e agora funcionava com quase nada.
A tempestade seguia enfurecida em volta dele, sugando-o para sua garganta, de volta ao buraco no fim do mundo. Pedaços de planeta passavam flutuando, rompendo-se no caminho, e através dos detritos Brick a vislumbrava, vislumbrava Rilke, brilhando como o sol mas recusando-se a lutar. Ele não entendia o que ela estava fazendo. Era como se tivesse desistido. Se quisesse, ela poderia tirar os dois dali. Estava ferida, sim, mas só seu corpo humano. O anjo ainda funcionava com força total.
Rilke!, chamou ele de novo, no que devia ter sido a centésima vez. Por favor, não faça isso!
A tempestade se agitou, aquela mesma artilharia detonando em algum lugar do lado de fora. Agora havia também outra coisa, algo que rugia mais alto do que o furacão. O que quer que fosse, tinha de estar funcionando, porque as nuvens giravam mais devagar, e a corrente estava mais fraca.
Mas não fraca o suficiente. Ele deslizava pelo esôfago da besta, sem conseguir firmar-se. Ela ia engoli-lo inteiro, no vazio infinito de seu estômago. Essa ideia — de uma eternidade de nada, de uma eternidade sozinho — o fazia uivar, o som saindo tanto dele quanto do anjo. Não queria morrer sozinho. Tinha ficado sozinho por tempo demais, sem deixar ninguém entrar em sua vida, nem mesmo Lisa. Sua raiva sempre o tinha preenchido, nunca dera espaço para mais nada.
Rilke, espere!, clamou. Se ela ouvia, não dava sinal, flutuando contra a corrente em sua teia de fogo. Ele esperneava em pleno ar, sentindo-se um paraquedista em queda livre. Resistir à corrente era uma coisa, mas cruzá-la era outra. Ela estava ligeiramente à frente dele, e ele girava braços e pernas, aproximando-se — Espere, pelo amor de Deus! — talvez dez metros, depois cinco.
O ar entre eles começou a faiscar, como se alguém soltasse fogos de artifício. Dedos invisíveis puxaram-no de volta, e ele pensou que poderia ser ela tentando afastá-lo. Porém, ela sorria, como se estivesse no meio de um sonho acordado.
Rilke!, disse ele, usando o que restava de força para se empurrar na direção dela. Raios de energia zapearam por seu braço quando pegou o pé dela. Ele a escalou como se ela fosse uma escada, assustado demais para se soltar. Exatamente como antes, quando brigavam, o zumbido de seus corações ficou mais agudo, soando como se estivessem prestes a estourar. Ele a abraçou, grato apenas por ter alguém ao lado enquanto girava rumo ao fim.
O que você quer?, perguntou Rilke, mirando às cegas da concha que era seu corpo.
O que ele deveria dizer? Que não queria estar sozinho quando fosse devorado pela besta? Não respondeu, só continuou agarrado a ela. Não ia demorar muito mais, o buraco negro bem à frente, nuvens de matéria espiralando-se em volta dele, sendo esmagadas até virar poeira e sendo depois sugadas. Até o som estava sendo puxado, restando apenas o silêncio.
Não é tarde demais, disse ele, com a voz muito alta naquele silêncio. Você pode tirar a gente daqui.
Estou cansada, respondeu ela. Só quero ir para casa. Quero ver Schiller.
A tempestade sacudiu de novo, pedaços dela desabando enquanto o ataque continuava do lado de fora. Ele se agarrou a Rilke com os braços trêmulos, sentindo a pressão aumentar entre eles. Não poderia se segurar por muito mais tempo, mas não precisava. Em segundos, apenas desintegraria; seria como se nunca tivesse existido.
Não queremos você aqui, disse Rilke. Enfim os olhos dela se voltaram para ele, duas poças de chumbo derretido e uma terceira no meio da testa, aquela que ele tinha feito. Ela ergueu os braços e o empurrou, mas ele se manteve preso a ela com toda a força. Só eu e meu irmão. Vá embora.
Não, falou ele.
Vá embora!
Ela o empurrou com força, escorregando das mãos dele. Os dois estavam agora no silêncio profundo e ensurdecedor, deslizando para o buraco negro. Rilke já se desfazia, pedaços dela se soltando como se fosse feita de areia. O anjo ardia, tentando mantê-la integrada. Brick puxou-a para perto outra vez, seu terror tão intenso que não encontrava semblante através do qual se revelar. O ar entre eles pulsava, cuspindo fogo líquido, mas Brick enfrentava aquilo. Não se soltaria, não encararia o fim sozinho.
Um clarão ofuscante surgiu e, de repente, ele estava dentro de uma sala, uma biblioteca, observando grãos de poeira vagando preguiçosamente entre as prateleiras. Schiller estava sentado em uma janela na frente dele, a respiração umedecendo o vidro. Não havia nada ali além de dourado, como se a sala flutuasse em um oceano de luz solar. Brick chorava, mas entendia que as lágrimas não eram dele, que pertenciam a outra pessoa, a Rilke.
— Ele se foi — disse Schiller, voltando-se para Rilke, para Brick. — Não vou deixá-lo machucar você de novo, prometo.
— Eu sei, irmãozinho, eu sei — ele se ouviu dizer. — Vamos proteger um ao outro, para sempre. Eu te amo.
Schiller se inclinou para a frente e o abraçou, e a memória — Aquilo era uma memória? — esvaneceu. Tinha sido tão real que Brick quase esquecera o homem na tempestade, o buraco negro no fundo da garganta dele. Olhava para Rilke, vendo a vida dela como se tivesse sido a dele: o pai sumido há tempos, a mãe louca, e o homem, o homem mau que dizia ser médico. Seu rosto apareceu, o bafo de café e álcool, as unhas compridas e sujas. Brick quase berrou, forçando a memória a se afastar, a dor que vinha com ela. Esperneava, tentando ficar preso a Rilke, sabendo que ela precisava dele tanto quanto ele precisava dela.
Não preciso, disse ela. Eu tenho Schiller. Sempre vou ter Schiller.
Ele não está lá dentro, falou Brick, ambos se dissolvendo na luz sombria do buraco negro. Não tem nada lá, está vazio. Schiller se foi.
Os olhos deles se encontraram, e ele percebeu que, lá no fundo, além da loucura, além da exaustão, ela sabia a verdade.
Não importa, disse ela. Vou encontrá-lo.
Rilke sorriu, os lábios explodindo em cinzas. Brick sentiu os dedos escorregarem quando o corpo dela se desfez, tentando pegá-la com as mãos em concha, juntá-la. Assim que se separaram, o ar entre eles se acendeu, a mesma explosão nuclear de antes fazendo-o subir de volta pela garganta da besta. Rolava como um pião, impelido por uma onda de energia. Chamou Rilke, tentando alcançá-la com as mãos, com a mente, tentando levá-la junto.
Mas era tarde demais. Ela se fora.
Cal
Termosfera, 16h29
Ele cuspia fogo, e a tempestade queimava.
A besta se desfazia, seu corpo virando fumaça, só a boca ainda suspensa acima do chão, ainda escancarada. Mesmo ela perdia sua força, sua inspiração não muito além de um sussurro. Nacos de detritos semidigeridos caíam dela, junto com fios bruxuleantes de luz negra. Era quase como se o homem na tempestade virasse a si mesmo do avesso.
Adam pairava como um dragão, com a mesma pluma de fogo integrado rugindo dos lábios. Howie também urrava jatos de magma da boca. Os dois faziam o céu tremer. Cal em momento nenhum parou de pensar em Daisy, a tristeza e a raiva alimentando o incêndio dentro dele. Nunca pararia de pensar nela.
Isso é muito fofo, disse uma voz, a voz dela. O choque cortou o grito ardente do anjo, e Cal olhou para o firmamento. Uma das estrelas se movia, caindo em direção à terra. Ela emanava um som, e ele precisou de um instante para perceber que era riso.
Daisy? Mas como?!
Não sei, disse ela, bruxuleando fora de seu campo de visão antes de reaparecer ao lado dele em um halo de cinzas incandescentes. Ele a mirou, boquiaberto, e ela riu ainda mais.
Vai engolir uma mosca se ficar com a boca aberta desse jeito.
Então ela se jogou nos braços dele, o ar entre os dois estalando em protesto. Ele abriu um sorriso enorme, abraçando-a com toda a força. O alívio era como um rio irrompendo em sua alma.
Use-o, disse ela, desvencilhando-se e olhando a besta.
O quê?
Isto, disse ela, apontando o peito dele. Isto.
Ele usou, rindo um relâmpago de fogo que flagelou a treva evanescente da tempestade. Daisy fazia a mesma coisa, o som das risadas como um canto de pássaro. Adam tinha parado para recuperar o fôlego, e, ao ver Daisy, também começou a rir. Não só ele, mas também o anjo. Cada jato de som era uma arma que rasgava o vazio acima de suas cabeças.
O homem na tempestade tentava arder e sumir, mas suas asas estavam em farrapos. Os cotocos se moviam em espasmos, como os de um corvo ferido, o relâmpago apenas ondulando na superfície. O ar estava repleto de movimento, uma saraivada de penas negras caindo. Ele já não emitia nenhum som, só os estertores lamentáveis de uma coisa moribunda. Um último suspiro desesperado.
Uma pérola de luz branca apareceu no coração das trevas, parando um momento como uma gota de orvalho. Ela se expandiu em um instante, como uma supernova silenciosa. Cal mergulhou a cabeça no braço e, quando olhou de novo, a besta estava perdida no silêncio. Uma figura solitária precipitava-se do inferno frio, girando pelo ar como uma boneca de pano em chamas.
Brick, disse ele. Mas Daisy já estava em seu encalço, voando para longe da existência e reaparecendo quase instantaneamente com o outro garoto nos braços. Ele estava vivo, mas por um triz, toda parte dele despojada do fogo do anjo, exceto os olhos. Tinha perdido as asas: uma por completo, e a outra parecia um lenço pendendo do ombro.
Tudo bem, cara?, perguntou Cal.
Rilke, disse ele. Cal procurou-a na mente, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele olhou para Daisy, os olhares se encontrando, e ela também entendeu. Rilke tinha desaparecido, mas levara consigo meia tempestade.
Vamos, disse Cal. Não havia praticamente mais nada dele, sua mente e seu corpo vazios. Mas havia o suficiente. Cal bateu as asas, subindo rumo à tempestade. As nuvens se dissipavam agora, como ratos desertando de um navio que afundava. Atrás delas havia um espantalho de carne velha, uma ferida aberta que emitia luz negra. Tinha chegado ao fim. Estava morto. Terminado. Vamos acabar com isso de uma vez.
A Fúria
Termosfera, 16h32
Cal lutava. Disparava com cada pedaço de si, com cada resto de emoção. O anjo fazia o que fazia, convertendo-a em energia, em fogo, urrando contra a besta. O homem na tempestade agora não era nem uma coisa nem outra. Tudo nele tinha sido praticamente arrancado, deixando apenas aquele núcleo giratório, aquele orbe negro, como um mármore de obsidiana no céu. Até isso encolhia, a luz negra se extinguindo. Assim como os anjos, ela não podia resistir sozinha, pensou Cal. Sem seu hospedeiro, não era nada. Bombeava ondas de silêncio ensurdecedor, cada qual como um grito invertido. Cal sentia que seu corpo nem lhe pertencia mais. Sentia-se desajeitado por dentro, como se operasse uma máquina desconhecida. Mas não importava. Sentia a alegria emergir, subindo pela garganta e ardendo de sua boca. Nada mais importava, porque tinham derrotado a besta; tinham vencido.
Brick lutava, ainda que não conseguisse segurar o próprio peso. Daisy o mantinha suspenso no ar, a mente como uma correia em volta dele. Ele mal enxergava. Sua cabeça era um caos de ruído branco. Mas sabia o que fazer, os braços pelo éter, de algum modo encontrando a energia para atacar o que restava da tempestade. Tudo em que conseguia pensar era Rilke. A garota que tinha matado Lisa, que tinha tentado matá-lo; a garota cujo irmão fora assassinado; a garota cuja mente ele destruíra, cuja sanidade ele tinha arrancado pelo buraco em sua cabeça; a garota que fora tão triste, tão enfurecida, que se recusava a conversar com todo mundo sobre isso, inclusive com o irmão — tão parecida com Brick, tão parecida com ele. Não a entendia, nem o que tinha acontecido, mas a raiva dela agora pertencia a ele, e ele podia usá-la, como aliás o fez, gritando até a besta sumir. Esta é por você, Rilke, sinto muito, espero que encontre seu irmão. De verdade, sinto muito, sinto muito, sinto muito...
Howie lutava, o fogo dentro de si tão natural que ele se perguntava se tinha sido sempre assim, se tinha acabado de acordar de um sonho de uma vida normal, de um sonho de uma família perto do mar, com amigos, com noites na praia bebendo rum. Como qualquer coisa ali poderia ser real? Tudo parecia artificial demais, algo que ele poderia ter visto na TV. A verdade é que agora era uma criatura cuja energia era capaz de destroçar o mundo com apenas uma palavra. A tempestade era agora um trêmulo floquinho de sombra na tela brilhante do espaço. Ela bruxuleava, raízes venenosas de luz crescendo dela, sumindo quase de imediato. Howie atacava, pisoteando-a com a mente como se esmagasse um besouro, de novo, de novo e de novo. O som era como o do trovão. Não queria adormecer nunca, nunca voltar para a vida de sonho, para o lugar em que não tinha força. E seu anjo também não queria, percebeu ele, porque, se o deixasse, o único lugar para onde iria era a escuridão, a gelidez, o lugar fora do tempo. Ele se agarrava ao anjo, sentindo seu fogo congelante arder dentro da alma, rindo.
Adam lutava, gritando para a besta, vendo o rosto da mãe no céu, o do pai também. Tinha tanta raiva deles, ele os odiava. Durante aqueles anos todos, o tinham mandado calar a boca, ficar quieto, parar de reclamar, parar de chorar. Não mais.
— Agora quem fala sou eu! — gritou ele, e a voz era ainda mais alta do que a da mãe e a do pai quando berravam, mais alta ainda do que a do homem na tempestade. Era a coisa mais alta do mundo, e era dele. — Estou falando, e vocês não podem fazer nada! — Ele não permitiria que o machucassem nunca mais, não toleraria aquilo. Nunca mais queria vê-los, e não precisava se não quisesse. Moraria com Daisy, com Cal, talvez até com Brick, apesar de ele resmungar o tempo todo. Ele olhou para eles, que reluziam ao sol como enfeites de árvore de Natal. Eram todos feitos de fogo, exatamente como ele. Eram seus irmãos e irmã, e ele os amava tanto que seu coração doía. Gritavam para o céu e ele também, todos juntos, tal como seria para sempre.
Daisy lutava. Não parecia que lutava, porém, porque tudo o que fazia era rir. Aquilo borbulhava dentro dela como se tivesse ficado represado um milhão de anos, mas enfim em liberdade. Não conseguiria parar nem se quisesse. Cada risada era uma chama dourada despejada pela boca, lembrando-a do vapor que saía por ela em dias frios. Elas subiam até o homem na tempestade, indo parar em sua pele velha e nojenta, sufocando-o. Não que ainda restasse muito dele; só um círculo de trevas, um buraco gigante afundado no céu. Ele ficava menor e mais pálido, o universo em processo de cura. Daisy abriu as asas e voou até ele, ainda rindo de alívio. O anjo ria também, o zumbido como um diapasão, fazendo com que cada célula em seu corpo parecesse mais leve do que o ar. A tempestade tinha se encolhido para longe dela, que chegou a sentir pena da besta, porque jamais poderia saber o que ela sentia. A besta — embora não fosse realmente uma besta, pois, diferente de um animal ou uma pessoa, não estava de fato viva — vagava pelo vazio frio e escuro do espaço procurando vida, porque não a suportava. Tudo o que conhecia era o nada, a ausência. Para ela, este mundo era um equívoco, uma lacuna horrenda nas regras, algo que não podia ser tolerado, que tinha de ser reequilibrado, ajustado. Mas ela não contara com os anjos, nem com as pessoas. E, por certo, não contara com o riso. Se havia algum oposto exato do vazio, daquele nada infinito que ela tanto amara, tinha de ser o riso, não tinha? Não havia nada mais humano. Daisy lutava contra a tempestade, atingindo-a, ela que agora não passava de um grão de poeira que a garota podia prender entre dois dedos, logo menor do que os diminutos átomos que compunham o ar, enfim tão pequena que nem os olhos do anjo de Daisy a entreviam, pequenina o bastante para cair no meio das fendas do mundo. Uma única centelha de relâmpago negro bruxuleou pelo céu, e então Daisy sentiu seu fim, tudo o que ela era irrompendo em uma explosão ondulante. A onda de choque lançou-a para trás, e ela ardeu para fora do tempo e do espaço, levando consigo os outros, surfando ao som do riso até chegar em casa.
Noite
Do tempo triste somos os arrimos;
digamos tão somente o que sentimos.
Muito o velho sofreu; mais desgraçada
nossa velhice não será em nada.
William Shakespeare, O Rei Lear
Cal
Hemmingway, 16h47
De início, não sabia onde estavam. Então o mundo os alcançou, envolvendo-os com seu braço, e, através do halo espiralante de cinzas, ele o reconheceu. À direita estava o mar, ainda perturbado, mesmo após aquele tempo todo. À esquerda havia um estacionamento e uma pequena construção achatada com as portas presas com tábuas. O chão ainda estava coberto de cinzas — menos agora, mas o suficiente para mostrar pegadas, e também marcas de pneu, de quando haviam partido naquela manhã. Tudo parecia diferente aos olhos do anjo, mas, quando foi para dentro da mente a fim de tentar se desconectar do fogo, nada aconteceu.
Acabou? A voz era de Brick, e Cal, virando-se, viu-o deitado no chão, apoiado contra a duna. Seu fogo ainda ardia, mesmo que fraco, e o garoto se arrastava desconfortável nele. Seus grandes olhos brilhantes piscavam.
Melhor que tenha acabado, falou Howie, pairando acima do chão ao lado dos banheiros, com as asas semidobradas. Porque eu estou completamente acabado.
Acho que acabou, sim, disse Daisy. Ela e Adam ficaram lado a lado, os anjos zumbindo alto o suficiente para erguer areia e cinzas em uma dança. Outro ruído veio dela, um badalo de cristal que criou uma sensação estranha na cabeça de Cal. O homem na tempestade está morto.
Tem certeza?, perguntou Brick. Daisy inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse ouvir algo. Após alguns instantes, ela fez que sim.
Tenho certeza. Você não sente? Ele se foi.
Cal sentia, e era a sensação como a de ter comido algo ruim, algo que o deixara nauseado por dias e mais dias, e ele finalmente o vomitara. Perguntava-se se o anjo também estava aliviado, porque sua cabeça parecia diferente. Sentia-se pegando carona dentro do próprio crânio, impelido para um lado pelo gelo da criatura. Não conseguia entender se a sensação era resultado de um ferimento, de algo que tinha acontecido durante a batalha, mas, quando pôs as mãos na cabeça, no corpo, não parecia estar faltando nada.
Não consigo me desconectar dele, disse Brick. O garoto maior se retorcia na areia e na cinza, sua única asa se arrastando embaixo dele como um membro mutilado. Ele não vai embora.
Cal tentou de novo, apertando aquele interruptor invisível que o colocava de volta no controle do corpo. Nada aconteceu, e teve um ligeiro vislumbre de pânico no estômago. O anjo pareceu gostar, sua segunda pele se acendendo, bombeando aquele mesmo pulsar que entorpecia a mente. Fique calmo, fique calmo, falou a si mesmo, mas, de repente, a veste de chamas pareceu errada, como se vestisse a carne de outra pessoa. Não queria mais ver através dos olhos do anjo, não queria ver os mecanismos secretos do mundo, os pequenos motores atômicos que giravam incansavelmente; não queria sentir o vazio imenso e escancarado que aguardava bem do outro lado da concha de papel da realidade. Ele deu de ombros, tentando libertar-se, mas o anjo estava bem no meio de sua cabeça, sufocando seus pensamentos.
O que está acontecendo?, perguntou ele.
Faça ele ir embora!, gritou Brick, agora de pé, agitando os braços diante do rosto como se estivesse em meio a um enxame de abelhas. O medo do garoto era contagioso. Howie começava a coçar o incêndio à sua volta, suas asas cortando a parede de um banheiro e transformando-a em pó. Adam choramingava, cada chorinho fazendo o ar tremer ao derramar-se dos lábios.
Esperem, está tudo bem!, falou Daisy. Não se assustem!
— Vá embora! — Agora Brick gritava, as palavras como socos através das dunas, mandando bolos de areia para a espuma branca do mar. — Vá embora! Já terminamos, não precisamos mais de vocês!
Brick! Chega!
Cal mordeu o lábio para conter o pânico e viu Daisy flutuar, carregando Brick nos braços. Foi como observar mãe e filho, e Brick logo se acalmou, ainda que o espaço entre eles tenha criado um show de fogos de artifícios. Ela o soltou, com o baque de um pulsar de energia escapando, levantando redemoinhos de poeira.
Mas eu não consigo desligar, disse Brick, as mãos apertando as têmporas. Ele não sai da minha cabeça.
Eles... Ela procurava as palavras. Eles não querem voltar para o lugar de onde vieram. Lá é frio e escuro.
Aqui eles não podem ficar, disse Brick, agora se socando. A cabeça é minha, está ouvindo? Vá embora!
Chega, falou Daisy, dando-lhe a mão. Quanto mais emotivo você ficar, pior vai ser. É isso que eles querem, emoções. Estão se alimentando dessa raiva toda.
Você falou para nós que era isso que devíamos fazer, argumentou ele, com seus olhos ardentes fixos nela. Você nos disse para usar isso. A culpa é sua!
Pare com isso, cara, disse Cal. Se ela não tivesse dito isso, agora estaríamos mortos, entendeu? Dê um tempo pra ela.
Vá para o inferno, Cal, Brick resmungou. Não pedi que nada disso acontecesse. Ele torceu a cabeça para cima, gemendo. Consigo sentir ele aqui dentro. Saia, saia, SAIA!
Daisy olhou para Cal, o rosto dela cheio de tristeza. Aquele som de badalo tinha ido embora, e o ar parecia mais pesado por causa disso.
Eles ficam muito sozinhos lá, falou ela. Eles detestam. Não podem ficar?
Se ficarem, nós vamos morrer, respondeu ele. É a Fúria, Daisy. Assim que qualquer pessoa se aproximar de nós, vai querer nos destroçar. Não podemos nos esconder para sempre, é só uma questão de tempo. Ele pensou na criatura dentro de si, na coisa que o mantivera vivo, e sentiu-se inexplicavelmente culpado ao dizer: Fale para irem embora; é o único jeito. Você consegue?
Daisy olhava o mar, mas, na verdade, enxergava outra coisa. Cal tentou espreitar os pensamentos dela, mas o que sentiu ali — uma pressão no peito dele, na garganta — era insuportável.
Daisy?, perguntou ele. Ela o olhou e sorriu, o sorriso mais triste que ele já vira.
Acho que sei o que preciso fazer.
Daisy
Hemmingway, 16h59
Ela não sabia por que os tinha levado de volta para aquele lugar, Hemmingway. Agora ali era a casa, imaginava ela, a única que tinha. A única de que precisava. Parecia ter sido séculos atrás quando ela e Cal entraram de carro naquele estacionamento, e uma vida inteira quando saíram. Parecia ter passado anos ali, na beira do mar, ao sol, com Cal, Brick, Adam e os outros. Mas os anos — e os segundos, minutos, horas, dias — eram diferentes agora. O tempo era uma coisa fragmentada.
Casa. Ela tinha sido feliz ali. Não o tempo todo, claro. Tinha ficado doente, com medo e com raiva também, de Rilke, de Brick e de todos os furiosos, e sobretudo do homem na tempestade. Mas ter encontrado nem que fosse um pouquinho de felicidade no meio daquilo tudo tinha sido como quando o sol irrompe pela nuvem mais pesada, pintando o mundo de dourado. Sim, ela tinha sido feliz ali. Sempre seria feliz ali.
Eles também podiam ser felizes ali, os anjos. Por que eles precisavam voltar para seu lugar de origem só porque seu trabalho tinha terminado? Eles não eram máquinas prontas para serem guardadas de volta no armário. Daisy lembrou-se de ter pensado que os anjos eram como robôs, armas sem alma a serem usadas na guerra contra a besta. Mas estava equivocada. Eram mais como bebês que aprendiam a usar suas emoções pela primeira vez, descobrindo todas as coisas maravilhosas que poderiam sentir. Não tinham nada de seu, disso ela tinha bastante certeza, mas isso não significava que não podiam sentir o que ela sentia.
E quem iria querer voltar para um lugar vazio e horrendo para sempre se pudesse ficar aqui, rindo, amando, em meio a tudo o que é bom? No momento exato em que ela pensou isso, sentiu seu anjo rir, aquele diapasão invadindo o ar, tão diferente do riso humano e, mesmo assim, tão inconfundível. Riu também.
Como assim?, perguntou Cal. O que você precisa fazer?
Ela sorriu de novo, olhando o anjo que estava dentro da alma dele. Ainda não entendia o que eles eram de verdade, nem de onde vinham. Como poderia? Aquelas coisas eram mais velhas do que o tempo, mais velhas do que o universo. Haviam estado ali desde sempre, em plena existência eterna. E também o homem na tempestade. Ele era o para sempre, os zilênios intemporais e vazios. Só de tentar pensar naquilo, a cabeça dela doeu, por isso, parou. Nada daquilo importava, não agora que tinham encontrado um lar. Estava cansada, os anjos estavam cansados. Era hora do repouso.
Aproximou-se de Brick, o garoto esperneando em seu traje de fogo. Mas que bebezão ele era.
Brick, chamou ela. Ele a ignorou, os braços girando como se ele de algum modo pudesse puxar-se para fora do próprio corpo. Brick!, repetiu, tocando o ombro dele. Ele franziu o rosto e a olhou zangado.
Simplesmente tire ele de mim!, disse ele.
Quero que me escute, respondeu ela. Quero que fique menos zangado. E também menos egoísta. Ele ia começar a responder, mas algo na expressão dela o deteve. As coisas se tornam mais fáceis quando a gente é legal, não é? E não custa nada.
Do que você está falando?, perguntou ele. Isso não tem nada a ver com você, Daisy.
Apenas tente, falou ela. Você acha que todo mundo detesta você, mas não é verdade. Você não vê, nós amamos você, Brick. Sempre amaremos. Seja legal, prometa.
Ele ficou de queixo caído e lentamente fez que sim. Ela riu outra vez — agora, para ela e para o anjo, o riso era facílimo — e, em seguida, moveu uma mão até o peito dele, empurrando os dedos dentro do fogo. Era como colocar uma folha na frente de uma joaninha e observá-la subir. O fogo de Brick disparou com força suficiente para catapultá-lo para trás, fazendo-o rolar pelo estacionamento. Fogo escorreu do braço de Daisy, abrindo caminho até o som dos sinos que soavam no centro dela. Sentiu o instante em que o anjo juntou-se ao dela, os dois sentados em seu peito, badalando com tanta força que os dentes dela batiam.
Brick deu um grito, retorcendo-se no concreto cheio de areia onde pousara, a trinta metros de distância mais ou menos. Ele a mirou com os próprios olhos, arregalados, úmidos, humanos.
Agora você é humano, lembre-se disso. Não pode chegar perto de mim.
Ele se levantou, mas ficou onde estava.
— O que você fez? — balbuciou Brick, as palavras débeis e gaguejadas, como se aquela fosse a primeira vez que falava.
Daisy se voltou para Howie, que recuou para os banheiros destruídos e estendeu as mãos para ela.
Espere aí, e se eu quiser ficar com o meu?, disse ele.
Ele vai matar você mais cedo ou mais tarde, respondeu ela. E depois vai morrer também.
Mas, e você?
Eu estou oferecendo outra coisa a eles, acho, falou ela, flutuando até ele e procurando seu peito. Queria ter tido tempo de conhecer você melhor.
O anjo dele veio de bom grado, ardendo pelo braço dela e entrando em sua alma. A força daquilo fez com que Howie fosse girando quase até as árvores. Após um ou dois segundos, levantou a cabeça, colocando as mãos nos ouvidos. Não era de admirar: o zumbido que emanava dela era ensurdecedor, três corações de anjo batendo no mesmo lugar. Ela agora se sentia muito fria, muito pesada. Mas não podia parar. Olhou para Adam, sorrindo para ele.
Pronto?, ela lhe perguntou.
Mas eu quero ficar com você, respondeu ele, e foi bom ouvir sua voz. Ela flutuou até ele, sentindo aquela mesma descarga elétrica crescer entre os dois.
Vou estar sempre aqui, disse ela. Preciso que você seja corajoso, Adam. Preciso que seja forte. Prometa-me que nunca vai ter medo de usar sua voz de novo, está bem?
Ela o soltou, e ele piscou para ela com seus olhos em chamas.
Prometa.
Prometo, prometo.
Não vai doer.
Ela apertou os dedos contra o peito dele, seu anjo se libertando mais rápido do que os outros. Ele rasgou seu caminho pela pele e mergulhou dentro dela. Era como se ela tivesse comido demais, como se estivesse prestes a explodir. A súbita corrente de energia mandou Adam para longe, depositando-o gentilmente aos pés de Brick. O garoto maior se abaixou, segurando-o com força quando ele tentou correr para ela de novo.
Daisy quase não conseguiu se virar para encarar Cal, tão pesado estava seu corpo, tão cheio de gelo e fogo.
Como sabia que isso não ia matar você?, perguntou ele. Como sabia disso tudo?
Eu não sabia, respondeu ela. Mas eles sabiam.
E agora?
Ela deu de ombros.
Vamos vivendo.
Endireitou o braço, procurando o peito dele, mas ele pairou para longe.
Obrigado, falou Cal. Nunca teríamos conseguido sem você.
Eu sei, disse ela, dando outra risada. Prometa-me que vai cuidar de Adam. Nunca se separe dele.
Cal se virou e sorriu para o menino.
Claro, vou tentar, Daisy, mas não sei o que vai acontecer...
Cal...
Certo, prometo. Nunca vou me separar dele.
Ela tentou de novo, mas ele recuou mais ainda.
Não sei mais o que dizer, ele falou.
Então não diga nada. Ela estendeu a mão uma quarta vez, os dedos entrando no peito dele. Fez-se um clarão, como um choque elétrico, um jato de pura energia estalando dentro do corpo dela. Cal voou para trás, rolando pelo chão. Quando levantou a cabeça, seu rosto estava coberto de cinzas. Parecia um fantasma, e isso só fez com que ela risse com ainda mais força. Os anjos riram também. O corpo dela estava oco e repleto de badaladas. O zumbido que vinha dela era alto o suficiente para fender a terra.
— Daisy? — gritou alguém, mas ela não conseguiu ouvir direito quem tinha sido.
Também não pôde enxergar muito bem, o incêndio que ardia dela tão brilhante que até os olhos do anjo enfrentavam dificuldades. Era demais, o mundo tremendo por contê-la, a pele da realidade esticando-se para fazê-la caber. Os anjos estavam agitados; podia senti-los nos pensamentos, no sangue, na alma. Ela parecia estar prestes a explodir e levar o universo junto.
Piscou algumas vezes e viu Cal, Brick e Adam através da visão turva, parecendo tão pequenos, tão humanos. Lembrou-se da primeira vez que os encontrara: Cal, quando a salvara no carro, falando-lhe da Dona Mandona como se ela nunca tivesse ouvido falar de navegação via satélite antes; Adam, quando chegara com os outros, tão calado, com tanto medo, até que haviam brincado nos cavalos do carrossel, Angie, Geoffrey e Wonky-Butt, o Cavalo-Maravilha, e seu rosto se abria como uma flor; e Brick, coitado, triste, zangado, o Brick que os encontrara bem ali, naquele lugar exato, que os levara a Fursville, cujo riso era como o de um pássaro quando enfim se esquecia de ficar zangado com o mundo. Como era possível amar as pessoas tanto, com tanta força?
Vocês precisam ir embora, disse ela. Acho que algo está prestes a acontecer.
— Daisy, não, não vá embora! — pediu Adam. Ele quis se aproximar dela, mas Cal o segurou.
— Adeus, Daisy — falou Cal, sorrindo para ela.
Não é um jeito tão ruim de ir embora, pensou Daisy. Vendo um sorriso.
Sorriu em resposta, virando-se antes que o riso se tornasse lágrimas. Ela os veria de novo, tinha certeza. Talvez não do mesmo jeito que antes, mas tudo bem. Não era o fim do mundo. Vagou pelas dunas, o mundo descamando-se a seus pés, o mar sibilando quando o sobrevoou. Mesmo que se sentisse pesada, subiu como um balão, dirigindo-se para o azul brilhante. O movimento dos anjos ia ficando mais frenético, como se fossem gatos presos juntos em uma cesta. Mandou que se acalmassem, mas eles não entenderam. O martelar de seus corações ficava mais agudo. Quanto tempo mais ela tinha antes que o mundo não pudesse mais contê-la? Horas? Minutos? Segundos?
Mas o tempo está fragmentado, disse a si mesma. Ele nunca vai nos alcançar.
Virou-se e olhou para baixo, observando os garotos abrindo caminho para as árvores sem folhas. Abaixo dela, o mar ia sendo varrido, e também a superfície, a energia vertida por ela talhando uma cratera na Terra. O ar se agitava como se tentasse escapar, como se soubesse o que estava por vir. O tempo rangia, tentando pegá-la com seus dedos, mas ela agora estava pesada demais para ele, ele não conseguiria carregá-la.
Ela se manteve firme até não poder mais vê-los — Brick foi o último a sumir, erguendo uma mão trêmula, as lágrimas como cristais no rosto sujo enquanto desaparecia. Vá embora, ela lhe disse. Nada de ruim vai acontecer agora — e, em seguida, o universo se fragmentou sob o peso dos anjos.
Eles pareciam arder dentro dela, uma explosão que começou na alma e se expandiu para fora, chegando às margens da floresta antes que ela estendesse mentalmente a mão e segurasse o tempo, libertando-se. Algo gemeu, o som como o de uma gigantesca buzina de navio no centro do mundo. Tudo sacudia, a realidade ameaçando fazer-se em pedaços, a explosão desesperada para terminar o que tinha começado. Porém, Daisy não desistiria. Os anjos trabalhavam com ela, segurando as rédeas do tempo.
Na cabeça, ela se atinha com a mesma força àquela memória, deitada em seu jardim à sombra das árvores, observando contas de luz solar se perseguirem pela grama. Repousava a cabeça na perna da mãe, sentindo o cheiro do tecido e de amora. O pai acenava para ela da janela da cozinha, parecendo cem anos mais jovem do que antes, parecendo ele mesmo outra vez. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, e sabia que sempre ficaria assim, porque nunca mais precisaria sair daquele jardim, nunca mais precisaria dizer adeus. Deitaria ali com a brisa no rosto, a mão da mãe no braço, o gato do vizinho passando por seus pés, ronronando como um trem a vapor, para todo o sempre.
Ela riu, e do lado de fora o mundo moveu-se sem ela. De início, lentamente — ela viu gente lá embaixo, uma multidão —, mas logo se acelerando. O dia virou noite, e a noite virou dia. Os rostos mudaram, mas ela viu gente que conhecia, Cal, Brick, Adam movendo-se rápido demais para que enxergasse o que faziam. Houve chuva, depois neve. A floresta desapareceu, sendo trocada por prédios, e eles também desapareceram, a linha do litoral mudando a cada batida de seu coração. Mas ela ainda os via, os amigos, os irmãos, de pé perto do mar, observando-a por uma fração de segundo. A cada vez que apareciam estavam mais velhos, até que estivessem grisalhos e recurvados, mas, ainda assim, ela os reconhecia.
O mundo continuou sem ela, os anos passando, as décadas, os séculos, e ela observou a terra recuar e o oceano avançar. Viu as cidades no céu, e os foguetes, viu o sol ficar grande e vermelho, e, durante tudo isso, o mesmo riso ecoava dela, uma única inspiração que mantinha todo o tempo à distância. Em algum momento, ela precisaria soltar o fôlego, sabia disso, quando o homem na tempestade aparecesse de novo, ou alguma outra criatura como ele. Em algum momento, os anjos se libertariam dela para poder combater em outra batalha. Mas, até lá, haveria só o jardim, o sol, e a mãe e o pai — amo vocês tanto, mas tanto —, e um riso que ressoava ao longo das eras.
Brick
Hemmingway, 17h23
Brick não suportava a ideia de deixá-la ali sozinha, mas que escolha ele tinha? Ele podia ouvir o pulsar sônico dos anjos dentro dela, aumentando o tempo todo, como se ela estivesse prestes a explodir.
— A gente precisa ir embora — disse Cal, tomando Adam pela mão e levando-o para longe do mar. O garotinho resistiu, tentando se soltar, mas Cal o segurou. — Cara — falou para Brick —, é sério. Esse barulho não é bom.
Não parecia bom mesmo. O mundo despedaçava-se em volta de Daisy, a terra e a água fervendo enquanto ela flutuava céu acima. Brick sentia o tremor nos pés, o chão se agitando, prestes a se despedaçar. Ele mal conseguia ver a garota através do orbe de fogo que a cercava. Parecia um pássaro em uma gaiola em chamas.
— Não quero ir embora — disse Adam aos soluços. — Eu quero a Daisy!
— Vai ficar tudo bem com ela — falou Cal. — Não está ouvindo?
Era incrível, mas ela ainda ria, o som cristalino mais alto do que o zumbido dos anjos. Cal se abaixou e colocou o garoto em cima dos ombros. Começou a correr para as árvores, e Brick foi atrás, aquele pulsar afastando-o, rugindo contra suas costas. Howie já tinha sumido. Brick escorregava nas cinzas, no concreto cheio de areia do estacionamento, tão cansado que mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Parecia estar aprendendo do zero a usar seu corpo, agora que o anjo fora embora. Sentia-se leve demais, frágil demais, como se fosse se quebrar em mil pedacinhos ao menor toque.
Porém, era um milagre que pudesse sequer se mover. Seu anjo devia ter curado os ferimentos mais graves, remendando seu interior.
Manquitolou por entre as árvores, olhando para trás, através dos galhos nus. Daisy estava suspensa sobre o mar, brilhando tanto quanto o sol. A água fumegava abaixo dela, congelando e depois fervendo, de novo e de novo, formando estátuas de gelo que duravam meros segundos antes de derreter de vez. Era hipnotizante, e Brick quase se esqueceu de si na maravilha caleidoscópica daquilo. Estendeu a mão para ela, percebendo que chorava. E, mesmo que não tivesse mais o anjo, ouvia a voz dela em sua cabeça, como se ela estivesse bem ao lado dele, sussurrando em seu ouvido.
Vá embora. Nada de ruim vai acontecer agora.
Deteve-se entre as árvores, e o mundo atrás dele ficou branco e silencioso. Uma onda sem som o pegou, carregando-o pelo ar, tão rápido que não conseguiu nem gritar. Então ele caiu no chão macio e arenoso, e a vida escureceu.
Não soube depois de quanto tempo abriu os olhos. Estava deitado de costas, mirando um céu que estava a meio caminho do dia e da noite. Seus ouvidos apitavam, como se ele tivesse passado a noite em um show, mas acima do gemido incômodo ouvia vozes. Tentou se sentar, sentindo como se cada fibra do corpo estivesse ferida. Até as pupilas doíam, e a visão parecia leitosa. Inclinou a cabeça para o lado, piscando para afastar as lágrimas. Algo se movia à frente, talvez vários algos. Não tinha certeza.
Ele se apoiou levantando um ombro, e passou a outra mão nos olhos. Ao olhar de novo, as silhuetas tinham se solidificado em figuras, em pessoas, uma correndo em sua direção. Um jato de adrenalina percorreu seu corpo exausto. A Fúria.
Ele foi embora, tentou dizer às pessoas, a boca recusando-se a formar as palavras. O anjo foi embora.
A silhueta estrondou na direção dele, e ele ficou de pé com dificuldade, conseguindo dar um passo antes de cair de cara no chão. Eram gritos que ele ouvia? Berros sufocados e furiosos? Depois de tudo o que acontecera, depois de tudo o que fizera para combater o homem na tempestade, era assim que ia terminar? Dentes na garganta, unhas nos olhos? Tentou de novo, mas não havia mais nada dentro dele. Mãos o seguraram, rolando-o de lado, o buraco negro de uma boca caindo em sua direção. Rezou para que fosse rápido. Era o mínimo que merecia.
— Tudo bem?
Não ouvia direito as palavras com aquele apito nos ouvidos.
— Cara, está me ouvindo?
Brick ficou deitado, o coração tentando sair do peito. Piscou até o rosto inclinado sobre ele ganhar foco.
— Cal? — rosnou Brick.
O outro garoto abriu um sorriso enorme, cheio de hematomas, cansado, mas de resto intacto.
— Tudo bem? — repetiu Cal.
Por que ele ficava perguntando? Era bem óbvio que ele não estava bem. Cal fez força para sentar-se, tentando recordar como tinha chegado ali. Tudo em sua cabeça era ruído branco, mas ele se lembrava de correr com Cal e com Adam, lembrava de Daisy flutuando por cima do oceano. O que tinha acontecido com ela? Ela tinha explodido? Ele pegou o braço de Cal, usando-o como apoio para levantar-se.
— Daisy — falou ele. Por favor, tomara que ela esteja bem, tomara que não tenha morrido.
— Ela está lá — disse Cal, apontando.
Brick continuou apoiado no outro garoto, o mundo girando. Podia estar no meio do deserto. Só que a areia ali tinha um milhão de cores diferentes, e logo à frente estava o oceano, tão espumoso que alguém parecia ter derramado mil toneladas de detergente nele. O sol estava parado no horizonte, alto sobre a água, mas, quando Brick se virou, também estava suspenso sobre a cabeça de Cal. A imponderabilidade daquilo lhe causou vertigens.
— Você precisa se sentar — disse Cal.
Brick se desvencilhou do garoto e seguiu cambaleante pela praia rumo ao primeiro sol, o sol dela. Havia mais pessoas à frente, que o brilho transformava em silhuetas. Brick teve de se aproximar para que seus olhos leitosos identificassem Adam e Howie. Ambos estavam imundos, as roupas em farrapos, mas os anjos tinham cuidado bem deles, curado os piores ferimentos antes de ir embora. Ambos sorriam.
— Ei — falou Howie, a voz parecendo papel-areia. — Você está um lixo.
Brick riu, mesmo que doesse. Howie estava preto e azul, seu cabelo prateado.
— Você também não está lá muito bem — falou ele. — Parece o meu avô.
— Deve ser um homem muito bonito — disse Howie, fazendo Adam dar uma risadinha.
Brick olhou de novo para o sol. Era forjado em luz, em cores que ele jamais vira, ondas de energia que cintilavam indo e vindo pela superfície. Ele não conseguia ver nada dentro da esfera, mas um badalo cristalino emanava dela, o som inconfundível.
— Ela está rindo — falou Adam. — Está feliz.
— Você acha? — indagou Brick.
O garoto tinha razão, não havia a menor dúvida. Quantas vezes Brick tinha ouvido aquela risada, que tinha tirado sua raiva, e o tornado humano outra vez?
— Daisy — disse ele, e a ideia dela ali, presa naquela bolha de fogo, deixou-o com raiva. Por que tinha de ser ela? Ela era só uma menina, deveria ter sido outra pessoa. Ela devia ter podido ir para casa, viver sua vida. Não era justo, não era...
Sentiu uma mão no ombro e, ao olhar, viu Cal.
— Você fez uma promessa a ela — disse ele.
Brick percebeu que tinha os punhos cerrados, as unhas penetrando a carne das palmas. Ele tinha prometido algo, tinha prometido não viver com raiva. Mas como poderia manter essa promessa?
— Sério, cara — falou Cal, apontando a água com a cabeça. — Quer realmente correr o risco de ela vir atrás de você? Ela vai te fritar.
Brick riu de novo, sem querer, deixando o corpo relaxar. A verdade é que estava cansado demais para estar com raiva. Inspirou profundamente o cheiro do mar, o cheiro de casa. Podia tentar, por Daisy. Ela tinha salvo a todos, várias e várias vezes. Devia isso a ela.
— Está bem — concordou. — Você está olhando para o novo eu, um mané todo feliz novinho em folha.
Cal riu para ele, e por um instante ficaram ali, estreitando os olhos contra o brilho do segundo sol. A Brick, parecia impossível que menos de uma semana atrás ele estivesse sentado naquela mesma praia preocupado com dinheiro, combustível e Lisa. Como era possível que tantas mudanças acontecessem em um período tão curto? Essa ideia fez suas pernas bambearem, e ele quase caiu, as mãos de Cal segurando-o.
— Ei! — A voz veio de trás deles, e todos se voltaram ao mesmo tempo, vendo um policial uniformizado andando sobre as dunas. Brick deu um passo para trás, calculando a distância entre eles. Trinta metros. Por favor, não, pensou ele. Por favor, não se transforme. O homem — não um policial, mas um bombeiro — agora corria, apontando o novo sol. — O que é que vocês estão fazendo?
Vinte e cinco metros. Vinte. O homem tropeçou e resmungou. Ah, não. Não pode ser. Quinze metros, e Brick já tinha quase se virado e começado a correr, antes que o bombeiro ficasse de pé outra vez.
— Precisam dar o fora daqui! — disse o bombeiro, passando correndo por eles, levantando areia no caminho. — Vão, vão pra casa já!
Brick se lembrou de respirar, observando o bombeiro que corria para o mato, gritando algo no rádio. Obrigado, disse para Daisy, para os anjos, para qualquer outra coisa que estivesse ouvindo.
— Precisamos ir embora! — falou Cal.
— Para onde? — perguntou Brick. — O que vamos fazer depois disso? Fingir que nunca aconteceu? Que talvez não aconteça de novo?
Cal deu de ombros.
— A única coisa que eu sei é que estou louco por uma lata de Dr. Pepper. Todo o resto pode esperar.
— Você sabe que isso é puro veneno — disse Brick. — Só açúcar e química.
— Eu sei — respondeu Cal. Ele se virou, seguindo pela praia na direção contrária do mar. Os outros foram atrás, cada qual levando as duas sombras de dois sóis. — Mas, se eu consegui sobreviver ao dia de hoje, com certeza vou sobreviver a uma lata de refrigerante.
Brick balançou a cabeça, e então notou que sorria, com tanta força que as bochechas doíam. Cal tinha razão. Realmente, não importava o que ia acontecer depois. Agora estavam em segurança, tinham sobrevivido. Olhou de novo em direção a Daisy, oculta em sua bolha de luz. Será que ela os observava agora? Levantou a mão e acenou para ela.
— Adeus, Daisy — falou. — Logo a gente se vê. Cuide-se.
Depois se virou e correu atrás dos outros, ouvindo o riso dela encher o ar a suas costas conforme perseguia sua sombra ao sol.
Domingo, Hemmingway, 23h56
Daisy Brien estava em toda parte e em parte alguma, possuída por uma criatura de fogo e trancafiada em um mundo de gelo.
Não sabia quanto tempo fazia desde que tinha sucumbido. O tempo parecia não existir ali, onde quer que ela estivesse. Poder-se-iam ter passado alguns poucos segundos ou um milhão de anos, não havia como saber. Estava suspensa em uma teia de vidas, em um número infinito delas. Pareciam cubos de gelo, e, através da superfície fosca de cada um deles, ela vislumbrava lugares e pessoas. Se fizesse um grande esforço, via nitidamente dentro do gelo e conseguia encontrar sentido naqueles mundos, mas esse esforço lhe provocava enjoo, como se estivesse no banco de trás de um carro que fizesse uma curva rápido demais.
Porém, a criatura estava com ela, e a criatura queria que Daisy olhasse. A garota a sentia dentro de sua cabeça: era algo feito de luz. A coisa não falava — Daisy achava que não era capaz de falar —, mas a guiava, mostrando-lhe o que importava, impedindo-a de ficar à deriva no infinito oceano de gelo.
Viu os acontecimentos dos últimos dias como se os estivesse revivendo — não apenas suas memórias, como também as memórias dos novos amigos: de Cal, Brick, Adam, Marcus, Jade e até de Rilke e Schiller. O início fora o mesmo para todos, ainda que não se conhecessem, ainda que estivessem separados por centenas de quilômetros. Era uma dor de cabeça que durara dias — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, como se alguém estivesse tentando quebrar seu crânio.
E, assim que a dor de cabeça passara, começara então a Fúria.
O mundo inteiro queria matá-los. Ela viu isso dentro dos cubos de gelo. Cal fugindo para salvar sua vida, com centenas de pessoas perseguindo-o na escola, com seus melhores amigos tentando estraçalhá-lo. E Brick, sentado com a namorada no porão de um parque temático abandonado, tão feliz quanto Brick era capaz de ficar, até que ela passara a tentar devorar sua garganta. Adam — pobre Adam, que não dissera uma palavra sequer desde que a Fúria tinha começado — estava no dentista. Jade, em um táxi. Marcus, em casa. Rilke e Schiller, os gêmeos, em uma festa, sendo quase pisoteados na lama no meio da noite.
E ela, que agora observava aquilo, não era mais a menina magrinha de doze anos que chorava no quarto dos pais, não mais. A mãe e o pai estavam mortos a seu lado, apoiados um contra o outro como bonecos em uma prateleira. A mãe envenenara a si mesma e, depois, o pai. Tinha feito isso para não machucar Daisy, para protegê-la. Porém, isso não fora suficiente para salvá-la das pessoas da ambulância que invadiram sua casa querendo matá-la. Mas ela conseguira — por pouco — escapar com vida. Como todos eles.
Não, nem todos. Quantos haviam morrido? Daisy não tinha certeza, mas sabia que existiam outros como ela, dezenas, talvez centenas. Tinham sido assassinados pelos próprios amigos, pelas próprias famílias. E então o mundo os esquecera, como se nunca tivessem existido.
Tal pensamento era horrível, e ela se afastou do gelo. No entanto, não conseguia escapar das visões, não ali, não naquele lugar. Observou Cal a resgatando, conduzindo-os de carro até o parque temático onde Brick os aguardava, atraídos para lá por uma espécie de instinto. Fursville. O parque, caindo aos pedaços, fedia a coisas úmidas e mortas. Mas se mostrara um abrigo. Um lar.
Até que ela chegara. Rilke. Aparecera uma manhã com Schiller, seu irmão. O menino estava congelado, trancafiado no gelo. Daisy se sentira intimidada por ela desde o primeiro momento. Percebera de cara que Rilke era perigosa. Mas não se dera conta do quanto até Rilke matar a namorada de Brick — que estava trancada no porão — e um furioso. Havia atirado neles a sangue-frio. Dizia que a Fúria estava acontecendo porque eles — ela, Schiller, Daisy, todos eles — não eram mais humanos. Estavam se transformando em outra coisa, dissera ela, em algo incrível. Parecia louca.
Mas ela tinha razão.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_TEMPESTADE.jpg
Schiller fora o primeiro a mudar. Daisy vira com os próprios olhos. Quando acordara de seu sono, ele já não era um menino, mas uma criatura feita de fogo, cujos olhos ardiam; era uma criatura alada. Um anjo. Mas não um anjo como os das histórias contadas por sua mãe; não era um querubim com harpa e auréola. Era, sim, um ser ancestral, poderosíssimo — tão poderoso que não podia viver ali, no tempo e no espaço deles, sem um hospedeiro. Era por isso que precisava do corpo de Schiller.
Cada um deles era habitado por um ancestral. Era isso que os tornava especiais, era isso que fazia o resto do mundo detestá-los tanto. Daisy sentia o dela: estava prestes a despertar, exatamente como o de Schiller. Cal, Brick, Adam, Rilke, todos tinham um anjo dentro de si. Cedo ou tarde, seus anjos nasceriam e eles também seriam seres de fogo, capazes de abrir uma fenda na realidade com um simples pensamento.
Daisy estremeceu, embora não sentisse frio. Onde quer que estivesse, não lhe passava mais pela cabeça que tinha um corpo. Ela levara um tiro de um policial. Ela e os outros tinham saído à procura de comida, mas foram atacados por furiosos — por centenas deles. Era culpa de Rilke, que havia chamado a polícia. Rilke queria que eles fossem atacados; ela dissera que esse era o único jeito de enxergarem a verdade sobre sua transformação.
Que cabia a eles banir a humanidade da face da terra.
E ela lhes mostrara como fazer isso. Daisy não precisava olhar no gelo; cada detalhe daquilo estava gravado em sua mente. Schiller, mergulhado em fogo, flutuando acima do chão, os olhos como dois bolsões de luz. Com um estalar de dedos, ele transformara a multidão de furiosos — centenas deles — em cinzas e depois espalhara ao vento seus restos. E proferira — não ele, mas seu anjo — uma palavra que não pertencia àquele lugar, que cindira o mundo, desfizera a realidade. Sua voz limpara a terra até onde a vista alcançava. Sacudira o tempo e o espaço, deixando o universo trêmulo.
Rilke tomara isso como prova de que estava certa. Mas ela não estava. Daisy sabia. Os anjos eram fortes, mas não maus. Não eram nada. Ela não sentia nenhuma emoção vinda da coisa escondida em sua alma. Eles só faziam o que lhes era mandado fazer. Estavam mais para máquinas que eram manuseadas para consertar as coisas.
Porque havia outra coisa errada, tão errada que ela não a suportou nem mesmo em pensamento. Via agora, com o canto do olho, um iceberg que estalava e rugia em sua direção, com algo dentro que a fez ter vontade de gritar.
O homem na tempestade.
Ele havia chegado no mesmo momento que os anjos, só que nascera de um cadáver. Estava suspenso em um furacão e sugava o mundo pelo buraco negro que era sua boca, devorando tudo. Daisy não sabia exatamente onde ele estava, mas sabia que milhares já haviam morrido, tragados pelo vórtice colérico; vidas inteiras transformadas em nada. Ele era o motivo de estarem ali. Daisy sabia. Precisavam detê-lo antes que ele engolisse todos.
É isso?, perguntou à criatura. Por favor, me diga.
Se a criatura respondeu, Daisy não entendeu. Sentiu-se muito só e buscou conforto em outra visão, que acontecia naquele instante — três garotos dormindo dentro de um carro amassado. Aproximou-se mais do gelo e viu Cal, Brick e Adam, todos tendo o mesmo sonho. Ela também estava ali, ao menos seu corpo, deitado no porta-malas, em um casulo de gelo. Como seria, ela se perguntava, quando o anjo irrompesse de seu peito? Doeria? Ela saberia o que fazer?
Tudo o que sabia era que logo o anjo iria acordar e ela também seria uma coisa de fogo e de fúria.
O homem na tempestade estaria esperando por ela.
Roly
Segunda-feira, Hemsby, 0h22
Roly Highland, bêbado, cambaleava pela praia. A noite de rum barato fazia o mundo rodopiar. Em determinado momento, deu um passo em falso e se estatelou de cara no chão. Achou aquilo insanamente engraçado, morrendo de rir na areia fria e macia. Depois do que lhe pareceu meses, ele se levantou e percebeu que deixara a garrafa cair em algum lugar. A escuridão era quase absoluta; havia apenas uma tênue insinuação de luar atravessando as nuvens. O mar estava bem à frente dele, escuro e plano como um piso de ardósia. Ouviu-o sussurrando, chamando-o. Não gostava do mar, não desde que quase se afogara, aos onze anos.
— Mas hoje ele não pode me fazer mal! — falou enrolado enquanto se esforçava para se manter em pé. — Porque eu estou bêbado!
Desistiu de procurar o rum — só restavam uns golinhos de nada mesmo! — e andou para a esquerda. Seus melhores amigos, Lee e Connor, estavam ali em algum lugar, e também Hayley, a nova namorada de Connor. Howie, o irmão de treze anos de Roly, também estava por perto, embora tivesse saído mais ou menos uma hora atrás, dizendo que não estava se sentindo muito bem. Era o rum; o rum tinha esse efeito. A cabeça de Roly não tinha parado de latejar a noite toda.
— Ei! — gritou para a escuridão.
Alguma coisa disparou para o céu ali perto — o farfalhar de asas soando como palmas. O silêncio que aquilo deixou, rompido apenas pelo perpétuo murmúrio das ondas, dava calafrios.
— Uôôô! — disse Roly, quase caindo de cara na areia outra vez, agitando-se feito um siri com as mãos no ar até se reequilibrar.
Os outros provavelmente estavam se escondendo, planejando pular em cima dele ou algo do tipo. Mas ele não lhes daria a satisfação de verem-no encolhido de medo.
— Porque sou invencível! — gritou, e suas palavras foram engolidas pelo ruído do mar.
Deu outra risadinha, pensando em como ficariam impressionados ao constatarem que não o haviam assustado. Connor era dois anos mais velho, já tinha dezessete, e havia momentos em que Roly se sentia um completo bebê perto dele. Era por isso que tinha bebido tanto naquela noite — havia tomado exatamente a mesma quantidade de rum que o amigo e ainda estava de pé. Connor ia ficar impressionado, e Hayley também. Ela era bonitinha e, quem sabe, se a impressionasse o suficiente aquela noite, ela largaria Connor e sairia com ele.
Mas, para isso, ele precisava encontrá-los. Onde é que tinham se enfiado?
— Ei! — gritou, lançando alguns palavrões contra a escuridão da noite.
A praia permanecera deserta a noite inteira, algo esquisito, considerando que era um domingo em pleno verão. Provavelmente tinha a ver com o que acontecera mais cedo no litoral. Parecia ter sido uma explosão no lado norte, perto do velho parque temático de Fursville. Roly não tinha visto nada, mas sentira os tremores por volta das sete.
— Minas — comentara Connor despreocupadamente. Estavam sentados no apartamento do garoto mais velho, e a explosão fora tão forte que as janelas chegaram a chacoalhar.
— Hã? — dissera Lee.
— Minas marítimas antigas, da época da guerra, ou algo assim. Encontram coisas desse tipo o tempo todo. Acho que uma delas explodiu.
Todos concordaram com um gesto de cabeça, e o assunto fora encerrado. Connor ia para o exército em breve. Ele entendia dessas coisas de explosivos.
Deus do céu, isso tudo parecia ter acontecido anos atrás. Roly cambaleou para a frente, engolindo uma lufada de ar salgado e tentando se lembrar do que mais havia acontecido naquela noite. Uma parte dos acontecimentos já estava desbotada, como se fosse sangue do diabo, aquela tinta que desaparece.
— Vão se ferrar! — gritou ele, já de saco cheio daquela brincadeira sem graça. — Vou para casa!
Parou e começou a dar voltas para ver se descobria o caminho para a cidade. O mar estava à direita, vasto, negro e ameaçador, por isso dirigiu as teimosas pernas para a esquerda, para as dunas. Uma brisa suave parecia chutar os grãos de areia, levando-os bem para sua boca, onde se alojavam entre seus dentes. Roly murmurava palavrões enquanto enfrentava o chão que se desfazia sob seus pés, agarrando filetes grossos de vegetação para conseguir sair da praia. Depois de passar pelo topo da duna, o trajeto ficou mais fácil, e o garoto percorreu o caminho do outro lado meio correndo, meio tropeçando, enquanto se perguntava se havia algum jeito de beber mais um pouco.
A primeira fileira dos feiosos bangalôs de madeira de Hemsby surgiu assim que Roly ouviu vozes à frente. Eram vozes mesmo? Pareciam mais rosnados e gemidos. Cachorros, talvez. Apoiou-se em um dos joelhos, escorando-se no chão para não cair. Era imaginação dele ou de repente o ar tinha ficado mais frio? Estremeceu, virando a cabeça para o lado e esperando para ver se os ruídos voltavam.
Voltaram: um guincho distante e fungado, que combinava com o abatedouro ali da estrada. Havia também passos, secos, rápidos, vindo na direção dele. Provavelmente, eram Connor e Lee mijando. Deviam estar tentando assustá-lo — e estava funcionando. A pulsação de Roly se acelerou, o doce torpor do rum começando a se dissipar.
Seja homem, Roly!, disse a si mesmo. Não podia mostrar que estava assustado, não na frente dos outros. Nunca o deixariam esquecer daquilo. Levantou-se sem firmeza, indo devagar para o asfalto, que parecia brotar organicamente da praia. Contornou um bangalô conforme os ruídos ficavam mais altos, perguntando-se quanto tempo faltaria até que as luzes das casas fossem acesas e os moradores começassem a berrar com eles, como acontecia quase todo fim de semana.
A estrada fazia uma curva à direita, ficando mais larga no calçadão à frente. Havia postes que formavam poças de luz amarelo-vômito que pareciam deixar ainda mais escuras as partes da rua sem iluminação. Outro grito soou perto dos dois fliperamas fechados, uns cinquenta metros mais para frente, e os passos secos se aproximando. Então alguém berrou, um som tão carregado de sofrimento e terror que Roly só reconheceu quem era depois que a figura derrapou pela estrada, escorregando no asfalto cheio de areia e se estatelando contra um amontoado de entulho.
— Howie? — perguntou Roly, olhando o irmão menor, que tentava recuperar o equilíbrio.
Que droga ele estava tentando fazer? Howie ergueu a cabeça. Ainda estava um pouco longe, mas Roly notou algo de errado com seu rosto. A boca estava escancarada, larga demais, e os olhos, esbugalhados, tinham um brilho insano. Roly deu um passo à frente, com a adrenalina diluindo o último resquício de álcool dele, deixando-o mais sóbrio do que nunca.
— Howie? O que foi?
Havia mais passos, percebeu Roly, vindos da mesma direção. O irmão conseguiu ficar em pé e começou a correr na direção dele, com os braços se agitando no ar, bem na hora em que Connor disparou dentre os fliperamas. O garoto mais velho não parou sequer para recuperar o fôlego, virando na curva e também vindo na direção de Roly. Hayley veio atrás, depois Lee, e, em seguida, um sujeito que Roly nunca tinha visto na vida — todos partindo na sua direção a toda velocidade. Algo bem ruim devia ter acontecido, porque todos pareciam estar cheios de raiva.
Raiva não, pensou Roly. Fúria.
O irmão já estava na metade do caminho, sua boca espumando. Connor se aproximava rapidamente de Howie, soltando os mesmos guinchos guturais. A vontade de se virar e fugir foi tão forte que Roly quase fez isso, mas não podia largar o irmão.
— Howie, o que foi? — gritou.
Howie não respondeu, só continuou correndo, pisoteando a rua com seu tênis Nike herdado de Roly no Natal passado. Todos corriam, uma maré de gente surgindo pelo calçadão, com o olhar cheio da mais absoluta fúria, e de nada mais.
— Howie? — chamou Roly outra vez, a voz falhando. — Howie!
Howie pareceu vê-lo pela primeira vez, e sua expressão se inundou de alívio.
— Roly! — gritou ele. — Socorro!
Assim que as palavras saíram da boca de Howie, Connor o alcançou, puxando-o pela camiseta. Caíram um em cima do outro, braços e pernas se emaranhando.
Roly correu até eles, sem acreditar que estava vendo Connor esmurrar o rosto de Howie. Mesmo a vinte e cinco metros, ouviu o baque surdo. Howie gritou, as mãos estapeando o agressor, os olhos vidrados em Roly, berrando socorro, socorro, socorro em sua mudez.
— Ei! — gritou Roly, ainda correndo, agora a uns vinte metros. — Sai de cima de...
Seu mundo virou do avesso; uma explosão branda e sombria surgiu dentro de sua cabeça, obliterando qualquer pensamento.
Menos um.
Matar, matar, matar, matar, matar.
O garoto no chão não era seu irmão. Não era sequer humano. A repulsa fervilhava nas entranhas de Roly, intensificando-se em uma fúria incandescente que o movia pela rua. O tempo ficou mais lento, tudo perfeitamente tranquilo em comparação ao fogo que irradiava do centro de sua mente. Só uma coisa era importante. Havia apenas uma coisa no mundo inteiro que precisava fazer...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... porque aquela coisa era poderosa, era seu inimigo, era algo que não deveria existir, que não podia existir...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... algo dentro daquele saco de carne tinha de ser aniquilado.
Matar, matar, matar, matar, matar.
Queria que aquilo sumisse, morresse, morresse; sentia que não conseguiria respirar até que matasse aquilo. Era como se se afogasse, os pulmões queimando, e o único jeito de poder voltar à superfície era
Matar, matar, matar, matar, matar.
Socou, arranhou, apertou, estrangulou, bateu, e sonhou com o fôlego que recuperaria quando aquilo morresse, e então surrou, surrou e surrou ainda mais.
Matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar.
Howie já não sentia mais os golpes. Já não sentia mais nada. Era como se estivesse afundando em uma cova escura, anestesiante, fria e tranquila. Seus pensamentos estavam devastados, estilhaçados, mas, naqueles estilhaços, via o que tinha acontecido: a dor de cabeça que sentira por dias de repente sumiu, e então se voltaram contra ele do nada — Lee, Hayley e aquele idiota do Connor —, indo para cima dele na frente da loja de ferramentas, uivando feito bichos. Não tinha muita certeza de como escapara da primeira investida; só havia abaixado a cabeça e corrido. Ele era bom de corrida, sempre fora, mas Connor tinha sido mais rápido.
E Roly, seu irmão! Como ele poderia ter feito isso? Howie sentiu sua cabeça deslocar-se para o lado e, por um instante, saiu da cova e voltou para a rua. Não tinha certeza se seus olhos estavam abertos ou se ele apenas imaginava aquilo, mas agora via Roly ajoelhado a seu lado com as falanges dos dedos vermelhas. É meu sangue nas mãos dele, compreendeu Howie. Ele está tirando o meu sangue.
Tentou chamar pelo irmão, mas voltou para os sete palmos debaixo da terra, ou ao menos era o que parecia, com vermes rígidos como dedos sulcando sua pele. Não quero morrer, Roly, pensou na esperança de que as palavras chegassem ao irmão, embora não houvessem saído de sua boca. Só tinha treze anos, ainda não tinha beijado nenhuma menina nem testado o quadriciclo do pai de Lee, como tinham lhe prometido. Ainda não chegou a minha hora! Parem, parem!
Ao menos sentia-se anestesiado ali. Estava escuro demais, como se alguém houvesse despejado pás de terra em cima dele. A ideia era assustadora, e o choque de adrenalina que se seguiu levou-o de volta à rua por um momento — a rua com seus tons de amarelo, cinza e vermelho. Punhos e pés subiam e desciam como pistões, como se Howie estivesse preso debaixo de um motor, e em algum lugar da mente estilhaçada mexesse em alavancas tentando se afastar dali.
Ele ergueu uma das mãos, perguntando-se por que sua pele cintilava como se vestisse uma roupa de gelo. Roly o lançou para o lado com um tapa, preparando-se para desferir o próximo golpe.
Que nunca veio. O braço do irmão se desintegrou, tornando-se uma nuvem de cinzas que pairou no ar por um instante antes de se espiralar lentamente pela rua. Roly nem se deu conta do que ocorrera e atacou com o outro punho. Os dedos da mão esquerda se separaram do corpo, deixando rastros de vermelho e branco no ar, como bandeirolas. Em seguida, o restante de seu corpo se desfez, dissolvendo-se como uma escultura de sal arremessada em um furacão.
Howie não podia mover a cabeça, mas, com o canto do olho, viu Connor fundir-se com a noite. A brisa suave fez as cinzas do menino dançarem em uma ciranda. Mais dois estalos baixinhos, e o ar tornou-se uma cintilante bruma de pó.
— Ele está vivo? — As palavras pareciam vir de uma distância de um milhão de quilômetros.
Alguém se agachou ao lado dele, uma menina, sacudindo o pó de ossos da saia. Baixou a mão até sua cabeça e a manteve ali por alguns segundos. Howie tentou dar uma cabeçada nela, mas ela afastou os dedos e os envolveu na outra mão.
— Está congelando — disse ela. — Ele é um de nós.
Obrigado, Howie quis dizer. As palavras foram esquecidas, porém, quando um menino apareceu ao lado dela. No lugar onde deveriam estar os olhos dele, apareceram bolsões de fogo, e de suas costas estenderam-se duas asas imensas e perfeitas, genuínas e brilhantes como o próprio sol. Um anjo, pensou Howie, e se perguntou se tinha morrido.
Então o menino piscou, e o olhar de fogo se apagou.
— Não, você não está morto — disse o menino-anjo. — Está tudo bem. Vamos cuidar de você.
— Levante-o — disse a menina.
Howie sentiu mãos embaixo dele, erguendo-o, e não houve dor.
— Meu nome é Rilke. Este é o Schiller. Agora você vai para um lugar longe daqui, mas não vai demorar tanto. Quando acordar de novo, bem... — Ela sorriu, mas Howie não compreendeu bem a mensagem daquele sorriso. — Você também vai ter fogo dentro de você, como nós temos. Não se assuste, você foi escolhido.
Não estava assustado, ainda que sua visão estivesse escurecendo e parecesse haver algodão em suas orelhas. Desta vez, não tinha a impressão de estar afundando em uma cova; parecia mais estar deitado na cama, adormecendo aos poucos, aquecido, confortável, em segurança.
A menina chamada Rilke colocou a mão no rosto do menino-anjo, oferecendo-lhe o mesmo sorriso.
— Está ficando bom nisso, irmãozinho — disse ela.
— Obrigado — respondeu ele.
— Vamos — prosseguiu ela. — Queime tudo; não deixe nada além de areia.
E essa foi a última coisa que Howie ouviu antes de mergulhar no sono, já sonhando com o fogo que pertenceria a ele quando acordasse.
O Outro: I
Mas, quando acabarem seu testemunho, a Besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará.
Apocalipse 11, 7
Graham
Segunda-feira, Londres, 5h45
O som do telefone invadiu seu sonho, e por um instante ele se viu em meio a um oceano de badaladas. Em seguida, despertou. Acendeu a luminária e tateou em busca do celular, ao lado da cama. O aparelho já estava a meio caminho da orelha quando percebeu que não era ele a fazer aquele barulho, e essa percepção dissipou o último vestígio de sono.
Era o outro celular. O celular só para coisas ruins.
Praguejando, rolou da cama e ignorou os protestos murmurados pelo namorado. O toque, um ruído estridente e incansável, atravessava sua cabeça. Coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, cantarolava sua mente enquanto ele revirava a calça pendurada na porta do armário. Tirou dela o celular; as vibrações o faziam parecer algo vivo que tentava rastejar rumo à liberdade. Quase o deixou cair — seria melhor que se quebrasse antes de descobrir o motivo da ligação. Apesar disso, abriu-o e levou-o ao ouvido.
— Hayling falando — disse, embora aquela apresentação fosse inútil.
A pessoa do outro lado da linha sabia que ele era Graham Hayling, comandante da Divisão de Contraterrorismo do exército; do contrário, não teria discado aquele número. A linha era para emergências — não as velhas emergências que envolviam serial killers, incêndios, colisões de trem ou assaltos a banco, mas as de alerta máximo, cruciais, apocalípticas. Coisas ruins.
— Senhor... — A voz pertencia a Erika Pierce, sua subcomandante, mas soava meio oca, artificial.
Não fale, rezou ele. Por favor, não fale aquilo. Mas ela falou:
— Aconteceu algo.
— Um ataque? — Ele usou o ombro para manter o telefone grudado na orelha enquanto vestia a calça com pressa.
Erika suspirou; ele a imaginou mastigando o lábio inferior. Na pausa que se seguiu, ouviu o eco de sirenes na linha.
— Acho que sim — enfim disse ela. — Alguma coisa...
Terrível, pensou ele, já que ela não concluíra. Porém, pior do que o 7 de julho não podia ser. Ou podia? Aquela tinha sido a última vez que havia precisado pegar aquele telefone, só que na ocasião estava em Maiorca e fora levado para Londres em um VC10. Olhou para a cama, onde David, apoiado em um dos ombros, piscava, sonolento.
— Onde? — Graham perguntou a Erika.
— Londres — respondeu ela. — Em algum lugar da estrada M1. Ainda não sabemos com certeza.
Não sabemos com certeza significava que não podiam se aproximar, e isso deixou Graham tão assustado que desabou na beirada do colchão. Não sabemos com certeza significava bombas sujas, ou algo pior: significava contaminação.
— Mandamos duas equipes — continuou ela. — Nenhuma delas voltou. Tem alguma coisa... Alguma coisa errada.
— Já estou chegando, Erika — disse ele. — Não fique assustada.
Essa era sem dúvida a coisa mais idiota que poderia ter dito a Erika Pierce, que tinha sido a primeira da turma na academia em praticamente tudo; que tinha descoberto sozinha um plano para levar explosivos líquidos a um cargueiro da Marinha; e que uma vez dera um soco tão forte em um suspeito que quebrara o maxilar dele. Porém, a voz ao telefone não parecia a da sua parceira, e sim a de uma criança perdida e assustada.
— Não — respondeu ela. — Não venha. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe.
— O quê? Erika, do que você está falando? Olha, estou saindo de casa agora, espere aí.
— Não estarei aqui. — O sussurro parecia o de um fantasma. — Desculpe, Graham.
Ele a chamou outra vez antes de perceber que ela havia desligado. Que droga está acontecendo? Olhou para o telefone como se, de algum modo, o aparelho pudesse lhe dar maiores explicações; depois, guardou-o no bolso e apertou o cinto.
— O que foi? — perguntou David, esfregando os olhos.
— Nada — mentiu ele, vestindo a camisa do dia anterior e colocando um paletó por cima. Não se deu ao trabalho de procurar por meias; só colocou os sapatos: o couro frio e desagradável contra a pele. — Preciso ir. Telefono quando souber de algo.
Tinha dado três passos para a porta do quarto, quando algo o deteve, um nó no estômago. Parecia que uma corda se enroscara em suas entranhas, pressionando-as. Medo, pensou. Sim, mas também havia algo diferente, algo mais. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe, dissera Erika. Não venha. Graham voltou-se para David e desejou pegá-lo pela mão e sair correndo, sem parar para olhar para trás. Em vez disso, saiu do quarto e desceu o degrau que levava à porta da frente do apartamento.
Do lado de fora, a aurora tinha fracassado. Pelo lábio do mundo, por onde a luz do sol devia estar passando, havia apenas uma neblina opaca. Ela pairava no ar, putrefata, da cor da pele de um morto. A sensação no estômago de Graham se acentuou, a pulsação se acelerando, e aquele mesmo cantarolar nervoso — coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins — se debateu dentro de sua cabeça como um pássaro cativo. Havia gente demais ali, percebeu ele. Àquela hora, deveria haver um monte de motoristas fazendo entregas, feirantes, e algumas poucas pessoas embriagadas saindo de boates. Porém, a rua estava abarrotada, e buzinas tocavam em um engarrafamento que ia até a loja da esquina, onde uma van branca ocupava as duas faixas, com o motor fumegando. Ficou impressionado pelo fato de o barulho não tê-lo despertado antes. Uma multidão seguia pelo asfalto, acotovelando-se em meio ao tráfego imóvel, dirigindo-se à estação de metrô Gospel Oak. Todos seguiam rumo ao leste, e, quando Graham virou a cabeça para ver de onde vinham, entendeu por quê.
Acima dos telhados e das árvores de Hampsted Heath, o céu tinha se fendido.
A fumaça espiralava para cima, um vórtice tão espesso e escuro que parecia de granito. Assemelhava-se a um tornado, exceto pelo fato de ter mais de três quilômetros de largura, talvez mais. Girava lenta, quase graciosamente, formando um aglomerado de nuvens cor de chumbo. Explosões detonavam dentro desse espaço, embora sem nenhuma luminosidade — eram lampejos negros que deixavam vestígios na visão de Graham, manchas pretas, quando piscava. Toda vez que havia um lampejo, o ar se fendia em dois, revelando o que estava dentro do vórtice. Ou, melhor: o que não estava dentro dele.
Nada, pensou Graham, com a sensação de que estava no limiar de uma vasta e horrível loucura. Não há nada ali. Aquilo não era apenas um espaço oco; estava totalmente, totalmente vazio. Distinguia dali porções de céu que não eram nem escuras nem negras — simplesmente não eram nada. Parecia que um espelho tinha se quebrado, e os estilhaços espalhados revelavam a verdade por trás dele.
Outro jato destituído de luz cortou o vórtice, tornando distinta uma silhueta em meio à fumaça. Havia uma pessoa ali? Era grande demais, alto demais. Mas estava ali, uma figura no centro do redemoinho, um homem na tempestade. Graham, apesar de estar a quilômetros, sentiu que o homem olhava direto para ele com seu olhar de fogo às avessas. Olhar que o queimava, e a escuridão se expandindo em sua visão até cegá-lo. Não importa, ele se ouviu pensando. Melhor não ver, melhor só...
Algo esbarrou nele, fazendo-o cambalear de volta para a porta do prédio. Uma mulher balbuciou um pedido de desculpas, arrastando uma criança aos berros pela rua atrás de si. Graham recuperou o fôlego, livrando-se um pouco da escuridão em seus olhos. Quase olhou para cima de novo, mas deteve-se por um momento, erguendo a mão para se proteger dos céus. O que quer que estivesse no alto, era uma coisa ruim, uma coisa muito ruim. E o trabalho dele era garantir que coisas ruins não acontecessem. Afastou-se, pegou o celular e discou o primeiro número da agenda. Bastou um toque para que alguém atendesse, e Graham nem deixou que esse alguém falasse:
— Ponha o general Stevens na linha — disse ele. — Estamos sob ataque.
Amanhecer
E onde um incêndio furioso encontra outro,
Ambos devoram o que nutre sua fúria.
William Shakespeare, A megera domada
Cal
Hemmingway, 6h01
Pedaços do mundo partido ainda caíam quando Cal abriu os olhos.
Os fragmentos deslizavam pelo para-brisa do Freelander, formando uma camada translúcida que parecia neve, mas que ele sabia ser de pedra, metal e carne pulverizada. Sentou-se, as costas dormentes após uma noite no banco do passageiro, os pés parecendo repletos de agulhas. O carro inteiro vestia um paletó de sujeira, exceto a janela lateral do motorista. Do outro lado dela, a terra ficara da cor de osso, coberta com aquela mesma poeira fina. Era como se tudo sobre a terra tivesse sido apagado.
Tudo, menos nós, pensou ele.
Devia ser de manhã, porque uma luz amarelo-pergaminho infiltrava-se no carro. E havia pássaros também, percebeu Cal, que cantavam tão alto e com tanto vigor que ele se perguntou se não tinha sido isso o que o despertara. Tinham memória curta, os pássaros; já haviam esquecido o que acontecera. Não era o caso dele. Ele tinha passado a noite sonhando com aquilo repetidamente — a polícia, a Fúria, e Schiller, o menino no fogo.
O anjo.
Cal balançou a cabeça, girando ligeiramente o pescoço dolorido e vendo Adam deitado no banco de trás. O garotinho estava morrendo de frio, tremendo enquanto dormia. Não era de surpreender. Daisy estava no porta-malas do Freelander, afogada em casacos, cobertores, basicamente em tudo o que haviam conseguido achar, mas continuava fria como gelo. Literalmente fria como gelo. A baixa temperatura que emanava dela havia embaçado a janela de trás e transformado em cristal os bancos de couro. A coitadinha levara um tiro, uma bala no ombro de um dos poucos policiais que não tinham ficado furiosos. E agora...
Estava se transformando. Cal sabia. Schiller tinha passado pela mesma coisa, preso no gelo antes de ser apanhado pelo fogo. Daisy estava em uma espécie de casulo, e, quando acordasse, ficaria exatamente como Schiller. Cedo ou tarde, todos ficariam.
Não, disse a si mesmo. Como ele, não; não seremos todos assassinos.
As lembranças fizeram-no transpirar apesar do frio que sentia. Abriu a porta, libertando uma avalanche de poeira que invadiu seus olhos, nariz e boca. Saiu do carro com dificuldade, cuspindo, e precisou ignorar os protestos dos músculos enrijecidos das costas. Ao menos seu dedo estava melhor — rígido, mas sem doer. O nariz, também. Não achava que tivesse quebrado nada.
O inverno tinha chegado de um dia para o outro, e o mundo estava coberto pelo mesmo lençol de neve cinza. Nuvens negras feriam o céu frio e azul — não nuvens de chuva, de temporal, apenas terra, carros, árvores e pessoas reduzidas a átomos, mais leves do que o ar. Nacos desciam dançando ao chão, sendo chutados depois pela brisa que vinha sussurrando do mar.
— Precisamos sair daqui. — A voz não parecia pertencer àquele lugar, e provocou um sobressalto em Cal.
Ele se virou, olhando por cima do capô do Freelander e vendo Brick. O cabelo ruivo do garoto mais velho era a coisa mais chamativa à vista, reluzindo como cobre. Um rastro de pegadas espiralava em torno dele, serpenteando em volta dos banheiros e indo até as dunas. Um dia, aquilo fora um estacionamento, lembrou-se Cal, o lugar onde ele e Daisy tinham conhecido Brick. Há quanto tempo tinha sido aquilo? Três dias? Parecia uma eternidade. O universo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo e sacudido como um globo de neve.
— Agora! — disse Brick, com seu tom direto e enfurecido como sempre. — Já estamos aqui há tempo demais.
— Bom dia pra você também, cara — respondeu Cal, passando os dedos pelo capô e formando sulcos no pó.
Bem de perto, distinguiu as diferentes cores — marrom, prata e vermelho, muito vermelho. Sangue, músculo, cérebro, tudo reduzido a pó pela força que tinha flamejado do novo corpo de Schiller. Não que fosse algo possível, mas ali estava, em volta dele, a vida transformada em cinzas num piscar de olhos incandescentes.
Só que não tinha sido Schiller, tinha? Era ele que tinha se transformado, mas fora a irmã que o forçara a matar aquela gente toda.
— Rilke — Cal praticamente cuspiu ao dizer, lembrando-se de algumas das últimas palavras que a ouvira dizer: Mas ele explicou para você por que estamos aqui, não explicou? Para fazer a guerra contra a humanidade. Os olhos de Schiller ardiam, sim, mas a insanidade no olhar de Rilke assustara Cal muito mais.
— O que tem ela? — perguntou Brick. — Rilke já se foi há muito tempo, não foi?
Cal fez que sim com a cabeça. Não sabia explicar como sabia disso, mas Rilke estava a quilômetros de Hemmingway. Ele quase era capaz de vê-la andando com Schiller, Marcus e Jade, deixando atrás de si um rastro de morte. Ou talvez fosse só sua imaginação. Queria que Daisy acordasse. Ela com certeza saberia para onde Rilke tinha ido. Daisy sabia das coisas, mesmo quando ninguém lhe dizia nada. Porém, Daisy estava congelada, e, quando acordasse, seria um ser totalmente diferente.
— Precisamos conversar — disse Cal, arrastando os tênis no chão. — Sobre o que aconteceu. Precisamos pensar num plano.
Brick mais fungou que riu, uma risada sem o menor humor, passando a mão pelo cabelo e ornamentando a si mesmo com um pálido halo de poeira. Não tinham conversado muito na noite anterior; estavam exaustos demais. Haviam achado o carro, entrado e caído no sono.
— Não precisamos conversar — disse ele. — Só precisamos sair daqui. Já estamos aqui há tempo demais; só Deus sabe como dormimos no meio dessa confusão.
Era algo esquisito mesmo. Tinham dormido quase doze horas direto. Era um dos efeitos de estar em choque, imaginou Cal. Você era nocauteado para o seu corpo poder se recuperar.
— Mas Rilke e Schiller estão matando gente por aí — disse Cal. — Precisamos contar isso a alguém, à polícia.
— Dã... Eles mataram uns cem policiais na noite passada — disse Brick. — Acho que a polícia já está sabendo. Não há nada que a gente possa fazer. Você viu o que ele fez...
Brick pareceu engasgar com as palavras, e Cal soube o que ele via: pessoas amontoadas por braços invisíveis, esmagadas umas contra as outras até que não sobrasse nada além de uma bola giratória de carne comprimida; um helicóptero caindo de repente, com os pilotos dentro; uma explosão que obliterou tudo de um horizonte a outro. E Schiller suspenso no ar, perdido dentro de um inferno, comandando tudo.
— Como é que a gente pode deter isso? — perguntou Brick, ao recuperar-se. — Nem consigo acreditar que Rilke deixou a gente ir embora.
Porque, o que quer que Schiller fosse, eles também eram. Você vai ver, Cal, dissera Rilke. Pode levar um dia, pode levar uma semana, mas você vai ver. E ele ia mesmo. Sabia que um dia também ficaria gelado, e então algo terrível irromperia de sua alma. Estremeceu, e percebeu que Brick ainda falava:
— A gente aparece agora, se mete no caminho dela, e é claro que ela vai colocar Schiller contra nós. Uma palavra dela, e nós... — Ele pegou um punhado de pó do capô do carro e deixou escorrer por entre os dedos. Depois, com nojo, esfregou a palma da mão no jeans imundo, lançando um olhar zangado para Cal, como se aquilo tudo fosse culpa dele. — Não passei por tudo isso só para ser morto pelo cãozinho de estimação dela. Precisamos sair daqui, e, para onde quer que ela tenha ido, seguiremos na direção oposta.
— Mas e a Daisy? — perguntou Cal. — Ela precisa de ajuda.
Brick olhou para a traseira do Freelander.
— Ela vai ficar igual ao Schiller, não vai? — falou ele. Cal não respondeu. Mas ambos sabiam a resposta. — Tem uma dessas coisas dentro dela.
— Um anjo.
Brick deu uma fungada.
— Isso foi o que Rilke disse que eles eram. Mas ela não sabe de nada. Está falando bobagem.
Porém, Daisy tinha dito a mesma coisa, pensou Cal, e ela sabia a verdade. E sabia de outras coisas também.
— Mas e se a Daisy estiver certa? — disse Cal. — E se houver algum motivo para estarmos aqui... para combater o que quer que ela tenha visto? — O homem na tempestade, era como ela o havia chamado.
— Claro, Cal. O mundo está em perigo e somos eu, você e um bando de moleques que estamos destinados a salvá-lo! Estou exausto. Só quero que isso tudo acabe.
Cal fez que sim com a cabeça, erguendo os olhos para as árvores. A maior parte das folhas tinha sido arrancada pelas explosões, e os pássaros, empoleirados nos galhos feito pinhas, não tinham onde se esconder. Ainda cantavam, contudo. Havia em algum lugar uma mensagem naquilo, pensou ele. Inclinou-se contra o Freelander, o metal congelado. Era o carro da mãe; ele o tinha roubado quando tudo começara, para sair da cidade. Da última vez que vira a mãe, ela estava no retrovisor, gritando furiosamente, tentando matá-lo. Ela o teria matado se houvesse tido a chance; teria feito Cal em pedacinhos e depois entrado em casa e guardado as compras como se nada tivesse acontecido. A Fúria.
— Você acha que todo mundo ainda quer matar a gente? — perguntou a Brick, que deu de ombros.
— Acho que agora as pessoas têm preocupações maiores, com Rilke à solta por aí. Talvez nem reparem mais em nós. — Fez uma pausa, cuspiu, quase sorriu. — Caramba, se ela fizer o que quer, talvez nem sobre ninguém para reparar na gente. — Era um sorriso sem humor, porém, e, quando ele passou a mão no rosto, lágrimas deixaram rastros na poeira.
Cal se virou, fingindo não reparar.
— Certo — disse ele. — Vamos ir para longe daqui, de Rilke. No caminho a gente descobre o que fazer.
— Será que o carro ainda funciona? — perguntou Brick, dando uma fungada.
Cal pulou no banco do motorista e procurou as chaves no bolso. O Freelander tinha levado uma surra considerável no caminho de Londres até ali, mas o massacre de Schiller parecia não tê-lo alcançado. Girou a ignição, abrindo um sorriso enorme quando o motor tossiu, gemeu e, enfim, pegou. Ouviu um farfalhar vindo de trás e, virando-se, viu Adam, erguendo-se no banco e correndo o olhar ao redor, os olhos arregalados e úmidos.
— Está tudo bem, cara — disse Cal, deixando o carro em ponto morto para poder tirar o pé do pedal e se virar. — Você está em segurança. Sou eu, Cal, lembra?
Adam concordou com um gesto de cabeça, relaxando um pouco, mas ainda sem piscar.
— Você teve pesadelos? — O garoto fez que sim com a cabeça outra vez. Não tinha falado nada desde que aparecera em Fursville, e nada indicava que começaria a fazê-lo tão cedo. — Eu também — continuou Cal. — Mas são só sonhos, eles não podem nos fazer mal. Está em segurança aqui, comigo e com Brick. Com Daisy também, ela está dormindo ali.
Adam olhou para o porta-malas, estendendo a mão para tocar o rosto de Daisy. Rapidamente recolheu a mão e levou os dedos aos lábios.
— Está tudo bem com ela — falou Cal. — Ela... Você conhece a história da Bela Adormecida, não conhece? Foi isso o que aconteceu com a Daisy. Ela vai acordar logo, prometo. Pode me fazer o favor de colocar o cinto de segurança, Adam?
Ele obedeceu com a mansidão de um cão surrado. Brick abriu a porta do carona, deslizando o corpo esguio para dentro e batendo a porta. Foram necessárias algumas tentativas para conseguir fechá-la; quando conseguiu, o carro estava lotado de pó, com incontáveis mortos cremados nadando em suas orelhas, bocas e narizes. Cal baixou o vidro da janela, pôs o carro em movimento e o guiou pelo estacionamento, deixando atrás de si um perfeito círculo de marcas de pneu nas cinzas.
— Sabe para onde a gente está indo? — perguntou Brick.
O carro dava solavancos pelo caminho esburacado que passava em meio às árvores, voltando para a estrada do litoral.
— Cal? — disse Brick.
— Sei para onde estamos indo — respondeu ele assim que chegaram à estrada, verificando se a barra estava limpa antes de rumar ao sul, para longe de Fursville. Pensou em Daisy em seu caixão de gelo e na criatura dentro dela. O anjo. Um hospital não seria de grande ajuda, nem a polícia, nem o exército. Só conseguia pensar em um lugar onde poderiam encontrar respostas. Pisou fundo, o carro acelerando e arrastando atrás de si uma capa esvoaçante. Então olhou para Brick e falou: — Precisamos achar uma igreja.
Rilke
Caister-on-Sea, 7h37
Vermes, todos eles.
Homens, mulheres e crianças aglomeravam-se na grama morta do camping, os olhos negros, pequenos e vazios, os dentes à mostra. Enxameavam trailers, chalés e carros, cegos para tudo exceto o próprio ódio. Alguns tropeçavam e logo eram soterrados na debandada. Outros se acotovelavam, a colisão de carne contra carne quase tão ruidosa quanto o estrondo dos passos. Outros guinchavam e uivavam, o ar vibrando com os gritos dos condenados. E estavam condenados, não havia dúvida quanto a isso.
— Está pronto, irmãozinho? — perguntou Rilke, voltando-se para Schiller.
Ele ficou de pé ao lado dela, pálido, assustado e débil. Parecia exausto, a pele do rosto em pregas soltas, os cantos da boca caídos como os de um palhaço entristecido.
O chão estremecia à medida que os furiosos se aproximavam, o primeiro deles — um homem enorme e peludo, um verdadeiro gorila de shorts e colete — a uns dez metros. Perto o bastante para que seu odor se fizesse sentir. Ah, como ela os odiava, como odiava aqueles parasitas. Antes talvez até tivesse ficado assustada, mas não mais. Agora só havia a fúria — a fúria dela, incandescente e tão perigosa quanto a deles.
— Schiller — disse Rilke. — Agora!
— Por favor, Rilke — começou ele, mas ela o interrompeu, pegando seu braço e torcendo-o com força.
Atrás dele, estavam Jade e Marcus, o rosto de ambos parecendo o de uma ovelha. O novo garoto, aquele que tinham achado em Hemsby, estava entre eles, ainda congelado. Rilke virou-se outra vez para o irmão.
— Agora!
Se Schiller estava hesitante, a criatura dentro dele estava muito disposta. Os olhos do irmão se acenderam com tanta força que uma fornalha parecia ter prorrompido em seu crânio. Em um instante, as chamas se espalharam como uma segunda pele que o envolveu em luz raivosa, e ele abriu a boca em um silencioso grito de fogo. Com um estampido, como o de um tiro, suas asas despontaram dos ombros, irradiando uma onda de choque que levantou pó e areia e mandou a primeira linha de furiosos de volta para a multidão. Aquelas asas batiam devagar, quase com preguiça, forjadas na chama. A força genuína emanada fazia o ar tremer, um zumbido de gerador que parecia despedaçar a realidade. Rilke precisou cerrar o maxilar e fechar os olhos com força para controlar a vertigem, e, quando olhou outra vez, Schiller já fazia seu trabalho.
Devia haver uns cem deles, rápidos e raivosos. Não davam a impressão de ter se assustado com a transformação de Schiller. Na verdade, ela pareceu deixá-los ainda mais irados. Jogavam-se contra o menino incandescente, as mãos em garras, os mesmos gritos horrendos e guturais como latidos produzidos no fundo da garganta. Cem deles, e mesmo assim não tinham a menor chance.
Schiller abriu os braços, o ar ao redor dele cintilando. Agora pairava, ondulações espalhando-se sobre a terra como se esta fosse água. O homem peludo despedaçou-se com um estalido tímido, o corpo atomizado mantendo a figura por uma fração de segundo antes de se decompor. Os outros correram por sobre seus restos flutuantes antes de se desintegrarem com a mesma velocidade, produzindo o som de alguém brincando com plástico-bolha. Porém, outros continuavam vindo, até que uma nuvem em redemoinho, escura e espessa como fumaça, apareceu diante de Schiller.
— Rilke!
Ela se virou e viu Jade gritando, porque mais furiosos vinham de trás deles. Dois adolescentes vinham à frente dessa multidão. Ambos se lançaram em cima de Marcus, tropeçando em uma rede de dentes e de membros. Outros três vieram, empilhando-se sobre o menino magrinho até que ele sumisse. Outros correram para Jade, e outros ainda, em maior número, em direção a Rilke. Não tenha medo deles; são ratos, ordenou a si própria, mas o medo petrificou suas pernas. Não tinha os poderes de Schiller, não ainda. Ela ainda era um ser humano patético, quatro litros de sangue em uma armação de papel. Iriam dilacerá-la com a facilidade de quem arranca pétalas de uma flor.
— Schill! — gritou.
Uma mulher saltou sobre ela, tropeçando em um dos braços de Marcus, que se agitava no ar, e errando o alvo. Um homem veio atrás, arranhando o rosto de Rilke e fazendo-a tropeçar. Enquanto ela caía, a outra mão do homem se lançou em sua garganta, os olhos dele como poços negros de ódio absoluto.
Sequer chegou ao chão. O ar abaixo dela se solidificou, sustentando-a. O homem se movia com uma lentidão inacreditável. Seus dedos estavam praticamente congelados à frente do pescoço dela, como um filme passando em câmera lenta. Viu a terra embaixo das unhas dele, o anel de pátina no dedo mindinho. Gotas de saliva voavam de seus lábios, subindo quase com graça, suspensas ao sol como orvalho.
Tudo parecia ter parado, o tempo operando com relutância ao longo de seu eixo. Uma das furiosas estava sentada sobre Marcus, erguendo um punho fechado, uma gota de sangue suspensa nos dedos. Outros se aproximavam, mas o ritmo da corrida era agora um rastejar de caracol. Rilke se percebeu rindo, mas seus movimentos também eram lentos, como se nadasse em um lago de gosma. Ela ainda caía, notou, mas tão lentamente que parecia imóvel.
Somente Schiller era imune. Ele flutuou pelas turbas até chegar perto de Rilke, depois, pressionou uma mão incandescente contra o peito do homem. Este não explodiu e virou pó. Mas dobrou-se ao meio com um coral de ossos partidos e, em seguida, dobrou-se de novo, e de novo, até se tornar menor do que uma caixa de fósforos. Com um peteleco, Schiller o mandou para longe, e voltou sua atenção para os outros furiosos. Ainda que não se movessem em câmara lenta, não seriam capazes de enfrentá-lo. Tudo o que o irmão de Rilke fez foi virar as palmas das mãos para o céu, e qualquer furioso à vista, fosse homem, mulher ou criança, esticou-se para cima como uma marionete presa por um fio. E, à medida que se esticavam, iam se despedaçando, os membros se soltando, roupas e pele tornando-se retalhos, dentes e unhas se despregando do corpo, todos unidos por espirais de sangue — erguendo-se até que ficassem pequenos como pássaros distantes que depois desapareciam.
Então, o tempo pareceu se dar conta de si novamente, com seus dedos envolvendo Rilke e empurrando-a para o chão. Os ouvidos dela estalaram e o coração bateu com certo descompasso antes de encontrar seu ritmo. Marcus retorceu-se no chão antes de perceber que os agressores tinham sumido, ao passo que Jade ficou sentada em um montículo, os olhos petrificados, subtraída de outra porção da sanidade que lhe restava. Rilke se pôs de pé em um salto e apoiou as mãos nos joelhos para não cair de novo.
— Tudo — disse ela. Tossiu, antes de repetir: — Tudo, Schill. Não podemos deixar nada para trás.
Ele olhou para ela, os olhos que não piscavam parecendo portais para outro mundo. Mirá-los provocava um tipo sorrateiro de loucura, que a deixava nauseada. A vibração no ar intensificou-se, e ela sentiu um dedo de sangue descer de seu ouvido. Mas não desviou o olhar.
— Agora, Schiller — disse outra vez.
E foi o irmão que cedeu, a cabeça pendendo. Desta vez, ele nem se mexeu, mas mesmo assim a paisagem se desfez, exatamente como em Hemmingway e em Hemsby. Trailers levantaram-se do chão, portas e janelas batendo como membros agitados, até virarem pó. Chalés desabaram como se fossem de areia, deixando cair migalhas ao cruzar o céu. Carros, motocicletas e cadeiras quebraram-se com ruídos metálicos abafados. Rilke os observou sumir, uma maré de matéria que corria acima deles como um rio, indo para as dunas e o mar.
Schiller baixou os braços, e os restos do camping desabaram com um estrondo de trovão, a água agitando-se enfurecida. Rilke sentiu o borrifar salgado no rosto e o enxugou. Odiava o cheiro do mar. Talvez, se Schiller jogasse coisas suficientes nele, ele secaria – terra e oceano, ambos perfeitamente limpos. Virou-se para o irmão quando os ecos morreram, vendo as chamas que emanavam de sua pele ondulando, as asas se dobrando e se apagando. Como sempre, os olhos foram a última coisa a voltar ao normal, a chama laranja dando lugar ao azul aquático. Ele pendeu para o lado, e ela o alcançou antes que ele caísse. Rilke o deitou delicadamente no chão e afastou o cabelo de seus olhos.
— Você agiu bem, irmãozinho — sussurrou ela. — Você nos manteve em segurança.
Ele parecia semimorto, mas as palavras dela produziram um sorriso. Marcus se agachou ao lado dos dois e tirou uma garrafa de água da mochila. Tinham juntado suprimentos em Hemsby, antes que Schiller arrasasse a cidadezinha. Rilke tomou a garrafa da mão dele, desenroscou a tampa e levou-a aos lábios do irmão. Ele bebeu com sofreguidão, como se tentasse apagar uma fogueira que ardesse em seu íntimo.
— Obrigado, Schill — disse Marcus. — Achei que não ia me livrar dessa.
Rilke também tomou um gole de água e depois devolveu a garrafa.
— Nada vai acontecer conosco — disse ela. — Somos importantes demais.
— Eu sei — respondeu Marcus, mas franziu o rosto.
— O que foi? — retrucou ela.
Estava exausta. Não dormiam desde Fursville. Tinham tentado descansar a caminho de Hemsby, em uma clareira entre as dunas, mas a polícia os tinha encontrado depois de cerca de meia hora, e Schiller fora forçado a cuidar deles. Desde então, não haviam mais parado, e a polícia aparentemente tinha decidido deixá-los em paz. Ou era isso, ou não havia mais polícia — o irmão não tinha demonstrado nenhuma misericórdia deles.
— Nada, Rilke — disse Marcus. — É só que... Eles são tantos, e alguns eram crianças.
A raiva fervilhou na garganta dela, mas ela tapou a boca para contê-la. Não podia culpar Marcus por duvidar, mesmo com tudo o que ele tinha visto. Ela própria tinha dificuldade de aceitar a verdade quando as turbas se desintegravam diante de seus olhos, especialmente as crianças. Havia bebês também, recém-nascidos com rostos franzidos que berravam com uma fúria que jamais poderiam entender.
Porém, a verdade era inconfundível e inescapável. Estavam ali para subjugar a raça humana, para fazer com que ela entendesse que havia uma força superior; que a ilusão de rédea solta, de impunidade, era só isto: uma ilusão. Eles eram os anjos da morte, o grande dilúvio, o fogo purificador. As pessoas eram más. Rilke sabia disso melhor do que ninguém. São todas iguais a ele, ao homem mau, pensou ela, lembrando-se do médico da mãe, com aquele mau hálito e aqueles dedos gananciosos. Lá no fundo, todos têm segredos, todos são podres. Marcus só tinha dúvidas porque ainda não havia se transformado, era isso. Assim que seu anjo nascesse, ele enxergaria a verdade. Schiller tinha se transformado, e enxergava.
— Estamos fazendo a coisa certa, não estamos, irmãozinho? — Foi uma pergunta retórica.
Schiller olhou para ela com olhos arregalados, tristes, e acabou fazendo que sim com a cabeça.
— Acho que sim — disse ele.
— Você sabe que sim.
Rilke de súbito lembrou-se de um incidente de anos atrás, quando ela e Schiller brincavam em casa. Ela não recordava exatamente qual era a brincadeira, só que os dois corriam, e ela derrubara do aparador da mesa de jantar uma das bonecas de porcelana da mãe. A boneca se quebrara em mil pedaços, e, por um instante, a vida de Rilke acabara. A mãe estava começando a perder a sanidade naquela época, os alicerces de sua mente sendo pouco a pouco corroídos, embora ela continuasse a amar aquelas bonecas mais do que amava os próprios filhos. Quebrar uma era um crime hediondo, a ser punido com uma surra. Assim, Rilke convencera Schiller a assumir a culpa. Ele tinha protestado. Tinha mais medo da mãe do que ela. Mas era fraco, sempre fraco, e não demorou até que cedesse. Quando subiram e Schiller confessou seu crime, Rilke teve certeza de que ele acreditava mesmo que era culpado. Por que estaria pensando nisso agora?
— Você sabe que sim — disse ela outra vez, acariciando a cabeça dele. Quando afastou a mão, havia nacos do cabelo dele entre seus dedos, como se fossem algas, e ela os limpou na saia. — Confie em mim, Schiller.
Ele tentou se levantar, mas não teve forças e caiu de costas. Sua testa estava viscosa de suor, e a pele, cinzenta. É só cansaço, Rilke se convenceu. Precisamos achar um lugar para descansar, para dormir. Mas havia também outro pensamento presente: Isso o está matando. Afastou a ideia. O que Schiller tinha dentro de si era um milagre, algo bom, que o fortalecia. Algo que o deixava em segurança, que nada faria para feri-lo.
— Eu vejo coisas — disse o irmão, olhando para o céu. — Quando acontece, quando eu me transformo, eu vejo coisas.
— Tipo o quê? — perguntou Rilke.
— Não sei — disse ele depois de um momento. — Uma coisa ruim. Parece um homem, mas um homem mau. Não consigo ver o rosto dele, só... Não sei, parece que ele mora dentro de um furacão ou algo parecido. Não paro de vê-lo, Rilke. E ele me assusta.
— Esqueça isso, irmãozinho — disse ela. Mas também o tinha visto no silêncio entre dormir e acordar, uma criatura ainda mais poderosa do que seu irmão. O homem na tempestade. — É um de nós — falou. Ele está aqui pelo mesmo motivo que nós. Não se preocupe com ele, ele está do nosso lado.
Schiller pareceu ruminar as palavras dela, mas não por muito tempo. Nunca por muito tempo. Você quebrou a boneca, Schill, foi culpa sua ela estar em pedaços, mas tudo bem, porque vou estar do seu lado quando você contar para a mamãe; estou sempre aqui do seu lado, eu te amo. Você é um bom menino, diga a ela que quebrou.
— Você é um bom menino, Schill — disse ela, acariciando-o por dentro da blusa. — Vamos passar por essa juntos. Sabe que estou sempre do seu lado.
Ele fez que sim com a cabeça, e o camping ficou em silêncio. Até o mar parecia tranquilo, as pequeninas ondas mal emitindo sons ao bater contra a praia. Ele está com medo de nós, pensou ela. Quer que vamos embora.
— Estou realmente cansado, Rilke — disse Schiller. — Podemos parar?
— Em breve — respondeu ela. — Assim que acharmos um lugar seguro.
Isso seria muito mais fácil se ela também se transformasse, mas o anjo dentro dela não dava nenhum sinal de que nasceria. O único motivo pelo qual sabia que ele estava ali eram as dores de cabeça que sentira — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, seguidas pela Fúria. Ele estava ali, e cedo ou tarde renasceria com os mesmos poderes do anjo do irmão.
E quando isso acontecesse...
Rilke abriu um sorriso enorme, a ideia aniquilando os últimos resquícios de exaustão. Ficou de pé, ainda ao lado de Schiller. O mundo nunca parecera tão grande, e tinham muito trabalho a fazer.
— Mais uma cidade, irmãozinho, você consegue?
Ele suspirou, mas concordou com um gesto de cabeça.
— Bom garoto.
Ela aguardou Marcus e Jade ajudarem a levantar o outro garoto, que ficou entre eles. Os dois tremiam, mas sabiam que discutir com ela não era boa ideia. Rilke deu o braço ao irmão, sustentando parte do peso dele, e juntos seguiram pela terra arruinada, deixando atrás de si a poeira dos mortos.
Cal
East Walsham, Norfolk, 7h49
O Freelander estrebuchou, pareceu por um instante que iria continuar, mas depois ofegou baixinho e morreu.
— Droga! — disse Cal, girando a chave.
O motor deu umas tossidelas insignificantes, mas, por mais que o jovem quisesse, não conseguia fazer o medidor de combustível levantar. — O tanque está vazio.
— Ótimo! — resmungou Brick, o rosto contorcido de um jeito que fez o sangue de Cal ferver de imediato. — Você não trouxe mais?
— Pois é, Brick, eu parei num posto quando saí de Londres, lutei com os furiosos e enchi o tanque. Peguei também umas jujubas e um cafezinho. O que você acha?
Brick deu um tapa no painel e abriu a porta. Cal respirou fundo e saiu depois dele. O ar ali era muito mais puro; não tinha gosto de crematório. A viagem havia tirado praticamente toda a carne pulverizada do carro, deixando apenas bolsões nos cantos das janelas e nas rodas. Cal respirou fundo, absorvendo o ar do ambiente: nada além de campos, árvores e sebes em todas as direções. O único indício do lugar de onde tinham vindo era uma névoa cinzenta no céu. Ao menos fazia calor, o sol nascente parecendo um casaco jogado nos ombros de Cal.
— Onde estamos? — perguntou Brick, reunindo uma bola de cuspe e lançando-a na beira da estrada.
— Não sei muito bem — respondeu Cal. — A gente basicamente dirigiu para oeste, é difícil dizer. — A navegação via satélite estava funcionando, mas Cal não sabia qual endereço colocar, por isso só a usara como guia, seguindo o emaranhado de estradas que saía de Norwich. Tinha se limitado às menores, e até ali só haviam passado por outros três veículos: dois carros que zuniram rápido o bastante para sacudir o Freelander, e um trator, atrás do qual permaneceram até que ele entrara em uma fazenda. Tinham passado por algumas cidadezinhas, mas estavam bem desertas. — A última placa que eu vi dizia “Tuttenham”.
— E onde fica isso? — retrucou Brick.
— Você que é daqui que devia saber.
Por alguns segundos, os dois se encararam, fumegando em silêncio.
— Ok — disse Cal, suspirando. — Vamos ter que continuar a pé, não é?
Brick deu de ombros, parecendo ter um quarto de seus dezoito anos. Arrastou os tênis sujos no chão, depois passou os dedos pelo cabelo.
— Deve ter alguma cidadezinha por aqui — murmurou ele. — Talvez uma fazenda. Daria para pegar um pouco de diesel.
Cal deu de ombros.
— Vale a pena tentar. Quer levar Adam ou Daisy?
Brick não respondeu, só começou a caminhar pela estrada, o corpo coberto de pó parecendo um fantasma estranho e delgado na branda luz da manhã. Cal abriu a porta de trás do carro e deu de cara com Adam, como sempre de olhos arregalados. O garotinho tremia.
— Quer sair do carro? — perguntou Cal. — Pegar um pouco de sol? Está congelando aqui. — Adam olhou nervoso para a menina no porta-malas. — Está tudo bem, Daisy também vem com a gente. De repente o calor vai até descongelar ela. Vamos.
Adam arrastou-se do assento para o asfalto. Cal sorriu para ele, e em seguida andou até a traseira do Freelander. As janelas ali estavam foscas devido ao gelo, como se fosse Natal, e, quando ele tentou abrir o porta-malas, descobriu que o gelo o havia travado. Deu alguns chutes para soltar os flocos de cristal até conseguir abri-lo. Daisy estava encasulada em uma teia de seda, o rosto branco e frágil como porcelana. Parecia morta, mas ele sabia que ela apenas dormia. Qual era o termo correto? Metamorfoseava-se. Cal pensou em Schiller, consumido pelo fogo, e se perguntou se para Daisy não seria melhor morrer de uma vez. Para todos eles.
— Lá vamos nós — disse, passando as mãos por baixo do corpo de Daisy e levantando-a.
Ela parecia mais leve, apesar da crosta de gelo, e o modo como cintilava era quase assustador. A pele de Cal queimava com o frio, as mãos já quase dormentes, mas ele a segurava com firmeza. — Aguente firme, Daisy, a gente vai encontrar ajuda.
Adam, que esperava à frente do carro, deu um ligeiro sorriso quando viu Daisy.
— Está vendo? Vai dar tudo certo com ela — disse Cal. — Com todos nós.
Ele lançou um olhar para o Freelander vazio, e em seguida partiu pela estrada. Brick tinha sumido, mas, depois de mais ou menos cinquenta metros de caminhada, sua cabeça surgiu da alta grama que ladeava o asfalto.
— Melhor sair da estrada — disse ele. — Com ou sem Fúria, os motoristas de Norfolk são todos malucos.
Cal esperou Adam correr até a beira da estrada e depois cambaleou até lá. Quase caiu após tropeçar em um canteiro de flores amarelas brilhantes, conseguindo por pouco ficar de pé, e torcendo o tornozelo no processo. Engoliu um palavrão e mancou até Brick.
— Obrigado pela ajuda — disse ele, mas o outro garoto já se afastava.
Cal o seguiu, respirando fundo algumas vezes para se acalmar. Adam trotava do seu lado, de vez em quando dando uma corridinha para acompanhar o ritmo. O único som, tirando o baque dos pés na terra seca, era o chilrear dos pássaros. Eles não param de cantar, pensou Cal, mesmo com o mundo desabando em volta deles.
— O que é que vamos fazer se as pessoas ainda estiverem com a Fúria? — perguntou Brick após alguns minutos.
— Sei lá — disse Cal.
— Acha que vão vir atrás da gente?
— Sei lá.
Brick chutou uma pedra, que rolou para as sombras em meio à vegetação. Andaram calados, cruzando um dique seco e abrindo caminho por uma sebe na extremidade do campo. O trecho seguinte de terra era quase deserto, o que facilitou a travessia. Deram apenas alguns passos até que Cal sentiu Adam puxando suas calças esportivas. O garoto apontava e, quando Cal seguiu seu dedo, viu uma pequena torre de pedra erguendo-se das sebes.
— Boa, garoto! — disse ele, sorrindo. Adam sorriu em resposta, mais radiante do que o sol. — Está vendo aquilo, cara?
Brick ergueu os olhos para protegê-los, embora o sol estivesse atrás deles. Era difícil dizer a que distância estava a igreja, talvez a uns dois ou três quilômetros.
— Ainda não sei para que você quer uma igreja — respondeu Brick. — Não sei que grande coisa ela vai nos oferecer.
— Bem, não é como se você tivesse me dado outras sugestões — disparou Cal, com a sensação de que ele próprio estava prestes a ter um acesso de Fúria. Alguma coisa em Brick provocava isso nas pessoas, deixava-as irritadas. — Só achei... Sei lá, mas, se essas coisas dentro de nós são mesmo anjos...
— Não são anjos, Cal.
— Bem, se são anjos, então talvez um pastor possa ajudar a gente; talvez ele saiba nos dizer o que fazer. Talvez tenha alguma coisa na Bíblia. Não sei. — O simples fato de dizer aquilo o fez perceber a futilidade de suas palavras. O que quer que estivesse acontecendo, não tinha nada a ver com cristianismo. — Sei lá. Mas não consigo pensar em mais nada. Você consegue?
Brick limitou-se a fungar.
— Vai se ferrar, então! — falou Cal. — Se quiser seguir seu caminho sozinho, não sou eu que vou impedir.
— Certo — disse ele. — Vamos tentar a igreja. Mas não vai adiantar nada.
Cal levantou Daisy até o peito, os dentes batendo. Levaram uns dez minutos para chegar ao fim do campo; e já levavam uns cinco tentando atravessar uma cerca de arame farpado. Do outro lado, havia uma pista de terra que passava ao lado de um pasto cheio de vacas, os animais encarando-os com aqueles olhos tristes e negros. Ao menos não ameaçavam atacá-los. Ser pisoteado até a morte por um bando de vacas furiosas não era um bom jeito de passar desta para uma melhor.
— Já deu tiro em bosta de vaca? — A pergunta era tão surreal que Cal precisou parar para ter certeza de que tinha ouvido direito.
— Se eu já dei tiro em bosta de vaca?
— É, tiro de espingarda.
— Não, Brick. Eu sou de Londres. Lá não tem espingarda nem bosta de vaca. Por quê?
Brick emitiu um som que poderia ser uma risada.
— É como assistir a um vulcão de cocô — disse ele, e Cal ouviu o sorriso em sua voz. — Meu amigo Davey tinha uma doze. Um dia ele me levou para a fazenda dele, e a gente deu uns tiros num campo inteiro de bosta. Sério, ela sobe uns dez metros, nunca vi nada igual.
Cal sacudiu a cabeça, sem saber o que dizer. Conhecia Brick havia menos de uma semana, mas achava que poderia passar anos com ele e não entender suas variações de humor.
— Dei um tiro num monte de bosta e deixei Davey coberto de esterco. Foi a coisa mais engraçada que já vi.
— Parece mesmo engraçado — respondeu Cal.
— Quisera eu ter uma agora.
— Bosta de vaca? Pode escolher, aqui tem centenas.
— Uma espingarda, panaca. Eu me sentiria bem mais seguro de andar até a igreja se tivesse uma arma.
— Pois é, da última vez que a gente teve uma arma foi realmente ótimo. — Cal jamais esqueceria da arma apontada para ele pelo homem em Fursville, nem do jeito como Rilke lhe dera um tiro na cabeça sem hesitar. Rilke também tinha dado um tiro na namorada de Brick, lembrou Cal de repente, e suas bochechas arderam. — Foi mal, cara. Não pensei direito antes de falar.
Brick não respondeu, só chutou o chão, espalhando pedrinhas. E fez tanto barulho que Cal quase não ouviu o som de um motor à frente, aumentando e diminuindo. Conteve os passos, erguendo a cabeça quando outro rugido distante soou e sumiu.
— Deve ser uma estrada — disse Brick. — O que vamos fazer?
— Vamos chegar mais perto para ver, o que acha?
Não era o melhor plano do mundo, mas era esse o problema com a Fúria: você só sabia se ela estava presente chegando perto. E, ao chegar perto, provavelmente alguém já estaria lhe dando uma dentada.
Brick não respondeu, só pulou a cerca. Estendeu as mãos, e Cal passou Daisy para ele. Seus braços eram dois blocos de pedra fria, mas ainda assim conseguiu erguer Adam acima da cerca antes de ele mesmo pulá-la. O campo começava a formar um aclive no caminho de terra, e eles subiram a colina calados, ouvindo o tráfego adiante. Cal contou sete veículos passando antes que chegassem ao final.
Agachou-se, espiando pela cerca e vendo uma estrada abaixo. Havia calçada dos dois lados, e casas uma na frente da outra — grandes propriedades separadas com telhados de palha e largas rampas de acesso. À esquerda, a estrada levava a uma cidadezinha. Cal distinguiu o que poderia ter sido uma padaria e uma loja Tesco. Erguendo-se acima de tudo, estava a torre da igreja. Havia gente ali, seis ou sete pessoas, longe demais para enxergá-las direito. Três sumiram supermercado adentro, suas risadas ecoando pela estrada.
— O que você acha? — perguntou Cal.
— Como é que eu vou saber? — respondeu Brick, estreitando Daisy ao peito e tremendo de frio. — Podemos descer lá e ter a cabeça arrancada por eles.
Cal endireitou as costas, abrindo um sorrisinho nervoso para Brick.
— Acho que só tem um jeito de descobrir.
Brick
East Walsham, 8h23
Brick observou Cal tropeçar pelo campo, com Adam em seu encalço, mas não conseguiu segui-los. Carregava Daisy em seus braços, e o frio que irradiava dela congelara seus ossos, fazendo com que ele criasse raízes. De repente, percebeu o quanto estava exausto, o corpo e a mente funcionando à base de nada, prestes a dar um soluço e morrer, tal como o carro. Cal pareceu ler sua mente, porque olhou por cima do ombro e disse:
— Vamos, cara, não posso encarar essa sozinho!
Aos tropeços por causa do chão irregular, Adam retornou até Brick. O garotinho estendeu a mão e segurou a camiseta do outro, dando-lhe um leve puxão. Seus olhos eram bolsões de luz solar, ofuscantemente brilhantes, e ofereceram certo calor ao corpo de Brick, que respirou fundo e ficou de pé. Uma ligeira tontura deu-lhe a impressão de que dava piruetas pelo campo. Quando ela parou, deu um passo, depois outro, e foi seguindo Cal em direção à torre.
— Será que a gente podia fazer aquele negócio da distração de novo? — disse Cal. — Que nem na fábrica, lembra?
Brick deu de ombros, ainda que soubesse que Cal não estava vendo. Na fábrica, só havia um guarda para distrair, e mesmo assim tinha dado errado.
— Eu podia atraí-los para fora e abrir caminho para você levar Daisy e Adam para dentro da igreja — continuou Cal. — Ou, se você for mais rápido do que eu, você os atrai.
Até parece, pensou Brick, dizendo, por fim:
— E se a igreja estiver cheia?
— Segunda de manhã? Não vai estar.
— E se estiver trancada?
Cal colocou as mãos na cabeça e puxou os cabelos.
— Ok — disse Brick. — Tá, beleza, vamos tentar.
À frente, o campo se inclinava rumo à estrada, estendendo-se junto a ela até o início da cidadezinha. Havia um trechinho de sebe, mais buraco do que folhas, que não ofereceria rigorosamente nenhuma proteção se os furiosos sentissem a presença deles. Cal se agachou, descendo o declive com rapidez. Outro carro passou pela estrada, talvez a uns trinta metros de distância, seguido por um caminhão dos correios. Para uma cidadezinha, até que havia bastante movimento.
— Você devia ir por trás — disse Cal. — Por aqueles jardins. Veja se dá para cortar caminho.
Ele apontava para onde o campo se juntava às casas, no limiar da cidadezinha, onde havia pequenos jardins protegidos por cercas.
— E você? — perguntou ele.
— Eu vou pela rua principal. Se ainda estiverem com a Fúria, eu atraio eles. — Enxugou a boca com a mão. Seus dedos tremiam. Cal não parecia ser capaz de percorrer nem mais vinte metros, quanto mais correr por uma cidadezinha inteira cheia de furiosos. — De repente, eu chego lá e ninguém repara em mim.
Brick deu de ombros outra vez. Ele levantou Daisy; a menina era levíssima e, estranhamente, também a coisa mais pesada do mundo.
— Fique com Brick, Adam, ele vai cuidar de você até eu voltar.
O garotinho abriu a boca, mas não falou nada. Cal olhou para Brick e fez que sim com a cabeça, e depois se pôs em movimento, descendo o declive rumo à estrada. Brick olhou-o por mais alguns segundos, praguejou e depois partiu na direção das casas. Com Daisy nos braços, e Adam preso à sua camiseta, não estava nada fácil. Duas vezes ele tropeçou na terra árida; pareceu demorar uma eternidade até chegar à primeira cerca. Não ouviu gritos, nem pneus cantando, nem explosões.
A cerca era um pouco mais baixa do que ele, e ele ficou na ponta dos pés para olhar por cima dela. Do outro lado, havia um microjardim que levava a uma casa geminada. A casa tinha uma passagem lateral, e Brick deu uns passos para a esquerda, para ter uma visão mais ampla. Havia um portão, provavelmente trancado. Foi aos tropeços até o jardim seguinte, que estava cercado por uma espessa sebe. O outro jardim tinha arame farpado acima da cerca, e a quarta casa estava caindo aos pedaços, com uma estufa abandonada sem várias placas de vidro. Uma olhadela rápida pela passagem revelou um caminho reto até a estrada do outro lado.
Não havia portão, mas o jardim não era exatamente Alcatraz. Brick chutou a cerca que estava se soltando, disparando uma saraivada de farpas. Outro chute, e, com um rangido abafado, o painel caiu na grama alta. A casa tinha as cortinas bem fechadas em cada janela.
— Vamos — disse ele, andando pelo jardim e chegando à passagem.
Seus passos ecoavam, dando a impressão de que havia alguém bem atrás deles, e duas vezes olhou por cima do ombro para se certificar de que ninguém os seguia. A luz do sol se derramava pelo arco do outro lado, e Brick deu um passo cauteloso dentro do calor, apertando os olhos até que a estrada iluminada ganhasse foco. Era uma rua residencial, com casas pequenas ombreando-se como soldados. Reteve a respiração, outra vez procurando algum ruído. O ar estava quente e silencioso, como se a cidade inteira o imitasse, também retendo a respiração, esperando o momento certo para ganhar vida.
Engoliu em seco, a garganta uma bola de areia, e em seguida deixou a passagem rumo à calçada. Estava deserta, mas será que não havia gente dentro das casas? Será que já não o teriam pressentido? Não surgiriam jorrando de portas e janelas? Voltou o olhar para a torre da igreja, perto o bastante para distinguir as gárgulas gastas e o campanário.
Uma buzina distante cortou o silêncio pesado, sobressaltando Brick de tal maneira que Daisy quase escorregou de seus braços. Ele a apertou contra o peito. Acorde, Daisy, pensou ao atravessar a rua, indo para a passagem do outro lado. Por favor, acorde, não posso carregar você para sempre.
Então se lembrou do que ela seria quando acordasse, e sugou o desejo de volta para as trevas de seus pensamentos.
As casas desse lado tinham portões que davam para fora, mas um pouco adiante as casas enfileiradas acabavam e davam espaço a casas maiores, parcialmente separadas. Pegou um atalho por uma rampa de acesso de cascalho e seguiu por um jardim comprido e cuidado com perfeição. O zumbido do tráfego era mais alto ali, e o garoto pensou ter ouvido vozes também. Chegou a um muro e se apoiou nos tijolos em ruínas, tentando recuperar o fôlego.
— Consegue subir? — perguntou a Adam.
O garotinho olhou o muro, os dois metros de muro, e balançou a cabeça. Brick resmungou, frustrado, agachando-se e pousando Daisy no chão com delicadeza. Esfregou os braços, tentando aquecê-los, e em seguida pegou Adam pelas axilas. As mãos dele estavam tão dormentes, e o menino era tão leve, que parecia estar levantando ar. Colocou-o no alto do muro e o sentou ali.
— É só descer. Não é tão alto.
Adam balançou de novo a cabeça, o temor estampado no rosto.
— Desça! — disparou Brick. — A menos que prefira que eu o empurre.
O garoto passou o braço pelo rosto, enxugando as lágrimas. Virou-se com calma, apoiando-se nos dedos brancos enquanto se deixava cair. Brick se agachou para pegar Daisy, e foi ao endireitar a coluna que ouviu o som de uma porta se abrindo. Voltou os olhos e viu um homem sair da casa; ele usava calças de moletom e colete, o rosto com a barba por fazer, e parecia zangado.
— Ei! Você aí, o que acha que está fazendo?
A que distância estava ele? Era um jardim grande, talvez fosse uns vinte metros entre a porta dos fundos e o muro, mais ou menos. Brick não se mexeu; até seu coração pareceu conter o batimento frenético, à espera. O homem deu um passo à frente. Ele já estava perto o bastante para um acesso de Fúria, não estava?
— Estou falando com você! — gritou. — Saia do meu jardim ou vou chamar a polícia!
Mais um passo. Brick recuou até colar as costas no muro. O homem tinha parado e o encarava, ambos num impasse. Talvez o cara fosse entrar e pronto. Brick era alto, e tinha um rosto do tipo que faz você pensar duas vezes antes de querer brigar. Talvez o homem simplesmente voltasse, trancasse a porta e chamasse a polícia.
Porém, havia uma parte de Brick que precisava saber se a Fúria ainda estava ali.
O homem esfregou o rosto, franzindo-o. Tentava distinguir o que Brick tinha nos braços.
— O que é isso aí? — perguntou ele. — O que...?
Brick ignorou-o, virando-se para o muro e tentando erguer Daisy. Seus braços pareciam feitos de vidro, prontos para se estilhaçar, e ele não teve forças. Tentou de novo, gemendo com o esforço. Desta vez, conseguiu levá-la até o alto do muro, mas não conseguia virar seu corpo. Os músculos cederam, e ela caiu no chão diante de seus pés como uma boneca de pano, uma coisa morta.
— Ei, se afaste dela! — gritou o homem.
Brick ouviu-o começar a correr. Abaixou-se e agarrou nacos das roupas e da carne de Daisy, sem se preocupar se a machucava. Levantou-a, apoiando-a com o peito contra o muro, enquanto reposicionava os braços.
— Afaaaaaaaaste-se deeel... — A voz do homem era um som gorgolejante, e Brick quase deu um grito ao ouvi-la.
Colocou o corpo sob o de Daisy, erguendo-a como um halterofilista olímpico. O homem cuspiu outras palavras, os passos martelando o chão, mais alto, mais perto. Não olhe, Brick, apenas pule o muro, pule o maldito muro! Ele lançou Daisy com toda a força e ela rolou por cima, caindo do outro lado. Em seguida, ele agarrou os tijolos, içando-se.
O homem agarrou sua perna, dedos de ferro em sua panturrilha. Outra mão pegou sua coxa, puxando-a. Brick deu um grito, enfiando as unhas no muro em ruínas. Ele desferiu chutes no ar. O homem uivava alto o bastante para convocar a cidade inteira.
Brick deu outro chute, e desta vez seu pé encontrou algo macio. Ouviu-se um barulho, um grito gorgolejado de fúria, e ele se libertou. Lançou-se de cabeça, dando um salto-mortal desajeitado em pleno ar e caindo de costas. O impacto esvaziou seus pulmões, fazendo-o gemer, mas ele se forçou a se levantar.
Daisy estava deitada sobre um montículo, com Adam ao lado. Estavam em outro jardim, esse cheio de engradados e geladeiras enferrujadas. Vinham ruídos de trás do muro, gritos enfurecidos e um som de algo raspando. O homem pularia o muro em segundos.
— Vamos! — ofegou Brick, empurrando Adam para poder pegar Daisy.
Desta vez, colocou-a em cima do ombro e cambaleou pelo jardim seguindo pela lateral da construção. Ao chegar à frente, percebeu que era uma loja de eletrônicos. A porta da frente estava aberta, mas não havia ninguém dentro dela. Na verdade, não havia ninguém na rua, só lojas e, subindo à esquerda, a igreja. Foi na direção dela, ouvindo um grito quando estava a meio caminho.
Não era um grito de uma só pessoa. Era o grito de muitas pessoas.
Parou e voltou os olhos. Do outro lado da rua deserta, havia um cruzamento, e estava lotado. Devia haver umas trinta pessoas ali, talvez mais.
— Cal!
Cal estava em algum lugar ali, e precisava de ajuda.
A massa febril e uivante mudou de direção, como pássaros em um bando, convergindo para um ponto fora do alcance da visão. Brick quase deu um passo na direção deles. Quase. Mas você não pode ir, você precisa cuidar de Daisy. E essa desculpa foi suficiente para fazê-lo se virar, andar rumo à igreja, rangendo os dentes com tanta força que pareciam prestes a saltar das gengivas. Ele não veria aquilo, não veria a morte de Cal, a criatura de chamas que subiria de seu cadáver e se evaporaria no ar de verão. Ele não assistiria ao momento em que ficaria por conta própria.
Abafou os gritos, correndo os últimos metros até o portão da igreja e atravessando o cemitério arborizado. A porta era de carvalho antigo, pesada, mas não estava trancada. Empurrou-a, e Adam entrou logo atrás. Então jogou o corpo contra a porta, mantendo do lado de fora a loucura e a culpa, confinando-se na escuridão fresca, silenciosa, secreta.
Cal
East Walsham, 8h37
Ele estava morto.
Praticamente morto. Não havia para onde correr. À frente, pessoas jorravam de uma loja como se fossem um rio transbordante, todas urrando. Vinham também de trás dele; a porta de vidro de uma padaria desfeita em estilhaços brilhantes conforme dez, quinze pessoas se lançaram para fora. Cal cambaleou para longe, tropeçando no meio-fio. Do outro lado da rua, dois homens saíam a passos trôpegos de uma imobiliária, a Fúria retorcendo o semblante deles, deixando-o com o aspecto de máscaras de Halloween.
Havia furiosos demais, todos correndo; o primeiro deles — uma criança de onze ou doze anos, com o braço engessado — já estava a segundos de distância. Cal cambaleou de novo. Bateu em um carro, um dos que estavam estacionados na rua, e, antes de se dar conta do que estava fazendo, já tinha corrido para debaixo dele.
Mal havia espaço para ele ali, a estrutura metálica do carro nas costas, achatando-o contra o asfalto. O que você tinha na cabeça, cara?
Algo colidiu com o carro, transformando em ocaso a luz do dia. Depois, foi como se os céus tivessem se aberto, e um estrondo saraivou ao redor de Cal, imergindo-o em uma noite absoluta. Os gritos eram tão altos que o afogavam; não conseguia respirar, não conseguia se mexer, não conseguia fazer nada além de ficar deitado e ouvir aquele coral horrendo e ensurdecedor.
Uma multidão surgiu embaixo do carro, uma torrente de membros e dentes. Mãos o agarravam e beliscavam, tentando puxá-lo. Corpos se arrastavam ao lado dele, superpovoando sua tumba. O carro balançava de um lado para outro, com a suspensão rangendo. Iam virar o carro, iam se jogar sobre ele, e ele deixaria de existir.
Porém, não era esse o pensamento que o assustava. Depois de tudo, a morte lhe parecia uma velha amiga. Sem mistério, sem surpresas, só um último suspiro e, em seguida, o nada. O que o assustava era a ideia de ficar frio, de virar gelo, enquanto algo se nascia no casulo congelado de seu corpo.
Uma mão agarrou seu rosto, unhas rasparam suas pálpebras. Ele abanou as mãos desesperadamente para afastá-la. A mão tentou alcançá-lo outra vez, dedos sujos em sua boca, e ele mordeu com força. Gosto de sangue. Tentou se virar, mas não havia espaço suficiente para os ombros. Era a morte.
Não, Cal, enfrente-os!
A voz não parecia ser dele, mas não havia dúvida de que vinha de dentro de sua cabeça. O que ela queria que ele fizesse? Havia outro carro à frente, era tudo o que ele sabia. Havia uma fileira deles estacionados na rua, quase grudados um ao outro. Será que ele conseguiria passar para baixo do próximo?
Começou a se arrastar. Pernas impediam seu avanço, formando uma cerca entre o carro sob o qual estava e o seguinte, mas ele a atravessou aos tapas e empurrões. O pouco espaço impedia que eles o agarrassem, os para-choques escudavam Cal contra seus socos e chutes, e poucos segundos depois ele estava debaixo do outro carro.
Não adiantou nada. A multidão o seguiu, o radar sintonizado no que quer que estivesse dentro do garoto. Rastejar para longe não era uma opção válida, pois eles não precisavam de olhos para encontrá-lo. Cercaram-no, bloqueando o sol, cem dedos à procura de sua pele.
Queime-os.
A voz de novo. Não era a dele, mas era conhecida. Tentou localizá-la, mas, o que quer que ela fosse, estava agora perdida no caos de outras vozes.
— Como? — berrou ele.
Alguém rastejava para perto dele, um rosto tenebroso com o maxilar escancarado. Cal soltou o cotovelo no nariz da mulher, nocauteando-a. Isso acabou sendo bom, porque os outros furiosos não conseguiam passar pelo corpo dela. Mas eles continuavam se espremendo por todos os demais lados, beliscando e mordendo, enquanto a mesma voz continuava clamando: queime-os, queime-os, queime-os.
Combustível. Era isso! Estava sob um carro, e em algum lugar ali ficava o tubo que levava combustível ao motor. Não entendia muito de carros, mas não era preciso ser engenheiro para saber que, se você danificasse vários canos, alguma coisa inflamável começaria a vazar dali.
Fez um esforço para se virar e ergueu a mão enquanto algo mordia sua perna. Havia dezenas de tubos, canos enormes e outros menores, mais moles. Pegou um desses e puxou com força. O cano resistiu, mas Cal não o soltou, retorcendo-o com toda a força até arrancá-lo do lugar. Escorreu um fluido dali, mas não era gasolina: Cal percebeu pelo cheiro. Procurou outro. Estava escuro demais para enxergar, e por duas vezes o garoto sentiu uma mão agarrar seus dedos, conseguindo se desvencilhar por pouco.
— Droga! — disse ele. — Qual é? Qual é?
Outro cano, e, desta vez, quando Cal o tirou do encaixe, o cheiro pungente de combustível invadiu suas vias aéreas. Teve vontade de vomitar ao sentir o fluxo constante de combustível nas roupas, que formaram uma poça debaixo dele. Isso era preocupante, porque, mesmo que achasse um jeito de produzir uma faísca, seria queimado vivo pela bola de fogo.
Existe um jeito, disse a voz. E Cal de repente viu de novo o restaurante em Fursville, as velas. Pôs a mão no bolso, sentindo a caixa ali. Fósforos. Pegou-os. Algo bateu em seu braço, e eles quase caíram, mas Cal segurou firme a caixinha, abrindo-a e tirando um fósforo.
Ainda havia o pequeno detalhe de ser queimado vivo.
— Pense! — gritou, a voz se perdendo em meio aos gritos à sua volta.
Precisava se mover de novo, ir para o carro seguinte. Segurou no veículo, usando-o para se impulsionar para trás. Outra vez havia furiosos no caminho, mas o espaço entre os carros era apertado demais para que o segurassem com força. Ele foi se arrastando, a multidão atrás, grudada nele como larvas em carne podre.
Esfregou o fósforo na caixa, uma, duas, três vezes, até que se acendesse. Tomando cuidado para não jogá-lo em si mesmo, lançou o palitinho em chamas para o lugar de onde tinha vindo. O palito quicou em um pneu, depois pareceu prestes a se apagar, e enfim pousou na sarjeta, em uma poça de gasolina.
A escuridão explodiu em luz, cada pedaço de metal abaixo do carro, cada rosto retorcido, cada unha ensanguentada revelada em detalhes inacreditáveis. As chamas se espalharam rápido, envolvendo as pessoas mais próximas do carro. Um dos homens que rastejava sob ele perdeu o rosto para o fogo, mas, mesmo naquele inferno, mesmo enquanto os olhos derretiam, ele continuava furioso.
Os sapatos de Cal pegaram fogo, e ele agitou as pernas para apagar as chamas. Não havia ar; seus pulmões estavam tomados por fumaça e pelo forte cheiro de carne queimada.
Houve uma explosão no carro da frente, quando seu tanque de combustível pegou fogo: a onda de choque fez a multidão voar. Era a chance dele; era agora ou nunca. Rolou para o lado, socando as pessoas no caminho, atacando olhos, gargantas, tudo que encontrasse pela frente, até que o céu se abrisse.
Já estavam sobre ele antes mesmo que conseguisse se levantar, mas ele se lançou para longe, para a fumaça, assim não o veriam. Colidiu com uma figura flamejante e empurrou-a enquanto outra explosão fazia a rua estremecer. Corria agora, um trote trôpego e arrastado, mas, caramba, era muito bom estar se mexendo. Tinha a sensação de ter escapado de seu caixão. Baixou a cabeça: nada funcionava exatamente como deveria, mas cada passo desajeitado o levava para mais longe da matilha.
Foi só quando não sentia mais o calor do fogo nas costas que arriscou se virar para trás. A rua estava um caos, com pelo menos quatro ou cinco dos carros estacionados em chamas. A fumaça era espessa demais para deixar ver algo a mais, mas Cal distinguiu uma dezena de figuras ali, corpos vestidos de fogo da cabeça aos pés, ziguezagueando em volta uns dos outros, quase se batendo, como dançarinos. Mesmo naquele momento tentavam persegui-lo, e Cal sentiu certa gratidão pela Fúria, pois aqueles seres jamais tomariam consciência do horror da própria morte. Uma criatura incandescente caiu de joelhos, e mais outra, e a dança chegava ao fim. Porém, outras figuras abriam caminho na ondulante cortina negra, silhuetas pretas de fuligem que tropeçavam na direção dele.
Mas não o alcançariam. Nem agora, nem nunca. Cal se virou, outra vez preparando-se para correr, enquanto aquela mesma voz baixinha surgia de novo em seu crânio.
Queime-os. Queime-os todos.
Rilke
Great Yarmouth, 8h52
— Queimar quem, irmãozinho?
Schiller estremeceu como se tivesse sido acordado de um sonho. Umedeceu os lábios, como se para apagar qualquer vestígio das palavras, e fitou Rilke com olhos grandes e tristes. Ainda andavam ao longo do litoral, deixando uma vasta camada de pó no caminho. Não tinham visto mais do que um punhado de gente desde a última cidadezinha, no camping. A notícia de que algo ruim se aproximava devia estar correndo.
Não, algo bom, pensou ela. Algo maravilhoso.
— Fiz uma pergunta, Schiller — disse ela. O irmão tinha começado a sussurrar aquelas palavras alguns minutos antes: queime-os, queime-os, como se recitasse um mantra. Rilke presumiu que ele estivesse falando dos humanos. Era assim que ela havia passado a chamá-los, sabendo que já não era um deles e que o propósito de sua missão era enfim compreendido por Schiller. Porém, havia algo na urgência com que ele falava, e no modo como seus olhos iam de um lado para o outro, vendo um mundo que ela não era capaz de ver, o que a fez pensar que ele escondia algo. — Queimar quem?
— Ninguém — disse ele. — Quer dizer, todo mundo. Desculpe, eu nem sabia que estava falando alguma coisa.
Ela continuou encarando-o, até ele virar o rosto e mirar a água tranquila, cor de ardósia. Ele ruminava algum pensamento, Rilke tinha certeza. Conhecia o irmão melhor do que ele conhecia a si mesmo, e havia algo dentro daquela cabecinha que ela queria que Schiller colocasse para fora.
— Schill, não vou perguntar de novo.
— Eu... — Ele chutou a areia molhada; montinhos se agarraram ao seu calçado. Em seguida, levantou a cabeça. Não havia fogo em seus olhos, mas de certo modo eles pareciam mais luminosos. — Não é nada, de verdade. Só estou cansado.
Ela abriu a boca para voltar a pressioná-lo, mas desistiu. Estavam todos cansados. Exaustos, para dizer a verdade. Schill, ela, Marcus e Jade, que caminhavam atrás com o novo garoto entre eles. Era incrível não terem todos caído duros de tanta fadiga.
— Haverá tempo mais do que suficiente para dormir — falou ela. — E um mundo inteiro no qual repousar nossas cabeças. Imagine só, Schiller, como vai ser silencioso. Como vai estar vazio.
Ele fez que sim com a cabeça, encarando os pés enquanto os arrastava pela praia. Era enfurecedor, pensava Rilke, que o irmão tivesse voltado ao seu eu de sempre. Por que não podia ser um anjo o tempo inteiro? Por que ela tinha de aguentar esses choramingos entre as exibições de fúria divina? Ela sabia o motivo: estava claro pela ausência de cabelos acima da orelha esquerda dele, no brilho ceroso da pele. Fogo demais acabaria por matá-lo.
— Mais uma — disse ela. A praia larga e arenosa levava a uma cidade, aparentemente grande. Um aglomerado de casas se estendia à direita deles, e, do outro lado, havia vários píeres e calçadões assolados por torres. — Você pode acabar com este lugar?
Schiller pareceu encolher diante da ideia, as costas encurvadas como se o mundo inteiro se apoiasse nelas. Parecia pronto a se reduzir a pó e areia. Era patético. Onde estava a criatura dentro dele? Onde estava o anjo? Rilke sentiu a raiva fervilhar e subir pelo esôfago, e por um instante enxergou tudo branco. Schiller deve ter pressentido: ele conhecia o temperamento dela o bastante para ter medo dele, e rapidamente assentiu com a cabeça.
— Então acabe.
Em algum lugar, lá longe na praia, uma pipa de um amarelo vivo focinhava o céu como um peixe faminto. Talvez a notícia não tivesse chegado tão longe quanto ela achava. Talvez as pessoas não tivessem ouvido falar de Hemsby, de Caister. Bem, logo saberiam.
O mundo irrompeu em cores quando Schiller se transformou: línguas de fogo azul e alaranjado lambendo a praia, congelando a areia úmida e espalhando um gelo parecido com seda até a beira d’água. Estava ficando mais fácil para ele, percebeu Rilke. Ele nem franzira o rosto quando as asas se desdobraram às suas costas, velas de pura energia que emitiam um pulsar ininterrupto, o qual fez os ossos dela zumbirem como um diapasão que jamais esmorecia. Os olhos dele, com o contorno avermelhado, irromperam, e a luz ali dentro era como pedra derretida, cuspindo e transbordando por seu rosto.
Schiller começou a andar — a flutuar — em direção ao mar, a luz como gavinhas de uma planta enrolando-se a partir do chão para tocar seus pés. A água fugiu dele como um gato selvagem, encolhendo-se em movimentos desesperados, sibilando e soltando fumaça. Seu fogo era frio, mas ele tentava outra coisa, algo novo. Como é, irmãozinho, pensou ela, querer que o mundo acabe e vê-lo obedecer; espreitar a essência das coisas, as órbitas giratórias de que somos todos constituídos, e arrancá-las de nosso interior?
Schiller abriu a boca e pronunciou algo que não era uma palavra, mas poderia acabar com o mundo. Ela não viu, mas ouviu, ou, melhor, sentiu, porque o som da voz dele era tão descomunal que os ouvidos dela quase não eram capazes de registrá-lo, como quando um órgão de igreja toca uma nota subsônica. Mas aquilo crepitava dentro de sua cabeça, de seu estômago, dentro de cada célula, forçando-a a ficar de joelhos.
O mar se levantou, um paredão d’água espesso como pedra, tão imenso e tão repentino que Rilke deu um grito. A vertigem atingiu-a como um soco no estômago: a visão do oceano suspenso, o murmurar insuportável de um bilhão de litros de água erguidos contra a vontade, era demais. Precisou desviar os olhos, encolher-se, sem conseguir impedir os gritos que se desatavam de seus lábios. O chão tremia, e ela esperava que ele se abrisse, se desintegrasse ao toque de Schiller e os imergisse em trevas.
O paredão de água emitiu um ruído como o de um milhão de trovões estrondando ao mesmo tempo, a areia tão agitada que saltou meio metro. Não ver era pior do que ver, e Rilke espiou com os olhos semicerrados, vendo Schiller, seu menino incandescente, de pé diante da onda, que se erguia acima dele cinquenta, cem metros... Era impossível dizer. Um ou outro dedo de luz solar jorrava através dela, colorindo a água com um tom que Rilke jamais vira, um verde profundo e enraivecido, com pontos que poderiam ser peixes, barcos, pedras ou pessoas. O mar se revirava, se enfurecia, uivando de raiva com a maneira como Schiller o tratava, mas nada podia impedi-lo.
Schiller virou-se, a boca ainda aberta, ainda falando naquele sussurro surdo, embora ensurdecedor, insuportável. Em seguida, ergueu as mãos para a cidade, e tirou a coleira de seu novo bicho de estimação. A água afluiu ao lado dela, acima dela, um túnel de ruído e movimento que parecia não ter fim.
Mas terminou. A agitação e os estrondos pouco a pouco cederam, deixando restar apenas um zumbido no ouvido de Rilke. Ela levantou o rosto e viu a praia arruinada, despojada de areia até a pedra branca feito osso, e, além, uma linha negra e turva apagando o horizonte em movimentos frenéticos e desesperados, deixando rastros de espuma que tentavam alcançar o céu. Ouviu-se outro som atrás dela: a explosão sônica do oceano deslocado preenchendo o espaço criado por Schiller. O oceano chicoteava e cuspia na direção deles como se quisesse vingança, mas deteve-se contra a bolha invisível de energia que os cercava.
Foi como se mil anos houvessem passado antes que o mar se aquietasse de novo, sua cólera transformando-se em uma descrença silenciosa e perplexa. Rilke tentou ficar de pé, o chão inquieto espalhando-se sob ela, fazendo-a perder o equilíbrio. Schiller não deu sinal de voltar a ser o menino, pairando diante dela, aqueles olhos como dois portais observando o restante do tsunami ser absorvido pela terra.
— Muito bem, Schiller — disse ela, e, antes que percebesse, uma risadinha escorregou de sua boca. Olhou para trás para ter certeza de que os outros ainda estavam ali; Marcus e Jade devolveram seu olhar, os olhos arregalados, e ela se perguntou o quanto deles permanecia intacto; se haveria mesmo algo dentro da cabeça dos dois para que os anjos possuíssem. — Prontos para caminhar?
Marcus concordou com um gesto lento de cabeça, como se cada movimento exigisse a última gota de sua inteligência. Jade nem respondeu.
— Vamos para longe daqui — disse ela, enfim conseguindo levantar-se. — Vamos achar um lugar para descansar. Acho que você merece, Schill.
Ele ergueu a cabeça, os olhos derretidos fixos nela. E ela se perguntou quanto controle ele tinha. Não sobre a terra, porque já estava claro pelo que tinha acontecido, mas sobre ela. Ela o havia treinado bem ao longo dos anos, como se treina um cão para saber quem está no comando. Porém, quantos cães, se soubessem que são mais rápidos, mais fortes, mais mortíferos que os donos, continuariam a se deixar dominar? Por favor, pensou ela, enviando a mensagem para um lugar bem profundo dentro de si, para a parte da alma que seu anjo ocupava, venha logo, porque não vamos controlá-lo para sempre. E o que aconteceria então? Qual seria seu destino se Schiller se voltasse contra ela?
Ela o observou flutuar e, pela primeira vez, perguntou-se com quem ele estaria falando — queime-os —, e, mais importante, de quem estaria falando. E, ao fazer isso, deu-se conta de que, pela primeira vez na vida, estava com medo do irmão.
Brick
East Walsham, 9h03
Não eram as explosões que o preocupavam, e sim a suave movimentação dentro da igreja. Brick balançou a cabeça para mandar o torpor para longe após perceber que quase adormecera na imobilidade incomum do átrio. Seu cansaço era como estar vestido com um paletó de chumbo, que o empurrava para baixo, cada movimento cem vezes mais difícil do que deveria ser.
O ruído voltou, rápido, baques que ecoavam parecendo ser passos. O garoto apoiou uma das mãos contra a parede e se esforçou para ficar de pé, esfregando os olhos até que pontos de luz dançassem à sua frente. Havia outra porta na extremidade oposta àquela pela qual tinham entrado, igualmente antiga, igualmente sólida. Estava uns três ou cinco centímetros entreaberta, uma corrente de ar fresco passando pela fresta.
Uma explosão distante ribombou pela pedra ancestral. Mas que droga era aquilo? Parecia que alguém estava bombardeando a cidade. É Cal, pensou Brick. É o som da morte dele. Mas ele não tinha sentido a morte de Cal, como tinha sentido a de Chris, por exemplo, no campo ao lado de Fursville: aquela súbita angústia interior, como se um pedaço dele tivesse sido arrancado. Talvez, então, estivesse vivo — por favor, por favor, por favor —; talvez Brick não estivesse sozinho.
Por um instante, cogitou deixar Daisy onde estava, apoiada contra a porta, mas desistiu da ideia. Havia a possibilidade de ter de sair logo dali. Ela parecia tão morta. Adam sentou-se ao lado dela e encarou Brick com uma expressão que era metade medo, metade ódio. Bom, que o garoto se danasse; não era trabalho dele deixá-lo feliz. Adam não tinha nem ajudado a carregar Daisy. Não tinha feito nada.
Brick foi até a porta e espiou a penumbra do outro lado. Divisou umas colunas de pedra e a última fileira dos bancos de madeira, mas foi só. Havia vitrais enormes, mas pareciam reter o dia do lado de fora, apenas um fio de luz cor de vômito conseguindo entrar. Os santos de vidro, ou o que quer que fossem, encaravam Brick com olhos pétreos, e ele quase esperava que começassem a avisar a qualquer momento: Tem alguém aqui, tem alguém aqui! Usou um joelho para abrir a porta, entrando na igreja.
Era maior do que parecia do lado de fora, muito maior. Devia haver quinze fileiras de bancos até o altar. Aquilo ali fedia a frio, pedra, umidade e séculos sem fim. Brick franziu o nariz, esperando ouvir gritos, esperando que uma criatura viesse correndo dentre os bancos, querendo seu sangue. Ou talvez ali as coisas fossem diferentes. Afinal, era uma igreja. Não se podia dizer que Brick fosse alguém que tivesse fé, mas sempre mantivera a mente aberta. É que parecia meio idiota presumir qualquer coisa se não havia um jeito de saber ao certo, pelo menos não antes de morrer. Então, talvez Cal tivesse razão e fosse ali que encontrariam respostas.
Algo moveu-se à frente, uma figura escura, no espaço atrás do altar. Ela se arrastou para um lado, o som de pés passando sobre pedra, e o estômago de Brick quase subiu pela garganta e saiu pela boca. Aquilo o fez pensar em Lisa — não pense, não pense nela — presa no porão, um mero saco de ossos quebrados no chão, ainda tentando atacá-lo, ainda tentando feri-lo. A figura tossiu e, para total alívio de Brick, falou.
— Olá? — A voz parecia ter tanta idade quanto a igreja. — Posso ajudar?
— Não se aproxime — disse Brick. — Fique exatamente onde está.
— Como? — A figura aproximou-se do altar, adentrando um facho de luz turva e multicolorida, revelando a roupa preta de um sacerdote, o colarinho branco. Era um homem roliço, de mais idade, completamente careca e de óculos, os quais tirou, limpou na manga e pôs de volta.
— Estou falando sério — disse Brick. — Fique aí.
— Não sei quem você pensa que é, meu rapaz, mas não gosto que falem assim comigo. — O sacerdote deu um passo desafiador, afastando-se da plataforma, e Brick ergueu Daisy contra o peito.
— Mais um passo, e juro por Deus que vou fazer mal a ela — falou, sem saber o que mais poderia fazer. — Vai, pode me testar. Mas, se alguma coisa acontecer, a culpa é sua.
Percebia o tremor de desespero na própria voz, e o sacerdote também deve ter percebido, porque ergueu as mãos e recuou para o altar. Havia uns bons vinte e cinco ou trinta metros entre eles. Desde que ninguém cruzasse a linha invisível da Fúria, os dois se dariam muito bem.
— Sente-se — disse Brick.
O homem ofegou ao abaixar-se até o degrau mais alto.
— Hoje em dia, isto não é tão fácil para mim — disse ele, com uma risada nervosa. — Mas levantar é que é difícil mesmo.
— Então não se levante — retrucou Brick. — Tem mais alguém aqui?
— Só eu — respondeu o sacerdote, balançando a cabeça. — Margaret tira folga na segunda; ela vai a Norwich ver nossa filha, nossos netos. E...
— Melhor não mentir para mim — disse Brick.
— Não estou mentindo.
A última fileira de bancos estava bem na frente dele, e Brick depositou Daisy em um deles. Ali, cercada de pedra, ela parecia ainda mais fria do que antes.
— Sente-se ali — disse ele a Adam, apontando o espaço ao lado dela. — Não diga nada. — O menino obedeceu, e Brick envolveu-se com os próprios braços, tentando conter o tremor. Se o sacerdote estivesse falando a verdade, então estariam em segurança ali, ao menos por ora.
— Está tudo bem com ela? — perguntou o homem. — Com a menina? Ela parece doente. Se quiser, posso dar uma olhada nela. Eu era médico, muitos anos atrás, antes de encontrar a fé. Fui médico no exército.
Essa última palavra foi pronunciada com um tom que pareceu de advertência, mas Brick ignorou-a. Andava de um lado para o outro atrás dos bancos, tentando esboçar um plano. Se Cal estava morto, cabia a ele descobrir o que fazer a respeito de Daisy e Adam, e de Rilke e seu irmão, e também do homem na tempestade. A ideia de que aquilo tudo dependia dele bastou para fazer seu coração ficar do tamanho de uma uva-passa e cair no poço de seu estômago. Ele bateu na testa com a palma da mão.
— Qualquer que seja o problema — disse o sacerdote —, deixe- -me ajudar.
— Calado! — disse Brick, apontando a cortina decorativa suspensa atrás do altar, borlas de corda pendendo de cada lado. — Preciso que você se amarre. Use aquilo.
— Meu rapaz, por favor...
— Rápido, antes que eu perca a cabeça! — O sacerdote fez menção de se levantar, e Brick quase guinchou para ele. — Não mandei se levantar!
Calma, pelo amor de Deus, ele é só um velho, não vai fazer mal a você. A menos que chegasse perto demais, claro; nesse caso, partiria para cima de Brick com aquelas mãos enrugadas e abocanharia sua garganta com a dentadura. Sim, estava sendo mais grosseiro do que nunca, mas não podia arriscar. Observou o sacerdote inclinar-se para trás e soltar as cordas, tendo dificuldade para atar os punhos.
— Um momento — disse Brick. — Amarre a corda no altar primeiro. Ao balaústre ali. Só um punho basta, não se preocupe com o outro.
O homem fez como ele mandou, dando a volta na estaca de madeira do balaústre antes de atá-la com firmeza em volta do punho esquerdo. Deu um safanão para mostrar que estava apertada, e em seguida deu de ombros para Brick.
— Mais um nó.
— Se estiver em dificuldades, sempre existe uma saída — disse o sacerdote, obedecendo às ordens. — Por favor, rapaz, permita que eu ajude você, que eu ajude a menina, antes que as coisas saiam do controle.
— Saiam do controle? — disse Brick, com uma risada amarga. — Cale a boca um instante! Preciso pensar.
— Isso tem a ver com o ataque? O ataque em Londres?
— Ataque? — perguntou Brick. — Do que é que você está falando?
— Você não sabe? Passou no noticiário a manhã inteira. Houve um ataque terrorista na zona norte de Londres, uma espécie de bomba. Coisa grande. Ainda estão tentando entender o que foi. Estamos todos com medo, mas vamos passar por essa juntos.
Brick levou um instante para entender. Não era uma bomba, mas uma tempestade, e um homem dentro dela que queria devorar o mundo. Não respondeu; limitou-se a enxotar as palavras do sacerdote como faria com um inseto. Prioridades. A primeira coisa que precisava fazer era comer algo. Depois que houvesse comida em sua barriga, e também um pouco de água, poderia pensar direito.
— Pelo menos me diga seu nome — disse o sacerdote. — E o nome dos seus amigos. O meu é Douglas. Pode me chamar de Doug.
— Tem alguma comida aí, Doug? — perguntou ele.
— Na igreja, não, Margaret não deixa. Mas tem bastante na casa paroquial, do outro lado do pátio. Se me deixar sair daqui, ficarei contente em mostrar onde é.
— Você fica aí — disse Brick, agarrando as costas da camiseta de Adam e colocando-o de pé. — Vou levar o menino e, se eu voltar e você tiver se mexido, juro por Deus que vou fazer uma coisa ruim. Fui claro?
Sentia-se um ladrão de banco mantendo reféns, e odiou a si mesmo por isso, mas que escolha ele tinha? Já estava correndo um risco enorme ao deixar Daisy, porque, se o sacerdote se livrasse da corda e tentasse ajudá-la, acabaria fazendo a menina em pedacinhos.
— Vou perguntar de novo: fui claro?
— Sim — respondeu Doug, anuindo com a cabeça. — Não vou me mexer. Estou do seu lado, rapaz, o que quer que esteja tentando fazer. Está tudo na cozinha; a porta da frente está aberta, a gente nunca tranca.
Brick deu uma última olhada em Daisy e, em seguida, partiu, puxando Adam ao lado pelos cabelos da nuca. O garotinho tentava se soltar sem tanta vontade assim, fazendo tanto alarde que Brick só ouviu o barulho de passos quando a porta da igreja começou a se mover para dentro. Ele recuou, quase caindo em cima de Adam. A luz do sol concentrou-se em uma figura, fazendo reluzir o sangue nas roupas e na pele, transformando-a em mais um santo de vitral com bolsões de pedra no lugar dos olhos. A figura cambaleou para dentro da igreja, arrastando consigo um miasma de fumaça.
— Cal?
O garoto tropeçou, quase caindo, e Brick pegou-o desajeitadamente por baixo dos braços. Arrastou-o para dentro da igreja, amparando-o até que ficasse sentado contra a parede dos fundos. Marcas de arranhões cobriam seu rosto como veias, cobriam também o pescoço e os braços, e os tênis estavam pretos e deformados, como se tivessem sido queimados.
— Cal? Pelo amor de Deus, está tudo bem com você?
Era uma pergunta idiota, mas, depois de alguns segundos, o olhar incerto de Cal enfim se fixou em Brick, e ele assentiu com um movimento. Abriu a boca, enunciando uma percussão de notas secas do fundo da garganta.
— Tudo... Tudo bem. Frio?
— Hã?
— Eu estou frio? — perguntou Cal, os olhos como um poço de medo.
Brick entendeu o que ele estava perguntando e pousou a mão em sua testa. A pele estava quente.
— Não, você está fervendo.
Cal soltou um suspiro de alívio, bolhas de sangue estourando nos lábios rachados.
— Água... Preciso de água, cara.
— Sim, claro. Como está lá fora? Estamos em segurança?
Cal fez que sim com a cabeça.
— Melhor estarmos mesmo. — Foi tudo o que Brick conseguiu dizer. Depois endireitou as costas, perguntando-se se deveria pegar com a mão um pouco de água benta ou algo assim, antes de concluir que isso traria azar. E azar era a última coisa de que precisava agora. Foi até o átrio e apontou um indicador para o sacerdote. — Volto num instante. Se tentar fugir, ele vai fazer mal a você, entendeu?
Cal não parecia estar em condições de fazer mal nem a uma mosca, mas o velho parecia resignado com o fato de que ficaria ali por bastante tempo.
— Adam, sente-se e não se mexa. — Brick completou.
Foi até a porta e espiou pela fresta. A luz do sol derramava-se sobre as árvores, compondo uma iluminação dourada digna de uma discoteca na grama e nos túmulos por ali, embora o cemitério estivesse deserto. Não havia nada à frente além da rua, por isso partiu para a direita, unindo-se à parede coberta de liquens da igreja, virando no canto e vendo outra construção bem perto. Também era feita de pedra, com janelas de metal e telhado de palha. Parecia ter saído de um conto de fadas.
Verificando mais uma vez se a barra estava limpa, correu pelo cemitério, virou a maçaneta da construção e entrou. Ali estava quase tão frio quanto dentro da igreja, mas havia um odor no ar, de uma espécie de sabão, que o fez pensar na mãe, morta havia muito tempo, enterrada em uma igreja exatamente como aquela, perto de King’s Lynn, onde a família dela morava. Era doloroso demais pensar naquilo, então expulsou os pensamentos da mente, usando a raiva para enxotá-los, como sempre fazia.
A cozinha era pequena, mas fácil de achar. Havia uma cesta de pão na mesa, e ele pegou uma fatia, branca e macia. Enquanto a mastigava, abriu a geladeira, tirando um pouco de presunto e uma fatia de cheddar. Engoliu tudo, um gole de leite ajudando a comida a descer. Havia uma garrafa de cerveja Golden Badger no fundo da geladeira, e ele a pegou, arrancando a tampa na beirada do balcão. Nunca tinha sido de beber muito — havia visto o que a cerveja e o uísque barato tinham feito com o pai —, mas havia certas ocasiões que exigiam álcool. Aniversários, casamentos, e ser possuído por anjos que querem que você salve o mundo de uma genuína força maléfica.
Sorveu dois goles profundos e longos, deixando a mente ficar quieta e silenciosa. Meu Deus, qual fora a última vez que tinha feito aquilo? O silêncio era tão avassalador que chegava a dar nos nervos, beirando a ameaça, e ele se endireitou, limpando a garganta e dando mais um gole na cerveja espumosa. Precisava de água.
Andou até a pia, notando a TV portátil sobre o balcão. Talvez devesse ver o noticiário. Se aquilo, o homem na tempestade, estava realmente em Londres, e achavam que se tratava de um ataque terrorista, aquilo estaria sendo transmitido o tempo todo, em todos os canais. Levou o dedo até o botão de ligar, mas parou na metade do caminho. Será que queria mesmo ver aquilo? Queria mesmo ver aquela coisa que eles deveriam encontrar e combater? Até agora, o homem na tempestade — palavras de Daisy, ele sabia, mesmo que nunca as tivesse dito — estava só na sua cabeça. Vê-lo na tela o tornaria real.
Manteve a mão erguida por mais um instante, depois apertou o botão. Era uma TV antiga, que precisou de alguns segundos para esquentar, a tela cinza pouco a pouco dando lugar a um programa infantil. Um pinguinzinho com um bico laranja engraçado andava de moto em volta de um iglu, buzinando. Aquilo era boa notícia, não era?
Apertou o botão para passar os canais, e era como se a televisão fosse uma barragem que acabara de se romper, com um milhão de toneladas de água imunda jorrando da tela, inundando a cozinha, a casa paroquial, o cemitério e tudo o mais, enchendo o nariz, a boca e os pulmões de Brick. Ali ele viu, em meio às trevas, as imagens granuladas de um vasto vórtice giratório de fumaça e detritos, suspenso sobre a cidade, acima dos arranha-céus; viu as nuvens de matéria espiralando, todas sendo sugadas para o centro da tempestade, para...
Havia um homem ali, só que não era um homem. Como poderia ser? Era grande demais, o corpo do tamanho de um prédio, mas ali estava ele, a boca sendo o núcleo daquela abominação, o ponto de não retorno ao centro do buraco negro. Mesmo àquela distância, mesmo na telinha da TV, Brick sentiu a força daquela coisa, a genuína e incansável força daquela coisa que ia desintegrando o mundo pedaço por pedaço.
Caiu de joelhos, a garrafa escorregando da mão, esquecida. E, de algum modo, de um modo inacreditável, o homem na tempestade pareceu vê-lo ali, encolhendo-se naquela cozinha, porque seus olhos sem vida giraram nas órbitas, enchendo-se de algo que não era riso, não era loucura, não era júbilo, mas sim uma combinação de tudo isso. Ele olhou para Brick e falou, uma voz perdida em meio ao estrondo do furacão, abafada pelo ribombar de sua fúria; uma voz que não falava língua nenhuma que existisse na Terra; mas uma voz que ele compreendia com total facilidade, porque era como se houvesse se infiltrado em seus ouvidos e soprado as palavras espinhosas diretamente em seu cérebro.
Você chegou tarde demais.
O Outro: II
Se eu acaso morrer, de mim pensai somente:
há um recanto, numa terra estrangeira,
que há de ser a Inglaterra, eterna, eternamente.
Rupert Brook, “O soldado”
Harry
Londres, 9h14
O estômago do capitão Harry Botham virou do avesso, como sempre virava na hora da decolagem, mas já tinha voltado ao normal quando Harry manobrou o helicóptero, tirando-o da Base Naval de Portsmouth. O monstruoso motor Rolls-Royce do Apache rugia, e o estrondo das hélices se tornou tão habitual quanto batimentos cardíacos conforme o chão encolhia e o céu se abria.
— Coordenadas no sistema — disse Simon Marshall. O atirador estava sentado à frente e abaixo dele, mas sua voz vinha dos fones de ouvido no capacete de Harry. — Norte. Em vinte minutos estaremos lá.
Harry verificou o monitor de alerta e puxou o acelerador, levando a máquina a mil pés e a duzentos e noventa quilômetros por hora. A luz se derramava na cabine como ouro líquido, o visor escurecendo automaticamente para anular o ofuscamento. Dois pontinhos apareceram no radar, movendo-se rápido, e logo depois um par de caças da Royal Air Force zuniu acima. Seus rastros eram a única mácula contra o azul, em um dia de verão absolutamente perfeito. Dias como aquele eram raros, mesmo no verão — Harry estava inclusive tomando um pouco de sol quando fora chamado. Por mais que ele gostasse de voar, não teria reclamado de algumas horas a mais de folga.
— São os chineses, estou dizendo! — disse Marshall, lendo a mente dele. — Enfim decidiram que querem mandar no mundo.
Harry deu uma fungada.
— Não seja tolo — respondeu, a voz sendo transmitida para os próprios ouvidos e soando como se não fosse real.
— Mas o que é isso, então? — disse o outro. — Um exercício?
— Falaram que não era um exercício — respondeu Harry. Seu superior tinha deixado isso muito claro, mas as instruções apressadas do homem não haviam dado mais informações além de que algo acontecia em Londres. Algo importante. — Provavelmente terroristas. — Harry deu de ombros.
— Eles que se preparem para a minha chegada! — disse Marshall, dando um tapinha no painel de controle.
Harry sorriu. O Apache estava com carga completa: uma metralhadora de trinta milímetros sob a fuselagem, capaz de despejar seiscentos e vinte e cinco tiros por minuto, e uma bela combinação de mísseis Hydra e Hellfire nos pilones. O que quer que os aguardasse, estava prestes a voar em pedaços.
Mas por que ainda havia um vestígio de desconforto no estômago dele, desconforto que não tinha nada a ver com o movimento do helicóptero? Havia passado dois períodos servindo no Afeganistão, e nunca se sentira assim, nem quando fora abatido por uma granada lançada por um foguete em Helmand e precisara fazer um pouso forçado. Naquela ocasião, a adrenalina sugara cada gotícula de medo do organismo dele, transformando-o em uma máquina. Agora era diferente: ele se sentia humano demais, vulnerável demais. Talvez porque sobrevoasse a pátria, vendo os campos e as cidadezinhas da Inglaterra flutuando abaixo como detritos em um rio lento e esverdeado. Talvez fosse porque voasse para Londres, a cidade onde vivera. Engoliu mais ar, subitamente desconfortável no assento.
Tudo o que lhe haviam dito confirmava que ocorrera uma espécie de ataque à capital. A ordem de partir para o combate viera do próprio general Stevens, o que era um indício da gravidade do que quer que houvesse acontecido. Aquele cara só saía da cama por uma guerra mundial.
— Identificar e interceptar o alvo — ele havia dito pelo rádio. E pronto: eram essas as ordens, cinco palavras que Harry deveria obedecer, mesmo que isso significasse arriscar sua integridade física.
— Não cabe a nós entender por quê — falou para Marshall, lembrando o único poema que tinham decorado. Todos no pelotão dele o haviam decorado.
— A nós só cabe agir e morrer — concluiu Marshall. — É isso aí!
Harry verificou as coordenadas e deu um leve toque no manche para recolocar a máquina na trajetória correta. Sobrevoavam Guildford, a um ou dois minutos da autoestrada M25. O Apache ia comendo os quilômetros.
— Opa! — disse Marshall. — Mas que...
Harry mirou através da janela estreita, para além do leque de cores do monitor de alerta. Algo dominava o horizonte, um punho de fumaça negra. Uma turbulência fez o helicóptero oscilar, e Harry teve a súbita impressão de que aquele punho cerrado, com suas falanges, sacudia o mundo, tentando tirá-lo do eixo. Checou sua posição: ainda a mais de trinta quilômetros do objetivo, certamente longe demais para contato visual. Outra vez sentiu as vísceras revirarem, a mão tendo espasmos querendo dar meia-volta no helicóptero. Precisou forçar-se a continuar.
— Aquilo é... Aquilo deve ser gigante, Harry.
— Base, estamos vendo o objetivo — disse ele, sabendo que o centro de comando tinha uma linha aberta com o helicóptero. — Parece uma explosão. Como proceder?
Ouviu-se um sibilo agudo de estática, e em seguida a voz do subcomandante se fez ouvir:
— Como ordenado, capitão. Investigar e interceptar. Manter um perímetro de oito quilômetros. Não sabemos que perigo essa coisa representa.
— Entendido — disse ele, desacelerando o Apache e levando-a para dois mil pés. O que quer que estivesse lá embaixo, queria chegar o mais alto que podia sem entrar no espaço aéreo da Força Aérea Real. Nada o mataria mais rapidamente do que uma colisão em pleno ar com um caça. — As armas estão prontas?
Outra pausa. Em seguida:
— Armas prontas.
Harry sentiu a pele esfriar e formigar. Qualquer esperança de que aquilo fosse um exercício tinha acabado de ser extinta: não havia a menor chance de que deixassem as armas prontas para disparo acima da maior cidade da Europa a menos que aquilo fosse para valer.
A janela dianteira era tomada cada vez mais pela fumaça, tão espessa e escura que uma montanha de granito parecia brotar da cidade. Não, parecia mais que alguém tinha cortado um pedaço do céu. O visor polarizado compensava a falta de luminosidade, mas, mesmo assim, Harry se viu inclinando-se para a frente no assento, tentando entender o que enxergava.
— Não tem nada aqui — disse Marshall, a voz sussurrada no ouvido de Harry. — Meu Deus, não tem nada aqui.
Claro que tem alguma coisa, pensou Harry. Tinha de haver, com toda aquela fumaça. Só que não era fumaça, percebeu ele ao chegar mais perto. Eram coisas. Era uma nuvem espiralada de matéria: havia ali prédios, desfazendo-se em pedaços ao serem sugados para cima. Ele distinguiu figuras reluzentes que poderiam ser carros, e outras menores, mais escuras — não gente, não pode ser gente —, que se retorciam e se debatiam ao se erguer. O furacão girava incansavelmente, em um raio de oito quilômetros, talvez, sugando tudo para...
O que era aquilo? Havia uma forma distinta em meio ao caos. Tudo espiralava em volta dela, tal qual a água suja de um banho dando voltas em torno do ralo; ela disparava dedos de relâmpago que eram escuros, e não brilhantes, deixando imensas cicatrizes negras nas retinas de Harry, que não piscava. Não ousava fechar os olhos nem por um instante, caso aquela coisa, aquele pesadelo inacreditável, viesse atrás dele. Apenas encarava o ser no centro da tempestade — porque era isso que era: um homem. Enorme, sim, e deformado, como se seu corpo fosse um balão que fora inflado até ficar irreconhecível, mas, ainda assim, inconfundivelmente, humano. E o pior era a boca dele, vasta e escancarada, inspirando tudo com um uivo infindo que podia ser ouvido mesmo com os motores do helicóptero em ação.
Harry vomitou antes que percebesse, tirando o bocal bem a tempo, o café da manhã atingindo a tela de vidro reforçado que o separava do atirador. O helicóptero virou com força, e o chão foi se avultando na janela direita.
— Caramba, Harry! — gritou Marshall, e Harry percebeu que havia soltado o manche. Pegou-o, reequilibrou o Apache e o deixou imóvel, limpando a boca com a mão livre. Cuspiu uma bola de ácido, o corpo inteiro encharcado de suor e o estômago retorcendo com violência.
Houve um lampejo de trovão quando um caça passou por cima: era o sibilar de dois mísseis Sidewinder sendo disparados. Os mísseis se precipitaram contra a noite matutina, colidindo com o centro da tempestade. Uma explosão borbulhou do caos, a onda de choque fazendo o helicóptero balançar. Mas o fogo não durou, sugado para dentro da imensa e sombria garganta do homem e, então, foi extinto. Na verdade, pareceu até fazer o tornado girar mais rápido, com mais vigor, se despregando mais do chão e sendo levado pelo vórtice. E o homem continuava ali, seus olhos como dois poços de breu a fervilhar, a boca sugando tudo o que podia.
— Fogo! — gritou Harry, sentindo a loucura se esgueirar no fundo da mente. Tinha de destruir aquela coisa, não para salvar Londres, mas porque compreendia que, se precisasse olhá-la por mais tempo, seu cérebro entraria em curto-circuito. — Fogo, cacete!
Marshall não hesitou, mandando ver na metralhadora. Um chacoalhar ensurdecedor preencheu a cabine, e as rajadas abriram caminho em direção ao homem na tempestade. O fogo rasgou um pouco da cortina de detritos em espiral antes de achar o alvo, mas as balas de trinta milímetros desapareceram no morticínio. Ouviu-se um sibilar baixinho, e o helicóptero balançou quando quatro mísseis foram disparados. Harry contou os segundos — um, dois, três — antes que uma bola de ouro ondulante acendesse. Outra vez a explosão foi engolida, tragada pela cavernosa boca do homem, junto com a constante torrente de detritos. Marshall tentou mais uma vez, esvaziando a munição do Apache e transformando o céu em fogo.
— Não está funcionando! — disse o atirador.
Harry, porém, não ouvia. A fumaça se dissipava, e percebia-se que mais do mundo tinha sido extinto. Não era só a escuridão, o modo como as coisas sumiam na falta de luz; era o nada. Era o vazio total. Só de olhar aquilo a cabeça doía, porque não havia como compreender o que se via. Aquilo simplesmente não fazia sentido.
— Harry, tire a gente daqui! — gritou Marshall. Ele tinha se virado, com os olhos esbugalhados. — Harry!
Algo estourou, como um tiro de canhão, e o helicóptero começou a descer lentamente. Harry precisou de um instante para se dar conta de que era a mudança de pressão, com o ar sendo tragado pela tempestade. Estavam mesmo sendo sugados por ela, presos ao fluxo, com alarme demencial do helicóptero martelando no fone de ouvido. Marshall batia no vidro que os separava, mas Harry não conseguia despregar os olhos da janela. O helicóptero se inclinava para baixo, dando-lhe uma visão perfeita das ruas. Elas se fendiam, dissolvendo-se como esculturas de areia ao vento. Prédios, carros e pessoas, todos explodiam em pó, sendo sugados pelo furacão.
— Harry, por favor! — disse Marshall.
Harry sentiu o helicóptero resistir. Ele se virava devagar, os motores protestando, mas a força que os puxava era intensa demais. Parecia um barco indo para uma cachoeira. Não, parecia mais uma nave espacial sendo atraída para um buraco negro. Não havia nada que pudessem fazer, percebeu. Era o fim.
— Não cabe a nós perguntar por quê — disse ele.
O Apache balançava com tanta violência que a cabeça dele bateu no teto da cabine. O metal rangeu, e, em seguida, os rotores soltaram-se acima, girando para a escuridão. Marshall gania, e Harry arrancou o capacete, subitamente afogando-se no uivo da tempestade e na inspiração infinda do homem suspenso.
— A nós só cabe agir e morrer — prosseguiu ele, agora mais alto. — Não cabe a nós entender por quê, a nós só cabe agir e morrer — repetiu de novo e de novo, como um cântico, uma prece, enquanto a frente do helicóptero começava a se desfazer, espatifando-se em pedaços como um modelo em miniatura.
Depois foi a vez de Marshall, seus braços, pernas e cabeça se soltando, tudo suspenso contra o fundo negro do céu. Harry olhou para baixo e percebeu que não estava mais no helicóptero. Pedaços dele flutuavam à sua volta, suspensos na turbulência, uma milha acima do chão que ia sumindo. Tinha sonhado com isso quando criança, noite após noite — sonhado que podia voar. A lembrança apagou o medo, e, mesmo que estivesse vendo a própria carne começando a se desintegrar, camadas rosadas e depois avermelhadas, ele sorriu.
— Não cabe a nós entender por quê — disse, os lábios retorcidos.
Em seguida, sua mente rompeu-se em meio a um ruído límpido e à luz negra, e tudo o que era Harry Botham foi tragado pelo abismo.
Graham
Londres, 9h24
O pior de tudo era o barulho. Realmente ensurdecedor. Não ouvia as pessoas gritando, nem os motores ligados, tampouco o alarme dos carros ou a batida de metal contra metal nos cruzamentos, nem mesmo as explosões. Havia apenas a tempestade, um estrondo perpétuo que fazia as ruas tremerem, como se a cidade fosse uma coisa viva, com tremores permanentes de terror. O barulho era tão alto que Graham, ao atravessar a cidade, não vira mais do que meia dúzia de janelas ainda intactas, o vidro arrancado dos caixilhos pelo pulsar sônico vasto e ribombante que martelava as ruas. O pulsar produzia o mesmo efeito em seu cérebro, como se o som fosse algo sólido e vibrante, que buscasse a frequência correta para partir seus ossos e deixar seus miolos esparramados pela calçada.
Abriu caminho por uma multidão de turistas fugindo na direção oposta, e depois virou rumo a Millbank. Por um instante, surgiu, no espaço entre os prédios, uma imensa massa giratória que se enroscava e se espiralava em torno de um núcleo de trevas. Dali, a dezesseis quilômetros de distância, parecia algo entre uma nuvem de bomba atômica e uma tempestade; o céu estava inacreditavelmente escuro, como se um pedaço da noite tivesse se soltado e despencado em Londres. Porém, nas lacunas entre os detritos, e em meio aos náufragos de sua cidade, viu algo pior do que a escuridão. Viu os fragmentos extintos do mundo.
Alguma coisa acontecia ali, naquelas brandas explosões que se detonavam no meio da tempestade. Havia caças no céu, e também helicópteros, sendo tragados para o buraco como brinquedos em um rio. Graham virou a cabeça para frente e se concentrou no lugar para onde estava indo. Tinha levado — quanto tempo? — quase quatro horas para fazer o percurso de casa até Millbank. Precisara andar. A cidade estava atulhada de gente tentando fugir, ninguém indo na mesma direção. Todas as principais estradas estavam totalmente paralisadas por acidentes; os trens e o metrô estavam fechados — por isso as pessoas precisavam se deslocar a pé. Tinha a sensação de ter enfrentado cada um dos oito milhões de habitantes de Londres só para chegar a Thames House. Primeiro fora até Whitehall, onde ficava a Unidade de Contraterrorismo, mas Erika Pierce não mentira para ele: não havia ninguém ali. O MI5 era, na lógica, o próximo lugar a ser visitado, mas tinha a horrenda sensação de que, ao chegar lá, também não encontraria ninguém.
Todos fugiram, e você também deveria fugir, porque ela vai devorar você; a tempestade vai devorar você. Sabia que essa era a verdade; sabia que deveria se virar e ir embora. Tinha telefonado para David três horas antes e falado para ele ir para o sul; se possível, para fora do país. Com um pouco de sorte, David já teria chegado ao litoral e poderia cruzar o Canal e chegar à França. Ou talvez tenha ido para o outro lado, talvez tenha ficado preso e sido levado pela tempestade. Talvez esteja agora mesmo circulando o buraco, ou perdido dentro dele. E a ideia de David sendo tragado para o nada, sendo apagado como uma chama, sua essência se extinguindo, fez Graham ter vontade de morrer. Poderia ir também, telefonar no caminho, encontrá-lo em Calais e limitar-se a sobreviver. Faça isso, apenas faça isso.
Afastou as palavras, virando a esquina e vendo o rio bem à frente. Até a água estava agitada, as vibrações fazendo-a se espiralar e formar redemoinhos, cuspindo sujeira e impregnando o ar com o fedor do esgoto. O ruído era mais alto ali, ecoando de um lado a outro dos prédios sobre o aterro. Parecia uma vasta turbina sugando cada restinho de ar para dentro do motor. E, no entanto, também parecia outra coisa. Soava como trombetas, como um milhão de sirenes de guerra sendo sopradas nos céus acima de sua cabeça.
Era o som de Londres sendo digerida em vida.
Correu os últimos cem metros até Thames House e encontrou as portas principais abertas e desobstruídas. Não havia ninguém no saguão, só uma chuva de papéis no piso de mármore. Ao menos as luzes estavam acesas. Por sorte, o prédio tinha o próprio gerador de energia — aliás, vários —, porque, pelo que Graham via, a cidade estava às escuras.
Entrou no primeiro elevador usando seu cartão-chave da unidade antiterrorismo para ativar o painel de controle. Se ainda houvesse alguém ali, estaria no bunker do centro de controle de emergência: um procedimento-padrão em caso de ataque. Contou os segundos enquanto o elevador descia, perguntando-se até que ponto iria o poder dessa tempestade, já que podia ouvi-la reverberar tão abaixo da superfície, no balançar daquele elevador, na vibração ganida dos cabos de metal.
A porta deslizou para o lado e revelou a vasta sala sem divisórias. De início, Graham confundiu o movimento constante com gente, mas logo percebeu que eram apenas os monitores que cobriam cada parede e ficavam em cada mesa, exibindo imagens da cidade e da tempestade. Enxugou o suor da testa, perguntando-se como poderia cuidar daquilo sozinho, quando uma mulher apareceu. Ela desviou os olhos de uma pilha de documentos, franziu o rosto e, em seguida, abriu um sorriso enorme.
— Graham? Meu Deus, achei que ninguém fosse aparecer!
Ele reconheceu Sam Holloway, membro da equipe de decifradores de códigos do MI5. No ano anterior, ela tinha feito alguns trabalhos para ele na Unidade de Contraterrorismo.
— Sam, que bom ver você! — disse ele, entrando na sala. — Por favor, diga-me que não está aqui sozinha.
— Não, Habib Rahman está na sala de comunicação tentando descobrir o que está acontecendo. É isso. O resto do pessoal ou se mandou, ou está em Downing Street tentando tirar o primeiro-ministro e os outros ministros de lá. Essa é a Prioridade Um.
Pois é, salvar aqueles imbecis do governo, certamente uma prioridade.
— Qual é a situação no momento? — perguntou ele, andando até a mesa do diretor. No monitor instalado ali, mais da cidade era sugada pela garganta da tempestade.
— A força aérea enviou uma equipe de ataque, mas...
Não precisou terminar. Ele tinha visto com os próprios olhos.
— Alguma ideia do que seja isso?
— Não — respondeu Sam. — Mas é grande. Tudo do norte de Edgware até Fortune Green sumiu.
— Sumiu?
— Isso. Sumiu. Simplesmente não está mais lá. — Havia certo tremor na voz dela, sem relação nenhuma com o estrondo da tempestade. — Esta filmagem é de um Black Hawk americano, posicionado a cinco milhas do marco zero.
Cinco milhas, mas a imagem era nítida o suficiente para distinguir o vasto golfo que se tinha aberto abaixo do furacão. Parecia não ter fundo. Mais do que isso. Graham teve a impressão de que, se desse um passo para dentro dele, simplesmente deixaria de existir.
— Alguma outra imagem? — perguntou ele.
Sam fez que sim e passou a mão pelo monitor touchscreen, até que a imagem mudasse.
— De um Sentinel — disse ela.
Essa filmagem era de um ponto mais alto, fazendo com que a tempestade parecesse mais do que nunca um furacão, uma corrente espiralada de sombras que se esgueirava sobre a cidade, agora talvez com cinco quilômetros de largura. Enquanto assistia, Graham viu um naco de chão soltar-se da terra, erguendo-se lentamente, quase de modo gracioso, e entrando na tormenta, onde começou a se desfazer. A sala inteira tremeu, poeira caindo do teto e várias telas desligando-se antes de se reiniciar. Era como se ele estivesse de novo no Golfo, escondido em uma caverna enquanto os foguetes do inimigo martelavam seu esconderijo. A ilha de terra devia ter um diâmetro de quinhentos metros. Quantas pessoas?, perguntou-se enquanto ela se desintegrava, presa na espiral urrante do vórtice, puxada para a boca da tempestade. Quantos mais acabaram de morrer?
— Alguma teoria? — ele praticamente tossiu as palavras.
— Nenhuma — disse Sam. — Não há assinatura radioativa, nem indício de ameaça biológica. Porém...
Ele a encarou, prestando atenção na maneira como a cor sumia de seu rosto, e sentiu um milhão de dedos gelados percorrendo suas costas.
— Porém o quê?
— O marco zero. O epicentro da tempestade. Havia alguma coisa ali quando isso tudo começou.
— Uma bomba?
— Não, um homem. Um homem morto. — Ela mordeu o lábio inferior, carregando outro filme na tela, que mostrava uma mesa de necrotério, uma das que ficavam no andar de cima daquele mesmo prédio, deduziu Graham. Deitado nela, estava o corpo de um homem, aberto pelos instrumentos do legista e revelando a carcaça vazia de seu tronco. No entanto, mesmo vendo aquilo em um monitor, era óbvio para Graham que havia alguma espécie de vida naqueles olhos opacos e mesmo assim agitados, e em sua inspiração perpétua. Meu Deus, é o mesmo barulho, percebeu. É o mesmo som da tempestade. — Ele chegou na sexta. Foi a Scotland Yard que trouxe.
— Por que ninguém me avisou? — perguntou Graham.
— Era tudo confidencial, nenhuma comunicação entrava ou saía. O plano era levar... aquilo para Northwood, aplicar todos os procedimentos de segurança, e depois trazer as pessoas. Mas elas nunca chegaram. Algo ocorreu no caminho; só descobrimos quando tudo isso começou.
Graham enxugou a boca, fitando a tela, fitando o cadáver vivo. Aquela era a imagem que ele tinha visto no furacão, a silhueta suspensa no centro do caos. O homem na tempestade, pensou ele, as palavras aparecendo do nada. E, de repente, a avassaladora surrealidade daquilo atingiu-o como um soco no estômago, um gemido agudo estourando em seus tímpanos. Inclinou-se para a frente, perguntando-se se iria vomitar, engolindo de volta o ácido em golfadas ruidosas e arquejantes.
Endireitou as costas, pigarreou e falou em um sussurro áspero:
— Então, o que sabemos com certeza?
— Que aquilo está se expandido com rapidez. É por isso que aqui está deserto. Estamos a uns quinze quilômetros do centro do ataque.
Não é um ataque, pensou Graham, é muito mais do que isso, é muito, muito pior.
— Mas, considerando a velocidade com que essa coisa cresce — continuou Sam —, vamos ter de sair daqui em breve. Tirando isso, não sabemos de nada.
— Sam, precisamos de satélites.
— Estou tentando me conectar agora, mas o único que está perto o bastante é o da NSA, e os americanos não querem liberar nada.
— Faça o que precisar — disse ele, fazendo força para ficar de pé. — Invada o satélite se puder. — Passou por algumas telas enfileiradas e encontrou Habib em sua mesa. Não o conhecia pessoalmente, mas o sujeito era bem famoso por escrever cifras inquebráveis para o exército. — Habib, alguma notícia do general?
— Ele foi alertado quanto ao ataque — respondeu o outro, dando de ombros. — Northwood foi evacuada, mas ele nos deu uso de todas as unidades táticas, e apreciará discutir outras opções.
Outras opções? Não havia opções, pelo menos não que Graham entrevisse. Eles nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Parte dele queria acreditar que era uma bomba atômica, uma das grandes. Sim, seria terrível. Sim, partes da cidade seriam destruídas, ficariam radioativas por décadas, e centenas de milhares de pessoas morreriam. Porém, uma bomba nuclear era uma bomba nuclear, uma ogiva de fissão, um nêutron batendo em uma massa concentrada de urânio-235 e iniciando uma reação em cadeia de liberação de energia. Uma bomba nuclear era algo que ele compreenderia, uma das primeiras coisas que havia estudado. Essa possibilidade estava bem no topo da lista de pesadelos — e se alguém detonasse uma arma atômica numa cidade britânica de grande porte... —, e existiam procedimentos para lidar com isso. Caramba, durante as Olimpíadas, não tinham feito outra coisa senão se preparar para um ataque desses. Uma bomba ele poderia encarar.
Isso era diferente. Porque não é ciência. O que quer que seja, esta coisa não obedece às regras do universo; ela as destrói. E era isso o que era verdadeiramente aterrorizante, porque não havia manuais de instrução para lidar com esse fato, nem simulações de computador, nem ensaios de emergência. Aquilo era incognoscível.
Pressionou as palmas das mãos contra as órbitas dos olhos, desejando estar de volta na cama e que aquilo fosse apenas um pesadelo. Quantas vezes tivera sonhos como aquele? Os sonhos de coisas ruins, nada mais que estresse ou excesso de queijo e vinho do Porto antes de dormir. Por que ele não acordava agora também?
— O senhor precisa dar uma olhada aqui.
Abriu os olhos, uma tempestade solar de flashes preenchendo a sala. Sam estava de pé ao lado de sua mesa, as duas mãos contra o cabelo curto. Em sua tela, havia um boletim do comando distrital. Graham estreitou os olhos, leu a mensagem duas vezes e ainda assim não acreditou.
— Outro ataque? — perguntou ele. — Onde, exatamente?
— No litoral — falou Sam. Sentou-se e digitou instruções.
As imagens na tela desapareceram e foram trocadas por uma fotografia de qualidade rudimentar. Por um instante, Graham não conseguiu entender direito para o que olhava: uma praia, um céu cinzento e zangado. Havia algo de errado naquilo, mas ele não conseguia captar bem o que era.
— O que é isso? — perguntou.
— É uma onda.
Graham percebeu enquanto ela respondia. Só que não era uma onda propriamente. A forma não estava certa. Aquela imensa massa de água tinha o formato de um punho, como se uma colossal explosão tivesse acontecido abaixo do oceano. Estava suspensa no horizonte, e Graham só percebeu a vasta escala da imagem ao reparar que havia uma cidade ali: prédios, casas, carros e pessoas, todos diminuídos pela imensa sombra manchada que era a água.
— Meu Deus do céu! — disse ele, encolhendo-se na cadeira. — De quando é essa imagem?
— De meia hora atrás — falou Sam. — Foi em Norfolk, Yarmouth.
— Meia hora? Por que só soubemos agora?
— Ela foi gravada pelas autoridades locais, mas tudo está em função daquilo. — Sam acenou para a tela de Graham, onde ainda ardia a tempestade. — Não tem gente suficiente aqui; acabei de ver isso nos boletins de hora em hora.
Graham soltou um palavrão, outra vez sentindo aquela vontade de se levantar e sair correndo.
— A cidade, na verdade um vilarejo, foi banida do mapa. Não sobrou nada.
— O que causou isso? — perguntou ele, outra vez esfregando os olhos.
Sam balançou a cabeça.
— Não sabemos. Este ataque tem a ver com outro de ontem à noite, na mesma região. Uma explosão, ou ao menos achamos que foi uma explosão. Ela destruiu uma cidade chamada Hemmingway. Não havia nada ali, ao menos nada que valesse a pena atacar. Mas, por algum motivo, foi o que aconteceu.
— Meteoros? — indagou ele. Quem dera.
— Nada disso. A estação de radar de Holmont não registrou nenhuma atividade de meteoros. Nada veio dos céus.
O que também anulava a possibilidade de ataques de mísseis. Isso era bom; significava que ninguém — o Irã ou a Coreia do Norte, por exemplo — tinha decidido lançar um monte de bombas nucleares contra eles. Graham respirou fundo, tentando silenciar o ruído límpido do medo, tentando dispor seus pensamentos em padrões lógicos claros e organizados. Uma coisa de cada vez; é preciso estabelecer uma cadeia objetiva de pensamentos.
— Existe alguma filmagem do ataque da noite de ontem? — perguntou.
Sam mexeu na tela e carregou um vídeo.
Ela apertou o play, e eles assistiram juntos. Era uma filmagem noturna, tudo aparecia verde. Um bando de oficiais da SWAT trotava sobre o que parecia uma duna de areia; o mar, uma grande placa de ardósia à frente deles, era a imagem mais escura na tela. Graham ouviu ordens sendo grunhidas, e a respiração áspera e ofegante de quem quer que estivesse usando a câmera no capacete. Os policiais chegaram ao topo da duna e começaram a descer em direção a...
— Crianças? — disse Graham ao notar o grupo na praia. Duas meninas e dois, talvez três meninos, ao que parecia, o medo evidente no rosto deles, mesmo em tons de verde e preto. — Mas que droga eles querem com essas crianças?
Ouviu-se um grito, e a fileira da frente dos policiais começou a correr. Partiram para cima das crianças, urrando com fúria. A pele dos braços de Graham ficou totalmente arrepiada na hora em que a polícia atacou, uns tropeçando nos outros, parecendo mais bichos do que pessoas.
Uma das crianças berrou algo; um nome, talvez. Schiller.
— Você entendeu? — perguntou ele. — Parecia...
A tela se iluminou, a luz tão forte que Graham teve de fechar os olhos com força. Quando olhou de novo, um instante depois, a cena era um caos. A câmera tremia demais, tudo estava borrado, mas isso não o impediu de ver um dos policiais torcido em pleno ar como um peixe em um anzol. O homem, ou mulher, porque Graham não podia ter certeza, sacudiu-se e ganiu e, em seguida, estourou. Graham não foi capaz de pensar em outra maneira de descrever a cena. O corpo simplesmente explodira em flocos de cinzas que vagaram pela bruxuleante luz esverdeada, parecendo comida de peixe jogada em um aquário. Outro policial foi dilacerado por dedos invisíveis, depois outro, e o tempo todo o homem com a câmera no capacete ficou sentado na praia balançando a cabeça. Uivou de novo, ficando de pé com dificuldade, e, em seguida, virou a cabeça para o mar.
Foi só um instante — antes que a imagem se arrastasse para cima e se desmanchasse em estática —, mas parecia haver algo na praia, algo onde as crianças estavam, algo queimando.
— Volte! — berrou Graham, ouvindo o pânico na própria voz. — Volte e congele!
Sam voltou a filmagem, depois reproduziu-a normalmente, frame por frame, cada expressão capturada com perfeita clareza, os olhos dos policiais brilhando de insanidade. Os semblantes deles não se pareciam com nada que Graham já tivesse visto, tão repletos de fúria que não pareciam reais. A cena se arrastou instante a instante, a praia aparecendo, depois uma menina, depois um clarão branco, ardendo como um fósforo aceso. Sam parou a filmagem, e por algum tempo os dois ficaram ali mirando o garoto nas chamas, duas enormes plumas de fogo arqueando-se de suas costas, os olhos sendo bolsões de absoluto brilho, chegando a provocar coceira nas retinas de Graham.
— Eles incendiaram o garoto? — perguntou Sam.
Graham balançou a cabeça... Mas o que mais poderia ser? Esse garoto, ele não é humano; veja só, ele é alguma outra coisa. Sam deixou a filmagem prosseguir, o garoto incandescente visível apenas por mais uma dúzia de frames, antes que o câmera ficasse suspenso no ar e a imagem se perdesse.
— Mande estas imagens para o general — disse Graham, sentindo frio, apesar do calor da sala. — Diga a ele para mandar um pelotão ao litoral, para tentar entender o que aconteceu. Alguma coisa no satélite?
— Eu consigo capturar as imagens — falou Sam. — Desde que não se importe em cometer um crime.
— Capture.
Ela abriu um novo painel no monitor, e Graham a assistiu invadir o satélite da Nasa. A operação toda levou trinta segundos.
— Já está apontado — disse Sam. — Estão nos observando.
Claro que estavam. A NSA devia estar monitorando Londres e o litoral para ter certeza de que o que quer que estivesse acontecendo ali não fosse uma ameaça para eles lá. Muito gentil compartilharem conosco. Sam carregou uma imagem na tela. Felizmente, o céu estava perfeito naquele dia — exceto pela tempestade —, e a visão do litoral também era perfeita. Ele fora arrasado. Só restavam detritos e ruínas reluzindo ao sol.
— Podemos voltar para a hora do ataque? — perguntou Graham.
Sam negou com um gesto de cabeça.
— Isso é quase ao vivo. Só nos resta contar com a sorte.
Ele se inclinou para a frente, examinando as imagens na tela, o atoleiro que um dia havia sido estradas, prédios e gente. Tinha algo mais ali.
— Você consegue entender o que é isto? — perguntou, apontando. Parecia uma ilha de terra no mar, e, nela, uma bola de luz, quase uma erupção solar, forte demais para a câmera do satélite captar direito. Sam deu de ombros. — Isso é mesmo de verdade? Não pode ser algum erro na transferência de dados?
— De um satélite da NSA? De jeito nenhum. É de verdade.
Além daquele ofuscamento, Graham distinguiu cinco pontinhos pretos, cinco pessoas. Não havia como distinguir quem eram, a imagem era aberta demais, distante demais, mas ele teve o palpite de que eram as mesmas crianças do vídeo da polícia. Afinal, aquilo ficava a poucos quilômetros de distância.
— Será que podemos rastreá-los, caso se movam?
— Sim, mas na hora em que eu fizer isso a NSA vai saber que estou controlando o satélite. E a última coisa que queremos agora é irritar os norte-americanos.
— Rastreie — disse ele, batendo na tela, nos pontinhos ali. — O que quer que aconteça, precisamos ficar de olho neles.
Sam suspirou, digitando códigos até que a imagem na tela mudasse de lugar. Do outro lado da sala, um telefone começou a tocar. Graham ignorou; seria alguém dos Estados Unidos, alguém muito, muito zangado.
— Estão tentando recuperar o controle — disse Sam.
— Evite-os pelo tempo que for necessário — falou ele. — Vou pedir ao general que monte uma equipe. Precisamos trazê-los vivos para cá.
— Sim, senhor — respondeu Sam.
O telefone parou de tocar, mas depois voltou a fazê-lo, de algum modo conseguindo soar mais alto e mais encolerizado do que antes. Graham ignorou-o, encarando o monitor. A tela ainda mostrava o garoto em chamas, aquelas plumas de fogo estendendo-se de suas costas. Parecem asas, pensou Graham, sentindo outra vertigem avassaladora. Era inacreditável, e no entanto o cataclismo que ardia a menos de quinze quilômetros de onde estava sentado também era inacreditável. Pensou na figura na escuridão, no homem que estava suspenso na tempestade. Não havia certa semelhança ali, entre ele e o garoto em chamas? Uma similaridade? De maneira nenhuma aquilo podia ser apenas coincidência. Havia uma conexão entre o que acontecia em Londres e o que acontecia no litoral.
Se eles achassem aqueles garotos, encontrariam respostas.
Manhã
Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas, como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os sete trovões ressoaram.
Apocalipse 10, 1-3
Daisy
East Walsham, 9h27
Era tanta violência, e ela não sabia como detê-la.
Desenrolava-se diante de seus olhos, dentro das geleiras gigantes do seu mundo congelado, cada cena mais horripilante que a outra. Em uma, ela via Cal sob um carro enquanto o fogo mordia suas pernas. Ela o chamava, estendia a mão para ele, mas aquele lugar, onde quer que ela estivesse, a havia transformado em um fantasma. Mas tinha ficado tudo bem, porque Cal havia escapado, deixando um rastro de cadáveres carbonizados atrás de si. Em outra cena, observava Schiller erguer o oceano e usá-lo como um martelo, reduzindo a nada uma cidade, com todas aquelas pobres almas sendo levadas embora para sempre. A cena era tão maluca que Daisy se perguntava se era mesmo real; talvez fosse só uma ilusão na sua cabeça. Porém, a garota sentia o gosto do sal no fundo da garganta; ouvia o som horrendo do mar que se levantava e comia a terra. Era real. Era tudo real.
Schiller ia ficando cada vez mais poderoso, isso era óbvio, transformando-se de menino em anjo com um simples pensamento. Mas essa transformação cobrava seu preço. Daisy via o fogo no peito dele, o lugar onde seu anjo repousava, e o fogo estava se espalhando. Isso a fez se lembrar do vídeo que tinham visto na escola sobre câncer, sobre o modo como ele... Como era mesmo? Meta-alguma coisa de órgão para órgão, usando veias e artérias como estradas para transportar seu veneno pelo corpo. A chama azul dentro do peito de Schiller tinha estendido os dedos até sua garganta, indo até os ombros, roçando as costelas. Ela via isso como se olhasse uma radiografia. O que aconteceria quando o fogo o consumisse?
Havia alguém mais com Rilke e Schiller agora, não Marcus, não Jade — apesar de ainda vê-los ali; de sentir o medo, o pavor deles —, mas outro garoto. O nome dele era Howard, soube, mas, bem na hora em que pensou nisso, ouviu uma voz tênue, como se viajasse por um longo caminho em meio a uma ventania.
Howie, disse a voz. Meu nome é Howie. Onde é que estou?
Era ele, o novo garoto, falando com ela. Talvez ele estivesse ali também, em algum lugar daquele palácio de gelo e sonhos.
— Acho... — começou ela, perguntando-se qual seria o melhor jeito de explicar. — Acho que você foi ferido.
Meu irmão, prosseguiu o garoto, e mesmo naquele brando sussurro ela ouvia o pesado fardo da tristeza. Ele me matou. Estou no céu?
— Ele não matou você. Ele... Você ainda está vivo, mas está se transformando.
No quê?
— Num anjo. Mas não exatamente num anjo. É que a gente chama assim. Eles são... Não sei direito, Howie, mas são bons, e vieram para nos ajudar.
É isso o que ele é? Ele se referia a Schiller, Daisy compreendeu. Não quero ficar daquele jeito. Não quero matar gente. Não quero queimar.
— Isso não é obrigatório. Não é ele que faz isso, é ela.
Rilke. A coitada, triste, enfurecida e louca Rilke. Como ela podia ter entendido tudo tão errado?
Só quero ir para casa. Por favor, me deixe ir para casa.
— Você vai, eu juro — disse Daisy, tentando espreitar além do labirinto sem fim de cubos de gelo, esforçando-se para encontrá-lo. — Não vai demorar. Essas coisas, elas não querem fazer mal à gente. Estão tentando nos ajudar. Tem uma coisa que a gente precisa fazer.
O homem na tempestade se agitava dentro do gelo, mais claro do que nunca. Estava suspenso sobre a cidade, transformando tudo em nada. Sua boca era imensa, horrenda e infinita, sugando prédios, carros e gente — milhares e milhares de pessoas. Era horrível. Era como aquela vez em casa, quando tinham achado um formigueiro logo atrás da porta dos fundos, e o pai dela pegara o aspirador e sugara todas as formigas. Eles tinham um desses aspiradores caros e modernos, que possuíam um receptáculo transparente em vez de uma bolsa, e ela tinha visto as formigas girando e girando com toda a sujeira e o pó, centenas delas capturadas na tempestade, até que implorara ao pai que desligasse o aspirador.
Perguntava-se se Howie enxergava aquilo também, onde quer que ele estivesse. Mas o garoto parecia ter sumido.
Talvez também fosse possível dialogar com o homem na tempestade. Afinal, ela tinha convencido o pai a desligar o aspirador; ele só não havia se dado conta do que fazia, do mal que provocava. E se aquilo fosse igual? Se pudesse falar com ele, dizer-lhe que o que fazia era errado, talvez ele parasse.
Mas como ela poderia fazer isso ali dentro? Flutuava pelo gelo como se estivesse em um salão de espelhos. E o tempo todo seu próprio anjo repousava no peito. Sabia que estava sendo gestado ali, e um dia nasceria como alguém que acordasse de um sono profundo. O anjo viera de um lugar distante, disso ela sabia, de um lugar onde nem a espaçonave mais rápida poderia chegar. A viagem fora longa, e agora o anjo despertava, recordando-se de como usar braços e pernas, assim como ela às vezes precisava fazer quando acordava de um sono profundo. E, quando ele nascesse...
Você vai ficar igual ao Schiller, pensou ela. Vai ser feita de fogo frio, e vai ser capaz de aniquilar o mundo com o estalar dos dedos.
Isso a assustava, porque às vezes ela sentia raiva. Uma vez, quando tinha uns seis ou sete anos, não conseguia encontrar a mãe. Elas nem tinham saído nem nada, estavam as duas dentro de casa, mas Daisy chamava e chamava e chamava, porque tinha feito um desenho e queria mostrá-lo a ela. A mãe não respondia, e a raiva no peito de Daisy fora tão súbita, tão inesperada, que ela rasgara o desenho em dois. Claro, a mãe estava no quintal, guardando algo no galpão, e, ao voltar, encontrara Daisy fervilhando de raiva, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe consertara o desenho com durex e o colocara acima da lareira, e tudo acabara bem. Daisy nunca tinha esquecido daquele dia, porém, e do jato de fúria incandescente que tinha jorrado de sua barriga. E se aquilo acontecesse de novo? E se o anjo dentro dela achasse que isso era um comando? Agora não seria só um desenho de um farol meio torto a ser destruído.
Mas e se ela precisasse do anjo para falar com o homem na tempestade? Naquele momento, ela era um fantasma; podia ver tudo, mas não podia tocar nada. E, antes disso, ela tinha sido uma menina; quase uma adolescente, é verdade, mas a voz dela era tão baixinha que as pessoas sempre lhe diziam para falar mais alto, especialmente a professora de teatro, a sra. Jackson. O homem nunca a ouviria. Quando o anjo dela nascesse, porém; quando despertasse de dentro do coração dela, então a voz dela soaria alto, alto o suficiente para ser ouvida mesmo em meio ao estrondo uivante da tempestade — alto como a de Schiller lá em Fursville. Ela diria ao homem para deixar o mundo em paz, para simplesmente ir embora. Ele teria de ouvi-la; teria de respeitá-la.
— Howie? — chamou ela, perguntando-se aonde teria ido o menino. Será que Schiller o havia ouvido? Ou Rilke? Será que o mantinham calado de algum jeito? — Se puder me ouvir, não preste atenção em Rilke. Ela não é má pessoa, mas entendeu tudo errado. Não estamos aqui para machucar as pessoas, eu sei. Estamos aqui para ajudá-las.
Não houve resposta. A voz dela era baixa demais. Mas não demoraria agora; seu anjo estava quase pronto. Então ela não seria mais um fantasma, e também não seria mais uma garota.
Seria uma voz, alta o bastante para expulsar a tempestade.
Cal
East Walsham, 9h29
Só agora, no silêncio sepulcral da igreja, o corpo dele parecia se lembrar do que era dor. Ela começou nos pés e subiu até o abdômen. Sentia o coração como um calor pulsante na pele. Mas estava vivo. Vivo e em segurança — se alguém o tivesse seguido até a igreja, já estaria ali, urrando entre os bancos.
E ele estava quente. Isso era o principal. Não estava escorregando para dentro de uma piscina de gelo como Schiller e Daisy. O que era muito bom. Significava que o que quer que estivesse dentro dele não estava com pressa de sair. Tudo o que Cal desejava era beber alguma coisa, trancar a porta da igreja e dormir por cem anos.
Mas e o sacerdote? O velho estava sentado no altar, murmurando algo bem baixinho e às vezes dando um sorriso nervoso para Cal; ficava tirando os óculos e limpando-os no paletó sem parar. Se não tomasse cuidado, não sobraria vidro nenhum. Ajeitou-os no nariz, deu uma tossidela e depois falou em uma voz branda que chegou ao outro lado da igreja:
— Seu amigo precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Por favor, podemos resolver isso juntos. Só me diga o que está acontecendo.
Você não vai querer saber, pensou Cal. Flexionou o maxilar, e um espasmo formigou pelo músculo. Quando engoliu, foi como se tivesse uma meia enrolada no fundo da garganta. Tinha a sensação de que, se não bebesse nada logo, viraria uma daquelas estátuas de pedra que o fitavam com benevolência.
— Olha — disse o sacerdote —, me solte e eu cuido dos seus ferimentos. Tem um kit de primeiros socorros na casa paroquial. Juro que vou fazer tudo o que puder.
— Não — murmurou Cal. — Você não entende. Se chegar perto de mim, se chegar perto de qualquer um de nós, vai tentar nos matar.
— Isso é absurdo. Eu jamais faria mal a uma criança, jamais faria mal a ninguém. Por favor, acredite em mim. Sou um homem de Deus.
— Não acho que Deus tenha nada a ver com isso. Isso é... mais antigo que Ele. — Não tinha muita ideia do que estava dizendo. — Conte-me o que você sabe sobre anjos.
— O quê? — perguntou o sacerdote, limpando os óculos. — Anjos? Por quê?
— Só me conte. Anjos.
O homem limpou a fleuma da garganta, um ruído que poderia ter sido uma risada. Depois deve ter notado a expressão no rosto de Cal, porque franziu o cenho e mirou o chão.
— Os anjos. Bem. Não sei o que quer saber. Na Bíblia, eles são seres espirituais, são os mensageiros de Deus. Aliás, é isso que a palavra quer dizer: mensageiro. Vem do grego. Hum... — Deu de ombros, a corda presa se levantando e em seguida chicoteando o chão. — É isso o que quer saber?
Cal não tinha ideia do que queria saber.
— Não. — Esforçava-se para pensar na pergunta certa. — Eles podem possuir as pessoas? Como os demônios? Eles podem vir à Terra?
As perguntas eram uma insanidade só. O sacerdote balançou a cabeça.
— Veja só, filho...
— Cal.
— Cal, veja só, não sei o que você quer saber. Eu...
Ouviu-se um barulho no cascalho do lado de fora, e em seguida o ranger da porta. Brick se arrastou para dentro da igreja carregando um copo- -d’água em uma mão e uma fatia de pão na outra. Parecia pálido, cada sarda em evidência como se tivesse sido feita a caneta na pele branca; e, quando estendeu o copo, sua mão tremia — tanto que a maior parte da água transbordou para o braço. Cal deu um gole, que queimou feito ácido. Em seu estômago, porém, a sensação foi de frescor, e ele se sentiu melhor instantaneamente.
— Achei que tivesse mandado não falar nada — disse Brick, encarando o sacerdote.
— Você me disse para não tentar fugir — respondeu o homem.
Cal sorveu outro gole, desta vez maior, antes de acrescentar:
— Tudo bem, Brick, fui eu que fiz uma pergunta. Sobre anjos.
Brick sibilou pelo nariz, despencando no último banco, ao lado de Adam. Entregou ao garoto uma fatia de pão, que Adam engoliu como um cão faminto.
— Anjos — fungou Brick, cuspindo migalhas. — Estou dizendo que isso é bobagem.
— Não custa perguntar, custa? — falou Cal, a raiva fazendo tudo doer o dobro. — Já que estamos aqui, não faz mal perguntar. — Ele se voltou de novo para o sacerdote, aguardando o homem continuar.
— Se me disser o que quer saber a respeito, talvez eu possa dar uma resposta melhor.
— Porque... — Cal começou, hesitante, perguntando-se se dizer aquilo em voz alta dentro de uma igreja não faria tudo ganhar uma dimensão de realidade que não tinha antes. À frente dele, Brick arrancava mais um pedaço de pão com os dentes, balançando a cabeça. Cal terminou a frase: — Porque acho que estamos possuídos por eles.
O sacerdote não respondeu, só engoliu ruidosamente e começou a encarar a porta da igreja. Era como se transmitisse seus pensamentos: são loucos, drogados; é só eu afrouxar esta corda e sair correndo, se é que vou conseguir chegar à rua...
— Senhor... Quer dizer, reverendo... — começou Cal.
— Doug — disse Brick. — O nome dele é Doug.
— Doug, sei que isso parece uma maluquice. Se pudéssemos provar, nós provaríamos. — Ele ergueu a cabeça, uma ideia debatendo-se no mar de dor que constituía seus pensamentos. — Peraí, você tem uma câmera?
Brick não demorou muito para achá-la dentro da casa paroquial e voltou depois de cinco minutos com uma Flipcam pequena. Despencou no banco, mexendo na câmera e abrindo o visor.
— Cuidado com isso, por favor — disse Doug. — É da Margaret. Ela ficaria muito chateada se você a quebrasse.
— Não vai quebrar, vamos tomar cuidado — falou Cal. — Preciso que você tenha certeza de que essa corda está firme, está bem? Ela precisa estar bem apertada. Dê mais um nó, só para ter certeza.
O sacerdote seguiu as instruções, e, em seguida, deu dois safanões na corda. O arranjo parecia seguro, mas naquele momento ele era apenas um velho gordo. Dali a um instante, quando cruzassem a linha invisível, ele seria outra coisa, uma criatura de raiva ancestral, primitiva.
— Vai lá — disse Cal.
— Vai você — respondeu Brick. — Eu não vou lá de jeito nenhum.
— Olha só — falou Doug, sua voz uma oitava acima do que estava antes. — O que quer que estejam pensando em fazer comigo, não façam.
— Brick, vai logo.
O garoto mais velho fez uma cara que fez Cal ter vontade de matá-lo ali mesmo. Parecia prestes a entregar a câmera a Adam, mas depois se levantou e foi para o corredor. Parou por um instante, incerto, olhou ameaçadoramente para Cal e, em seguida, foi relutante até o altar. Na hora em que começou a gravar, a câmera emitiu um som baixinho.
— Por favor, fique parado aí — gemeu Doug, tentando mexer no nó com a mão livre.
— Pode parar com isso — disse Cal. — Não vamos machucar você, eu juro.
Brick deu outro pequeno passo, arrastado, e mais outro, diminuindo o espaço entre ele e o sacerdote. A que distância estaria agora? Vinte e cinco metros, talvez? Cal não podia ter certeza, mas não seria...
O sacerdote emitiu um choramingo nasal, que se aprofundou e tornou-se uma fungada. Mesmo do outro lado da igreja, Cal viu os olhos do homem escurecerem, a pele do rosto cair, como se a carne lentamente escorregasse de seus ossos. Seu corpo inteiro se agitou, fazendo-o cair no degrau de baixo, os braços socando o carpete, o piso de pedra, como se estivesse tendo uma síncope. Brick parou, e Cal quase pôde enxergar as ondas de medo pulsando dele, invadindo o ambiente com seu odor azedo e desagradável.
— Vai lá. Você ainda não está perto o bastante.
Brick murmurou algo que Cal não pôde ouvir, e depois cruzou a linha invisível da Fúria. Doug ficou de pé imediatamente, um grito rangendo do abismo negro de sua boca. Partiu para cima de Brick, avançando um metro antes que a corda se esticasse e o prendesse onde estava. O ímpeto fez suas pernas ficarem no ar, o corpo fazendo em seguida um baque contra o piso de pedra. Ele não se importou, agitando-se e urrando.
— Basta, Brick — disse Cal.
Brick cambaleou para trás, quase tropeçando nos próprios pés. E bastou cruzar a linha para que o sacerdote voltasse a ser apenas um sacerdote, um amontoado de pano preto no corredor, ofegando e cuspindo sangue. Ele demorou vários minutos para se lembrar de onde estava, tentando recuperar o fôlego enquanto ia até o degrau mais baixo do altar, enxugando o suor reluzente de sua careca. Apertou o punho, viscoso de sangue, os olhos enevoados perdidos pela igreja até pararem em Cal.
— O que... o que fizeram comigo?
— Mostre a ele — disse Cal. Brick fechou a câmera e deslizou-a pelo chão como uma bola de boliche. O objeto de plástico foi deslizando pelo piso de pedra irregular, batendo no balaústre de madeira ao qual Doug estava amarrado. Ele não parecia mais preocupado com a integridade da câmera. Não parecia mais preocupado com nada, como se a Fúria o tivesse capturado e colocado para fora tudo o que um dia tivera importância, deixando-o vazio.
— Veja a gravação — falou Cal.
Uma eternidade de silêncio se passou, e depois Doug estendeu a mão e pegou a câmera. Ouviram-se uns bipes, e então Cal escutou a própria voz — Vai lá. Você ainda não está perto o bastante —, seguida da trilha sonora inconfundível da Fúria. Mesmo ouvi-la assim lhe dava arrepios. Os olhos do sacerdote pareciam bolas de golfe, enormes e brancos, enquanto se olhava na pequena tela. Como era ver a si mesmo assim? Saber que, por um breve período, você não era você, você era outra coisa, algo terrível? O homem assistiu à cena de novo, depois fechou a câmera e a depositou a seus pés.
— Meu Deus — suspirou ele, de repente uma criança, como se fosse Cal o sacerdote. — O que aconteceu comigo?
— Nós. Nós acontecemos — respondeu Cal. — Agora, por favor, conte-nos o que sabe.
Brick
East Walsham, 9h52
— Os anjos são mais agentes de Deus do que do homem. São mensageiros, basicamente, portadores de revelações. Como quando Gabriel foi a Maria na Visitação, por exemplo. Mas também são guerreiros.
Tentando não ouvir, Brick encarava os próprios pés enquanto o sacerdote falava. Nada do que aquele homem dizia poderia ter relação com o que estava acontecendo, de jeito nenhum. Ele falava da Bíblia, um livro escrito centenas de anos atrás, por gente que não tinha nada melhor para fazer. Aquilo... Aquilo era outra coisa, algo diferente. E no entanto havia palavras que o sacerdote usava, palavras que pareciam acertar bem no alvo. Guerreiros, pensou Brick, ouvindo-o. Não foi isso que Daisy falou? Que estamos aqui para combater?
— Como assim, guerreiros? — perguntou ele. — Os anjos não são querubins bonzinhos com rostos rechonchudos, halos, aquelas coisas?
— Não — disse o sacerdote, negando com um gesto de cabeça. Ainda estava pálido, tremendo, e, na forte penumbra do outro lado da igreja, parecia um fantasma. — Talvez hoje, nos cartões de Natal. Mas originalmente eram mais como um exército, ou... Talvez a melhor palavra seja guardiães. É comum serem representados com espadas flamejantes. Alguns ficam ao lado do trono de Deus.
— Como uma guarda imperial, algo assim — disse Cal lá da parede dos fundos. Brick era capaz de sentir a exaustão na voz do garoto, e se perguntou quanto tempo mais qualquer um deles ficaria acordado. Tudo ali era perfeitamente impassível, como se o tempo tivesse decidido lhes dar uma folga, parar um pouco. Adam já estava enroscado no banco feito um cachorrinho, os olhos totalmente fechados. — Sabe, como o Imperador de Guerra nas Estrelas.
— Bem, essa comparação talvez não seja adequada — disse Doug. — Mas deve servir. Quanto aos outros, sua ocupação principal é levar mensagens para a humanidade. Eles não estão só na Bíblia. Você os encontra em todas as religiões do mundo.
— Então, do que são feitos? — perguntou Cal.
— Não consigo entender por que você acha que os anjos são responsáveis por isso, pelo que quer que esteja acontecendo — respondeu Doug. — Tem de ser... Tem de ser uma coisa química, uma reação de algum tipo. Talvez uma doença.
— Confie em mim — disse Cal. — Você não viu o que nós vimos. Continue.
— Do que são feitos? — O sacerdote se mexeu desconfortavelmente, limpando os óculos de novo. Desta vez, não os colocou de volta, só os ergueu nas mãos e os examinou como se a resposta estivesse escrita neles. — São etéreos, isso eu sei. São espíritos. Já ouviu a expressão “quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete”? A resposta é um número infinito, porque não são criaturas deste mundo. Os teólogos nos ensinam que eles são capazes de se mover instantaneamente de um lugar para outro, o que lhes permite ficar indo e vindo daqui para o céu. Por causa disso, muitas vezes são representados como se fossem feitos de fogo.
Ao ouvir isso, Brick voltou-se para trás e encarou Cal. Sentiu um súbito arrepio e um tremor nos braços, recolhendo-os contra o peito, como se para escondê-los. Brick olhou para a frente outra vez, sentindo as bochechas corarem e se perguntando por quê.
— Então, nada de túnicas nem de harpa? — falou ele.
Doug recolocou os óculos e piscou, sem ter muita certeza se a pergunta era séria ou não.
— Mas deve haver alguma coisa na Bíblia que diga o que eles fazem, como falam com as pessoas, não? — perguntou Cal. — Eles simplesmente aparecem para um café, é isso?
— Não, costumam ser mais um espírito interno; falam de dentro, sem se mostrar.
— Muito conveniente — resmungou Brick.
— Brick, você não acha que tem algo no que ele está dizendo? — perguntou Cal. — Feito de fogo, vivendo dentro de você, guerreiros. Nada disso parece familiar?
Brick não respondeu, só ficou ali sentado ruminando sua raiva.
— Como assim, guardiães? — perguntou Cal.
— Bem, eles nos protegem. Muitas pessoas acreditam que... Você deve ter ouvido a expressão anjo da guarda, não?
— Claro. Mas também existem anjos maus, certo? — perguntou Brick, pensando no que tinha acabado de ver na TV, o homem na tempestade. A imagem já esmorecia em sua mente, apenas uma grande marca escura em sua visão, como se as retinas tivessem sido raspadas. Melhor isso do que ver aquilo de novo, a besta com seu manto de tempestade e sua inspiração infinita. Estremeceu com tanta força que o banco chacoalhou.
— Anjos maus? Claro, claro. De acordo com a Bíblia, Lúcifer tinha sido um anjo, na verdade, um arcanjo. Ele achou que poderia ser mais poderoso do que Deus e tentou liderar, como direi... uma rebelião com seu exército de anjos. Por causa do seu pecado de orgulho, Deus mandou-o para o Lago de Fogo, o inferno, junto com os que ficaram a seu lado. Essa é uma parte das escrituras com a qual, pessoalmente, tenho dificuldade. É sempre tentador acreditar que o mal humano pode ser atribuído ao demônio, e, sim, há ocasiões em que é esse o caso. Mas também acho que o mal é parte de quem somos. Devemos culpar apenas a nós mesmos pelas coisas ruins do mundo.
Houve um tempo em que Brick poderia ter acreditado nisso. Não agora, não depois de tudo o que tinha visto. O homem na tempestade, aquilo não era humano. Era o exato oposto de humano, o exato oposto de toda a vida. Porém, também não era o demônio, não o que está na Bíblia. Era outra coisa, algo que vagava pelos mundos muito antes de qualquer pessoa ter dito a palavra Deus. Brick sentia a veracidade disso em suas entranhas, no rangido colossal do peso do tempo e do espaço a se quebrar; quase podia ouvi-lo no enorme silêncio da igreja. Era impossível explicar, mas estava ali mesmo assim.
— Isso não vai nos levar a lugar nenhum — disse ele, só para que houvesse contradição.
— Pois é, eu sei — respondeu Cal. — Eu sei. Veja só, Doug, algumas das histórias da Bíblia devem ser baseadas em ocorrências reais, não é? Sem ofensa nem nada, cara. Lembro de ouvir que o dilúvio, aquele com Noé e tal, deve ter acontecido por causa de um tsunami ou algo do tipo.
— Sim — disse Doug. — Claro que existem teorias relativistas. Aliás, estudei a ciência na Bíblia na época em que fui capelão em Oxford. Você está falando da teoria do dilúvio do Mar Negro. Por volta de 5.600 a.C., a água do Mediterrâneo abriu uma brecha para o Estreito de Bósforo, acho. Isso teria causado uma inundação terrível. Existem também outros exemplos. A história de Moisés e o Mar Vermelho. Há condições em que um vento forte poderia de fato dividir as águas de um rio. Já aconteceu outras vezes, no delta do Nilo. É bem impressionante.
— Então, o que você quer dizer? — perguntou Brick. — Que a ciência é que faz tudo e Deus só leva o crédito?
O sacerdote riu, fazendo que não com a cabeça.
— Estou dizendo que muitos anos atrás não sabíamos o que hoje sabemos. Um... um vulcão, digamos, era um animal zangado sob a superfície. Um furacão eram os deuses lutando no céu. Os humanos precisam conhecer a verdade das coisas, mesmo que essa verdade seja ficção. Faz parte da nossa natureza tentar entender a vida. Se a ciência não pode explicar algo, inventamos nossa própria ciência para explicar esse algo. E essa ciência costuma se chamar religião.
— Então a religião não é real? — perguntou Brick. — Um sacerdote falar isso... Que besteira.
— Não, você não está entendendo. Religião tem a ver com fé, e fé é uma espécie de conhecimento muito diferente. Deus é um fato científico, e há uma ciência que explica a natureza de Deus. Claro que há. Mas ainda não sabemos que ciência é essa. Talvez um dia a compreendamos, assim como hoje compreendemos a ciência da gravidade, do relâmpago, de, digamos, certos comportamentos de partículas quânticas. Talvez um dia saibamos a verdade científica a respeito de Deus e de nossa criação. Nesse ponto, a ciência e a religião serão a mesma coisa.
Brick sibilou uma risada pelo nariz, ainda que houvesse algo nas palavras do sacerdote que fazia sentido.
— Está dizendo que coisas esquisitas aconteceram muito tempo atrás — disse Cal. — E que as pessoas viram essas coisas e as atribuíram a Deus. Disseram para seus filhos que era Deus, e esses filhos disseram para os filhos deles, e depois alguém acabou escrevendo um livro chamado Bíblia, e se lembraram desse negócio, e ficaram sabendo do mar se dividindo, de um dilúvio, sei lá, e foi assim que a Bíblia foi escrita.
O sacerdote passou a mão pela cabeça e fez que sim.
— Bem, em parte. Alguns milagres são de Deus, sem dúvida. Mas talvez não todos. Tudo é ciência. Tem de ser. Mas o fato de ser uma ciência que ainda não compreendemos não o torna automaticamente falso.
— Os anjos, então — prosseguiu Cal, e Brick percebeu que era com ele que o sacerdote falava. — Talvez isso tenha acontecido antes. Talvez, milhares de anos atrás, as pessoas tenham ficado possuídas por... pelo que quer que esteja dentro de nós. Só que não sabiam o que eram essas coisas; só viam que eram feitas de fogo, com asas. Criaturas que podiam destruir uma cidade inteira com uma só palavra. Elas as viam, e as chamavam de anjos, de mensageiros de Deus, e disseram isso aos filhos, e isso acabou virando parte da religião. Faz sentido, não faz?
Fazia, mas Brick não disse nada.
— E aquela coisa em Londres, o homem na tempestade? Talvez ele tenha estado aqui antes. Talvez as pessoas o tenham visto e pensado que ele era como nós, quer dizer, como os anjos, mas uma versão do mal. Podem ter inventado uma história de como ele foi derrotado e quis se vingar. Isso tudo pode já ter acontecido, Brick.
— E daí, Cal? — falou Brick, virando-se.
Cal estava encostado na parede, envolto nos próprios braços. Parecia pequeno e fraco, mas seu olhar emanava força.
— Isso significa que os anjos já lutaram com ele — disse Cal. — Significa que o impediram de fazer o que quer que tenha vindo fazer aqui. Significa que eles o venceram.
— Como você sabe?
— Porque, se não fosse assim, não estaríamos aqui, estaríamos? Essa coisa quer que a gente aniquile tudo. Parece um buraco negro. E não vai parar até a destruirmos.
— É mesmo? — Brick precisou engolir um azedo caroço de bile que subiu do poço revirado que era seu estômago. A imagem do homem na tempestade apareceu diante dele e encheu a igreja de trevas. Tentar lutar com aquilo seria como tentar parar um trem com um palito de dentes. Seriam arrasados, tragados por aquela boca furiosa junto com tudo o mais. E depois? Não haveria vida após a morte, nem céu nem inferno, não ali dentro. Não haveria nada, exceto o fim das coisas. — E como a gente vai fazer isso, Cal?
— Esperando — respondeu o outro garoto. — Até que nasçam.
Essa ideia era tão ou ainda mais aterrorizante, a ideia de que havia algo em seu peito — não, ainda mais fundo: em sua alma — que aguardava o momento certo para irromper em um punho de fogo e tomar o controle de seu corpo. Essa ideia lhe dava vontade de gritar, e ele se colocou de pé e foi para o corredor, andando de um lado para o outro com as mãos fincadas no cabelo. Ia e voltava, querendo cavar uma trincheira com os pés no piso de pedra e enterrar-se ali para sempre com os esqueletos sob a igreja. Foi só quando chegou perto demais do sacerdote, quando ouviu a respiração do homem tornar-se o gemido insuportável da Fúria, que se obrigou a sentar-se outra vez.
— Mas por que as pessoas nos detestam? — acabou perguntando Brick. — Essa é a parte que eu realmente não entendo. Se estamos aqui para combater aquela coisa, com certeza as pessoas deviam estar do nosso lado, nos ajudar, em vez de tentar nos matar.
— Não sei — disse Cal. — Doug, você se lembra de alguma coisa do que aconteceu quando estávamos filmando?
O pastor ficou alguns tons mais pálido e negou com um gesto de cabeça.
— Parece que... que aquela parte da minha memória, da minha vida, simplesmente não existiu. Num minuto estava falando com vocês, e em seguida apaguei. Depois, tudo voltou ao normal. Só... só que não voltou, porque tentei matar vocês. — Ele enxugou o rosto com a mão, e Brick percebeu que o velho chorava. — Não era eu. Não era eu.
— Vocês já odiaram alguém tanto que perderam a cabeça por causa disso? — perguntou Brick, as palavras saindo de sua boca antes mesmo que ele se desse conta delas. — Já odiaram tanto que sua visão ficou inteirinha branca e foi como se vocês virassem outra pessoa?
Ninguém respondeu. Ele arrastou o pé no chão, desconfortável por estar compartilhando tanto de si.
— Eu, sim. Várias vezes. Costumava ficar com muita raiva.
— Costumava? — disse Cal, com mais do que uma ponta de sarcasmo.
Brick sentia aquilo naquele momento, enquanto falava, como se algo irrompesse de seu estômago.
— Às vezes, não consigo me controlar. Acho que serei capaz de fazer alguma coisa sem volta, algo ruim, como bater em alguém ou até pior, como matar alguém. Quando fico assim, tenho a sensação de que eu, quer dizer, aquela parte minha que pensa nas coisas e evita fazer bobagem, é expulsa da minha cabeça, como se alguma outra coisa simplesmente tomasse o controle. É difícil sair desse estado.
O som da própria voz, falando por tanto tempo, parecia-lhe estranhamente alheio. Umedeceu os lábios, querendo um pouco da água de Cal. Percebeu que não tinha tirado os olhos dos tênis imundos desde que começara a falar.
— Acho que é assim. A Fúria. Você fica com tanta raiva, tão cheio de cólera, que apenas perde a cabeça. Só que é um milhão de vezes pior.
Engoliu ruidosamente, e percebeu que corava de novo. Aquela raiva ainda fervilhava em sua garganta. Após algum tempo, Cal se pronunciou:
— Pois é, faz sentido. Mas não é uma coisa química, nem emocional; é isto: anjos. As pessoas não conseguem aceitá-los porque eles são tão... qual é a palavra mesmo?
— Estranhos? — disse Brick.
— Acho que é isso. Eles são tão estranhos que fazem as pessoas perderem a cabeça. Elas precisam matá-los, precisam matar a gente. Não consigo pensar em nenhum outro motivo.
Mais silêncio, profundo como o oceano. Brick mirou a igreja e viu a barraquinha de cachorro-quente de Fursville queimando, e, atrás dela, o pavilhão. Abriu os olhos de súbito, percebendo que o sono o tinha emboscado.
— A gente precisa ir embora — disse ele, esfregando os olhos. Como Cal não respondeu, Brick olhou para trás e viu que ele também tinha sucumbido, a cabeça repousando nos joelhos. — Cal, não podemos adormecer.
— Tudo bem — disse o sacerdote. — Podem dormir. Vocês têm a minha palavra; não vou me mexer. Sei o que vai acontecer. Não suportaria ficar daquele jeito de novo.
Brick fez cara feia para o homem. Ele era um furioso; não podia confiar nele. É só por um instante, só para recuperar as forças. Fechou os olhos e viu, além do pavilhão, o mar. Havia um barco no mar, um barco que se tornava uma ilha, depois uma casa, e, quando Brick nadou até ela, abriu a porta e entrou, não sabia mais que estava sonhando.
Rilke
Great Yarmouth, 10h07
O chão se dobrou e então recuperou a forma, soando como se o mundo inteiro esticasse as juntas. Uma ponte de pedra ergueu-se da praia encharcada, parecendo a espinha de algum animal colossal rompendo a pele da terra. Ela serpenteava pelo solo sulcado onde um dia estivera o vilarejo. Seu arquiteto, Schiller, retorcia o ar com dedos incandescentes, cordas invisíveis remoldando pedra, areia e terra até que houvesse um caminho distinto vindo do mar.
Foi só quando ele terminou que a transformação começou, as chamas extinguindo-se como um forno a gás ao vento, até que a pessoa que estava ali era não mais um anjo, mas outra vez um menino. Conseguiu sorrir, desgastado, antes de as pernas cederem e ele tombar ao leito protuberante da própria criação. Rilke levantou-se de onde tinha se ajoelhado, os joelhos esfolados pela vibração do chão, e andou até ele. Quando o ajudou a sentar-se, outra mecha de cabelos dele se soltou. Não eram mais loiros, percebeu ela, mas cinza.
— Fez bem, irmãozinho — disse ela, acariciando a bochecha dele. Ainda estava muito frio, como se, toda vez que deixasse o rapaz, o fogo roubasse um pouco mais do calor de seu corpo. — Você acabou com tudo. Ouça, ouça o resultado do que você fez.
Ele escutou, e, por um tempo, ambos ficaram sentados, absorvendo a quietude. O único som era o doce lamber do mar, reduzido a um cão que gania em seus calcanhares. Não havia gritos, nem mesmo alarmes. A onda de Schiller tinha feito bem seu trabalho.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller, quase sussurrando. Os olhos dele estavam fechados e espasmavam como os de um filhote sonhando.
Ela sacudiu os ombros dele, trazendo-o de volta. Por que ele precisava dormir se restava tanto trabalho a ser feito?
— Logo — disse Rilke. Puxou-o até que ele reagisse e se levantasse com dificuldade. Ela colocou um braço embaixo dele, apoiando-o com seu corpo. Era muito pesado, e depois de alguns segundos a garota desistiu. — Ok, podemos descansar um pouco. Mas não aqui. Precisamos achar um lugar seguro.
— Seguro? — veio uma voz atrás dela, que se virou e viu Jade, sentada na praia recém-erigida ao lado dos dois garotos. Parecia uma marionete mal-acabada, os olhos grandes demais, a boca frouxa, o corpo mole.
Rilke tinha quase esquecido que os outros existiam. Aliás, precisava deles? Quando seu anjo nascesse, ela e Schill poderiam mudar o mundo por conta própria. Não precisavam ser supervisionados por ninguém. Por ora, porém, fazia sentido mantê-los por perto. Poderiam vir a ser úteis, em especial o novo garoto, que estava quase despertando.
— Não vai demorar até virem atrás de nós — disse Rilke, dando um passo na ponte de pedra e arrastando Schiller atrás de si.
— A polícia?
— Sim. E outros também. O exército. — E Daisy, pensou ela, mas não falou.
A garotinha também devia estar perto de sua transformação. Porém, Rilke achava que isso ainda não havia acontecido. Teria sentido. Não, estavam descansando, Daisy, Brick, Cal e Adam. Tentou transportar a mente, como tinha feito em Fursville. Sentiu um banco de madeira desconfortável, o odor de algo velho e empoeirado, viu uma luz de cor estranha passando por grandes janelas. Uma igreja, atinou, a respiração um tanto ofegante. Talvez tivessem ouvido histórias sobre anjos vingadores; talvez enfim tivessem compreendido o que precisavam fazer.
E se não fosse isso? E se tivessem ido lá para tentar deter Schiller?
Rilke tentou imaginar o que aconteceria se dois anjos lutassem um contra o outro. Isso por si bastaria para colocar o mundo de joelhos. Schiller teria força suficiente para lutar com Daisy? Ela era só uma garotinha, mas tinha uma força interior que o irmão não possuía.
— Não consigo mais carregá-lo — disse Jade. — Está gelado demais.
— Consegue sim — falou Rilke. — Só até o alto da colina, até acharmos abrigo.
Não esperou pela resposta. Jade faria o que ela mandasse, e Marcus também. Rilke caminhou com Schiller nos braços, e cada passo era um desafio. Isso a fez se lembrar da manhã em que havia chegado ao parque temático, uma manhã que parecia ter sido muito tempo atrás, mas que tinha sido... O quê? Há dois dias? Como tudo o mais, o tempo estava fragmentado. Aqueles dois dias equivaliam a uma vida inteira. As coisas eram tão simples antes... O mundo era só o mundo, e as pessoas, só pessoas.
Esse pensamento era tão absurdo que ela riu. Schiller a encarou com seus olhos sonolentos e semicerrados e sorriu em resposta; ela reparou que um de seus dentes da frente estava faltando. Seu estômago deu um nó, a pele subitamente gélida. Isso o está matando. Não. Estava deixando-o mais forte. Como poderia não estar? Aquilo o havia deixado mais poderoso do que qualquer outra coisa no mundo. Tinha feito dele um deus. E, no entanto, uma voz a chamava, talvez a dela mesma, talvez não: isso o está matando, usando-o e comendo-o por dentro.
— Calada — sussurrou ela; Schiller ouviu-a e franziu o cenho. — Preste atenção no caminho, irmão — disse ela, só para não precisar olhar o buraco enorme na gengiva onde antes havia o dente. E daí que aquilo o estava matando? E daí que seu corpo humano caísse em pedaços? Uma vez que a carne sucumbisse, só haveria fogo e fúria.
Seguiram cambaleando em silêncio pela trilha de pedra fragmentada. Quanto mais avançavam, mais descortinavam a destruição produzida por Schiller. À esquerda deles, havia outro mar, este feito de tijolos, concreto e corpos, boiando em sedimentos e água. Fumaça subia de três ou quatro pontos. Rilke se perguntou se ainda havia alguém vivo ali, depois pensou no paredão de água que esmagara a cidade como o punho de Deus. Nada poderia ter sobrevivido àquilo. Não houvera tempo sequer de alguém desconfiar do que estava acontecendo.
Após pouco menos de um quilômetro percorrido, chegaram ao fim da ponte que Schiller tinha tirado da terra. Ela se transformara em uma boca repleta de dentes; além dela, só havia um caos de destroços. Rilke saiu dela para um gramado, o solo úmido mas firme. Era tão plano que mesmo dali conseguia ver a linha cinzenta do mar, como se ele espreitasse o horizonte para ter certeza de que eles tinham mesmo ido embora. Passou pela cabeça da garota que ele fosse se encolher outra vez e se esconder atrás da cidade em ruínas.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller. — Rilke, por favor, não estou me sentindo bem.
Ela não olhou para ele, só examinou o campo em busca de abrigo. Havia uma cerca ali perto, semiafundada na lama. Um cavalo jazia morto, emaranhado em fios e madeira. Devia ter tentado fugir quando ouvira o estrondo do oceano, pensou ela, sentindo pela criatura uma compaixão surpreendente. Mandou embora aquela emoção — emoções são para os humanos, Rilke, não para você —, os olhos fixando-se na única estrutura, à exceção dos postes de telefone, que avistava dentro de quilômetros. Era um moinho que perdera as hélices.
Foi na direção dele, arrastando os outros atrás de si como se puxasse um carrinho. Sua sombra ia à frente, ainda comprida, varrendo a grama como uma nuvem escura. Como o homem na tempestade, pensou ela, e isso lhe trouxe de novo aquela sensação esquisita no estômago. Se ele estava ali pelo mesmo motivo que os anjos, então por que não tinha tentado se comunicar com eles? Ele não tinha instruções, ordens? Talvez até tivesse, mas eles é que não conseguiam ouvi-lo. Ou talvez isso só fosse acontecer depois que os anjos nascessem. Pensou em perguntar a Schiller se ele tinha ouvido — sentido — alguma coisa do homem na tempestade, mas o irmão estava tão fraco que não achou que a resposta faria sentido, mesmo que ele soubesse. Melhor levá-lo para dentro, deixá-lo descansar, para depois perguntar.
Demorou mais do que ela esperava para chegar ao moinho, a superfície plana fazendo-o parecer mais próximo do que de fato era. Quando terminaram de cruzar uma pequena represa, o sol tinha mudado de lugar, e havia um ruído se aproximando no horizonte, um estrondo grave que começou parecendo um trovão, mas que era um helicóptero. Rilke ergueu a mão para se proteger da ofuscante luz do dia, vendo a mancha pairando sobre a cidade. Parecia um abutre sobrevoando um cadáver, ao lado das gaivotas que já se reuniam ali, como vastas nuvens acinzentadas à procura de restos. Isso era tudo o que tinha sobrado: pedaços de carne, de ossos, e amanhã nem isso haveria mais. O helicóptero virou e recuou, os baques sônicos reduzindo até sumirem sob o acelerado ritmo do coração dela.
— Está tão quieto — disse Marcus. — Parece que o mundo foi desligado.
Rilke fez que sim com a cabeça, e, em seguida, percorreu os últimos metros até a porta do moinho. Estava trancada, mas era velha, e, depois de alguns chutes, abriu-se, balançando. O fedor de umidade e podridão os bafejou, mas ao menos ficariam escondidos. Deixou Jade e Marcus entrarem, carregando para dentro o novo garoto. Depois, indicou a porta a Schiller. Ela o seguiu na escuridão rançosa, espiando outra vez o mar atrás da terra. O helicóptero havia ido embora, mas algo os observava; ela podia sentir um olhar dançando de cima a baixo por sua espinha. Ergueu os olhos para o céu de um azul perfeito e mordeu o lábio. Em seguida, empurrou a pequena porta de madeira e fechou-a, virando-se e descobrindo-se em uma pequena sala circular. A única janela estava tapada com tábuas dispostas de modo rudimentar, fachos de luz âmbar chegando ao chão com dificuldade, revelando uma escultura de engrenagens e madeira velha, mas não muito mais que isso. Schiller já desabara contra a parede, a cabeça entre as mãos. Jade e Marcus haviam deitado o novo garoto ao lado do maquinário, esfregando os braços e tremendo.
— Vamos descansar aqui por uma hora — disse Rilke, batendo os pés de impaciência. Não tinha gostado dali. Achara que se sentiria segura, oculta, mas parecia o contrário, como se houvesse uma bandeira enorme balançando no alto do moinho, uma bandeira que dizia: “Estamos aqui, podem mandar um míssil”. E era isso o que fariam, se soubessem a verdade. Mandariam um avião, dez aviões, e bombardeariam aquele campo inteiro até que sumissem. Se Schiller estivesse desperto, e transformado, tudo bem. Porém, se estivesse dormindo, se não os ouvisse chegar, então tudo acabaria antes mesmo de começar.
— Uma hora — repetiu ela quando Schiller fez menção de protestar. — Eu acordo vocês.
Os outros se sentaram, mas ela continuou de pé. Também tinha passado a noite em claro e sabia que, se deixasse a cabeça encostar em algum ombro, o sono a tomaria. Andou de um lado para o outro perto da porta, vendo Schiller adormecer, depois Jade e, por fim, alguns minutos depois, Marcus, encolhido como um porco-espinho sob a janela. Ridículos, todos eles. Tanto trabalho a fazer, e só pensavam em descansar. Se o anjo dela estivesse pronto, se tivesse nascido, ela os forçaria a seguir adiante. Ninguém ousaria discutir com ela.
Schiller teve um espasmo, murmurando algo no sono. Rilke ergueu a cabeça, tentando entender o que ele tinha dito. Ele não era de ficar falando enquanto dormia. Ela sabia disso graças às incontáveis noites em que ele ficara assustado demais no quarto e fora dormir na cama dela, ou na cadeira, ou no chão, onde quer que ela o deixasse se acomodar. Assim que ele adormecia, apagava até a manhã seguinte. Ele disse outra coisa, e de súbito Rilke começou a se perguntar se o irmão dormia mesmo ou se sua mente estaria em outro lugar. Isso já não tinha acontecido antes, em Fursville? Daisy tinha falado sobre isso, de como se encontravam nos sonhos. E se Schiller estivesse com ela agora? E se estivessem conversando?
Moveu-se na direção dele, pronta para acordá-lo com um chute. Então hesitou. Não seria melhor descobrir? Perguntou-se o que veria caso sentasse e adormecesse. Daisy iria aparecer? Brick e Cal também? Tentariam fazer Schiller mudar de ideia? Ou será que ela veria o homem na tempestade? Será que enfim ouviria dele o que queria que eles fizessem?
Não havia sons vindo de fora, estrondo nenhum de hélices de helicóptero, rugido nenhum de aviões e mísseis. Era provável que ficassem bem ali por um tempo. Sentou-se ao lado do irmão, assegurou-se de que ninguém a olhava, depois repousou a cabeça no ombro dele. Não demorou para que o sono a encontrasse, varrendo o campo, derramando-se no moinho, sufocando-a. Sentiu pânico por um instante, como no momento em que a montanha-russa para no topo da subida, na expectativa de cair — mas cair onde, e quem vai me segurar? —, e assim caiu na escuridão e no silêncio.
Daisy
East Walsham, 11h09
Havia agora mais gente em seu reino de gelo. Sentiu a chegada dessas pessoas como se fossem pássaros pousando em um galho, fazendo-o balançar quase imperceptivelmente. Os cubos de gelo tilintavam, quicando uns nos outros, cada qual ainda repleto da vida de outros seres. O mundo inteiro nadava em um movimento líquido, com a água sempre em agitação, como a de uma piscina.
— Oi? — disse ela. Seria o novo garoto, aquele que se chamava Howie? Ele ainda estava ali em algum lugar, perdido no labirinto de espelhos gelados. Ela o tinha ouvido gritando pela mãe e pelo irmão. — Diga algo, por favor, sei que está aí!
— Daisy? — A voz veio bem de trás dela, e ela se virou com um semigiro.
A criatura que viu era tão bonita, mas tão assustadora, que Daisy não soube se ria ou se chorava. A criatura se erguia em vestes de chamas brancas como diamante, as asas postadas para cima. Era tão brilhante que a garota se afastou antes de perceber que não a encarava de fato; não com os olhos, pelo menos. Relanceou o olhar para a criatura, reconhecendo-a.
— Schiller? — disse ela. Não era o rosto dele, e, ao mesmo tempo, era. Ele cintilava à luz, como um reflexo em uma piscina ensolarada e ondulada pelo vento. Mas não havia dúvida de que era ele, porque, assim que ela pronunciou seu nome, ele abriu um sorriso enorme e ofuscante. — Mas é você. Como está aqui?
— Não sei — disse ele, e, ainda que tivesse a aparência de seu anjo, sua voz era aguda e branda, bem parecida com a de Rilke. — Acho que estou dormindo.
Claro! Já tinha acontecido antes, não com Schiller, mas com Brick e Cal. Na primeira noite deles em Hemmingway, tinham compartilhado um sonho. Não parecia algo que pudesse realmente acontecer, mas nada daquilo tudo era algo que pudesse realmente acontecer. Além disso, se todos tinham anjos dentro de si, por que não seriam capazes de se comunicar assim? Deveria haver uma espécie de laço entre eles agora, um laço que não era afetado nem por distância, nem por tempo, nem por espaço.
— Tudo bem? — disse ela. — Me diga como é seu anjo.
Schiller deu de ombros, as asas de repente subindo e descendo. Aquele movimento pareceu tão tolo que ela deu uma risadinha. Era a primeira vez que ouvia a voz dele, percebeu. A primeira vez que efetivamente o encontrava, já que ele tinha ficado congelado por muito tempo. Não, você ouviu essa voz, lembre-se, disse uma parte do seu cérebro. Em Hemmingway, quando ele falou e acabou com aquele lugar: uma única palavra que transformou em cinzas uma centena de pessoas. Você estava inconsciente, mas mesmo assim ouviu.
— Eu não queria fazer aquilo — disse ele, lendo os pensamentos dela. — Mas iam nos fazer mal, fazer mal à minha irmã. Não sabia o que mais podia fazer.
Tudo bem, pensou ela. Você não tinha escolha.
Ele deu de ombros outra vez, mas os cantos de sua boca pareciam tão caídos que davam a impressão de terem sido desenhados, um sorriso de cabeça para baixo.
— Falou com ele? — perguntou Daisy.
— Acho que sim — disse Schiller. — Ele não tem palavras, só... sei lá, emoções. Ele tenta me mostrar coisas, mas nem sempre eu entendo.
— Ele mostrou por que está aqui?
— O homem na tempestade — respondeu Schiller sem hesitar. — É isso o que eu vejo o tempo todo.
Daisy fez que sim com a cabeça. Com ela, era igual. Quantas vezes não tinha sido atraída para aquele cubo de gelo em particular, aquele cheio de uma furiosa escuridão, aquele em que ele morava? Naquele momento mesmo em que ela pensou nele, ele se evidenciou, vindo na direção dela com o som de geleiras se rompendo. Mas ela agora sabia como afastá-lo, e fazia isso delicada e insistentemente.
— Rilke diz que é porque ele está nos dizendo o que fazer, o homem na tempestade; que ele é um de nós. Ela acha que temos de seguir o exemplo dele, e destruir as coisas.
Balançou a cabeça enquanto falava, e Daisy notou sua relutância.
— Sua irmã está errada — disse ela. — Terrivelmente errada! Não estamos aqui para nos juntar a ele, mas para combatê-lo.
Como que em resposta, Daisy sentiu algo se apertando em seu peito. Bem, não era exatamente no peito, e sim mais fundo, em algum lugar que ela não conseguia identificar direito. Parecia haver uma pressão ali, como se seu coração estivesse prestes a estourar, mas de um jeito bom, como era acordar e lembrar que é Natal. Era o anjo dela. Logo ele nasceria.
— Não sei — disse Schiller, e havia algo em sua voz; medo, talvez. — Rilke costuma estar certa sobre as coisas. Ela é inteligente. Eu não sou inteligente, só faço o que ela manda.
— Você é inteligente. Sua irmã é metida a valentona. Você não devia deixá-la mandar em você.
O espaço em volta dela ficou mais frio, como se os cubos de gelo estivessem filtrando o calor do ar. Então outra pessoa falou, uma voz igualmente fria:
— Sabia.
Daisy se virou e viu outra figura. Essa era definitivamente humana, ainda que aquele mesmo fogo azul ardesse no lugar onde deveria ficar seu coração. Rilke não andou exatamente até eles, mas flutuou, com o rosto tão retorcido de raiva que poderia ser uma furiosa.
— Sabia que encontraria você aqui, irmãozinho.
— Rilke, só estávamos conversando — disse Daisy.
Rilke se lançou sobre ela como uma ave de rapina, encarando-a com raiva. Não era a garota de quem Daisy se lembrava; era quase como uma personagem de um sonho, alguém que não se parecia com eles, mas que com certeza era um deles. Claro, porque ela não está realmente aqui, nem eu; eu estou com Cal, Brick e Adam. Saber disso a fez se sentir mais segura: com certeza Rilke não poderia fazer mal a ela naquele lugar imaginário.
— Não dê ouvidos a ela, Schill — disse Rilke. — Ela não sabe o que está dizendo. Não viu o que nós vimos.
Rilke então viu, no gelo, um paredão de água que tremia atravessando a terra. Por um instante, sentiu aquilo também, aquele enorme peso de trevas engolindo o céu, caindo sobre ela, e precisou se afastar da sensação antes que desse um grito.
— Ah, Schiller, não — disse. — Aquela gente toda... Você não precisava fazer mal a elas, não precisava ter feito aquilo.
— Você está errada, Daisy — Rilke quase cuspiu as palavras. — Ele precisava, sim. Você ainda não percebeu? Isso ainda não entrou na sua cabecinha idiota? Pode protestar o quanto quiser, mas cedo ou tarde você vai ter de enxergar a verdade. Ele nos chamou, o homem na tempestade. Ele quer que nos juntemos a ele, quer que o ajudemos a limpar o mundo.
— Não — disse Daisy. — Você está errada, Rilke. Como pode não enxergar? — Voltou-se para Schiller, rogando em silêncio para que ele enfrentasse a irmã. Porém, mesmo que ardesse como uma sentinela gigante feita de vidro fundido, ele não conseguia olhar nenhuma das duas nos olhos. — Por favor. — Sentia-se tão impotente, tão pequena. Por que não podia ser como Schiller agora; por que o anjo dela não podia fazer algo para ajudá-la? Se ele já tivesse nascido, Rilke teria de lhe dar ouvidos.
— Não me ameace — disse Rilke, ainda que Daisy não tivesse se dado conta de qual era a ameaça. — Logo você vai se transformar, mas nem pense em se meter no meu caminho. Não vou hesitar em matar você. Schiller não vai hesitar, não é mesmo?
Não era uma pergunta, e, após um instante de hesitação desconfortável, Schiller fez que sim com a cabeça.
— E não é só ele agora. Temos outro, também pronto para se transformar.
— Howie — disse Daisy, lembrando-se da voz que tinha ouvido.
A expressão de Rilke bruxuleou, incerta. Ela correu o olhar pelo caleidoscópio de gelo, como se pudesse vê-lo ali.
— Ele é um dos nossos — sibilou ela. — Está me ouvindo? E, caso esteja me ouvindo, Howie, saiba de uma coisa: se eu achar que você vai ficar contra mim, vou simplesmente esmagar sua cabeça antes de você acordar. Ficou claro?
Como ela podia ser tão horrenda, pensou Daisy. E a resposta era bem clara: ela é louca, ela é completamente insana. E desde muito antes disso tudo. Daisy tinha visto coisas terríveis dentro da cabeça da garota: a mãe maluca, e o homem mau, o médico, cujo hálito cheirava a café, cujas mãos eram ásperas. Coitada, coitada da Rilke; não era culpa dela. Aquilo tinha abalado os alicerces de sua mente, e a Fúria tinha piorado muito a situação. Agora tudo desabava. Daisy praticamente lia isso no rosto da menina, no modo como seus traços pareciam crescer e se encolher, como uma pintura horrível se retorcendo no frio. Ela estava se dilacerando por dentro.
— Deixe-a em paz, Rilke. — Era outra voz, e esta muito, muito bem-vinda.
Daisy se virou e viu Cal ali, ou ao menos uma figura onírica cintilante que parecia ser ele. Brick estava bem atrás, e Adam também, flutuando contra o mar de gelo em constante movimento.
— Vejam só, o herói retorna à casa — disse Rilke. — Inconveniente e arrogante como sempre. Vá embora, Cal, ninguém quer você aqui.
— É mesmo? Não vi seu nome na porta, Rilke — respondeu ele. — O que você quer?
— Quero que vocês deixem Schiller em paz — disse ela. — Deixem-nos todos em paz. Deixem a gente fazer o que viemos fazer. Pouco me importa se vão ficar escondidos em uma igreja esperando o fim do mundo, encolhidos nos braços um do outro. Mas não vão ficar entre nós e o nosso dever. Estão me ouvindo? Estou falando sério, Daisy. Se descobrir que está falando de novo com Schiller, ou com qualquer um de nós, vou acabar com você.
— Mas você está errada! — gritou Daisy, e o gelo se agitou, os cubos batendo uns nos outros. — Você está errada, errada, errada, errada, errada! — Enquanto falava, a pressão no peito aumentou. Sentia-se como uma lata de refrigerante agitada e prestes a estourar.
— Estou mesmo? — Rilke parecia estar refletindo sobre algo; sua expressão absorta se expandiu e então se contraiu, como pulmões. — Talvez a gente tenha que descobrir de uma vez por todas.
O sorriso de Rilke, frouxo e aquoso, era um sorriso de palhaço. Ela olhou para Schiller e, em seguida, para três outras figuras atrás dela que Daisy não tinha visto chegar. Eram Jade e Marcus, e entre eles estava Howie, o novo garoto. Todos tinham o mesmo fogo sem calor ardendo no peito. Rilke se virou, os olhos pequenos e negros, repletos de algo que Daisy não entendia, algo totalmente humano e, mesmo assim, completamente antinatural. Pela primeira vez, Daisy percebeu que o anjo dentro de Rilke talvez lhe gritasse a verdade, tentando fazê-la entender, em uma linguagem que nenhum deles jamais poderia sonhar ouvir. Lamentou por ele, sentindo sua frustração. Quem dera ao menos houvesse um jeito de saberem de uma vez por todas por que estavam ali e por que tinham sido escolhidos.
— Mas há — disse Rilke, puxando seus pensamentos outra vez com dedos gélidos. — Não percebe? Só precisamos ir até lá.
Ir aonde?, perguntou-se Daisy, e outra vez apareceu para ela a tempestade no gelo, rasgando a massa gélida em uma rajada de farpas. Olhou e viu o homem ali, a besta, envolto em um manto espiralante de detritos, a boca aberta, devorando tudo o que podia, transformando substância em ausência. Ele girava os olhos para ela como se soubesse que estava ali, e no estrondo de sua voz ela ouviu risos. Afastou-os com os dedos da mente, gritando em silêncio não, não, não, não.
— Sim, Daisy. É o único jeito de você aprender. — O sorriso de Rilke se alargou, até parecer grande demais para sua cabeça. Ela começou a recuar, levando consigo o irmão flamejante. — Quando acordarmos, vamos até lá, até o homem na tempestade, e vamos perguntar a ele.
Rilke
Great Yarmouth, 11h43
Acordaram juntos; Rilke emergiu do sono a tempo de ver os olhos opacos de Schiller se abrindo, e Marcus encolheu-se contra a parede como se soubesse o que estava por vir. Rilke passou a mão nos lábios secos, pensando no sonho que tinha acabado de compartilhar.
Daisy estava se tornando um problema; ela se recusava a reconhecer a realidade da situação. Rilke estava muito decepcionada, mas não era culpa da garotinha. Era dos outros, de Cal e Brick. Meninos, pensou ela, tão fracos, tão convencidos da própria autoridade. Podia tê-los matado ainda em Hemmingway; deveria ter colocado Schiller contra eles, ou talvez matado os dois com as próprias mãos, assim como fizera com a garota no porão. Tinha sido tão fácil tirar uma vida, tão sem consequência! Apertar, bang, morreu, apertar, bang, morreu, e aí quem sabe Daisy tivesse lhe dado ouvidos, quem sabe até estivesse ali com ela agora.
Haveria tempo para isso, porém. Assim que seu anjo despertasse, encontraria Cal e Brick, e acabaria com eles. Tudo seria muito mais fácil sem os dois. A menos que o anjo deles nascesse primeiro, pensou ela, tremendo, subitamente desconfortável. Como queria se libertar daquilo tudo, da carne, dos ossos, das cartilagens, do fedor humano, e ser uma criatura de genuíno fogo.
Por favor, disse ela para a coisa em seu coração. Por favor, não demore muito. Preciso de você!
Essas palavras fizeram-na se sentir insuportavelmente fraca, e ela se levantou para que seu enrubescimento ficasse menos óbvio. Não sabia quanto tempo tinha dormido — tempo demais —, mas precisavam voltar a andar. O que ela havia dito no sonho-que-não-tinha-sido-um-sonho era real. Só havia um jeito de saberem qual era a verdade. Precisavam encontrar o homem na tempestade e ouvir o que ele tinha a dizer. Essa ideia era como um punho cerrado com firmeza em seu estômago, mas o medo era só outro lembrete de sua fraqueza, de sua desprezível humanidade, por isso o ignorou. Tinha visto o homem na tempestade em sua mente; tinha visto o quanto ele era parecido com Schiller, com tudo o que estava dentro deles todos. Ele era um deles, um anjo, a quem cabia eliminar essa espécie ridícula e pastorear o que restasse de volta ao estábulo. Não havia outra explicação.
Mas como chegar até ele?
— Rilke, ainda estou cansado — disse Schiller naquele irritante ganido de filhote com que se expressava. Apoiou-se nos cotovelos, tudo nele frouxo, leve e repulsivo. — A gente nem dormiu direito.
— Cale a boca, Schiller — falou ela. — Você só sabe reclamar e dormir. Levante-se.
— Mas...
— Mandei levantar, irmão. — Ela deu um passo à frente, a mão erguida, prestes a explicar com um tabefe a seriedade de sua ordem.
Ele se encolheu, movimentando-se até ficar de pé, encurvado e assustado sob os dedos de luz viscosa que penetravam pela janela com tábuas. Rilke encarou Marcus e Jade, e eles obedeceram sem que ela precisasse pedir.
— Estou com fome — murmurou Jade. Com aquele rosto e cabelo imundos, parecia um porco-espinho, o que só serviu para deixar Rilke ainda mais furiosa. A comida era desnecessária, agora que eram feitos de fogo.
Rilke foi até a porta, abrindo uma fresta e espiando o calor incandescente do dia. A única mácula na vasta tela azul do céu era uma névoa opaca acima da cidade que haviam aniquilado, uma tênue nuvem negra que a fez pensar em um véu funerário. Espirais de gaivotas investiam através dela, banqueteando-se com o que quer que tivesse sobrado. Parecia tão distante. Como iam conseguir chegar a Londres, ao homem suspenso na tempestade? Não podiam andar até lá, com certeza não, já que agora carregavam o novo garoto. Rilke não sabia dirigir, e não era como se eles tivessem a opção de pegar um trem. A frustração fervilhava em sua cabeça, e a jovem desejou ser capaz de acabar com a distância do mundo com um grito, apenas urrando pela terra e trazendo a cidade e a tempestade a seus pés. Havia chegado mesmo a abrir a boca, quando percebeu que qualquer som que emitisse seria lastimável. Cerrou os dentes e os punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Teriam de se contentar em ir a pé e ver o que a sorte lhes traria.
— Vamos — disse ela, dando um passo em direção ao dia, seu calor fazendo-a se sentir ainda mais desconfortável sob a própria pele. Queria arder com a ferocidade do sol, e não senti-lo roçar nela, condescendente. Ouviu-se o farfalhar de movimentos atrás dela, e um instante depois Jade saiu pela porta com o braço do novo garoto sobre o ombro, Marcus apoiando-o do outro lado. Schiller foi o último; parecia ter um metro de altura ao sair encolhido do moinho. — Vocês todos são mais fortes do que acham que são agora — ela lhes disse. — Vocês têm anjos dentro de vocês, e eles os manterão em segurança. A fraqueza é apenas uma lembrança da vida antiga. Ignorem-na, e ela vai embora.
Mesmo enquanto falava, sentiu o sangue se esvair da cabeça e o mundo girar atordoado em volta dela. Deu um passo à frente para restabelecer o equilíbrio, começando a contornar o moinho. Havia uma casa distante uns cinquenta metros, e, aos fundos dela, nada além de campos até uma linha de árvores distantes. Porém, se andassem por bastante tempo, com certeza encontrariam uma estrada, não encontrariam? Só que parecia tão, tão longe.
— Rilke, por favor — disse Jade. — Tem uma casa ali. Será que a gente não pode pedir comida ou algo assim?
Rilke olhou para a casa e o viu: um flash negro atrás de uma das paredes caiadas. Ele desapareceu antes que a garota pudesse entendê-lo devidamente, mas isso bastou; ela sabia o que era. Seu sangue pareceu congelar dentro de si.
— Schiller! — gritou ela, virando-se para o irmão, vendo mais figuras negras surgindo, usando capacetes e segurando rifles. Eram demais para serem contados, todos avançando em direção a eles. Como os tinham encontrado?
— Não se movam! — alguém gritou. — Ou vamos abrir fogo, não duvidem!
Eles chegavam de todos os ângulos, jorrando de trás da casa e dos campos em ambos os lados. Rilke correu para Schiller, pegando o colarinho de sua blusa e sacudindo-o com tanta força que mais uma mecha de seu cabelo caiu.
— Mate-os! — ordenou ela, querendo que se transformasse. — Mate-os agora, irmãozinho, agora!
— Fiquem onde estão! — ladrou a voz outra vez.
Schiller choramingou, sem qualquer sinal de fogo naqueles enormes olhos azuis e úmidos.
— Não posso, estou muito cans...
Ela lhe deu um tapa na cara, depois outro, mais forte, até que ele a encarasse.
— Preciso de você, irmãozinho! — falou ela. Em poucos segundos, alguém começaria a atirar, ou eles cruzariam aquela linha que os transformava em selvagens. Fosse como fosse, se Schiller não encontrasse sua fúria, Rilke e seus companheiros iriam morrer. — Preciso que você se transforme, agora mesmo! Preciso que faça aquilo que você faz!
Os soldados avançaram, a luz do sol reluzindo de seus visores, de suas armas. Jade, ajoelhada, gritava; Marcus engatinhava de volta para o moinho. Só restava Schiller; Schiller, um pobre coitado assustado, acabado, humano.
— Não me deixe na mão — disse Rilke, apertando com mais força ainda a blusa dele, sua pele sob a roupa, até que fizesse uma careta.
— No chão, agora! — gritou a voz. — Todos vocês!
— Não ouse me deixar na mão! — a voz de Rilke era um grito, enquanto a garota o sacudia.
Ele explodiu em luz, uma segunda pele de chama azul ondulando pelo corpo, o baque da transformação lançando-a para trás, fazendo-a rolar pelo chão. O ar irrompeu naquele zumbido que anestesiava a mente, tão alto e profundo que apagava os demais sons. Schiller pairou acima do chão, o fogo abrindo caminho até seu pescoço, cobrindo-lhe o rosto, uma asa desfolhando-se das costas.
Algo foi disparado. Tiros, percebeu ela, rindo. Chegaram tarde demais; agora não podem mais feri-lo. Porém, a cabeça de Schiller foi para trás, como que acertada por um martelo invisível. Sua chama bruxuleou e se apagou, e ele foi ao chão, gemendo e agarrando o próprio rosto.
— Não! — gritou Rilke, arrastando-se pelo chão. — Schiller!
Ele a encarou, a chama irrompendo de novo, agora tão forte que ela precisou esconder a cabeça nos braços. Rilke ainda estendia a mão para ele quando ouviu mais tiros e berrou o nome do irmão com toda a força que tinha. Não poderiam tirá-lo dela, não agora, nem nunca. O mundo escureceu e ela o olhou de novo, vendo-o deitado de lado, com uma ferida escancarada em sua têmpora esquerda.
Tudo bem, Schiller, você vai ficar bem, prometo. Só mate eles, por favor, mate todos eles; mas não sabia se tinha falado mesmo as palavras ou só pensado nelas.
Uma bala ricocheteou da terra a centímetros do irmão, e, em seguida, bateu no peito dele, estourando suas costas e abrindo um leque de vermelho vivo, tão brilhante que não parecia real. Rilke gritou de novo, jogando-se pelo último metro até alcançá-lo, envolvendo-o com as mãos, querendo que a criatura ali dentro encontrasse seu poder e reagisse. E ela encontrou; Schiller outra vez irrompeu em fogo frio. Desta vez, Rilke se agarrou a ele, abraçando-o com força, tentando nutri-lo, passando a ele cada gota de energia que possuía.
Ele falou, a voz como um pulso sônico que rasgou o ar, transformando o moinho em uma tempestade de pó, misturando homens e lama, até que o campo parecesse a paleta de um pintor. Porém, o grito falhou após um momento, voltando a ser a voz titubeante do irmão. Ele gemeu, o sangue brotando da cabeça, esparramando-se nela como água fervente após o irromper do fogo. As chamas ondulavam de um lado para o outro em sua pele, sem conseguir se fixar, os olhos se acendendo e se turvando, se acendendo e se turvando, como um avião com falha no motor.
Rilke se abraçou a ele enquanto os soldados avançavam. Os que estavam na frente já haviam se tornado furiosos, largando as armas e partindo para cima dos dois, a carne dos rostos frouxa, as mentes tomadas pela Fúria. Outros ainda disparavam, deixando o ar vibrante com o chumbo incandescente. Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ela os odiava tanto! Odiava os humanos, odiava a si própria por ser tão fraca. Não podia terminar assim, não agora, não quando tinham tanta coisa para fazer. Por que você não acorda?!, urrou ela para o anjo dentro de si. Cadê você? CADÊ VOCÊ?
Outra bala acertou Schiller, arrancando um naco de seu ombro. Desta vez, ele gritou de dor, o fogo se acendendo outra vez. As asas se abriram nas costas, batendo e erguendo-o em meio a um furacão de pó. Ele falou outra vez, o tsunami de palavra-que-não-era-palavra rasgando o campo, desfazendo os soldados em nuvens de cinzas que mantinham as silhuetas por um instante, como se não entendessem o que lhes tinha acontecido, antes de desaparecerem. Mas ainda assim eles vinham, de todas as direções, gritando, atirando, em um número grande demais para serem combatidos.
Como na rave, pensou ela, lembrando-se da primeira noite em que a Fúria quase os tinha feito sucumbir. Era um campo bem parecido com aquele, só que daquela vez era noite, e havia um exército de gente tentando fazê-la em pedaços, o homem de luvas laranja, os dedos de aço na garganta de Schiller. Tinham sobrevivido a eles, tinham escapado; de alguma maneira, haviam saído dali.
Mas como? Como tinham feito aquilo?
Nossos dedos se tocaram, e derrubamos as estrelas.
Ela olhou para Schiller, e ele pareceu saber o que ela pensava. O fogo empalideceu, e ele se curvou para trás, apagando-se da vida, mas ela o abraçou. Vendo Jade ao lado eles, estendeu a mão; percebeu também que Marcus corria de volta, o entendimento do que estavam prestes a fazer de algum modo refletido em seus olhos — não me abandonem. Ele deslizou até eles e deu uma mão para Rilke, que deu uma mão para o garoto que ardia, que pegou a mão do garoto congelado, ao lado dele; Jade se agarrou ao braço de Rilke, e Schiller rugiu, envolvendo todos em fogo frio, e o mundo se despedaçou.
Desta vez, Rilke sabia o que esperar, a sensação de que a vida era um tapete que tinha acabado de ser puxado de debaixo de seus pés. Seus dentes rangeram diante da súbita precipitação e força daquele ato, e ela se esforçou para manter os olhos abertos. Uma onda de energia explodiu de onde estavam, e, em seguida, o campo foi como que projetado com tanta força que o grito de Rilke sequer pôde sair de seus pulmões.
Um instante depois, a vida os reencontrou, envolvendo-os em seu punho cerrado, furiosa por terem achado uma maneira de se libertar. O mundo recuperou sua forma com o som de um milhão de celas de cadeia fechando as portas ao mesmo tempo, trancafiando-os de novo. Rilke se inclinou para a frente, um jato de vômito branco como leite disparando de sua boca, caindo sobre o asfalto. Enxugou as lágrimas com a mão trêmula, vendo que estavam em uma estradinha do interior. Um bosque os protegia de um lado, um declive alto e verdejante do outro, mas ainda ouviu o distante ruído de tiros. Uma chuva de cinzas vagava em volta deles, dançando ao sabor da brisa.
Virou-se ao ouvir o som de gente vomitando, vendo Jade e Marcus também borrifando fluidos na estrada. Somente Schiller estava imóvel, outra vez só um garoto, apenas seu irmão. O sangue formava uma poça embaixo dele, parecendo preto em contraste com o cinza. Ela apertou a mão contra a ferida em seu peito, e a ferida derramou-se por entre seus dedos. Era o sangue dele. Tinham compartilhado o mesmo útero, e isso fazia daquele sangue o sangue dela também, um único sangue. Fez pressão com a outra mão, tentando estancar a ferida. Ele não reagiu; só ficou deitado ali, mirando a imensidão de céu azul acima, os olhos claros indo de um lado para o outro como se ali lesse uma verdade.
— Mas o que foi que acabou de acontecer? — disse Marcus, tentando ficar de pé, mas caindo com o traseiro no chão. — Onde estamos?
— Schiller? — disse Rilke, ignorando o outro garoto. — Pode me ouvir?
Se podia, não dava sinal disso. Sua respiração era superficial, quase um engasgo, e bolhas cor-de-rosa brotavam de seus lábios quando ele expirava. O corpo trepidava, falhando, e os soluços saíram dela antes que pudesse detê-los. Suas lágrimas estavam tão quentes que teve a impressão de estar chorando sangue, mas, quando pingaram no rosto do irmão, eram apenas lágrimas.
— Irmãozinho — disse ela, alisando seu cabelo, ignorando as madeixas que se despregavam nos dedos vermelhos e viscosos —, sei que você deve estar achando que vai morrer. Mas não vai. Quero que preste bastante atenção, muita atenção. Eu sei como salvar você. — Era mentira, claro; ela não sabia nada disso. — Preciso que nos leve para algum lugar, como acabou de fazer. Preciso que nos leve para o homem na tempestade. Acho que ele pode dar um jeito em você.
O corpo de Schiller se agitou de novo, um leve tremor bem no fundo dele, como um terremoto sob o oceano. Ele girou os olhos para ela, a cor deles quase sugada por completo, os lábios retorcidos em uma quase palavra.
— O quê? — perguntou ela, passando o dedo pela bochecha dele.
— Não... Não consigo...
— Consegue, Schiller — disse ela, tentando trancar os soluços no peito, onde se debatiam dolorosamente contra suas costelas. — Você é forte, muito mais forte do que pensa, muito mais... Muito mais forte do que eu já permiti que acreditasse ser. Você é meu irmão, somos feitos das mesmas coisas, eu e você; tudo o que eu posso fazer, você também pode.
Os tiros à distância tinham cessado, mas ela distinguiu o ruído de um helicóptero. Não demoraria para os soldados os encontrarem. Ela tomou a mão de Schiller, beijando seus dedos.
— Faça isso por mim, irmãozinho — falou ela. — Leve-nos para lá. Sei que consegue.
— Ela... Ela não quer que eu faça isso — disse ele.
Quem?, Rilke quase perguntou, antes de responder à própria pergunta.
— Daisy. — E o fogo branco dentro dela fez seus ouvidos apitarem. Ela estava falando com ele agora: como ela ousa... contrapor-se às ordens dela, revirar a mente do irmão e envenenar seus pensamentos.
— Ignore-a, Schill, ela não ama você como eu amo!
Ao ouvir isso, os olhos de Schiller se acenderam. Ele apertou a mão dela com toda a força que lhe restava. Foi como ser apanhada pela garra de um pássaro, algo tão débil que ela teve medo de que os dedos dele se soltassem.
— Amo você, irmãozinho, mais do que tudo.
— Também amo você — ele conseguiu dizer, tossindo mais sangue.
— Então faça isso por mim. — Ela o agarrou com firmeza e depois olhou para Marcus e Jade.
— Não quero — disse Jade, arrastando-se para longe, de costas, e balançando a cabeça. — Não aguento mais.
— Eles vão matar você — disse Rilke. Mas não importava; eles não precisavam de Jade. Ela que fosse morta, seria uma ovelha a menos para Rilke pastorear. Marcus colocou uma das mãos em Schiller, agarrando sua blusa com os dedos esbranquiçados. Apertou o braço do garoto novo, e então fez que sim com a cabeça.
— Você consegue, Schill — falou Marcus.
Rilke fechou os olhos, imaginando a tempestade que ardia sobre Londres e a criatura que sugava a podridão do mundo com aquela inspiração colossal e infinita. Leve-nos para lá, pensou, dirigindo as palavras para a cabeça de Schiller. Leve-nos para ele; sei que você consegue. Não havia uma única dúvida na mente dela. Era por isso que estavam ali. Ele salvaria Schiller, salvaria todos. Aquele homem era o anjo da guarda deles.
Schiller assentiu, depois falou, e outra vez o universo — o tempo, o espaço e todas as órbitas da vida em movimento — não teve outra escolha a não ser deixá-los partir.
Cal
East Walsham, 11h48
Cal acordou, mas achou que ainda estivesse dormindo, porque Brick estava sentado no último banco da igreja acariciando os cabelos de Daisy. Brick, a pele quase azul, sarapintada com a luminosidade colorida dos vitrais, tremia ao contato gélido do corpo dela; sentiu que Cal acordara, pois se levantou, passando as costas da mão pelo nariz.
— Está tudo bem com ela — disse ele. — Você viu.
Ele não falou: aquilo foi um sonho? ou a gente realmente se encontrou? Cal afastou os últimos vestígios de sono, erguendo-se e imediatamente sentindo que fora jogado em uma piscina de lâminas. Ele resmungou e tentou não se mexer, com a dor enfim se assentando em uma supernova atrás da testa.
— Ai! — disse ele. Eufemismo do século. — Você por acaso não viu algum analgésico por aí, viu?
— Na casa paroquial tem um kit de primeiros socorros, como falei — disse o sacerdote.
Doug. Cal tinha se esquecido totalmente dele. Estava sentado onde prometera ficar sentado, esfregando as pernas como que para manter o sangue em circulação. Cal agradeceu com um gesto de cabeça, e, em seguida, olhou para Brick. O garoto maior precisou de um instante para perceber o que lhe estava sendo pedido, e balançou a cabeça em uma negativa.
— Eu fui da última vez — falou. — Agora é sua vez. — Baixou os olhos para Daisy mais uma vez, e Cal tomou consciência do quanto ele a amava. Brick era bom em tentar esconder seus sentimentos, mas era um péssimo mentiroso. Apesar do rosto feito de pedra, seus olhos entregavam tudo. Quando toda aquela loucura terminasse, se eles sobrevivessem, Cal precisaria desafiá-lo para uma partida de pôquer. — Onde ficava aquilo? — perguntou Brick, atravessando o corredor e sentando-se no banco do outro lado. — Aquele gelo todo e tal.
— Sei lá — disse Cal, tentando outra vez levantar-se. Apoiou as costas contra a parede, deslizando para cima um centímetro de cada vez, até ficar mais ou menos na vertical. Pensou no lugar que havia visitado enquanto dormia, a lembrança um tanto esmaecida. Tinha gelo lá, era fato, mas havia outras coisas também. E outras pessoas. — Rilke. Ela estava lá.
Brick fez que sim com a cabeça, usando a unha de um dos dedões para cutucar a madeira do banco à frente.
— Pelo menos ela está bem — disse. — Daisy, digo. Ela estava lá e parecia em segurança. Não acho que Rilke possa lhe causar nenhum mal além de falar com ela.
— O que já é bem ruim — rebateu Cal. — Aquela garota é maluca.
Ao ouvir isso, Brick quase sorriu. Largou o que quer que estivesse cutucando.
— E agora? Rilke disse que está indo para lá, para a tempestade. Acha que ela estava falando sério?
Cal deu um passo hesitante em direção à porta. Agora que estava de pé e em movimento, a dor parecia mais branda, como se tivesse se entediado com ele. Deu mais um passo, esticando os braços com suavidade. As costas pareciam ter se transformado na mesma pedra da qual a igreja era constituída, como se ele lentamente houvesse se tornado uma das estátuas inertes que enfeitavam paredes e tumbas. A mãe sempre lhe dissera que sentar no chão por muito tempo lhe daria hemorroidas. Era só o que faltava mesmo: ser acometido por hemorroidas.
A mãe! Como tinha ficado tanto tempo sem pensar nela? Ela estava em Londres, bem no centro daquilo tudo. Agora já devia ter sido engolida inteira, devorada pela besta. Ele sacudiu a cabeça, tentando mandar para longe a ideia; melhor não pensar em nada disso.
— Brick, para ser sincero, pouco me importa se ela estava falando sério ou não. Sabe de uma coisa? Se ela for até lá, até aquela coisa, de repente vai ser o melhor que pode acontecer. De repente aquilo vai engoli-la, ela e o irmão. E vai fazer um favor a todos nós.
Ou talvez ela tenha razão, pensou ele. Talvez o homem na tempestade seja um de nós; talvez ela peça a ajuda dele e o traga para cá, bem para nosso esconderijo. E ele visualizou as nuvens enegrecerem, o teto da igreja se descascar, tudo indo para dentro do redemoinho furioso do céu, o homem ali, sugando o mundo para sua boca, obliterando tudo. Cal estremeceu com tanta força que quase caiu, a igreja escura demais, fria demais, quieta demais. Andou a passos incertos até a porta, onde um dedo de sol acenou para ele.
— Já volto — falou.
Adentrar a luz do dia era como entrar num banho quente, a luz era um líquido dourado em que podia mergulhar. O sol estava bem acima de sua cabeça, o que significava que tinham dormido por um bom tempo; talvez algumas horas. Ainda havia um restinho de fumaça no ar, mas não se ouvia nada mais na cidadezinha, nenhuma sirene, nenhum grito. Era como se nada tivesse acontecido. Não seria maravilhoso?, pensou ele. Se tudo simplesmente tivesse sumido?
Levou algum tempo para achar a casa paroquial, porque tinha saído pelo lado errado da igreja. O cemitério era grande e cercado por teixos e algo espinhento, a vegetação tão densa que poderia muito bem não haver mundo nenhum do outro lado. A casinha ficava entre leitos de flores e mais árvores, quase repulsivamente pitoresca. Ele abriu caminho pela porta, parando ao ouvir vozes adiante.
— ... o departamento afirma que cerca de um milhão de pessoas podem ter morrido, e outros milhões desapareceram.
A televisão; Cal reconheceu o tom formal do âncora do noticiário. Mesmo assim, caminhou pé ante pé, pronto para voltar correndo por onde tinha vindo se fosse necessário. O sacerdote não havia dito que tinha uma esposa? A ideia de ela vir guinchando pelo corredor, pronta para arrancar os olhos dele, dava-lhe vontade de sair dali imediatamente. Achava que seu corpo não resistiria a mais um ataque, nem se fosse o de uma velha senhora. Superando o medo, abriu a porta e entrou na cozinha. A televisão estava a um canto, um homem e uma mulher sentados à bancada do noticiário enquanto a tempestade ardia atrás deles. Cal desviou o olhar. Não queria ver aquilo. Porém, continuou ouvindo enquanto vasculhava o armário.
— Traremos mais notícias num instante — disse o homem. — Enquanto isso, uma declaração de Downing Street confirma que o primeiro-ministro e os demais ministros foram evacuados da cidade, em meio a críticas de que não estão fazendo o suficiente para ajudar o povo de Londres. Com a taxa de mortos já em sete dígitos, e ainda nenhum sinal de que a ameaça tenha sequer sido identificada, o governo enfrenta uma pressão cada vez maior da comunidade internacional para proteger a população.
Abriu uma segunda porta, mas só viu vasilhas e panelas. A terceira continha panos, e, bem no fundo, uma bolsa verde com uma cruz branca na frente. Abriu o zíper e tirou um frasco de aspirina, ainda ouvindo o que estava sendo dito.
— Nossa correspondente em Londres, Lucy White, ainda está em campo. Lucy, pode nos dizer o que estão falando nas ruas?
A voz da mulher era quase sufocada pelo som ininterrupto da tempestade, o som de um milhão de trombetas soando.
— Como pode ver, Hugh, aqui só se fala em caos, o que é compreensível. Estou do lado sul do rio, bem pertinho da roda-gigante London Eye. Ainda ontem havia milhares de pessoas aqui, moradores e turistas aproveitando a cidade. Agora as ruas estão lotadas de uma multidão tentando fugir do ataque que acontece a menos de trinta quilômetros. Do outro lado do rio, talvez você possa ver os veículos do exército. Estavam montando uma zona de quarentena no aterro norte. As pontes foram fechadas. Ninguém pode ir para lá, nem a imprensa. O que quer que aconteça, vamos ter de assistir daqui.
— Pode descrever esse ataque, Lucy?
— Sim, é uma nuvem, uma nuvem quase em forma de cogumelo, igual à de uma explosão atômica. Só que... — Ela engoliu em seco em busca de palavras. — Ela se move, como um furacão. É enorme. Estima-se que tenha oito quilômetros de diâmetro, e está crescendo. Tudo o que se aproxima, e temos informações confiáveis de que estão incluídos nesse meio aviões da força aérea, é... como dizer... sugado: prédios, carros, até ruas inteiras.
Cal abriu o frasco e engoliu uma aspirina. Depois da segunda, tomou mais uma, usando as mãos para jogar a água da pia na boca e no rosto.
— Há relatos de uma figura dentro da nuvem — prosseguiu a mulher, e ao ouvir isso Cal se virou para a televisão. — Um homem. Acreditamos que seja uma espécie de ilusão de óptica, mas... Mas não sabemos de fato.
Na tela, a repórter foi empurrada por um estrangeiro zangado que gritou alguma coisa para a câmera antes de sair correndo. Havia muita gente ali, centenas de pessoas só naquela tomada, a maioria fugindo na mesma direção. Acima da cabeça dela, o equivalente a uma noite de inverno, o céu negro feito breu. A tela era pequena demais para que se pudesse realmente distinguir o que estava suspenso ali, mas aquilo rodopiava e se agitava, uma espiral giratória de vespas. A repórter tinha razão: era enorme.
— O secretário de defesa anunciou a convocação de um grupo de especialistas para tentar identificar a ameaça — prosseguiu a mulher. — Mas, até que esse relatório seja liberado para o público, não temos nada oficial.
Um soldado adentrou a filmagem, empurrando a mulher e fazendo um gesto para a câmera. A repórter lutou para falar enquanto era deslocada para fora da tela.
— Estão nos dizendo que a linha de quarentena está passando para o sul. É com você, Hugh.
Estática, e de volta para o estúdio. O homem arrumava os papéis, a boca aberta como a de um peixinho dourado. Ele tossiu, e Cal desviou de novo o olhar. Era sempre mau sinal quando os âncoras ficavam sem fala; era assim que você sabia que a encrenca era para valer. Cal esfregou as têmporas e, vendo o telefone ao lado da televisão, seus pensamentos se voltaram para a mãe. Ela estaria terrivelmente preocupada com ele, teria deixado incontáveis mensagens em seu celular, mas não havia nenhum sinal em Fursville, e o celular tinha se perdido em algum lugar entre o ataque à fábrica e a destruição de Hemmingway por Schiller. Pegou o telefone sem fio, parou um instante e, em seguida, ligou para casa.
O que diria a ela? Oi, mãe, desculpe ter sumido por uns dias; é que da última vez que nos vimos você tentou arrebentar o vidro do carro para me matar, lembra? Claro que ela não lembraria. Era assim que a Fúria funcionava; era o que ela tinha de mais cruel. Atacavam você, matavam você, e depois o esqueciam. Era como se você nunca tivesse existido.
A ligação foi atendida, mas foi ele quem respondeu do outro lado da linha. O som da própria voz lhe deu palpitações, uma descarga forte de adrenalina detonando em sua barriga.
— Olá, você ligou para a família Morrissey. Não estamos em casa no momento, mas deixe um recado, por favor. Ou, se quiser falar comigo, ligue para o meu celular. Valeu.
Ele parecia tão jovem, tão distante, tão não ele mesmo, como se houvesse outra versão de Cal Morrissey sentada em casa, uma versão sem um anjo no coração. Ouviu o bipe, percebendo que respirava alto ao telefone, e encerrou a chamada com o dedão. Não queria que a mãe achasse que ele era algum tarado obcecado; ela já tinha muito com que se preocupar. Esticou a cabeça, tentando se lembrar do celular dela, e apertou os números. Começou a tocar. Por favor, que tudo esteja bem com você, pensou ele. E estaria, certo? Moravam em Oakminster, era bem a leste da cidade, a quilômetros da tempestade. A menos que ela tenha ido para Londres, pensou. De repente, ela está lá me procurando.
— Alô?
Aquela única e simples palavra pegou-o totalmente de surpresa, inundando-o. Antes que percebesse, ele chorava, os gritos saindo com tanta força que não foi capaz de articular uma só palavra. Desabou contra o balcão, as lágrimas escorrendo do rosto, chegando salgadas à língua, o corpo inteiro sacudindo com a força daquele momento.
— Callum? Cal, é você? Meu Deus, onde você está? Está tudo bem?
Ele soltou um punhado de quase-palavras, respirou fundo e tentou de novo:
— Estou bem, mãe — gemeu, o choro se atenuando em brandos soluços. Enxugou as lágrimas, os olhos como que recheados de algodão, a garganta ardendo. — Estou bem.
— Meu Deus! — disse ela, e Cal percebeu que a mãe também chorava. — Estava tão preocupada, Cal, eu achei... Achei que alguma coisa terrível tivesse acontecido. Onde você está?
— Estou em segurança. Fora da cidade. Você também precisa sair daí, mãe, tem uma coisa realmente terrível acontecendo.
Um som de fricção, como se ela destrancasse uma porta ou algo assim. Cal ouviu vozes.
— Estou bem — disse a mãe, fungando. Havia no tom de voz dela certo enrijecimento agora. Cal o conhecia bem: depois que as lágrimas iam embora, sempre vinha a raiva. — Tem ideia do quanto fiquei preocupada? Você simplesmente sumiu com o carro. Estou presumindo que foi você quem levou o carro.
— Sim, desculpe, eu...
— Cal, mandei a polícia ir atrás de você! Os vizinhos, ninguém conseguia entender por que você teria fugido! Foi por causa do que aconteceu na escola? Seus amigos estão assustados, Cal, e também furiosos; eles acham que você os abandonou. A coitada da Georgia continua no hospital. Por que, Cal? É melhor ter uma boa explicação!
Tem uma coisa dentro de mim, uma criatura que vai nascer para me transformar em uma arma, e assim poderemos combater o homem na tempestade, mas ela é tão poderosa e tão estranha que as pessoas não aguentam ficar perto dela, por isso tentam me matar. Essa ideia era tão absurda que ele fungou em meio a uma risada amarga.
— Não é engraçado, Cal! Seu pai chega amanhã, e ele vai ficar muito zangado!
— Desculpe, não estava rindo. Olha, mãe, não posso contar tudo, não agora. Só queria que soubesse que estou em segurança, que estou bem. Logo eu vou para casa, prometo, mas tem uma coisa que preciso fazer primeiro.
Era mesmo verdade? Ele realmente poderia ir para casa? O que aconteceria se combatessem o homem na tempestade, se de algum modo pudessem derrotá-lo? Os anjos simplesmente iriam embora? Ou teriam vindo para ficar?
— Não vá para casa! — disse a mãe. — Não estou lá. Estou na casa de sua tia Kate. Você não viu as notícias?
— Vi. — Cal ofertou um agradecimento mudo ao ar por ela estar em segurança, ou pelo menos fora da cidade. Kate vivia em Southend, bem ao lado do mar. Se elas precisassem, podiam pegar um barco e ir para outro lugar da Europa. — Pois é, a situação está difícil mesmo, mãe.
— Estão dizendo que milhões de pessoas vão morrer, ou já estão mortas. Meu Deus, Cal, você pode vir para cá? Onde você está? Juro que não vou ficar zangada se resolver dar as caras agora aqui na casa da Kate.
— Eu... Não posso, mãe, ainda não. Mas em breve, está bem? — O choro bateu em seu peito outra vez, mas ele o trancafiou. — Olha, preciso desligar, mas eu te amo.
— Cal, por favor, só me diga onde está! Eu vou aí e pego você!
— Eu te amo, mãe.
Ela precisou de um instante para escutá-lo, não suas palavras, mas a verdade dentro delas, a compreensão de que talvez fosse a última vez que se falavam. Ela começou a chorar de novo, e Cal a visualizou na casa de Kate, sentada no sofá de courino com o casaco de estampa de onça, a cabeça apoiada nas unhas perfeitamente vermelhas, cercada por aquela névoa de laquê e de Chanel nº 5. Viu-se colocando um braço em volta dela, apertando-a, do modo como fazia quando ela e o pai brigavam, dando-lhe um beijinho na pele macia da bochecha.
— Eu te amo, Cal — disse ela, a voz não mais que um sussurro. — Eu te amo muito. Diga que tudo vai dar certo.
— Tudo vai dar certo. Juro, vai dar certo mesmo. — Tinha a sensação de que havia uma pedra na garganta; quase não conseguia forçar o ar a passar por ela. — Preciso desligar, mãe.
— Não, Cal.
Sim. Ele desligou com o dedão e ficou ali, em um mar de luminosidade solar, sentindo-se exausto demais até para chorar. Deixou o telefone cair dos dedos, e o aparelho despencou do balcão para o piso de pedra, a tampa da bateria se soltando.
Diga que tudo vai dar certo, disse ele à criatura dentro de si, a coisa que se alojava em sua alma, o anjo-mas-não-anjo. Prometi a ela, o que significa que você prometeu também. Você tem de cumprir a promessa; tem de dar um jeito nas coisas.
Não houve resposta, só o batimento irregular do próprio coração. Virou-se, perguntando-se se teria forças para sair da cozinha, quanto mais para chegar à igreja. Ao menos a aspirina estava fazendo seu trabalho, anestesiando a dor. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Talvez, se continuasse dizendo aquilo, aquelas palavras se tornassem verdade. E tinha quase conseguido se convencer disso quando ouviu uma mudança no som da televisão, um coral de gritos transmitidos em ondas. Olhou para o aparelho e viu a tempestade, de algum modo ainda vasta mesmo na tela pequenina, e então ouviu a repórter avisar:
— É verdade, acabamos de obter confirmação: essa coisa está se movendo.
O Outro: III
A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, não a ausência de medo.
Mark Twain
Graham
Thames House, 11h59
— Está se movendo.
Graham tirou os olhos da tela, piscando para dissipar os pontinhos de luz. A filmagem da operação de campo tinha chegado havia alguns minutos, e ele já a assistira quatro vezes. Os soldados usavam câmeras no capacete — procedimento-padrão para qualquer ação ofensiva —, mas o que tinham gravado simplesmente não fazia nenhum sentido. Os garotos haviam saído do moinho, e o menino, o mesmo de antes, tinha de algum modo se transformado. Não tinham nenhuma imagem decente; a luz que ele emitia era brilhante demais para as câmeras, saturando-as, fazendo-as sangrar em brancura. Porém, em algum lugar do borrão, Graham jurava ter visto uma criatura em chamas, com duas asas enormes e incandescentes.
Então, em um lampejo, ela desaparecera. Graham tinha voltado e avançado a filmagem frame a frame, uma mera décima terceira parte de segundo entre eles. Em um, quatro garotos normais e o menino em seu inferno; no seguinte, um círculo de fogo, como quando você fotografa fogos de artifício em movimento. E, depois disso, apenas uma saraivada de cinzas e brasas. Aquilo que via era inacreditável, totalmente impossível. Tinha de ser algum defeito da câmera, só que todas as filmagens disponíveis, de meia dúzia de câmeras diferentes, mostravam a mesma coisa.
O pior de tudo era que eles tinham perdido mais de trinta homens. Graham ainda não dispunha do relatório completo, mas, pelo que ouvira em seu breve telefonema ao general Stevens, não havia sequer cadáveres; os soldados tinham sido vaporizados com o moinho e um campo de beterrabas. Só tem pó, dissera-lhe o homem. Os outros soldados estavam sendo tratados por estarem em choque. Aparentemente, dois terços deles tinham tentado arrancar os próprios olhos.
— Graham, está me ouvindo? — Era Sam, sentada ao lado dele.
— Hã? Desculpe. O que foi?
— Está se movendo.
Ela dirigiu a mão para a tela, e ele seguiu o arco grosseiro da unha roída, vendo a filmagem via satélite da cidade, que mostrava tudo, de Watling Park a norte a Fortune Green ao sol, e a maior parte daquilo era apenas um sólido borrão. Era como assistir à previsão do tempo e ver a inequívoca espiral de um furacão. Este, também, tinha um olho no centro, um bolsão de noite absoluta que aparecia, negro e vazio, sob lentes normais, infravermelhas, ultravioleta e todas as outras de que dispunham. Era como se, além daquele ponto sem retorno, não houvesse mais nada, calor nenhum, matéria nenhuma, ar nenhum, só um buraco onde deveria estar o mundo. E Sam tinha razão: a tempestade parecia agora se dirigir para o sul, envolvendo as linhas de trem de West Hampstead. Graham viu um fragmento de algo enorme ser erguido pelo turbilhão, um armazém, talvez a loja Homebase que havia ali. Desfazia-se no caminho, soltando pedaços enquanto desaparecia na corrente giratória.
— Nós...
Foi só o que Sam conseguiu dizer antes de a sala inteira sofrer um solavanco. Graham quase gritou, segurando a cadeira com tanta força que achou que tivesse quebrado alguns dedos. Todos os monitores da sala se apagaram, as luzes piscando enquanto o sistema de emergência lutava para recuperar o controle. Quando as luzes reacenderam, Graham viu que uma fenda se abrira no teto de trinta metros de puro concreto do bunker. Mau sinal.
— Que droga foi essa? — perguntou ele. Ainda havia um tremor percorrendo a sala, fazendo seus dentes baterem.
O monitor de Sam se reacendeu, com a transmissão via satélite ainda em ação. O movimento da tempestade tinha se intensificado, deslizando para o sul como uma nesga de petróleo respingando lentamente em direção à parte inferior da tela. Atrás dela restava um oceano de breu, uma trincheira vazia onde antes havia uma cidade. Graham ficou de queixo caído. Sentiu o gosto do pó da sala na língua, no ressecamento da garganta. Está vindo em nossa direção, está vindo para cá.
— Não sobrou nada — falou Sam. — Meu Deus. Aquilo... aquilo destruiu tudo!
Porém, destruir não era a melhor palavra. Uma destruição deixava ruínas, destroços, cadáveres. Essa coisa não deixava nada, cadáver nenhum, destroço nenhum, cinza nenhuma. Devorava tudo. Graham sabia que, se fosse possível ficar à beira daquela trincheira, só veria escuridão e nada mais. A sala tremeu de novo, a própria terra em volta deles parecendo rugir escandalizada, como um animal indefeso que sofresse uma tortura horrível.
— Não há nada que possamos fazer — gritou uma voz atrás deles. Graham olhou e viu Habib dirigindo-se ao elevador. Ele deu de ombros, pedindo desculpas. — Vocês também precisam ir. Se estiverem aqui quando isso chegar...
Não precisava terminar a frase. Graham sabia que, se aquela besta — a besta... de onde vinha isso? É um ataque, só um ataque — se lançasse contra Thames House, o fato de estar no subterrâneo não os salvaria. Ela os alcançaria com seus dedos de tempestade, levando-os ao buraco escancarado de sua boca, e tudo o que fazia dele ele mesmo seria erradicado. Virou-se de novo para a tela, ouvindo o bipe baixinho da porta do elevador.
— Ele tem razão — falou. — Você precisa dar o fora daqui.
— Claro. E deixar você no comando? — disse Sam. — De jeito nenhum. Não confio que um homem vá tirar a gente dessa!
Ela sorriu com delicadeza, apertando o ombro dele, e ele colocou a própria mão sobre a dela por um instante. Se a tempestade continuasse indo para o sul, então iriam embora, mas ainda havia tempo. Uma explosão abafada ondulou pelo teto, e choveu mais pó, fazendo tanto estardalhaço que Graham quase não ouviu o telefone que começou a tocar na mesa. Atendeu.
— Hayling falando.
— Graham, aqui é Stevens. — Seus anos de serviço militar fizeram-no endireitar as costas ao ouvir a voz do general.
— General. Está se movendo.
— Estamos cientes. Não temos mais opções.
— Como assim, general?
— Lançamos outro ataque aéreo quinze minutos atrás, mas o canalha engole tudo o que mandamos. O que quer que esteja no centro disso, não permite nossa aproximação. E você, tem alguma ideia do que estamos enfrentando?
— Não — respondeu Graham. — O que nós sabemos, o senhor sabe. Não é atômico, não é meteorológico, não é geológico nem biológico. E agora sabemos que é móvel.
— Se a trajetória atual for mantida, o centro de Londres será atingido em uma hora. — A voz do general, normalmente tão forte, parecia a de um garotinho. — É quase como se... como se essa coisa soubesse aonde está indo. Consegue me entender?
Está indo aonde tem gente, pensou Graham.
— Não, senhor — disse ele.
— E o outro incidente, aquele do litoral? Alguma pista?
— Não, senhor.
— Graham, preciso que fale a verdade para mim. — Stevens pigarreou. Algo ruim estava por vir. — Acha que sua equipe será capaz de identificar essa ameaça antes que ela chegue ao centro de Londres?
— Minha equipe? — Graham olhou para Sam e para a sala vazia atrás dela. Ruminou por um instante, e, em seguida, disse: — Não, senhor. Acho que não.
Uma pausa, e, depois, um profundo suspiro.
— Então fique bem trancado, Graham, porque vamos mandar uma bomba nuclear.
— General? — Aquilo com certeza seria um erro. Graham quase riu diante daquela insanidade. — Pode repetir?
— Você me ouviu bem — disse o homem mais velho. — Estamos sem opções. Se não fizermos algo agora, é impossível saber o que vai acontecer. Aquela coisa está crescendo, está ficando mais forte, e está se movendo. Conter a ameaça, Graham, e neutralizá-la; preocupar-se com os efeitos colaterais depois. É essa a nossa política no exterior; vai ter de ser nossa política aqui também.
— Mas o senhor não pode — gaguejou ele. — O senhor não pode autorizar um ataque nuclear em solo britânico, em Londres.
— Está feito. O primeiro-ministro deu sinal verde cinco minutos atrás. Estamos fazendo o melhor que podemos para evacuar a cidade, mas precisamos fazer isso com rapidez. Por esse motivo estou telefonando, Graham. Feche bem esse bunker até tudo isso acabar. Ou isso, ou você vai embora, mas não posso garantir que vá ficar fora da zona da explosão, não agora. Neste momento, o Dragão 1 está no ar.
— Quanto tempo temos? — perguntou ele.
— No máximo noventa minutos; é quase certo que menos. Lamento, Graham. Aguente firme. Com sorte, a gente acaba com esse negócio de vez e uma equipe vai buscar você assim que possível.
— E se não funcionar?
O general fungou ao telefone.
— Se não funcionar, então Deus nos ajude. Boa sorte.
— Para o senhor também — falou Graham, mas eram palavras vazias. Colocou o telefone suavemente na base, mirando-o como se o esperasse tocar outra vez, para ouvir o general dizer: Rá! Peguei você, hein, Graham? É a minha vingança por aquela vez que você esfregou pimenta no papel higiênico lá no Iraque! Mas claro que o telefone não tocou. Não tocaria de novo. Virou-se para Sam. — Você ouviu?
Ela tinha ouvido; Graham sabia pelo tom cinza-pergaminho da pele dela, pelo olhar vazio.
— Uma bomba nuclear em Londres — disse ela, balançando a cabeça. Uma lágrima desceu por seu rosto, criando uma trilha pela poeira que se assentara nele. — Meu Deus, Graham, isso está realmente acontecendo.
Ele olhou a tela, vendo a cidade. A cidade dele. Se o ataque — não, a besta; lá no fundo, você sabe a verdade — não a devorasse, então uma explosão atômica acabaria com ela, transformando-a em ruínas nas quais ninguém poderia pisar por décadas. Tinha de haver outro jeito, mas sua mente era uma tigela vazia. Soltou um palavrão e deu um soco na mesa, frustrado.
— Vamos trancar tudo? — perguntou Sam. — Aqui tem suprimentos para manter cem pessoas por um mês, a gente vai ficar bem.
Esconder-se, fechar a porta, deixar a cidade arder. Como poderia viver consigo mesmo se fizesse isso? Mas quais eram as opções? Sair correndo para o sul, onde o general comandava a operação? Ao menos teria uma boa visão da nuvem de cogumelo na hora em que se erigisse acima do Big Ben. Pensou em David; rezou para que tivesse saído da cidade, para que não estivesse esperando-o voltar para casa.
— Eu... — começou a falar, e então o vídeo do satélite piscou, mostrando um lugar perto do Maida Vale. Um pontinho de cor bruxuleante sob a tempestade furiosa, como se algo irrompesse pela tela do outro lado. Inclinou-se para a frente, o nariz quase achatado no vidro. — O que é isso?
A imagem era larga demais para que distinguisse a fonte da luminosidade e, após um segundo ou dois, desapareceu.
— Podemos dar zoom ali? — perguntou ele, apontando o local onde a chama desaparecera.
Sam fez que sim com a cabeça e digitou uma linha de código. A imagem ficou borrada, depois se aproximou, tornando-se mais nítida; borrou-se de novo, se aproximou mais e, depois, ficou mais nítida, e três vezes mais, até que exibisse um punhado de ruas em formato de lua crescente e casas em formato de caixa. A tempestade não era mais visível, mas estava próxima, porque sua sombra manchava a metade superior da imagem. Ali não havia sinal de vida além dos quatro pontinhos, indistintos, mas inequívocos.
— São eles! — disse Graham, esmurrando a tela com o dedo.
— Quem? — perguntou Sam.
— As crianças do litoral! — Parecia absurdo, impossível, mas tudo o mais que acontecera naquele dia também parecia. De algum modo, ele tinha certeza; teria apostado tudo naquilo; teria apostado a própria vida. Na verdade, era exatamente isso que estava disposto a fazer. Levantou-se. — Fique trancada aqui, Sam, mantenha-se em segurança!
— Não! — disse ela, levantando-se da cadeira. — De jeito nenhum! Se você for, eu vou também!
— Sam...
— Nada de “Sam”. É meu trabalho cuidar da cidade; não vou enfiar minha cabeça num buraco. O que quer que você esteja planejando, eu vou junto.
Ele concordou com um gesto de cabeça, andando até o elevador. Noventa minutos até a detonação. Tempo suficiente se conseguisse achar uma moto e ligar o motor. Não tinha ideia do que encontrariam caso fossem até lá, mas ao menos estariam fazendo alguma coisa. Se aquelas crianças tivessem algo de bom, ao menos poderia alertá-las. E, caso não tivessem, teria a satisfação de vê-las pegar fogo. A porta do elevador se fechou, e Sam segurou a mão dele enquanto se dirigiam para a tempestade.
Tarde
A eles não cabe entender por quê,
A eles cabe agir e morrer:
Para o Vale da Morte
Foram os seiscentos.
Alfred Lord Tennyson, “O ataque da brigada ligeira”
Rilke
Norte de Londres, 12h14
Pareceu ter demorado mais, desta vez, para que a vida os alcançasse.
O mundo se encaixou com um estalo em volta dela, e com ele veio um barulho diferente de tudo o que Rilke já ouvira, um rugido tão alto que deu a impressão de empurrá-la para dentro da terra. Apertou as orelhas com as mãos enquanto outro jato de vômito leitoso irrompia de seus lábios. O barulho persistia, parte estrondo, parte urro, parte badalo, como se ela estivesse dentro do sino gigante de uma catedral.
Forçou-se a abrir os olhos, já sabendo o que veria. O céu estava vivo, uma movimentação frenética que fervilhava acima como um caldeirão de óleo virado para baixo. Vastas nuvens de matéria circulavam em órbitas lentas, quase graciosas. Nelas Rilke enxergava pedaços de coisas, o reluzir de um caminhão, a silhueta de uma árvore ou do topo de uma igreja, além de incontáveis objetos similares — gente, percebeu ela — que bem poderiam ser folhas levantadas pelo vento. O tornado era tão denso que o sol era uma moedinha de cobre no céu, esquecido, as ruas ao redor escuras, à penumbra.
E, no centro daquilo tudo, estava ele, o homem na tempestade. Rilke não o via direito além do caos de nuvens, mas ele estava lá. Podia senti-lo, assim como podia sentir a gravidade atraindo-a, chamando-a com aquela respiração atemporal e infinita. Era ele o fantasma dentro da máquina, dentro daquele motor de trevas e poeira que rugia acima dela, e a voz dele era o grito de um milhão de trombetas. Exatamente como no Apocalipse, pensou ela, lembrando-se das histórias que ouvira na igreja. Os anjos soam suas trombetas, e o mundo acaba.
Uma risada lunática escapou dela e foi sufocada pela tempestade. Rilke ainda estava de joelhos quando percebeu Schiller caído à sua frente. Havia gotas de sangue sobre os ferimentos dele, as quais apenas flutuavam, como se não se lembrassem muito bem do que deveriam fazer, como se estivessem presas entre o lugar de onde tinham vindo e o lugar onde estavam agora. Schiller piscou para a irmã, seu olho esquerdo era uma piscina escarlate. Parte de seu crânio estava fendido onde levara um tiro, lascado como um fragmento de pedra. O que havia embaixo era viscoso, escuro e fosco. Ela colocou as mãos em concha ali, como se fosse segurar seu cérebro.
Você conseguiu, Schiller, ela enviou esse pensamento para ele, sabendo que sua verdadeira voz não lhe chegaria, que não havia espaço para ela em meio ao ar que berrava. Você nos trouxe até ele; estou tão orgulhosa de você!
Ele sorriu para ela, e seus olhos se reviraram nas órbitas. Ela sacudiu a cabeça dele com delicadeza até que ele recuperasse o foco, e, em seguida, mirou a tempestade. Será que ele sabia que estavam ali? Será que podia senti-los? Ajude-nos, gritou ela dentro da cabeça. Não deixe meu irmão morrer!
A tempestade se agitava na própria fúria, em nuvens gigantes como os tentáculos de cem criaturas se retorcendo e se enroscando. Rilke correu o olhar ao redor, para além de Marcus, cujo rosto era um retrato de puro horror, e de Howie, ainda trancafiado em seu casulo de gelo, avistando uma rua e casas dos dois lados. Tudo estava coberto de pó e cinzas, numa chuva fina que ainda caía do céu em ruínas. Não havia ninguém mais à vista. Como falariam com o homem? Pense, Rilke, pensou ela, vendo o irmão perder a consciência outra vez. Pense, pense, pense, sua idiota!
Schiller precisava se transformar. Era o único jeito. Se o irmão voltasse a ser anjo, o homem na tempestade teria de notar sua presença. Ele era grande demais para vê-los onde estavam agora, barulhento demais; ele era como uma colheitadeira prestes a esmagar um passarinho. Colocou a outra mão na bochecha de Schiller, erguendo sua cabeça do chão. Ele gemeu, mas ainda estava ali, ainda estava vivo.
Mais uma vez, irmãozinho, ela lhe disse. Deixe-o sair, e a tempestade vai ver você.
Ele sacudiu a cabeça, um movimento mínimo, que ela sentiu nos dedos.
De novo, repetiu ela. Ele só precisa saber que você está aqui e vai dar um jeito em você. Sei que vai, Schiller. Eu sei; você precisa confiar em mim. Apoiou a cabeça dele na barriga e colocou a mão livre em seu coração. Deixe-o sair, deixe-o falar. Ele vai curar você, e você nunca mais vai precisar ser fraco. Deixe-o sair.
Os olhos do irmão esvaziaram-se e, por um instante, ela achou que o tivesse perdido. Mas ele deve ter tido algum vislumbre da morte, de algo pior do que a dor, pior do que a Fúria, pior ainda do que a tempestade, porque seu corpo inteiro de súbito retorceu-se para cima, como se fosse acordado de um pesadelo. E, com esse movimento, veio o fogo, irrompendo das fornalhas de seu olhar, derramando-se sobre o corpo, transformando-o em um fantasma de azul, vermelho e amarelo. As asas se abriram, um brilho enorme contra as nuvens. Ele gritou uma palavra para a tempestade, uma palavra que abriu caminho pela rua, demolindo uma casa após a outra.
E o homem na tempestade o ouviu.
Algo detonou no meio do furacão, um barulho poderoso que poderia ter sido a terra se abrindo. Uma onda de choque explodiu, fazendo uma nuvem de detritos subir pelo céu e atravessar a cidade, removendo as nuvens e revelando o que estava atrás delas.
Ele estava suspenso ali, grande demais para ser humano, muito maior do que os prédios acima dos quais se erigia, e, no entanto, de algum modo, ainda um homem. Cintilava na atmosfera perturbadora como uma névoa de calor, quase uma miragem, seu corpo feito de sombras ondulantes, as mãos erguidas para os lados. O rosto não era realmente um rosto, só um vórtice giratório que fez Rilke pensar naquelas enormes brocas que cavavam túneis em montanhas, um giro infindo e vibrante que detonava tudo ao redor.
Mas eram os olhos dele... Duas órbitas vazias em sua cabeça, totalmente inertes e, ao mesmo tempo, plenas de um júbilo odioso. Era impossível dizer a que distância o homem estava, talvez dois ou três quilômetros, mas Rilke sabia que aqueles olhos a tinham visto; ela os sentia se arrastando por seu rosto como dedos de um cadáver, abrindo caminho até sua cabeça, até seus pensamentos. Sua mente de súbito era um brinquedo de dar corda, uma maçaroca desajeitada de latão e mola, desmontada e quebrada pelo toque dele. Ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau, uma coisa dentro dela berrava, mas ela lutou contra aquilo: ele não é, ele vai salvar Schill, ele precisa salvá-lo porque nada mais pode fazer isso, por favor, por favor, por favor.
Schiller agora estava de pé — ou pairando trinta centímetros acima da rua —, naquele pulsar atômico que fazia o concreto vibrar. Ele falou outra vez, numa descarga ondulante de energia que abriu uma trincheira na terra, dirigindo-se ao homem na tempestade. E o homem respondeu. Aquela inspiração infinita jamais parou, mas os olhos transmitiram sua mensagem direto para a cabeça dela; não palavras, nem imagens, só o horrendo silêncio e a imobilidade do fim de todas as coisas. O mero peso daquilo, do nada eterno e infinito, fez com que ela tivesse vertigens. Ela tropeçou em Howie, caindo de costas, o ar sendo removido dos pulmões. Essa coisa não vai deixar restar nada, pensou ela. Haverá apenas um buraco enorme onde antes havia o mundo.
— Não! — gritou ela, a palavra sugada de sua boca pelo vento furioso, pelo rugido sem fim da tempestade.
Não acreditaria naquilo. Vá até ele, Schiller, ajoelhe-se a seus pés, mostre que veio para servir. Ele com certeza abriria os braços e os receberia como filhos, não receberia? Ele esfolaria a pele da alma deles, rasparia os ossos, os deixaria em puro fogo. Vá até ele, irmãozinho. Não, corra, leve-nos daqui. Não, irmãozinho, é aqui o nosso lugar. As duas metades dela estavam em guerra, e sentia o mecanismo da mente se esfarelar.
Schiller ergueu-se, como que fisgado, a coisa mais brilhante no céu. O homem o observava, vastos tsunamis ainda inundando Londres, envolvendo tudo o que tocavam. Relâmpagos negros lançavam-se ao chão, vindo de sob a tempestade. Só que ali não havia chão, percebeu Rilke, só o vazio. O chão tinha simplesmente desaparecido. O homem mirava seu irmão como um lagarto espreita um inseto, os olhos negros cheios de ganância, de avidez. Mas havia também uma centelha de reconhecimento. Ele entendia quem era Schiller.
Ele conhece você, disse ao irmão, erguendo os olhos para onde ele ardia contra a luminosidade sobrenatural, como uma estrela que fora derrubada do firmamento. O coração dela pareceu levantar-se junto dele, e soube que estava certa, que estavam ali para servir o homem na tempestade. Ela abriu um sorriso enorme, a euforia como uma enchente de sol dentro de suas artérias, fazendo-a sentir que já não era nada além de luz e calor.
Não durou.
O homem na tempestade mexeu os dedos e virou o mundo do avesso.
O chão desabou sob seus pés, e o ar de repente ficou repleto de pedregulhos, rochas, casas. Ela abriu a boca para gritar, mas o grito não saiu porque ela caía em trevas, como se despencasse em uma cova sem fundo. Schiller ainda ardia bem acima dela, e ela estendeu a mão para ele, sabendo que, se não fizesse isso, cairia para sempre. Os olhos do irmão arderam, um lampejo de emoção bem no fundo do fogo, e ela sentiu os braços dele envolvendo-a — não sua carne, mas outra coisa. Ele a arrancou do poço, colocando-a a seu lado com Marcus e o outro garoto, abraçando-a com um pensamento, enquanto a cidade desabava em volta deles. Não havia mais superfície entre ela e a tempestade, só o vácuo, um oceano de vazio.
O homem fez outro gesto com as mãos, puxando a terra como se levantasse um cobertor. De ambos os lados, um bilhão de toneladas de matéria ergueram-se no ar, lançadas na direção deles. O ar rugiu, as orelhas de Rilke estalando com a onda de pressão que chegou primeiro. Ela levou as mãos ao rosto, sabendo que não trariam proteção nenhuma, que seria esmagada e viraria pó. Porém, mesmo que o mundo sacudisse e sacudisse e sacudisse, não havia impacto, nem dor.
Espiou entre os dedos, vendo uma bolha de luz de fogo bruxuleante ao redor deles. Pedaços de concreto do tamanho de casas batiam contra o escudo como ondas contra recifes, carros, caminhões, árvores e gente também, explodindo em líquido com a colisão. A maré não tinha fim, inundando as trevas ao redor, pressionando-os, jorrando para cima, dando a Rilke a sensação de estar em uma caverna, sem nenhum sinal à vista da fraqueza humana de Schiller, tudo ardendo com força total enquanto ele lutava para mantê-los vivos.
A torrente parou, o céu se abrindo de novo, ainda repleto de fumaça, uma cachoeira de matéria caindo na escuridão. À frente estava o homem suspenso em sua tempestade, e havia algo mais naquele olhar agora — não exatamente dentro dos olhos, ela percebeu, mas sendo canalizado através deles. Era ódio, puro e simples. Ele queria matá-los.
O que foi que eu fiz?, ela perguntou, entrando em pânico, vendo o abismo abaixo dos pés, uma boca aberta só esperando que ela caísse. O poder de Schiller era a única coisa que os sustentava; quanto tempo mais ele duraria? Agarrou o irmão, as chamas frias contra a pele dele fazendo cócegas. Ele bateu as asas, a bolha de fogo em volta deles se extinguindo, espirais de poeira dançando até findar em todas as direções. Marcus estava suspenso ao lado dela, sustentado por dedos invisíveis, e também o novo garoto, os quatro trancados na fúria dos olhos do homem. Ah, o que foi que eu fiz, Schiller? Eu estava errada, não estava? Totalmente errada!
O ruído da respiração infinita do homem aumentou, pinceladas negras tomando o ar como uma tela sendo rasgada. A tempestade outra vez começou a afunilar-se para sua bocarra escancarada, os detritos sendo sugados lá para dentro. Rilke também, seu estômago era uma montanha-russa enquanto se precipitava na direção dele. Ela se agarrou ao irmão com toda a força que possuía, mesmo que soubesse não ser preciso, sentindo-o ser puxado através do ar como um barco para um redemoinho.
— Enfrente-o! — ela gritou em seu ouvido, quase sem ouvir a própria voz.
A resposta dele flutuou para seus pensamentos.
Rilke, não consigo, ele é forte demais.
A corrente era muito poderosa, arrastando-os para as lâminas giratórias de sua boca. Iam mais rápido agora, o homem se avolumando à frente, enorme, um colosso. Seus olhos ardiam. Ele iria ingeri-los, e depois...? Depois nada, você nunca terá sido e nunca será outra vez.
— Schiller! — rogou ela.
O irmão falou, a palavra como um míssil detonando no meio da tempestade. O homem nem pareceu senti-la, precipitando-se, indo cada vez mais rápido, até que só houvesse sua boca, somente aquela garganta ilimitada e sem luz. Schiller falou outra vez, mas sua voz era humana, o miado de um gatinho. A capa de chamas desapareceu, e ele se agitou em pleno ar, preso na corrente. Tinha acabado. Era o fim. Tudo estava perdido.
Rilke fechou os olhos, sentindo o ar que fedia a carne e a fumaça, e gritou:
— Daisy!
Daisy
East Walsham, 12h24
— Daisy!
Daisy levantou a cabeça ao ouvir seu nome. Os cubos de gelo estavam agitados. Todos recuavam, menos um, o dele, onde o homem na tempestade ainda estava suspenso. Ela não queria olhar, mas como poderia desviar os olhos? A visão que o cubo continha era diferente agora, a cidade apagada sob o homem como se alguém houvesse apagado um desenho de que não gostasse. Tudo em volta dele estava sendo aspirado para sua boca.
— Daisy!
O nome dela outra vez, e desta vez ela reconheceu a voz. Era Rilke. E não eram ela, o irmão, Marcus e Howie, bem ali, como insetos se afogando em poeira enquanto eram sugados para a tempestade? Ah, Rilke, você foi se encontrar com ele, bem como falou, pensou ela, a tristeza fazendo pressão em seu peito. E agora a menina ia morrer. Por que Rilke não tinha lhe dado ouvidos? Por que não havia acreditado nela? Rilke era tão tola!
A pressão mudou de lugar, crescendo, e o coração de Daisy soltou um baque doloroso. Não era tristeza, era outra coisa. Colocou uma das mãos — aquela que na verdade não possuía naquele lugar — contra o peito, sentindo a frieza ali, e, ao olhar para baixo, línguas de fogo lambiam seus dedos.
Ah, não, pensou ela. É agora!
O anjo dela estava nascendo.
— Daisy? — Desta vez, outra voz, de um lugar perto.
Daisy espiou por entre os enormes cubos de gelo que batiam uns contra os outros e viu Howie, o novo garoto. Não seu corpo físico, que estava com Rilke na tempestade; aquela era uma outra parte dele. Sua alma, ela supôs. Ele tinha a mesma idade dela. Talvez fosse um pouco mais velho. Em seu peito, também havia um bolsão de fogo, espalhando-se para os ombros e descendo pela barriga, como se ele fosse feito de palha. Parecia aterrorizado, os olhos arregalados e brancos, encarando a si mesmo como um menino que tivesse visto aranhas irromperem da própria pele.
— Está tudo bem — ela lhe disse, tentando esconder o próprio medo. Estendeu as mãos e, num instante, ele estava ao lado dela, abraçando-a, sua cabeça-não-real enterrada em seu ombro-não-real. Ela acariciou os cabelos dele, sussurrando-lhe: — Não se preocupe, não vão fazer mal a você; eles estão aqui para nos deixar em segurança. São bons, são amigos. Não se assuste.
Não doía; era mais como quando você vai nadar e, então, entra na água: no começo, ela parece muito fria, mas logo você nem repara. O toque gélido das chamas já tinha chegado ao pescoço dela, e agora alcançava o queixo. Ela abraçou Howie e Howie a abraçou, ambos incendiando-se ao mesmo tempo. Algo badalou em sua cabeça, uma melodia muito parecida com a que sua caixinha de música tocava quando Daisy era criança. Não havia palavras, mas ela sabia que aquilo era uma voz, a voz do anjo.
— Está ouvindo? — perguntou ela, sentindo Howie assentir com a cabeça contra seu corpo. — Não assusta, assusta?
Ela baixou os olhos e viu que agora o fogo estava por toda parte, cobrindo-a por completo, e por dentro dela também. Sentia-se tão sem peso quanto o ar, como se fosse um facho de luz. Grãos de poeira subiam e desciam em volta dela, atraídos para ela, e o gelo derretia apesar do frio, riachinhos de água cristalina formando uma poça sob seus pés. A melodia na cabeça ia ficando mais alta à medida que o anjo encontrava sua voz, e, embora Daisy não fosse capaz de entendê-la, compreendia o que ele mostrava: os bilhões de anos de sua vida apresentados em um único segundo. Não houve tempo de processar aquilo antes que se sentisse puxada para cima, do mesmo jeito como às vezes acordava dos sonhos, como um mergulhador sendo içado do oceano em uma corda. Fechou os olhos com força contra a súbita vertigem.
Vai ficar tudo bem, disse ela enquanto Howie desaparecia, voltando para seu corpo no mundo real. Ele seria um anjo também, ela sabia. Confie em mim.
Ela rompeu a superfície do oceano onírico, o mundo real costurando-se em volta dela: uma igreja, vitrais, bancos de madeira, mas nada com a mesma aparência de antes. Tinha a sensação de poder espreitar o coração das coisas, ver do que eram feitas, os pequenos átomos e suas órbitas. Se quisesse, poderia arrebentá-los a um só pensamento. O fogo dela era a coisa mais brilhante ali, irradiando-se dela, emitindo um zumbido grave que parecia fazer tudo tremer.
Não era tão ruim, era? Era como...
E foi então que teve um súbito momento de pânico, a constatação colossal do que ela era. Olhou a si mesma, o incêndio na pele, o modo como as mãos pareciam translúcidas, diminutas máculas de energia subindo e descendo pelos dedos. Algo forçava suas costas também, como se as costelas tentassem abrir caminho à força. Não era dor, só uma coceira enlouquecedora. E, quando se deu conta do que causava aquilo — minhas asas, meu Deus, meu Deus —, gemeu diante do som de um monstruoso passarinho arrebentando a casca de seu ovo.
Virou-se para tentar vê-las, mas o movimento produziu força demais, lançando-a para o outro lado da igreja. Ela voou contra uma parede, com as asas tremendo, fora de controle, mandando-a em rodopios para o lugar de onde tinha saído. Em algum ponto daquele caos giratório, ela viu Brick, Cal e o pequeno Adam, todos se abaixando para se proteger. Havia também outro homem, aparentemente um sacerdote, gritando para ela, após sucumbir à Fúria. Estendeu as mãos para ele, dizendo-lhe para não se assustar, mas, para o horror dela, ele explodiu em uma nuvem de cinzas, suspenso como um fantasma no ar, até lembrar-se de se espalhar.
Daisy gritou, o barulho sendo o de motores de um avião colocados em funcionamento. Suas asas bateram outra vez, levando-a até as vigas no alto. Pare, por favor. Ah, Deus, eu só quero voltar a ser eu mesma. Por favor, por favor, por favor. Mas o anjo não lhe deu ouvidos, fazendo-a chocar-se contra o teto, as imensas asas a bater, soltando uma avalanche de madeira e pedras antigas. Afastou-se com um empurrão, caindo no chão, mas sem acertá-lo, só pairando acima dele como se nele houvesse uma almofada invisível.
— Daisy! — chamaram o nome dela outra vez, mas agora era Cal.
Ela o viu correr entre as fileiras em sua direção, tropeçando nos destroços de um banco. Daisy estendeu as mãos para ele, mas o movimento a mandou para trás aos rodopios. Gemeu outra vez, o som fazendo um vitral explodir, vertendo luz solar na escuridão.
Não se mexa, não se mexa, ordenou ao corpo. Ficou como uma estátua, ouvindo a estonteante sinfonia do anjo — é esse o som do coração dele — e escutando passos rápidos. Cal praticamente derrapou ao lado dela, estreitando os olhos contra a luminosidade. Parecia exatamente ele, mas, quando ela se concentrou, enxergou os pedacinhos de que era feito: os órgãos viscosos, como se ele estivesse em um açougue, os poros na pele e, mais fundo que isso, as células que nadavam no sangue e o show de fogos de artifício dentro de seu cérebro. Não gostou; não gostava de ver que as pessoas eram apenas motores de carne. Porém, não se afastou, para não lhe fazer mal.
— Daisy, você consegue me ouvir? — perguntou ele. Ergueu a mão, uma constelação de átomos, como que para tocá-la, e, em seguida, pareceu mudar de ideia. — Tudo bem com você?
Ela não ousou responder. A voz dela agora era outra coisa, uma arma. Um lembrete do que vira antes de seu anjo nascer, Rilke e os outros sendo sugados para a boca da tempestade. Era por isso que o anjo dela nascera agora, porque precisavam que ela os salvasse. Mas como? Estavam longe, lá na cidade. Bem na hora em que fez a pergunta, a coisa dentro dela deu uma resposta, não com sua voz, mas apenas com uma imagem — ela em um campo com Adam, presa em um carro, as mãos dadas, de algum modo em movimento. Claro, aquilo fazia sentido, não fazia? O tempo e o espaço não eram mais reais, não para ela.
— Está tudo bem com ela? — Desta vez, era Brick, de pé ao fundo da igreja, as mãos no cabelo avermelhado. O rosto dele era uma máscara de preocupação, e ela fez o melhor que pôde para sorrir. Isso não ajudou muito a acalmá-lo, o que não foi de surpreender. Se ela se parecesse com Schiller, seus olhos pareceriam feitos de aço derretido.
— Acho que sim — respondeu Cal. — Daisy, está me ouvindo?
Sim, disse ela, falando com eles dentro de sua cabeça, de algum modo emitindo as palavras. Aquela voz não podia lhes fazer mal. Estou aqui, Cal, não se assuste.
Cal abriu um sorriso enorme, olhando para trás.
— Está ouvindo? — perguntou ele, e Brick fez que sim com a cabeça. Cal se virou de novo. — Como você faz isso?
Daisy não respondeu, porque não sabia. Brick deu alguns passos pelo corredor, e Daisy reparou que ele deu a mão para Adam.
Ela o chamou com sua mente, acostumando-se com o som das palavras dentro da cabeça. Sei que estou diferente, mas continuo sua amiga, está bem?
O menino fez que sim com a cabeça, um estremecimento de sorriso correndo por seus lábios. Daisy respirou fundo — ainda que não achasse que precisava de ar, considerando sua versão física atual — e saiu do chão. Movimentos lentos, bem estudados, era esse o truque. Nada muito exagerado. Ficou de joelhos e em seguida deu uma batida de asas para experimentar. Era estranho, como se tivesse um par de braços a mais. Sentia que elas cortavam o mundo real como uma faca quente cortaria manteiga, içando-a até que ficasse de pé, ou melhor, até que pairasse sobre o chão. Era estranho estar assim, mais alta do que Brick. Sentia-se uma adulta, o que era empolgante, mas também um pouco triste. Não queria ter crescido ainda.
— Como é? — perguntou Cal, os olhos parecendo prestes a pular do rosto.
Não dói, respondeu ela. É... Não consigo explicar. É como usar uma roupa de super-herói ou dirigir um carro. Sim, é um pouco assim, como dirigir, porque, se fizer algo errado, pode machucar alguém.
Ela se lembrou do sacerdote. Tapou a boca com a mão ao virar-se para o outro lado da igreja; tudo o que restava do homem era um montinho de cinzas incandescentes. Um halo de brasas brilhantes flutuava em círculo ao redor dele, como se ainda não quisessem deixar de viver, como se pudessem manter a morte distante com uma dança.
Ah, não, o que foi que eu fiz?, falou. Eu o matei.
Porém, a emoção fervilhante que ela esperava, aquela torrente insuportável de tristeza, não veio. Uma vez, quando tinha cerca de oito anos, achara um besouro no quintal dos fundos, um besouro pequenino, do tamanho da unha do dedão. Queria levá-lo para casa, ser amiga dele e guardá-lo em uma caixa de fósforos, e tentou fazer com que ele se agarrasse a um palito. Mas o besouro ficava esperneando e correndo para longe; frustrada, bateu nele por acidente com força demais e o matou. Tinha chorado, chorado e chorado; o pobre besourinho havia morrido por causa dela. Ela achava que jamais perdoaria a si mesma.
Agora, porém, a tristeza estava esquecida em sua barriga. Estava ali, mas esquecida. O anjo está me protegendo dela, percebeu, como um escudo. E, com essa compreensão, veio o entendimento de que aquilo não duraria para sempre; que, assim que voltasse ao normal, aquela tristeza horrível de súbito a atingiria.
— Você não fez de propósito, Daisy — disse Cal, usando um banco como apoio para levantar-se. — Não foi culpa sua.
Eu sei, respondeu ela. Ela lamentaria depois, porque agora havia outra coisa que precisava fazer. Cal, precisamos salvar Rilke e Schiller, eles precisam de nós. Ela viu a imagem na cabeça, o homem na tempestade sugando-os em sua boca espiralante, e compreendeu que Cal, Brick e Adam também a tinham visto. Eles vão morrer.
No fundo da igreja, Brick quase cuspiu uma risada.
— Eles que se danem! — falou ele. — Por que eu iria ajudá-la? Ela que provocou isso.
— Ele tem razão — disse Cal, dando de ombros. — Ela fez por onde.
Não se trata dela, falou Daisy. Precisamos dela, precisamos de todos eles, para combater aquilo. Não acho que vamos conseguir fazer isso sozinhos. Não tinham tempo, talvez já fosse tarde demais. Cal, por favor, precisamos ir.
A ideia de abrir um buraco no espaço e entrar nele, e ver-se à sombra do homem na tempestade, era para ser assustadora. Mas isso também era anestesiado pela presença do anjo. Parecia mais um eco de medo, algo de que Daisy não podia se lembrar muito bem. Ele me deixa forte, pensou consigo. Me dá coragem.
Cal, por favor, pediu outra vez, estendendo-lhe a mão. Gavinhas de luz ergueram-se da pedra abaixo dela, cada qual sumindo após um instante. Cal examinou-as, e, em seguida, voltou os olhos para ela.
— Temos escolha? — perguntou ele.
Claro, disse ela. Vocês todos têm escolha. Mas precisam fazer a escolha certa.
Cal olhou para Brick, os dois garotos compartilhando um pensamento que Daisy não conseguiu entender bem. Em seguida, Cal se virou para ela e fez que sim com a cabeça. O medo saía dele em ondas grandes e escuras, mas sua expressão era firme. Ele engoliu ruidosamente, e depois lhe deu a mão. Ela pareceu ver a vida inteira dele desenrolar-se em um instante, sua casa, a mãe e uma garota bonita chamada Georgia; o coração dela ficou pesado, como se tivesse vivido aquela vida ao lado dele. Segurou a mão de Cal com delicadeza, tomando cuidado para não feri-lo. Adam desvencilhou-se de Brick e correu por entre os bancos, abraçando-a pela cintura.
Brick?, perguntou ela. O garoto mais velho ficou parado ali, arrastando os pés no chão, mordendo o lábio. Ela viu os lampejos que apareciam dentro do crânio dele, os pensamentos correndo de um lado para o outro, lutando entre si, e viu também o momento em que tomou sua decisão. Ela nem esperou que ele assentisse. Apenas usou a mente para abrir um buraco no ar, a realidade incendiando-se à sua volta como se a pele do mundo tivesse pegado fogo. Do outro lado, estavam a cidade e a tempestade, e com um bater de asas ela os levou rumo a elas.
Brick
Londres, 12h32
Daisy nem lhe deu chance de responder. Em um segundo, ele estava na igreja, perguntando-se como ia se livrar daquela situação, e no seguinte, passou a se sentir como um pião em movimento.
Deu um salto-mortal para cima, e tudo se tornou um borrão, com seu estômago espremendo-se até ficar do tamanho de uma pinha. Em seguida, seus sentidos voltaram para o devido lugar num estalo, e ele já estava em outro lugar, deitado de costas. Abriu a boca para gritar, mas tudo o que saiu foi um jato de vômito branco. O ar estava repleto de cinzas, pousando em sua língua e deixando ali um gosto amargo. Ele as cuspiu, limpando o resquício de vômito dos lábios e levantando-se em seguida com dificuldade.
Daisy estava alguns metros à frente. Só que não era Daisy. Não mais. A criatura que ela se tornara agora, aquela que tinha roubado o corpo da menina, pairava acima do chão, ainda envolvida em chamas. Suas asas eram como as velas de um navio incandescente, duas vezes mais altas do que ela. E o ruído que emanava era uma descarga elétrica que pulsava através do ar, pelo chão, fazendo os dedos de Brick formigarem e o cabelo se eriçar. Não fazia sentido que aquela garotinha que eles carregavam algumas horas atrás, aquele saco de ossinhos-palito, agora fosse aquilo. Brick precisou desviar o olhar.
Porém, o que viu era infinitamente pior.
O céu acima do horizonte era como um oceano de ponta-cabeça, um mar ondulante de trevas cujas ondas levavam a cidade — Isso é Londres? Não pode ser, não sobrou nada! — para suas profundezas. E, em meio ao oceano, havia uma figura, iluminada por relâmpagos negros que chicoteavam através do caos; estava suspensa como um leviatã, uma descomunal criatura do mar revirando a água. A visão era tão horrenda que um gemido insurgiu da barriga de Brick, frágil, débil, derramando-se de sua boca. E, antes que o garoto pudesse se conter, soluçava, tateando para trás, gritando.
— Por que você me trouxe aqui? Por quê?
— Brick... Cuidado... — Era Cal, gritando de onde estava, a alguns metros de distância, as palavras roubadas pelo vento uivante. Ele estava encolhido, o cabelo batendo no rosto. Adam, o garotinho, ainda abraçava Daisy, o rosto enterrado tão fundo na barriga dela que Brick se perguntou como a pele dele não tinha sido queimada pelas chamas. — Venha para cá.
Brick balançou a cabeça em uma negativa, arrastando-se para trás. Bateu em algo, ganiu e virou-se, avistando um carro, tão coberto de poeira alaranjada que parecia estar ali fazia um século. O jovem o usou como apoio para se levantar, os pés mergulhando em algo macio. Era um corpo, percebeu ao baixar os olhos. Uma coceira que apitava formou-se na mente de Brick; algo ali não estava certo. Ele afastou o pé do cadáver, sacudindo o tênis sujo e vendo outros corpos caídos como uma trilha de dominó que tivesse sido derrubada. Eram dezenas.
Ah não, ah não, ah não; por que não o tinham deixado na igreja? Lá ele estava em segurança, ainda mais com o sacerdote morto. Poderia ter ficado lá durante dias, poderia ter ficado lá para sempre.
Porque precisamos de você, Brick. A voz de Daisy soava tão alto em sua cabeça, com tanta nitidez, que bem poderia estar dentro de sua carne. Brick chegou até a dar uma pancadinha na têmpora, como que para afastá-la com uma sacudidela. Mas não, ela ainda estava pairando acima do chão, emoldurada pelos destroços de uma dezena de casas, os olhos fervilhando, cuspindo flocos de fogo, a boca aberta e revelando uma garganta de genuína e alva luminosidade, como se tivesse engolido o sol. Preciso de você, Brick, não posso fazer isso sozinha.
— Mas que droga eu posso fazer aqui? — gritou ele de volta.
Abaixo da tempestade, o chão tinha sido eliminado; só havia um poço que devia ter mais de quinze quilômetros de diâmetro. Como ele poderia enfrentar uma criatura capaz de fazer aquilo? Ela o viraria do avesso só com o olhar.
Acredite em mim, disse Daisy. É só disso que eu preciso.
Ele balançou a cabeça outra vez, como se tentasse afastar uma mosca dos pensamentos.
Brick, por favor.
Um trovão ensurdecedor disparou do centro da tempestade, e Brick viu o relâmpago — desta vez, não era escuro, mas luminoso. Uma onda de ar escaldante explodiu pela cidade, quase rígida o bastante para jogá-lo para trás, e, no centro do tornado, ele viu uma enorme mandíbula escancarada. Ao lado dela, havia uma silhueta incandescente, tão pequena que poderia ser um plâncton prestes a ser devorado por uma baleia. Brick percebeu quem era, e chamou o menino em voz alta:
— Schiller!
Preciso me aproximar dele, disse Daisy dentro da cabeça de Brick, a voz metade dela, metade do anjo. Se eu não for, eles vão morrer.
Ela dirigiu a fornalha de seu olhar para o céu, para a batalha que ardia à distância. Era insano. Anjo ou não, aquela coisa, o homem na tempestade, a esmagaria. Ela era só uma garotinha.
Cal berrou algo que Brick não conseguiu entender.
Mas eu preciso, respondeu ela. Preciso. É exatamente como na peça. Brick não tinha ideia do que ela queria dizer com aquilo, embora suas palavras levassem imagens para a mente dele: um palco, crianças vestidas com roupas de época. Um verme de desconforto sulcou seu estômago. Assusta, assusta mesmo, mas você sabe que precisa fazer. Ela olhou para Cal, depois para Brick. Seja forte. Cuide de Adam.
— Daisy, espere! — disse Cal, mas era tarde demais.
Ela flexionou as asas, as pontas parecendo incendiar o ar como se fossem de papel. Fez-se um clarão, um buraco escancarado no céu, e ela sumiu. Como se fosse água, a realidade inundou o buraco de novo, houve um barulho como o de um tiro ecoando pela rua em ruínas quando o vácuo foi preenchido. Adam cambaleou para a frente, quase caindo antes que Brick o pegasse, ambos ficando em meio a uma chuva de cinzas.
Outro estouro, e Brick olhou para a tempestade e viu um clarão bem ali, em seu coração trevoso. Daisy, ardendo em luz. Ela é só uma garotinha, pensou ele, subitamente furioso. Está contente agora? Ela é só uma garotinha, e você a matou.
Deu um passo para a tempestade, mas, de súbito, parou. Ele precisava ajudá-la, mas o que poderia fazer? Nunca na vida tinha se sentido tão pequeno, tão ridículo. Ele e Cal trocaram um olhar, e Brick viu sua frustração, sua impotência, espelhando a dele.
— Temos de fazer algo! — disse Brick. — Ela vai morrer!
Cal inclinou a cabeça para o lado.
— Que foi? — perguntou Brick.
— Não está ouvindo?
Passaram-se mais alguns instantes até que Brick ouvisse um gemido baixinho subindo pelo estrondo infindo da tempestade. Um motor, vindo na direção deles.
— Daisy vai saber se virar — disse Cal, apontando uma moto que contornava uma pilha de detritos no fim da rua demolida, acelerando para onde estavam. — Temos problemas maiores agora.
Daisy
Londres, 12h38
Era como jogar-se em um rio veloz, a corrente rápida carregando-a, levando-a contra sua vontade, tão forte e veloz que ela perdeu a noção de onde estava. Girava em pleno ar, vendo tempestade e céu, tempestade e céu, e depois ele, a boca tão grande que parecia se precipitar em um vulcão. Também viu os olhos dele, como dois sóis invertidos no céu, enormes, irradiando trevas e encarando-a diretamente.
Estendeu os membros, os seis: braços, pernas e asas. Era como abrir um paraquedas, retardando assim sua derrocada. O vento era algo vivo que vinha em lufadas, com porções enormes de coisas voando, sugadas para o vórtice. Sentia-se Dorothy no furacão, vendo casas inteiras ali dentro, inclusive com gente, tudo sendo devorado.
Um clarão surgiu à frente, no meio da boca do homem. Schiller! pensou ela. Estou chegando!
Daisy!, a voz era dele, transmitida direto para a cabeça dela. Socorro!
A boca do homem da tempestade moía sem parar, mas o medo de Daisy ainda era algo pequenino em sua barriga, como se o anjo o contivesse para ela, como se tomasse conta dele. Era como andar de bicicleta, pensou ela. No começo, você acha que é impossível, você acha que nunca, nunca vai conseguir se equilibrar, e, de repente, lá está você, em alta velocidade pela rua, sem conseguir sequer se lembrar de como era não ser capaz de pedalar. Era como se tivesse aquele corpo desde sempre, como se houvesse nascido com ele.
Daisy desviou para um lado a fim de evitar um pedaço de concreto que veio girando, espatifando-se ao colidir contra a parede lateral de uma casa flutuante. A casa se desfez em volta dela em uma explosão de pó de tijolos. À frente, distinguiu não um anjo, mas dois. Howie, claro, seu anjo também nascera. Ele e Schiller pairavam dentro de uma bolha de fogo laranja, os dois à primeira vista tão luminosos que Daisy nem reparou em Rilke e em Marcus ao lado deles, presos por um fio invisível. Não havia sinal de Jade.
Aguentem firmes, pensou para eles. Em um instante, estava à beira do vórtice. A corrente era inacreditavelmente forte, o homem fazendo tudo o que podia para puxá-la para seu esôfago. Do outro lado, não havia nada, nem escuridão, nem luz, só uma ausência tão evidente que fazia a cabeça de Daisy doer só de olhar. O pior de tudo, porém, era que, mesmo que a tempestade ainda ardesse, o que emanava da boca dele era um silêncio sinistro e ensurdecedor. Era como se Daisy tivesse ficado surda de um ouvido.
Bateu as asas de novo, firmando-se em sua posição. Schiller e Howie fizeram o mesmo. Precisavam de toda a força possível para evitar sumir no ralo daquela boca. O que ela poderia fazer? Falar com ele, disse a si mesma, como você disse que faria. Fale para ele deixá-los em paz.
Daisy bateu as asas, alçando-se à altura dos olhos ardentes do homem. Nem tinha certeza se eram mesmo olhos, porque, além deles e da boca, o homem não tinha realmente um rosto, só um vórtice giratório de fumaça e tempestade. Mas, mesmo assim, os supostos olhos pareciam estudá-la; o ódio do homem era algo com vida própria, que se agitava e se retorcia. Ela abriu a boca, sentindo o fogo arder na barriga e queimar a garganta, sendo disparado boca afora.
O que ela queria dizer era “Deixe-nos em paz”, mas o que saiu foi uma palavra que não conhecia, uma palavra que não era humana. Era como se houvesse cuspido um foguete, um pulso de energia escapando dos lábios com tanta força que a jogou para trás. Endireitou-se a tempo de ver a onda de choque atingir o homem no olho esquerdo, uma onda de fogo que consumiu a ondulante carne negra como a água faz com a neve.
Desculpe!, gritou Daisy. Ela não queria feri-lo, só queria que ele fosse embora. Abriu a boca para lhe dizer isso, mas outra palavra foi disparada, esta abrindo caminho pelo outro olho, soltando fragmentos de matéria escura bruxuleante que escorreram em direção à boca do monstro.
A cabeça dele balançou para trás, e aquela inspiração arquejante se extinguiu. Foi como se a gravidade tivesse sido subitamente religada, despencando tudo para o vazio abaixo. Daisy bateu as asas, e viu Schiller e Howie fazerem a mesma coisa. Voou até onde os dois estavam, atravessando uma monção de poeira e detritos.
Schiller!, ela gritou. Os dois anjos eram tão parecidos que quase não conseguia distingui-los, mas de algum modo ainda sabia quem era quem. Ele a fitou com os sóis gêmeos de seus olhos, e mesmo através do fogo ela notou o quanto estava ferido. Rilke se agarrava a ele como um filhote de canguru. Marcus estava suspenso ao lado deles, sustentado por alguma força invisível. Todos pareciam muito fracos, muito vulneráveis. Vá, tire-os daqui!
Não quero deixar você aqui, respondeu Schiller na cabeça dela. Daisy estendeu-lhe a mão, feita de fogo, translúcida, uma mão de fantasma. Passou-a pelo rosto espectral dele, as chamas se sobrepondo, se juntando. Ao afastar-se, levou gotículas de luz dourada da pele dele.
Pode ir, vou ficar bem.
Ele fez que sim com a cabeça, fechou os olhos e incendiou a si mesmo e aos outros para fora da existência. O ar correu para preencher o espaço que ocupavam até então, fazendo as cinzas incandescentes brincarem uma com a outra. Daisy olhou através delas e viu Howie, seu rosto sendo o de um menino e o de um anjo, os dois em um. Ela teve a sensação de que o conhecia havia tanto tempo que era difícil acreditar que aquela era a primeira vez que efetivamente se encontravam.
Tudo bem com você?
Ele nem teve chance de responder. O homem na tempestade se recuperou, o motor de sua boca reiniciando, sugando Daisy. O barulho era tão alto que parecia um punho martelando o cérebro dela, uma orquestra com um milhão de tambores de aço tocando sem sintonia. Ela berrou, a voz quase tão alta quanto os tambores, uma coisa física que subiu cortando o céu espiralante, afastando as nuvens para que — por apenas um momento — o sol aparecesse.
Bateu as asas, imaginando que era um pássaro voando para longe. Outro enorme fragmento de prédio destroçado veio na direção dela, mas Daisy passou através dele, fazendo-o em pedaços. Howie estava a seu lado agora, as asas agitando-se.
Precisamos combatê-lo, disse Daisy. É só falar; os anjos sabem o que fazer.
Viraram-se juntos, encarando o homem. Daisy abriu a boca, a palavra a meio caminho em sua garganta, mas um relâmpago negro disparou da tempestade e chicoteou seu peito. Teve a sensação de que tudo dentro de si tinha sido solto, o golpe lançando-a velozmente pelo ar. Estendeu as asas, mas isso só deu a impressão de que ela rodopiava ainda mais rápido. Outro estrondo, depois um grito que só poderia ter sido Howie reagindo.
Vamos!, gritou para si mesma, movendo as asas com cada gota de força que lhe restava, controlando a queda. Olhou de novo a tempestade, que agora parecia estar a quilômetros de distância, e tocou as chamas do próprio corpo para ter certeza de que estava tudo bem. Seu coração humano batia com força, enquanto o coração de anjo também martelava, mas aquela sensação horrível continuava como um nó no estômago. Era a mesma sensação que havia tido ao encontrar a mãe e o pai mortos na cama, só que muito pior. Era a tempestade; era assim que a tempestade queria que o mundo se sentisse.
Essa ideia deixou-a furiosa, diminuindo o medo. Daisy bateu as asas, precipitando-se para a palpitante massa do furacão. Howie estava ali, um borrão de fogo contra as trevas, os gritos dele chocando-se contra a pele da besta. Outros espinhos de relâmpago vieram na direção dele, criando uma fonte de centelhas ao baterem contra sua blindagem incandescente.
Daisy abriu a boca e deixou o anjo falar, a palavra fervilhando pelo ar, chocando-se contra a besta, que disparou outro estilhaço de luz negra fendida. Ela desviou com um bater de asas, falando de novo, e de novo, e de novo, Howie juntando-se a ela, forçando a tempestade a recuar. A inspiração sugadora da besta extinguiu-se mais uma vez, a turbina de seu esôfago falhando. Daisy não parou, gritando mais palavras, vendo-as serem absorvidas pela pele do rosto do homem.
Está funcionando, está funcionando, continue!, ela disse a Howie, as palavras em sua cabeça juntando-se com outras de sua boca, algo ancestral e sobrenatural que rachava o ar ao rugir rumo à tempestade. Continue, Howie, vamos derrotá-lo!
A boca do homem se abriu ainda mais, parecendo abranger o céu inteiro. Desta vez, ele não inspirou, mas expirou um vigoroso urro que a golpeou, fazendo-a cambalear para trás. Ela apagou por um instante, como se seu cérebro fosse um computador se reiniciando, e, quando voltou a si, percebeu que caía. Gritou, e a voz era a dela. Quando tentou bater as asas, elas não obedeceram. Baixou os olhos para si, e não havia mais chamas, só o próprio corpo, seu uniforme escolar, um calçado faltando. Caía para o abismo lá embaixo, gritando para seu anjo: Onde está você? Volte!
A besta ainda disparava seu grito, uma palavra que parecia não ter fim. O ar estava repleto de movimento, um milhão de detritos vindo em sua direção, um tsunami. Algo acertou-a, e uma dor inacreditável invadiu seu corpo inteiro enquanto o abismo parecia se erguer para recebê-la.
Cal
Londres, 12h42
Cal observou a moto derrapar e parar no meio da rua, ao lado das ruínas de uma casa. Havia duas pessoas nela, um homem e uma mulher, nenhum dos dois usando capacete.
— Precisamos dar o fora daqui! — disse Brick.
Tinha soltado Adam e seguia aos tropeços por entre os destroços do asfalto. A criança nem pareceu reparar no que acontecia, os olhos arregalados mirando o céu. Acima deles, a tempestade ainda ardia, e Cal conseguia ver Daisy, uma lua incandescente orbitando um núcleo de trevas. Tenha cuidado, disse a ela antes de se virar.
O homem saiu da moto e ergueu as mãos como que para mostrar que não estava armado. A mulher veio atrás, dando alguns passos na direção deles. Os dois se entreolharam e falaram entre si, o homem dando de ombros.
— Mas quem são essas pessoas? — perguntou Cal. Brick não respondeu, ainda recuando, deixando Adam entre ele e os recém-chegados. Inacreditável, pensou Cal, estendendo a mão para o garoto. — Adam, cara, vem pra cá!
O homem gritou algo, mas o estrondo da tempestade era alto demais.
— ... não quero... vocês... perguntas — tentou o homem outra vez, seu grito reduzido a um murmúrio.
A mulher se adiantou e Cal a mandou voltar com um gesto.
— Não, fique onde está, não se aproxime!
Como não o ouvia, ela deu mais um passo à frente. Brick se afastou um pouco mais, tropeçando no asfalto rachado. Cal aproximou-se de Adam, pronto para pegá-lo no colo e carregá-lo para longe.
— Esperem! — o homem da moto gritou. — Voltem...!
A mulher deu mais um passo, e, do nada, se transformou, precipitando-se para a frente. Cal soltou um palavrão e começou a correr. A mulher se lançou sobre Adam, os lábios arreganhados, os dentes à mostra. Ela era rápida, e meio que atacou, meio que caiu em cima do garoto, pegando-lhe os cabelos.
— Saia de cima dele! — Cal se jogou contra ela como se estivesse em uma partida de rúgbi, o impacto fazendo os dois rolarem pelo chão.
A boca dela era a de uma naja, procurando os braços e a garganta dele, os dentes rangendo. Cal conseguiu prendê-la debaixo de si e preparou um soco, mas se desequilibrou com o corpo dela se retorcendo. Ele agarrou sua carne, firmando-se bem, e tentou outra vez. Seu punho acertou em cheio o nariz dela em uma erupção de sangue, mas ela sequer pareceu sentir, tentando arranhá-lo com as unhas quebradas.
Brick!, Cal tentou gritar, mas não havia ar suficiente em seus pulmões. Olhou para trás e viu o garoto maior atrás de um carro, só olhando. Seu babaca egoísta!, pensou. Um olhar na outra direção lhe disse que ao menos o homem não se aproximava. A mulher — a coisa — abaixo dele agarrou seu rosto com mãos de ferro, um dedo em um olho dele. Cal soltou um grito gutural, afastando-a a pancadas, e ouviu algo estalar sob o punho. Enfiou o cotovelo na garganta dela, colocando todo o seu peso, tentando desviar dos braços agitados com sua mão livre. Ela gemia, sufocando, o som mais horripilante que Cal já ouvira na vida, mas o ímpeto homicida não deixava os olhos arregalados dela.
— Desculpe! — gritou ele. — Desculpe!
Um tiro rasgou a rua. Cal se deteve, ofuscado pelo fogo, percebendo que não tinha sido tiro nenhum. Schiller estava ali, uma estátua de chamas, as asas sendo a coisa mais alta na rua em ruínas. Rilke e Marcus estavam ajoelhados ao lado dele.
Schiller fixou seus olhos derretidos, e a mulher debaixo de Cal se desfez. Cal desabou na maçaroca que ela havia sido transformada, soterrando-se de repente em uma nuvem de cinzas. Tossiu, rolou para longe e ficou deitado de costas até se lembrar do homem. Ao olhar outra vez, porém, viu que ele tinha despencado no chão, boquiaberto.
— Espere! — gritou Cal. — Você... não...
Rilke apontou para ele.
— Mate-o também. — A voz dela soara com total clareza.
A tempestade tinha amainado. Cal levantou a cabeça e viu que ela não sugava mais o ar. As chamas gêmeas que eram Daisy e o outro garoto estavam suspensas ao lado da boca destruidora do furacão, ladrando gritos que pareciam explodir contra a escuridão como uma bateria antiaérea. Eles estão vencendo, pensou ele, o alívio em seu interior como a luz do sol.
Então a besta abriu a mandíbula e um punho de ruído irrompeu de sua boca. Ela vomitou uma nuvem de pó, uma cidade inteira reduzida a detritos e projetada à frente, obscurecendo a luminosidade, fazendo o dia ficar ainda mais escuro. Schiller abriu as asas, respirou fundo e, em seguida, desapareceu tão rápido que a irmã desabou no ponto onde ele estava até um segundo antes. Ela cambaleou sobre as mãos e os joelhos até encontrar o equilíbrio.
— Schiller, não! — gritou Rilke para a tempestade, estendendo-lhe as mãos. — Não! Ela não precisa de você, eu é que preciso!
O homem na tempestade expirou sua nuvem de veneno, o chão sacudindo tanto que Cal precisou se agachar para não cair. Uma faísca se acendeu no redemoinho — era Schiller lutando contra a corrente.
— Schiller! — gritou Rilke outra vez.
Mas era tarde demais. Ele já se fora. Cal se levantou rápido e atravessou a rua correndo, parando a vinte e cinco, trinta metros do homem da moto.
— Quem é você? — berrou ele. Teve de repetir a pergunta duas vezes até que o homem o ouvisse em meio à tempestade. O homem deu um passo à frente, mas Cal ergueu a mão. — Se você se aproximar, vai morrer! Apenas me diga o que quer!
— Meu nome é Graham Hayling! — gritou ele em resposta. — E eu quero ajudar!
Daisy
Londres, 12h46
Ela se sentia uma pedra jogada no oceano, mergulhando nas profundezas frias e sem luz. De ambos os lados, via distantes paredes de pura pedra, onde a cidade fora separada em duas partes, uma cachoeira de detritos caindo do alto delas. Abaixo, nada além de um poço.
— Por favor! — ela chamou o anjo, mas ele não respondeu. Algo ruim acontecera com ele. — Me ajude!
Despencou, a cabeça virada para baixo, o mundo ficando mais escuro e mais silencioso a cada violento compasso de sua pulsação. A qualquer instante, bateria no fundo e pronto. Ficaria enterrada para sempre naquele buraco, a quilômetros de tudo e de todos. Era o pior pensamento do mundo, até que outro lhe ocorreu — o poço poderia não ter fundo; ela poderia nunca parar de cair. Gritou mais uma vez por socorro, o grito desesperado perdido no estrondo do vento em seus ouvidos.
O fogo irrompeu, e, por um instante, ela achou que seu anjo tivesse voltado. Então ela sentiu braços em volta de si e, virando-se, viu Schiller, caindo com ela. Ele estendeu as asas, as chamas mais luminosas do que seria possível contra a penumbra, e depois veio a já conhecida vertigem de revirar o estômago quando ele a conduziu para fora do poço. Reapareceram em plena tempestade, no centro do uivo furioso da besta, e Daisy bateu as asas antes mesmo de perceber que seu anjo havia voltado.
Obrigada, disse ela para os dois, desvencilhando-se de Schiller para desviar de uma saraivada de concreto e metal que passou voando. Outra coisa zuniu em sua direção, um prédio, ainda intacto. Abriu a boca e permitiu que o anjo falasse, a palavra alvejando o prédio como um míssil, demolindo-o em pleno ar. Pairou acima da poeira, atravessando os muitos destroços que ainda jorravam da boca da besta, dirigindo-se para uma chama distante que tinha de ser Howie. Ele ainda gritava, ainda lutava.
Vamos!, disse ela, chamando Schiller, que apareceu ao seu lado, entrando e saindo da tempestade, os olhos como fachos de farol penetrando a penumbra. A besta estava à frente, sua boca a maior coisa que Daisy já vira, um buraco no céu do tamanho de uma montanha. Berrou para ela, uma onda sonora de choque que vaporizou um caminho em meio ao caos, acertando-a entre os olhos. Ao lado dela, Schiller gritou também, sua voz como um tiro de canhão. Daisy se agachou e ziguezagueou até parar ao lado de Howie, os três disparando uma palavra atrás da outra, até que o rosto do homem se tornasse um ninho de vermes negros incandescentes.
Está funcionando?, perguntou Schiller. O trovão da tempestade era tão alto que Daisy tinha dificuldade para ouvir as palavras dele, mesmo que estivessem dentro da cabeça dela.
Ele está morrendo?
Acho que sim, respondeu ela, disparando outra palavra, dilacerando ainda mais a tempestade. Ele se sentia como uma brisa de verão que limpasse as nuvens do céu com seu sopro. Continue!
A besta sacudiu sua cabeça gigante, tão grande que parecia mover-se em câmera lenta. Um som semelhante a disparos de uma metralhadora emergiu de seu interior, seguido por um relâmpago negro, tão escuro que gravou sua silhueta nos olhos de Daisy. O relâmpago roçou nela, mas foi Schiller quem sofreu o impacto. A luminosidade acertou seu rosto com um estampido, e outro raio serpenteou e golpeou seu corpo como um arpão, desaparecendo tão rápido quanto tinha surgido. O fogo do menino bruxuleou, e ele começou a cair.
— Não! — gritou Daisy, a palavra geminada com uma do anjo, queimando em seus lábios, alvejando a besta como um enorme martelo invisível.
Howie berrou também, seu grito detonando no meio da tempestade. Daisy encolheu as asas, mergulhando atrás de Schiller, vendo-o bater em um fragmento grande, o corpo girando como o de uma boneca de pano. Ela o alcançou com a mente, envolvendo-o com mãos-fantasma, usando o mesmo pensamento para protegê-lo dos detritos voadores. Trouxe-o para perto de si, segurando-o perto dela, quando outro garfo de relâmpago sem luz disparou pelo céu, passando perto o bastante para que ela sentisse seu gélido toque na pele. Schiller não se movia. Ela não podia sequer ter certeza de que ele respirava e, quando espiou dentro do crânio dele, não enxergou nenhum dos pequenos pensamentos bruxuleantes.
A raiva de Daisy esquentou em seu íntimo como um motor, acelerou por sua garganta e explodiu em outro grito. O som que ele fez ao sair de seus lábios foi como o estrondo de um trovão e, quando atingiu o homem, abriu caminho na tempestade e revelou a pele branca e macilenta de seu rosto inchado. A carne parecia derreter, pingando dos olhos como cera de vela. Ela não hesitou, gritando de novo, de novo e de novo, as palavras dela e do anjo em coro:
— Morra, morra, morra!
Ele soltou um gemido ensurdecedor, como o som de um enorme navio afundando no oceano. A tempestade que saía de sua boca praticamente parou, e a cólera em seus olhos foi substituída por algo diferente, algo que poderia ser medo. Ele olhou para ela, para Schiller, para Howie, como se os estudasse, marcando o rosto deles na memória. Em seguida, o céu ficou negro, como se tivesse coberto a si mesmo com a noite.
Daisy só entendeu o que tinha acontecido quando levantou a cabeça e as viu. Asas, duas, produzidas com uma chama tão negra que alguém parecia ter recortado seu contorno para fora do mundo com um par gigantesco de tesouras. Elas irradiavam sua luz negra através do que sobrava da cidade, e Daisy pensou que, se o fogo pudesse apodrecer, essa seria sua aparência. Era horrível, mas, suspensa diante daquilo, com as próprias asas abertas e os próprios olhos em chamas, ela não poderia ignorar a imagem. Podia estar olhando para um espelho: claro, um espelho de brincadeira, daqueles que distorciam seu reflexo, mas ainda assim era um espelho.
A besta baixou as vastas asas. A tempestade ondulou, o fogo da criatura se espalhando, ardendo ao longo do corpo e do rosto. Daisy percebeu o que ela fazia e gritou outra palavra, mas era tarde demais. Com um barulho estrondoso e outro clarão de escuridão ofuscante, a besta desapareceu. O ar logo preencheu o espaço que ela antes ocupava, e tudo o que estava suspenso pela tempestade caiu no poço. Algo enorme passou a milímetros dela, e ela agarrou Schiller, mantendo-o bem perto.
Vamos, disse para Howie. Ele fez que sim com a cabeça, com seu olhar ardendo, e, juntos, sumiram da existência em um piscar de olhos.
Rilke
Londres, 12h57
Não existia mais Londres, só um buraco, como se alguém tivesse arrancado a cidade de um mapa gigante, embora ainda houvesse prédios no limiar do poço. Rilke tinha a impressão de estar vendo a roda-gigante London Eye cambaleando na extremidade, à distância, e também o prédio Shard, ainda que estivesse sem o topo. Porém, tudo o mais havia sumido. Só sobraram ausência e ruínas, um abismo envolto em uma terra devastada. Rilke tinha a sensação de que sua mente estava igual: um abismo enorme onde deveria estar sua sanidade, com todos os outros pensamentos reduzidos a destroços. Ao menos a tempestade tinha desaparecido. O que quer que Schiller tivesse feito, havia funcionado. Tirando a chuva sem fim de poeira e detritos que caía no poço, o céu agora estava limpo.
Por favor, permita que ele fique bem, pensou ela. Por favor, Deus, permita que ele volte para mim.
Fez-se um clarão ao lado dela, que a fez se encolher, mas, quando se virou, era apenas Daisy se materializando. Ela segurava uma figura flácida nos braços, um saco vazio que não podia ser seu irmão. Não podia.
Rilke foi o mais rápido que pôde até ela, derrapando de joelhos ao lado de Schiller. Havia uma ferida enorme em seu estômago, a umidade ali escura como tinta preta, mas pigmentada com filetes de sangue. Ela o abraçou, alisando seu cabelo. Havia apenas uma ou outra madeixa; o couro cabeludo se enrugara e ele estava quase careca. Na verdade, seu rosto inteiro parecia o de um velho, com os olhos inchados e a boca frouxa. Ele não parecia real; parecia feito de papel, o rabisco de um rosto feito por uma criança. Ah, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz?
— Schiller, fale comigo, por favor! Por favor, irmãozinho!
Ao lado dela, Daisy respirou fundo e seu fogo esmaeceu, as asas esvanecendo e fechando-se, até que voltou a ser uma garotinha. Ela cambaleou, e Cal correu até ela, amparando-a antes que caísse. O nariz dela sangrava, e o garoto limpou-o delicadamente. Ela também aparentava ter cem anos de idade. Adam se aproximou dela, capturando sua mão como se fosse uma borboleta. Rilke a odiava, odiava todos eles. E odiava a si mesma, acima de tudo. Como podia ter sido tão tola?
— O que você fez com ele? — disse ela, apertando o irmão contra o peito. A emoção batia em suas costelas com punhos de ferro, gritando para poder sair, mas ela a trancou, a dor na garganta dando a impressão de que engolira vidro. — O que você fez com ele, Daisy?
— Pare com isso, Rilke! — falou Cal. — Você viu o que aconteceu; ele nos salvou, salvou todos nós.
Rilke acariciou o rosto do irmão com força suficiente para sulcar a pele pálida. Sacudiu-o enquanto o chamava, mas ele tinha o olhar vidrado e perdido ao longe. Onde está você, Schill?, ela perguntou. Saia daí agora mesmo.
— Aquela coisa morreu? — veio uma voz de trás dela. Rilke se virou e deu com Brick surgindo do alicerce de um prédio, fungando poeira pelo nariz. — Você a matou?
— Não — respondeu Daisy. Certa dose de cor voltou às suas bochechas, fazendo as rugas desaparecerem. Ela se sentou, apoiando a mão no peito de Cal, ainda ofegante, respirando fundo. Fez-se outro clarão e, de repente, o outro garoto estava com eles, os braços se agitando no ar enquanto lutava para recuperar o equilíbrio. Não teve sucesso e caiu de joelhos, olhando ao redor, em choque. Daisy sorriu para ele. — Howie, tudo bem?
— Acho que não — respondeu ele após um instante, deixando-se deitar. — Acho que bebi rum demais.
Rilke puxou o irmão pela camisa, apertando-o com tanta força que achou que os dedos fossem quebrar. Como ele ousava brincar enquanto o irmão dela estava ali, à beira da morte?
— E agora? — disse Brick.
— Acho que a tempestade só mudou de lugar — falou Daisy. A garotinha enxugou o rosto com o dorso da mão, fazendo das gotículas de sangue uma horrenda máscara para os olhos. — Assim como nós, ela se transportou.
— Para onde? — perguntou Brick.
— Para a Califórnia — gritou o homem, aquele que tinha aparecido de moto, ainda à distância na rua. Ele tinha dito seu nome antes, mas Rilke não se importava. Ele era um deles, um dos humanos, e Schiller deveria tê-lo matado, assim como havia matado a mulher. Mas isso é errado, Rilke, argumentou seu cérebro. Você estava errada, lembra? Errada a respeito de tudo. Ela mandou aquele pensamento embora, observando o homem enquanto ele fechava o celular. Estava coberto de pó, parecendo um fantasma à bizarra luz alaranjada do dia em ruínas. — Aquela coisa apareceu nos Estados Unidos, acabam de confirmar!
— Cal, quem é ele? — perguntou Daisy.
— Acho que é um amigo — respondeu Cal. — Pessoal, este é Graham. Graham, este é nosso pessoal.
O homem acenou com a cabeça, franzindo o rosto.
— Vocês se importam em me dizer o que está acontecendo? — perguntou ele. — Quem são vocês?
— Apenas garotos — respondeu Daisy. — Mas somos outra coisa também.
— Cale a boca! — berrou Rilke, a raiva parecendo tão viva dentro dela que se perguntou se não seria seu anjo. Os dois tinham de estar conectados. — Vocês todos, calem a boca! O meu irmão precisa de ajuda!
Schiller parecia estar afundando em si mesmo, desinflando. Rilke o puxou para si, os soluços enfim irrompendo da prisão de sua garganta, derramando-se da boca dela como vômito. Não era mais capaz de detê-los; não conseguia respirar, forçando-se a sugar grandes lufadas de ar entre gritos estrangulados. Não suportava ser tão fraca.
— Ajudem ele! — disse ela para ninguém e para todos. — Não sei o que fazer! Ele vai morrer!
— Pois é. E de quem é a culpa? — disse Brick para ela, agachando-se e cuspindo uma bolota de secreção enegrecida. — Foi você que o trouxe aqui.
Rilke quis matá-lo. Enxugou as lágrimas, mas elas continuaram a escorrer, e ela enfiou o rosto na umidade da barriga de Schiller, para que ninguém as visse. Ele cheirava a cobre e fuligem; a algo velho, a um objeto antigo que houvesse sido descoberto. Queria poder entrar nele, trancar-se em seu sangue. Desse jeito, não o deixaria morrer.
— Eu tinha tanta certeza — disse ela.
— E estava tão errada — murmurou Brick.
— Tudo bem, Brick — falou Daisy. A voz dela estava próxima e, quando Rilke levantou a cabeça, viu a menina perto dela, a mão repousando na testa de Schiller. Não queria que Daisy o tocasse, mas não encontrava forças para objetar. — Schiller, está me ouvindo? É Daisy.
Não houve resposta; ele podia já ser um cadáver. Daisy ergueu a cabeça, e Rilke percebeu que ela ainda falava com ele, mas com a mente. Olhou aquilo horrorizada, como se fosse ela que estivesse sangrando. Puxou-o para ela, repousando a cabeça dele em seu joelho.
— Estou falando sério, Schiller — disse Daisy. — Não se assuste. Eles vão cuidar de você.
— Do que você está falando? — perguntou Rilke. — Eu vou cuidar dele, só eu e mais ninguém, está me ouvindo?
Daisy não tirava os olhos de Schiller. O menino tossiu outra vez, e seus olhos opacos se desanuviaram. Ele olhou para Daisy, depois para Rilke.
— Está tudo bem, Schill — falou Rilke. — Você vai melhorar.
Você vai fazer o que eu mandar, ela lhe disse com a mente. Ele sempre tinha feito o que ela mandava, sempre. Rilke não era capaz de se lembrar de uma única vez em que ele a tivesse desobedecido; nenhuma vez em todos aqueles anos juntos. Porque ela sempre fazia o que era melhor para ele. Era função dela cuidar dele, e ele sabia disso, confiava nela. Você não vai morrer, não vou deixar. E então ela se deu conta da ideia insuportável de ficar sem ele. Porque nunca tinham passado um dia sequer separados, nem um único dia. Ele era tão parte dela quanto seu próprio coração, seus próprios pensamentos. Incubados juntos, nascidos juntos, tinham vivido juntos, eram um só. Porque não posso viver sem você, Schill. Não consigo. Então, descanse, melhore, e voltaremos às coisas como eram antes.
Ele sorriu para ela. Rilke visualizou a vida se esvaindo dele, e mais daquele fluido de um negro viscoso saiu de sua barriga, como se seu sangue tivesse sido envenenado. Ele abriu a boca para falar, mas, em vez disso, vomitou um jato escuro. Seu corpo era uma enorme coisa quebrada que ele não conseguia mais controlar; que ela não conseguia mais controlar.
— Schiller! Não! — gritou Rilke. Pegou o queixo dele, erguendo-o. — Não vou deixar você morrer, está me ouvindo? Você não vai me deixar.
— Não estou com medo — disse ele em um sussurro gorgolejante. — Não dói.
— Mas eu preciso de você, irmãozinho — disse Rilke. — Eu te amo.
A resposta dele não foi uma palavra, mas um pensamento — um pensamento emitido com tanta força que Rilke o sentiu. Era dourado, luminoso, repleto do aroma de lavanda e dos livros velhos que havia na biblioteca de casa, o lugar onde passavam dias e mais dias lendo um para o outro, brincando de esconde-esconde, e, depois, onde ela se escondia das coisas ruins, onde o irmão cuidava dela; algo tão maravilhoso que parecia soprar para longe os últimos vestígios de escuridão da cidade. De repente, era verão de novo, quente, silencioso, cheio de um riso que era sentido, mas não ouvido. Por que não podiam estar lá, no assento perto da janela da mãe, as pernas dela repousando nas dele enquanto contavam as histórias do que fariam ao sair de casa? Não, isso nunca. Rilke afundou a cabeça no peito de Schiller, abrindo caminho como se pudesse arrancar a doença dali. Schiller conseguiu erguer a mão, colocando-a na nuca dela, a pele dele tão fria que era como se estivesse congelando de novo.
— Eu sinto muito — soluçou ela. — Sinto muito mesmo.
Não precisa se desculpar, disse ele, e ela entendeu que seria a última vez que ouviria sua voz. O corpo de Schiller estremeceu, a mão se afrouxando e escorregando, batendo contra o chão. Ele inspirou pela última vez, mas não havia em seus olhos nem medo nem tristeza, só um lampejo de alívio e, em seguida, absolutamente nada. Um gotejar de chamas ardeu no peito dele, subindo, crescendo, voando para cima com as asas abertas, uivando enquanto se esvanecia na luz. O fogo pareceu dilacerar a raiva dela em suas entranhas, porque Rilke viu-se de pé, gritando para ele:
— A culpa é sua! Você fez isso com ele! Desgraçado! Desgraçado!
Mas ele já tinha sumido. Ela se voltou para Daisy, depois para Cal, e, em seguida, para Brick, querendo matar todos eles, socá-los até que morressem por terem matado Schiller. Porém, sem ele, Rilke era apenas meia pessoa, meia alma, e não conseguia se equilibrar. Cambaleou e caiu ao lado do corpo do irmão, agarrando-se a ele como se pudesse ressuscitá-lo, tremendo à medida que o calor de seu gêmeo partia com o anjo rumo ao céu que clareava.
Cal
Londres, 13h12
Pareceu ter passado uma eternidade antes que alguém dissesse algo. Cal se levantou e ficou olhando para Rilke enquanto ela soluçava abraçada ao irmão morto. Exceto por ela, o único som era o bate-bate dos detritos que despencavam do céu, dando a impressão de uma chuva de granizo.
— Sinto muito — disse Daisy. Ainda estava ajoelhada no chão junto a Rilke e Schiller, com a mão no peito do menino. — Sinto muito, muito mesmo, Rilke.
Rilke não respondeu: seus os olhos escuros e pequenos encaravam algo que ninguém mais podia ver. Daisy olhou para Cal, que abriu um arremedo de sorriso e estendeu as mãos para ela. Daisy se levantou com esforço e correu para ele, abraçando-o com força, os delicados soluços dela arrebentando contra o peito do garoto.
— E agora? — perguntou Brick. Ele chutava fragmentos de pedra no chão, as mãos enfiadas nos bolsos. — Acabou, enfim. Quer dizer, para nós.
— Não — falou Daisy, enxugando os olhos. — Precisamos ir atrás dele. Ele não morreu.
Os olhos de Brick se arregalaram, e ele fez que não com um gesto de cabeça.
— De jeito nenhum. Fizemos nossa parte. Mandamos aquilo para longe. Agora os outros que se virem com a situação.
— Não tem mais ninguém para fazer isso, Brick — respondeu ela. — Só a gente.
— Mas quem são vocês? — perguntou Graham, o sujeito da moto. Ele ainda estava do outro lado da rua, logo atrás do limiar invisível da Fúria. Ficava olhando nervoso para o céu, o celular aberto na mão. — Não consigo entender.
— Bem-vindo ao clube — respondeu Brick.
— Você não acreditaria se a gente contasse — acrescentou Daisy.
O homem mais fungou que riu.
— Não acreditaria que vi você em chamas, com asas, voando lá no alto e enfrentando... o que era aquela coisa? Vamos ver se eu acredito ou não. Minha mente agora está mais aberta do que estava de manhã.
— Não importa o que somos — disse Daisy. — Importa o que precisamos fazer. Estamos aqui para detê-lo.
— Mas o que é aquilo?
— O mal — falou Marcus, a voz vindo de onde se encontrava encolhido no chão. — É Lúcifer, o demônio.
Porém, “o mal” era o termo errado, pensou Cal. Aquilo era mais um buraco negro, sem mente, mecânico, devorando matéria e luz, até que não sobrasse nada. Só não disse isso porque pareceu muito idiota.
Graham negou com um gesto de cabeça.
— Estão me dizendo que vocês são os mocinhos? — perguntou ele.
Cal pensou na polícia em Hemmingway, nas dezenas de policiais transformados em cinzas. Olhou para a cidade, observando o poço que fora escavado bem no meio dela — com mais de quinze, talvez mais de vinte quilômetros, e só Deus sabe com que profundidade —, aberto durante uma batalha entre os anjos e a tempestade. Quantas pessoas haviam morrido por conta disso? Um milhão? Não tinha sido culpa deles, mas Schiller, Daisy e o novo garoto não tinham exatamente economizado na força do ataque.
— Sim — disse Daisy. — Somos.
Graham pareceu ruminar isso por um instante, e, em seguida, colocou o telefone no ouvido, falando bem baixo para que Cal não o ouvisse.
— É sério — reclamou Brick. — Não é mais problema nosso.
Graham agora berrava, com as bochechas vermelhas de raiva.
— Esta pode ser nossa única chance — falou o homem. — Está disposto a apostar tudo nisso? General? General?
Ele fechou o telefone com força, andando de um lado para o outro. Olhou para o céu, protegendo os olhos do sol, cada vez mais brilhante.
— Ok. Temos um problema. Precisamos ir para o subterrâneo. Tem uma estação de metrô aqui perto; ela vai nos proteger até as equipes de proteção contra radiação chegarem.
— Proteger do quê? — perguntou Daisy. — Acho que a tempestade não vai mais voltar. Acho que a gente deu um susto nela.
— Não da tempestade — disse Graham. — De uma bomba nuclear.
— Do quê? — perguntou Cal.
— De um ataque nuclear tático contra a cidade. O alvo principal era a tempestade, mas estão mirando em vocês também. Eles acham que vocês são parte disso.
— Mas por quê? — disse Daisy, desvencilhando-se de Cal.
— Por causa do que aconteceu no litoral. Vocês destruíram uma cidade inteira lá. Ela simplesmente sumiu do mapa.
— Mas não foi a gente — falou Daisy, olhando para Rilke. — Foi... Foi um acidente. Não foi culpa nossa.
— Não sou eu que decido — afirmou o homem. — O ataque já foi lançado. Temos minutos. Vamos!
Ele voltou pelo caminho de onde viera, mas ninguém o seguiu.
— Rilke, o que foi que você fez? — perguntou Cal. — Você acabou com uma cidade inteira? — Ela não respondeu, nem parecia ouvi-lo. — Meu Deus!
— Deixe-a em paz, Cal — falou Daisy. — Não foi culpa dela.
— Não foi culpa dela — repetiu Brick. — Ela é uma psicopata, vocês já esqueceram? Deixem-na aqui; deixem essa maluca fritar.
— Estou falando sério — disse o homem, olhando para trás. — Vocês podem conversar quando estivermos no metrô, mas, se não começarem a se mexer agora mesmo, todos vão morrer.
— Não — disse Rilke. — Não vamos.
Ela se levantou lentamente, alisando a roupa em uma tentativa de tirar o sangue e a terra que a enlameavam. Havia algo em seus olhos, algo que ardia. Virou-se para o homem, depois para Daisy.
— Você consegue encontrá-la? — perguntou ela.
— A tempestade? — Daisy arrastou o pé no chão. Estava faltando um dos pés de calçado, reparou Cal. — Não sei. Acho que sim. Por quê?
— Porque vou exterminá-la — falou ela. — Ela vai morrer por causa do que fez com o meu irmão.
— Escutem — disse Graham. — Se não formos embora, não vamos sobreviver.
— Ele tem razão — falou Brick, indo aos tropeços atrás do homem. — Precisamos ir com ele.
— E depois? — perguntou Cal. — Vamos nos esconder? E o que é que você vai fazer quando ele começar a tentar arrancar a sua cara?
Brick parou, sem saber o que fazer. Soltou um palavrão, pegando uma pedra e lançando contra o que restava de uma casa.
— A gente devia ir, devia terminar isso — disse Cal. — Você viu do que é capaz, Daisy. Você assustou aquela coisa. Feriu ela, acho. Algo que pode ser ferido pode morrer, não pode?
— Acho que sim — respondeu Daisy. — Acho que ela fugiu porque a gente podia matá-la.
— Então vamos fazer isso — disse Rilke, aproximando-se de Daisy. — Leve-nos até ela.
— De jeito nenhum — falou Brick. — Você é maluca.
Algo rosnou acima, uma trovoada distante. O coração de Cal pareceu parar por um segundo, porque pensou que a tempestade tinha voltado. Então se deu conta de que era outra coisa, talvez um avião, ou um míssil. O barulho ia aumentando, rasgando um caminho no céu.
— Chegou a hora — disse Graham. — Última chance.
Rilke olhou para Cal, o semblante dela tomado por uma fúria selvagem. Havia uma pergunta ali, tão nítida quanto se a tivesse enunciado. Você vem? Que escolha ele tinha, na verdade? Se não enfrentassem a tempestade, cedo ou tarde o mundo inteiro ficaria daquele jeito. Fez que sim com a cabeça. Rilke voltou-se para Marcus, que abriu um ligeiro sorriso.
— Estou dentro! — falou ele.
— E eu também! — concordou Howie. — Vamos acabar logo com isso.
Todos se viraram para Brick, o barulho no céu aumentando a cada instante. A bomba não precisava atingir o chão, Cal sabia. Seria detonada acima da cabeça deles, onde causaria o máximo de estrago. Quanto tempo tinham? Um minuto? Cinco? Brick devia estar pensando a mesma coisa, porque soltou outro palavrão.
— Certo — disse ele. — Vamos fazer do seu jeito.
— Vá logo! — Daisy falou para o homem. — Antes que seja tarde demais!
— E quanto a vocês? — respondeu ele. — Vocês precisam ir para o subterrâneo também, para um lugar seguro!
— A gente vai ficar bem — falou ela. Fechou os olhos, as chamas se espalhando lentamente a partir do peito, as asas se estendendo como as de um cisne ao despertar. — Diga a eles que estamos do lado deles — continuou, o fogo frio chegando ao seu pescoço. — Diga a eles que estamos tentando ajudar. E obrigada pelo aviso.
O incêndio a envolveu e, quando abriu os olhos, era como se fossem as janelas de um grande navio em chamas. O ar vibrava perante sua força, aquele mesmo zumbido de anestesiar a mente, mas, ao fundo, o rugido de um avião ficava cada vez mais alto.
— Tem certeza? — perguntou Brick. — Quer dizer, a gente poderia apenas...
Daisy não o deixou terminar, apenas ergueu os braços e virou o mundo do avesso. O estômago de Cal revirou. Viu Marcus desaparecer, depois Adam, e, em seguida, Howie. Rilke também, com um último olhar de partir o coração para o corpo do irmão. O homem, Graham, foi levado com eles. Na hora em que partiram, algo explodiu acima, com uma luminosidade que parecia ainda mais forte do que a de Daisy, uma explosão sem som que deixou o céu prateado. Cal viu o estrago que a bomba causou ao explodir, uma reação em cadeia que destruía tudo. Um anjo teria sido capaz de resistir àquilo? Será que teriam sobrevivido se não tivessem sido avisados?
Depois não houve nada além da vertigem e do turbilhão do éter, além da terrível constatação do que os aguardava do outro lado.
Daisy
Londres, 13h26
Desta vez, ela manteve os olhos abertos.
Era como quando o pai costumava fazê-la voar, quando era criança. Ele a segurava com força, as mãos enormes envolvendo as dela, e, em seguida, ele a girava em um rodopio, erguendo-a no ar. Das primeiras vezes, ela tinha fechado os olhos, com medo de olhar, apesar da emoção. Mas, quando teve certeza de que ele não a soltaria, mandando-a em um voo por sobre o telhado de casa, ela os abriu, vendo o mundo se mover tão rápido que ficava só um borrão — a única coisa constante era o rosto sorridente do pai, que girava com ela. Ela era a lua da gravidade dele; sabia que, por mais rápido que ele fosse, ela nunca se soltaria dali.
Não era o pai que a prendia agora, era o anjo, e, enquanto ela escapava do mundo, desprendendo-se das gotas de realidade como um cão que se sacode após nadar, teve a impressão de vê-la. Era como se o mundo fosse feito de areia colorida espalhada por um furacão. Na hora em que ela saiu do tempo — com Cal, Brick, uma pobre coitada e perdida Rilke, e os demais ao lado —, a paisagem foi completamente apagada. A luz branca que Daisy vira, aquela que ardia no céu, mais forte do que o sol, mais forte até do que a luminosidade dos anjos, era uma bomba, deu-se conta, enfim. Espiou seu próprio coração com os novos olhos, viu os átomos colidindo, a força que explodia de cada um enquanto a reação se espalhava. A explosão tentou alcançá-los, mas — graças àquele homem e a seu aviso — já tinham escapado pelas fendas, passado para um lugar onde nada, nem mesmo uma explosão nuclear, poderia lhes fazer mal. Pouco a pouco a luz se apagou, a cidade destroçada desapareceu, deixando-os suspensos em um local vazio e silencioso.
Mas não por muito tempo. Logo sentiu os dedos da realidade esgueirando-se por suas costelas, pela barriga, do mesmo jeito que você sente a gravidade tentando puxá-lo para baixo. A vida os queria de volta; ela não gostava nem um pouco quando arrumavam um jeito de se desvencilhar dela. Daisy concentrou-se, mantendo os olhos abertos — fazer isso parecia desacelerar o processo, dando-lhe mais tempo para pensar. Agora não havia em volta dela nada além de escuridão, mas era um tipo estranho de escuridão, que também era luz — podia ver os outros flutuando a seu lado, como se estivessem todos afundando. Estavam com os olhos fechados, mas, mesmo que não estivessem, ela achava que não seriam capazes de enxergá-la. Não é igual para eles, pensou ela. Isto acontece num piscar de olhos, em uma única batida do coração. Era engraçado vê-los daquele jeito, como se dormissem, e Daisy quase deu uma risada.
Até que sentiu. Uma perda súbita. Jade, pensou, vendo a garota por um instante em uma floresta cercada de soldados. Em seguida, o som de um tiro, e mais nada. Sinto muito, disse ela, seu anjo outra vez anestesiando a tristeza.
O mundo em volta dela vibrava, bem de leve, apenas um ligeiro roçar no ar, na pele dela. O tremor ia ficando mais forte, mais insistente. Era o universo, ela percebeu; eles corriam o risco de fragmentá-lo. As pequeninas engrenagens giratórias da realidade não tinham sido feitas para mantê-los ali. O que aconteceria se ela resistisse por mais tempo? Talvez o tempo e o espaço se fechassem atrás dela, encerrando-os para sempre, trancafiando-os dentro daquele bolsão de nada. A ideia assustou-a, então começou a relaxar a mente, pronta para deixar a vida puxá-la de volta.
Só que... alguma coisa a deteve, outra ideia. Vasculhou na cabeça, na alma, atrás do anjo que agora vivia ali, mas ele não reagiu, não pareceu notá-la, o que não era de surpreender. Esses anjos não eram anjos de jeito nenhum, não aqueles anjos sobre os quais tinham lhe falado. Pareciam mais bichos, algo assim. Não, pareciam mais máquinas. Não sabiam se comunicar, pensou ela. Talvez nem soubessem que a comunicação era uma possibilidade. Eram absolutamente obstinados, construídos para um propósito: combater o homem na tempestade em qualquer lugar e ocasião. Tudo o mais lhes era alheio, incognoscível. Tinham sido programados para defender a vida, mas sequer conheciam a mágica, a maravilha daquilo por que lutavam. Se isso era verdade, pensou ela, era horrível.
As vibrações em volta dela pioravam, fazendo seus dentes rangerem ainda que tivesse total certeza de que ali, naquele lugar, ela não tinha dentes. Os outros se agitavam onde estavam suspensos, em pleno ar, parecendo lençóis secando ao sabor de um vento forte, os rostos ficando distorcidos e estranhos. Daisy diminuiu a força com que se agarrava ao éter, permitindo-se escorregar de volta para o mundo, só se ancorando de novo quando sentiu algo mover-se dentro do peito. O anjo... Será que o anjo estava querendo lhe dizer alguma coisa? Ou será que estava só se mexendo ali, do mesmo jeito que ela costumava se mexer quando estava em um carro numa viagem longa, tentando achar uma posição confortável?
Me diga, pediu ela. Pode falar comigo, sou sua amiga. Me diga quem você é, por favor.
Uma coceirinha dentro da alma, uma sensação que era indolor mas, ao mesmo tempo, desagradável, como se ela tivesse penas crescendo na medula óssea. Era dessa maneira que eles falavam? Daisy se sentia como uma das formigas que o pai tinha aspirado. Até onde sabia, aquelas criaturas podiam estar tentando chamá-los, falar com eles. Mas como pode uma formiga se comunicar com um humano, e como poderia um humano se comunicar com um anjo? Era impossível.
No entanto, surgiu subitamente um pensamento em sua cabeça, uma sensação. Era desconfortável também, penas que coçavam, eriçando-se na carne de seu cérebro, mas ela parecia entender a tradução. Esse lugar, esse lugar horrendo, vazio, que tremia, congelante, rangente, perdido no tempo, era o lar. Era ali que os anjos viviam até que fossem convocados para a luta, e era para lá que voltavam quando a guerra terminava. Não havia vida, não ali, nem felicidade, nem diversão, nem família, nem amizade, só lampejos de dever imersos em zilênios de nada.
É isso mesmo?, disse ela, com a sensação de que as vísceras tinham sido removidas e jogadas fora. Essa ideia era terrível, insuportável. Mas o anjo não disse mais nada, não de um jeito que ela conseguisse entender. Coitado. Coitado, tão sozinho. Queria poder fazer algo. Queria poder ajudar você. Você pode ficar comigo para sempre, se quiser. Prometo que nunca mais mando você para cá.
E, assim que disse essas palavras, desejou não tê-las dito, porque não falava realmente a sério. Depois disso — se houvesse depois; se sobrevivesse e houvesse um mundo onde viver —, queria voltar para sua vida, para... talvez não para sua casa, porque isso seria triste demais. Mas havia outros com quem ela poderia viver, talvez a avó, ou com Jane, irmã da mãe. Ao menos poderia tentar ser normal de novo, e, após algum tempo, quem sabe, talvez isso tudo fosse parecer uma memória distante, apenas um sonho. Poderia voltar para a escola, ir para a universidade, casar-se, ter filhos e ser uma pessoa normal, ser simplesmente Daisy. Porém, nada disso seria possível se tivesse um anjo dentro de si, se a qualquer momento pudesse se incendiar e transformar o planeta em cinzas.
Afastou aqueles pensamentos, na esperança de que o anjo não tivesse ouvido sua oferta, ou ao menos não a tivesse entendido. Arrancando do mundo os ganchos da mente, deixou-se cair, sentindo os ouvidos tamparem-se com a mudança de pressão. Os outros caíam junto, aquelas pequenas chamas azuis ardendo no peito de todos. Quer dizer, todos menos Brick. A chama dele tinha crescido, espalhando-se pelos ombros e descendo para a barriga.
Ele é o próximo, pensou Daisy enquanto a descida deles se acelerava, o rugido do vento nos ouvidos, o estrondo da queda fazendo os ossos chacoalharem. Fechou os olhos outra vez contra a vertigem, contendo-se ao máximo para não gritar. Era assustador, mas ela também sentia outra coisa, algo diferente — entusiasmo. Era uma sensação tão peculiar, aliada ao medo, que precisou de um instante para entender que a sensação não era dela, mas, sim, do anjo — a emoção da fuga, de sair daquele lugar, de nascer outra vez no mundo. O que quer que estivesse dentro dela — sobrenatural, anjo ou máquina cósmica intemporal projetada para manter o equilíbrio do universo — estava ansioso, desejoso, queria estar longe dali.
Com o fim da queda, com o mundo recuperando sua forma ao redor, Daisy outra vez desejou não ter dito o que dissera. E se, quando tudo terminasse, o anjo não quisesse ir embora?
Brick
São Francisco, 13h26
Quase na mesma hora em que os destroços da Londres esburacada tinham desaparecido, outra paisagem apareceu, envolvendo Brick com força suficiente para fazê-lo cambalear. Foi para trás, tropeçando nos próprios pés, a luz do sol como um punho esmurrando seu rosto. Seu estômago revirou, o jato azedo acumulando-se na boca enquanto o garoto caía. Caiu sentado, cuspindo, gemendo por entre os lábios úmidos e tentando ver além da umidade nos olhos.
Estavam em uma floresta, num pinheiral que, à primeira vista, parecia tão semelhante ao de Hemmingway que Brick teve um lampejo de saudade, quase de partir o coração. Porém, não demorou a perceber que ali as árvores eram maiores, e balançavam com força por causa da onda de choque criada pela chegada de Daisy. Os galhos se soltavam, desabando no chão; vinte, trinta segundos passaram-se antes que tudo ficasse imóvel. Uma brisa vagava pela quietude da penumbra, carregando a fragrância das coníferas. Através das árvores, Brick viu que o sol estava mais baixo, como se fosse manhã, e perguntou-se aonde Daisy os teria levado. Os outros estavam espalhados pelo solo da floresta, todos limpando o resquício de vômito dos lábios, menos Daisy e Howie, o novo garoto.
Brick se levantou, ignorando o modo como o mundo parecia girar. Não entendia nada do que estava acontecendo, mas tinha certeza de que ser repetidas vezes desfeito e refeito em átomos não devia fazer nada bem. A verdade era que não estava mesmo se sentindo muito bem. Havia algo de errado em seu estômago. Colocou a mão nele, tendo a sensação de que faltava um pedaço, um pedaço que fora deixado em Londres. Não doía, só era esquisito. Essa ideia, de estar danificado, deixou-o com raiva. Ou, ao menos, deveria tê-lo deixado. Porém, estranhamente, aquilo apenas lhe inspirava calma.
— Onde estamos? — perguntou Cal, levantando-se com dificuldade.
Daisy, outra vez apenas uma menina, deu de ombros, mirando a floresta com uma expressão confusa. Adam correu até ela, e ela o abraçou.
— Eu... não sei. Achei que seríamos levados para onde ele estava.
Brick olhou através das árvores, esperando ver o céu escurecer, mas havia apenas a luz do sol e o canto dos pássaros.
— Talvez você o tenha matado — disse ele. — Talvez seja o fim.
— Não — respondeu Daisy. — Não matamos. Os anjos teriam ido embora se o homem na tempestade estivesse morto.
Por que ela parecia tão nervosa ao dizer isso?
— Talvez eles tenham ido embora — falou Brick. — Como sabe que eles não voltaram para o lugar de onde vieram?
Daisy fechou os olhos e, quando os abriu de novo, eram duas poças de metal fundido tão brilhantes que Brick precisou erguer o braço para proteger a vista.
— Nossa! — Foi tudo o que ele conseguiu dizer.
— Vou dar uma olhada por aí — disse Daisy, desvencilhando-se de Adam.
Brick ouviu o ssshhh do fogo quando ela se virou, seguido do bater lento e vigoroso de asas. Entreviu-a, em meio à pele imunda e sardenta do braço, ardendo pelos galhos. Era como ver o sol nascer, e logo ela estava suspensa contra o azul, a coisa mais brilhante no céu. Brick mirou Cal, depois Marcus e Howie, e, enfim, Rilke, que estava ajoelhada no chão, encolhida, seus olhos eram duas pedrinhas escuras que não piscavam. Perguntou-se se deveria dizer algo a ela, mas achou melhor não. Por mais que Rilke fosse má, acabara sentindo pena dela. Não devia ser nada fácil saber que você tinha provocado a morte do próprio irmão.
Por outro lado, ela tinha dado um tiro em Lisa, assassinado sua namorada bem embaixo do seu nariz. Esfregou a barriga, perguntando-se o que seria aquilo que lhe causava aquela sensação tão esquisita. Era quase uma sensação de alívio.
— O que aconteceu com aquele homem? — perguntou Cal. — Graham. Ele não veio junto?
— Pois é — disse Marcus. — Veio. Acho que aquilo é ele.
O desengonçado garoto apontava para o espaço entre duas árvores, e, quando Cal se virou e olhou, levou a mão à boca, engasgando. Brick aproximou-se deles, curioso, espreitando as sombras e vendo um amontoado vermelho, pequeno e úmido, como o embrulho que um açougueiro lhe daria. Só que esse tinha o que parecia metade de um rosto junto, e uma cordilheira de dentes enterrada em uma órbita sem olho. Afastou-se, fechando os olhos com força.
Cal soltou um palavrão.
— Mas que droga aconteceu com ele?
— Ele não era um de nós — disse Rilke, sussurrando as palavras para a terra. — Não podia sobreviver a isso, e se desfez.
Ninguém falou nada por alguns instantes, e, em seguida, Cal pediu:
— Bem, não contem para Daisy. Acho que ela não lidaria muito bem com isso.
Brick não se preocupava mais com Daisy, não mais. Ela parecia capaz de enfrentar qualquer coisa. Ele, por outro lado... Achava que mais uma reviravolta, mais um horror, poderia ser a última gota; poderia arrancar tudo o que sobrava de sua sanidade e fazer da sua cabeça uma tigela vazia. E, no entanto, não sentia medo, não sentia praticamente nada naquela hora, o que o desconcertava.
— Vou cobrir isso — disse Marcus, andando em círculos até achar um galho solto, usando-o para cobrir o cadáver deformado do homem. Recuou com rapidez, limpando as mãos nas calças.
O rosto do homem não era mais visível, mas Brick podia vê-lo em sua cabeça, claro como o dia. Imaginou que provavelmente o veria para sempre, até o fim. E, de novo, não havia uma sensação, mas a ausência dela, algo que não conseguia entender direito. Um pedaço dele que tinha estado ali até onde se lembrava agora havia sumido. Dessa vez, levantou a camiseta e cutucou de verdade a barriga suja de terra.
— Está com fome? — perguntou Howie, o novo garoto. Brick deixou cair a camiseta e o encarou. O garoto tinha uns treze ou catorze anos, e, mesmo que tivesse se transformado, sua pele ainda estava marcada por hematomas e cortes. — Deus sabe que eu poderia bater um enorme prato de qualquer coisa agora mesmo. Será que tem algum lugar aqui perto onde a gente possa comer?
— Como você pode estar com fome? — perguntou Cal.
— Comer é necessário — disse Howie.
A floresta ficou mais brilhante com o retorno de Daisy, seu fogo sugado de volta para os poros na hora em que pousou. Ela balançou a cabeça, e o motor dos olhos foi desligando.
— Estamos no alto de um grande declive — disse ela, apontando para a esquerda. — Tem uma cidade para o lado de lá, com muitos morros e uma torre pontuda. E o mar. E também uma grande ponte laranja. Não vejo nenhum sinal do homem na tempestade.
— Ainda acho que você assustou de vez aquele canalha — disse Brick, estremecendo. — Você arrancou a cara dele. Acha que tem volta depois disso?
Como ninguém respondeu, ele levantou a cabeça e viu que todos o olhavam. Daisy tinha um sorriso suave nos lábios. Ele franziu o rosto para ela, preparado para aquela raiva fervilhante surgir do estômago, quase decepcionado quando isso não aconteceu. Só havia aquela mesma calmaria em sua barriga, aquela sensação de vazio. Entendeu de repente: a raiva não estava mais ali. Deu um tapa na barriga, como se alguém tivesse lhe tirado um rim. A raiva era tão inerente a ele que era quase assustador não senti-la.
— Que foi? — perguntou ele, com todos ainda o mirando. — O que aconteceu?
— É você — disse Cal. — Olhe.
Ele não queria, mas que escolha tinha? Levantou a camiseta outra vez, e a pele ali estava azulada. Poderia ter sido a terra, só que havia um brilho brando, um cintilar sutil quando a luz batia. Colocou a mão, sentindo que era frio. Esfregou a pele, soltando flocos de gelo.
— Não! — disse, esperando o medo, a raiva, qualquer coisa. Porém, seu estômago estava vazio, sua cabeça estava vazia. Aquilo era ainda pior do que o gelo que lentamente subia por suas costelas, que se esticava das pontas dos dedos como uma infecção, transformando suas mãos em pedra, porque ele não ligava de verdade para o corpo. Nunca tinha gostado dele: era alto demais, com um rosto agressivo demais. Mas a raiva... era o que ele era, era o que o fazia ser Brick. Tirando isso, o que sobrava?
— Apenas se entregue — disse Daisy, aproximando-se dele. — Sei que é assustador, mas eles vieram ajudar. Eles vão cuidar de você, mantê-lo em segurança.
— Como fizeram com Schiller? — retrucou Brick, os lábios frios demais para dar a devida forma às palavras. Tinha a sensação de que saíra para uma tempestade de neve, a pele congelada, rígida como plástico. Cambaleou, batendo em uma árvore, tentando levar as mãos ao rosto, ou virar a cabeça. Os outros perderam a nitidez, e o mundo ficou cinza. Por que aquilo estava acontecendo? Não precisava ser ferido primeiro? Como Schiller, como Howie?
As coisas estão se acelerando, disse Daisy, a voz dela no centro do cérebro dele. Porque não há muito tempo. Não se assuste, Brick, estou aqui.
Ele sentiu que estava caindo, nenhuma dor ao pousar na grama espinhenta da floresta. Não sabia se olhava para cima ou para baixo. Uma rajada de pânico provocou um baque em seu coração, um rápido lampejo de raiva, tragado com rapidez pela mesma calma avassaladora.
Não resista, disse Daisy.
Ele resistiu, tentando reavivar a raiva, como um piloto em queda livre tentando religar um motor morto. Outra explosão seca, branda demais, breve demais para combater a paralisia. Tentou de novo, e, desta vez, reuniu forças para abrir os olhos. Ficou de pé com dificuldade, tropeçando em direção à luz, sem se importar para onde estava indo, querendo apenas se mexer, se afastar. Deu três passos antes de perceber que não estava mais na floresta. Se deu conta de que não tinha mais pés. Estava suspenso dentro de um palácio de gelo, as paredes mudando de lugar constantemente, preenchidas com a vida dos outros. Era o mesmo lugar que havia visitado nos sonhos ao adormecer na igreja.
Virou-se, em busca de uma saída, encontrando-se face a face com Daisy. Ela estava envolvida em fogo, o corpo como uma teia cintilante de luz, o rosto saído de um sonho, não exatamente real, não exatamente capaz de manter sua forma. As asas arquearam-se acima da cabeça dela, erguendo-se como uma fonte de fogo, cuspindo faíscas derretidas em azul, vermelho e amarelo. Ela estendeu para ele uma mão que não era realmente uma mão, fria contra o rosto dele.
Você confia em mim, Brick?
Ele não respondeu, só ficou encarando-a, encarando a criatura que a tinha possuído. Tudo nela emanava poder — uma energia pura, impoluta, concentrada. Se quisesse, ela poderia arrebentar o mundo, fazendo dele fragmentos de poeira e sangue, e, no entanto, não havia nada naquele ato que prenunciasse violência, raiva, ódio.
É porque eles são bons, disse Daisy.
Não, eles não eram bons. Não havia nada neles, assim como não havia emoção em uma arma nem em uma bomba, só uma coleção de partes móveis que faziam o que quer que lhes mandassem fazer. Schiller tinha provado isso ao destruir Hemmingway, quando matara aqueles policiais. Talvez, então, não fosse tão ruim ser poderoso, ter o controle. Se seu anjo tivesse sido o primeiro a nascer, se isso tivesse acontecido em Hemmingway, jamais teria deixado Rilke descer ao porão, e Lisa ainda estaria viva.
Pensar em Rilke fez seu estômago revirar, ainda que Brick tivesse bastante certeza de que ali naquele lugar, qualquer que fosse, ele não possuía um estômago. Alguma coisa começou a arder nele, como se uma vela tivesse sido acesa. Essa coisa, essa criatura — não um anjo, é o termo errado; essa coisa é mais antiga do que a Bíblia, mais antiga do que a religião, mais antiga do que as estrelas —, tentava sufocar seu medo e sua raiva. Era parte do trato, ele percebeu; em troca do fogo, você precisava dar uma partezinha de si, as emoções que poderiam levá-lo a usar esses poderes em outra direção. Sentiu o calor bruxuleante em suas vísceras se ensopar.
Apenas deixe acontecer, disse Daisy. Ele precisa da sua ajuda.
Ele precisava de Brick, e Brick também precisava dele. O garoto relaxou, inspirando profundamente o ar que na verdade não existia, tentando se desligar da raiva. Por ora, ao menos. Essa criatura não o conhecia, não entendia que ele era feito de raiva. Nada podia deletá-la. Fingiria estar calmo, acompanharia a criatura, mas sua fúria ainda estaria ali. Sempre estaria ali. Mesmo com um ser como aquele dentro dele, era capaz de encontrá-la.
E, quando a encontrasse, Rilke pagaria caro.
— Ok — disse ele a Daisy, sorrindo para ela com seus lábios inexistentes. — Estou pronto.
Daisy
São Francisco, 13h38
Daisy deslizou de volta para o mundo real a tempo de ver o anjo de Brick nascer. O fogo ardia através da pele dele, começando pelo peito e se espalhando com rapidez. Ele abriu a boca para gritar, uma luz branca subindo pela garganta, os olhos irrompendo em supernovas. Suas costas se dividiram, asas abriram-se com força suficiente para rachar o tronco da árvore atrás dele, enchendo a floresta com barulhos ao cair. Resistia à transformação, lançando-se do chão para os galhos acima, com gritos disparando de sua boca, altos o bastante para fazer o chão tremer. Os pássaros dispersaram-se das árvores, tantos que fizeram o céu escurecer.
Fique calmo, ela lhe disse enquanto ele despencava pela folhagem, chocando-se contra o chão. Ele esperneava, como se alguém o tivesse coberto de gasolina e ateado fogo, aquelas asas enormes bruxuleando até ficarem quase invisíveis, e depois se acendendo de novo. Calor nenhum saía dele, só um frio tremendo, que transformava a terra em gelo. Dedos de luz se projetavam do gelo, procurando Brick e, depois, desabando no nada. E aquele mesmo zumbido entorpecente agitava o ar, fazendo com que os ouvidos de Daisy doessem. Não tem problema, disse ela. Esse barulho. É esse o som do seu novo coração.
Brick decolou de novo, desta vez de lado, atravessando uma árvore e transformando seu tronco em farpas. Virou, retorcendo-se em uma profusão de chamas, gritando para cima com tanta força que Daisy viu alguns dos pássaros caírem do céu, despencando para a terra como pedras — dezenas deles.
Brick, chega!, falou ela. Ele deve tê-la ouvido, porque parou de se retorcer e ficou pairando a cerca de trinta centímetros do chão, as asas dobradas abaixo dele como se fossem um tapete voador. Ele levou a mão ao rosto, tateando-o, passando os dedos pelo peito e pela barriga.
— Tudo bem, cara? — perguntou Cal, ao lado de Daisy. — Brick?
— Ele vai ficar bem — respondeu Daisy. Brick?, falou ela com a outra voz, a da mente. Fale comigo. Aguardou a resposta, mas tudo o que podia sentir era algo saindo do garoto, algo que ardia com mais ferocidade do que o fogo. Não foi capaz de distinguir o que era com seus olhos humanos, então deixou o anjo assumir o controle, o mundo outra vez se rompendo em nuvens de átomos dançantes. Agora a coisa dentro de Brick estava mais límpida. Ele estava com raiva. Não fique assim. É por isso que eles anestesiam você, porque é mais fácil quando não está com raiva nem com medo. Brick, você precisa acreditar em mim.
Brick se virou para ela, o incêndio nos olhos encontrando-a. Ele resistia, tentando aferrar-se à raiva. Mas isso era ruim. Não era o que os anjos queriam.
É o que eu quero, disse ele. Com um leve bater de asas, endireitou-se, suspenso ali, com o chão abaixo dele já como um lago congelado, aquelas mesmas estranhas gavinhas de luz subindo antes de desaparecer. Daisy quase enxergava o que acontecia dentro dele — Brick tentando forçar-se a ficar com raiva, e o anjo resistindo. Ele começou a flutuar pelas árvores, seu novo corpo sugando o calor do ar, dos galhos, cobrindo tudo com fogo. Continuava falando enquanto ia, ainda que Daisy não soubesse se todos podiam ouvi-lo, ou se apenas ela podia.
Não pedi isso, não tive escolha. Então, se vou fazer isso, esse anjo — ou como queira chamá-lo — também precisa fazer algo por mim.
Como assim? Mas ela tinha a sensação de que já sabia. Lisa, a namorada de Brick, presa no porão de Fursville, encurralada como um rato por Rilke, e, em seguida, morta a sangue-frio. Daisy virou-se para os outros, vendo Rilke ainda agachada no chão, encarando Brick com olhos frios, escuros, assustados.
Não, falou Daisy. Brick, por favor, ela não sabia o que estava fazendo.
Sabia. Sabia sim.
Brick deslizou para a clareira como um guerreiro, as asas abertas, duas vezes maiores do que ele. Aquele som irradiava dele e de Daisy também, revirando o chão, fazendo as pedrinhas dançarem e as pinhas caírem dos pinheiros. Ele parou ao lado delas, seus olhos ardendo pela clareira, nunca deixando Rilke. Ela devia ter entendido, porque se levantou sem firmeza, recuando. A garota olhou para Daisy, e não precisava haver um laço telepático entre as duas para que Daisy entendesse que ela dizia: Socorro.
— O que está acontecendo? — perguntou Cal, os outros aglomerados em volta dele, como se pressentissem que algo ruim estava prestes a acontecer.
— Mantenha-o longe de mim! — disse Rilke, a voz dela quase sumindo no zumbido trepidante. Estava encolhida, parecendo tão fraca, tão humana. Foi recuando até bater nos galhos baixos de uma conífera, quase se afundando neles, como se pudesse se esconder. — Juro...
Jura o quê? Brick não disse essas palavras em voz alta — não podia, não sem abrir um buraco no mundo —, mas sua voz pareceu ecoar pelas árvores, quicando pela cabeça de Daisy. Os outros também ouviram desta vez, porque todos levaram as mãos às orelhas. O que vai fazer comigo, Rilke? Me dar um tiro?
Chega!, gritou Daisy, emitindo as palavras para ele. Não podemos lutar uns contra os outros, não podemos!
Cale a boca, Daisy, disse Brick. Isso não é da sua conta. Isso não tem nada a ver com nenhum de vocês. É entre mim e ela.
— Brick, já chega, cara, deixa para lá, tá bom? — Cal deu um passo para Brick, mas o garoto maior limitou-se a erguer a mão e flexionar os dedos. Foi como se um vento forte tivesse detido Cal, fazendo-o cair de costas e arrastando-o pelo chão.
Não!, gritou Daisy. Brick, não o machuque, por favor!
Ela estendeu as próprias asas, sentindo a força dentro de si, como se seu corpo estivesse cheio de um milhão de vespas. Do outro lado da clareira, Howie se transformou, irrompendo em chamas, os olhos como ferro derretido, mas ainda repletos de incerteza, olhando de um para o outro.
Não é ele que eu quero, falou Brick enquanto Cal se levantava. Só quero ela. Só quero mostrar a ela como é. Que tal, hein, sua psicopata?
Ele quase não falou a última palavra, o som dela fazendo as árvores se agitarem, provocando uma chuva de agulhas. Rilke emitiu um som que estava entre um resmungo e um ganido, como um rato encurralado contra a parede. Ela ficava batendo o punho cerrado contra o peito, e Daisy precisou de um momento para entender que ela tentava despertar seu anjo, tentava se transformar.
Agora já não é tão legal, não é?, prosseguiu Brick, movendo-se lentamente na direção de Rilke. Não é muito bom quando sou eu que tenho as armas e você está indefesa. Falei que ia matar você por causa daquilo, lembra?
Ele estendeu a mão outra vez, e, apesar de não tocar Rilke, a cabeça dela foi para trás. Ela gritou, os dedos pressionados contra a testa.
Por favor!, gritou Daisy. Ela olhou para Cal, para os outros, mas ninguém se mexeu. Até Howie, banhado em chamas, estava imóvel. Por que ninguém fazia nada?
— Ela era um deles! — justificou Rilke, engasgada com as próprias palavras. — Ela era um dos furiosos; precisava morrer!
Brick se aproximou, os dedos brincando com o ar. Mesmo através da névoa cintilante que o cobria, era óbvio que ele sorria. Estendeu um dedo, apontando-o bem para o rosto de Rilke.
Ela não precisava morrer. Não estava fazendo mal a ninguém lá embaixo. Você devia tê-la deixado em paz; ela teria melhorado. Mas você a matou, você deu um tiro na cabeça dela.
— Ela teria nos ferido! — falou Rilke. — Eu precisava...
Está gostando da sensação?
Ele moveu os dedos, e Rilke começou a levitar. Esperneava contra seu toque invisível, mas não havia nada que pudesse fazer.
Chega!, Daisy comunicou-se com a mente, e seus pensamentos tornando-se uma força física que atingiu Brick, arremessando-o para longe. Ele rolou duas, três vezes, as asas emaranhando-se, levantando um redemoinho de pó. Mas isso não durou muito. Em seguida, estendeu-as de novo, voltando-se para encarar Daisy. O sorriso tinha ido embora, seus olhos agora eram dois poços ardentes de fúria.
Fique fora disso, Daisy, disse ele, com as palavras de algum modo transmitidas para dentro do zumbido do coração do anjo, um tanto faladas, outro tanto pensadas. Não quero ferir você.
Ele não faria isso, faria?
Rilke, perguntei se estava gostando.
Ele projetou o dedo à frente. A uns seis metros de distância, a cabeça de Rilke foi para trás, sua cabeça se partiu. O sangue brotou de sua testa ferida, escorrendo por seu nariz e para dentro de sua boca, transformando os gritos dela em gorgolejos desesperados e horrendos.
Brick, não!, gritou Daisy. Brick ficou ali, mergulhado em chamas, seu dedo ainda se projetando. Era difícil distinguir a expressão em seu rosto. Ele deixou a mão cair, e virou-se para Daisy.
Eu... Eu não quis...
Rilke se afastou cambaleando, ofuscada pelo sangue. Seu pé bateu numa raiz e ela caiu, a cabeça batendo contra o chão com tanta força que lançou um halo escarlate na terra. A menina gemia, tentando rastejar para a frente.
Rilke?, disse Daisy, movendo-se na direção dela.
Só estava tentando assustá-la!, falou Brick, a voz dele como a de um garotinho dentro de sua cabeça. Desculpe!
Ele estendeu a mão outra vez, e o mundo se revirou, espalhando Cal e os outros como se fossem balinhas jogadas para cima. O ar se agitou, e uma onda de choque empurrou Daisy com tanta força que ela precisou estender as asas para se manter onde estava. O trovão ondulou pela clareira, não só no céu, mas também no solo, como se uma explosão tivesse sido detonada ali embaixo. Até Brick chacoalhou sob esse efeito, as chamas se apagando, os olhos arregalados e temerosos por um instante, antes que o incêndio irrompesse outra vez. Encarou as mãos, como se não pudesse acreditar no que tinha feito.
Daisy quase não teve coragem de olhar para Rilke. Porém, quando se virou, viu que a menina ainda estava viva, retorcendo-se no chão, as mãos no rosto. Daisy olhou de novo para Brick, perguntando: O que você...
Outro rugido, tudo se movendo, como se a floresta fosse uma vasta criatura que houvesse decidido se levantar e andar com eles no lombo. O chão se inclinava, Cal e Adam rolando entre as árvores nos braços um do outro, Rilke escorregando sob a cauda da conífera.
Não fui eu!, gritou Brick, sua voz-mente despojada de raiva, repleta de terror. Não fui eu, juro!
Aquele conhecido lamento infindo e horrendo se precipitou, o rugido uivante de um bilhão de trombetas no céu, um som que parecia capaz de agitar o universo e estilhaçá-lo. Daisy bateu as asas, impelindo-se para cima da floresta, subindo outra vez além das árvores trêmulas. À distância, estava a mesma cidade que vira antes, agora chacoalhando e virando pó com a força dos tremores. Do outro lado, o mar estava branco, febrilmente agitado.
Não fui eu, ouviu Brick dizer de novo, agora mais baixo. Claro que não tinha sido. Aquilo era muito pior.
Era o homem na tempestade.
Brick
São Francisco, 13h51
Brick foi atrás de Daisy, usando as asas para elevar-se acima da floresta. Examinava as mãos enquanto subia, esperando ver sangue nelas, como se tivesse esmagado a cabeça de Rilke com os próprios dedos. A raiva tinha sumido, submersa em um mar de calmaria, mas deixara um gosto amargo na boca, como o de bile. Não pretendia feri-la daquele jeito. Quase a tinha matado.
Ele irrompeu da copa das árvores, o céu se abrindo em volta, a vertigem apertando seu estômago como um punho de ferro. Nunca tinha gostado de altura, e, agora, estava ali, pairando cem metros acima da superfície com nada para impedi-lo de cair além de um par de asas flamejantes. A ideia era tão absurda, tão assustadora, que chegou a rir — uma risada insana e esganiçada que durou menos de um segundo, até que olhasse o horizonte e visse a cidade desaparecendo.
Ela se desfazia como um castelo de areia, os prédios sumindo primeiro, depois as colinas — montes sólidos de rocha — dissolvendo-se em poças. O chão tinha virado um oceano, um vasto redemoinho que girava em um círculo lento. O próprio oceano estava tão branco que poderia ser feito de neve, gemendo ao ser sugado para o vórtice. Brick viu uma ponte — uma coisa enorme e vermelha — arrebentar como se fosse feita de palitos de fósforo, sugada para o fluxo. O redemoinho espalhava-se pela cidade com velocidade incontrolável, tudo desabando em pó e fumaça. A terra parecia berrar, um grito de pura aflição que fazia os ouvidos de Brick doerem.
É ele, disse Daisy a seu lado, a voz repleta de pesar. Ah, Brick, ele matou todos.
Quantas pessoas? Cem mil? Um milhão? Elas nem teriam percebido, sugadas pelo esôfago tão rápido que teriam morrido antes mesmo de conseguirem recuperar o fôlego. Não pode ser real, não pode ser real, mas era; ele podia sentir o miasma do concreto atomizado, do sangue derramado e da fumaça — tanta fumaça. Podia sentir a força do vento que se precipitava para o abismo, tentando puxá-lo junto.
Precisamos enfrentá-lo, prosseguiu Daisy. Howie tinha subido e se postado ao lado dela, sua forma de anjo tão parecida com a dela que poderiam ser gêmeos. Onde está ele? Não estou entendendo.
Não era como em Londres. Para começar, não havia tempestade. Lá ele tinha ficado suspenso no ar, sugando tudo com aquela boca que era um poço, o céu repleto de escuridão. Ali não havia sinal dele, só a cidade se afogando.
Ele está no subterrâneo, disse Brick, entendendo de súbito.
O epicentro da destruição agora era um buraco escancarado, com quase dois quilômetros de diâmetro, e aumentava com rapidez. Terra e mar vertiam juntos no poço, lançando arco-íris contra o céu sem nuvens, o efeito estonteante. Algo mais também estava acontecendo, fendas vastas e serpenteantes irradiando-se da destruição, despedaçando a terra. Uma ia abrindo caminho para a floresta na colina abaixo deles, escavando uma trincheira nas ruas, atravessando as casas. Tudo desmoronava.
Espere aí, falou Brick. Onde estamos? Aquele homem não tinha dito que aquilo tinha reaparecido em São Francisco?
Acho que sim, respondeu Daisy. Por quê?
Por causa da falha, respondeu Howie, antes que Brick pudesse fazê-lo. A falha de Santo André.
A... o quê?, perguntou Daisy, mirando Brick com seus olhos ardentes.
É... começou ele, parando enquanto uma colina inteira, cheia de casas e de prédios, afundou no chão que se desintegrava, o som diferente de tudo o que Brick já ouvira na vida. É uma fenda na Terra, um ponto fraco.
Era como se o homem na tempestade rasgasse os alicerces, o esqueleto que mantinha a unidade da Terra. Se quebrasse ossos suficientes, o continente inteiro desabaria.
Então o que faremos?, perguntou Daisy. Como vamos lá embaixo?
Brick olhou para ela, depois para Howie, sabendo a resposta mas recusando-se a dizê-la, porque dizê-la a tornaria real. Não que ainda fizesse algum sentido esconder alguma coisa. Daisy podia enxergar dentro da cabeça dele com a mesma facilidade com que enxergaria dentro da própria.
Vamos lá embaixo, falou ela.
Brick negou com um meneio de cabeça. A única coisa que ele queria era se virar e ir embora. Era isso o que fazia melhor; escondia-se das coisas, fingia que elas não existiam. Era por isso que gostava tanto de Fursville: porque ninguém podia se aproximar dele quando estava lá. Estava em segurança. A lembrança do lugar, dos momentos em que fora lá sozinho e escapara das brigas, do estresse, do lixo sem fim que era sua vida, fez a já conhecida raiva fervilhante subir por seu estômago. Danem-se eles, por que seria ele a lutar? Aquela batalha não era para ele. Nem a bravura, bem sabia. Era o anjo mexendo com a cabeça dele, fazendo-o pensar em coisas nas quais não lhe cabia pensar. Não, melhor se mandar logo, enquanto ainda podia, achar outra Hemmingway, sobreviver.
Até o homem na tempestade achar você, falou Daisy. Porque ele vai. Ou acha que ele vai parar por aqui? Ele vai destruir tudo, Brick, o mundo inteiro. Vai engolir tudo. Ainda não entendeu? Não vai sobrar nada.
Ele se afastou do vácuo estrondoso e virou-se para o horizonte banhado em ouro. Vá, vá, apenas vá. Eles podem resolver isso sozinhos.
Não podemos.
Agora ele podia voar, podia ir para qualquer lugar que quisesse só com um pensamento, podia deixá-los ali para resolver a situação. Aquelas pessoas nem eram amigas dele; depois daquilo, nunca as veria outra vez, mesmo que sobrevivessem. Nunca precisaria olhar para a cara delas de novo.
Brick, não!
Era muito melhor do que ser engolido pelo homem na tempestade.
Por favor, pediu Daisy, estendendo-lhe a mão, as chamas da mão dela enroscando-se nas dele, entremeando-se como dedos, tentando detê-lo ali. Ele se afastou, batendo as asas uma vez, talhando um caminho no céu, batendo-as outra vez, a loucura e o caos se encolhendo, os pedidos de Daisy ficando mais baixinhos, o estrondo da cidade em ruínas desaparecendo atrás do ar em agitação enquanto ele voava. E era tão bom estar em movimento, em movimento, sempre em movimento.
Cal
São Francisco, 13h56
O chão tremia tanto que ele não conseguia se manter em pé. Toda vez que tentava, a superfície se inclinava como um barco em uma tormenta, fazendo-o girar. Apoiou-se em Adam com toda a força, a mão presa na camiseta do garotinho. Estava escuro demais para enxergar o que quer que fosse, e as árvores desabavam ao redor, bloqueando o sol.
— Daisy! — gritou ele, o ar repleto do fedor das pinhas. Não havia como ela ouvi-lo com o ribombar da terra, os estalos e os ganidos das árvores, mas ela não precisava de ouvidos, ela o sentia.
O chão virou para baixo com tanta força que, por um momento, Cal ficou suspenso em pleno ar. Caiu de costas, encolhendo-se. Adam rolou para o lado dele, sem fazer o menor barulho, os olhos leitosos de pânico. Cal agarrou-o, abraçando-o com força. Um facho de luz atravessou os galhos, revelando a encosta de um penhasco que não estava ali antes. Raízes de árvores projetavam-se da lama como minhocas, e uma avalanche de solo martelou contra o chão. Esperou outro tremor, esperou o mundo se abrir sob ele e finalizar seu trabalho, mas não havia nada além de silêncio.
Isto é, um relativo silêncio. Ainda era capaz de ouvir um gemido distante, o som de um Leviatã monstruoso nas profundezas. Não tinha muita certeza do que era, mas podia chutar: era o homem na tempestade, suspenso sobre alguma cidade, devorando-a por completo. Apoiou-se nos cotovelos, esperando pela dor insuportável de um osso quebrado ou de um membro torcido, mas só encontrou hematomas.
— Tudo bem com você? — perguntou a Adam. O garoto fez que sim com a cabeça, colocando a mão na bochecha. Havia uma dúzia de agulhas de pinheiro enterradas em sua pele, fazendo-o parecer um porco-espinho. Cal puxou-as com delicadeza. — Vai arder por algum tempo — falou ele, sentindo o calor das agulhas no próprio corpo. — Mas elas não vão matar você. Vamos, precisamos achar os outros.
Ele se levantou, o chão irregular fazendo-o sentir-se bêbado enquanto ajudava Adam a ficar de pé. Tinha perdido qualquer senso de direção que não fosse para cima e para baixo. Espiou por entre os galhos, vendo o brilho do sol — ou talvez de um anjo, não dava para ter certeza.
— Daisy! — gritou ele outra vez, sua voz provocando um sobressalto em Adam. — Onde você está?
— Cal?
Ele reconheceu Marcus, o som vindo de algum lugar acima. Perguntou-se se o outro garoto tinha se transformado, se pairava no ar, e em seguida deparou com seu rosto magrinho espiando do alto do precipício. Tinha um sorriso enorme no rosto.
— Cara, que bom te ver! Achei que estaria... Você sabe. Como foi parar aí embaixo?
— Como foi que você foi parar aí em cima? — rebateu Cal.
— Terremoto — falou Marcus. — Mas não um terremoto-terremoto; só pode ter sido ele.
— Está vendo Daisy em algum lugar? — perguntou Cal. — Brick, ou alguém?
Marcus olhou para trás e deu de ombros.
— Nada; devem ter ido brigar em algum lugar. Mas foi legal da parte deles ajudar a gente.
Cal fez que sim com a cabeça automaticamente, tentando enxergar um jeito de subir o penhasco. A terra ainda estremecia, os tremores vibrando em seus calçados e provocando dor nos ossos das pernas. Sempre tinha confiado na terra firme, mas agora não podia deixar de pensar no quanto era fina a crosta do planeta, no quanto era frágil, e no oceano sem fim de pedra derretida sobre o qual ela flutuava. Tudo seria muito mais fácil se algum deles tivesse se transformado; podiam simplesmente abrir as asas e voar para longe dali. Porém, não havia nenhum sinal de que o anjo dele estava sequer próximo de nascer. Como sempre, tinha ficado com o preguiçoso. Tentou rir, mas o riso saiu mais como uma fungada.
— Está vendo algum caminho, alguma alternativa? — perguntou ele.
Marcus balançou a cabeça em uma negativa.
— Está assim até onde enxergo; do outro lado, também. Não posso me mexer, vou ter de esperar uma carona. Você, talvez, consiga sair por aquele lado. — Ele apontou para a direita. — De repente tem algum espaço entre as árvores.
— Vou lá dar uma olhada — falou Cal, a caminho. O progresso era lento porque o chão tinha fendas menores, os pés se afundando na terra. Toda vez que ele dava um passo, rangia os dentes, esperando um buraco se abrir e as trevas o envolverem. Duas vezes, Adam se desvencilhou, porque Cal segurava a mão do menino com força demais. — Foi mal, cara, de repente é melhor você ficar aqui.
Adam negou com a cabeça, apertando os dedos de Cal com a mesma força. Prosseguiram, abrindo caminho por aglomerados de galhos quebrados, cheios de seiva. Não havia sinal de espaço entre as árvores, como sugerira Marcus, mas, depois de mais ou menos cinco minutos, Cal ouviu alguma coisa. Ele parou e virou a cabeça para o lado, ouvindo o que parecia os grunhidos de um animal selvagem. Pela primeira vez, perguntou-se onde exatamente estavam, e que tipo de criatura viveria naquela mata.
Esgueirou-se entre duas árvores, examinando a penumbra à frente, e acabou por ver uma silhueta. Dois olhos enormes e brancos, sem corpo, podiam ser vistos na penumbra, olhos de fantasma. Então a sombra se arrastou, e ele percebeu que era Rilke. O rosto dela estava tão coberto de sangue que era quase invisível. Ela murmurava algo entre aquelas inspirações guturais, ainda que Cal estivesse longe demais para entender quais eram as palavras dela. Arrastou Adam por entre as árvores, apoiando-se em um joelho ao lado da garota.
— Rilke? — chamou ele. Daquela distância, podia ver o buraco na cabeça dela, o buraco feito por Brick. Era do tamanho de uma moeda de cinquenta centavos, e ainda escorria sangue dele. Pelas marcas viscosas da pele, podia-se entrever o osso, e algo de um tom escuro de rosa projetava-se do buraco como se tentasse escapar dali. Como ela ainda podia estar viva?
Rilke ainda murmurava, flashes ocasionais de dentes brancos luminosos contra a vermelhidão. Cal se aproximou, sua pulsação martelando nos ouvidos.
— ... culpa minha, não foi culpa minha, ele colocou no porão, pintou de ouro, pintou de um jeito brilhante e não estava lá, não posso fazer nada, posso, Schill? Não se está ali, não se é ouro...
— Rilke! — chamou outra vez. — Está me ouvindo?
Ela disse mais algumas palavras, palavras que não faziam absolutamente nenhum sentido, e, em seguida, franziu o rosto. Exceto pelo ferimento, sua testa estava praticamente sem sangue, dando a impressão de que usava um véu.
— Schill, é você? — A voz dela, partida em um milhão de pedacinhos, era a de uma senhora de idade. — Irmãozinho? Não estou vendo você.
— É o Cal — disse ele. Ele mexeu a mão na frente do rosto dela, mas ela não deu sinal de que o viu.
O que Brick tinha feito com ela? Cal sussurrou um palavrão, olhando para Adam, depois para a floresta. Rilke precisava de um hospital, mas, mesmo que vivesse tempo suficiente para chegar a um, os médicos a despedaçariam assim que passasse pela porta.
— Quebrei a boneca, não quebrei, Schill? — perguntou Rilke, o sangue escorrendo do canto dos lábios. — Quebrei, quebrei a boneca, desculpe ter colocado a culpa em você. Quebrei, quebrei a boneca... Eu me quebrei, você me quebrou, não conte para a mamãe; eu te amo.
Ela começou a tremer, como se estivesse tendo uma convulsão. O que Cal deveria fazer? Adam se deitou ao lado de Rilke, tomando a cabeça dela em sua mão, afastando as madeixas de cabelo de seus olhos. Ele a abraçou com força, pressionando a bochecha contra a dela, até que os tremores passaram. Cal sentiu seus olhos arderem, já não mais pelas agulhas dos pinheiros. Precisou passar o braço no rosto para enxugar as lágrimas. Tomou a mão de Rilke na sua, a pele dela bem fria, entrelaçando seus dedos com os dela.
— Vai ficar tudo bem — disse ele. — Vamos ficar com você, até...
Não terminou, sem saber o que estaria por vir. Rilke começou a tremer de novo, seu corpo inteiro tendo espasmos, quase se levantando do chão. À distância o mundo acabava; Cal podia ouvir o terrível estrondo massacrante daquilo, o som da terra, do mar e do céu sendo engolidos inteiros. Em contraste, a clareira era quase pacífica. Havia até um pássaro cantando em algum lugar, o mesmo som que Cal ouvira naquela mesma manhã — como podia ser o mesmo dia? Parecia um milhão de anos atrás —, altivo até o fim. Talvez ele, Adam e Rilke, e aquele passarinho, pudessem só aguardar ali, no ninho de pinheiros, no escuro e no silêncio, até tudo terminar. Provavelmente nem perceberiam quando acontecesse, seria apenas um estrondo súbito e game over.
A clareira iluminou-se por um breve instante e, em seguida, escureceu de novo. Cal se arrastou para trás quando uma onda de fogo desceu sobre Rilke, se extinguindo rapidamente. Aconteceu de novo, as chamas espremendo-se de seus poros, tentando ganhar força, e apagando-se em um piscar de olhos. Rilke estava alheia a isso, ainda balbuciando coisas sem sentido, com seus olhos grandes, brancos e opacos.
— Adam, afaste-se! — disse Cal, estendendo a mão para o garoto, que fez que não com a cabeça, abraçando Rilke com mais força ainda.
A menina se incendiou de novo, as chamas se enroscando no tronco, bruxuleando pelo pescoço e pelo rosto, morrendo depois. Desta vez, Rilke pareceu senti-las, os lábios congelando no meio de uma palavra. Colocou uma das mãos no peito, uma inspiração fraca e gorgolejante. Línguas de fogo lambiam seus dedos, agora mais fortes.
— Quebrada? — disse ela. — Boneca quebrada, Schill, está me ouvindo? Consegue me consertar? Me conserte antes que ela descubra, ela nunca vai saber. Você vai ficar em segurança comigo, irmãozinho, estou aqui para te proteger.
As chamas se mantinham, ardendo no peito dela, espalhando-se pelos membros, emitindo um frio inacreditável. O mesmo ronronar martelante ergueu-se no ar, ficando mais alto, depois diminuiu, como um motor tentando ligar. Sumia, depois voltava com força total, as chamas ardendo com tanta violência que, dessa vez, Adam se arrastou para longe. Não parecia a mesma coisa que acontecera com Brick, com Daisy. Aquilo era diferente, o fogo mais urgente, ardendo da cabeça aos pés, como se a atacasse. Rugia como mil bocas de fogão acesas, com força total, e lutava para permanecer vivo, para se estabilizar. Cal praticamente podia enxergar o anjo ali, a silhueta dele se retorcendo nas chamas. Entendeu que ele não queria morrer — não, morrer era a palavra errada. Ele não queria voltar para o lugar de onde tinha vindo, qualquer que fosse. Gritava, um ruído débil como o de um filhote de passarinho, de um pintinho que tivesse sido chocado cedo demais.
— Vamos! — disse Cal, estendendo a mão para Adam.
Não tinha ideia do que ia acontecer, mas não podia ser bom. Rilke disparava ar frio enquanto o anjo sugava o calor da floresta, aquele ruído ficando mais agudo, como se ela fosse explodir. Mesmo que não explodisse, mesmo que se transformasse, sua mente estava despedaçada. Não seria capaz de controlar seu poder e acabaria tão perigosa quanto o homem na tempestade. Por um segundo, Cal cogitou pegar um galho e afundar na cabeça dela antes que se transformasse. Porém, o anjo pareceu ler sua mente, agitando-se com mais vigor, o som de seu coração de uma força que impelia Cal para longe.
O incêndio ficou mais forte, projetando-se dos olhos e do buraco na cabeça dela, como se houvesse uma fornalha no crânio. Quando Cal olhou de novo, Rilke estava no ar, uma única asa semiformada erguendo-a em diagonal. Desapareceu, e ela caiu, depois se acendeu de novo, as duas asas se desenroscando para fora, levando-a para o céu, onde ela desapareceu no brilho do sol.
Cal virou o rosto, piscando para tirar as manchas de luz da visão. Deu a mão a Adam e conduziu-o por entre as árvores, torcendo para que ainda restasse algum pedaço de Rilke e para que esse pedaço ainda se lembrasse do que deveria fazer, se lembrasse de resistir, mas não se lembrasse do que Brick fizera com ela.
Daisy
São Francisco, 14h17
Daisy estava arrasada. A cidade — agora nada além de um vazio fumegante, com vinte, trinta quilômetros de diâmetro — ficava para um lado. Parecia as fotos que a garota tinha visto do Grand Canyon, a não ser pelo chão de fumaça turva. Com dificuldade, ela entrevia uma figura na escuridão, o homem na tempestade, que parecia uma aranha monstruosa em sua teia. E o poço ainda crescia, as bordas desabando feito areia, tragadas na maré espiralante de matéria que circundava sua boca. O oceano se derramava dentro dele, soltando nuvens de vapor, uma cachoeira que se estendia até onde Daisy enxergava.
Atrás dela, Brick não era muito mais do que uma manchinha no céu, uma estrela cadente. Ela não conseguia acreditar que ele tivesse ido embora. Fora muito egoísta da parte dele. Que covarde. Mas até que ela entendia, pois estava assustada também. Aliás, estava aterrorizada, mesmo com o anjo dentro de si. Mas eles não podiam ir embora, pois não havia mais ninguém. Se não lutassem com o homem, se não o vencessem, não sobraria nada.
Ouviu Cal na floresta chamando por ela. Ao menos, estavam em segurança lá embaixo. Mais seguros do que estariam lá no alto. Iria até eles quando pudesse, se pudesse. Agora, tinha problemas maiores para resolver.
Pronto para o segundo round?, perguntou Howie ao lado dela. O sol estava atrás dele, a luz brilhando pela fina renda de suas asas abertas. Como eram belas. Daisy poderia mirá-las por horas. Nós o ferimos uma vez, podemos fazer isso de novo.
Daisy não tinha tanta certeza. Antes eles eram em três, e agora o homem na tempestade estava debaixo da terra. Por que Brick não tinha ficado com eles? Poderiam derrotá-lo se permanecessem juntos. Algo surgiu da floresta atrás, rasgando um caminho pelo céu. Caiu, subiu de novo, a luz se acendendo e se apagando com dificuldade.
Rilke!, chamou Daisy, reconhecendo-a. Aqui, precisamos de você!
Não houve resposta, e Daisy tentou captar os pensamentos da garota, afastando-se imediatamente quando viu o caos dentro dela, a escuridão — boneca quebrada, boneca quebrada, ele acabou comigo, Schill, o garoto acabou comigo, vou acabar com ele também, não conte para a mamãe, por favor, eu vou... Algo terrível tinha acontecido, ainda pior do que a loucura que ela vivera antes.
Rilke, por favor, me escute! Rilke girou em pleno ar, concentrando-se naquela luz distante e evanescente que era Brick. Não, por favor, precisamos de você!
Rilke desapareceu, detonando uma explosão sônica que ondulou pelo ar e lançando Daisy para trás. Ela usou as asas para se endireitar, observando o espaço onde estivera Rilke, as brasas que pingavam para a terra. Não! Não era justo; por que tinham de agir assim? Iam acabar se matando. Daisy abriu a boca e soltou um choro que abalou o céu. Ela sentiu ódio. Por que não a ouviam? E por que Cal não havia se transformado ainda? Ele saberia o que fazer; ele a ajudaria.
Precisava se concentrar, do jeito que a mãe tinha lhe ensinado fazer em situações muito assustadoras. Inspirar profundamente pelo nariz, segurar, depois expirar pela boca, como se colocasse para fora todas as coisas ruins. Foi só assim que Daisy conseguira subir no palco pela primeira vez, quando ensaiavam para a peça. Foi só assim que conseguiu dizer a primeira fala. Inspirou, sem nem saber se ainda precisava de ar, sentindo a pressão no peito diminuir, segurando o ar por um instante antes de soltá-lo. Parecia ver o medo indo embora, a ansiedade, todas as coisas horríveis dentro dela.
Vamos!, falou para si, antes que as coisas ruins voltassem. Eu consigo!
Nós conseguimos, disse Howie. Ele assentiu com a cabeça, e ela retribuiu o gesto. Em seguida, apontou a cabeça para baixo, rasgando a pele da realidade. Reapareceu acima do centro do cânion, apanhando dos ventos que uivavam no vórtice abaixo. Era enorme, muito maior do que tinha parecido à distância, um mar furioso de pedra e água. Relâmpagos — pretos e brancos — chicoteavam para cima, arranhando os paredões, provocando labaredas monstruosas e escuras onde quer que tocassem.
Era o homem na tempestade, era a besta. Não podia vê-lo direito, não com os olhos, mas usou os do anjo para enxergá-lo, suspenso no centro da tempestade, respirando naquela mesma inspiração infinita. Ele a viu também, porque parou de respirar para bradar o mesmo grito de fazer tremer a terra, um berro que regurgitou uma cidade em ruínas, e uma nuvem de matéria negra veio na direção de Daisy.
Ela abaixou a cabeça, sentindo o anjo energizar-se dentro de cada célula de seu corpo. Howie voou para seu lado, e os dois mergulharam de cabeça, indo ao ataque. Daisy abriu a boca, uma palavra sendo disparada de seus lábios, abrindo caminho pelos detritos. Os anjos de ambos falaram, uma linguagem de pura força, abrindo uma trilha na tempestade. O mundo escureceu com esse mergulho, o fogo dela revelando cada pedra, cada pedaço reluzente de metal, cada cadáver mutilado que se precipitava a seu lado. Ela ignorou tudo, descendo, gritando uma palavra atrás da outra até enfim vê-lo.
Aquela criatura, de algum modo, ainda era um homem — sim, inchado e monstruoso, mas com dois braços, duas pernas e uma cabeça. O corpo dele tinha o tamanho de um prédio, de um arranha-céu, a pele era esticada, rachada em alguns lugares, unida por uma rede de fios negros envenenados que antes podiam ter sido veias. Uma escuridão se convulsionava na fenda, como se ele tivesse sido esvaziado e, depois, enchido de fumaça. Aquelas asas, aquelas asas horríveis e trevosas que eram muito semelhantes às dela, embora fossem ao mesmo tempo muito diferentes, encontravam-se estendidas atrás dele como uma teia de penumbra.
Porém, acima do pescoço, não havia nada humano. Havia só aquela boca, aquele buraco escancarado onde deveria estar o rosto, parecendo mais do que nunca um redemoinho ou um furacão. Ela não enxergava os olhos dele, mas podia senti-los observando-a, ganchos embutidos em sua pele.
Ela abriu a boca outra vez, sentindo a energia incendiar um caminho até sua garganta, jorrando de seus lábios. Acertou o homem no meio do peito, arrancando pedaços de carne velha e morta. Howie gritou também, a palavra dele rasgando o ar e arrancando um naco de escuridão da tempestade. Ela disparou de novo, ambos falando juntos, gritando, jogando tudo o que tinham contra ele.
Algo aconteceu com o homem. Ele começou a girar, como um motor, uma turbina, não mais soprando, mas, como antes, inalando.
Daisy sentiu a mudança na corrente de ar, que agora a sugava. O vácuo na boca dele ficou mais próximo, maior, o som como um trovão abalando a mente dela. Ela gritou em resposta, sua voz e a do anjo perdidas em meio à loucura. Outra coisa chicoteou da boca dele, uma lâmina de trevas que cortou o ar ao lado de Daisy. Outra se seguiu, esta enroscando-se em seu corpo, uma língua de noite liquefeita que a envolveu como um punho.
Daisy entrou em pânico, tentando abrir as asas, mas descobrindo que estavam bem presas. Seu anjo faiscava violentamente, lutando contra a escuridão, e ela torcia o corpo tentando se desvencilhar. Rodopiava para dentro do poço, a mente incapaz de entender o que a segurava. Não havia nada senão um facho de ausência completa e absoluta que parecia comê-la, tentando ingeri-la e tirá-la da existência.
Não!, gritou, berrando contra aquilo de novo e de novo, até que o pedaço de noite começasse a se desfazer, dissolvendo-se no frio fogo de seu anjo. Mas era tarde demais; a corrente a levava, puxando-a para as nuvens de fumaça e poeira que circundavam a garganta da besta.
O rugido do vórtice ficou ainda mais alto, e o movimento se tornou mais vigoroso — era como ser sugado por um ralo. Ela fechou os olhos, e logo percebeu que não ver era infinitamente pior do que ver. Ao abri-los de novo, viu, à frente, o fim — um ponto de breu total para o qual tudo estava sendo sugado. Era o menor dos buracos, pequeno demais para sugar todas aquelas coisas. Mas ele inspirava cada pedaço de matéria, com raios, não exatamente relâmpagos, estalando dele, dezenas a cada segundo. Porém, som nenhum vinha dali, e ela se perguntou se tinha ficado surda.
Outro esvoaçar de noite liquefeita, mas Daisy se retorceu e o evitou, sentindo o insuportável nada passar por ela. Abriu a boca, lutando. Algo estranho acontecia à medida que se aproximava do buraco bruxuleante. As coisas se desaceleravam — não propriamente, mas despedaçando-se, como se nem o tempo pudesse manter-se ali. O tempo, o som, a matéria, a vida: o homem na tempestade detestava tudo, detestava absolutamente tudo. Quase podia enxergar sua história na imensa quietude que lhe cercava a garganta. Aquela coisa, o que quer que fosse, vinha de um lugar em que não havia nada. Essa coisa era o que existia antes de a vida existir, antes das primeiras estrelas, antes do Big Bang. Era o vazio anterior ao universo, e o vazio que o sucederia.
O horrendo senso de solidão que a envolveu foi intenso demais. Não o suportou. Aquela criatura era um buraco negro que devoraria tudo, se alimentaria e se alimentaria, até que não sobrasse nada — nenhum afeto, nenhuma alegria, nenhum amor. Só o silêncio, para todo o sempre. Não havia nada que pudessem fazer contra aquilo. Não havia chance.
Ouviu Howie chamando-a, mas o ignorou. Deu uma última olhada na besta, e, em seguida, vergou as asas e se apagou conforme saía do alcance dela.
Rilke
São Francisco, 14h32
Havia algo de errado com a cabeça dela, mas a garota não era capaz de entender o quê. Para começar, a cabeça doía: havia uma agulha latejante de sofrimento bem no centro de seu cérebro. Parecia que dali um barulho se irradiava, o som de campanários de catedrais badalando, e havia também uma coceira sussurrante e enlouquecedora em seus ouvidos. Não conseguia pensar direito, sendo incapaz de se fixar em um pensamento. Tudo o que ela sabia era que ele tinha feito aquilo, aquele garoto alto. Brick, era esse o nome? Rilke tentava lembrar, mas as imagens e as memórias na mente dela eram peças de um quebra-cabeça soltas em uma caixa; não faziam sentido nenhum.
Também não conseguia enxergar muito bem. Na verdade, não enxergava nada. Porém, algo enxergava por ela, o mundo era uma teia de fios dourados que compunham as árvores, os campos, as colinas e o céu. Havia algo dentro dela, algo feito de fogo. Ou será que ela tinha sido sempre assim? Não tinha certeza, não sabia quais pensamentos eram reais, quais eram fantasia. Ela era uma boneca? Quebrada? O que a tinha trazido à vida?
A vingança. Alguém tinha morrido. Schiller. Ele era um boneco também? Sim, um boneco bonito, o boneco dela. Alguém o tinha quebrado. O garoto alto, o garoto alto com asas. O motor do cérebro dela parou, o assovio ficando mais agudo, como se as pessoas gritassem bem em sua orelha. Sentiu o corpo tremer, uma convulsão que provocou espasmos em cada músculo. Era como se tivesse cordas: não era exatamente uma boneca, mas uma marionete.
Olhou ao redor com seus novos olhos, vendo o mundo disposto diante dela, nu e vulnerável. Eram átomos que ela via como tijolos que compunham cada pedra, cada nuvem, cada passarinho a cantar, cada lufada de ar que engolia? Eram tantos, galáxias deles, mas pareciam fazer sentido para ela. Via uma trilha brilhante no céu, onde alguém tinha estado, como o rastro de uma ave. O garoto alto, ele tinha passado por ali.
Bateu as asas. Ela sempre tivera asas? Não sabia. O barulho era insuportável; não era capaz de enxergar nada além dele. Toda vez que tentava, era como se se esforçasse demais. Alguma coisa no brinquedo de corda de seu cérebro poderia arrebentar se não tomasse cuidado. Talvez não existisse o antes, só o agora. Podia ter acordado pela primeira vez. Isso fazia sentido, pensou ela. Se era uma boneca, então talvez estivesse dormindo. Talvez estar quebrada fosse o que a despertara.
Não, talvez o fato de terem acabado com Schiller fora o que a despertara. Achou que o tivesse visto, a pele cintilante, como se ele fosse talhado em vidro — ou gelo —, os olhos como contas negras. O garoto alto havia acabado com ele. Sim, era isso. Por que outro motivo ela estaria com tanta raiva dele, desse garoto que se chamava Brick?
Tudo bem, Schiller, falou, ou tentou dizer, embora não se lembrasse de como fazer para abrir os lábios. Tudo bem. Bonecas não precisavam falar. Pensou aquilo receosa de que, se não o fizesse, talvez aquilo escorregasse para fora da bagunça que era sua cabeça. Sei o que preciso fazer. Preciso achá-lo, aquele garoto alto; preciso acabar com ele também, só assim a gente vai ficar junto de novo, não é, Schill? Diga que sim. A mamãe não vai ficar zangada se... se eu acabar com ele.
A cabeça dela gritava como uma turbina de avião. Ela fazia o melhor que podia para ignorá-la, seguindo o rastro, o mundo passando abaixo como se ela estivesse sendo conduzida, como se algo a levasse sob o braço. Mas, claro, ela era uma boneca, então algo tinha de a estar carregando, algo ancestral, horroroso e cheio de fogo. Quase conseguiu ouvi-lo, além do caos, uivando para ela com palavras que Rilke nunca entenderia, tentando lhe dizer alguma coisa.
Tudo bem, falou. Eu sei o que você quer que eu faça. Ela pensou no boneco chamado Schiller e pensou no garoto alto. Vou acabar com ele, vou acabar com ele, vou acabar com ele.
Cal
São Francisco, 14h34
Cal parou de andar, percebendo uma escuridão crescente na cabeça. O ar tremia, com lufadas de vento estalando entre as árvores, levando o fedor de fumaça e sangue. O chão parecia ter vida própria, tremendo com tanta força que seus dentes batiam. Adam se segurava no bolso de seu jeans, encarando-o.
— Daisy! — disse Cal, sentindo o terror dela.
O que estaria acontecendo com ela? Aquilo era totalmente errado. Nunca tinha se sentido tão inútil a vida inteira. As coisas sempre haviam estado sob controle. A vida, os amigos, tudo. Era perfeito. Agora, porém, não era capaz nem de cuidar de uma garotinha.
Soltou um palavrão e bateu no peito, com força suficiente para causar dor.
— Vamos! — berrou ele para aquela coisa dentro de si, aquela criatura. Sabia que ela estava ali porque ela fizera seus amigos tentarem matá-lo, sua mãe também, no que parecia um milhão de anos atrás. — Vamos, sua porcaria inútil! Se vai fazer alguma coisa, então faça.
Bateu em si mesmo de novo e de novo, mas o anjo não respondia. Talvez o dele não funcionasse. Talvez tivesse morrido na viagem de onde quer que tivesse vindo. Lembrou-se de um dia, na escola, quando eram crianças, em que havia brincado de Imagem e Ação. Megan — Meu Deus, Megan, onde você deve estar agora? Será que você sobreviveu ao ataque a Londres? Está morta? A súbita sensação de perda era insuportável — levara um pintinho para a escola. Os pais dela tinham galinhas, e uma delas procriara. Havia dúzias deles, e ela tinha levado um naquele dia. No caminho, porém, ele morrera. De susto. Quando ela abriu a caixa, tudo o que tinha sobrado era um montinho de carne e penas, já frio. Aquilo teria acontecido também com o anjo dele? Estaria agora deitado dentro de Cal, um monte de partes quebradas e sem peso chacoalhando dentro da alma dele? A ideia o fez ter vontade de se abrir e tirar tudo de dentro, só para se livrar daquilo.
E o que ele poderia fazer sem o anjo? Ir até o homem na tempestade e pedir-lhe delicadamente que desse o fora? O homem só precisaria pensar, e o corpo de Cal, o corpo que tivera a vida toda, cada célula dele, seria deletado. Cinco litros de sangue, alguns ossos, todos embrulhados em couro bem fino. Todos aqueles anos de treinamento, Choy Li Fut, lutar com seu mestre, tudo isso para nada. No que dizia respeito a armas, era tão útil quanto uma meia encharcada.
— Droga! — disse ele, mandando a escuridão para longe e dando mais um passo.
Adam seguiu, sendo arrastado junto. Também não dava nenhum sinal de se transformar. Aliás, parecia mais jovem e mais frágil do que nunca. O novo garoto, Howie, tinha ido com Daisy, não tinha? E Brick? Cal não podia ter certeza. Rilke, pobre Rilke, perdida, também tinha se transformado. Talvez os quatro estivessem lutando. Com certeza isso bastava, não bastava? Tinham assustado a besta quando eram só três, lá em Londres. Tinha de ser o bastante.
Só que não era. Ele sabia. Cal bateu no peito outra vez, gritando:
— O que é que você tem? Está com medo? Você é ridículo, ridículo!
Nenhuma resposta ainda, e seu desespero, sua exaustão, seu medo subitamente se transformaram em uma fúria que lhe subiu pela barriga.
Ele disparou pelas árvores, correndo agora, indo para uma faixa ensolarada que ficava adiante. Que se dane. Não importava que fosse humano, não importava que fosse morrer. Lutaria de qualquer jeito com o homem na tempestade. Ao menos teria tentado. Nada poderia ser pior do que ficar para trás, escondido na floresta. Nada. Cruzou a última fileira de árvores, a luz do sol ofuscando-o tanto que ele quase não viu. Então teve um vislumbre dela entre os dedos, uma trincheira que corria paralela à floresta, um súbito precipício que descia a metros de seus pés. Deteve-se derrapando, chutando pedrinhas para o abismo. Ouviu passos atrás dele, e estendeu um dos braços para que Adam não despencasse.
— Meu Deus — disse ele, indo devagarzinho até a beirada e dando uma olhada. Abaixo — talvez trinta, quarenta metros — estava o solo que um dia estivera conectado à floresta. Entre Cal e esse solo, havia um desfiladeiro aberto pela terra estremecida, estendendo-se nas duas direções até onde o jovem podia ver. Sentiu a cabeça girar e deu um passo para trás, erguendo o rosto para o horizonte. Um buraco negro o dominava, estendendo-se de norte a sul, terra e mar fervilhando para dentro dele enquanto ele próprio continuava a fervilhar. Estava em uma colina, perto do topo, e podia enxergar quilômetros, mas tudo o que havia contra o céu era o poço, um halo de nuvem escura suspenso sobre ela.
Cal bateu as mãos na cabeça, como que tentando impedir que sua sanidade fugisse com o vento. Aquilo era gigantesco, inacreditável. O homem na tempestade ingeria tudo, toda pedra, toda gota de água do mar. Devorava. Se Cal fosse até ali — se sequer se aproximasse do chão fendido —, ele o sugaria sem nem reparar. Seria só mais um pedacinho junto do milhão de outras almas que antes haviam vivido ali. A morte dele não significaria nada, a vida dele não significaria nada. Seria apenas tragado para aquele esôfago horrendo, expurgado de sua existência.
Caiu de joelhos, entorpecido demais para falar, anestesiado demais para chorar, para se mexer. Tinha acabado. Daisy morreria, os outros também, e o mundo chegaria ao fim. Fechou os olhos, ouvindo o martelar infindo da tempestade, o som ensurdecedor dos ossos do mundo se fraturando abaixo dele.
Algo tocou seu ombro, e ele se encolheu. Olhou e viu Adam bem a seu lado, o rosto do garotinho sem expressão, como sempre.
— Sinto muito — disse Cal. — Acho que acabou. Não há nada que possamos fazer.
Adam pegou a cabeça de Cal, colocando-a contra seu peito. Cal ficou ali, ouvindo o bater do coração do garoto, rápido como o de um coelho. Deveria ser o contrário, pensou ele. Ele é que devia confortar o garoto. Afastou-se, envolvendo a cintura de Adam com as mãos, abraçando-o.
— Você foi muito corajoso — falou ele. — Lamento que tudo isso tenha acontecido com você.
Adam levantou a cabeça para o horizonte, e Cal seguiu seu olhar, vendo mais do mundo escorregar para dentro da garganta da besta. O mar fazia um barulho que ele nunca tinha ouvido, um gemido sônico quase humano, como se o oceano não pudesse acreditar no que lhe acontecia. Tanto dele já fora engolido, bilhões e bilhões de litros, que, mesmo que encontrassem um jeito de deter o homem na tempestade, o mundo jamais seria o mesmo.
— Não olhe — disse Cal, puxando Adam mais para perto. — Melhor não ver. Apenas finja... — Finja o quê? Nunca tinha sido bom com crianças, nunca soubera o que dizer. — Finja que é uma brincadeira, tipo esconde-esconde. Vamos voltar para a floresta, achar um lugar para nos esconder. Só um tempinho. Depois... — Ele engoliu em seco, e, em seguida, tentou tossir para desanuviar o nó na garganta. — Você tem saudade da sua mãe? Do seu pai?
Adam fez que não com a cabeça, estreitando os olhos.
— Eu sinto. Sinto muita saudade da minha mãe. Acho... Acho que logo a gente vai vê-los de novo. Não vai demorar, vai?
Você não vai ver ninguém, pensou ele, porque não tem vida após a morte ali, não tem nada depois, só a escuridão, o nada, por toda a eternidade. Pense, Cal, tem de haver um jeito!
Colocou a mão no peito. Talvez seu anjo só precisasse de um incentivo — tipo uma arma na cabeça.
— Preciso que espere aqui — disse ele. — Jure que não vai vir atrás de mim.
Cal estreitou o rosto do garoto entre as mãos e, depois, o abraçou.
— Vai dar tudo certo. Se não me vir de novo, volte para as árvores. Alguém vai achar você.
Ele se afastou do garoto, virando-se para o desfiladeiro. Dali ele parecia não ter fundo, como se levasse direto ao centro da Terra. Aquilo era tão idiota, tão insano, mas que escolha ele tinha? Fechou os olhos, pensou na mãe, no pai, em Megan e em Eddie. Em Georgia também. Se fizesse isso, nunca saberia como era beijá-la, nunca conheceria a sensação do corpo dela em seus braços. Mas tudo bem. Tudo bem.
Respirou fundo, inclinou-se para a frente e se deixou cair.
Brick
Clear Lake, Califórnia, 14h42
A aterrissagem de Brick foi desajeitada; as asas atrapalharam quando ele se materializou, fazendo-o tropeçar. O chão chegou cedo demais, e Brick cobriu a cabeça com as mãos, gritando, o som rasgando o caminho pela grama, depois pela pedra e, por fim, pela água. Caiu de ponta-cabeça, ouvindo o gelo rachar enquanto se formava em volta dele, o ímpeto fazendo-o cruzar a superfície de um lago e, em seguida, jogando-o na outra margem, onde enfim rolou até parar.
Não havia dor. Achava que não poderia sentir dor naquele estado. Porém, havia alívio. Ele tinha ido embora. Não precisava lutar. Sentou-se, o mundo uma miríade móvel de átomos e de moléculas que deveria ser inconcebível, mas que, por algum motivo, fazia sentido. Ao estender a mão, conseguia ver as coisas de que era feito, as células da pele, dos ossos, do músculo e da gordura, a corrente do sangue e o fogo que ardia, de algum modo, dentro e fora dele ao mesmo tempo, fazendo-o parecer transparente. Havia uma mancha escura em sua pele incandescente, e ele precisou de um instante para entender que via através da mão. Deixou-a cair de lado, avistando uma nuvem de fumaça no céu acima das colinas distantes. Não tinha ido longe o bastante.
Levantou-se tão logo pensou nisso. Agora que se acostumara à criatura dentro dele, aquilo não era tão estranho. Na verdade, era bom. Quantas vezes na vida não tinha desejado um poder como aquele? Quantas vezes não quisera poder correr de tudo, ou esmagar a cara das pessoas que o irritavam? Não tinham sido poucas. Deus sabe o que não teria feito para ter esse poder quando estava na escola. Ninguém teria rido da cara dele.
Isso o fez pensar em Rilke, e ele estremeceu. Ela mereceu, disse a si mesmo. Mereceu mesmo, porque matou Lisa. Mas as palavras fizeram seu estômago revirar.
Tentou esquecer aquilo, indo fundo em sua mente e se desconectando do anjo. Era a melhor maneira de entender aquilo, como se fosse uma máquina, um traje, tipo o Homem de Ferro. O anjo é que era poderoso, mas não tinha controle nenhum. Só podia fazer o que mandavam. Brick não entendia por que, mas isso fazia algum sentido. Eles não podiam viver ali, naquela realidade, sozinhos. Precisavam viver dentro de você, como um parasita em um hospedeiro. E, quando estavam ali, não tinham escolha; só podiam fazer o que você queria que eles fizessem. Brick tinha certeza absoluta de que seu anjo tentava se comunicar com ele; provavelmente estaria tentando dizer que voltasse e enfrentasse a besta. Mas dane-se. O corpo era dele, as regras eram dele. Se o anjo não gostasse, que voltasse para o seu lugar de origem.
As chamas se apagaram, e o rapaz teve um instante de desconforto enquanto as asas se dobraram de volta em sua coluna. Ser humano de novo não era agradável. Sentia-se real demais, só carne e cartilagem. Os dentes pareciam esquisitos na boca, grandes, sem ponta, frouxos. Ele também estava cansado e, quando passou a mão pelo cabelo, vestígios de cobre se depositaram entre seus dedos. Sacudiu-os.
Porém, era bom ver com seus antigos olhos. Estava em um campo. Não, talvez em um vale. Não havia nada plantado, só havia flores silvestres. O lago com o qual colidira na descida era enorme, estendendo-se até o horizonte, a superfície ainda agitada por causa do impacto. Junto da margem mais próxima, havia algumas casas. Talvez houvesse comida ali. Brick estava faminto.
Ele partiu, a luz do sol como uma segunda pele, provocando-lhe coceiras. O calor o lembrava de Hemmingway, e isso, por sua vez, o fez pensar em Daisy. Você a largou lá para morrer sozinha, disse sua cabeça. Mas era mentira. Howie estava lá. Ela não estava sozinha. Prosseguiu, forçando-se a esquecer. A primeira casa estava próxima, enorme, de madeira: devia ser um rancho ou algo assim. Havia cavalos no jardim, alguns olhando-o com enormes olhos negros, as caudas balançando. O que deveria fazer? Bater na porta e pedir um sanduíche? Apenas entrar e pegar o que quisesse. Afinal, os proprietários não poderiam impedi-lo, não agora.
Deu mais alguns passos e uma porta se abriu na casa, e uma senhora de idade saiu. Segurava uma cesta de alguma coisa, talvez de roupa suja, e estava tão concentrada em descer os degraus da varanda que demorou um pouco para reparar em Brick. Quando o fez, encolheu-se.
— Oi — disse ela, com seu sotaque americano. — Posso ajudar?
— Estou com fome — ele falou, sem ter certeza do que mais dizer. — Faz tempo que não como.
— Ah... — A mulher recuou na direção da porta enquanto Brick continuava avançando. — Você precisa ir embora. Aqui não alimentamos imigrantes. Tem uma cidade do outro lado do lago, talvez lá você encontre um... um...
Brick virou a cabeça para o lado, tentando entender o que ela dizia. As palavras dela agora eram longas e gorgolejantes, disformes, e um lado do rosto dela ficara paralisado, como se estivesse tendo um AVC. Ela emitiu um som, como o de um cachorro ao vomitar, a cesta escorregando de seus dedos, deixando a roupa suja cair no chão. Em seguida, passou a correr, indo direto para ele, os olhos eram duas bolhas de ódio quase explodindo de seu rosto. Brick soltou um palavrão e recuou. Como podia ter esquecido da Fúria?
— Espere! — disse ele, virando-se e tropeçando nas próprias pernas.
Caiu desajeitadamente, e um jato de dor agudíssima atingiu o punho esquerdo. Levantou-se, mas era tarde demais, as mãos da senhora já estavam em volta de seu pescoço, as unhas dela querendo perfurar a pele de sua garganta. Brick engasgou com o súbito fedor corporal misturado com perfume, gritando enquanto os dedos dela sulcavam um caminho até sua bochecha.
O pânico acendeu a força dentro dele, e o som das chamas preencheu seus ouvidos, seguido pelo zumbido do anjo. Ele se lançou para cima, virando-se ao subir, e assistiu aos braços da idosa desintegrarem-se em cinzas. Ela ainda assim estendia a mão para ele, sufocando no pó do próprio corpo, as protuberâncias dos ombros ainda rotando.
— Vá embora! — disse ele, e suas palavras fizeram a mulher explodir em uma névoa vermelha, transformando a casa de madeira em farpas. A força o lançou para trás, e ele gritou de novo, um som que acertou o lago como um foguete, fazendo a água explodir. Acalme-se, ordenou a si mesmo, sem ousar se mexer, só pairando acima da grama congelada. Agora havia movimento vindo das outras casas, pessoas que saíam por causa do som da explosão.
Hora de ir. Levantou-se, pronto para disparar para longe daquele lugar, sentindo o ar à sua volta estremecer e cambalear enquanto o anjo se preparava para rasgar a realidade. Estava prestes a transportar-se, o mundo começando a derreter, quando viu uma silhueta no céu — outra chama, igual à dele. Deteve-se, observando aquele sol enquanto o anjo se aproximava. Seria Daisy, para falar com ele? Não adiantaria. Estava decidido.
Deixe-me em paz!, falou, desta vez mantendo as palavras dentro da cabeça, onde não causariam mal nenhum, sabendo que ela as ouviria mesmo assim. Vá embora, Daisy, estou cansado disso tudo!
Ela respondeu, mas ele não entendeu direito, captando pedaços de palavras: garoto alto, boneca quebrada, e aquela era a voz de Daisy ou de...
Rilke, percebeu Brick, e, assim que pensou no nome dela, Rilke disparou em sua direção, um grito rasgando o vale com força suficiente para criar um tsunami de terra. A onda de choque o golpeou, fazendo-o cambalear para trás e atravessar os destroços de duas casas. Ele se envolveu com as asas, o fogo protegendo-o, mas não houve tempo para se recuperar antes que ela atacasse outra vez. Brick sentiu-se alçado do chão e, agora, sim, havia dor, como se sua coluna estivesse sendo arrancada. Rilke nadava à sua frente, com os dedos incandescentes dela dançando no ar, puxando fios invisíveis de sua pele.
Ele está aqui, disse ela, as palavras ecoando na mente de Brick. Está aqui, Schiller, aquele garoto alto. Vamos dar um fim nele? Vamos arrancar as asas dele como se fosse uma borboleta? Mamãe ficaria orgulhosa.
O rosto dela era o de um anjo, seus olhos dois bolsões de luz solar putrefata, e, no entanto, atrás do fogo, quase invisível, ele enxergava a verdadeira expressão da garota — que era aterrorizante. Era frouxa, caída, como a de uma boneca mal-acabada. Havia ainda um buraco na cabeça dela, o buraco que ele tinha feito. Louca ela sempre fora, mas ele tinha feito aquilo com ela. Tudo o que havia de bom na garota tinha vazado por aquele buraco, gotejado para fora, e ela se tornara quebrada, vazia.
Não!, disse ele, lutando com ela. Desculpe, não foi minha intenção!
Ela puxou a cabeça dele para cima, como se tentasse arrancar a rolha de uma garrafa. Ele cuspiu um grito gorgolejado, seus braços girando sem parar. Algo estalou, uma vértebra, e dessa vez ele reagiu, gritando com Rilke, deixando seu anjo falar. A palavra disparou para cima, estrondando pelo vale como um trovão. Ele não a acertou e tentou de novo, desta vez berrando, com seus ouvidos zumbindo devido ao esforço. Ela foi como que golpeada por um martelo, mas ele não esperou para ver o que aconteceria. Fechou os olhos, abriu um buraco no mundo e nele entrou.
Cal
São Francisco, 14h46
Ele caiu, sentindo o fluxo do vento roubar o fôlego de seu corpo. Chocou-se contra o paredão do desfiladeiro, toda a dor perdida no estrondo de adrenalina. Depois, começou a girar, acertando outra vez o paredão, tudo escurecendo.
Por favor, funcione! Por favor, Por favor!
Não havia sinal de que seu anjo estivesse despertando. Mas era muito frio ali, congelante. Tinha a sensação de estar mergulhando no coração de uma geleira que não tinha fim nem fundo.
Outro impacto, agora sem dor. Vamos, seu maldito, é agora ou nunca! Se Cal chegasse ao fundo do desfiladeiro antes de se transformar, ele e o anjo morreriam. O frio se espalhava, parecendo irradiar-se de seu peito. Tentou olhar para as mãos, mas estava escuro demais, e ele caía muito rápido, rodopiando loucamente. Quanto tempo mais teria? Segundos?
Vamos!, disse, sentindo-se um paraquedista cujo paraquedas tivesse de ser aberto por outra pessoa. Vamos, vamos, vamos!
E então algo irrompeu de sua pele, uma chama trêmula que foi logo apagada pelo vento.
É isso!
Outra chama trêmula invadiu seu corpo, desaparecendo tão rápido quanto aparecera. No clarão, ele divisou os paredões do desfiladeiro se estreitando. Ele ia bater no fundo, ele ia...
Sentiu, levantando-se dentro dele, uma figura fria que se libertou de sua alma, berrando como um bebê recém-nascido ao irromper em fogo. Hesitou diante do horror daquilo, resistindo, de repente preferindo morrer a ser hospedeiro da criatura em seu interior. Ao se agitar, o movimento o fez passar através da pedra, fazendo-a em mil pedacinhos. Abriu a boca e soltou um uivo que abriu uma fenda na pedra, como um machado faria com a madeira. Berrou de novo, sentindo duas formas inacreditáveis desdobrarem-se de sua coluna, velas de pura energia que abriam caminho através de tudo ao redor, levando-o para cima até que irrompeu do chão.
Obrigou-se a parar, a ficar ali, a cem metros da terra que jazia abaixo. Seu horror passara, substituído por uma empolgação que se agitava em sua barriga. O anjo martelava, seu fogo em cada célula, o pulsar sônico de seu coração fazendo o ar cantarolar. Nunca tinha imaginado que se sentiria assim, como se pudesse tomar o mundo inteiro na mão e esmagá-lo. Jamais tinha imaginado que a sensação seria tão boa. Todas as outras emoções — o medo, o desespero que sentira havia poucos minutos — tinham sumido.
— Dem... — disse ele, a palavra disparando da boca com tanta força que Cal foi projetado para trás. Ele desfraldou as asas como se as tivesse tido a vida inteira, endireitando-se. Seus lábios formigavam com a força da palavra, e concluiu dentro da cabeça: Demorou, hein! Achei que você nunca fosse aparecer.
Se o anjo o entendeu, não deu nenhum sinal disso. Cal não sentia nenhum resquício de humanidade, nada vagamente familiar. Recolheu as asas, começando a mergulhar. O rugido do vento nos ouvidos lembrou-o das partidas de futebol, da pura alegria de correr o mais rápido que era capaz. O mundo se apressava para encontrá-lo, uma construção de partículas douradas, de bilhões e bilhões delas, cada qual movendo-se em sua pequena órbita, cada qual conectada com a outra de algum modo. Ele poderia mergulhar através delas caso quisesse, fendendo a realidade, como um nadador faz com a água. Riu, com a alegria borbulhando na garganta quando estendeu as asas outra vez e parou, lembrando-se do motivo de o anjo estar ali.
À frente dele, o horizonte estava fendido. Parecia diferente agora, através de seus olhos de anjo. A terra não tinha só desabado ali, tinha sido eliminada. Havia bolsões de completo vazio, nada daquelas engrenagens subatômicas que ele distinguia em todos os outros lugares. O homem na tempestade as tinha devorado. Não sobrara absolutamente nada.
E ele ainda estava lá embaixo.
Daisy!, pensou Cal, perguntando-se como pudera tê-la esquecido, mesmo que por um instante. Concentrou-se, libertando-se do mundo outra vez enquanto a rastreava. Ele logo se materializou, com a vida trancando a porta atrás de si com um baque que fez sua cabeça doer. Quando o halo de brasas sumiu, percebeu que estava de volta à floresta, e Daisy era só um monte de trapos, sentada contra uma árvore.
Cal desligou o motor do anjo e desceu ao lado dela. Não podia acreditar no quanto ela parecia velha, vendo as madeixas de um branco vivo em seus cabelos. Seus olhos estavam enevoados e repletos de tristeza.
— Daisy! — disse ele, aproximando-se da menina. Flocos de poeira vagavam para cima, saindo do corpo dela e desafiando a gravidade, como se ela se desintegrasse. Cal ajoelhou-se e colocou uma das mãos em seu rosto. Estava muito fria. — Você está bem?
Ela fez que não, colocando a mão dele sobre a dela. A floresta inteira tremia sob a ira da tempestade distante. Até os pássaros agora estavam calados.
— E Adam? — perguntou ela.
Cal olhou para trás, tentando entender onde estavam, e acabou vendo-a desaparecer em um pilar de fumaça. O ar estalou ao preencher o espaço que ela ocupava, mal tendo tempo de acomodar-se antes que ela reaparecesse em uma nuvem de cinzas incandescentes, com Adam preso ao peito. Os olhos do menino estavam arregalados, e ele despejou um vômito leitoso na camisa dela.
— Desculpe — ela lhe disse, enxugando sua boca.
Adam tremia, e Cal não soube se era por medo ou pelos tremo- res do chão.
— O que aconteceu? — perguntou Cal. — Você o viu lá embaixo? O homem na tempestade?
Daisy assentiu, engolindo ruidosamente.
— Ele está ainda mais poderoso do que antes — falou ela. — Ele quase me engoliu. Eu... acho que eu vi...
Suspirou, com o corpo inteiro tremendo.
— Viu o quê? — perguntou Cal.
— De onde ele vem. O que ele é.
Cal se sentou ao lado dela no chão macio e úmido, colocando a mão em seu ombro. Não insistiu, só esperou que ela encontrasse as palavras certas.
— Já ouviu falar de buracos negros? — perguntou ela enfim.
Cal fez que sim com a cabeça.
— Claro. Estrelas que sofreram um colapso, algo assim.
— Não sei direito. Mas elas devoram as coisas, não devoram? Tipo, tudo. Simplesmente devoram até não sobrar nada.
— Daisy — começou ele, mas sem nada para dizer depois.
— O homem na tempestade é como um buraco negro — falou ela, limpando uma lágrima do olho. — Porque ele nunca vai parar, não até que... — Ela estendeu os braços para a frente. — Até que tudo desapareça.
— Ei! — disse ele. — Ei, Daisy. Está tudo bem. Não é um buraco negro. Não pode ser.
Talvez alguma coisa parecida com um buraco negro, pensou ele, algo igualmente poderoso. Ela teria razão? Será que aquilo ficaria devorando e devorando tudo até o planeta inteiro ser apenas pó? Será que a criatura então pararia, ou devoraria a lua também, e o sol, virando do avesso aquele trechinho do universo?
Daisy levantou o rosto para ele, fungando: era apenas uma garotinha que ele resgatara em um carro um milhão de anos atrás. O medo e a dúvida a devoravam também. A tempestade tinha sugado todo o resto. Cal viu a pergunta no rosto dela.
— Podemos derrotar aquilo, Daisy. Precisamos.
Ela fez que sim com a cabeça, respirando fundo e parecendo se recompor.
— Precisamos de todos — disse ela, a voz pouco mais que um suspiro.
— Todos? Está falando de Brick? Ele não estava lá com você?
— Ele fugiu — falou ela. Cal abriu a boca, pronto para reclamar, mas ela o interrompeu antes disso. — Ele só está com medo, Cal, não é culpa dele. Ele vai voltar, tenho certeza que sim.
Não conte com isso, pensou Cal. Afinal, Brick era Brick. Ele deixaria o mundo inteiro acabar se fosse para salvar a própria pele.
— Cadê o novo garoto? — perguntou Cal. — Ele estava com você ou fugiu também?
— Howie. Ele estava lá. Eu... não sei para onde ele foi. Você acha que ele está bem?
Cal não tinha sentido outra morte, não como quando Chris morrera em Fursville. Olhou ao redor, perguntando-se onde estaria Marcus. E Rilke.
— Ela foi atrás de Brick — respondeu Daisy. — Tentei conversar com ela, mas...
— Mas ela é Rilke.
— Ela não está bem, Cal. Brick fez muito mal a ela. Não sei se tem conserto. Mas precisamos trazê-la de volta. Precisamos de todo mundo, ou não vamos conseguir enfrentá-lo.
Schiller estava morto. E Jade fora apagada como uma vela. Quanto mais demoraria até o corpo mutilado de Rilke também entregar os pontos? Ainda havia outros. O homem com a arma, lá em Fursville, aquele em quem Rilke tinha dado um tiro. Ele tinha um anjo dentro de si. A pessoa no carro em chamas, aquela por quem ele passara ao sair de Londres de carro. As pessoas com quem Marcus tinha viajado, que tinham sido mortas no caminho. Quantas mais?
Deve haver dezenas de nós, pensou ele. Centenas. Mas elas nunca tiveram a menor chance, não com a Fúria. Por que tinha de ser assim? Não fazia sentido.
— Acho que os anjos não tinham escolha — disse Daisy, tossindo outra vez. — Quando eles vêm do mundo deles, precisam entrar na primeira pessoa que veem, ou não sobrevivem. — Como ela sabia disso? — É só o que eu acho. E não existem centenas de nós. Não acho que haja mais alguém, só a gente.
Cal balançou a cabeça, fixando o olhar entre as árvores. Acima do poço, o céu estava mais escuro agora. Parecia que um milhão de metralhadoras estavam sendo disparadas, obuses ladrando fundo sob a superfície.
— Só nós — disse Daisy. — Mas é o suficiente, Cal. Somos suficientes. Você tem razão, podemos derrotá-lo.
Ela sorriu para ele, e ele de repente viu algo, uma lembrança que vazou da cabeça dela, levada pelo vento como um aroma. Duas pessoas numa cama, dormindo, como bonecos de cera.
— Eu... eu não estou com medo — falou ela.
Daisy estendeu a mão e ele a pegou, tomando seus dedos fininhos.
— Mas como fazer isso? — perguntou ele.
Não teve tempo de responder porque alguns galhos moveram-se. Uma figura magricela se agachou debaixo de uma árvore e, derrapando, parou ao lado deles. Marcus abriu um sorriso enorme, o rosto com arranhões em zigue-zague.
— Estavam pensando que se livrariam de mim, é? — disse ele.
Daisy riu, o som de algum modo mais alto do que a terra a ribombar.
— Tudo bem, cara? — falou Cal. — Achou um jeito de descer?
— Não, você que achou um jeito de subir — respondeu ele. — Qual é o plano, então? Voar para casa, tomar um chá?
Cal sorriu. Como Marcus podia estar tão relaxado? Não entendia como não estavam todos encolhidos em um canto, gritando, chorando e arrancando os cabelos. Aquilo tudo não bastava para enlouquecer uma pessoa, para deixá-la arrasada, sem falar coisa com coisa? Ele achou que ainda podia estar em choque, numa reação retardada. Se sobrevivessem àquilo, podiam todos terminar no hospício.
— São os anjos, seu bobo — disse Daisy, outra vez colhendo os pensamentos da cabeça dele. — Eles nos mantêm em segurança de várias maneiras.
— Você precisa ficar fora da minha mente, Daisy — falou Cal. — Sou um adolescente. Tem coisas aqui dentro que você não quer ver.
— Como a Georgia? — disse ela, dando outra risadinha.
— Cala a boca — protestou ele, olhando dentro da cabeça dela e vendo ali um menino no palco, a imagem tão nítida que poderia ser uma memória sua. — Ou então vou começar a falar do Fred.
— Ei! — disse ela, dando-lhe um tapinha com as costas da mão. — Nada disso!
Riram baixinho, e, em seguida, ficaram sentados em silêncio, ouvindo a tempestade distante.
— Sério — disse Cal. — Como vamos derrotá-lo?
— Vamos começar do começo — falou Daisy. — Precisamos achar Brick e os outros. Não conseguiremos sem eles.
— Mais fácil falar do que... — Cal parou, inclinando a cabeça para o lado. Seus ouvidos zumbiam, como na manhã que sucede um show. — Está ouvindo?
— Parou — disse Daisy.
Era isso. A tempestade tinha silenciado, tão de repente e tão completamente que a quietude na floresta era quase irritante. Cal colocou um dedo na orelha, flexionando o maxilar.
— Você acha que acabou? — perguntou Marcus.
— Não — falou Daisy, inclinando o tronco para a frente, seus olhos se movendo de um lado para o outro enquanto ouvia. — Acho que não. Só mudou de lugar.
O zumbido no ouvido de Cal ficou mais alto, e a floresta se acendeu, repleta de fogo. Uma silhueta despencou dentre as árvores, provocando um baque no chão, brilhando com tanta força que Cal só distinguiu a pessoa dentro das chamas quando elas se extinguiram. Ele piscou para eliminar os pontos de luz da visão, vendo o novo garoto agachado.
— Howie! — disse Daisy. — Tudo bem?
— Eu estou bem — falou ele com a voz rouca, cuspindo uma bolota de catarro escuro. — Fiquei perdido quando me transportei, ou sei lá o que foi aquilo. Fui para algum lugar escuro e frio. Achei que nunca mais ia voltar. E você? Vi você sendo sugada.
— Eu saí — disse ela.
Howie deitou de costas, parecendo exausto. Também parecia assustado.
— Acho que ele me viu.
— Viu você? — perguntou Cal. — Como assim?
— O homem na tempestade — falou Howie. — Acho que ele sabe para onde eu fui. Acho que ele está vindo.
Brick
Rio de Janeiro, 14h52
Ele irrompeu do céu como um relâmpago, provocando uma leve trovoada quando o mundo se refez ao redor. Desorientado, tropeçou, caindo em uma chapa de ferro corrugado. Era algum tipo de casa, ou de barraco, seu fogo frio refletido no metal fosco. Rodopiou, e as asas cortaram o metal, transformando-o em pó. Havia construções similares por toda parte, centenas delas, estendendo-se por um morro. À distância, havia outra cidade, e outro oceano. Ele viu uma montanha com uma estátua enorme em cima, que reconheceu da televisão.
Onde diabos estava?
Ouviu um barulho próximo, alguém ganindo. Virou-se mais uma vez, e viu um rosto aparecer entre duas das construções. Era uma criança, mas a expressão era a de um bicho, repleta de ódio furioso. Outros gritos se somaram ao do menino, até que o lugar soava como um zoológico na hora da comida. Passos vinham para cima de Brick, pisoteando a terra, um enxame proveniente de todas as direções, com os olhos arregalados, as mãos retorcidas em garras.
Vão embora!, gritou ele, tentando conter as palavras na garganta, onde não causariam mal nenhum. Mesmo assim, o pensamento parecia ter força própria, ondulando pelas construções e transformando em cinzas a primeira fileira de furiosos. Não, desculpem, desculpem!, disse ele, batendo as asas, só o tamanho delas já chutando a nuvem de carne e ossos em pó em redemoinhos que se precipitavam, brincando entre as casas. Levantou voo, vendo os furiosos abaixo, agora centenas deles, pisoteando-se para alcançá-lo.
Algo detonou no céu, uma onda de choque explodindo sobre a favela, achatando as casas de latão e tudo o mais. Brick ergueu as mãos para se proteger, e entre os dedos viu Rilke disparando em direção à terra. Ela o alcançou em uma fração de segundo, o impacto socando-o através de metal, terra e rocha, como se ele estivesse sendo jogado em uma cova por um trem. Sentiu os dedos da mente dela esgueirarem-se em sua cabeça, em seu coração, tentando desfazê-lo, e a xingou, cada palavra uma martelada que a forçava para trás.
Brick conseguiu se desvencilhar, com o anjo ardendo em potência máxima, seu zumbido elétrico como a coisa mais ruidosa do mundo. Disparou como um foguete pelo canal que tinha talhado na pedra, escapando para a luz do sol. Rilke o esperava pairando, tão luminosa quanto se o sol tivesse caído do céu. Em volta dela, havia apenas uma cratera de destruição, as construções em ruínas. Pessoas ainda jorravam dos escombros, tropeçando em cadáveres de amigos e vizinhos, ofuscadas pelo próprio ódio instintivo.
Ele estendeu as asas, pronto para fugir outra vez, mas Rilke o agarrou com mãos invisíveis, prendendo-o ali. Ela tapou a boca dele com algo, um punho de ar enterrado em sua garganta. Como poderia ser tão forte, quando estava tão machucada?
Desculpe, Rilke, disse ele.
Olhe só para ele, Schill, ouviu-a. Veja como ele suplica feito um cachorrinho. O que vamos fazer com ele? O mesmo que ele fez com você? Vamos arrebentá-lo pedacinho por pedacinho?
Brick lutava, incapaz de se soltar. Não podia sequer fazer uma palavra escapar pela garganta bloqueada.
Você o matou, ganiu Rilke. Matou meu irmão!
Não!, foi o máximo que Brick conseguiu emitir antes que Rilke abrisse a boca e despejasse um som. Não propriamente uma palavra, só um som molhado e gorgolejante, mas proveniente do anjo dela, e, quando tal som o atingiu, ele teve a impressão de que o universo inteiro virara do avesso. Despencou no chão de novo, rolando em meio a aço e rocha. Mesmo através do fogo gélido, foi tomado pela dor.
Uma eternidade pareceu se passar até que ele enfim parasse de se mover. Levantou-se, seu anjo não mais ardendo. Um líquido pingou de seu rosto, bem quente contra a pele e, quando o tocou com os dedos, eles ficaram vermelhos.
Não, pensou ele, os ouvidos zumbindo tanto que só ouviu os furiosos quando o primeiro deles apertou sua garganta. Rosnou, tentando soltar aqueles dedos, e sentiu algo bater em sua bochecha, um punho ou uma bota. Fogos de artifício incolores dançavam contra o céu, esburacando sua visão. Tentou fazer o anjo pegar no tranco, assim como fazia com sua motocicleta, mas não sabia como. Uma unha longa e suja foi contra seu olho, e ele gritou. Funcione, droga, por favor! POR FAVOR!
Mais furiosos vieram para cima dele, tantos que ele não via mais o sol. Não tantos que chegassem a esconder Rilke, porém, quando ela flutuou pelo ar até ele, com as asas plenas. Brick ouviu então um barulho além do zumbido martelante do anjo, agudo e feio, como um prego contra vidro. Era o riso de Rilke.
Quem ela achava que era? Tinha matado Lisa com um tiro na cabeça. E quantos mais? Milhares. E ainda tinha a ousadia de acusar ele de assassinato? A raiva de Brick subiu do estômago: um incêndio explosivo que incinerou a turba e jogou Rilke para trás, permitindo a Brick sair do chão.
Ele não deu a Rilke a chance de se recuperar: foi para cima dela com tudo o que tinha. Ela agitava os braços como se estivesse em uma briga de bar, cada golpe mandando enormes lufadas de energia pelo ar. Errava a maioria delas, talhando trincheiras no morro, na cidade, chicoteando o mar à distância. Ele também gritava, sem se importar com o que dizia, deixando o anjo falar por si. Rilke contra-atacava, e havia relâmpagos disparando em todas as direções, o ar ao redor agitando-se febrilmente.
Um dos ataques dele deve ter acertado o alvo, porque, de repente, Rilke saiu rodopiando e ardendo, sumindo em meio a um mar de detritos. Brick passou a mão no ar, seus dedos invisíveis erguendo mil toneladas de metal, madeira e gente como se fossem um lençol. Cerrou o punho, e o lençol virou uma bola, aquilo tudo maior do que um estádio de futebol. Ele a mandou para longe, vendo-a ser lançada pelo ar como se disparada por uma catapulta, deslizando sobre a superfície do oceano.
Tinha de estar morta, aquilo por certo a teria matado.
O oceano explodiu, e Rilke disparou dele como um míssil vindo de um submarino. Ela desapareceu para, então, reaparecer no mesmo instante no céu acima de Brick. Seu fogo se intensificou, e ela desapareceu de novo, e de novo, preenchendo o ar de brasas. Ele ouvia a voz dela aparecendo e sumindo, ainda entremeada de insanidade: acabou com a gente, acabou com a gente, não vou contar, irmãozinho, ela não precisa saber, não se o matarmos.
Chega!, disse ele. Basta!
Rilke removeu a si mesma da realidade outra vez, e, agora, ao refazer-se, apareceu bem atrás dele, o fogo dela projetando sua sombra dourada sobre a terra. Envolveu-o com seus braços, os dela e os do anjo, travando os dele na lateral do corpo. O som que os anjos deles faziam juntos era surreal, um martelar tão alto que Brick era capaz de ver pedras dançando no chão lá embaixo, tudo o que era sólido virando líquido. Faíscas sibilavam e estalavam em volta deles.
— Você devia tê-lo deixado em paz! — disse ela, os lábios contra o ouvido dele, as palavras detonando contra sua armadura de fogo, ricocheteando em todas as direções.
O ar ia ficando mais agitado, rosnando para a força deles. À distância, a cidade desabava, seus prédios transformados em pó. A imensa estátua se partiu em dois pedaços e caiu, com metade da encosta desabando depois.
Brick a enfrentava, tentava se desvencilhar, mas não conseguia se mexer. A terra abaixo estava sendo afastada, como se um helicóptero pairasse sobre a água, formando uma imensa cratera. O pulsar sônico dos anjos ficou mais alto e mais agudo. Aqueles flashes de luz branca, dourada, azul e laranja zuniam feito chicotes, cada um fazendo o céu tremer. Ele mal conseguia ouvir Rilke com o barulho.
— Você não devia ter acabado com a gente!
Não acabei!, gritou ele. Não acabei! Foi o homem na tempestade! Ele matou o seu irmão!
As palavras dele devem ter soado verdadeiras, porque sentiu que ela afrouxou a pegada. Brick aproveitou a oportunidade para escapar de seus braços. No momento em que desfez o contato, algo se acendeu no espaço entre eles. Foi como outra explosão nuclear, impelindo-o para cima em uma onda luminosa. Precisou de um instante para achar as asas, estendendo-as e se detendo, com os olhos arregalados diante da visão do que tinham feito.
A força da explosão não tinha deixado nada — nem prédios, nem gente, nem água —, só um deserto de poeira cor de areia de um horizonte a outro. O oceano fervilhava do outro lado, distante da terra ao tentar nivelar-se de novo, o rugido audível mesmo dali do alto. O ar subia e caía em volta dele, o planeta recuperando o fôlego, e um estalo aqui e ali precipitando-se contra o céu.
Não fui eu que fiz isso!, disse ele consigo, o próprio coração batendo quase com a mesma força do coração do anjo. Foi ela, ela fez isso, ela matou todo mundo, não eu!
Não havia o menor sinal de Rilke em lugar nenhum. De repente, ela explodira a si mesma, arrebentando-se em átomos, espalhando-os pelo túmulo sem limites abaixo. Por Brick, tudo bem, até porque nunca se sentira tão cansado, tão fraco, mesmo com o fogo correndo em suas veias.
Algo atraiu sua atenção para o sol, e ele ergueu a cabeça, vendo-o partir-se em dois. Rilke se lançava contra ele, o grito dela levantando a poeira dos mortos, criando dunas de cinzas. Brick ergueu as mãos, pronto para se defender, percebendo, ao fazer isso, que não poderia derrotá-la, não sozinho.
Usou a mente, abrindo o tecido do espaço-tempo e atravessando-o. Desta vez, porém, sabia exatamente para onde ia.
Daisy
São Francisco, 15h01
— Ele está chegando.
Howie mal tinha terminado de falar quando Daisy ouviu um som de tiro na floresta. Ela olhou por entre os galhos no momento em que um relâmpago negro partiu o céu em dois, tão escuro que feriu a retina deles. Veio outro, com nuvens de trevas infiltrando-se do ar cindido como tinta vertendo em água. O trovão pingava do céu fraturado, preenchendo a floresta de ruído.
— Preparem-se! — disse Cal. — O que quer que aconteça, vamos nos manter juntos, certo?
O céu agora estava sujo de fumaça, com gotas de um fogo negro e horrível espraiando-se do centro do caos como manchas solares envenenadas. Uma forma se avolumava daquela insanidade oscilante, com duas enormes asas que batiam com força suficiente para rachar os troncos das árvores, despojá-las de tudo. A besta rugia ao libertar-se, um rugido para dentro, como uma respiração asmática ensurdecedora. Seu rosto estava oculto pela fumaça, mas Daisy pôde ver a silhueta de sua boca ali, a coisa mais escura do céu.
— Fiquem juntos! — disse Cal outra vez, agora gritando. — O que a gente faz agora?
Daisy olhou para ele, depois para Howie e, em seguida, para Marcus, que segurava Adam em seus braços fininhos. Todos olhavam para ela à espera de uma resposta. Mas por quê? Por que achavam que ela sabia o que fazer? Ela só tinha doze anos. Não era uma heroína, nem forte, nem tão inteligente assim, para falar a verdade. Não sabia de nada. Não sabia.
Só que... sabia sim! A verdade estava em algum lugar no fundo dela, gritando o mais alto que podia, dizendo-lhe que, se eles não se mantivessem firmes ali e tentassem enfrentar o homem na tempestade, todos iriam morrer. Ela chegava a visualizar isso: Marcus e Adam primeiro, transformados em pó, porque ainda não tinham seus anjos. Depois ela, porque estava exausta. Cal e Howie revidariam com tudo, mas não seria suficiente, não contra aquilo.
A besta içava-se do vazio atrás do mundo, estilhaçando a realidade. Trazia consigo aquela sensação horrenda, sugando todo o calor do dia, toda a bondade, fazendo Daisy querer simplesmente sentar e chorar pelo resto da existência. Não havia nada acima dela além de um oceano invertido de piche fervilhante, o sol era um halo tênue. Era como se a noite tivesse caído, de repente e sem aviso. Os olhos do homem eram holofotes escuros que perscrutavam a floresta, procurando por eles. Sua boca arquejante sugava árvores, raízes e pedras. Porém, ele ainda não os tinha visto.
Precisamos ir!, disse ela. Agora mesmo!
Como assim?, perguntou Cal. Podemos enfrentá-lo, somos três. Nós o enfrentamos em Londres, vamos enfrentar de novo.
Espere!, ela lhe disse, mas Cal já tinha se despojado de sua pele humana, com uma fornalha irrompendo nos vazios de seus olhos, espalhando-se pelo corpo. As asas expandiram-se em suas costas: um farol ardente que fez a noite tornar-se dia outra vez. O homem dirigiu seu olhar sem luz para onde estavam, e Daisy chegou a sentir a pútrida alegria dele ao perceber que os tinha pego.
Ela mergulhou na própria cabeça, destrancando a porta e deixando seu anjo sair. Howie fez o mesmo, irrompendo em chamas. Daisy ergueu os olhos do anjo e viu o homem atacar com um punho de fumaça, que veio com a força de um meteoro, com uma velocidade inacreditável.
Daisy usou a mente para alcançar o tempo e prendê-lo em seus dedos em chamas. Era como tentar segurar um dobermann pela coleira — sentia que era ela a ser arrastada. Porém, fincou os calcanhares, ouvindo o universo gemer de dor quando suas regras foram quebradas, cada átomo estremecendo em protesto.
Não consigo segurar, disse ela, vendo o céu cair em câmera lenta, aguardando o momento em que seria alvejada e tudo terminaria. Cal, porém, soube o que fazer, abrindo uma porta e os puxando através dela — primeiro Marcus e Adam, depois Howie, e, por fim, Daisy —, batendo-a após a passagem.
Ela olhou para trás quando a realidade se fechou, vendo as garras da noite liquefeita acertarem o chão onde estavam, explodindo árvores em farpas. Então o tempo libertou-se de seu domínio — a barriga dela dançando quando arderam e voltaram. Através da algazarra de brasas reluzentes, ela via os outros, dois anjos que brilhavam como aço derretido, além de Adam e Marcus envoltos nos braços um do outro, um fogo azul queimando abaixo da pele do peito deles.
O mundo revirou-se até voltar ao lugar, esvoaçando um pouco como uma cenografia prestes a desabar. Quando assentou-se, Daisy distinguiu uma paisagem de gelo e neve, uma cordilheira de montanhas projetando-se do horizonte como dentes. Estava quase escuro ali.
Daisy desceu ao chão, desconectando-se de seu anjo para que ele descansasse. Assim que o fez, arrependeu-se; ali estava congelando, o vento como que os dedos de um morto subindo e descendo por suas costas.
— Podia ter avisado — disse Marcus, enxugando o vômito da boca. Ele e Adam estavam curvados, uma poça de fluido branco à frente. — Não me importo de ser arrastado pelo mundo, mas poderia me dar a chance de me preparar da próxima vez? O vômito não é nada; só que acho que fiz cocô nas calças.
Daisy riu enquanto estremecia. Adam correu até ela, que o envolveu nos braços.
— Também podia ter levado a gente para um lugar mais quente — disse Marcus, batendo os dentes.
— Desculpe — respondeu Cal. — Ainda não peguei o jeito disso. No mais, aqui está tudo quieto, não tem ninguém por perto para tentar matar a gente. — Suspirou. — A gente devia tê-lo enfrentado.
— Pois é — disse Howie, balançando a cabeça. — Agora ele sabe que a gente está com medo.
— A gente não teria vencido — falou Daisy. — Teria sido suicídio. — A palavra ficou presa na garganta dela, junto a imagens da mãe morta na cama. E nós teríamos machucado você. — Nós não éramos fortes o bastante.
— Como você sabe? — disse Howie.
— Cara — disse Cal —, chega! Nenhum de nós tem a menor ideia do que está acontecendo, mas a Daisy, ela entende as coisas. Desde o começo. Você pode fazer o que quiser, mas eu confio nela.
Cal exibiu um sorriso, e Daisy retribuiu, mesmo que fosse bem difícil, porque os músculos de seu rosto estavam congelados. Howie apenas passou um braço pelo ar, deixando-os de lado e examinando as montanhas, aninhadas na penumbra.
— Podemos vencê-lo — disse Daisy. — Mas precisamos de todo mundo. De Brick e de Rilke.
— Rilke? — falou Marcus. — A essa altura, ela já deve ter morrido, depois do que ele fez com ela.
— De você e de Adam também — prosseguiu Daisy. — Precisamos que os anjos de vocês nasçam.
— Pois é, estou tentando — disse Marcus, batendo no peito. — Mas esse negócio não está me dando a menor bola. Deve ser o anjo mais preguiçoso do... da... da terra dos anjos.
— Por que vocês os chamam de anjos? — perguntou Howie, virando-se para eles.
— Você sabe — disse Cal. — Fogo, asas, voo, dar uma surra em um demônio malvadão no céu. Bem óbvio, para dizer a verdade.
— Mas eles não são anjos, são? — indagou o novo garoto. — Quer dizer, para começar, os anjos não existem. E, se existem, são bons. Tipo, totalmente bonzinhos, ou algo parecido. Estes são diferentes. Essa coisa... — ele estendeu as mãos, como se ainda tivessem fogo brotando delas — ... essa coisa meio que me dá vontade de explodir tudo.
— Acho que eles não estão na Bíblia — falou Cal. — Falamos com um sacerdote uns dias atrás. — Ele parou, franzindo o rosto. — Cara, não, foi hoje de manhã. — Fez que não com um gesto de cabeça, como se não conseguisse acreditar. — Bom, ele disse... Bem, para ser sincero, não lembro, eu estava muito mal. Mas algumas pessoas acham que a Bíblia se baseia em coisas que as pessoas viram, tipo, séculos atrás, em histórias que foram transmitidas.
— E... — disse Howie, porque Cal havia parado de falar.
— E aí que, você sabe, isso pode ter acontecido antes, essas coisas feitas de fogo lutando com a coisa feita de fumaça, ou o que quer que seja. As pessoas viram, contaram para os filhos, e eles ganharam o nome de anjos. Que tal?
Howie deu de ombros.
— Que diferença faz? — questionou Marcus. — A gente só sabe que eles estão aqui, dentro da gente, e que querem botar pra quebrar. Fim da história.
— Tem certeza? — falou Howie. — E se eles estiverem do lado dele; e se nós é que devemos ajudar o homem na tempestade?
— Nem me venha com esse papo — disse Cal. — A gente ouviu isso de Rilke, e veja o que aconteceu com ela.
Howie ergueu as mãos, rendendo-se.
— Estou só tentando eliminar todas as possibilidades. Não é muito difícil passar de bêbado na praia para possuído por um ser mais ou menos anjo que quer salvar o mundo da destruição certa.
— Você estava bêbado? — perguntou Daisy. — Quantos anos você tem?
— Treze — disse ele. — Idade mais do que suficiente.
— Você ainda está bêbado? — perguntou Cal.
Howie sorriu.
— Infelizmente, não. Acho que uma garrafa de rum poderia ajudar bastante a lidar com essa situação.
— Eca! — disse Daisy.
Ficaram um pouco calados, e ela se voltou para dentro, para falar com seu anjo. Ele tem razão? Você é bom? Você já esteve aqui? Ele não respondeu, limitando-se a ficar sentado como uma estátua na alma dela. Daisy pensou no que tinha visto antes, no lugar de onde haviam vindo, um lugar frio e inerte onde nada acontecia. Estremeceu ao pensar que, quando aquilo acabasse — em derrota ou vitória —, seu anjo teria de voltar. Ficaria trancado de novo em sua cela até a próxima vez que se fizesse necessário.
— E aí, como é que a gente faz? — perguntou Marcus. — Meu anjo pode levar dias para acordar. Até lá, pode não haver mais nada para salvar.
— Não necessariamente — disse Cal. — Existe um jeito de... dar motivação a eles.
— É?
Cal fez que sim com a cabeça, mas, em vez de falar, pareceu transmitir uma imagem. Daisy o viu de pé à beira de um precipício, e, em seguida, caindo. Se seu anjo não tivesse despertado naquele momento, teria morrido, e Cal também. Fora uma aposta arriscadíssima.
— O quê? Cara, de jeito nenhum! — falou Marcus. — Você é maluco! Não tem a mínima chance de eu fazer isso!
— Foi só uma ideia — disse Cal. — Tem alguma melhor?
— Talvez eu tenha — falou Daisy.
Ela sorriu para Marcus e se conectou com seu anjo, olhando a chama azul no peito do garoto, a força que ela fazia para sair, para alcançá-la. Marcus recuou, apertando os olhos para proteger-se do brilho nos olhos dela, murmurando:
— Por que tenho a sensação de que não vou gostar disso?
Cal
Manang, Nepal, 15h15
Confie em mim, disse Daisy. Não dói.
Cal observava enquanto ela flutuava em direção a Marcus, seu fogo ardendo, mas sem exalar calor. Dedos de luz projetaram-se da neve, desabando quase de modo instantâneo. O ar tremia com a força dela, soando como uma dúzia de amplificadores de guitarra no volume máximo. Seus olhos eram como poças de luz solar liquefeita, e Cal ainda sentia o medo fazer cócegas em sua espinha, pensando na surrealidade daquilo.
— Ah, tá! — disse Marcus, dando um passo hesitante para trás. — Vou simplesmente confiar em você, claro.
Daisy não retrucou, só estendeu a mão para o peito de Marcus. Cal não viu nada até apertar o botão psíquico e se conectar com o anjo. De repente, Marcus era um motor cheio de engrenagens, seu peito repleto de fogo azul. Aquelas chamas pareciam estender-se para Daisy, procurando-a. Os dedos dela eram genuíno fogo, projetando-se através da camisa de Marcus e para dentro da pele dele.
— Opa, opa, opa! — gritou Marcus, dando um passo para trás, seu caminho bloqueado por Howie. — Isso não é legal, Daisy, só...
Vai ficar tudo bem, falou ela, insistindo na tentativa. A lâmina de sua mão aplanada cortou-o como o bisturi de um cirurgião, seus dedos tocando o fogo que ardia em seu peito. Assim que ela fez contato, ouviu-se um nítido estrondo, e Daisy voou para trás, como se tivesse levado um choque elétrico. Porém, ela sorria, porque o fogo de Marcus se espalhava no peito dele, atravessando as veias e saindo pelos poros. Ele resistiu, dando tapas na pele, dançando parado, ganindo palavrões, amaldiçoando Daisy o tempo inteiro.
Não resista, disse ela. Está vendo? Não dói, dói?
Ele não respondeu, só ficou saltitando e chutando bocados de neve. As chamas frias e azuis bruxuleavam para cima e para baixo, tentando firmar-se, até que, de repente, ganharam vida com força total, vermelhas, laranja, douradas. Marcus gritou, o ruído ecoando pelas montanhas distantes. Seus olhos estavam repletos de luminosidade incandescente, cuspindo faíscas. Ele foi ao chão quando uma asa, batendo para baixo, virou-o na diagonal. Cal precisou levantar voo para sair do caminho enquanto Marcus esperneava no chão, arrancando nacos de pedra com as novas mãos.
Somente quando a outra asa de Marcus deslizou para fora, ele pareceu acalmar-se, pairando a cerca de um metro do chão. Seu peito se enchia e esvaziava, ainda que Cal tivesse certeza absoluta de que não precisavam efetivamente respirar quando estavam daquele jeito. Marcus girou para cima e levou as mãos ao rosto, examinando a nova pele.
— Lega... — As sílabas ricochetearam entre eles, e Marcus tapou a boca com a mão.
Voz interior, falou Daisy.
Esta?, respondeu ele, as palavras na cabeça de Cal, fracas, mas cada vez mais fortes. Opa, eu... Isto... Que loucura, cara! Só pode ser um sonho!
Se é, então estamos todos no mesmo sonho, disse Cal. Tudo bem?
Tudo, tudo bem. É... É como ter tomado Valium, sei lá. Você se sente... calmo, uma coisa assim.
O que é Valium?, perguntou Daisy.
Um remédio para ficar legal, respondeu Howie.
Achei que seria diferente, prosseguiu Marcus, com as asas estendidas acima da cabeça, filtrando a fria luz do sol em filamentos de ouro. Achei que sentiria algo mais forte, sabe? Como se estivesse possuído ou algo assim. Mas... não tem nada a ver. Parece que sou o Super-Homem.
Você é magricela demais para ser o Super-Homem, protestou Cal. Ele se virou para Daisy. Como você sabia que devia fazer isso?
Apenas sabia respondeu ela. Acho que o anjo me mostrou.
Queria que ele tivesse mostrado a você antes de eu pular de um precipício, falou Cal. Teria ajudado bastante.
Daisy riu, o som erguendo-se acima das batidas do coração deles como o canto de um pássaro após uma tempestade.
Desculpe, disse ela. Cal riu também, e meu Deus, como era bom, ele se sentia dez toneladas mais leve. Daisy ajoelhou ao lado de Adam, sua mão incandescente repousando no ombro dele. O garotinho não parecia assustado; não parecia nada, para dizer a verdade. Mas seus grandes olhos estavam repletos de confiança ao olhar para ela.
Você vai ficar bem?, perguntou a ele. Não precisa fazer isso se não quiser. Mas não dá medo, Adam; eles estão aqui para cuidar de nós.
Deixe-o assim, disse Howie. É uma criança, não vai ajudar muito em uma luta.
Provavelmente era verdade, mas, mesmo que Adam não lutasse, ao menos o anjo o manteria em segurança. A chaminha no peito dele procurava Daisy, que delicadamente levou a mão até ela.
Estou aqui, viu? Não precisa ficar com medo.
Ela fez contato, liberando outra supernova de luz e som. Cal precisou virar para o lado desta vez e, quando olhou de novo, viu Daisy e Adam no ar, deixando um rastro de chamas ondulantes. O garotinho estava em dificuldades — Cal não via, mas percebia —, e Daisy o segurava, recusando-se a soltá-lo. O trovão rasgou o céu, e um clarão surgiu quando Adam se transformou. Após um ou dois minutos, os dois anjos desceram, sem chegar exatamente a pousar na neve.
Tudo bem?, perguntou Cal. Adam fez que sim com a cabeça, os olhos como duas piscinas de minério derretido que não piscavam.
Você foi tão corajoso!, disse Daisy. Sabia que seria.
Adam sorriu para ela, suas asas batendo acima da cabeça. Cal aguardou, perguntando-se se ele falaria agora que não tinha boca. Não havia sinal dele, porém, na profusão de vozes em sua cabeça. O que quer que o garoto tivesse enfrentado quando a Fúria havia começado, aniquilara mais do que apenas sua voz.
Dê uma chance a ele, disse Daisy, capturando os pensamentos de Cal como borboletas em uma rede. Logo ele vai falar, sei que vai.
Cal fez que sim com a cabeça, e, por alguns instantes, ficaram suspensos ali, os cinco, as asas arqueadas contra o dia evanescente, suas pontas quase se tocando. Os anjos espalhavam luz e som pela neve, fazendo tudo parecer uma dança. Até as montanhas estrondavam contra o horizonte, tremendo como se tivessem medo. E fazem bem em tê-lo, pensou Cal. Porque agora estamos prontos.
Quase, disse Daisy.
Pois é, precisamos de um plano ou algo assim, não é?, falou Marcus. Uma estratégia, ou coisa parecida.
Eu tenho um plano, disse Howie.
Mesmo? Marcus virou seus olhos flamejantes para o novo garoto. Legal. Qual?
Não morrer.
Excelente, cara, disse Cal. Mas ele riu outra vez, o som correndo dentro de si, quente contra a gelidez do anjo. Não morrer é um plano?
É, disse Howie, rindo também. O que quer que aconteça, por pior que fique, não morrer.
Todos riram, tão silenciosamente quanto podiam, o ar entre eles tremendo e cintilando com a força daquele ato. Até Adam riu. Cal se perguntava o que as pessoas diriam se pudessem vê-los ali — cinco criaturas talhadas em fogo frio, dando risada, as asas se agitando acima. Essa imagem fez com que Cal risse com ainda mais força, e precisou se afastar, encarar as montanhas, para tentar se conter.
Vocês são malucos!, disse Howie. Totalmente, completamente malucos, sabiam?
Pois é, falou Marcus. Acho que já faz um tempo que a gente sabia disso, cara.
“Não precisa ser maluco para trabalhar aqui, mas ajuda”, acrescentou Daisy, gerando novas risadas. Que foi? Minha mãe tinha um adesivo que dizia isso. Só agora entendi o sentido.
Então, disse Cal, sentindo as lágrimas congelarem no rosto, caindo na neve abaixo como diamantes. Não temos um plano, não temos ideia do que está acontecendo. O que falta fazer?
Só uma coisa, respondeu Daisy, olhando além de Cal, além das montanhas, por cima de continentes e oceanos. Precisamos achar Brick, e também Rilke.
Ele não vai voltar, disse Cal. Sei que tem fé nele, Daisy, mas pode acreditar: neste momento, Brick está o mais longe possível do homem na tempestade, e somos as últimas pessoas que ele quer ver.
Brick
São Francisco, 15h18
Eles tinham de ainda estar ali, tinham de ajudá-lo.
Brick seguiu o caminho que tinha feito havia poucos minutos no piloto automático, deixando que seu anjo o guiasse pelo espaço atrás do universo. Quando fora cuspido de volta ao mundo real, porém, era noite em vez de dia, e onde antes ficava a floresta havia agora uma extensão nua de terra que se estendia até o horizonte cindido. O vento batia contra ele enquanto tentava pousar, como se o esmurrasse, o zumbido do coração do anjo tão alto que Brick precisou de um instante para se recompor ao ribombar do trovão acima.
O homem na tempestade estava suspenso no céu, parecendo um corvo gigante em um ninho de trevas. Suas asas se erguiam dos dois lados, feitas de um fogo da cor de fumaça e petróleo. Entre elas, havia um vórtice que girava e girava, um furacão que sugava tudo à vista. Brick sentia seu toque frio contra a pele, levando-o junto com a rocha partida da encosta. Tropeçava em pleno ar, chamando com a voz e a mente ao mesmo tempo, mal conseguindo ouvir a si mesmo. Era como se fosse uma pulga sendo sugada por uma turbina de avião.
Não havia nem sinal dos outros.
Onde estavam? Tinham voado para longe, abandonando-o. Aqueles desgraçados egoístas! Tinham-no deixado ali para morrer. Lutava para controlar as asas, tentando libertá-las da corrente. Mas ela era forte demais, com aquela pressão incansável, sugando Brick para a boca do homem. Soltou um palavrão, que se desprendeu de seus lábios como uma bala de canhão de luz, disparando pela terra na direção completamente errada.
— Socorro! — gritou ele, tentando fugir por meio do fogo, como fizera com Rilke. Rilke... em comparação a isso, ela era um filhotinho.
Tentou ouvir a voz de Daisy, a de Cal, a de qualquer pessoa, mas era como se seus ouvidos tivessem virado purê. O universo inteiro girava em torno dele, ficando mais escuro e mais frio, fechando-se em volta de sua cabeça. Ele girava rápido demais até para ver aonde ia, a mandíbula enorme e triturante do homem aparecendo e desaparecendo em alta velocidade.
Brick esticou as asas para firmar-se, passando a mão pelo ar e lançando uma lufada de energia contra a coisa acima. Abriu a boca e amaldiçoou-a, urrando sua fúria contra a besta. O homem na tempestade não pareceu nem sentir, com a respiração incansável de turbina ainda sugando-o para cima. Brick girou na vertical, a terra tão longe dele que ele já enxergava a curva do horizonte. Batia as asas, as pernas, as mãos, como se nadasse, tentando estabilizar-se com desespero. Porém, a corrente de ar era impiedosa.
— Não! Não vou permitir! — gritou ele. O mundo ia escurecendo à medida que ele era sugado para as nuvens tempestuosas, o barulho da boca do homem como punhos de metal machucando seu cérebro. — Não vou!
Sentia-se uma criança a gritar, arrastado pela mão de um pai. Sentia-se tão pequeno, tão impotente, tão ridículo, com tanta raiva. Passara a vida inteira furioso com o mundo. Tinha levado aquela raiva consigo para todo lugar, sem nunca conseguir se livrar dela. A raiva era a razão de estar onde estava quando a Fúria atacara. Era por causa dela que tudo isso tinha acontecido com ele. E agora ela o mataria.
Não! Não precisava ser daquele jeito. Ele não precisava ficar com raiva. Talvez fosse assim que as coisas acontecessem com eles, os anjos; talvez fosse por isso que tentavam anestesiar tudo na sua cabeça. Talvez só se colocavam em ação se você não estivesse com raiva — nem triste, nem feliz, nem com medo. As emoções eram demasiado humanas, só serviam para atrapalhar. Quantas vezes não tinha dito isso a si mesmo, só para se acalmar e deixar a raiva passar?
Agora, Brick! É agora, ou você vai morrer!
Fechou os olhos, tentando ignorar o vento nos ouvidos e o ar frio e úmido que se agarrava a seu corpo feito terra, como se estivesse em uma cova. Acalme-se, disse ele. O coração não obedeceu, batendo em um ritmo febril no peito, parecendo prestes a estourar com a pressão. Acalme-se. Forçou-se a pensar na praia em Hemmingway, no belo oceano, plano e brilhante como papel-alumínio, nada além de calor, silêncio e quietude.
Deu certo: a raiva fervilhante no estômago começou a se amenizar, a brasa no cerne de sua mente passou a esmorecer. Na ausência dela, ele conseguia sentir o anjo ocupando cada célula de seu corpo, esperando que ele entendesse e fizesse a coisa certa. Ainda havia algo desagradável entremeado em suas entranhas, mas imaginou que aquilo era o melhor que poderia fazer.
Ajustando as asas, virou-se para enfrentar a tempestade, tapando as escotilhas para conter a maré de emoção. Era capaz de sentir algo ardendo dentro de si, vindo do anjo, uma onda de calor frio. Ela rasgou seu esôfago e detonou de seus lábios, tão poderosa que deixou o ar em chamas. A palavra talhou um caminho incandescente, formando um rastro de míssil ao desaparecer na fumaça. Aguardou a explosão, aguardou que o rosto do homem derretesse, que mugisse em um grito de derrota.
Nada aconteceu.
Brick abriu a boca, esperando o anjo se recompor. Aquela cócega de medo ainda estava ali, a raiva voltava crescente. Ele entrou em pânico, lutando contra o arrasto da inspiração do homem, as asas batendo como as de um cisne.
Um arame de relâmpago negro disparou do vórtice, tão escuro que parecia um rasgão na realidade. Veio zunindo na direção de Brick, rápido demais para que o evitasse, e chocou-se contra sua asa. A dor foi tão forte, tão diferente de tudo o que já tinha sentido, que de início sequer pôde assimilá-la. Então ele veio, um sofrimento que o abalou até o âmago, parecendo emanar não de seu corpo, mas do corpo do anjo.
Gritaram juntos quando outra chicotada desceu serpenteante, golpeando suas costas. Brick olhou para trás, vendo a escuridão presa à outra asa, retendo-a como uma criança pinçando um bichinho indefeso. Jogou a mão para trás, tentando contê-la, mas ela girava rápido demais, subindo, subindo e subindo para o tornado. Ouviu o som de algo se rasgando, e veio outro jato de dor incandescente. Quando Brick olhou de novo, viu a asa esvoaçar, uma folha de fogo pálido que se enroscava ao vento, esvanecente.
Seu anjo gritou mais uma vez, agora sem força na voz. E, sem uma asa, Brick tombou para dentro da tempestade.
Rilke
Rio de Janeiro, 15h22
Saia, saia de onde quer que esteja!
Rilke espiava por entre a pele do mundo, tentando achar o menino com asas. Era isso que ela fazia agora? Brincava de esconde-esconde com Schiller?
Não, ele morreu, lembra?, algo lhe disse. Ela estendeu a mão feita de éter reluzente e tocou a testa. Havia um buraco ali, como um terceiro olho, mais ou menos do tamanho do dedo. Não conseguia de jeito nenhum se lembrar de como tinha feito o buraco. Um garoto de asas, um garoto com fogo no lugar do cabelo, o mesmo garoto que matou seu irmão.
Quase podia vê-lo na confusão dos pensamentos, um garoto alto chamado Brick. Mas por que ela brincava de esconde-esconde com ele? Não fazia sentido nenhum, e, quando tentou pensar a respeito, a cabeça pulsou com ondas de desconforto, os pensamentos travados como se alguém houvesse jogado um graveto entre duas engrenagens. Deixou aquilo de lado. Aquele pensamento logo voltaria; provavelmente só estava cansada e... e...
Olhou ao redor e viu um deserto parecido com uma praia, só que a areia abaixo era de várias cores — dourado, branco, cinza e vermelho. Pequenas espirais de fogo serpenteavam em sua direção, como dedos que a procurassem, desfazendo-se depois de um ou dois segundos. Distinguia cada grãozinho, e, dentro de todos eles, havia cidades de luz e matéria. Era hipnotizante.
Concentre-se, Rilke, disse a si mesma. Encontre o menino. Você não se lembra? Ele acabou com você.
Era isso! Ele acabara com ela, a quebrara, como se ela fosse uma boneca. E tinha acabado com Schiller também. Isso devia tê-la deixado zangada, mas não havia nada dentro dela além de um torpor enfurecedor, como se tivesse sido recheada com algodão da cabeça aos pés. Mas era isso o que acontecia com bonecas quebradas, não era? Empacotadas e deixadas de lado, ou jogadas na lixeira.
Algo zumbiu acima, uma mosca, e ela estendeu uma mão que não era realmente a dela, os dedos invisíveis tirando o objeto do céu e esmagando-o. A mosca caiu no chão, acertando a areia com um estampido mecânico e incendiando-se. Havia agora mais delas, voando acima e fazendo um som de tud, tud, tud, e ela as golpeou, derrubando mais duas antes que o resto fosse embora. Ótimo, agora tinha esquecido por completo o que deveria estar fazendo.
Descamou o mundo de novo, como se abrisse uma porta.
Alguma coisa tinha perturbado o ar ali, deixando uma espécie de ondulação dourada, quase como a esteira que um barco faz na água. O garoto alto obviamente não era muito bom em se esconder; tinha deixado um rastro para que pudesse segui-lo.
Peguei você!, disse ela, abrindo um sorriso enorme ao entrar pela porta. O corpo dela explodiu em átomos e houve uma súbita vertigem, como chegar à beira de uma cachoeira, e, em seguida, estava inteira de novo, o mundo refirmando-se ao seu redor. Passou a mão no corpo para limpar as brasas, tentando entender o caos à sua volta.
O céu tinha vida: uma tempestade em forma de homem. Ele se agitava dentro de um oceano de nuvens negras, quase como se estivesse se afogando ali. Algo nele parecia familiar, mas Rilke não sabia o quê. O vento ali era incrível, um furacão que fazia o que podia para sugá-la. Parecia um vasto campo que acabara de ser arado. À distância, havia um buraco no mundo, como se algo enorme houvesse feito uma escavação do centro da terra e rastejado de lá de dentro. Rilke estendeu as asas, firmando-se e esquadrinhando a terra para encontrar o garoto alto.
De repente, um tiro acima dela. Mas era um tiro mesmo? Não, era alto demais. Nem mil tiros poderiam emitir aquele som. Ela olhou para cima, para o oceano invertido, vendo uma centelha contra a treva espiralante. É ele! Ela teve certeza. Era o garoto feito de fogo. Ele estava desaparecendo em meio à fumaça, tentando se esconder dela.
Não o deixe ir!, disse-lhe sua mente. Ele acabou com você, acabou com você. Ela não o deixaria se esconder, não agora, nem nunca. Elevou-se do chão e bateu as asas, ascendendo em direção ao fogo. O garoto alto estava em dificuldades, línguas de luz negra envolvendo-o. Uma delas socou suas asas, arrancando uma delas, e Rilke o ouviu gritar acima do estrondo de estourar os tímpanos do céu em movimento. Ele desapareceu no vórtice giratório de nuvens, e ela aumentou a velocidade. Outros garfos de relâmpago negro vibraram ao lado dela, mas ela desviou de todos, concentrando-se na única coisa que importava.
Saia, saia de onde estiver!, disse outra vez, rindo enquanto seguia o garoto incandescente pelas trevas.
Daisy
Manang, Nepal, 15h25
Está pronta?
Cal fez a pergunta encarando-a com seus olhos de anjo. Os cinco formavam um círculo saturado de fogo. O som de seus corações parecia liquefeito, enchendo os ouvidos dela, provocando uma sensação engraçada em sua cabeça. Também estava achando difícil se mexer, como se todos fossem ímãs, atraindo-se. Perguntou-se o que aconteceria se todos se tocassem, se isso seria demais para aquele pequeno mundo. Tinha a sensação de que abririam um buraco nele.
Daisy?
Ela assentiu, mas era mentira. Não se sentia nem um pouco pronta. Como alguém poderia estar pronto para algo daquele tipo?
Cal se virou para os outros. E vocês?
Marcus deu de ombros. Não que eu tenha outra coisa mais importante para fazer agora.
Daisy estendeu a mão para Adam, seus dedos soltando raios de estática ao tocar o rosto dele. Ele não pareceu se importar, sorrindo para ela. Os olhos dele pareciam não ter fundo. Ela tinha a sensação de que podia cair naqueles poços geminados de fogo e nunca mais sair.
Ele não precisa ir, falou Cal. Quer dizer, talvez seja mais seguro ele ficar aqui, esperando a gente.
Você vai ficar bem, não vai, Adam?, perguntou Daisy. Seria mais perigoso para ele ficar sozinho. E se fosse atacado pela Fúria? E se o homem na tempestade decidisse mudar de lugar outra vez e fosse atrás dele? Vamos manter você em segurança. Mas não precisa lutar. Assim que pousarmos, você fica escondido. Combinado?
O que fazer a respeito de Brick?, perguntou Cal.
Ele vai estar à nossa espera, disse ela. Não sabia como, mas tinha certeza disso; praticamente podia enxergá-lo afogando-se na escuridão. Ele tinha mudado de ideia e voltado para ajudá-los, e agora enfrentava a besta sozinho. Daisy respirou fundo o ar de que não precisava, sentindo o martelar dos dois corações. O anjo era capaz de mantê-la calma, mas ela continuava assustada, e sentia isso como uma coceira no estômago. Isso a fazia sentir-se fraca, incerta, o que a levou a se perguntar sobre outra coisa.
Eu acho... ela começou, mas depois se deteve, tentando entender seus pensamentos.
O quê?, perguntou Cal.
Ela ruminou um instante a mais, depois disparou: Acho que precisamos permanecer calmos.
Ah, claro, falou Howie. Sempre me sinto calmo quando estou prestes a arrumar briga com uma criatura que está tentando engolir o mundo.
Não, disse Daisy. Estou falando sério. É como aquilo que você estava dizendo sobre o remédio pra ficar legal. Os anjos nos mantêm calmos, não deixam as emoções interferirem. Acho que é assim que eles lutam. Só podem fazer isso se as nossas emoções não atrapalharem.
É?, falou Cal. Quando moveu os ombros, suas asas subiram e desceram. Acho que faz sentido.
Tudo o que Daisy tinha era seu instinto, e o que havia acabado de dizer parecia certo.
Então o negócio é manter as emoções sob controle, disse Marcus.
Beleza, tudo bem. Mais algum conselho?, perguntou Cal.
Ela bem que queria ter outro conselho, mas não havia mais nada. Só o não morrer de Howie. Era basicamente tudo o que tinham. Daisy negou com a cabeça, dizendo sinto muito.
Cal expirou com um pouco de força, fazendo o ar tremer.
Em Fursville, tudo parecia tão simples, disse ele. Quer dizer, em comparação com isso aqui. Lá a gente só precisava sobreviver.
Parecia que tinham estado no parque temático meses atrás, anos até. Mas haviam deixado Hemmingway naquela manhã, menos de doze horas antes. Para Daisy, aquilo não fazia sentido nenhum, exceto pelo fato de entender que, de algum modo, o tempo era diferente para os anjos — e agora era diferente para eles também. Por um período que pareceu uma eternidade todos ficaram em silêncio, e Daisy viu os pensamentos deles como se flutuassem na frente dela: Fursville, andar nos cavalos do carrossel, jogar futebol — Cal estava sempre pensando em futebol —, correr pelo campo com o vento nos ouvidos, uma menina bonita assistindo da arquibancada, um piquenique na floresta com um cachorro grande e peludo que ficava tentando comer os sanduíches, outro garoto ali que era bem parecido com Marcus, talvez seu irmão. Eram as lembranças que eles queriam levar consigo, percebeu ela, imaginando as suas próprias — pegar sol no quintal atrás de casa, sentindo o aroma de lavanda, o pai trazendo uma bandeja de comida chinesa e uma garrafa de espumante sem álcool, que tinham bebido para celebrar a boa notícia de que o câncer da mãe havia ido embora, todos cheios de alegria, correndo um atrás do outro entre os arbustos e, depois, deitando-se na grama, lado a lado, inspirando seu aroma enquanto miravam os galhos acima. Se, quando morresse, ela pudesse viver dentro de qualquer memória da vida, seria essa que escolheria.
A coceira do medo tinha se tornado outra coisa, uma cunha de pedra em sua garganta. Mesmo do outro lado do dique que o anjo tinha construído dentro dela, Daisy sentia as lágrimas prestes a jorrar. Excelente, Daisy, que ótimo jeito de esquecer suas emoções, disse a si mesma, na esperança de que os outros não a ouvissem. Contudo, deviam ter ouvido, porque Cal riu.
Vamos, disse ele. Antes que a gente comece a chorar feito bebês.
Fale por si, falou Howie. Ele abriu as asas, flexionando-as na frente do sol e transformando sua luz em espirais de âmbar.
Vai fazer as honras?, perguntou Cal.
Daisy fez que sim com a cabeça, tomando a mão de Adam, o ar entre os dedos deles estalando feito uma fogueira. Ela fechou os olhos e abriu o mundo, um buraco grande o suficiente para levar todos.
Boa sorte, falou ela. Então, eles sumiram.
Cal
São Francisco, 15h32
Na fração de segundo em que se moveram, ele tentou preparar-se, tentou controlar os nervos. E então chegaram, com a realidade cerrando-se ao seu redor como uma armadilha de urso, afundando seus dentes em volta dele para tentar travá-lo onde estava. Tinham voltado para o vasto cânion vazio que antes fora uma cidade, o oceano ainda estrondando dentro dele. O céu inteiro pareceu vibrar por um instante, um grito de trovão ecoando pela terra enquanto as leis da física ajustavam-se para encaixá-los na realidade. Porém, o barulho não durou muito tempo, sendo engolido pela tempestade que rugia acima.
A besta estava em um trono de fumaça, com as asas estendidas de um horizonte a outro, a boca parecendo uma imensa e doentia lua suspensa sobre o mundo. Não restava praticamente mais nada dela, apenas fiapos de carne solta e morta inacreditavelmente compridos, esvoaçando para os lados como bandeiras rasgadas. Seus olhos eram bolsões de noite.
Aqueles faróis invertidos vasculharam o chão, encontrando-os em segundos. Assim que aquela não luz cor de vômito o focalizou, Cal teve a sensação de que tinha levado um soco no estômago, na alma, como se o impacto houvesse sugado dele a última gota de vida. Gemeu diante do horror, do vazio total e completo, sabendo que era o que sentiria caso o homem na tempestade o engolisse.
Cal sentiu uma súbita lufada de vento dominá-lo, puxando-o para cima, para a boca da besta, que parecia um aspirador. Abriu as asas, tentando conter as emoções, gritando para que o anjo o enfrentasse. Não precisava dizer-lhe o que fazer: um som engatilhou-se na garganta e disparou da boca como uma bala mortífera que subiu rasgando, queimando um caminho pelas nuvens raivosas até explodir contra o rosto da criatura.
Outros gritos vieram logo depois. Daisy estava suspensa no ar a seu lado, gritando com sua voz e com a do anjo também. Marcus e Howie encontravam-se à direita, suas cabeças indo para trás como canos de revólver toda vez que ladravam um tiro. O ar entre eles e a tempestade transformaram-se em fogo líquido, fervendo e sibilando como algo com vida própria. A besta soltou mais um grito, como o de um Leviatã no fundo do mar.
Está funcionando! Mesmo que a voz de Daisy estivesse em sua cabeça, ele tinha dificuldades para ouvi-la. Continuem atirando nele!
Cal bateu as asas, erguendo-se no céu fervilhante. Abriu a boca, deixando o anjo lançar outra palavra. Esta chocou-se contra o rosto da besta, arrancando dele um naco de fumaça e de matéria negra do tamanho de um prédio, que foi imediatamente sugado pelo vácuo giratório, como se a criatura devorasse a si mesma. O movimento de sua boca travou e diminuiu, o estrondo de quebrar os ossos diminuindo por um momento antes de recuperar a força.
Algo chicoteou de dentro da escuridão, e um flagelo farpado de relâmpago negro estourou no ar bem à frente do rosto de Cal. Ele caiu, ofuscado pela negra ferida deixada em sua retina. Ouviu outro disparo, torcendo o corpo para evitá-lo, piscando para recuperar a visão do mundo.
Daisy e os outros estavam acima dele, indo de um lado para o outro como vaga-lumes enquanto lançavam golpes sucessivos. Miravam os olhos da besta, uma barragem de explosões rasgando-os. O homem se contorcia dentro da tempestade, aquela inspiração se extinguindo e recomeçando, de novo e de novo. Ele começava a entrar em pânico, percebeu Cal. Estava com medo.
Cal bateu as asas, abrindo caminho em direção a Daisy. Eram pequeninos em comparação com o homem na tempestade, mas isso trabalhava a favor deles. Toda vez que ele disparava um garfo de relâmpago, eles saíam do caminho, seus ataques já lentos demais, desajeitados demais. Cal jogava os braços para a frente, socando com punhos invisíveis: marteladas que se chocavam contra a besta. Era como observar um imenso navio de guerra disparando cada arma de seu arsenal.
O céu então se moveu, e a coisa inteira desabou no chão; a imponderabilidade daquilo fez Cal gritar. Protegeu o rosto com as mãos quando uma onda de energia veio com toda a força, fazendo-o girar para longe como uma bola de críquete. Acertou o chão, abrindo um buraco por raízes e rochas, transformando tudo em pó, até parar.
Mesmo com o anjo, ele sentia dor. Levantou o tronco, vendo o homem na tempestade contra o horizonte, bem longe. O céu ainda caía, só que não era o céu, eram as asas da criatura. Aquelas plumas enormes de fogo putrefato desceram banindo tudo, liberando um furacão. Não conseguia ver Daisy em lugar nenhum, nem os outros. Todos tinham sido lançados para longe.
Endireitou o tronco, dando ao anjo um momento para reencontrar sua força. Em seguida, levantou-se do chão, lançando-se de novo ao caos.
Era tarde demais. Aquelas asas bateram uma terceira vez, e o homem na tempestade desapareceu em uma profusão de cinzas negras.
Brick
São Francisco, 15h40
Era como estar dentro de uma máquina de lavar funcionando a toda velocidade, e ele não tinha mais nada com que lutar.
Seu anjo agonizava. Os ferimentos eram graves demais. Brick tentou abrir as asas, mas uma não estava mais lá, e a outra pendia, rasgada e inútil. Felizmente, sua pele blindada ainda ardia, apesar de o fogo agora estar mais fraco, com força suficiente só para iluminar o funil de fumaça e de nuvens à sua volta. Mesmo que ainda tivesse as asas, elas não teriam servido de nada. Brick já não sabia de onde tinha vindo, nem para onde deveria ir.
Algo crescia na escuridão, rápido demais para evitar. Varou aquilo, vendo nacos de alvenaria virarem pó. Havia outras coisas ali, presas como restos de comida no esôfago do homem. Pessoas também, ou o que restava delas, pedaços de cartilagem que ainda tinham rostos humanos presos no limiar da garganta. Elas apareciam em clarões para ele, centenas, talvez milhares. E aqueles eram só os resquícios. Quantos outros milhões teriam sido devorados?
E ele era um deles. Brick, tolo, ridículo, furioso. Ninguém ia sentir falta dele. Não, ele já era um fantasma, já estava esquecido.
Não pense nisso, disse a si mesmo, com as emoções filtradas através do coração do anjo. Isso vai enfraquecê-lo. Você precisa lutar!
Ele esvoaçava, pairando sobre uma vasta montanha flutuante de pedra. Do outro lado, de repente, viu onde o túnel se afunilava, terminando em um ponto que irradiava escuridão total. Nuvens de fumaça e de matéria atomizada espiralavam em volta, provocando relâmpagos. O rugido da tempestade diminuía, e o silêncio que pulsava do buraco era a coisa mais aterrorizante que Brick já ouvira. Tudo ali era errado; o tempo parecia se partir, tudo desacelerando ao circundar aquele ralo.
Ali não era a morte, jamais poderia ser algo tão simples assim. Era a eternidade, o infinito, um golfo atemporal de nada do qual nunca poderia escapar. Era um buraco negro, uma ruptura na realidade que devoraria tudo, que engoliria, engoliria e engoliria, até que nada mais restasse.
— Não! — gritou ele. A voz do anjo se manifestou como um ínfimo tremor, como se ele tivesse sido colocado no mudo.
Brick ganiu, os braços girando, sua asa mutilada batendo. Conseguiu se virar, olhando para a direção de onde tinha vindo, as paredes do túnel espiralando incansavelmente, arrastando mais e mais do mundo para seu fim. Havia outra coisa ali, um bruxulear de fogo contra a insanidade. Ah, Deus, por favor, por favor, por favor!, pediu Brick. A silhueta se aproximou, explodindo por nacos de detritos flutuantes. Tinha de ser Daisy, ou Cal, tem de ser, por favor, meu Deus.
Não adianta se esconder, disse Rilke, e Brick sentiu seu coração afundar até o pé. Ela se lançou contra ele, as asas abrindo no último instante, como as de um dragão. Mirava-o com as piscinas derretidas de seus olhos, com um sorriso enorme. O terceiro olho ainda flamejava na testa, o olho que ele tinha criado, com gotas viscosas de fogo caindo dele como se o cérebro dela derretesse.
Aí está você!, disse ela. Encontrei você!
Por favor, Rilke, pediu Brick. O contraste entre o silêncio num ouvido e o trovão no outro lhe dava náuseas. Por favor, por favor, me ajude, me tire daqui!
Rilke virou a cabeça para o lado, o sorriso desfazendo-se, frouxo e mole.
Ajudar você?, falou ela, a voz arranhando a superfície do cérebro dele. Por quê?
Porque estou morrendo!, gritou ele, tentando agarrar o ar, tentando alcançá-la. Essa coisa vai me matar!
Mas você me matou, disse ela, batendo as asas para lutar contra a corrente de ar. Você me partiu em duas, e agora mamãe vai ficar furiosa.
Desculpe, disse ele. Ela estava louca, estava em cacos. Desculpe, Rilke, não foi minha intenção.
E Schiller, você quebrou ele também.
Não, isso não!, disse ele, sentindo que deslizava para mais perto do buraco. Tinha a sensação de que estava sendo esticado, como se fosse ser estraçalhado. Não fui eu, foi ele, o homem na tempestade! Você precisa acreditar em mim!
Não, foi você, o garoto com asas, disse ela, encarando-o com aquelas órbitas flamejantes.
Não, eu... Eu não tenho asas!, gritou ele, tentando girar e mostrar as costas. Não fui eu, veja só! Como poderia ter sido eu?
Ela franziu o rosto, o zumbido dos anjos dos dois fazendo o túnel inteiro sacudir.
Ele acabou comigo, gaguejou Brick. O homem com asas, com asas enormes. Ele acabou comigo, e agora quer me matar. Precisamos lutar contra ele, Rilke, juntos, por favor!
Onde ele está?, disse Rilke, voando para mais perto, quase perto o bastante para que Brick a tocasse. Ele a buscou, não com os braços, mas com a mente, tentando enganchar-se nela, ancorar-se, mas não sabia como fazê-lo.
Estamos dentro dele, falou. Ele está tentando comer a gente.
Deixe de bobagem, Schill, ela respondeu, rindo. Ele não pode comer a gente.
Ele vai, falou Brick. Relâmpagos de luz branca detonavam em sua visão, como fogos de artifício. O fogo dele se apagava rápido. Seu anjo agonizava. Ele odeia a gente, vai acabar com todos nós, a menos que a gente o enfrente. Por favor, Rilke, não me deixe morrer. Eu sou... sou seu irmão.
Schiller?, disse ela. É você? Não consigo enxergar direito.
Brick sentiu algo enroscar-se em sua cintura, um tentáculo invisível que o atraiu para a garota incandescente. O buraco negro não queria soltá-lo, agarrando-se a cada célula do seu corpo. Era como se estivesse se desfazendo, era uma folha de papel na água, dissolvendo-se. Rilke o puxou, levando-o de volta para o rugido e o trovão da tempestade, e ele se agarrou a ela, segurando-a como uma criança faria com sua mãe. Ela o abraçou por um instante, depois recuou.
Você não é o meu irmão, falou ela com uma voz fria como o incêndio à sua volta. Você mentiu para mim.
Sou sim, disse ele, rezando para que ela estivesse louca o suficiente para acreditar nele. Não está me reconhecendo, irmã?
Ela parecia perdida, o fogo de seus olhos bruxuleando enquanto as engrenagens quebradas de sua mente rangiam, tremiam, e tentavam girar. A tempestade uivou, e nuvens de detritos transbordaram das paredes do túnel. Um rugido poderosíssimo levantou-se em volta, seguido de outra explosão, como se alguém estivesse disparando tiros de canhão contra eles. Que droga estaria acontecendo lá fora?
Rilke, por favor, você precisa tirar a gente daqui antes que seja tarde demais!
O corpo inteiro dela tremeu, como se estivesse tendo uma convulsão, emanando grandes ondas de energia. Quando parou, ela o agarrou com os dedos da mente, rebocando-o ao lado dela enquanto batia as asas e se afastava. A corrente tentava sugá-los de volta, mas ela era forte demais, abrindo caminho torrente acima. Em volta deles, a tempestade se agitava, abalada pelo trovão. Brick sentiu algo, vozes em sua cabeça — Daisy, Cal, os outros também. Eram eles? Estavam atacando a tempestade? Por favor, tomara que sim!, pensou ele no instante em que as nuvens se afastaram à frente, com trechos de um facho de luz fraca e enevoada alcançando-o.
É isso aí, irmã, você está acabando com ele!
Ela parou, girando-o no ar, seus olhos em chamas.
Você não é ele, constatou ela. Você não é Schiller.
Ele tentou se soltar, perguntando-se se seu anjo precisava de asas para se transportar, ou se podia apenas arder e voltar para o chão, como fizera antes. Os dedos invisíveis de Rilke eram como bastões de ferro nas costelas dele, ancorando-o a ela.
Não ouse! O ganido dela bateu em seu cérebro, a pressão ficando ainda mais forte. Ele estapeou a área com as mãos, mas não havia nada a combater. Seu fogo ardia, mas nem de longe com a mesma luminosidade do de Rilke. É você, eu sabia, você mentiu para mim, acabou comigo e com ele também.
Brick atacou: uma flecha de chama translúcida cortou a garota. Sua pressão psíquica se afrouxou, e ele desfolhou o mundo, pronto para fugir rumo à ausência.
Então o homem na tempestade rugiu. Alguma coisa estava acontecendo, luz negra irrompeu das paredes, fazendo a fumaça revirar. Então o mundo se desintegrou em volta de Brick, e seu grito se extinguiu ao explodir em átomos e ser sugado para o vácuo.
Daisy
São Francisco, 15h44
— Não podemos deixá-lo fugir! — o grito de Cal ecoou pela terra deserta, vibrando acima de Daisy conforme o ar agitado corria para o espaço onde o homem na tempestade estivera. O céu estava repleto de flocos de cinzas incandescentes; atrás delas, porém, ele começava a romper as nuvens que iam se afinando. Sua luz espalhava-se quase de um modo nervoso pela terra enegrecida, como se estudasse os danos causados em busca de sobreviventes. Não havia nenhum. Nem poderia haver. Daquele ponto no céu, Daisy enxergava quilômetros em cada direção, todo vestígio de vida banido pela besta.
O poço ainda crescia, deformando-se com a enxurrada de água do mar que se precipitava dentro dele. Enormes trechos de terra desabavam no vácuo crescente. Daisy se perguntava se o homem na tempestade tinha voltado para o subterrâneo, mas não o sentia ali. Não, era mais como se ele houvesse cortado uma parte tão grande do mundo que não conseguia mais se manter em um lugar.
Ela o sentia bem longe dali. Ele deixara um rastro que desaparecia em pleno ar, um pouco como a cauda de um rato sob um tapete. Se ela levantasse o mundo, conseguiria ver para onde ele tinha ido.
Cal voou para seu lado. Howie e Marcus também estavam ali, examinando o horizonte. Ela olhou para baixo, entrando em pânico quando não avistou Adam. O alívio que se apossou dela ao vê-lo surgir atrás quase a fez chorar. Ela o abraçou por um segundo, o ar entre eles faiscando em protesto, e o soltou.
Estou bem, disse ela. Tudo bem comigo. Nós o assustamos, Cal, com certeza o assustamos, para ele fugir desse jeito...
Esse cara é um frangote, falou Howie.
Vamos, sugeriu Cal, antes que ele possa se recuperar.
Desta vez, não esperou por ela, o corpo explodindo em pó incandescente. Daisy o seguiu, usando a mente para levantar o tapete, correndo atrás da cauda do rato no vazio. Era como se tivesse sido capaz de fazer isso a vida inteira, algo tão natural quanto andar. Uma batida de coração, e o mundo recuperou a forma em volta deles, com um protesto de estrondos. As cinzas se soltavam do ar destituído — era isso que eram, percebeu ela, as partes do mundo que tinham sido queimadas para abrir espaço para os anjos. Através delas, viu a besta. Estava suspensa sobre outra cidade, que parecia ter saído de um conto de fadas, repleta de prédios antigos e torres. Um rio enorme e de aparência suja serpenteava por ela. Havia pessoas, milhares, todas encarando a tempestade e gritando para ela, e para a coisa que morava nela.
Cal era um floco aceso contra a noite taciturna, a voz de seu anjo abrindo caminho, ecoando pela cidade.
Daisy se apressou até Cal, sentindo os outros a seu lado. Desta vez, Adam os acompanhou: ela entendeu que ele não queria ficar sozinho. A turbina da boca da besta reiniciava, os prédios abaixo começando a se desintegrar, subindo aos pedaços. O rio parecia uma chuva virada do avesso, secando-se contra a gravidade. As pessoas também estavam sendo sugadas, exatamente como as formigas do aspirador. Daisy alcançou-as com a mente, tentando segurá-las, mas eram muitas, frágeis demais, e se despedaçavam ao seu toque. Desculpem, falou ela, e o horror daquilo ia inchando dentro de sua barriga, de seu peito.
Concentre-se, Daisy!, pediu Cal. Ignore suas emoções!
Ela tentou, sufocando-as. Ao abrir a boca, soltou um grito que rasgou as nuvens, cortando o rosto do homem. Cal atacava os olhos outra vez; Marcus e Howie disparavam um tiro atrás do outro contra os restos maltrapilhos de seu corpo. O vento era um punho que os agarrava e os sacudia enquanto os soprava para dentro da boca cavernosa. Daisy precisou de toda a força para não ser levada por ele.
A besta revidava, vomitando mais daqueles relâmpagos negros horríveis. O ar vibrava com tudo aquilo, nenhum dos relâmpagos roçando o alvo. A maior parte acertava o chão, explodindo como bombas, reduzindo a cidade a ruínas. Aquela respiração infinda era um grito uivante, repleto de fúria, tão alto que fazia cada osso do corpo de Daisy estalar.
Estamos vencendo!, disse ela, contendo a vertigem de empolgação e alívio, forçando-se a permanecer calma. Continuem disparando!
Não precisavam que ela mandasse. Cal tinha praticamente demolido o rosto da besta, nacos de matéria negra soltando-se dos olhos, sugados para a boca. O homem parecia estar reconstruindo a si mesmo porém, a fumaça preenchendo as lacunas e solidificando-se. Daisy ardeu no céu, deixando o anjo falar. A palavra foi como uma bala gigante fendendo o crânio da tempestade, sua força fazendo-a recuar. Daisy deu um salto para trás em pleno ar, sentindo outro ataque surgir da garganta e sair pela boca. Havia tantas explosões detonando contra a tempestade que o homem era mais fogo que fumaça. Não havia jeito de ele sobreviver a muito mais daquilo, jeito nenhum.
E, no entanto, sua fúria aumentava, fervilhando dele em ondas negras e imensas, curando os ferimentos que os anjos abriam. Ela soltou mais um grito, e este foi recebido por uma chicotada de treva genuína, as duas forças ribombando ao se anularem. Os relâmpagos eram usados para bloquear também os gritos de Cal, como um campo de força.
Daisy mergulhou, evitando um dedo de luz invertida disparado contra ela. O chão se precipitou para cima, perto o suficiente para ela ver a cidade arruinada, as manchas que antes haviam sido pessoas. Ela se virou no último instante, a terra embaixo explodindo quando o homem na tempestade atacou de novo. Bateu as asas, lançando-se pela fumaça e parando ao ver o fogo irromper de dentro da boca da besta. O homem na tempestade uivou de novo, aquele grito horrendo, para dentro, sugando tudo. Algo estava acontecendo ali.
Brick!, percebeu ela, sentindo-o, e, assim que falou seu nome, ouviu a resposta: um frágil grito de socorro. Mais fogo de dentro, como se o homem na tempestade houvesse engolido um enxame de vaga-lumes.
Socorro!, a voz dele era uma trovoada distante dentro da cabeça dela.
Está ouvindo?, perguntou Cal, aparecendo ao lado dela. Parecia exausto, mas seu anjo ardia com força. É Brick!
Daisy afastou-se com um movimento repentino quando outro raio rasgou o ar entre eles. Cal abriu a boca e disparou uma palavra contra ele, o som desaparecendo nas nuvens em volta da besta, sem causar qualquer ferimento.
Não está funcionando, falou ele. O homem é forte demais.
Ele tinha razão: estavam ferindo a besta, mas não a estavam matando; eram como marimbondos picando o couro de um elefante. E estavam dando seu máximo, não estavam? Haviam desligado suas emoções, dado aos anjos tudo que estes demandavam. O que estava faltando? O que eles estavam fazendo de errado?
Por sobre o uivo da tempestade, Daisy distinguiu outro grito de Brick.
O que ele está fazendo lá dentro?, Cal perguntou.
Daisy não sabia; mas sabia que Brick não estava sozinho. Cal balançou a cabeça, e ela escutou seu grito: Estou indo, Brick, aguente firme!
Espere, Cal!
Daisy o seguiu. No entanto, antes que o alcançasse, o mundo se enegreceu. Um punho de fumaça se projetou da tempestade, tão grande que toldou até o último raio de sol. Daisy gritou e se comburiu em fuga do mundo antes que a fumaça a atingisse. Quando retornou à existência, tonta devido à brusca mudança de perspectiva, achava-se do outro lado da tempestade. A imensa massa de escuridão descaiu sobre a cidade, como se alguém despejasse do céu bilhões de barris de petróleo. Cal, com Adam, se desvencilhou, enquanto Howie explodiu em brasas conforme fugia.
Marcus não teve a mesma sorte. Quando olhou para cima, já era tarde demais; o grito que deixou escapar sumiu na fumaça, que o atingiu como um soco, prensando-o contra o solo, o punho maior do que a cidade que existia até então. A fumaça não se deteve, conferindo à terra a forma de funil, empurrando o garoto cada vez mais para as profundezas, gerando uma teia crescente de rachaduras. Daisy gritou por Marcus, mas, onde antes havia os pensamentos do garoto, agora só havia uma ausência escancarada.
Não! Daisy se ergueu; a raiva em seu interior brandindo como uma coisa viva. Abriu a boca, e desta vez o grito que se libertou foi tão poderoso que formou uma bolha no ar, um caminho de fogo que desembocou no coração da tempestade. Houve um breve instante no qual ela pensou que seu ataque tinha se desvanecido, mas, então, uma explosão ocorreu dentro da besta, como se uma bomba atômica tivesse sido detonada. Imensas nuvens de uma substância podre se desprenderam do céu, e a fumaça tóxica desenhou trilhas em direção à terra.
Daisy se acercou com a mente e segou a ferida recém-aberta a fim de agarrar qualquer coisa que encontrasse ali e extirpá-la. As mãos invisíveis de seu anjo desferiram puxões e arranhões, e a besta mugiu o som de milhões de bois feridos. A raiva de Daisy fervia, e desta vez a garota não a impediu; permitiu que lhe servisse de combustível.
Meu Deus!, pensou. Não poderia ter estado mais errada. Não era para eles esconderem suas emoções: era para as usarem!
Daisy destrancou a porta que tinha batido na cara de seus sentimentos, e centenas de sensações se convulsionaram em seu íntimo. Como um vulcão, o magma raivoso ia se expelindo. Ela soltou outro grito, e o céu inteiro pareceu tremer. O buraco que o grito fez na tempestade era colossal e perfeitamente redondo, e a luz do dia vazou através dele. A besta gemeu e flectiu as asas, e uma floresta de raios brotou da carne em farrapos. Estava prestes a sumir de novo.
Bateu as asas, o que provocou uma onda de poeira. Mas não desapareceu. Em vez disso, ergueu-se, içou-se paulatinamente, ganhando velocidade a cada batida de asas.
Para onde está indo agora?, Daisy se indagou. Sentiu a presença de Cal ao seu lado. Uma chuva de poeira e cinzas se derramava, uma espécie de neve preta.
Está fugindo!, disse Cal, sorrindo. Vamos atrás desse desgraçado!
Cal
Termosfera, 15h58
A besta subia como um foguete, deixando atrás de si uma pluma de fumaça profundamente escura. O ar tremia em seu rastro. Cal se jogou para o lado, vendo parte da cidade passar por ele, desintegrando-se no processo. Havia construções, prédios comerciais que desabavam, gritos em rostos visíveis do lado de dentro. Cal fechou os braços e ardeu através do céu, vendo o mundo se encolher. O horizonte encurvou-se, o céu escureceu, e as estrelas apareceram em pleno dia.
Howie voava ao seu lado. Daisy também estava ali, outra vez na ofensiva, os gritos inacreditavelmente altos e luminosos, chocando-se contra o corpo da besta.
Marcus tinha sumido, esmagado dentro da terra com tanta força que nem mesmo seu anjo conseguira salvá-lo. Cal sentira o momento da morte do menino, uma fração de segundo de agonia, e, depois, nada.
Nem pense nisso, disse a si mesmo. Não deixe as emoções o dominarem.
Cal atacou com a mente, jatos de energia rasgando o caminho garganta acima, desaparecendo nas trevas. A tempestade ainda subia, perfeitamente camuflada contra o vazio do espaço. Somente os clarões de fogo dentro de sua garganta o entregavam, parecendo explosões subaquáticas. Brick, pensou Cal, sabendo que o garoto estava preso junto com Rilke. Os dois precisavam de ajuda.
Uma língua de relâmpago negro estalou pelo ar ao lado de Cal, detonando com força suficiente para disparar um diapasão em seu ouvido. Ele rolou, berrando ao mesmo tempo, seu grito perfurando a tempestade. Não estava adiantando nada. Era como usar um estilingue contra um tanque. Não conseguiam atravessar a blindagem.
Ele precisava chegar mais perto.
Howie, chamou, vendo o outro menino abaixo dele, suspenso acima do contorno azul da Terra. Cal não tinha percebido o quão alto eles tinham chegado, e, de repente, entrou em pânico, receando não poder respirar, até que se lembrou de que não precisava. Suas entranhas reviraram em uma súbita vertigem, e ele precisou olhar para cima a fim de se recompor. Sentiu Howie aproximar-se.
Sim?, disse o outro garoto.
Você consegue distrair a besta? Preciso chegar perto dela. Cal apontou para a boca, tão escura que parecia um buraco no espaço.
Vou ver o que consigo, respondeu Howie, partindo e deixando um rastro de luz ao se arquear para cima. A besta tentou acertá-lo, mas ele era rápido demais, ziguezagueando para evitar o relâmpago. Alguma outra coisa acontecia dentro da tempestade, e a turbina de sua boca girava outra vez. Não fazia barulho no vácuo do espaço, mas Cal pôde sentir sua força quando ela começou a puxá-lo. Desta vez, ele não resistiu; só guardou as asas e se permitiu subir. Abaixo, algo de estranho acontecia nas nuvens, correndo pela superfície do planeta como água ensaboada no banho. Um túnel de vapor serpenteou para cima, sacudindo Cal ao passar. Mas o que... — foi o máximo que conseguiu dizer antes de entender que a besta devorava a atmosfera, o ar, o oxigênio.
Fique calmo, não pense nisso.
Baixou a cabeça, subindo mais rápido, desacelerando apenas ao ouvir a voz de Daisy dentro de sua cabeça.
Cal!
Ele olhou e a viu ali, de asas estendidas. Era como se fosse feita de magnésio incandescente, uma chama tão brilhante que mesmo com os olhos do anjo ele precisou virar o rosto.
Tudo bem?, perguntou ele.
Eu estava errada, falou ela. Parou ao lado dele, que arriscou olhar de novo, tendo a sensação de que pairava ao lado do sol. Cal, precisamos nos entregar. Os anjos querem que usemos nossas emoções, é o único jeito de ficarem fortes o bastante.
O quê? Como você sabe?
Apenas sei, disse ela. Tudo bem ficar assustado.
Não, ela estava errada. O medo o deixaria fraco. Tinha aprendido isso várias e várias vezes nas aulas de artes marciais — a manter o foco, a nunca ficar com raiva, nunca ter medo; do contrário, a derrota era certa. Concentre-se, deixe tudo passar por você, focalize, e então ataque.
Espere aqui, disse ele. Cuide de Adam.
Ignorou os protestos dela, disparando para cima até que a boca do homem estivesse próxima. Dali ela parecia grande o suficiente para engolir o mundo inteiro. Aqueles mesmos flashes de fogo irrompiam de dentro da carne fumacenta da garganta da besta, e lampejos de som ficavam aparecendo no peso ensurdecedor do silêncio, vozes-mentes que poderiam pertencer tanto a Brick quanto a Rilke. Cal estava equilibrado no limiar de um redemoinho, e cerrava os dentes diante do terror que era aquilo.
Ele foi com tudo, sentindo-se tragado para cima com tanta violência que achou que tivesse deixado o estômago para trás. Caiu na maçaroca que girava, sentindo o cheiro do ar e do mar nos vapores ao redor. O mundo abaixo ia encolhendo, pequenino e vulnerável em seu leito de noite sem fim. Em seguida, também desapareceu: a tempestade o engoliu.
Assim que entrou, Cal abriu as asas, a turbulência fazendo sua cabeça girar. Era como estar dentro de uma caverna, só que uma caverna feita de fumaça encaracolada. Nacos de terra e de cidade espiralavam em volta dele em uma dança silenciosa, desintegrando-se ao colidirem. Tudo ali convergia para um ponto distante, um pontinho de treva absoluta. Ela tinha razão, pensou ele. É um buraco negro. Entre ele e o buraco, preso no fluxo de matéria a girar, havia um orbe bruxuleante de fogo que tinha de ser Brick ou Rilke. Ou ambos, percebeu, ao ver duas formas ali dentro esperneando e lutando.
Brick!, chamou ele, velejando em sua direção. O vento espocava contra seus ouvidos, tentando agarrá-lo, e ele precisou usar toda sua força para resistir. Brick! Rilke!
Socorro!, gritou Brick. Raios dentados de eletricidade faiscavam deles, liberando uma energia fria e espinhenta que Cal era capaz de sentir contra a pele. Permitiu-se chegar mais perto e perdeu o equilíbrio, subitamente sendo atraído para a garganta. O empuxo era forte demais. Cal não conseguia manter-se ali. Se chegasse mais perto deles, correria o risco de ser estraçalhado.
Brick teria de esperar. Cal gritou. Ali, debaixo da couraça da tempestade, seu ataque foi como uma granada lançada por um foguete, mergulhando fundo na parede antes de explodir. Abriu a boca outra vez, deixando o anjo falar, um massacre de força que abriu caminho até o buraco negro à frente.
Cal sentiu a tempestade se agitar, um gigante afundando, mas a inspiração infinda estava mais forte do que nunca. Sentiu-se preso nela, seu anjo ardendo em força total, mas ainda sem poder resistir à corrente. Não era suficiente. Ele não era suficiente.
É sim, Cal, ouviu Daisy dizer, um sussurro no meio de sua mente. Mas você precisa usá-las, você precisa ser você.
Usar o quê? Suas emoções? Ele tinha visto o que aquilo tinha feito com Brick e Rilke. Tinha enlouquecido os dois. Ainda agora enxergava o modo como tinham se arranhado, se mordido, enfrentando-se no éter. Limpe a mente, concentre-se, ataque.
Confie em mim, Cal.
E ele então confiou. Mais do que tudo.
Respirou fundo, e então soltou: todo o medo, toda a tristeza, toda a confusão e toda a fúria, a sua fúria. Ela disparou no estômago, no coração, na cabeça, um fogo puro e branco que irrompeu de sua boca. O ar rugiu, um facho de luz cruzou a tempestade, cortando a pele da nuvem, perpassando a carne esfarrapada. Cal gritou até achar que iria virar do avesso. A emoção ainda fervilhava, um estoque infinito dela, uma vida inteira dela, dando-lhe força, dando poder ao anjo. Abriu a boca e gritou de novo, o mundo em volta dele finalmente se acendendo.
Rilke
Termosfera, 16h03
Rilke precisou fechar os olhos para se proteger do súbito brilho das explosões, mas não havia som, nem trovão, só os gritos patéticos do garoto em chamas.
Por favor, por favor, me deixe ir embora!
Não que ele ainda ardesse. Só havia um brilho débil cobrindo sua pele, e mesmo esse brilho se apagava e se acendia como uma vela ao vento. Rilke o mantinha à frente, usando as mãos que não eram realmente mãos para protegê-los. O mundo não era nada além de fumaça e sombra — não havia solo nem céu, só um túnel de trevas enrodilhadas pontuadas por explosões. Aquilo tentava sugá-los, mas as asas dela mantinham os dois parados. Estava tão cansada, e tão confusa, que não se lembrava se já tinha sido diferente. Quase tudo dentro dela estava gasto agora, mas tudo bem. Só tinha mais um trabalho a fazer, depois poderia ir para casa e ficar de novo com o irmão.
Porém, o menino em chamas não morria.
Estendeu as não mãos, apertando a cabeça do garoto. O fogo dele ardia onde ela encostava, crepitando e cuspindo. Era como uma segunda pele, encouraçada, que ela não podia atravessar. Mas toda boneca podia ser quebrada. Ela o sacudiu, batendo-o contra uma ilha flutuante de pedra, quebrando-a em mil pedacinhos.
Por favor, não sou quem você pensa!, gritou o garoto dentro da cabeça dela, sua voz como o zumbido de uma mosca-varejeira, inquietante. Por que ele não parava? Puxou-o de volta para si, mantendo-o parado, examinando o brilho derretido de seus olhos. Ele estendeu a mão para ela. Não o machuquei. Não fui eu.
Talvez ele não morresse porque estava dizendo a verdade. Será que ela podia acabar com ele se fosse inocente? Mas Schiller era inocente, e tinham acabado com ele. Tudo era muito confuso. Imaginou o irmão, seu belo rosto, tão parecido com o dela e, ao mesmo tempo, tão diferente. Seu cabelo loiro, aqueles olhos azuis grandes e redondos. As asas de fogo que se estendiam de suas costas...
Ei, isso não podia estar certo, podia? O irmão dela não era o garoto com asas.
Estendeu a mão, a mão que sempre fora dela, sentindo o buraco na cabeça, a dor que pulsava ali. Onde tinha arranjado aquilo? Quem tinha feito isso com ela? Tinha uma lembrança de uma figura em chamas, de um anjo com asas, ardendo em sua cabeça. A coisa na frente dela, aquele trapo chorão, não tinha nada a ver com aquilo.
O que ela estava fazendo?
As últimas reservas de força dela foram sugadas. Era demais. Tudo o que queria era estar com Schiller, de volta na biblioteca de casa, sentada junto da janela enorme, mergulhada em sol, respirando o ar pesado e poeirento. Sempre haviam estado em segurança ali, protegidos dos estranhos, protegidos da mãe, protegidos dos homens. Aquele era o espaço deles, sempre seria.
Schiller, disse ela. Soltou Brick mentalmente, o garoto já meio esquecido quando rolou para longe. Estou indo, disse ela. Espere por mim.
Ela não sabia para onde ir, mas, com certeza, se se limitasse a relaxar, chegaria lá. Ela recolheu as asas, sentindo a corrente de ar envolvê-la com uma mão fria, puxando-a. Não era isso o que acontecia quando você morria? Um túnel? Uma luz no final? Não havia nada no final deste túnel, ao menos nada que ela enxergasse, embora pressentisse a morte ali, mais real e mais certa do que qualquer outra coisa.
Socorro! Era o garoto em chamas de novo, flutuando ao lado dela, esperneando contra o ar. Ela o ignorou, sorrindo ao flutuar docemente pela corrente, para o fim de tudo, para o irmão, nos braços da morte.
Entregou-se à morte. Para ela, era o fim.
Daisy
Termosfera, 16h07
Daisy soltou mais um disparo do canhão que era sua boca, um míssil alimentado pelas emoções que a tomavam, o qual perfurou o rosto do homem na tempestade, explodindo na carne de fumaça. Agora já não havia quase mais nada dele, só aquela boca escancarada, um buraco no espaço que ficava girando, engolindo tudo o que conseguia.
Cal estava lá dentro em algum lugar. Brick e Rilke também. Estavam todos ainda vivos, isso Daisy sabia, mas a garota não sabia se estavam vencendo ou não. Explosões silenciosas lançavam teias de luz que ondulavam dentro da escuridão, e línguas de fogo protuberantes se esgueiravam pela pele de nuvem.
Daisy baixou o olhar para a tigela azul de seu planeta. Sempre parecera tão vasto, todo lugar sempre dando a impressão de ser tão longe. Agora, porém, ela podia estender os braços e segurá-lo entre eles. Parecia tão frágil.
Você não vai ficar com ele!, gritou, virando-se, abrindo a boca e soltando outro grito, um grito de cólera, que explodiu dentro da tempestade, sendo ecoado por outras três ou quatro detonações em sua garganta. Cal. Não havia sinal de Howie, mas ela podia ouvi-lo gritar. Adam estava perto, um pontinho de luz suspenso abaixo. Quase o chamou para perguntar se estava bem, antes de lembrar que ele não podia responder.
Não, não é que não podia. Não queria.
Ela parou, fechando a boca, lembrando-se do dia em que Adam chegara a Fursville. Estavam sentados em torno da mesa, tentando entender o que acontecia, apenas alguns dias — alguns milhões de anos — atrás. Era Brick, isso, fazendo tum-tum, tum-tum, assustando o menino. E Adam gritou, o som daquilo rasgando o ar, quebrando vidros, apagando a vela. O medo tinha feito isso com ele, o grito de seu anjo não nascido. O único som que fizera em todo o tempo em que o conheciam.
Adam!, chamou ela, mergulhando em sua direção. Parecia tão assustado, as pernas contra o peito, o rosto protegido pelos braços cruzados. Ele lembrava uma pequena tartaruga, mas com um casco de fogo. As asas reluzentes estavam estendidas, mantendo-o em órbita. Eram imensas e brilhantes.
Ela o puxou para perto com a mente e, em seguida, abraçou-o. O espaço entre os dois crepitava e cuspia, uma força invisível tentando separá-los; era como tentar manter uma boia debaixo d’água, mas Daisy segurou firme.
Sei que está com medo, disse ela. Sou eu, Adam, Daisy. Olhe para mim.
Ele ergueu a cabeça, aqueles olhos enormes e incandescentes sem jamais piscar. Daisy sorriu para ele, dolorida pelo esforço de mantê-lo próximo. Ela não o soltava.
Sei que tudo isso é muito louco. Mas confie em mim. Eu vou cuidar de você, Adam, sempre. Prometo. Tudo bem?
Ele fez que sim com a cabeça. Daisy olhou para trás e viu algo formar-se no caos da tempestade.
Sei que isso assusta, por isso tudo bem ficar com medo. Todos estamos com medo. Eu, Cal, o novo garoto, estamos todos com medo. Acho que é para ficarmos com medo.
Ele franziu o rosto, o próprio semblante parecendo o de um fantasma debaixo da pele de fogo.
É como... Ela tinha dificuldade para encontrar as palavras certas. É como quando uma coisa muito ruim acontece e você quer gritar, sabe? Mas você não grita porque não quer levar bronca. Sabe como é? Os seus pais brigavam com você quando você gritava?
Ele fez que sim com a cabeça, e ela visualizou uma imagem, emitida da cabeça dele para a dela, uma casinha, repleta de lixo — não havia um trechinho de chão visível embaixo da bagunça. Uma sala de estar, cheia de fumaça de cigarro fedorenta e do cheiro de vinho, mas não do vinho bom que a mãe e o pai dela às vezes compravam, e sim de algo mais forte e mais rançoso. Um quarto, também, repleto de brinquedos quebrados. Ali não era permitido fazer barulho, ainda que a televisão estivesse berrando no quarto ao lado, ainda que ela, Daisy, sentisse seu estômago — que não era realmente o seu — torcer de fome, ainda que ela estivesse com frio e cansada. Fazer barulho traria o homem, o homem que ela não via, mas que tinha um odor tão asqueroso e fétido quanto a casa. Melhor ficar em silêncio, guardar tudo, não chorar nunca.
Ah, Adam, falou ela. Era assim que eles eram, seu pai e sua mãe? Eram horrendos assim?
Ele esperneou para se afastar, como se estivesse com vergonha, mas ela continuou abraçando-o, como se o espaço entre eles estivesse prestes a explodir. Outra lembrança — Adam chorando no escuro depois de um pesadelo, uma figura abrindo com força a porta do quarto, irrompendo no ambiente, batendo nele com tanta força que o menino viu estrelas. Ela sentiu a dor como se fosse dela, o sangue na boca, a raiva também. Sentiu a confusão em sua barriga.
Ele batia em você?, perguntou ela, sem acreditar. Precisava se livrar daquilo; a sensação era horrível. Sentia Adam fazendo a mesma coisa, escondendo aquilo bem lá no fundo, onde não poderia lhe fazer mal.
Não, falou ela. Não fuja. Use isso! Todo esse negócio aí dentro, você precisa colocar para fora. É como uma parte ruim em um pêssego, um pedaço podre. Se você cortar, tudo bem, mas, se deixar, ele vai apodrecer tudo. Ela balançou a cabeça, tentando pensar em um jeito melhor de dizer aquilo. Você precisa pensar em tudo, em toda a raiva, em toda a tristeza, em todo o medo. Ponha para fora, Adam, por favor. Apenas grite, e grite, e grite!
A boca de Adam se abriu e ela quase conseguiu sentir, subindo em borbulhos dentro dele, anos e anos de tristeza e silêncio, uma represa prestes a se romper.
Isso!, falou ela. Sabia que você ia conseguir, eu sabia!
Estava quase lá, quase fora dele.
Os olhos de Adam se arregalaram, seu rosto se retorcendo em uma máscara de horror. Daisy levantou a cabeça, vendo tarde demais uma gui- lhotina de fumaça que caía bem em sua direção. Estendeu a mão antes de perceber que fazia isso, abrindo a porta do mundo, empurrando Adam por ela.
Você consegue, Adam. Eu te amo.
O ar entre eles explodiu como uma bomba quando se separaram, um incêndio de luz branca que a mandou girando espaço afora.
Cal
Termosfera, 16h13
Ela simplesmente sumiu.
Cal se virou e olhou através da fumaça. Em um instante, Daisy estava ali; no outro, tinha sido envolta em trevas, levada para longe. Procurou-a em sua cabeça, mas não podia dizer se era a voz dela ou só o eco.
Daisy?, chamou. Nenhuma resposta. Ele bateu as asas, indo contra a corrente, forçando um caminho para fora da tempestade. O ar acima irrompeu em cinzas, e uma figura apareceu ali. Adam franziu o rosto ao ver Cal, suas asas tendo espasmos enquanto tentava controlá-las.
O que aconteceu?, perguntou Cal. A resposta estava no rosto do garotinho no instante em que ele olhou o vazio. Ela tinha sumido. A raiva dentro de Cal fulgia, uma supernova que ardia em seu centro. Olhou para a tempestade, o homem espaçosamente deitado em seu leito de nuvem, engolindo o mundo. Ela era só uma menina! Seu canalha, era só uma menina! A tristeza era insuportável, como se o queimasse por dentro.
Olhou para Adam e viu em seus olhos estreitados a mesma indignação. O garotinho não sabia como lidar com aquilo, com o medo, a raiva.
Mas seu anjo sabia. Cal praticamente visualizava a emoção ali, além da névoa transparente de sua pele. Era algo que não se parecia com nada no mundo, átomo nenhum girando na órbita, nenhuma faísca elétrica, só uma bola de luz, mais brilhante que o sol, subindo pela garganta do garoto.
Grite!, disse Cal. Por favor.
Adam abriu a boca e berrou o nome de Daisy.
O grito se desprendeu dele como se um lança-chamas tivesse disparado com o rugido de uma turbina de avião, luminoso o bastante para sugar toda a cor do mundo. A onda de choque atingiu Cal como um punho, fazendo-o girar. Abriu as asas, vendo o fogo do garoto socar a tempestade, cortando seu caminho pelo rosto da besta. E ele parecia continuar interminavelmente. Podia não ter mais ar nos pulmões, mas mesmo assim berrava, num incêndio que iluminava o céu.
Cal sentiu as engrenagens da mente protestarem ao ver aquilo, a imponderabilidade daquilo. Era demais. O anjo dentro dele pareceu alimentar-se do que havia de febril em sua emoção, tirando-a da alma, expulsando-a pela garganta. Cal sufocou-se com ela, engasgando enquanto cada coisa ruim da vida era subitamente regurgitada. Pensou em Daisy, sempre sorrindo, sempre corajosa, sempre pronta para abraçá-lo com aqueles bracinhos de palito. Tudo aquilo tinha acabado. Ela tinha acabado.
Ele urrou para a tempestade, cuspindo um incêndio de luz e chamas, purgando-se. O ar sacudiu com o poder daquilo, o mundo abaixo gemendo enquanto a física da qual ele dependia começava a fraturar-se. As vozes dos dois ardiam incansavelmente — sua fúria sem fim, sem misericórdia.
O fogo deles estava afastando as nuvens da tempestade, revelando as pálidas fendas de carne estendidas abaixo. O motor daquela boca estava falhando, girando e depois parando, girando e depois parando. As trevas se afastaram, como se a besta vomitasse o vazio atrás do universo.
Mesmo assim, Cal gritava, ainda que tivesse a sensação de que se afogava, ainda que seu cérebro lhe pedisse para parar. Mas não achava que seria possível, nem se quisesse. Sentia-se um fantasma, como se não tivesse mais lugar dentro da carne e dos ossos de seu corpo. Se morresse agora, não faria diferença, porque seu anjo estava ali. Tinha se encaixado em sua pele como um sobretudo. Achara um jeito de se fazer real.
Essa ideia era assustadora, e seu medo alimentava ainda mais o fogo, que ardia entre seus lábios enquanto gritava, gritava e gritava.
Daisy
Espaço, 16h19
Era o túmulo dela. Um túmulo sem fim.
O punho de fumaça a envolveu, assim como envolvera o poço. Só que, desta vez, não a atraía para o homem na tempestade, mas a projetava para longe dele, do planeta, dos amigos. O caracol de noite liquefeita a devorava por dentro, espalhando-se pela boca e pelo rosto, sufocando-a, cegando-a. Seu anjo trabalhava com força total, combatendo-o. Mas ele não duraria muito mais. Ela podia sentir sua dor em cada célula, sua exaustão. Morreriam juntos, no vácuo frio e escuro do espaço.
Não, era horrível demais. Não queria que tudo acabasse ali, onde não havia sol, nem pássaros, nem flores. Como ela encontraria a mãe e o pai? Atacou-o com os dedos, rasgando a máscara mortuária, descamando-a a tempo de ver um enorme medalhão de prata no céu à frente. Sua mente em pânico precisou de um instante para entender que era a lua, e uma batida de coração depois ela a atingiu, socando através da rocha branca. Outra vez estrondeou em uma enxurrada de detritos, mas não conseguiu desacelerar. Sentia-se um peixe enganchado por uma farpa sombria sendo puxado para fora do oceano.
Estava ficando mais frio, e algo acontecia com sua cabeça — a visão dela começava a falhar. A fumaça a envolveu como se a morte já a possuísse, tudo escuro, silencioso, tirando o zumbido martelante do coração do anjo. Aquilo a estava digerindo, dissolvendo. Quando atacou a fumaça de novo, não havia sinal da terra, nem sinal de nada que não fossem as estrelas.
Não!, gritou. Desta vez, achou que ouviu uma resposta, em algum lugar lá no fundo de si. Era uma voz que conhecia, mas precisou esperar que ela voltasse antes de acreditar. Mãe? É você?
Não era. Como poderia ser? Era só uma parte do cérebro dela tentando mantê-la calma. Não se importava. Como era bom rever a mãe e o pai na luz hesitante da imaginação. A dor escavava as costas dela à medida que a fumaça a sulcava, seu fogo se reduzindo. Quando acabasse, não teria mais defesas contra a tempestade. Ao menos, seria rápido.
Fechou os olhos. Os pais estavam ali, e ela sorriu para eles. Parecia ter sido tanto tempo atrás. Levou-se até eles, de volta ao dia em que tinham feito um piquenique no jardim. A mãe estava fraca demais para percorrer qualquer distância que fosse, mas tinha chegado ao quintal com a ajuda deles, e estava deitada no cobertor à sombra da árvore do vizinho. Um dos gatos da sra. Baird tentara fugir com o almoço do pai enquanto ele estava na cozinha fazendo chá. Daisy o afugentou até metade do caminho rumo à cerca, pegando a coxa de galinha do leito de flores e limpando-a.
— Ele nem vai reparar — dissera à mãe.
O pai voltou e deu uma mordida, e ela e a mãe rolaram pelo chão, rindo com tanta força que Daisy nem conseguia respirar, especialmente quando ele tirou um pelo de gato dos dentes.
Daisy ria agora. O zumbido do anjo ficou mais alto, e ela pôde sentir o súbito rugido de seu fogo quando ele se acendeu.
Ele está rindo também, percebeu. A sensação era diferente de tudo o que já havia sentido, como se seu corpo inteiro fosse feito de som. Mesmo que estivesse, como de fato estava, longe demais para encontrar o caminho de volta, mesmo que a fumaça quisesse enterrá-la no nada infinito do universo, ela sorria.
O que mais havia? A vez que tinham ido a uma fazenda de salmão na Escócia, e o pai tentara andar no teleférico acima do lago. Ele sentou do lado errado e acabou dentro d’água até a cintura — embora tivesse passado o dia inteiro dizendo a ela para não se molhar. Tiveram de mandar o bote resgatá-lo. Ela riu, a barriga doendo, o fogo ardendo como se tivesse colocado uma boca de fogão na potência máxima.
Não entendia de onde vinham essas memórias, mas sua cabeça de repente estava repleta delas, cada uma mais brilhante do que a outra. Seu anjo parecia uma criança ouvindo música pela primeira vez, com fogo por fora e por dentro. Seu próprio riso pulsava de cada poro, absolutamente desconhecido e familiar ao mesmo tempo. Era um não som na mente, um badalar como o de sinos. Ele talhava a fumaça como uma coisa física, cortando-a, soltando faixas de noite que se retorciam.
Você é ridículo!, disse ela, falando com o homem na tempestade, com a besta que bramia no céu distante. Poderia comer tudo o que quisesse, mas jamais poderia vencer, jamais. Como poderia triunfar enquanto houvesse riso no mundo? Eu não tenho medo de você, você é uma piada, você não passa de uma piada!
O riso dela — o riso do anjo — explodiu contra a fumaça, quebrando-a em feixes. Do outro lado, havia uma extensão de estrelas tão imensa que Daisy não podia absorver tudo com o olhar. Era como se estivesse suspensa no centro de um vasto planeta vazio cuja crosta fosse cravejada de diamantes. Eram milhões, bilhões, de cores diferentes, todas muito distantes. Ela girava, hipnotizada, aterrorizada, pensando: qual é o meu planeta? Ah, meu Deus, qual? Mesmo com os olhos do anjo, todas as estrelas pareciam iguais. Podia voar para qualquer uma delas só com um pensamento, mas precisaria de todo o tempo que lhe restava para achar o caminho de casa. Morreria ali, mas não precisava morrer sozinha.
Fechou as asas em torno de si, deixando as lembranças escorrerem por ela como a luz do dia. O anjo as bebia, nutrindo-se delas, ficando mais forte, seu fogo tão brilhante que ela sentiu que precisava recuar um passo na própria cabeça. Ele queria mais, e ela entendeu.
Começou a buscar mais memórias. A vez em que a cadeira de Chloe quebrou enquanto ela estava sentada na aula de inglês, e ela praticamente saíra rolando porta afora. Daisy tinha quase feito xixi nas calças de tanto rir.
Apesar do medo, Daisy ria, o anjo ria, o som daquilo expulsando o fim da fumaça. Desta vez, até o vácuo do espaço permitia, o som ecoando em seus ouvidos. No caminho todo até ali, só tinha havido ausência. Nada mais do que ausência, infinita e insuportável. Aquele lugar, o vazio entre as estrelas, era o que ele gostava, o homem na tempestade. Ele queria deletar tudo para que só restasse aquilo.
Bom, ela não deixaria, de jeito nenhum. Preencheria tudo com riso.
Desta vez, Fursville, andar nos cavalos do carrossel com Adam e Jade. Depois brincar de pega-pega, perseguindo uns aos outros no chão ensolarado, as pernas magricelas de Brick escorregando no cascalho, seu riso agudo e surpreendente. A Fúria não importava. Nada importava. Ali, naquela hora, apesar de tudo, tinha sido feliz.
Ela riu, o anjo ardeu, tomado pela maravilha de tudo aquilo. Ele emanou um badalo silencioso que cortou o vácuo e encontrou um eco nos outros anjos, um chamado que conduzia ao lar.
Daisy estendeu as asas, sintonizou-se, ardeu e se consumiu.
Brick
Termosfera, 16h27
Brick nadava contra uma corrente que era forte demais para ele, braços e pernas inúteis contra o fluxo de ar. Ainda ardia, mas não tinha energia para se transportar. Rilke tinha feito seu melhor para matá-lo e devia ter chegado perto, porque tudo nele doía, tudo parecia fora de lugar. Seu anjo tinha aguentado o que podia, e agora funcionava com quase nada.
A tempestade seguia enfurecida em volta dele, sugando-o para sua garganta, de volta ao buraco no fim do mundo. Pedaços de planeta passavam flutuando, rompendo-se no caminho, e através dos detritos Brick a vislumbrava, vislumbrava Rilke, brilhando como o sol mas recusando-se a lutar. Ele não entendia o que ela estava fazendo. Era como se tivesse desistido. Se quisesse, ela poderia tirar os dois dali. Estava ferida, sim, mas só seu corpo humano. O anjo ainda funcionava com força total.
Rilke!, chamou ele de novo, no que devia ter sido a centésima vez. Por favor, não faça isso!
A tempestade se agitou, aquela mesma artilharia detonando em algum lugar do lado de fora. Agora havia também outra coisa, algo que rugia mais alto do que o furacão. O que quer que fosse, tinha de estar funcionando, porque as nuvens giravam mais devagar, e a corrente estava mais fraca.
Mas não fraca o suficiente. Ele deslizava pelo esôfago da besta, sem conseguir firmar-se. Ela ia engoli-lo inteiro, no vazio infinito de seu estômago. Essa ideia — de uma eternidade de nada, de uma eternidade sozinho — o fazia uivar, o som saindo tanto dele quanto do anjo. Não queria morrer sozinho. Tinha ficado sozinho por tempo demais, sem deixar ninguém entrar em sua vida, nem mesmo Lisa. Sua raiva sempre o tinha preenchido, nunca dera espaço para mais nada.
Rilke, espere!, clamou. Se ela ouvia, não dava sinal, flutuando contra a corrente em sua teia de fogo. Ele esperneava em pleno ar, sentindo-se um paraquedista em queda livre. Resistir à corrente era uma coisa, mas cruzá-la era outra. Ela estava ligeiramente à frente dele, e ele girava braços e pernas, aproximando-se — Espere, pelo amor de Deus! — talvez dez metros, depois cinco.
O ar entre eles começou a faiscar, como se alguém soltasse fogos de artifício. Dedos invisíveis puxaram-no de volta, e ele pensou que poderia ser ela tentando afastá-lo. Porém, ela sorria, como se estivesse no meio de um sonho acordado.
Rilke!, disse ele, usando o que restava de força para se empurrar na direção dela. Raios de energia zapearam por seu braço quando pegou o pé dela. Ele a escalou como se ela fosse uma escada, assustado demais para se soltar. Exatamente como antes, quando brigavam, o zumbido de seus corações ficou mais agudo, soando como se estivessem prestes a estourar. Ele a abraçou, grato apenas por ter alguém ao lado enquanto girava rumo ao fim.
O que você quer?, perguntou Rilke, mirando às cegas da concha que era seu corpo.
O que ele deveria dizer? Que não queria estar sozinho quando fosse devorado pela besta? Não respondeu, só continuou agarrado a ela. Não ia demorar muito mais, o buraco negro bem à frente, nuvens de matéria espiralando-se em volta dele, sendo esmagadas até virar poeira e sendo depois sugadas. Até o som estava sendo puxado, restando apenas o silêncio.
Não é tarde demais, disse ele, com a voz muito alta naquele silêncio. Você pode tirar a gente daqui.
Estou cansada, respondeu ela. Só quero ir para casa. Quero ver Schiller.
A tempestade sacudiu de novo, pedaços dela desabando enquanto o ataque continuava do lado de fora. Ele se agarrou a Rilke com os braços trêmulos, sentindo a pressão aumentar entre eles. Não poderia se segurar por muito mais tempo, mas não precisava. Em segundos, apenas desintegraria; seria como se nunca tivesse existido.
Não queremos você aqui, disse Rilke. Enfim os olhos dela se voltaram para ele, duas poças de chumbo derretido e uma terceira no meio da testa, aquela que ele tinha feito. Ela ergueu os braços e o empurrou, mas ele se manteve preso a ela com toda a força. Só eu e meu irmão. Vá embora.
Não, falou ele.
Vá embora!
Ela o empurrou com força, escorregando das mãos dele. Os dois estavam agora no silêncio profundo e ensurdecedor, deslizando para o buraco negro. Rilke já se desfazia, pedaços dela se soltando como se fosse feita de areia. O anjo ardia, tentando mantê-la integrada. Brick puxou-a para perto outra vez, seu terror tão intenso que não encontrava semblante através do qual se revelar. O ar entre eles pulsava, cuspindo fogo líquido, mas Brick enfrentava aquilo. Não se soltaria, não encararia o fim sozinho.
Um clarão ofuscante surgiu e, de repente, ele estava dentro de uma sala, uma biblioteca, observando grãos de poeira vagando preguiçosamente entre as prateleiras. Schiller estava sentado em uma janela na frente dele, a respiração umedecendo o vidro. Não havia nada ali além de dourado, como se a sala flutuasse em um oceano de luz solar. Brick chorava, mas entendia que as lágrimas não eram dele, que pertenciam a outra pessoa, a Rilke.
— Ele se foi — disse Schiller, voltando-se para Rilke, para Brick. — Não vou deixá-lo machucar você de novo, prometo.
— Eu sei, irmãozinho, eu sei — ele se ouviu dizer. — Vamos proteger um ao outro, para sempre. Eu te amo.
Schiller se inclinou para a frente e o abraçou, e a memória — Aquilo era uma memória? — esvaneceu. Tinha sido tão real que Brick quase esquecera o homem na tempestade, o buraco negro no fundo da garganta dele. Olhava para Rilke, vendo a vida dela como se tivesse sido a dele: o pai sumido há tempos, a mãe louca, e o homem, o homem mau que dizia ser médico. Seu rosto apareceu, o bafo de café e álcool, as unhas compridas e sujas. Brick quase berrou, forçando a memória a se afastar, a dor que vinha com ela. Esperneava, tentando ficar preso a Rilke, sabendo que ela precisava dele tanto quanto ele precisava dela.
Não preciso, disse ela. Eu tenho Schiller. Sempre vou ter Schiller.
Ele não está lá dentro, falou Brick, ambos se dissolvendo na luz sombria do buraco negro. Não tem nada lá, está vazio. Schiller se foi.
Os olhos deles se encontraram, e ele percebeu que, lá no fundo, além da loucura, além da exaustão, ela sabia a verdade.
Não importa, disse ela. Vou encontrá-lo.
Rilke sorriu, os lábios explodindo em cinzas. Brick sentiu os dedos escorregarem quando o corpo dela se desfez, tentando pegá-la com as mãos em concha, juntá-la. Assim que se separaram, o ar entre eles se acendeu, a mesma explosão nuclear de antes fazendo-o subir de volta pela garganta da besta. Rolava como um pião, impelido por uma onda de energia. Chamou Rilke, tentando alcançá-la com as mãos, com a mente, tentando levá-la junto.
Mas era tarde demais. Ela se fora.
Cal
Termosfera, 16h29
Ele cuspia fogo, e a tempestade queimava.
A besta se desfazia, seu corpo virando fumaça, só a boca ainda suspensa acima do chão, ainda escancarada. Mesmo ela perdia sua força, sua inspiração não muito além de um sussurro. Nacos de detritos semidigeridos caíam dela, junto com fios bruxuleantes de luz negra. Era quase como se o homem na tempestade virasse a si mesmo do avesso.
Adam pairava como um dragão, com a mesma pluma de fogo integrado rugindo dos lábios. Howie também urrava jatos de magma da boca. Os dois faziam o céu tremer. Cal em momento nenhum parou de pensar em Daisy, a tristeza e a raiva alimentando o incêndio dentro dele. Nunca pararia de pensar nela.
Isso é muito fofo, disse uma voz, a voz dela. O choque cortou o grito ardente do anjo, e Cal olhou para o firmamento. Uma das estrelas se movia, caindo em direção à terra. Ela emanava um som, e ele precisou de um instante para perceber que era riso.
Daisy? Mas como?!
Não sei, disse ela, bruxuleando fora de seu campo de visão antes de reaparecer ao lado dele em um halo de cinzas incandescentes. Ele a mirou, boquiaberto, e ela riu ainda mais.
Vai engolir uma mosca se ficar com a boca aberta desse jeito.
Então ela se jogou nos braços dele, o ar entre os dois estalando em protesto. Ele abriu um sorriso enorme, abraçando-a com toda a força. O alívio era como um rio irrompendo em sua alma.
Use-o, disse ela, desvencilhando-se e olhando a besta.
O quê?
Isto, disse ela, apontando o peito dele. Isto.
Ele usou, rindo um relâmpago de fogo que flagelou a treva evanescente da tempestade. Daisy fazia a mesma coisa, o som das risadas como um canto de pássaro. Adam tinha parado para recuperar o fôlego, e, ao ver Daisy, também começou a rir. Não só ele, mas também o anjo. Cada jato de som era uma arma que rasgava o vazio acima de suas cabeças.
O homem na tempestade tentava arder e sumir, mas suas asas estavam em farrapos. Os cotocos se moviam em espasmos, como os de um corvo ferido, o relâmpago apenas ondulando na superfície. O ar estava repleto de movimento, uma saraivada de penas negras caindo. Ele já não emitia nenhum som, só os estertores lamentáveis de uma coisa moribunda. Um último suspiro desesperado.
Uma pérola de luz branca apareceu no coração das trevas, parando um momento como uma gota de orvalho. Ela se expandiu em um instante, como uma supernova silenciosa. Cal mergulhou a cabeça no braço e, quando olhou de novo, a besta estava perdida no silêncio. Uma figura solitária precipitava-se do inferno frio, girando pelo ar como uma boneca de pano em chamas.
Brick, disse ele. Mas Daisy já estava em seu encalço, voando para longe da existência e reaparecendo quase instantaneamente com o outro garoto nos braços. Ele estava vivo, mas por um triz, toda parte dele despojada do fogo do anjo, exceto os olhos. Tinha perdido as asas: uma por completo, e a outra parecia um lenço pendendo do ombro.
Tudo bem, cara?, perguntou Cal.
Rilke, disse ele. Cal procurou-a na mente, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele olhou para Daisy, os olhares se encontrando, e ela também entendeu. Rilke tinha desaparecido, mas levara consigo meia tempestade.
Vamos, disse Cal. Não havia praticamente mais nada dele, sua mente e seu corpo vazios. Mas havia o suficiente. Cal bateu as asas, subindo rumo à tempestade. As nuvens se dissipavam agora, como ratos desertando de um navio que afundava. Atrás delas havia um espantalho de carne velha, uma ferida aberta que emitia luz negra. Tinha chegado ao fim. Estava morto. Terminado. Vamos acabar com isso de uma vez.
A Fúria
Termosfera, 16h32
Cal lutava. Disparava com cada pedaço de si, com cada resto de emoção. O anjo fazia o que fazia, convertendo-a em energia, em fogo, urrando contra a besta. O homem na tempestade agora não era nem uma coisa nem outra. Tudo nele tinha sido praticamente arrancado, deixando apenas aquele núcleo giratório, aquele orbe negro, como um mármore de obsidiana no céu. Até isso encolhia, a luz negra se extinguindo. Assim como os anjos, ela não podia resistir sozinha, pensou Cal. Sem seu hospedeiro, não era nada. Bombeava ondas de silêncio ensurdecedor, cada qual como um grito invertido. Cal sentia que seu corpo nem lhe pertencia mais. Sentia-se desajeitado por dentro, como se operasse uma máquina desconhecida. Mas não importava. Sentia a alegria emergir, subindo pela garganta e ardendo de sua boca. Nada mais importava, porque tinham derrotado a besta; tinham vencido.
Brick lutava, ainda que não conseguisse segurar o próprio peso. Daisy o mantinha suspenso no ar, a mente como uma correia em volta dele. Ele mal enxergava. Sua cabeça era um caos de ruído branco. Mas sabia o que fazer, os braços pelo éter, de algum modo encontrando a energia para atacar o que restava da tempestade. Tudo em que conseguia pensar era Rilke. A garota que tinha matado Lisa, que tinha tentado matá-lo; a garota cujo irmão fora assassinado; a garota cuja mente ele destruíra, cuja sanidade ele tinha arrancado pelo buraco em sua cabeça; a garota que fora tão triste, tão enfurecida, que se recusava a conversar com todo mundo sobre isso, inclusive com o irmão — tão parecida com Brick, tão parecida com ele. Não a entendia, nem o que tinha acontecido, mas a raiva dela agora pertencia a ele, e ele podia usá-la, como aliás o fez, gritando até a besta sumir. Esta é por você, Rilke, sinto muito, espero que encontre seu irmão. De verdade, sinto muito, sinto muito, sinto muito...
Howie lutava, o fogo dentro de si tão natural que ele se perguntava se tinha sido sempre assim, se tinha acabado de acordar de um sonho de uma vida normal, de um sonho de uma família perto do mar, com amigos, com noites na praia bebendo rum. Como qualquer coisa ali poderia ser real? Tudo parecia artificial demais, algo que ele poderia ter visto na TV. A verdade é que agora era uma criatura cuja energia era capaz de destroçar o mundo com apenas uma palavra. A tempestade era agora um trêmulo floquinho de sombra na tela brilhante do espaço. Ela bruxuleava, raízes venenosas de luz crescendo dela, sumindo quase de imediato. Howie atacava, pisoteando-a com a mente como se esmagasse um besouro, de novo, de novo e de novo. O som era como o do trovão. Não queria adormecer nunca, nunca voltar para a vida de sonho, para o lugar em que não tinha força. E seu anjo também não queria, percebeu ele, porque, se o deixasse, o único lugar para onde iria era a escuridão, a gelidez, o lugar fora do tempo. Ele se agarrava ao anjo, sentindo seu fogo congelante arder dentro da alma, rindo.
Adam lutava, gritando para a besta, vendo o rosto da mãe no céu, o do pai também. Tinha tanta raiva deles, ele os odiava. Durante aqueles anos todos, o tinham mandado calar a boca, ficar quieto, parar de reclamar, parar de chorar. Não mais.
— Agora quem fala sou eu! — gritou ele, e a voz era ainda mais alta do que a da mãe e a do pai quando berravam, mais alta ainda do que a do homem na tempestade. Era a coisa mais alta do mundo, e era dele. — Estou falando, e vocês não podem fazer nada! — Ele não permitiria que o machucassem nunca mais, não toleraria aquilo. Nunca mais queria vê-los, e não precisava se não quisesse. Moraria com Daisy, com Cal, talvez até com Brick, apesar de ele resmungar o tempo todo. Ele olhou para eles, que reluziam ao sol como enfeites de árvore de Natal. Eram todos feitos de fogo, exatamente como ele. Eram seus irmãos e irmã, e ele os amava tanto que seu coração doía. Gritavam para o céu e ele também, todos juntos, tal como seria para sempre.
Daisy lutava. Não parecia que lutava, porém, porque tudo o que fazia era rir. Aquilo borbulhava dentro dela como se tivesse ficado represado um milhão de anos, mas enfim em liberdade. Não conseguiria parar nem se quisesse. Cada risada era uma chama dourada despejada pela boca, lembrando-a do vapor que saía por ela em dias frios. Elas subiam até o homem na tempestade, indo parar em sua pele velha e nojenta, sufocando-o. Não que ainda restasse muito dele; só um círculo de trevas, um buraco gigante afundado no céu. Ele ficava menor e mais pálido, o universo em processo de cura. Daisy abriu as asas e voou até ele, ainda rindo de alívio. O anjo ria também, o zumbido como um diapasão, fazendo com que cada célula em seu corpo parecesse mais leve do que o ar. A tempestade tinha se encolhido para longe dela, que chegou a sentir pena da besta, porque jamais poderia saber o que ela sentia. A besta — embora não fosse realmente uma besta, pois, diferente de um animal ou uma pessoa, não estava de fato viva — vagava pelo vazio frio e escuro do espaço procurando vida, porque não a suportava. Tudo o que conhecia era o nada, a ausência. Para ela, este mundo era um equívoco, uma lacuna horrenda nas regras, algo que não podia ser tolerado, que tinha de ser reequilibrado, ajustado. Mas ela não contara com os anjos, nem com as pessoas. E, por certo, não contara com o riso. Se havia algum oposto exato do vazio, daquele nada infinito que ela tanto amara, tinha de ser o riso, não tinha? Não havia nada mais humano. Daisy lutava contra a tempestade, atingindo-a, ela que agora não passava de um grão de poeira que a garota podia prender entre dois dedos, logo menor do que os diminutos átomos que compunham o ar, enfim tão pequena que nem os olhos do anjo de Daisy a entreviam, pequenina o bastante para cair no meio das fendas do mundo. Uma única centelha de relâmpago negro bruxuleou pelo céu, e então Daisy sentiu seu fim, tudo o que ela era irrompendo em uma explosão ondulante. A onda de choque lançou-a para trás, e ela ardeu para fora do tempo e do espaço, levando consigo os outros, surfando ao som do riso até chegar em casa.
Noite
Do tempo triste somos os arrimos;
digamos tão somente o que sentimos.
Muito o velho sofreu; mais desgraçada
nossa velhice não será em nada.
William Shakespeare, O Rei Lear
Cal
Hemmingway, 16h47
De início, não sabia onde estavam. Então o mundo os alcançou, envolvendo-os com seu braço, e, através do halo espiralante de cinzas, ele o reconheceu. À direita estava o mar, ainda perturbado, mesmo após aquele tempo todo. À esquerda havia um estacionamento e uma pequena construção achatada com as portas presas com tábuas. O chão ainda estava coberto de cinzas — menos agora, mas o suficiente para mostrar pegadas, e também marcas de pneu, de quando haviam partido naquela manhã. Tudo parecia diferente aos olhos do anjo, mas, quando foi para dentro da mente a fim de tentar se desconectar do fogo, nada aconteceu.
Acabou? A voz era de Brick, e Cal, virando-se, viu-o deitado no chão, apoiado contra a duna. Seu fogo ainda ardia, mesmo que fraco, e o garoto se arrastava desconfortável nele. Seus grandes olhos brilhantes piscavam.
Melhor que tenha acabado, falou Howie, pairando acima do chão ao lado dos banheiros, com as asas semidobradas. Porque eu estou completamente acabado.
Acho que acabou, sim, disse Daisy. Ela e Adam ficaram lado a lado, os anjos zumbindo alto o suficiente para erguer areia e cinzas em uma dança. Outro ruído veio dela, um badalo de cristal que criou uma sensação estranha na cabeça de Cal. O homem na tempestade está morto.
Tem certeza?, perguntou Brick. Daisy inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse ouvir algo. Após alguns instantes, ela fez que sim.
Tenho certeza. Você não sente? Ele se foi.
Cal sentia, e era a sensação como a de ter comido algo ruim, algo que o deixara nauseado por dias e mais dias, e ele finalmente o vomitara. Perguntava-se se o anjo também estava aliviado, porque sua cabeça parecia diferente. Sentia-se pegando carona dentro do próprio crânio, impelido para um lado pelo gelo da criatura. Não conseguia entender se a sensação era resultado de um ferimento, de algo que tinha acontecido durante a batalha, mas, quando pôs as mãos na cabeça, no corpo, não parecia estar faltando nada.
Não consigo me desconectar dele, disse Brick. O garoto maior se retorcia na areia e na cinza, sua única asa se arrastando embaixo dele como um membro mutilado. Ele não vai embora.
Cal tentou de novo, apertando aquele interruptor invisível que o colocava de volta no controle do corpo. Nada aconteceu, e teve um ligeiro vislumbre de pânico no estômago. O anjo pareceu gostar, sua segunda pele se acendendo, bombeando aquele mesmo pulsar que entorpecia a mente. Fique calmo, fique calmo, falou a si mesmo, mas, de repente, a veste de chamas pareceu errada, como se vestisse a carne de outra pessoa. Não queria mais ver através dos olhos do anjo, não queria ver os mecanismos secretos do mundo, os pequenos motores atômicos que giravam incansavelmente; não queria sentir o vazio imenso e escancarado que aguardava bem do outro lado da concha de papel da realidade. Ele deu de ombros, tentando libertar-se, mas o anjo estava bem no meio de sua cabeça, sufocando seus pensamentos.
O que está acontecendo?, perguntou ele.
Faça ele ir embora!, gritou Brick, agora de pé, agitando os braços diante do rosto como se estivesse em meio a um enxame de abelhas. O medo do garoto era contagioso. Howie começava a coçar o incêndio à sua volta, suas asas cortando a parede de um banheiro e transformando-a em pó. Adam choramingava, cada chorinho fazendo o ar tremer ao derramar-se dos lábios.
Esperem, está tudo bem!, falou Daisy. Não se assustem!
— Vá embora! — Agora Brick gritava, as palavras como socos através das dunas, mandando bolos de areia para a espuma branca do mar. — Vá embora! Já terminamos, não precisamos mais de vocês!
Brick! Chega!
Cal mordeu o lábio para conter o pânico e viu Daisy flutuar, carregando Brick nos braços. Foi como observar mãe e filho, e Brick logo se acalmou, ainda que o espaço entre eles tenha criado um show de fogos de artifícios. Ela o soltou, com o baque de um pulsar de energia escapando, levantando redemoinhos de poeira.
Mas eu não consigo desligar, disse Brick, as mãos apertando as têmporas. Ele não sai da minha cabeça.
Eles... Ela procurava as palavras. Eles não querem voltar para o lugar de onde vieram. Lá é frio e escuro.
Aqui eles não podem ficar, disse Brick, agora se socando. A cabeça é minha, está ouvindo? Vá embora!
Chega, falou Daisy, dando-lhe a mão. Quanto mais emotivo você ficar, pior vai ser. É isso que eles querem, emoções. Estão se alimentando dessa raiva toda.
Você falou para nós que era isso que devíamos fazer, argumentou ele, com seus olhos ardentes fixos nela. Você nos disse para usar isso. A culpa é sua!
Pare com isso, cara, disse Cal. Se ela não tivesse dito isso, agora estaríamos mortos, entendeu? Dê um tempo pra ela.
Vá para o inferno, Cal, Brick resmungou. Não pedi que nada disso acontecesse. Ele torceu a cabeça para cima, gemendo. Consigo sentir ele aqui dentro. Saia, saia, SAIA!
Daisy olhou para Cal, o rosto dela cheio de tristeza. Aquele som de badalo tinha ido embora, e o ar parecia mais pesado por causa disso.
Eles ficam muito sozinhos lá, falou ela. Eles detestam. Não podem ficar?
Se ficarem, nós vamos morrer, respondeu ele. É a Fúria, Daisy. Assim que qualquer pessoa se aproximar de nós, vai querer nos destroçar. Não podemos nos esconder para sempre, é só uma questão de tempo. Ele pensou na criatura dentro de si, na coisa que o mantivera vivo, e sentiu-se inexplicavelmente culpado ao dizer: Fale para irem embora; é o único jeito. Você consegue?
Daisy olhava o mar, mas, na verdade, enxergava outra coisa. Cal tentou espreitar os pensamentos dela, mas o que sentiu ali — uma pressão no peito dele, na garganta — era insuportável.
Daisy?, perguntou ele. Ela o olhou e sorriu, o sorriso mais triste que ele já vira.
Acho que sei o que preciso fazer.
Daisy
Hemmingway, 16h59
Ela não sabia por que os tinha levado de volta para aquele lugar, Hemmingway. Agora ali era a casa, imaginava ela, a única que tinha. A única de que precisava. Parecia ter sido séculos atrás quando ela e Cal entraram de carro naquele estacionamento, e uma vida inteira quando saíram. Parecia ter passado anos ali, na beira do mar, ao sol, com Cal, Brick, Adam e os outros. Mas os anos — e os segundos, minutos, horas, dias — eram diferentes agora. O tempo era uma coisa fragmentada.
Casa. Ela tinha sido feliz ali. Não o tempo todo, claro. Tinha ficado doente, com medo e com raiva também, de Rilke, de Brick e de todos os furiosos, e sobretudo do homem na tempestade. Mas ter encontrado nem que fosse um pouquinho de felicidade no meio daquilo tudo tinha sido como quando o sol irrompe pela nuvem mais pesada, pintando o mundo de dourado. Sim, ela tinha sido feliz ali. Sempre seria feliz ali.
Eles também podiam ser felizes ali, os anjos. Por que eles precisavam voltar para seu lugar de origem só porque seu trabalho tinha terminado? Eles não eram máquinas prontas para serem guardadas de volta no armário. Daisy lembrou-se de ter pensado que os anjos eram como robôs, armas sem alma a serem usadas na guerra contra a besta. Mas estava equivocada. Eram mais como bebês que aprendiam a usar suas emoções pela primeira vez, descobrindo todas as coisas maravilhosas que poderiam sentir. Não tinham nada de seu, disso ela tinha bastante certeza, mas isso não significava que não podiam sentir o que ela sentia.
E quem iria querer voltar para um lugar vazio e horrendo para sempre se pudesse ficar aqui, rindo, amando, em meio a tudo o que é bom? No momento exato em que ela pensou isso, sentiu seu anjo rir, aquele diapasão invadindo o ar, tão diferente do riso humano e, mesmo assim, tão inconfundível. Riu também.
Como assim?, perguntou Cal. O que você precisa fazer?
Ela sorriu de novo, olhando o anjo que estava dentro da alma dele. Ainda não entendia o que eles eram de verdade, nem de onde vinham. Como poderia? Aquelas coisas eram mais velhas do que o tempo, mais velhas do que o universo. Haviam estado ali desde sempre, em plena existência eterna. E também o homem na tempestade. Ele era o para sempre, os zilênios intemporais e vazios. Só de tentar pensar naquilo, a cabeça dela doeu, por isso, parou. Nada daquilo importava, não agora que tinham encontrado um lar. Estava cansada, os anjos estavam cansados. Era hora do repouso.
Aproximou-se de Brick, o garoto esperneando em seu traje de fogo. Mas que bebezão ele era.
Brick, chamou ela. Ele a ignorou, os braços girando como se ele de algum modo pudesse puxar-se para fora do próprio corpo. Brick!, repetiu, tocando o ombro dele. Ele franziu o rosto e a olhou zangado.
Simplesmente tire ele de mim!, disse ele.
Quero que me escute, respondeu ela. Quero que fique menos zangado. E também menos egoísta. Ele ia começar a responder, mas algo na expressão dela o deteve. As coisas se tornam mais fáceis quando a gente é legal, não é? E não custa nada.
Do que você está falando?, perguntou ele. Isso não tem nada a ver com você, Daisy.
Apenas tente, falou ela. Você acha que todo mundo detesta você, mas não é verdade. Você não vê, nós amamos você, Brick. Sempre amaremos. Seja legal, prometa.
Ele ficou de queixo caído e lentamente fez que sim. Ela riu outra vez — agora, para ela e para o anjo, o riso era facílimo — e, em seguida, moveu uma mão até o peito dele, empurrando os dedos dentro do fogo. Era como colocar uma folha na frente de uma joaninha e observá-la subir. O fogo de Brick disparou com força suficiente para catapultá-lo para trás, fazendo-o rolar pelo estacionamento. Fogo escorreu do braço de Daisy, abrindo caminho até o som dos sinos que soavam no centro dela. Sentiu o instante em que o anjo juntou-se ao dela, os dois sentados em seu peito, badalando com tanta força que os dentes dela batiam.
Brick deu um grito, retorcendo-se no concreto cheio de areia onde pousara, a trinta metros de distância mais ou menos. Ele a mirou com os próprios olhos, arregalados, úmidos, humanos.
Agora você é humano, lembre-se disso. Não pode chegar perto de mim.
Ele se levantou, mas ficou onde estava.
— O que você fez? — balbuciou Brick, as palavras débeis e gaguejadas, como se aquela fosse a primeira vez que falava.
Daisy se voltou para Howie, que recuou para os banheiros destruídos e estendeu as mãos para ela.
Espere aí, e se eu quiser ficar com o meu?, disse ele.
Ele vai matar você mais cedo ou mais tarde, respondeu ela. E depois vai morrer também.
Mas, e você?
Eu estou oferecendo outra coisa a eles, acho, falou ela, flutuando até ele e procurando seu peito. Queria ter tido tempo de conhecer você melhor.
O anjo dele veio de bom grado, ardendo pelo braço dela e entrando em sua alma. A força daquilo fez com que Howie fosse girando quase até as árvores. Após um ou dois segundos, levantou a cabeça, colocando as mãos nos ouvidos. Não era de admirar: o zumbido que emanava dela era ensurdecedor, três corações de anjo batendo no mesmo lugar. Ela agora se sentia muito fria, muito pesada. Mas não podia parar. Olhou para Adam, sorrindo para ele.
Pronto?, ela lhe perguntou.
Mas eu quero ficar com você, respondeu ele, e foi bom ouvir sua voz. Ela flutuou até ele, sentindo aquela mesma descarga elétrica crescer entre os dois.
Vou estar sempre aqui, disse ela. Preciso que você seja corajoso, Adam. Preciso que seja forte. Prometa-me que nunca vai ter medo de usar sua voz de novo, está bem?
Ela o soltou, e ele piscou para ela com seus olhos em chamas.
Prometa.
Prometo, prometo.
Não vai doer.
Ela apertou os dedos contra o peito dele, seu anjo se libertando mais rápido do que os outros. Ele rasgou seu caminho pela pele e mergulhou dentro dela. Era como se ela tivesse comido demais, como se estivesse prestes a explodir. A súbita corrente de energia mandou Adam para longe, depositando-o gentilmente aos pés de Brick. O garoto maior se abaixou, segurando-o com força quando ele tentou correr para ela de novo.
Daisy quase não conseguiu se virar para encarar Cal, tão pesado estava seu corpo, tão cheio de gelo e fogo.
Como sabia que isso não ia matar você?, perguntou ele. Como sabia disso tudo?
Eu não sabia, respondeu ela. Mas eles sabiam.
E agora?
Ela deu de ombros.
Vamos vivendo.
Endireitou o braço, procurando o peito dele, mas ele pairou para longe.
Obrigado, falou Cal. Nunca teríamos conseguido sem você.
Eu sei, disse ela, dando outra risada. Prometa-me que vai cuidar de Adam. Nunca se separe dele.
Cal se virou e sorriu para o menino.
Claro, vou tentar, Daisy, mas não sei o que vai acontecer...
Cal...
Certo, prometo. Nunca vou me separar dele.
Ela tentou de novo, mas ele recuou mais ainda.
Não sei mais o que dizer, ele falou.
Então não diga nada. Ela estendeu a mão uma quarta vez, os dedos entrando no peito dele. Fez-se um clarão, como um choque elétrico, um jato de pura energia estalando dentro do corpo dela. Cal voou para trás, rolando pelo chão. Quando levantou a cabeça, seu rosto estava coberto de cinzas. Parecia um fantasma, e isso só fez com que ela risse com ainda mais força. Os anjos riram também. O corpo dela estava oco e repleto de badaladas. O zumbido que vinha dela era alto o suficiente para fender a terra.
— Daisy? — gritou alguém, mas ela não conseguiu ouvir direito quem tinha sido.
Também não pôde enxergar muito bem, o incêndio que ardia dela tão brilhante que até os olhos do anjo enfrentavam dificuldades. Era demais, o mundo tremendo por contê-la, a pele da realidade esticando-se para fazê-la caber. Os anjos estavam agitados; podia senti-los nos pensamentos, no sangue, na alma. Ela parecia estar prestes a explodir e levar o universo junto.
Piscou algumas vezes e viu Cal, Brick e Adam através da visão turva, parecendo tão pequenos, tão humanos. Lembrou-se da primeira vez que os encontrara: Cal, quando a salvara no carro, falando-lhe da Dona Mandona como se ela nunca tivesse ouvido falar de navegação via satélite antes; Adam, quando chegara com os outros, tão calado, com tanto medo, até que haviam brincado nos cavalos do carrossel, Angie, Geoffrey e Wonky-Butt, o Cavalo-Maravilha, e seu rosto se abria como uma flor; e Brick, coitado, triste, zangado, o Brick que os encontrara bem ali, naquele lugar exato, que os levara a Fursville, cujo riso era como o de um pássaro quando enfim se esquecia de ficar zangado com o mundo. Como era possível amar as pessoas tanto, com tanta força?
Vocês precisam ir embora, disse ela. Acho que algo está prestes a acontecer.
— Daisy, não, não vá embora! — pediu Adam. Ele quis se aproximar dela, mas Cal o segurou.
— Adeus, Daisy — falou Cal, sorrindo para ela.
Não é um jeito tão ruim de ir embora, pensou Daisy. Vendo um sorriso.
Sorriu em resposta, virando-se antes que o riso se tornasse lágrimas. Ela os veria de novo, tinha certeza. Talvez não do mesmo jeito que antes, mas tudo bem. Não era o fim do mundo. Vagou pelas dunas, o mundo descamando-se a seus pés, o mar sibilando quando o sobrevoou. Mesmo que se sentisse pesada, subiu como um balão, dirigindo-se para o azul brilhante. O movimento dos anjos ia ficando mais frenético, como se fossem gatos presos juntos em uma cesta. Mandou que se acalmassem, mas eles não entenderam. O martelar de seus corações ficava mais agudo. Quanto tempo mais ela tinha antes que o mundo não pudesse mais contê-la? Horas? Minutos? Segundos?
Mas o tempo está fragmentado, disse a si mesma. Ele nunca vai nos alcançar.
Virou-se e olhou para baixo, observando os garotos abrindo caminho para as árvores sem folhas. Abaixo dela, o mar ia sendo varrido, e também a superfície, a energia vertida por ela talhando uma cratera na Terra. O ar se agitava como se tentasse escapar, como se soubesse o que estava por vir. O tempo rangia, tentando pegá-la com seus dedos, mas ela agora estava pesada demais para ele, ele não conseguiria carregá-la.
Ela se manteve firme até não poder mais vê-los — Brick foi o último a sumir, erguendo uma mão trêmula, as lágrimas como cristais no rosto sujo enquanto desaparecia. Vá embora, ela lhe disse. Nada de ruim vai acontecer agora — e, em seguida, o universo se fragmentou sob o peso dos anjos.
Eles pareciam arder dentro dela, uma explosão que começou na alma e se expandiu para fora, chegando às margens da floresta antes que ela estendesse mentalmente a mão e segurasse o tempo, libertando-se. Algo gemeu, o som como o de uma gigantesca buzina de navio no centro do mundo. Tudo sacudia, a realidade ameaçando fazer-se em pedaços, a explosão desesperada para terminar o que tinha começado. Porém, Daisy não desistiria. Os anjos trabalhavam com ela, segurando as rédeas do tempo.
Na cabeça, ela se atinha com a mesma força àquela memória, deitada em seu jardim à sombra das árvores, observando contas de luz solar se perseguirem pela grama. Repousava a cabeça na perna da mãe, sentindo o cheiro do tecido e de amora. O pai acenava para ela da janela da cozinha, parecendo cem anos mais jovem do que antes, parecendo ele mesmo outra vez. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, e sabia que sempre ficaria assim, porque nunca mais precisaria sair daquele jardim, nunca mais precisaria dizer adeus. Deitaria ali com a brisa no rosto, a mão da mãe no braço, o gato do vizinho passando por seus pés, ronronando como um trem a vapor, para todo o sempre.
Ela riu, e do lado de fora o mundo moveu-se sem ela. De início, lentamente — ela viu gente lá embaixo, uma multidão —, mas logo se acelerando. O dia virou noite, e a noite virou dia. Os rostos mudaram, mas ela viu gente que conhecia, Cal, Brick, Adam movendo-se rápido demais para que enxergasse o que faziam. Houve chuva, depois neve. A floresta desapareceu, sendo trocada por prédios, e eles também desapareceram, a linha do litoral mudando a cada batida de seu coração. Mas ela ainda os via, os amigos, os irmãos, de pé perto do mar, observando-a por uma fração de segundo. A cada vez que apareciam estavam mais velhos, até que estivessem grisalhos e recurvados, mas, ainda assim, ela os reconhecia.
O mundo continuou sem ela, os anos passando, as décadas, os séculos, e ela observou a terra recuar e o oceano avançar. Viu as cidades no céu, e os foguetes, viu o sol ficar grande e vermelho, e, durante tudo isso, o mesmo riso ecoava dela, uma única inspiração que mantinha todo o tempo à distância. Em algum momento, ela precisaria soltar o fôlego, sabia disso, quando o homem na tempestade aparecesse de novo, ou alguma outra criatura como ele. Em algum momento, os anjos se libertariam dela para poder combater em outra batalha. Mas, até lá, haveria só o jardim, o sol, e a mãe e o pai — amo vocês tanto, mas tanto —, e um riso que ressoava ao longo das eras.
Brick
Hemmingway, 17h23
Brick não suportava a ideia de deixá-la ali sozinha, mas que escolha ele tinha? Ele podia ouvir o pulsar sônico dos anjos dentro dela, aumentando o tempo todo, como se ela estivesse prestes a explodir.
— A gente precisa ir embora — disse Cal, tomando Adam pela mão e levando-o para longe do mar. O garotinho resistiu, tentando se soltar, mas Cal o segurou. — Cara — falou para Brick —, é sério. Esse barulho não é bom.
Não parecia bom mesmo. O mundo despedaçava-se em volta de Daisy, a terra e a água fervendo enquanto ela flutuava céu acima. Brick sentia o tremor nos pés, o chão se agitando, prestes a se despedaçar. Ele mal conseguia ver a garota através do orbe de fogo que a cercava. Parecia um pássaro em uma gaiola em chamas.
— Não quero ir embora — disse Adam aos soluços. — Eu quero a Daisy!
— Vai ficar tudo bem com ela — falou Cal. — Não está ouvindo?
Era incrível, mas ela ainda ria, o som cristalino mais alto do que o zumbido dos anjos. Cal se abaixou e colocou o garoto em cima dos ombros. Começou a correr para as árvores, e Brick foi atrás, aquele pulsar afastando-o, rugindo contra suas costas. Howie já tinha sumido. Brick escorregava nas cinzas, no concreto cheio de areia do estacionamento, tão cansado que mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Parecia estar aprendendo do zero a usar seu corpo, agora que o anjo fora embora. Sentia-se leve demais, frágil demais, como se fosse se quebrar em mil pedacinhos ao menor toque.
Porém, era um milagre que pudesse sequer se mover. Seu anjo devia ter curado os ferimentos mais graves, remendando seu interior.
Manquitolou por entre as árvores, olhando para trás, através dos galhos nus. Daisy estava suspensa sobre o mar, brilhando tanto quanto o sol. A água fumegava abaixo dela, congelando e depois fervendo, de novo e de novo, formando estátuas de gelo que duravam meros segundos antes de derreter de vez. Era hipnotizante, e Brick quase se esqueceu de si na maravilha caleidoscópica daquilo. Estendeu a mão para ela, percebendo que chorava. E, mesmo que não tivesse mais o anjo, ouvia a voz dela em sua cabeça, como se ela estivesse bem ao lado dele, sussurrando em seu ouvido.
Vá embora. Nada de ruim vai acontecer agora.
Deteve-se entre as árvores, e o mundo atrás dele ficou branco e silencioso. Uma onda sem som o pegou, carregando-o pelo ar, tão rápido que não conseguiu nem gritar. Então ele caiu no chão macio e arenoso, e a vida escureceu.
Não soube depois de quanto tempo abriu os olhos. Estava deitado de costas, mirando um céu que estava a meio caminho do dia e da noite. Seus ouvidos apitavam, como se ele tivesse passado a noite em um show, mas acima do gemido incômodo ouvia vozes. Tentou se sentar, sentindo como se cada fibra do corpo estivesse ferida. Até as pupilas doíam, e a visão parecia leitosa. Inclinou a cabeça para o lado, piscando para afastar as lágrimas. Algo se movia à frente, talvez vários algos. Não tinha certeza.
Ele se apoiou levantando um ombro, e passou a outra mão nos olhos. Ao olhar de novo, as silhuetas tinham se solidificado em figuras, em pessoas, uma correndo em sua direção. Um jato de adrenalina percorreu seu corpo exausto. A Fúria.
Ele foi embora, tentou dizer às pessoas, a boca recusando-se a formar as palavras. O anjo foi embora.
A silhueta estrondou na direção dele, e ele ficou de pé com dificuldade, conseguindo dar um passo antes de cair de cara no chão. Eram gritos que ele ouvia? Berros sufocados e furiosos? Depois de tudo o que acontecera, depois de tudo o que fizera para combater o homem na tempestade, era assim que ia terminar? Dentes na garganta, unhas nos olhos? Tentou de novo, mas não havia mais nada dentro dele. Mãos o seguraram, rolando-o de lado, o buraco negro de uma boca caindo em sua direção. Rezou para que fosse rápido. Era o mínimo que merecia.
— Tudo bem?
Não ouvia direito as palavras com aquele apito nos ouvidos.
— Cara, está me ouvindo?
Brick ficou deitado, o coração tentando sair do peito. Piscou até o rosto inclinado sobre ele ganhar foco.
— Cal? — rosnou Brick.
O outro garoto abriu um sorriso enorme, cheio de hematomas, cansado, mas de resto intacto.
— Tudo bem? — repetiu Cal.
Por que ele ficava perguntando? Era bem óbvio que ele não estava bem. Cal fez força para sentar-se, tentando recordar como tinha chegado ali. Tudo em sua cabeça era ruído branco, mas ele se lembrava de correr com Cal e com Adam, lembrava de Daisy flutuando por cima do oceano. O que tinha acontecido com ela? Ela tinha explodido? Ele pegou o braço de Cal, usando-o como apoio para levantar-se.
— Daisy — falou ele. Por favor, tomara que ela esteja bem, tomara que não tenha morrido.
— Ela está lá — disse Cal, apontando.
Brick continuou apoiado no outro garoto, o mundo girando. Podia estar no meio do deserto. Só que a areia ali tinha um milhão de cores diferentes, e logo à frente estava o oceano, tão espumoso que alguém parecia ter derramado mil toneladas de detergente nele. O sol estava parado no horizonte, alto sobre a água, mas, quando Brick se virou, também estava suspenso sobre a cabeça de Cal. A imponderabilidade daquilo lhe causou vertigens.
— Você precisa se sentar — disse Cal.
Brick se desvencilhou do garoto e seguiu cambaleante pela praia rumo ao primeiro sol, o sol dela. Havia mais pessoas à frente, que o brilho transformava em silhuetas. Brick teve de se aproximar para que seus olhos leitosos identificassem Adam e Howie. Ambos estavam imundos, as roupas em farrapos, mas os anjos tinham cuidado bem deles, curado os piores ferimentos antes de ir embora. Ambos sorriam.
— Ei — falou Howie, a voz parecendo papel-areia. — Você está um lixo.
Brick riu, mesmo que doesse. Howie estava preto e azul, seu cabelo prateado.
— Você também não está lá muito bem — falou ele. — Parece o meu avô.
— Deve ser um homem muito bonito — disse Howie, fazendo Adam dar uma risadinha.
Brick olhou de novo para o sol. Era forjado em luz, em cores que ele jamais vira, ondas de energia que cintilavam indo e vindo pela superfície. Ele não conseguia ver nada dentro da esfera, mas um badalo cristalino emanava dela, o som inconfundível.
— Ela está rindo — falou Adam. — Está feliz.
— Você acha? — indagou Brick.
O garoto tinha razão, não havia a menor dúvida. Quantas vezes Brick tinha ouvido aquela risada, que tinha tirado sua raiva, e o tornado humano outra vez?
— Daisy — disse ele, e a ideia dela ali, presa naquela bolha de fogo, deixou-o com raiva. Por que tinha de ser ela? Ela era só uma menina, deveria ter sido outra pessoa. Ela devia ter podido ir para casa, viver sua vida. Não era justo, não era...
Sentiu uma mão no ombro e, ao olhar, viu Cal.
— Você fez uma promessa a ela — disse ele.
Brick percebeu que tinha os punhos cerrados, as unhas penetrando a carne das palmas. Ele tinha prometido algo, tinha prometido não viver com raiva. Mas como poderia manter essa promessa?
— Sério, cara — falou Cal, apontando a água com a cabeça. — Quer realmente correr o risco de ela vir atrás de você? Ela vai te fritar.
Brick riu de novo, sem querer, deixando o corpo relaxar. A verdade é que estava cansado demais para estar com raiva. Inspirou profundamente o cheiro do mar, o cheiro de casa. Podia tentar, por Daisy. Ela tinha salvo a todos, várias e várias vezes. Devia isso a ela.
— Está bem — concordou. — Você está olhando para o novo eu, um mané todo feliz novinho em folha.
Cal riu para ele, e por um instante ficaram ali, estreitando os olhos contra o brilho do segundo sol. A Brick, parecia impossível que menos de uma semana atrás ele estivesse sentado naquela mesma praia preocupado com dinheiro, combustível e Lisa. Como era possível que tantas mudanças acontecessem em um período tão curto? Essa ideia fez suas pernas bambearem, e ele quase caiu, as mãos de Cal segurando-o.
— Ei! — A voz veio de trás deles, e todos se voltaram ao mesmo tempo, vendo um policial uniformizado andando sobre as dunas. Brick deu um passo para trás, calculando a distância entre eles. Trinta metros. Por favor, não, pensou ele. Por favor, não se transforme. O homem — não um policial, mas um bombeiro — agora corria, apontando o novo sol. — O que é que vocês estão fazendo?
Vinte e cinco metros. Vinte. O homem tropeçou e resmungou. Ah, não. Não pode ser. Quinze metros, e Brick já tinha quase se virado e começado a correr, antes que o bombeiro ficasse de pé outra vez.
— Precisam dar o fora daqui! — disse o bombeiro, passando correndo por eles, levantando areia no caminho. — Vão, vão pra casa já!
Brick se lembrou de respirar, observando o bombeiro que corria para o mato, gritando algo no rádio. Obrigado, disse para Daisy, para os anjos, para qualquer outra coisa que estivesse ouvindo.
— Precisamos ir embora! — falou Cal.
— Para onde? — perguntou Brick. — O que vamos fazer depois disso? Fingir que nunca aconteceu? Que talvez não aconteça de novo?
Cal deu de ombros.
— A única coisa que eu sei é que estou louco por uma lata de Dr. Pepper. Todo o resto pode esperar.
— Você sabe que isso é puro veneno — disse Brick. — Só açúcar e química.
— Eu sei — respondeu Cal. Ele se virou, seguindo pela praia na direção contrária do mar. Os outros foram atrás, cada qual levando as duas sombras de dois sóis. — Mas, se eu consegui sobreviver ao dia de hoje, com certeza vou sobreviver a uma lata de refrigerante.
Brick balançou a cabeça, e então notou que sorria, com tanta força que as bochechas doíam. Cal tinha razão. Realmente, não importava o que ia acontecer depois. Agora estavam em segurança, tinham sobrevivido. Olhou de novo em direção a Daisy, oculta em sua bolha de luz. Será que ela os observava agora? Levantou a mão e acenou para ela.
— Adeus, Daisy — falou. — Logo a gente se vê. Cuide-se.
Depois se virou e correu atrás dos outros, ouvindo o riso dela encher o ar a suas costas conforme perseguia sua sombra ao sol.
Domingo, Hemmingway, 23h56
Daisy Brien estava em toda parte e em parte alguma, possuída por uma criatura de fogo e trancafiada em um mundo de gelo.
Não sabia quanto tempo fazia desde que tinha sucumbido. O tempo parecia não existir ali, onde quer que ela estivesse. Poder-se-iam ter passado alguns poucos segundos ou um milhão de anos, não havia como saber. Estava suspensa em uma teia de vidas, em um número infinito delas. Pareciam cubos de gelo, e, através da superfície fosca de cada um deles, ela vislumbrava lugares e pessoas. Se fizesse um grande esforço, via nitidamente dentro do gelo e conseguia encontrar sentido naqueles mundos, mas esse esforço lhe provocava enjoo, como se estivesse no banco de trás de um carro que fizesse uma curva rápido demais.
Porém, a criatura estava com ela, e a criatura queria que Daisy olhasse. A garota a sentia dentro de sua cabeça: era algo feito de luz. A coisa não falava — Daisy achava que não era capaz de falar —, mas a guiava, mostrando-lhe o que importava, impedindo-a de ficar à deriva no infinito oceano de gelo.
Viu os acontecimentos dos últimos dias como se os estivesse revivendo — não apenas suas memórias, como também as memórias dos novos amigos: de Cal, Brick, Adam, Marcus, Jade e até de Rilke e Schiller. O início fora o mesmo para todos, ainda que não se conhecessem, ainda que estivessem separados por centenas de quilômetros. Era uma dor de cabeça que durara dias — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, como se alguém estivesse tentando quebrar seu crânio.
E, assim que a dor de cabeça passara, começara então a Fúria.
O mundo inteiro queria matá-los. Ela viu isso dentro dos cubos de gelo. Cal fugindo para salvar sua vida, com centenas de pessoas perseguindo-o na escola, com seus melhores amigos tentando estraçalhá-lo. E Brick, sentado com a namorada no porão de um parque temático abandonado, tão feliz quanto Brick era capaz de ficar, até que ela passara a tentar devorar sua garganta. Adam — pobre Adam, que não dissera uma palavra sequer desde que a Fúria tinha começado — estava no dentista. Jade, em um táxi. Marcus, em casa. Rilke e Schiller, os gêmeos, em uma festa, sendo quase pisoteados na lama no meio da noite.
E ela, que agora observava aquilo, não era mais a menina magrinha de doze anos que chorava no quarto dos pais, não mais. A mãe e o pai estavam mortos a seu lado, apoiados um contra o outro como bonecos em uma prateleira. A mãe envenenara a si mesma e, depois, o pai. Tinha feito isso para não machucar Daisy, para protegê-la. Porém, isso não fora suficiente para salvá-la das pessoas da ambulância que invadiram sua casa querendo matá-la. Mas ela conseguira — por pouco — escapar com vida. Como todos eles.
Não, nem todos. Quantos haviam morrido? Daisy não tinha certeza, mas sabia que existiam outros como ela, dezenas, talvez centenas. Tinham sido assassinados pelos próprios amigos, pelas próprias famílias. E então o mundo os esquecera, como se nunca tivessem existido.
Tal pensamento era horrível, e ela se afastou do gelo. No entanto, não conseguia escapar das visões, não ali, não naquele lugar. Observou Cal a resgatando, conduzindo-os de carro até o parque temático onde Brick os aguardava, atraídos para lá por uma espécie de instinto. Fursville. O parque, caindo aos pedaços, fedia a coisas úmidas e mortas. Mas se mostrara um abrigo. Um lar.
Até que ela chegara. Rilke. Aparecera uma manhã com Schiller, seu irmão. O menino estava congelado, trancafiado no gelo. Daisy se sentira intimidada por ela desde o primeiro momento. Percebera de cara que Rilke era perigosa. Mas não se dera conta do quanto até Rilke matar a namorada de Brick — que estava trancada no porão — e um furioso. Havia atirado neles a sangue-frio. Dizia que a Fúria estava acontecendo porque eles — ela, Schiller, Daisy, todos eles — não eram mais humanos. Estavam se transformando em outra coisa, dissera ela, em algo incrível. Parecia louca.
Mas ela tinha razão.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_TEMPESTADE.jpg
Schiller fora o primeiro a mudar. Daisy vira com os próprios olhos. Quando acordara de seu sono, ele já não era um menino, mas uma criatura feita de fogo, cujos olhos ardiam; era uma criatura alada. Um anjo. Mas não um anjo como os das histórias contadas por sua mãe; não era um querubim com harpa e auréola. Era, sim, um ser ancestral, poderosíssimo — tão poderoso que não podia viver ali, no tempo e no espaço deles, sem um hospedeiro. Era por isso que precisava do corpo de Schiller.
Cada um deles era habitado por um ancestral. Era isso que os tornava especiais, era isso que fazia o resto do mundo detestá-los tanto. Daisy sentia o dela: estava prestes a despertar, exatamente como o de Schiller. Cal, Brick, Adam, Rilke, todos tinham um anjo dentro de si. Cedo ou tarde, seus anjos nasceriam e eles também seriam seres de fogo, capazes de abrir uma fenda na realidade com um simples pensamento.
Daisy estremeceu, embora não sentisse frio. Onde quer que estivesse, não lhe passava mais pela cabeça que tinha um corpo. Ela levara um tiro de um policial. Ela e os outros tinham saído à procura de comida, mas foram atacados por furiosos — por centenas deles. Era culpa de Rilke, que havia chamado a polícia. Rilke queria que eles fossem atacados; ela dissera que esse era o único jeito de enxergarem a verdade sobre sua transformação.
Que cabia a eles banir a humanidade da face da terra.
E ela lhes mostrara como fazer isso. Daisy não precisava olhar no gelo; cada detalhe daquilo estava gravado em sua mente. Schiller, mergulhado em fogo, flutuando acima do chão, os olhos como dois bolsões de luz. Com um estalar de dedos, ele transformara a multidão de furiosos — centenas deles — em cinzas e depois espalhara ao vento seus restos. E proferira — não ele, mas seu anjo — uma palavra que não pertencia àquele lugar, que cindira o mundo, desfizera a realidade. Sua voz limpara a terra até onde a vista alcançava. Sacudira o tempo e o espaço, deixando o universo trêmulo.
Rilke tomara isso como prova de que estava certa. Mas ela não estava. Daisy sabia. Os anjos eram fortes, mas não maus. Não eram nada. Ela não sentia nenhuma emoção vinda da coisa escondida em sua alma. Eles só faziam o que lhes era mandado fazer. Estavam mais para máquinas que eram manuseadas para consertar as coisas.
Porque havia outra coisa errada, tão errada que ela não a suportou nem mesmo em pensamento. Via agora, com o canto do olho, um iceberg que estalava e rugia em sua direção, com algo dentro que a fez ter vontade de gritar.
O homem na tempestade.
Ele havia chegado no mesmo momento que os anjos, só que nascera de um cadáver. Estava suspenso em um furacão e sugava o mundo pelo buraco negro que era sua boca, devorando tudo. Daisy não sabia exatamente onde ele estava, mas sabia que milhares já haviam morrido, tragados pelo vórtice colérico; vidas inteiras transformadas em nada. Ele era o motivo de estarem ali. Daisy sabia. Precisavam detê-lo antes que ele engolisse todos.
É isso?, perguntou à criatura. Por favor, me diga.
Se a criatura respondeu, Daisy não entendeu. Sentiu-se muito só e buscou conforto em outra visão, que acontecia naquele instante — três garotos dormindo dentro de um carro amassado. Aproximou-se mais do gelo e viu Cal, Brick e Adam, todos tendo o mesmo sonho. Ela também estava ali, ao menos seu corpo, deitado no porta-malas, em um casulo de gelo. Como seria, ela se perguntava, quando o anjo irrompesse de seu peito? Doeria? Ela saberia o que fazer?
Tudo o que sabia era que logo o anjo iria acordar e ela também seria uma coisa de fogo e de fúria.
O homem na tempestade estaria esperando por ela.
Roly
Segunda-feira, Hemsby, 0h22
Roly Highland, bêbado, cambaleava pela praia. A noite de rum barato fazia o mundo rodopiar. Em determinado momento, deu um passo em falso e se estatelou de cara no chão. Achou aquilo insanamente engraçado, morrendo de rir na areia fria e macia. Depois do que lhe pareceu meses, ele se levantou e percebeu que deixara a garrafa cair em algum lugar. A escuridão era quase absoluta; havia apenas uma tênue insinuação de luar atravessando as nuvens. O mar estava bem à frente dele, escuro e plano como um piso de ardósia. Ouviu-o sussurrando, chamando-o. Não gostava do mar, não desde que quase se afogara, aos onze anos.
— Mas hoje ele não pode me fazer mal! — falou enrolado enquanto se esforçava para se manter em pé. — Porque eu estou bêbado!
Desistiu de procurar o rum — só restavam uns golinhos de nada mesmo! — e andou para a esquerda. Seus melhores amigos, Lee e Connor, estavam ali em algum lugar, e também Hayley, a nova namorada de Connor. Howie, o irmão de treze anos de Roly, também estava por perto, embora tivesse saído mais ou menos uma hora atrás, dizendo que não estava se sentindo muito bem. Era o rum; o rum tinha esse efeito. A cabeça de Roly não tinha parado de latejar a noite toda.
— Ei! — gritou para a escuridão.
Alguma coisa disparou para o céu ali perto — o farfalhar de asas soando como palmas. O silêncio que aquilo deixou, rompido apenas pelo perpétuo murmúrio das ondas, dava calafrios.
— Uôôô! — disse Roly, quase caindo de cara na areia outra vez, agitando-se feito um siri com as mãos no ar até se reequilibrar.
Os outros provavelmente estavam se escondendo, planejando pular em cima dele ou algo do tipo. Mas ele não lhes daria a satisfação de verem-no encolhido de medo.
— Porque sou invencível! — gritou, e suas palavras foram engolidas pelo ruído do mar.
Deu outra risadinha, pensando em como ficariam impressionados ao constatarem que não o haviam assustado. Connor era dois anos mais velho, já tinha dezessete, e havia momentos em que Roly se sentia um completo bebê perto dele. Era por isso que tinha bebido tanto naquela noite — havia tomado exatamente a mesma quantidade de rum que o amigo e ainda estava de pé. Connor ia ficar impressionado, e Hayley também. Ela era bonitinha e, quem sabe, se a impressionasse o suficiente aquela noite, ela largaria Connor e sairia com ele.
Mas, para isso, ele precisava encontrá-los. Onde é que tinham se enfiado?
— Ei! — gritou, lançando alguns palavrões contra a escuridão da noite.
A praia permanecera deserta a noite inteira, algo esquisito, considerando que era um domingo em pleno verão. Provavelmente tinha a ver com o que acontecera mais cedo no litoral. Parecia ter sido uma explosão no lado norte, perto do velho parque temático de Fursville. Roly não tinha visto nada, mas sentira os tremores por volta das sete.
— Minas — comentara Connor despreocupadamente. Estavam sentados no apartamento do garoto mais velho, e a explosão fora tão forte que as janelas chegaram a chacoalhar.
— Hã? — dissera Lee.
— Minas marítimas antigas, da época da guerra, ou algo assim. Encontram coisas desse tipo o tempo todo. Acho que uma delas explodiu.
Todos concordaram com um gesto de cabeça, e o assunto fora encerrado. Connor ia para o exército em breve. Ele entendia dessas coisas de explosivos.
Deus do céu, isso tudo parecia ter acontecido anos atrás. Roly cambaleou para a frente, engolindo uma lufada de ar salgado e tentando se lembrar do que mais havia acontecido naquela noite. Uma parte dos acontecimentos já estava desbotada, como se fosse sangue do diabo, aquela tinta que desaparece.
— Vão se ferrar! — gritou ele, já de saco cheio daquela brincadeira sem graça. — Vou para casa!
Parou e começou a dar voltas para ver se descobria o caminho para a cidade. O mar estava à direita, vasto, negro e ameaçador, por isso dirigiu as teimosas pernas para a esquerda, para as dunas. Uma brisa suave parecia chutar os grãos de areia, levando-os bem para sua boca, onde se alojavam entre seus dentes. Roly murmurava palavrões enquanto enfrentava o chão que se desfazia sob seus pés, agarrando filetes grossos de vegetação para conseguir sair da praia. Depois de passar pelo topo da duna, o trajeto ficou mais fácil, e o garoto percorreu o caminho do outro lado meio correndo, meio tropeçando, enquanto se perguntava se havia algum jeito de beber mais um pouco.
A primeira fileira dos feiosos bangalôs de madeira de Hemsby surgiu assim que Roly ouviu vozes à frente. Eram vozes mesmo? Pareciam mais rosnados e gemidos. Cachorros, talvez. Apoiou-se em um dos joelhos, escorando-se no chão para não cair. Era imaginação dele ou de repente o ar tinha ficado mais frio? Estremeceu, virando a cabeça para o lado e esperando para ver se os ruídos voltavam.
Voltaram: um guincho distante e fungado, que combinava com o abatedouro ali da estrada. Havia também passos, secos, rápidos, vindo na direção dele. Provavelmente, eram Connor e Lee mijando. Deviam estar tentando assustá-lo — e estava funcionando. A pulsação de Roly se acelerou, o doce torpor do rum começando a se dissipar.
Seja homem, Roly!, disse a si mesmo. Não podia mostrar que estava assustado, não na frente dos outros. Nunca o deixariam esquecer daquilo. Levantou-se sem firmeza, indo devagar para o asfalto, que parecia brotar organicamente da praia. Contornou um bangalô conforme os ruídos ficavam mais altos, perguntando-se quanto tempo faltaria até que as luzes das casas fossem acesas e os moradores começassem a berrar com eles, como acontecia quase todo fim de semana.
A estrada fazia uma curva à direita, ficando mais larga no calçadão à frente. Havia postes que formavam poças de luz amarelo-vômito que pareciam deixar ainda mais escuras as partes da rua sem iluminação. Outro grito soou perto dos dois fliperamas fechados, uns cinquenta metros mais para frente, e os passos secos se aproximando. Então alguém berrou, um som tão carregado de sofrimento e terror que Roly só reconheceu quem era depois que a figura derrapou pela estrada, escorregando no asfalto cheio de areia e se estatelando contra um amontoado de entulho.
— Howie? — perguntou Roly, olhando o irmão menor, que tentava recuperar o equilíbrio.
Que droga ele estava tentando fazer? Howie ergueu a cabeça. Ainda estava um pouco longe, mas Roly notou algo de errado com seu rosto. A boca estava escancarada, larga demais, e os olhos, esbugalhados, tinham um brilho insano. Roly deu um passo à frente, com a adrenalina diluindo o último resquício de álcool dele, deixando-o mais sóbrio do que nunca.
— Howie? O que foi?
Havia mais passos, percebeu Roly, vindos da mesma direção. O irmão conseguiu ficar em pé e começou a correr na direção dele, com os braços se agitando no ar, bem na hora em que Connor disparou dentre os fliperamas. O garoto mais velho não parou sequer para recuperar o fôlego, virando na curva e também vindo na direção de Roly. Hayley veio atrás, depois Lee, e, em seguida, um sujeito que Roly nunca tinha visto na vida — todos partindo na sua direção a toda velocidade. Algo bem ruim devia ter acontecido, porque todos pareciam estar cheios de raiva.
Raiva não, pensou Roly. Fúria.
O irmão já estava na metade do caminho, sua boca espumando. Connor se aproximava rapidamente de Howie, soltando os mesmos guinchos guturais. A vontade de se virar e fugir foi tão forte que Roly quase fez isso, mas não podia largar o irmão.
— Howie, o que foi? — gritou.
Howie não respondeu, só continuou correndo, pisoteando a rua com seu tênis Nike herdado de Roly no Natal passado. Todos corriam, uma maré de gente surgindo pelo calçadão, com o olhar cheio da mais absoluta fúria, e de nada mais.
— Howie? — chamou Roly outra vez, a voz falhando. — Howie!
Howie pareceu vê-lo pela primeira vez, e sua expressão se inundou de alívio.
— Roly! — gritou ele. — Socorro!
Assim que as palavras saíram da boca de Howie, Connor o alcançou, puxando-o pela camiseta. Caíram um em cima do outro, braços e pernas se emaranhando.
Roly correu até eles, sem acreditar que estava vendo Connor esmurrar o rosto de Howie. Mesmo a vinte e cinco metros, ouviu o baque surdo. Howie gritou, as mãos estapeando o agressor, os olhos vidrados em Roly, berrando socorro, socorro, socorro em sua mudez.
— Ei! — gritou Roly, ainda correndo, agora a uns vinte metros. — Sai de cima de...
Seu mundo virou do avesso; uma explosão branda e sombria surgiu dentro de sua cabeça, obliterando qualquer pensamento.
Menos um.
Matar, matar, matar, matar, matar.
O garoto no chão não era seu irmão. Não era sequer humano. A repulsa fervilhava nas entranhas de Roly, intensificando-se em uma fúria incandescente que o movia pela rua. O tempo ficou mais lento, tudo perfeitamente tranquilo em comparação ao fogo que irradiava do centro de sua mente. Só uma coisa era importante. Havia apenas uma coisa no mundo inteiro que precisava fazer...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... porque aquela coisa era poderosa, era seu inimigo, era algo que não deveria existir, que não podia existir...
Matar, matar, matar, matar, matar.
... algo dentro daquele saco de carne tinha de ser aniquilado.
Matar, matar, matar, matar, matar.
Queria que aquilo sumisse, morresse, morresse; sentia que não conseguiria respirar até que matasse aquilo. Era como se se afogasse, os pulmões queimando, e o único jeito de poder voltar à superfície era
Matar, matar, matar, matar, matar.
Socou, arranhou, apertou, estrangulou, bateu, e sonhou com o fôlego que recuperaria quando aquilo morresse, e então surrou, surrou e surrou ainda mais.
Matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar.
Howie já não sentia mais os golpes. Já não sentia mais nada. Era como se estivesse afundando em uma cova escura, anestesiante, fria e tranquila. Seus pensamentos estavam devastados, estilhaçados, mas, naqueles estilhaços, via o que tinha acontecido: a dor de cabeça que sentira por dias de repente sumiu, e então se voltaram contra ele do nada — Lee, Hayley e aquele idiota do Connor —, indo para cima dele na frente da loja de ferramentas, uivando feito bichos. Não tinha muita certeza de como escapara da primeira investida; só havia abaixado a cabeça e corrido. Ele era bom de corrida, sempre fora, mas Connor tinha sido mais rápido.
E Roly, seu irmão! Como ele poderia ter feito isso? Howie sentiu sua cabeça deslocar-se para o lado e, por um instante, saiu da cova e voltou para a rua. Não tinha certeza se seus olhos estavam abertos ou se ele apenas imaginava aquilo, mas agora via Roly ajoelhado a seu lado com as falanges dos dedos vermelhas. É meu sangue nas mãos dele, compreendeu Howie. Ele está tirando o meu sangue.
Tentou chamar pelo irmão, mas voltou para os sete palmos debaixo da terra, ou ao menos era o que parecia, com vermes rígidos como dedos sulcando sua pele. Não quero morrer, Roly, pensou na esperança de que as palavras chegassem ao irmão, embora não houvessem saído de sua boca. Só tinha treze anos, ainda não tinha beijado nenhuma menina nem testado o quadriciclo do pai de Lee, como tinham lhe prometido. Ainda não chegou a minha hora! Parem, parem!
Ao menos sentia-se anestesiado ali. Estava escuro demais, como se alguém houvesse despejado pás de terra em cima dele. A ideia era assustadora, e o choque de adrenalina que se seguiu levou-o de volta à rua por um momento — a rua com seus tons de amarelo, cinza e vermelho. Punhos e pés subiam e desciam como pistões, como se Howie estivesse preso debaixo de um motor, e em algum lugar da mente estilhaçada mexesse em alavancas tentando se afastar dali.
Ele ergueu uma das mãos, perguntando-se por que sua pele cintilava como se vestisse uma roupa de gelo. Roly o lançou para o lado com um tapa, preparando-se para desferir o próximo golpe.
Que nunca veio. O braço do irmão se desintegrou, tornando-se uma nuvem de cinzas que pairou no ar por um instante antes de se espiralar lentamente pela rua. Roly nem se deu conta do que ocorrera e atacou com o outro punho. Os dedos da mão esquerda se separaram do corpo, deixando rastros de vermelho e branco no ar, como bandeirolas. Em seguida, o restante de seu corpo se desfez, dissolvendo-se como uma escultura de sal arremessada em um furacão.
Howie não podia mover a cabeça, mas, com o canto do olho, viu Connor fundir-se com a noite. A brisa suave fez as cinzas do menino dançarem em uma ciranda. Mais dois estalos baixinhos, e o ar tornou-se uma cintilante bruma de pó.
— Ele está vivo? — As palavras pareciam vir de uma distância de um milhão de quilômetros.
Alguém se agachou ao lado dele, uma menina, sacudindo o pó de ossos da saia. Baixou a mão até sua cabeça e a manteve ali por alguns segundos. Howie tentou dar uma cabeçada nela, mas ela afastou os dedos e os envolveu na outra mão.
— Está congelando — disse ela. — Ele é um de nós.
Obrigado, Howie quis dizer. As palavras foram esquecidas, porém, quando um menino apareceu ao lado dela. No lugar onde deveriam estar os olhos dele, apareceram bolsões de fogo, e de suas costas estenderam-se duas asas imensas e perfeitas, genuínas e brilhantes como o próprio sol. Um anjo, pensou Howie, e se perguntou se tinha morrido.
Então o menino piscou, e o olhar de fogo se apagou.
— Não, você não está morto — disse o menino-anjo. — Está tudo bem. Vamos cuidar de você.
— Levante-o — disse a menina.
Howie sentiu mãos embaixo dele, erguendo-o, e não houve dor.
— Meu nome é Rilke. Este é o Schiller. Agora você vai para um lugar longe daqui, mas não vai demorar tanto. Quando acordar de novo, bem... — Ela sorriu, mas Howie não compreendeu bem a mensagem daquele sorriso. — Você também vai ter fogo dentro de você, como nós temos. Não se assuste, você foi escolhido.
Não estava assustado, ainda que sua visão estivesse escurecendo e parecesse haver algodão em suas orelhas. Desta vez, não tinha a impressão de estar afundando em uma cova; parecia mais estar deitado na cama, adormecendo aos poucos, aquecido, confortável, em segurança.
A menina chamada Rilke colocou a mão no rosto do menino-anjo, oferecendo-lhe o mesmo sorriso.
— Está ficando bom nisso, irmãozinho — disse ela.
— Obrigado — respondeu ele.
— Vamos — prosseguiu ela. — Queime tudo; não deixe nada além de areia.
E essa foi a última coisa que Howie ouviu antes de mergulhar no sono, já sonhando com o fogo que pertenceria a ele quando acordasse.
O Outro: I
Mas, quando acabarem seu testemunho, a Besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará.
Apocalipse 11, 7
Graham
Segunda-feira, Londres, 5h45
O som do telefone invadiu seu sonho, e por um instante ele se viu em meio a um oceano de badaladas. Em seguida, despertou. Acendeu a luminária e tateou em busca do celular, ao lado da cama. O aparelho já estava a meio caminho da orelha quando percebeu que não era ele a fazer aquele barulho, e essa percepção dissipou o último vestígio de sono.
Era o outro celular. O celular só para coisas ruins.
Praguejando, rolou da cama e ignorou os protestos murmurados pelo namorado. O toque, um ruído estridente e incansável, atravessava sua cabeça. Coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, cantarolava sua mente enquanto ele revirava a calça pendurada na porta do armário. Tirou dela o celular; as vibrações o faziam parecer algo vivo que tentava rastejar rumo à liberdade. Quase o deixou cair — seria melhor que se quebrasse antes de descobrir o motivo da ligação. Apesar disso, abriu-o e levou-o ao ouvido.
— Hayling falando — disse, embora aquela apresentação fosse inútil.
A pessoa do outro lado da linha sabia que ele era Graham Hayling, comandante da Divisão de Contraterrorismo do exército; do contrário, não teria discado aquele número. A linha era para emergências — não as velhas emergências que envolviam serial killers, incêndios, colisões de trem ou assaltos a banco, mas as de alerta máximo, cruciais, apocalípticas. Coisas ruins.
— Senhor... — A voz pertencia a Erika Pierce, sua subcomandante, mas soava meio oca, artificial.
Não fale, rezou ele. Por favor, não fale aquilo. Mas ela falou:
— Aconteceu algo.
— Um ataque? — Ele usou o ombro para manter o telefone grudado na orelha enquanto vestia a calça com pressa.
Erika suspirou; ele a imaginou mastigando o lábio inferior. Na pausa que se seguiu, ouviu o eco de sirenes na linha.
— Acho que sim — enfim disse ela. — Alguma coisa...
Terrível, pensou ele, já que ela não concluíra. Porém, pior do que o 7 de julho não podia ser. Ou podia? Aquela tinha sido a última vez que havia precisado pegar aquele telefone, só que na ocasião estava em Maiorca e fora levado para Londres em um VC10. Olhou para a cama, onde David, apoiado em um dos ombros, piscava, sonolento.
— Onde? — Graham perguntou a Erika.
— Londres — respondeu ela. — Em algum lugar da estrada M1. Ainda não sabemos com certeza.
Não sabemos com certeza significava que não podiam se aproximar, e isso deixou Graham tão assustado que desabou na beirada do colchão. Não sabemos com certeza significava bombas sujas, ou algo pior: significava contaminação.
— Mandamos duas equipes — continuou ela. — Nenhuma delas voltou. Tem alguma coisa... Alguma coisa errada.
— Já estou chegando, Erika — disse ele. — Não fique assustada.
Essa era sem dúvida a coisa mais idiota que poderia ter dito a Erika Pierce, que tinha sido a primeira da turma na academia em praticamente tudo; que tinha descoberto sozinha um plano para levar explosivos líquidos a um cargueiro da Marinha; e que uma vez dera um soco tão forte em um suspeito que quebrara o maxilar dele. Porém, a voz ao telefone não parecia a da sua parceira, e sim a de uma criança perdida e assustada.
— Não — respondeu ela. — Não venha. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe.
— O quê? Erika, do que você está falando? Olha, estou saindo de casa agora, espere aí.
— Não estarei aqui. — O sussurro parecia o de um fantasma. — Desculpe, Graham.
Ele a chamou outra vez antes de perceber que ela havia desligado. Que droga está acontecendo? Olhou para o telefone como se, de algum modo, o aparelho pudesse lhe dar maiores explicações; depois, guardou-o no bolso e apertou o cinto.
— O que foi? — perguntou David, esfregando os olhos.
— Nada — mentiu ele, vestindo a camisa do dia anterior e colocando um paletó por cima. Não se deu ao trabalho de procurar por meias; só colocou os sapatos: o couro frio e desagradável contra a pele. — Preciso ir. Telefono quando souber de algo.
Tinha dado três passos para a porta do quarto, quando algo o deteve, um nó no estômago. Parecia que uma corda se enroscara em suas entranhas, pressionando-as. Medo, pensou. Sim, mas também havia algo diferente, algo mais. Não estava ligando para você vir; liguei para que você possa ir para bem longe, dissera Erika. Não venha. Graham voltou-se para David e desejou pegá-lo pela mão e sair correndo, sem parar para olhar para trás. Em vez disso, saiu do quarto e desceu o degrau que levava à porta da frente do apartamento.
Do lado de fora, a aurora tinha fracassado. Pelo lábio do mundo, por onde a luz do sol devia estar passando, havia apenas uma neblina opaca. Ela pairava no ar, putrefata, da cor da pele de um morto. A sensação no estômago de Graham se acentuou, a pulsação se acelerando, e aquele mesmo cantarolar nervoso — coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins — se debateu dentro de sua cabeça como um pássaro cativo. Havia gente demais ali, percebeu ele. Àquela hora, deveria haver um monte de motoristas fazendo entregas, feirantes, e algumas poucas pessoas embriagadas saindo de boates. Porém, a rua estava abarrotada, e buzinas tocavam em um engarrafamento que ia até a loja da esquina, onde uma van branca ocupava as duas faixas, com o motor fumegando. Ficou impressionado pelo fato de o barulho não tê-lo despertado antes. Uma multidão seguia pelo asfalto, acotovelando-se em meio ao tráfego imóvel, dirigindo-se à estação de metrô Gospel Oak. Todos seguiam rumo ao leste, e, quando Graham virou a cabeça para ver de onde vinham, entendeu por quê.
Acima dos telhados e das árvores de Hampsted Heath, o céu tinha se fendido.
A fumaça espiralava para cima, um vórtice tão espesso e escuro que parecia de granito. Assemelhava-se a um tornado, exceto pelo fato de ter mais de três quilômetros de largura, talvez mais. Girava lenta, quase graciosamente, formando um aglomerado de nuvens cor de chumbo. Explosões detonavam dentro desse espaço, embora sem nenhuma luminosidade — eram lampejos negros que deixavam vestígios na visão de Graham, manchas pretas, quando piscava. Toda vez que havia um lampejo, o ar se fendia em dois, revelando o que estava dentro do vórtice. Ou, melhor: o que não estava dentro dele.
Nada, pensou Graham, com a sensação de que estava no limiar de uma vasta e horrível loucura. Não há nada ali. Aquilo não era apenas um espaço oco; estava totalmente, totalmente vazio. Distinguia dali porções de céu que não eram nem escuras nem negras — simplesmente não eram nada. Parecia que um espelho tinha se quebrado, e os estilhaços espalhados revelavam a verdade por trás dele.
Outro jato destituído de luz cortou o vórtice, tornando distinta uma silhueta em meio à fumaça. Havia uma pessoa ali? Era grande demais, alto demais. Mas estava ali, uma figura no centro do redemoinho, um homem na tempestade. Graham, apesar de estar a quilômetros, sentiu que o homem olhava direto para ele com seu olhar de fogo às avessas. Olhar que o queimava, e a escuridão se expandindo em sua visão até cegá-lo. Não importa, ele se ouviu pensando. Melhor não ver, melhor só...
Algo esbarrou nele, fazendo-o cambalear de volta para a porta do prédio. Uma mulher balbuciou um pedido de desculpas, arrastando uma criança aos berros pela rua atrás de si. Graham recuperou o fôlego, livrando-se um pouco da escuridão em seus olhos. Quase olhou para cima de novo, mas deteve-se por um momento, erguendo a mão para se proteger dos céus. O que quer que estivesse no alto, era uma coisa ruim, uma coisa muito ruim. E o trabalho dele era garantir que coisas ruins não acontecessem. Afastou-se, pegou o celular e discou o primeiro número da agenda. Bastou um toque para que alguém atendesse, e Graham nem deixou que esse alguém falasse:
— Ponha o general Stevens na linha — disse ele. — Estamos sob ataque.
Amanhecer
E onde um incêndio furioso encontra outro,
Ambos devoram o que nutre sua fúria.
William Shakespeare, A megera domada
Cal
Hemmingway, 6h01
Pedaços do mundo partido ainda caíam quando Cal abriu os olhos.
Os fragmentos deslizavam pelo para-brisa do Freelander, formando uma camada translúcida que parecia neve, mas que ele sabia ser de pedra, metal e carne pulverizada. Sentou-se, as costas dormentes após uma noite no banco do passageiro, os pés parecendo repletos de agulhas. O carro inteiro vestia um paletó de sujeira, exceto a janela lateral do motorista. Do outro lado dela, a terra ficara da cor de osso, coberta com aquela mesma poeira fina. Era como se tudo sobre a terra tivesse sido apagado.
Tudo, menos nós, pensou ele.
Devia ser de manhã, porque uma luz amarelo-pergaminho infiltrava-se no carro. E havia pássaros também, percebeu Cal, que cantavam tão alto e com tanto vigor que ele se perguntou se não tinha sido isso o que o despertara. Tinham memória curta, os pássaros; já haviam esquecido o que acontecera. Não era o caso dele. Ele tinha passado a noite sonhando com aquilo repetidamente — a polícia, a Fúria, e Schiller, o menino no fogo.
O anjo.
Cal balançou a cabeça, girando ligeiramente o pescoço dolorido e vendo Adam deitado no banco de trás. O garotinho estava morrendo de frio, tremendo enquanto dormia. Não era de surpreender. Daisy estava no porta-malas do Freelander, afogada em casacos, cobertores, basicamente em tudo o que haviam conseguido achar, mas continuava fria como gelo. Literalmente fria como gelo. A baixa temperatura que emanava dela havia embaçado a janela de trás e transformado em cristal os bancos de couro. A coitadinha levara um tiro, uma bala no ombro de um dos poucos policiais que não tinham ficado furiosos. E agora...
Estava se transformando. Cal sabia. Schiller tinha passado pela mesma coisa, preso no gelo antes de ser apanhado pelo fogo. Daisy estava em uma espécie de casulo, e, quando acordasse, ficaria exatamente como Schiller. Cedo ou tarde, todos ficariam.
Não, disse a si mesmo. Como ele, não; não seremos todos assassinos.
As lembranças fizeram-no transpirar apesar do frio que sentia. Abriu a porta, libertando uma avalanche de poeira que invadiu seus olhos, nariz e boca. Saiu do carro com dificuldade, cuspindo, e precisou ignorar os protestos dos músculos enrijecidos das costas. Ao menos seu dedo estava melhor — rígido, mas sem doer. O nariz, também. Não achava que tivesse quebrado nada.
O inverno tinha chegado de um dia para o outro, e o mundo estava coberto pelo mesmo lençol de neve cinza. Nuvens negras feriam o céu frio e azul — não nuvens de chuva, de temporal, apenas terra, carros, árvores e pessoas reduzidas a átomos, mais leves do que o ar. Nacos desciam dançando ao chão, sendo chutados depois pela brisa que vinha sussurrando do mar.
— Precisamos sair daqui. — A voz não parecia pertencer àquele lugar, e provocou um sobressalto em Cal.
Ele se virou, olhando por cima do capô do Freelander e vendo Brick. O cabelo ruivo do garoto mais velho era a coisa mais chamativa à vista, reluzindo como cobre. Um rastro de pegadas espiralava em torno dele, serpenteando em volta dos banheiros e indo até as dunas. Um dia, aquilo fora um estacionamento, lembrou-se Cal, o lugar onde ele e Daisy tinham conhecido Brick. Há quanto tempo tinha sido aquilo? Três dias? Parecia uma eternidade. O universo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo e sacudido como um globo de neve.
— Agora! — disse Brick, com seu tom direto e enfurecido como sempre. — Já estamos aqui há tempo demais.
— Bom dia pra você também, cara — respondeu Cal, passando os dedos pelo capô e formando sulcos no pó.
Bem de perto, distinguiu as diferentes cores — marrom, prata e vermelho, muito vermelho. Sangue, músculo, cérebro, tudo reduzido a pó pela força que tinha flamejado do novo corpo de Schiller. Não que fosse algo possível, mas ali estava, em volta dele, a vida transformada em cinzas num piscar de olhos incandescentes.
Só que não tinha sido Schiller, tinha? Era ele que tinha se transformado, mas fora a irmã que o forçara a matar aquela gente toda.
— Rilke — Cal praticamente cuspiu ao dizer, lembrando-se de algumas das últimas palavras que a ouvira dizer: Mas ele explicou para você por que estamos aqui, não explicou? Para fazer a guerra contra a humanidade. Os olhos de Schiller ardiam, sim, mas a insanidade no olhar de Rilke assustara Cal muito mais.
— O que tem ela? — perguntou Brick. — Rilke já se foi há muito tempo, não foi?
Cal fez que sim com a cabeça. Não sabia explicar como sabia disso, mas Rilke estava a quilômetros de Hemmingway. Ele quase era capaz de vê-la andando com Schiller, Marcus e Jade, deixando atrás de si um rastro de morte. Ou talvez fosse só sua imaginação. Queria que Daisy acordasse. Ela com certeza saberia para onde Rilke tinha ido. Daisy sabia das coisas, mesmo quando ninguém lhe dizia nada. Porém, Daisy estava congelada, e, quando acordasse, seria um ser totalmente diferente.
— Precisamos conversar — disse Cal, arrastando os tênis no chão. — Sobre o que aconteceu. Precisamos pensar num plano.
Brick mais fungou que riu, uma risada sem o menor humor, passando a mão pelo cabelo e ornamentando a si mesmo com um pálido halo de poeira. Não tinham conversado muito na noite anterior; estavam exaustos demais. Haviam achado o carro, entrado e caído no sono.
— Não precisamos conversar — disse ele. — Só precisamos sair daqui. Já estamos aqui há tempo demais; só Deus sabe como dormimos no meio dessa confusão.
Era algo esquisito mesmo. Tinham dormido quase doze horas direto. Era um dos efeitos de estar em choque, imaginou Cal. Você era nocauteado para o seu corpo poder se recuperar.
— Mas Rilke e Schiller estão matando gente por aí — disse Cal. — Precisamos contar isso a alguém, à polícia.
— Dã... Eles mataram uns cem policiais na noite passada — disse Brick. — Acho que a polícia já está sabendo. Não há nada que a gente possa fazer. Você viu o que ele fez...
Brick pareceu engasgar com as palavras, e Cal soube o que ele via: pessoas amontoadas por braços invisíveis, esmagadas umas contra as outras até que não sobrasse nada além de uma bola giratória de carne comprimida; um helicóptero caindo de repente, com os pilotos dentro; uma explosão que obliterou tudo de um horizonte a outro. E Schiller suspenso no ar, perdido dentro de um inferno, comandando tudo.
— Como é que a gente pode deter isso? — perguntou Brick, ao recuperar-se. — Nem consigo acreditar que Rilke deixou a gente ir embora.
Porque, o que quer que Schiller fosse, eles também eram. Você vai ver, Cal, dissera Rilke. Pode levar um dia, pode levar uma semana, mas você vai ver. E ele ia mesmo. Sabia que um dia também ficaria gelado, e então algo terrível irromperia de sua alma. Estremeceu, e percebeu que Brick ainda falava:
— A gente aparece agora, se mete no caminho dela, e é claro que ela vai colocar Schiller contra nós. Uma palavra dela, e nós... — Ele pegou um punhado de pó do capô do carro e deixou escorrer por entre os dedos. Depois, com nojo, esfregou a palma da mão no jeans imundo, lançando um olhar zangado para Cal, como se aquilo tudo fosse culpa dele. — Não passei por tudo isso só para ser morto pelo cãozinho de estimação dela. Precisamos sair daqui, e, para onde quer que ela tenha ido, seguiremos na direção oposta.
— Mas e a Daisy? — perguntou Cal. — Ela precisa de ajuda.
Brick olhou para a traseira do Freelander.
— Ela vai ficar igual ao Schiller, não vai? — falou ele. Cal não respondeu. Mas ambos sabiam a resposta. — Tem uma dessas coisas dentro dela.
— Um anjo.
Brick deu uma fungada.
— Isso foi o que Rilke disse que eles eram. Mas ela não sabe de nada. Está falando bobagem.
Porém, Daisy tinha dito a mesma coisa, pensou Cal, e ela sabia a verdade. E sabia de outras coisas também.
— Mas e se a Daisy estiver certa? — disse Cal. — E se houver algum motivo para estarmos aqui... para combater o que quer que ela tenha visto? — O homem na tempestade, era como ela o havia chamado.
— Claro, Cal. O mundo está em perigo e somos eu, você e um bando de moleques que estamos destinados a salvá-lo! Estou exausto. Só quero que isso tudo acabe.
Cal fez que sim com a cabeça, erguendo os olhos para as árvores. A maior parte das folhas tinha sido arrancada pelas explosões, e os pássaros, empoleirados nos galhos feito pinhas, não tinham onde se esconder. Ainda cantavam, contudo. Havia em algum lugar uma mensagem naquilo, pensou ele. Inclinou-se contra o Freelander, o metal congelado. Era o carro da mãe; ele o tinha roubado quando tudo começara, para sair da cidade. Da última vez que vira a mãe, ela estava no retrovisor, gritando furiosamente, tentando matá-lo. Ela o teria matado se houvesse tido a chance; teria feito Cal em pedacinhos e depois entrado em casa e guardado as compras como se nada tivesse acontecido. A Fúria.
— Você acha que todo mundo ainda quer matar a gente? — perguntou a Brick, que deu de ombros.
— Acho que agora as pessoas têm preocupações maiores, com Rilke à solta por aí. Talvez nem reparem mais em nós. — Fez uma pausa, cuspiu, quase sorriu. — Caramba, se ela fizer o que quer, talvez nem sobre ninguém para reparar na gente. — Era um sorriso sem humor, porém, e, quando ele passou a mão no rosto, lágrimas deixaram rastros na poeira.
Cal se virou, fingindo não reparar.
— Certo — disse ele. — Vamos ir para longe daqui, de Rilke. No caminho a gente descobre o que fazer.
— Será que o carro ainda funciona? — perguntou Brick, dando uma fungada.
Cal pulou no banco do motorista e procurou as chaves no bolso. O Freelander tinha levado uma surra considerável no caminho de Londres até ali, mas o massacre de Schiller parecia não tê-lo alcançado. Girou a ignição, abrindo um sorriso enorme quando o motor tossiu, gemeu e, enfim, pegou. Ouviu um farfalhar vindo de trás e, virando-se, viu Adam, erguendo-se no banco e correndo o olhar ao redor, os olhos arregalados e úmidos.
— Está tudo bem, cara — disse Cal, deixando o carro em ponto morto para poder tirar o pé do pedal e se virar. — Você está em segurança. Sou eu, Cal, lembra?
Adam concordou com um gesto de cabeça, relaxando um pouco, mas ainda sem piscar.
— Você teve pesadelos? — O garoto fez que sim com a cabeça outra vez. Não tinha falado nada desde que aparecera em Fursville, e nada indicava que começaria a fazê-lo tão cedo. — Eu também — continuou Cal. — Mas são só sonhos, eles não podem nos fazer mal. Está em segurança aqui, comigo e com Brick. Com Daisy também, ela está dormindo ali.
Adam olhou para o porta-malas, estendendo a mão para tocar o rosto de Daisy. Rapidamente recolheu a mão e levou os dedos aos lábios.
— Está tudo bem com ela — falou Cal. — Ela... Você conhece a história da Bela Adormecida, não conhece? Foi isso o que aconteceu com a Daisy. Ela vai acordar logo, prometo. Pode me fazer o favor de colocar o cinto de segurança, Adam?
Ele obedeceu com a mansidão de um cão surrado. Brick abriu a porta do carona, deslizando o corpo esguio para dentro e batendo a porta. Foram necessárias algumas tentativas para conseguir fechá-la; quando conseguiu, o carro estava lotado de pó, com incontáveis mortos cremados nadando em suas orelhas, bocas e narizes. Cal baixou o vidro da janela, pôs o carro em movimento e o guiou pelo estacionamento, deixando atrás de si um perfeito círculo de marcas de pneu nas cinzas.
— Sabe para onde a gente está indo? — perguntou Brick.
O carro dava solavancos pelo caminho esburacado que passava em meio às árvores, voltando para a estrada do litoral.
— Cal? — disse Brick.
— Sei para onde estamos indo — respondeu ele assim que chegaram à estrada, verificando se a barra estava limpa antes de rumar ao sul, para longe de Fursville. Pensou em Daisy em seu caixão de gelo e na criatura dentro dela. O anjo. Um hospital não seria de grande ajuda, nem a polícia, nem o exército. Só conseguia pensar em um lugar onde poderiam encontrar respostas. Pisou fundo, o carro acelerando e arrastando atrás de si uma capa esvoaçante. Então olhou para Brick e falou: — Precisamos achar uma igreja.
Rilke
Caister-on-Sea, 7h37
Vermes, todos eles.
Homens, mulheres e crianças aglomeravam-se na grama morta do camping, os olhos negros, pequenos e vazios, os dentes à mostra. Enxameavam trailers, chalés e carros, cegos para tudo exceto o próprio ódio. Alguns tropeçavam e logo eram soterrados na debandada. Outros se acotovelavam, a colisão de carne contra carne quase tão ruidosa quanto o estrondo dos passos. Outros guinchavam e uivavam, o ar vibrando com os gritos dos condenados. E estavam condenados, não havia dúvida quanto a isso.
— Está pronto, irmãozinho? — perguntou Rilke, voltando-se para Schiller.
Ele ficou de pé ao lado dela, pálido, assustado e débil. Parecia exausto, a pele do rosto em pregas soltas, os cantos da boca caídos como os de um palhaço entristecido.
O chão estremecia à medida que os furiosos se aproximavam, o primeiro deles — um homem enorme e peludo, um verdadeiro gorila de shorts e colete — a uns dez metros. Perto o bastante para que seu odor se fizesse sentir. Ah, como ela os odiava, como odiava aqueles parasitas. Antes talvez até tivesse ficado assustada, mas não mais. Agora só havia a fúria — a fúria dela, incandescente e tão perigosa quanto a deles.
— Schiller — disse Rilke. — Agora!
— Por favor, Rilke — começou ele, mas ela o interrompeu, pegando seu braço e torcendo-o com força.
Atrás dele, estavam Jade e Marcus, o rosto de ambos parecendo o de uma ovelha. O novo garoto, aquele que tinham achado em Hemsby, estava entre eles, ainda congelado. Rilke virou-se outra vez para o irmão.
— Agora!
Se Schiller estava hesitante, a criatura dentro dele estava muito disposta. Os olhos do irmão se acenderam com tanta força que uma fornalha parecia ter prorrompido em seu crânio. Em um instante, as chamas se espalharam como uma segunda pele que o envolveu em luz raivosa, e ele abriu a boca em um silencioso grito de fogo. Com um estampido, como o de um tiro, suas asas despontaram dos ombros, irradiando uma onda de choque que levantou pó e areia e mandou a primeira linha de furiosos de volta para a multidão. Aquelas asas batiam devagar, quase com preguiça, forjadas na chama. A força genuína emanada fazia o ar tremer, um zumbido de gerador que parecia despedaçar a realidade. Rilke precisou cerrar o maxilar e fechar os olhos com força para controlar a vertigem, e, quando olhou outra vez, Schiller já fazia seu trabalho.
Devia haver uns cem deles, rápidos e raivosos. Não davam a impressão de ter se assustado com a transformação de Schiller. Na verdade, ela pareceu deixá-los ainda mais irados. Jogavam-se contra o menino incandescente, as mãos em garras, os mesmos gritos horrendos e guturais como latidos produzidos no fundo da garganta. Cem deles, e mesmo assim não tinham a menor chance.
Schiller abriu os braços, o ar ao redor dele cintilando. Agora pairava, ondulações espalhando-se sobre a terra como se esta fosse água. O homem peludo despedaçou-se com um estalido tímido, o corpo atomizado mantendo a figura por uma fração de segundo antes de se decompor. Os outros correram por sobre seus restos flutuantes antes de se desintegrarem com a mesma velocidade, produzindo o som de alguém brincando com plástico-bolha. Porém, outros continuavam vindo, até que uma nuvem em redemoinho, escura e espessa como fumaça, apareceu diante de Schiller.
— Rilke!
Ela se virou e viu Jade gritando, porque mais furiosos vinham de trás deles. Dois adolescentes vinham à frente dessa multidão. Ambos se lançaram em cima de Marcus, tropeçando em uma rede de dentes e de membros. Outros três vieram, empilhando-se sobre o menino magrinho até que ele sumisse. Outros correram para Jade, e outros ainda, em maior número, em direção a Rilke. Não tenha medo deles; são ratos, ordenou a si própria, mas o medo petrificou suas pernas. Não tinha os poderes de Schiller, não ainda. Ela ainda era um ser humano patético, quatro litros de sangue em uma armação de papel. Iriam dilacerá-la com a facilidade de quem arranca pétalas de uma flor.
— Schill! — gritou.
Uma mulher saltou sobre ela, tropeçando em um dos braços de Marcus, que se agitava no ar, e errando o alvo. Um homem veio atrás, arranhando o rosto de Rilke e fazendo-a tropeçar. Enquanto ela caía, a outra mão do homem se lançou em sua garganta, os olhos dele como poços negros de ódio absoluto.
Sequer chegou ao chão. O ar abaixo dela se solidificou, sustentando-a. O homem se movia com uma lentidão inacreditável. Seus dedos estavam praticamente congelados à frente do pescoço dela, como um filme passando em câmera lenta. Viu a terra embaixo das unhas dele, o anel de pátina no dedo mindinho. Gotas de saliva voavam de seus lábios, subindo quase com graça, suspensas ao sol como orvalho.
Tudo parecia ter parado, o tempo operando com relutância ao longo de seu eixo. Uma das furiosas estava sentada sobre Marcus, erguendo um punho fechado, uma gota de sangue suspensa nos dedos. Outros se aproximavam, mas o ritmo da corrida era agora um rastejar de caracol. Rilke se percebeu rindo, mas seus movimentos também eram lentos, como se nadasse em um lago de gosma. Ela ainda caía, notou, mas tão lentamente que parecia imóvel.
Somente Schiller era imune. Ele flutuou pelas turbas até chegar perto de Rilke, depois, pressionou uma mão incandescente contra o peito do homem. Este não explodiu e virou pó. Mas dobrou-se ao meio com um coral de ossos partidos e, em seguida, dobrou-se de novo, e de novo, até se tornar menor do que uma caixa de fósforos. Com um peteleco, Schiller o mandou para longe, e voltou sua atenção para os outros furiosos. Ainda que não se movessem em câmara lenta, não seriam capazes de enfrentá-lo. Tudo o que o irmão de Rilke fez foi virar as palmas das mãos para o céu, e qualquer furioso à vista, fosse homem, mulher ou criança, esticou-se para cima como uma marionete presa por um fio. E, à medida que se esticavam, iam se despedaçando, os membros se soltando, roupas e pele tornando-se retalhos, dentes e unhas se despregando do corpo, todos unidos por espirais de sangue — erguendo-se até que ficassem pequenos como pássaros distantes que depois desapareciam.
Então, o tempo pareceu se dar conta de si novamente, com seus dedos envolvendo Rilke e empurrando-a para o chão. Os ouvidos dela estalaram e o coração bateu com certo descompasso antes de encontrar seu ritmo. Marcus retorceu-se no chão antes de perceber que os agressores tinham sumido, ao passo que Jade ficou sentada em um montículo, os olhos petrificados, subtraída de outra porção da sanidade que lhe restava. Rilke se pôs de pé em um salto e apoiou as mãos nos joelhos para não cair de novo.
— Tudo — disse ela. Tossiu, antes de repetir: — Tudo, Schill. Não podemos deixar nada para trás.
Ele olhou para ela, os olhos que não piscavam parecendo portais para outro mundo. Mirá-los provocava um tipo sorrateiro de loucura, que a deixava nauseada. A vibração no ar intensificou-se, e ela sentiu um dedo de sangue descer de seu ouvido. Mas não desviou o olhar.
— Agora, Schiller — disse outra vez.
E foi o irmão que cedeu, a cabeça pendendo. Desta vez, ele nem se mexeu, mas mesmo assim a paisagem se desfez, exatamente como em Hemmingway e em Hemsby. Trailers levantaram-se do chão, portas e janelas batendo como membros agitados, até virarem pó. Chalés desabaram como se fossem de areia, deixando cair migalhas ao cruzar o céu. Carros, motocicletas e cadeiras quebraram-se com ruídos metálicos abafados. Rilke os observou sumir, uma maré de matéria que corria acima deles como um rio, indo para as dunas e o mar.
Schiller baixou os braços, e os restos do camping desabaram com um estrondo de trovão, a água agitando-se enfurecida. Rilke sentiu o borrifar salgado no rosto e o enxugou. Odiava o cheiro do mar. Talvez, se Schiller jogasse coisas suficientes nele, ele secaria – terra e oceano, ambos perfeitamente limpos. Virou-se para o irmão quando os ecos morreram, vendo as chamas que emanavam de sua pele ondulando, as asas se dobrando e se apagando. Como sempre, os olhos foram a última coisa a voltar ao normal, a chama laranja dando lugar ao azul aquático. Ele pendeu para o lado, e ela o alcançou antes que ele caísse. Rilke o deitou delicadamente no chão e afastou o cabelo de seus olhos.
— Você agiu bem, irmãozinho — sussurrou ela. — Você nos manteve em segurança.
Ele parecia semimorto, mas as palavras dela produziram um sorriso. Marcus se agachou ao lado dos dois e tirou uma garrafa de água da mochila. Tinham juntado suprimentos em Hemsby, antes que Schiller arrasasse a cidadezinha. Rilke tomou a garrafa da mão dele, desenroscou a tampa e levou-a aos lábios do irmão. Ele bebeu com sofreguidão, como se tentasse apagar uma fogueira que ardesse em seu íntimo.
— Obrigado, Schill — disse Marcus. — Achei que não ia me livrar dessa.
Rilke também tomou um gole de água e depois devolveu a garrafa.
— Nada vai acontecer conosco — disse ela. — Somos importantes demais.
— Eu sei — respondeu Marcus, mas franziu o rosto.
— O que foi? — retrucou ela.
Estava exausta. Não dormiam desde Fursville. Tinham tentado descansar a caminho de Hemsby, em uma clareira entre as dunas, mas a polícia os tinha encontrado depois de cerca de meia hora, e Schiller fora forçado a cuidar deles. Desde então, não haviam mais parado, e a polícia aparentemente tinha decidido deixá-los em paz. Ou era isso, ou não havia mais polícia — o irmão não tinha demonstrado nenhuma misericórdia deles.
— Nada, Rilke — disse Marcus. — É só que... Eles são tantos, e alguns eram crianças.
A raiva fervilhou na garganta dela, mas ela tapou a boca para contê-la. Não podia culpar Marcus por duvidar, mesmo com tudo o que ele tinha visto. Ela própria tinha dificuldade de aceitar a verdade quando as turbas se desintegravam diante de seus olhos, especialmente as crianças. Havia bebês também, recém-nascidos com rostos franzidos que berravam com uma fúria que jamais poderiam entender.
Porém, a verdade era inconfundível e inescapável. Estavam ali para subjugar a raça humana, para fazer com que ela entendesse que havia uma força superior; que a ilusão de rédea solta, de impunidade, era só isto: uma ilusão. Eles eram os anjos da morte, o grande dilúvio, o fogo purificador. As pessoas eram más. Rilke sabia disso melhor do que ninguém. São todas iguais a ele, ao homem mau, pensou ela, lembrando-se do médico da mãe, com aquele mau hálito e aqueles dedos gananciosos. Lá no fundo, todos têm segredos, todos são podres. Marcus só tinha dúvidas porque ainda não havia se transformado, era isso. Assim que seu anjo nascesse, ele enxergaria a verdade. Schiller tinha se transformado, e enxergava.
— Estamos fazendo a coisa certa, não estamos, irmãozinho? — Foi uma pergunta retórica.
Schiller olhou para ela com olhos arregalados, tristes, e acabou fazendo que sim com a cabeça.
— Acho que sim — disse ele.
— Você sabe que sim.
Rilke de súbito lembrou-se de um incidente de anos atrás, quando ela e Schiller brincavam em casa. Ela não recordava exatamente qual era a brincadeira, só que os dois corriam, e ela derrubara do aparador da mesa de jantar uma das bonecas de porcelana da mãe. A boneca se quebrara em mil pedaços, e, por um instante, a vida de Rilke acabara. A mãe estava começando a perder a sanidade naquela época, os alicerces de sua mente sendo pouco a pouco corroídos, embora ela continuasse a amar aquelas bonecas mais do que amava os próprios filhos. Quebrar uma era um crime hediondo, a ser punido com uma surra. Assim, Rilke convencera Schiller a assumir a culpa. Ele tinha protestado. Tinha mais medo da mãe do que ela. Mas era fraco, sempre fraco, e não demorou até que cedesse. Quando subiram e Schiller confessou seu crime, Rilke teve certeza de que ele acreditava mesmo que era culpado. Por que estaria pensando nisso agora?
— Você sabe que sim — disse ela outra vez, acariciando a cabeça dele. Quando afastou a mão, havia nacos do cabelo dele entre seus dedos, como se fossem algas, e ela os limpou na saia. — Confie em mim, Schiller.
Ele tentou se levantar, mas não teve forças e caiu de costas. Sua testa estava viscosa de suor, e a pele, cinzenta. É só cansaço, Rilke se convenceu. Precisamos achar um lugar para descansar, para dormir. Mas havia também outro pensamento presente: Isso o está matando. Afastou a ideia. O que Schiller tinha dentro de si era um milagre, algo bom, que o fortalecia. Algo que o deixava em segurança, que nada faria para feri-lo.
— Eu vejo coisas — disse o irmão, olhando para o céu. — Quando acontece, quando eu me transformo, eu vejo coisas.
— Tipo o quê? — perguntou Rilke.
— Não sei — disse ele depois de um momento. — Uma coisa ruim. Parece um homem, mas um homem mau. Não consigo ver o rosto dele, só... Não sei, parece que ele mora dentro de um furacão ou algo parecido. Não paro de vê-lo, Rilke. E ele me assusta.
— Esqueça isso, irmãozinho — disse ela. Mas também o tinha visto no silêncio entre dormir e acordar, uma criatura ainda mais poderosa do que seu irmão. O homem na tempestade. — É um de nós — falou. Ele está aqui pelo mesmo motivo que nós. Não se preocupe com ele, ele está do nosso lado.
Schiller pareceu ruminar as palavras dela, mas não por muito tempo. Nunca por muito tempo. Você quebrou a boneca, Schill, foi culpa sua ela estar em pedaços, mas tudo bem, porque vou estar do seu lado quando você contar para a mamãe; estou sempre aqui do seu lado, eu te amo. Você é um bom menino, diga a ela que quebrou.
— Você é um bom menino, Schill — disse ela, acariciando-o por dentro da blusa. — Vamos passar por essa juntos. Sabe que estou sempre do seu lado.
Ele fez que sim com a cabeça, e o camping ficou em silêncio. Até o mar parecia tranquilo, as pequeninas ondas mal emitindo sons ao bater contra a praia. Ele está com medo de nós, pensou ela. Quer que vamos embora.
— Estou realmente cansado, Rilke — disse Schiller. — Podemos parar?
— Em breve — respondeu ela. — Assim que acharmos um lugar seguro.
Isso seria muito mais fácil se ela também se transformasse, mas o anjo dentro dela não dava nenhum sinal de que nasceria. O único motivo pelo qual sabia que ele estava ali eram as dores de cabeça que sentira — tum-tum, tum-tum, tum-tum —, seguidas pela Fúria. Ele estava ali, e cedo ou tarde renasceria com os mesmos poderes do anjo do irmão.
E quando isso acontecesse...
Rilke abriu um sorriso enorme, a ideia aniquilando os últimos resquícios de exaustão. Ficou de pé, ainda ao lado de Schiller. O mundo nunca parecera tão grande, e tinham muito trabalho a fazer.
— Mais uma cidade, irmãozinho, você consegue?
Ele suspirou, mas concordou com um gesto de cabeça.
— Bom garoto.
Ela aguardou Marcus e Jade ajudarem a levantar o outro garoto, que ficou entre eles. Os dois tremiam, mas sabiam que discutir com ela não era boa ideia. Rilke deu o braço ao irmão, sustentando parte do peso dele, e juntos seguiram pela terra arruinada, deixando atrás de si a poeira dos mortos.
Cal
East Walsham, Norfolk, 7h49
O Freelander estrebuchou, pareceu por um instante que iria continuar, mas depois ofegou baixinho e morreu.
— Droga! — disse Cal, girando a chave.
O motor deu umas tossidelas insignificantes, mas, por mais que o jovem quisesse, não conseguia fazer o medidor de combustível levantar. — O tanque está vazio.
— Ótimo! — resmungou Brick, o rosto contorcido de um jeito que fez o sangue de Cal ferver de imediato. — Você não trouxe mais?
— Pois é, Brick, eu parei num posto quando saí de Londres, lutei com os furiosos e enchi o tanque. Peguei também umas jujubas e um cafezinho. O que você acha?
Brick deu um tapa no painel e abriu a porta. Cal respirou fundo e saiu depois dele. O ar ali era muito mais puro; não tinha gosto de crematório. A viagem havia tirado praticamente toda a carne pulverizada do carro, deixando apenas bolsões nos cantos das janelas e nas rodas. Cal respirou fundo, absorvendo o ar do ambiente: nada além de campos, árvores e sebes em todas as direções. O único indício do lugar de onde tinham vindo era uma névoa cinzenta no céu. Ao menos fazia calor, o sol nascente parecendo um casaco jogado nos ombros de Cal.
— Onde estamos? — perguntou Brick, reunindo uma bola de cuspe e lançando-a na beira da estrada.
— Não sei muito bem — respondeu Cal. — A gente basicamente dirigiu para oeste, é difícil dizer. — A navegação via satélite estava funcionando, mas Cal não sabia qual endereço colocar, por isso só a usara como guia, seguindo o emaranhado de estradas que saía de Norwich. Tinha se limitado às menores, e até ali só haviam passado por outros três veículos: dois carros que zuniram rápido o bastante para sacudir o Freelander, e um trator, atrás do qual permaneceram até que ele entrara em uma fazenda. Tinham passado por algumas cidadezinhas, mas estavam bem desertas. — A última placa que eu vi dizia “Tuttenham”.
— E onde fica isso? — retrucou Brick.
— Você que é daqui que devia saber.
Por alguns segundos, os dois se encararam, fumegando em silêncio.
— Ok — disse Cal, suspirando. — Vamos ter que continuar a pé, não é?
Brick deu de ombros, parecendo ter um quarto de seus dezoito anos. Arrastou os tênis sujos no chão, depois passou os dedos pelo cabelo.
— Deve ter alguma cidadezinha por aqui — murmurou ele. — Talvez uma fazenda. Daria para pegar um pouco de diesel.
Cal deu de ombros.
— Vale a pena tentar. Quer levar Adam ou Daisy?
Brick não respondeu, só começou a caminhar pela estrada, o corpo coberto de pó parecendo um fantasma estranho e delgado na branda luz da manhã. Cal abriu a porta de trás do carro e deu de cara com Adam, como sempre de olhos arregalados. O garotinho tremia.
— Quer sair do carro? — perguntou Cal. — Pegar um pouco de sol? Está congelando aqui. — Adam olhou nervoso para a menina no porta-malas. — Está tudo bem, Daisy também vem com a gente. De repente o calor vai até descongelar ela. Vamos.
Adam arrastou-se do assento para o asfalto. Cal sorriu para ele, e em seguida andou até a traseira do Freelander. As janelas ali estavam foscas devido ao gelo, como se fosse Natal, e, quando ele tentou abrir o porta-malas, descobriu que o gelo o havia travado. Deu alguns chutes para soltar os flocos de cristal até conseguir abri-lo. Daisy estava encasulada em uma teia de seda, o rosto branco e frágil como porcelana. Parecia morta, mas ele sabia que ela apenas dormia. Qual era o termo correto? Metamorfoseava-se. Cal pensou em Schiller, consumido pelo fogo, e se perguntou se para Daisy não seria melhor morrer de uma vez. Para todos eles.
— Lá vamos nós — disse, passando as mãos por baixo do corpo de Daisy e levantando-a.
Ela parecia mais leve, apesar da crosta de gelo, e o modo como cintilava era quase assustador. A pele de Cal queimava com o frio, as mãos já quase dormentes, mas ele a segurava com firmeza. — Aguente firme, Daisy, a gente vai encontrar ajuda.
Adam, que esperava à frente do carro, deu um ligeiro sorriso quando viu Daisy.
— Está vendo? Vai dar tudo certo com ela — disse Cal. — Com todos nós.
Ele lançou um olhar para o Freelander vazio, e em seguida partiu pela estrada. Brick tinha sumido, mas, depois de mais ou menos cinquenta metros de caminhada, sua cabeça surgiu da alta grama que ladeava o asfalto.
— Melhor sair da estrada — disse ele. — Com ou sem Fúria, os motoristas de Norfolk são todos malucos.
Cal esperou Adam correr até a beira da estrada e depois cambaleou até lá. Quase caiu após tropeçar em um canteiro de flores amarelas brilhantes, conseguindo por pouco ficar de pé, e torcendo o tornozelo no processo. Engoliu um palavrão e mancou até Brick.
— Obrigado pela ajuda — disse ele, mas o outro garoto já se afastava.
Cal o seguiu, respirando fundo algumas vezes para se acalmar. Adam trotava do seu lado, de vez em quando dando uma corridinha para acompanhar o ritmo. O único som, tirando o baque dos pés na terra seca, era o chilrear dos pássaros. Eles não param de cantar, pensou Cal, mesmo com o mundo desabando em volta deles.
— O que é que vamos fazer se as pessoas ainda estiverem com a Fúria? — perguntou Brick após alguns minutos.
— Sei lá — disse Cal.
— Acha que vão vir atrás da gente?
— Sei lá.
Brick chutou uma pedra, que rolou para as sombras em meio à vegetação. Andaram calados, cruzando um dique seco e abrindo caminho por uma sebe na extremidade do campo. O trecho seguinte de terra era quase deserto, o que facilitou a travessia. Deram apenas alguns passos até que Cal sentiu Adam puxando suas calças esportivas. O garoto apontava e, quando Cal seguiu seu dedo, viu uma pequena torre de pedra erguendo-se das sebes.
— Boa, garoto! — disse ele, sorrindo. Adam sorriu em resposta, mais radiante do que o sol. — Está vendo aquilo, cara?
Brick ergueu os olhos para protegê-los, embora o sol estivesse atrás deles. Era difícil dizer a que distância estava a igreja, talvez a uns dois ou três quilômetros.
— Ainda não sei para que você quer uma igreja — respondeu Brick. — Não sei que grande coisa ela vai nos oferecer.
— Bem, não é como se você tivesse me dado outras sugestões — disparou Cal, com a sensação de que ele próprio estava prestes a ter um acesso de Fúria. Alguma coisa em Brick provocava isso nas pessoas, deixava-as irritadas. — Só achei... Sei lá, mas, se essas coisas dentro de nós são mesmo anjos...
— Não são anjos, Cal.
— Bem, se são anjos, então talvez um pastor possa ajudar a gente; talvez ele saiba nos dizer o que fazer. Talvez tenha alguma coisa na Bíblia. Não sei. — O simples fato de dizer aquilo o fez perceber a futilidade de suas palavras. O que quer que estivesse acontecendo, não tinha nada a ver com cristianismo. — Sei lá. Mas não consigo pensar em mais nada. Você consegue?
Brick limitou-se a fungar.
— Vai se ferrar, então! — falou Cal. — Se quiser seguir seu caminho sozinho, não sou eu que vou impedir.
— Certo — disse ele. — Vamos tentar a igreja. Mas não vai adiantar nada.
Cal levantou Daisy até o peito, os dentes batendo. Levaram uns dez minutos para chegar ao fim do campo; e já levavam uns cinco tentando atravessar uma cerca de arame farpado. Do outro lado, havia uma pista de terra que passava ao lado de um pasto cheio de vacas, os animais encarando-os com aqueles olhos tristes e negros. Ao menos não ameaçavam atacá-los. Ser pisoteado até a morte por um bando de vacas furiosas não era um bom jeito de passar desta para uma melhor.
— Já deu tiro em bosta de vaca? — A pergunta era tão surreal que Cal precisou parar para ter certeza de que tinha ouvido direito.
— Se eu já dei tiro em bosta de vaca?
— É, tiro de espingarda.
— Não, Brick. Eu sou de Londres. Lá não tem espingarda nem bosta de vaca. Por quê?
Brick emitiu um som que poderia ser uma risada.
— É como assistir a um vulcão de cocô — disse ele, e Cal ouviu o sorriso em sua voz. — Meu amigo Davey tinha uma doze. Um dia ele me levou para a fazenda dele, e a gente deu uns tiros num campo inteiro de bosta. Sério, ela sobe uns dez metros, nunca vi nada igual.
Cal sacudiu a cabeça, sem saber o que dizer. Conhecia Brick havia menos de uma semana, mas achava que poderia passar anos com ele e não entender suas variações de humor.
— Dei um tiro num monte de bosta e deixei Davey coberto de esterco. Foi a coisa mais engraçada que já vi.
— Parece mesmo engraçado — respondeu Cal.
— Quisera eu ter uma agora.
— Bosta de vaca? Pode escolher, aqui tem centenas.
— Uma espingarda, panaca. Eu me sentiria bem mais seguro de andar até a igreja se tivesse uma arma.
— Pois é, da última vez que a gente teve uma arma foi realmente ótimo. — Cal jamais esqueceria da arma apontada para ele pelo homem em Fursville, nem do jeito como Rilke lhe dera um tiro na cabeça sem hesitar. Rilke também tinha dado um tiro na namorada de Brick, lembrou Cal de repente, e suas bochechas arderam. — Foi mal, cara. Não pensei direito antes de falar.
Brick não respondeu, só chutou o chão, espalhando pedrinhas. E fez tanto barulho que Cal quase não ouviu o som de um motor à frente, aumentando e diminuindo. Conteve os passos, erguendo a cabeça quando outro rugido distante soou e sumiu.
— Deve ser uma estrada — disse Brick. — O que vamos fazer?
— Vamos chegar mais perto para ver, o que acha?
Não era o melhor plano do mundo, mas era esse o problema com a Fúria: você só sabia se ela estava presente chegando perto. E, ao chegar perto, provavelmente alguém já estaria lhe dando uma dentada.
Brick não respondeu, só pulou a cerca. Estendeu as mãos, e Cal passou Daisy para ele. Seus braços eram dois blocos de pedra fria, mas ainda assim conseguiu erguer Adam acima da cerca antes de ele mesmo pulá-la. O campo começava a formar um aclive no caminho de terra, e eles subiram a colina calados, ouvindo o tráfego adiante. Cal contou sete veículos passando antes que chegassem ao final.
Agachou-se, espiando pela cerca e vendo uma estrada abaixo. Havia calçada dos dois lados, e casas uma na frente da outra — grandes propriedades separadas com telhados de palha e largas rampas de acesso. À esquerda, a estrada levava a uma cidadezinha. Cal distinguiu o que poderia ter sido uma padaria e uma loja Tesco. Erguendo-se acima de tudo, estava a torre da igreja. Havia gente ali, seis ou sete pessoas, longe demais para enxergá-las direito. Três sumiram supermercado adentro, suas risadas ecoando pela estrada.
— O que você acha? — perguntou Cal.
— Como é que eu vou saber? — respondeu Brick, estreitando Daisy ao peito e tremendo de frio. — Podemos descer lá e ter a cabeça arrancada por eles.
Cal endireitou as costas, abrindo um sorrisinho nervoso para Brick.
— Acho que só tem um jeito de descobrir.
Brick
East Walsham, 8h23
Brick observou Cal tropeçar pelo campo, com Adam em seu encalço, mas não conseguiu segui-los. Carregava Daisy em seus braços, e o frio que irradiava dela congelara seus ossos, fazendo com que ele criasse raízes. De repente, percebeu o quanto estava exausto, o corpo e a mente funcionando à base de nada, prestes a dar um soluço e morrer, tal como o carro. Cal pareceu ler sua mente, porque olhou por cima do ombro e disse:
— Vamos, cara, não posso encarar essa sozinho!
Aos tropeços por causa do chão irregular, Adam retornou até Brick. O garotinho estendeu a mão e segurou a camiseta do outro, dando-lhe um leve puxão. Seus olhos eram bolsões de luz solar, ofuscantemente brilhantes, e ofereceram certo calor ao corpo de Brick, que respirou fundo e ficou de pé. Uma ligeira tontura deu-lhe a impressão de que dava piruetas pelo campo. Quando ela parou, deu um passo, depois outro, e foi seguindo Cal em direção à torre.
— Será que a gente podia fazer aquele negócio da distração de novo? — disse Cal. — Que nem na fábrica, lembra?
Brick deu de ombros, ainda que soubesse que Cal não estava vendo. Na fábrica, só havia um guarda para distrair, e mesmo assim tinha dado errado.
— Eu podia atraí-los para fora e abrir caminho para você levar Daisy e Adam para dentro da igreja — continuou Cal. — Ou, se você for mais rápido do que eu, você os atrai.
Até parece, pensou Brick, dizendo, por fim:
— E se a igreja estiver cheia?
— Segunda de manhã? Não vai estar.
— E se estiver trancada?
Cal colocou as mãos na cabeça e puxou os cabelos.
— Ok — disse Brick. — Tá, beleza, vamos tentar.
À frente, o campo se inclinava rumo à estrada, estendendo-se junto a ela até o início da cidadezinha. Havia um trechinho de sebe, mais buraco do que folhas, que não ofereceria rigorosamente nenhuma proteção se os furiosos sentissem a presença deles. Cal se agachou, descendo o declive com rapidez. Outro carro passou pela estrada, talvez a uns trinta metros de distância, seguido por um caminhão dos correios. Para uma cidadezinha, até que havia bastante movimento.
— Você devia ir por trás — disse Cal. — Por aqueles jardins. Veja se dá para cortar caminho.
Ele apontava para onde o campo se juntava às casas, no limiar da cidadezinha, onde havia pequenos jardins protegidos por cercas.
— E você? — perguntou ele.
— Eu vou pela rua principal. Se ainda estiverem com a Fúria, eu atraio eles. — Enxugou a boca com a mão. Seus dedos tremiam. Cal não parecia ser capaz de percorrer nem mais vinte metros, quanto mais correr por uma cidadezinha inteira cheia de furiosos. — De repente, eu chego lá e ninguém repara em mim.
Brick deu de ombros outra vez. Ele levantou Daisy; a menina era levíssima e, estranhamente, também a coisa mais pesada do mundo.
— Fique com Brick, Adam, ele vai cuidar de você até eu voltar.
O garotinho abriu a boca, mas não falou nada. Cal olhou para Brick e fez que sim com a cabeça, e depois se pôs em movimento, descendo o declive rumo à estrada. Brick olhou-o por mais alguns segundos, praguejou e depois partiu na direção das casas. Com Daisy nos braços, e Adam preso à sua camiseta, não estava nada fácil. Duas vezes ele tropeçou na terra árida; pareceu demorar uma eternidade até chegar à primeira cerca. Não ouviu gritos, nem pneus cantando, nem explosões.
A cerca era um pouco mais baixa do que ele, e ele ficou na ponta dos pés para olhar por cima dela. Do outro lado, havia um microjardim que levava a uma casa geminada. A casa tinha uma passagem lateral, e Brick deu uns passos para a esquerda, para ter uma visão mais ampla. Havia um portão, provavelmente trancado. Foi aos tropeços até o jardim seguinte, que estava cercado por uma espessa sebe. O outro jardim tinha arame farpado acima da cerca, e a quarta casa estava caindo aos pedaços, com uma estufa abandonada sem várias placas de vidro. Uma olhadela rápida pela passagem revelou um caminho reto até a estrada do outro lado.
Não havia portão, mas o jardim não era exatamente Alcatraz. Brick chutou a cerca que estava se soltando, disparando uma saraivada de farpas. Outro chute, e, com um rangido abafado, o painel caiu na grama alta. A casa tinha as cortinas bem fechadas em cada janela.
— Vamos — disse ele, andando pelo jardim e chegando à passagem.
Seus passos ecoavam, dando a impressão de que havia alguém bem atrás deles, e duas vezes olhou por cima do ombro para se certificar de que ninguém os seguia. A luz do sol se derramava pelo arco do outro lado, e Brick deu um passo cauteloso dentro do calor, apertando os olhos até que a estrada iluminada ganhasse foco. Era uma rua residencial, com casas pequenas ombreando-se como soldados. Reteve a respiração, outra vez procurando algum ruído. O ar estava quente e silencioso, como se a cidade inteira o imitasse, também retendo a respiração, esperando o momento certo para ganhar vida.
Engoliu em seco, a garganta uma bola de areia, e em seguida deixou a passagem rumo à calçada. Estava deserta, mas será que não havia gente dentro das casas? Será que já não o teriam pressentido? Não surgiriam jorrando de portas e janelas? Voltou o olhar para a torre da igreja, perto o bastante para distinguir as gárgulas gastas e o campanário.
Uma buzina distante cortou o silêncio pesado, sobressaltando Brick de tal maneira que Daisy quase escorregou de seus braços. Ele a apertou contra o peito. Acorde, Daisy, pensou ao atravessar a rua, indo para a passagem do outro lado. Por favor, acorde, não posso carregar você para sempre.
Então se lembrou do que ela seria quando acordasse, e sugou o desejo de volta para as trevas de seus pensamentos.
As casas desse lado tinham portões que davam para fora, mas um pouco adiante as casas enfileiradas acabavam e davam espaço a casas maiores, parcialmente separadas. Pegou um atalho por uma rampa de acesso de cascalho e seguiu por um jardim comprido e cuidado com perfeição. O zumbido do tráfego era mais alto ali, e o garoto pensou ter ouvido vozes também. Chegou a um muro e se apoiou nos tijolos em ruínas, tentando recuperar o fôlego.
— Consegue subir? — perguntou a Adam.
O garotinho olhou o muro, os dois metros de muro, e balançou a cabeça. Brick resmungou, frustrado, agachando-se e pousando Daisy no chão com delicadeza. Esfregou os braços, tentando aquecê-los, e em seguida pegou Adam pelas axilas. As mãos dele estavam tão dormentes, e o menino era tão leve, que parecia estar levantando ar. Colocou-o no alto do muro e o sentou ali.
— É só descer. Não é tão alto.
Adam balançou de novo a cabeça, o temor estampado no rosto.
— Desça! — disparou Brick. — A menos que prefira que eu o empurre.
O garoto passou o braço pelo rosto, enxugando as lágrimas. Virou-se com calma, apoiando-se nos dedos brancos enquanto se deixava cair. Brick se agachou para pegar Daisy, e foi ao endireitar a coluna que ouviu o som de uma porta se abrindo. Voltou os olhos e viu um homem sair da casa; ele usava calças de moletom e colete, o rosto com a barba por fazer, e parecia zangado.
— Ei! Você aí, o que acha que está fazendo?
A que distância estava ele? Era um jardim grande, talvez fosse uns vinte metros entre a porta dos fundos e o muro, mais ou menos. Brick não se mexeu; até seu coração pareceu conter o batimento frenético, à espera. O homem deu um passo à frente. Ele já estava perto o bastante para um acesso de Fúria, não estava?
— Estou falando com você! — gritou. — Saia do meu jardim ou vou chamar a polícia!
Mais um passo. Brick recuou até colar as costas no muro. O homem tinha parado e o encarava, ambos num impasse. Talvez o cara fosse entrar e pronto. Brick era alto, e tinha um rosto do tipo que faz você pensar duas vezes antes de querer brigar. Talvez o homem simplesmente voltasse, trancasse a porta e chamasse a polícia.
Porém, havia uma parte de Brick que precisava saber se a Fúria ainda estava ali.
O homem esfregou o rosto, franzindo-o. Tentava distinguir o que Brick tinha nos braços.
— O que é isso aí? — perguntou ele. — O que...?
Brick ignorou-o, virando-se para o muro e tentando erguer Daisy. Seus braços pareciam feitos de vidro, prontos para se estilhaçar, e ele não teve forças. Tentou de novo, gemendo com o esforço. Desta vez, conseguiu levá-la até o alto do muro, mas não conseguia virar seu corpo. Os músculos cederam, e ela caiu no chão diante de seus pés como uma boneca de pano, uma coisa morta.
— Ei, se afaste dela! — gritou o homem.
Brick ouviu-o começar a correr. Abaixou-se e agarrou nacos das roupas e da carne de Daisy, sem se preocupar se a machucava. Levantou-a, apoiando-a com o peito contra o muro, enquanto reposicionava os braços.
— Afaaaaaaaaste-se deeel... — A voz do homem era um som gorgolejante, e Brick quase deu um grito ao ouvi-la.
Colocou o corpo sob o de Daisy, erguendo-a como um halterofilista olímpico. O homem cuspiu outras palavras, os passos martelando o chão, mais alto, mais perto. Não olhe, Brick, apenas pule o muro, pule o maldito muro! Ele lançou Daisy com toda a força e ela rolou por cima, caindo do outro lado. Em seguida, ele agarrou os tijolos, içando-se.
O homem agarrou sua perna, dedos de ferro em sua panturrilha. Outra mão pegou sua coxa, puxando-a. Brick deu um grito, enfiando as unhas no muro em ruínas. Ele desferiu chutes no ar. O homem uivava alto o bastante para convocar a cidade inteira.
Brick deu outro chute, e desta vez seu pé encontrou algo macio. Ouviu-se um barulho, um grito gorgolejado de fúria, e ele se libertou. Lançou-se de cabeça, dando um salto-mortal desajeitado em pleno ar e caindo de costas. O impacto esvaziou seus pulmões, fazendo-o gemer, mas ele se forçou a se levantar.
Daisy estava deitada sobre um montículo, com Adam ao lado. Estavam em outro jardim, esse cheio de engradados e geladeiras enferrujadas. Vinham ruídos de trás do muro, gritos enfurecidos e um som de algo raspando. O homem pularia o muro em segundos.
— Vamos! — ofegou Brick, empurrando Adam para poder pegar Daisy.
Desta vez, colocou-a em cima do ombro e cambaleou pelo jardim seguindo pela lateral da construção. Ao chegar à frente, percebeu que era uma loja de eletrônicos. A porta da frente estava aberta, mas não havia ninguém dentro dela. Na verdade, não havia ninguém na rua, só lojas e, subindo à esquerda, a igreja. Foi na direção dela, ouvindo um grito quando estava a meio caminho.
Não era um grito de uma só pessoa. Era o grito de muitas pessoas.
Parou e voltou os olhos. Do outro lado da rua deserta, havia um cruzamento, e estava lotado. Devia haver umas trinta pessoas ali, talvez mais.
— Cal!
Cal estava em algum lugar ali, e precisava de ajuda.
A massa febril e uivante mudou de direção, como pássaros em um bando, convergindo para um ponto fora do alcance da visão. Brick quase deu um passo na direção deles. Quase. Mas você não pode ir, você precisa cuidar de Daisy. E essa desculpa foi suficiente para fazê-lo se virar, andar rumo à igreja, rangendo os dentes com tanta força que pareciam prestes a saltar das gengivas. Ele não veria aquilo, não veria a morte de Cal, a criatura de chamas que subiria de seu cadáver e se evaporaria no ar de verão. Ele não assistiria ao momento em que ficaria por conta própria.
Abafou os gritos, correndo os últimos metros até o portão da igreja e atravessando o cemitério arborizado. A porta era de carvalho antigo, pesada, mas não estava trancada. Empurrou-a, e Adam entrou logo atrás. Então jogou o corpo contra a porta, mantendo do lado de fora a loucura e a culpa, confinando-se na escuridão fresca, silenciosa, secreta.
Cal
East Walsham, 8h37
Ele estava morto.
Praticamente morto. Não havia para onde correr. À frente, pessoas jorravam de uma loja como se fossem um rio transbordante, todas urrando. Vinham também de trás dele; a porta de vidro de uma padaria desfeita em estilhaços brilhantes conforme dez, quinze pessoas se lançaram para fora. Cal cambaleou para longe, tropeçando no meio-fio. Do outro lado da rua, dois homens saíam a passos trôpegos de uma imobiliária, a Fúria retorcendo o semblante deles, deixando-o com o aspecto de máscaras de Halloween.
Havia furiosos demais, todos correndo; o primeiro deles — uma criança de onze ou doze anos, com o braço engessado — já estava a segundos de distância. Cal cambaleou de novo. Bateu em um carro, um dos que estavam estacionados na rua, e, antes de se dar conta do que estava fazendo, já tinha corrido para debaixo dele.
Mal havia espaço para ele ali, a estrutura metálica do carro nas costas, achatando-o contra o asfalto. O que você tinha na cabeça, cara?
Algo colidiu com o carro, transformando em ocaso a luz do dia. Depois, foi como se os céus tivessem se aberto, e um estrondo saraivou ao redor de Cal, imergindo-o em uma noite absoluta. Os gritos eram tão altos que o afogavam; não conseguia respirar, não conseguia se mexer, não conseguia fazer nada além de ficar deitado e ouvir aquele coral horrendo e ensurdecedor.
Uma multidão surgiu embaixo do carro, uma torrente de membros e dentes. Mãos o agarravam e beliscavam, tentando puxá-lo. Corpos se arrastavam ao lado dele, superpovoando sua tumba. O carro balançava de um lado para outro, com a suspensão rangendo. Iam virar o carro, iam se jogar sobre ele, e ele deixaria de existir.
Porém, não era esse o pensamento que o assustava. Depois de tudo, a morte lhe parecia uma velha amiga. Sem mistério, sem surpresas, só um último suspiro e, em seguida, o nada. O que o assustava era a ideia de ficar frio, de virar gelo, enquanto algo se nascia no casulo congelado de seu corpo.
Uma mão agarrou seu rosto, unhas rasparam suas pálpebras. Ele abanou as mãos desesperadamente para afastá-la. A mão tentou alcançá-lo outra vez, dedos sujos em sua boca, e ele mordeu com força. Gosto de sangue. Tentou se virar, mas não havia espaço suficiente para os ombros. Era a morte.
Não, Cal, enfrente-os!
A voz não parecia ser dele, mas não havia dúvida de que vinha de dentro de sua cabeça. O que ela queria que ele fizesse? Havia outro carro à frente, era tudo o que ele sabia. Havia uma fileira deles estacionados na rua, quase grudados um ao outro. Será que ele conseguiria passar para baixo do próximo?
Começou a se arrastar. Pernas impediam seu avanço, formando uma cerca entre o carro sob o qual estava e o seguinte, mas ele a atravessou aos tapas e empurrões. O pouco espaço impedia que eles o agarrassem, os para-choques escudavam Cal contra seus socos e chutes, e poucos segundos depois ele estava debaixo do outro carro.
Não adiantou nada. A multidão o seguiu, o radar sintonizado no que quer que estivesse dentro do garoto. Rastejar para longe não era uma opção válida, pois eles não precisavam de olhos para encontrá-lo. Cercaram-no, bloqueando o sol, cem dedos à procura de sua pele.
Queime-os.
A voz de novo. Não era a dele, mas era conhecida. Tentou localizá-la, mas, o que quer que ela fosse, estava agora perdida no caos de outras vozes.
— Como? — berrou ele.
Alguém rastejava para perto dele, um rosto tenebroso com o maxilar escancarado. Cal soltou o cotovelo no nariz da mulher, nocauteando-a. Isso acabou sendo bom, porque os outros furiosos não conseguiam passar pelo corpo dela. Mas eles continuavam se espremendo por todos os demais lados, beliscando e mordendo, enquanto a mesma voz continuava clamando: queime-os, queime-os, queime-os.
Combustível. Era isso! Estava sob um carro, e em algum lugar ali ficava o tubo que levava combustível ao motor. Não entendia muito de carros, mas não era preciso ser engenheiro para saber que, se você danificasse vários canos, alguma coisa inflamável começaria a vazar dali.
Fez um esforço para se virar e ergueu a mão enquanto algo mordia sua perna. Havia dezenas de tubos, canos enormes e outros menores, mais moles. Pegou um desses e puxou com força. O cano resistiu, mas Cal não o soltou, retorcendo-o com toda a força até arrancá-lo do lugar. Escorreu um fluido dali, mas não era gasolina: Cal percebeu pelo cheiro. Procurou outro. Estava escuro demais para enxergar, e por duas vezes o garoto sentiu uma mão agarrar seus dedos, conseguindo se desvencilhar por pouco.
— Droga! — disse ele. — Qual é? Qual é?
Outro cano, e, desta vez, quando Cal o tirou do encaixe, o cheiro pungente de combustível invadiu suas vias aéreas. Teve vontade de vomitar ao sentir o fluxo constante de combustível nas roupas, que formaram uma poça debaixo dele. Isso era preocupante, porque, mesmo que achasse um jeito de produzir uma faísca, seria queimado vivo pela bola de fogo.
Existe um jeito, disse a voz. E Cal de repente viu de novo o restaurante em Fursville, as velas. Pôs a mão no bolso, sentindo a caixa ali. Fósforos. Pegou-os. Algo bateu em seu braço, e eles quase caíram, mas Cal segurou firme a caixinha, abrindo-a e tirando um fósforo.
Ainda havia o pequeno detalhe de ser queimado vivo.
— Pense! — gritou, a voz se perdendo em meio aos gritos à sua volta.
Precisava se mover de novo, ir para o carro seguinte. Segurou no veículo, usando-o para se impulsionar para trás. Outra vez havia furiosos no caminho, mas o espaço entre os carros era apertado demais para que o segurassem com força. Ele foi se arrastando, a multidão atrás, grudada nele como larvas em carne podre.
Esfregou o fósforo na caixa, uma, duas, três vezes, até que se acendesse. Tomando cuidado para não jogá-lo em si mesmo, lançou o palitinho em chamas para o lugar de onde tinha vindo. O palito quicou em um pneu, depois pareceu prestes a se apagar, e enfim pousou na sarjeta, em uma poça de gasolina.
A escuridão explodiu em luz, cada pedaço de metal abaixo do carro, cada rosto retorcido, cada unha ensanguentada revelada em detalhes inacreditáveis. As chamas se espalharam rápido, envolvendo as pessoas mais próximas do carro. Um dos homens que rastejava sob ele perdeu o rosto para o fogo, mas, mesmo naquele inferno, mesmo enquanto os olhos derretiam, ele continuava furioso.
Os sapatos de Cal pegaram fogo, e ele agitou as pernas para apagar as chamas. Não havia ar; seus pulmões estavam tomados por fumaça e pelo forte cheiro de carne queimada.
Houve uma explosão no carro da frente, quando seu tanque de combustível pegou fogo: a onda de choque fez a multidão voar. Era a chance dele; era agora ou nunca. Rolou para o lado, socando as pessoas no caminho, atacando olhos, gargantas, tudo que encontrasse pela frente, até que o céu se abrisse.
Já estavam sobre ele antes mesmo que conseguisse se levantar, mas ele se lançou para longe, para a fumaça, assim não o veriam. Colidiu com uma figura flamejante e empurrou-a enquanto outra explosão fazia a rua estremecer. Corria agora, um trote trôpego e arrastado, mas, caramba, era muito bom estar se mexendo. Tinha a sensação de ter escapado de seu caixão. Baixou a cabeça: nada funcionava exatamente como deveria, mas cada passo desajeitado o levava para mais longe da matilha.
Foi só quando não sentia mais o calor do fogo nas costas que arriscou se virar para trás. A rua estava um caos, com pelo menos quatro ou cinco dos carros estacionados em chamas. A fumaça era espessa demais para deixar ver algo a mais, mas Cal distinguiu uma dezena de figuras ali, corpos vestidos de fogo da cabeça aos pés, ziguezagueando em volta uns dos outros, quase se batendo, como dançarinos. Mesmo naquele momento tentavam persegui-lo, e Cal sentiu certa gratidão pela Fúria, pois aqueles seres jamais tomariam consciência do horror da própria morte. Uma criatura incandescente caiu de joelhos, e mais outra, e a dança chegava ao fim. Porém, outras figuras abriam caminho na ondulante cortina negra, silhuetas pretas de fuligem que tropeçavam na direção dele.
Mas não o alcançariam. Nem agora, nem nunca. Cal se virou, outra vez preparando-se para correr, enquanto aquela mesma voz baixinha surgia de novo em seu crânio.
Queime-os. Queime-os todos.
Rilke
Great Yarmouth, 8h52
— Queimar quem, irmãozinho?
Schiller estremeceu como se tivesse sido acordado de um sonho. Umedeceu os lábios, como se para apagar qualquer vestígio das palavras, e fitou Rilke com olhos grandes e tristes. Ainda andavam ao longo do litoral, deixando uma vasta camada de pó no caminho. Não tinham visto mais do que um punhado de gente desde a última cidadezinha, no camping. A notícia de que algo ruim se aproximava devia estar correndo.
Não, algo bom, pensou ela. Algo maravilhoso.
— Fiz uma pergunta, Schiller — disse ela. O irmão tinha começado a sussurrar aquelas palavras alguns minutos antes: queime-os, queime-os, como se recitasse um mantra. Rilke presumiu que ele estivesse falando dos humanos. Era assim que ela havia passado a chamá-los, sabendo que já não era um deles e que o propósito de sua missão era enfim compreendido por Schiller. Porém, havia algo na urgência com que ele falava, e no modo como seus olhos iam de um lado para o outro, vendo um mundo que ela não era capaz de ver, o que a fez pensar que ele escondia algo. — Queimar quem?
— Ninguém — disse ele. — Quer dizer, todo mundo. Desculpe, eu nem sabia que estava falando alguma coisa.
Ela continuou encarando-o, até ele virar o rosto e mirar a água tranquila, cor de ardósia. Ele ruminava algum pensamento, Rilke tinha certeza. Conhecia o irmão melhor do que ele conhecia a si mesmo, e havia algo dentro daquela cabecinha que ela queria que Schiller colocasse para fora.
— Schill, não vou perguntar de novo.
— Eu... — Ele chutou a areia molhada; montinhos se agarraram ao seu calçado. Em seguida, levantou a cabeça. Não havia fogo em seus olhos, mas de certo modo eles pareciam mais luminosos. — Não é nada, de verdade. Só estou cansado.
Ela abriu a boca para voltar a pressioná-lo, mas desistiu. Estavam todos cansados. Exaustos, para dizer a verdade. Schill, ela, Marcus e Jade, que caminhavam atrás com o novo garoto entre eles. Era incrível não terem todos caído duros de tanta fadiga.
— Haverá tempo mais do que suficiente para dormir — falou ela. — E um mundo inteiro no qual repousar nossas cabeças. Imagine só, Schiller, como vai ser silencioso. Como vai estar vazio.
Ele fez que sim com a cabeça, encarando os pés enquanto os arrastava pela praia. Era enfurecedor, pensava Rilke, que o irmão tivesse voltado ao seu eu de sempre. Por que não podia ser um anjo o tempo inteiro? Por que ela tinha de aguentar esses choramingos entre as exibições de fúria divina? Ela sabia o motivo: estava claro pela ausência de cabelos acima da orelha esquerda dele, no brilho ceroso da pele. Fogo demais acabaria por matá-lo.
— Mais uma — disse ela. A praia larga e arenosa levava a uma cidade, aparentemente grande. Um aglomerado de casas se estendia à direita deles, e, do outro lado, havia vários píeres e calçadões assolados por torres. — Você pode acabar com este lugar?
Schiller pareceu encolher diante da ideia, as costas encurvadas como se o mundo inteiro se apoiasse nelas. Parecia pronto a se reduzir a pó e areia. Era patético. Onde estava a criatura dentro dele? Onde estava o anjo? Rilke sentiu a raiva fervilhar e subir pelo esôfago, e por um instante enxergou tudo branco. Schiller deve ter pressentido: ele conhecia o temperamento dela o bastante para ter medo dele, e rapidamente assentiu com a cabeça.
— Então acabe.
Em algum lugar, lá longe na praia, uma pipa de um amarelo vivo focinhava o céu como um peixe faminto. Talvez a notícia não tivesse chegado tão longe quanto ela achava. Talvez as pessoas não tivessem ouvido falar de Hemsby, de Caister. Bem, logo saberiam.
O mundo irrompeu em cores quando Schiller se transformou: línguas de fogo azul e alaranjado lambendo a praia, congelando a areia úmida e espalhando um gelo parecido com seda até a beira d’água. Estava ficando mais fácil para ele, percebeu Rilke. Ele nem franzira o rosto quando as asas se desdobraram às suas costas, velas de pura energia que emitiam um pulsar ininterrupto, o qual fez os ossos dela zumbirem como um diapasão que jamais esmorecia. Os olhos dele, com o contorno avermelhado, irromperam, e a luz ali dentro era como pedra derretida, cuspindo e transbordando por seu rosto.
Schiller começou a andar — a flutuar — em direção ao mar, a luz como gavinhas de uma planta enrolando-se a partir do chão para tocar seus pés. A água fugiu dele como um gato selvagem, encolhendo-se em movimentos desesperados, sibilando e soltando fumaça. Seu fogo era frio, mas ele tentava outra coisa, algo novo. Como é, irmãozinho, pensou ela, querer que o mundo acabe e vê-lo obedecer; espreitar a essência das coisas, as órbitas giratórias de que somos todos constituídos, e arrancá-las de nosso interior?
Schiller abriu a boca e pronunciou algo que não era uma palavra, mas poderia acabar com o mundo. Ela não viu, mas ouviu, ou, melhor, sentiu, porque o som da voz dele era tão descomunal que os ouvidos dela quase não eram capazes de registrá-lo, como quando um órgão de igreja toca uma nota subsônica. Mas aquilo crepitava dentro de sua cabeça, de seu estômago, dentro de cada célula, forçando-a a ficar de joelhos.
O mar se levantou, um paredão d’água espesso como pedra, tão imenso e tão repentino que Rilke deu um grito. A vertigem atingiu-a como um soco no estômago: a visão do oceano suspenso, o murmurar insuportável de um bilhão de litros de água erguidos contra a vontade, era demais. Precisou desviar os olhos, encolher-se, sem conseguir impedir os gritos que se desatavam de seus lábios. O chão tremia, e ela esperava que ele se abrisse, se desintegrasse ao toque de Schiller e os imergisse em trevas.
O paredão de água emitiu um ruído como o de um milhão de trovões estrondando ao mesmo tempo, a areia tão agitada que saltou meio metro. Não ver era pior do que ver, e Rilke espiou com os olhos semicerrados, vendo Schiller, seu menino incandescente, de pé diante da onda, que se erguia acima dele cinquenta, cem metros... Era impossível dizer. Um ou outro dedo de luz solar jorrava através dela, colorindo a água com um tom que Rilke jamais vira, um verde profundo e enraivecido, com pontos que poderiam ser peixes, barcos, pedras ou pessoas. O mar se revirava, se enfurecia, uivando de raiva com a maneira como Schiller o tratava, mas nada podia impedi-lo.
Schiller virou-se, a boca ainda aberta, ainda falando naquele sussurro surdo, embora ensurdecedor, insuportável. Em seguida, ergueu as mãos para a cidade, e tirou a coleira de seu novo bicho de estimação. A água afluiu ao lado dela, acima dela, um túnel de ruído e movimento que parecia não ter fim.
Mas terminou. A agitação e os estrondos pouco a pouco cederam, deixando restar apenas um zumbido no ouvido de Rilke. Ela levantou o rosto e viu a praia arruinada, despojada de areia até a pedra branca feito osso, e, além, uma linha negra e turva apagando o horizonte em movimentos frenéticos e desesperados, deixando rastros de espuma que tentavam alcançar o céu. Ouviu-se outro som atrás dela: a explosão sônica do oceano deslocado preenchendo o espaço criado por Schiller. O oceano chicoteava e cuspia na direção deles como se quisesse vingança, mas deteve-se contra a bolha invisível de energia que os cercava.
Foi como se mil anos houvessem passado antes que o mar se aquietasse de novo, sua cólera transformando-se em uma descrença silenciosa e perplexa. Rilke tentou ficar de pé, o chão inquieto espalhando-se sob ela, fazendo-a perder o equilíbrio. Schiller não deu sinal de voltar a ser o menino, pairando diante dela, aqueles olhos como dois portais observando o restante do tsunami ser absorvido pela terra.
— Muito bem, Schiller — disse ela, e, antes que percebesse, uma risadinha escorregou de sua boca. Olhou para trás para ter certeza de que os outros ainda estavam ali; Marcus e Jade devolveram seu olhar, os olhos arregalados, e ela se perguntou o quanto deles permanecia intacto; se haveria mesmo algo dentro da cabeça dos dois para que os anjos possuíssem. — Prontos para caminhar?
Marcus concordou com um gesto lento de cabeça, como se cada movimento exigisse a última gota de sua inteligência. Jade nem respondeu.
— Vamos para longe daqui — disse ela, enfim conseguindo levantar-se. — Vamos achar um lugar para descansar. Acho que você merece, Schill.
Ele ergueu a cabeça, os olhos derretidos fixos nela. E ela se perguntou quanto controle ele tinha. Não sobre a terra, porque já estava claro pelo que tinha acontecido, mas sobre ela. Ela o havia treinado bem ao longo dos anos, como se treina um cão para saber quem está no comando. Porém, quantos cães, se soubessem que são mais rápidos, mais fortes, mais mortíferos que os donos, continuariam a se deixar dominar? Por favor, pensou ela, enviando a mensagem para um lugar bem profundo dentro de si, para a parte da alma que seu anjo ocupava, venha logo, porque não vamos controlá-lo para sempre. E o que aconteceria então? Qual seria seu destino se Schiller se voltasse contra ela?
Ela o observou flutuar e, pela primeira vez, perguntou-se com quem ele estaria falando — queime-os —, e, mais importante, de quem estaria falando. E, ao fazer isso, deu-se conta de que, pela primeira vez na vida, estava com medo do irmão.
Brick
East Walsham, 9h03
Não eram as explosões que o preocupavam, e sim a suave movimentação dentro da igreja. Brick balançou a cabeça para mandar o torpor para longe após perceber que quase adormecera na imobilidade incomum do átrio. Seu cansaço era como estar vestido com um paletó de chumbo, que o empurrava para baixo, cada movimento cem vezes mais difícil do que deveria ser.
O ruído voltou, rápido, baques que ecoavam parecendo ser passos. O garoto apoiou uma das mãos contra a parede e se esforçou para ficar de pé, esfregando os olhos até que pontos de luz dançassem à sua frente. Havia outra porta na extremidade oposta àquela pela qual tinham entrado, igualmente antiga, igualmente sólida. Estava uns três ou cinco centímetros entreaberta, uma corrente de ar fresco passando pela fresta.
Uma explosão distante ribombou pela pedra ancestral. Mas que droga era aquilo? Parecia que alguém estava bombardeando a cidade. É Cal, pensou Brick. É o som da morte dele. Mas ele não tinha sentido a morte de Cal, como tinha sentido a de Chris, por exemplo, no campo ao lado de Fursville: aquela súbita angústia interior, como se um pedaço dele tivesse sido arrancado. Talvez, então, estivesse vivo — por favor, por favor, por favor —; talvez Brick não estivesse sozinho.
Por um instante, cogitou deixar Daisy onde estava, apoiada contra a porta, mas desistiu da ideia. Havia a possibilidade de ter de sair logo dali. Ela parecia tão morta. Adam sentou-se ao lado dela e encarou Brick com uma expressão que era metade medo, metade ódio. Bom, que o garoto se danasse; não era trabalho dele deixá-lo feliz. Adam não tinha nem ajudado a carregar Daisy. Não tinha feito nada.
Brick foi até a porta e espiou a penumbra do outro lado. Divisou umas colunas de pedra e a última fileira dos bancos de madeira, mas foi só. Havia vitrais enormes, mas pareciam reter o dia do lado de fora, apenas um fio de luz cor de vômito conseguindo entrar. Os santos de vidro, ou o que quer que fossem, encaravam Brick com olhos pétreos, e ele quase esperava que começassem a avisar a qualquer momento: Tem alguém aqui, tem alguém aqui! Usou um joelho para abrir a porta, entrando na igreja.
Era maior do que parecia do lado de fora, muito maior. Devia haver quinze fileiras de bancos até o altar. Aquilo ali fedia a frio, pedra, umidade e séculos sem fim. Brick franziu o nariz, esperando ouvir gritos, esperando que uma criatura viesse correndo dentre os bancos, querendo seu sangue. Ou talvez ali as coisas fossem diferentes. Afinal, era uma igreja. Não se podia dizer que Brick fosse alguém que tivesse fé, mas sempre mantivera a mente aberta. É que parecia meio idiota presumir qualquer coisa se não havia um jeito de saber ao certo, pelo menos não antes de morrer. Então, talvez Cal tivesse razão e fosse ali que encontrariam respostas.
Algo moveu-se à frente, uma figura escura, no espaço atrás do altar. Ela se arrastou para um lado, o som de pés passando sobre pedra, e o estômago de Brick quase subiu pela garganta e saiu pela boca. Aquilo o fez pensar em Lisa — não pense, não pense nela — presa no porão, um mero saco de ossos quebrados no chão, ainda tentando atacá-lo, ainda tentando feri-lo. A figura tossiu e, para total alívio de Brick, falou.
— Olá? — A voz parecia ter tanta idade quanto a igreja. — Posso ajudar?
— Não se aproxime — disse Brick. — Fique exatamente onde está.
— Como? — A figura aproximou-se do altar, adentrando um facho de luz turva e multicolorida, revelando a roupa preta de um sacerdote, o colarinho branco. Era um homem roliço, de mais idade, completamente careca e de óculos, os quais tirou, limpou na manga e pôs de volta.
— Estou falando sério — disse Brick. — Fique aí.
— Não sei quem você pensa que é, meu rapaz, mas não gosto que falem assim comigo. — O sacerdote deu um passo desafiador, afastando-se da plataforma, e Brick ergueu Daisy contra o peito.
— Mais um passo, e juro por Deus que vou fazer mal a ela — falou, sem saber o que mais poderia fazer. — Vai, pode me testar. Mas, se alguma coisa acontecer, a culpa é sua.
Percebia o tremor de desespero na própria voz, e o sacerdote também deve ter percebido, porque ergueu as mãos e recuou para o altar. Havia uns bons vinte e cinco ou trinta metros entre eles. Desde que ninguém cruzasse a linha invisível da Fúria, os dois se dariam muito bem.
— Sente-se — disse Brick.
O homem ofegou ao abaixar-se até o degrau mais alto.
— Hoje em dia, isto não é tão fácil para mim — disse ele, com uma risada nervosa. — Mas levantar é que é difícil mesmo.
— Então não se levante — retrucou Brick. — Tem mais alguém aqui?
— Só eu — respondeu o sacerdote, balançando a cabeça. — Margaret tira folga na segunda; ela vai a Norwich ver nossa filha, nossos netos. E...
— Melhor não mentir para mim — disse Brick.
— Não estou mentindo.
A última fileira de bancos estava bem na frente dele, e Brick depositou Daisy em um deles. Ali, cercada de pedra, ela parecia ainda mais fria do que antes.
— Sente-se ali — disse ele a Adam, apontando o espaço ao lado dela. — Não diga nada. — O menino obedeceu, e Brick envolveu-se com os próprios braços, tentando conter o tremor. Se o sacerdote estivesse falando a verdade, então estariam em segurança ali, ao menos por ora.
— Está tudo bem com ela? — perguntou o homem. — Com a menina? Ela parece doente. Se quiser, posso dar uma olhada nela. Eu era médico, muitos anos atrás, antes de encontrar a fé. Fui médico no exército.
Essa última palavra foi pronunciada com um tom que pareceu de advertência, mas Brick ignorou-a. Andava de um lado para o outro atrás dos bancos, tentando esboçar um plano. Se Cal estava morto, cabia a ele descobrir o que fazer a respeito de Daisy e Adam, e de Rilke e seu irmão, e também do homem na tempestade. A ideia de que aquilo tudo dependia dele bastou para fazer seu coração ficar do tamanho de uma uva-passa e cair no poço de seu estômago. Ele bateu na testa com a palma da mão.
— Qualquer que seja o problema — disse o sacerdote —, deixe- -me ajudar.
— Calado! — disse Brick, apontando a cortina decorativa suspensa atrás do altar, borlas de corda pendendo de cada lado. — Preciso que você se amarre. Use aquilo.
— Meu rapaz, por favor...
— Rápido, antes que eu perca a cabeça! — O sacerdote fez menção de se levantar, e Brick quase guinchou para ele. — Não mandei se levantar!
Calma, pelo amor de Deus, ele é só um velho, não vai fazer mal a você. A menos que chegasse perto demais, claro; nesse caso, partiria para cima de Brick com aquelas mãos enrugadas e abocanharia sua garganta com a dentadura. Sim, estava sendo mais grosseiro do que nunca, mas não podia arriscar. Observou o sacerdote inclinar-se para trás e soltar as cordas, tendo dificuldade para atar os punhos.
— Um momento — disse Brick. — Amarre a corda no altar primeiro. Ao balaústre ali. Só um punho basta, não se preocupe com o outro.
O homem fez como ele mandou, dando a volta na estaca de madeira do balaústre antes de atá-la com firmeza em volta do punho esquerdo. Deu um safanão para mostrar que estava apertada, e em seguida deu de ombros para Brick.
— Mais um nó.
— Se estiver em dificuldades, sempre existe uma saída — disse o sacerdote, obedecendo às ordens. — Por favor, rapaz, permita que eu ajude você, que eu ajude a menina, antes que as coisas saiam do controle.
— Saiam do controle? — disse Brick, com uma risada amarga. — Cale a boca um instante! Preciso pensar.
— Isso tem a ver com o ataque? O ataque em Londres?
— Ataque? — perguntou Brick. — Do que é que você está falando?
— Você não sabe? Passou no noticiário a manhã inteira. Houve um ataque terrorista na zona norte de Londres, uma espécie de bomba. Coisa grande. Ainda estão tentando entender o que foi. Estamos todos com medo, mas vamos passar por essa juntos.
Brick levou um instante para entender. Não era uma bomba, mas uma tempestade, e um homem dentro dela que queria devorar o mundo. Não respondeu; limitou-se a enxotar as palavras do sacerdote como faria com um inseto. Prioridades. A primeira coisa que precisava fazer era comer algo. Depois que houvesse comida em sua barriga, e também um pouco de água, poderia pensar direito.
— Pelo menos me diga seu nome — disse o sacerdote. — E o nome dos seus amigos. O meu é Douglas. Pode me chamar de Doug.
— Tem alguma comida aí, Doug? — perguntou ele.
— Na igreja, não, Margaret não deixa. Mas tem bastante na casa paroquial, do outro lado do pátio. Se me deixar sair daqui, ficarei contente em mostrar onde é.
— Você fica aí — disse Brick, agarrando as costas da camiseta de Adam e colocando-o de pé. — Vou levar o menino e, se eu voltar e você tiver se mexido, juro por Deus que vou fazer uma coisa ruim. Fui claro?
Sentia-se um ladrão de banco mantendo reféns, e odiou a si mesmo por isso, mas que escolha ele tinha? Já estava correndo um risco enorme ao deixar Daisy, porque, se o sacerdote se livrasse da corda e tentasse ajudá-la, acabaria fazendo a menina em pedacinhos.
— Vou perguntar de novo: fui claro?
— Sim — respondeu Doug, anuindo com a cabeça. — Não vou me mexer. Estou do seu lado, rapaz, o que quer que esteja tentando fazer. Está tudo na cozinha; a porta da frente está aberta, a gente nunca tranca.
Brick deu uma última olhada em Daisy e, em seguida, partiu, puxando Adam ao lado pelos cabelos da nuca. O garotinho tentava se soltar sem tanta vontade assim, fazendo tanto alarde que Brick só ouviu o barulho de passos quando a porta da igreja começou a se mover para dentro. Ele recuou, quase caindo em cima de Adam. A luz do sol concentrou-se em uma figura, fazendo reluzir o sangue nas roupas e na pele, transformando-a em mais um santo de vitral com bolsões de pedra no lugar dos olhos. A figura cambaleou para dentro da igreja, arrastando consigo um miasma de fumaça.
— Cal?
O garoto tropeçou, quase caindo, e Brick pegou-o desajeitadamente por baixo dos braços. Arrastou-o para dentro da igreja, amparando-o até que ficasse sentado contra a parede dos fundos. Marcas de arranhões cobriam seu rosto como veias, cobriam também o pescoço e os braços, e os tênis estavam pretos e deformados, como se tivessem sido queimados.
— Cal? Pelo amor de Deus, está tudo bem com você?
Era uma pergunta idiota, mas, depois de alguns segundos, o olhar incerto de Cal enfim se fixou em Brick, e ele assentiu com um movimento. Abriu a boca, enunciando uma percussão de notas secas do fundo da garganta.
— Tudo... Tudo bem. Frio?
— Hã?
— Eu estou frio? — perguntou Cal, os olhos como um poço de medo.
Brick entendeu o que ele estava perguntando e pousou a mão em sua testa. A pele estava quente.
— Não, você está fervendo.
Cal soltou um suspiro de alívio, bolhas de sangue estourando nos lábios rachados.
— Água... Preciso de água, cara.
— Sim, claro. Como está lá fora? Estamos em segurança?
Cal fez que sim com a cabeça.
— Melhor estarmos mesmo. — Foi tudo o que Brick conseguiu dizer. Depois endireitou as costas, perguntando-se se deveria pegar com a mão um pouco de água benta ou algo assim, antes de concluir que isso traria azar. E azar era a última coisa de que precisava agora. Foi até o átrio e apontou um indicador para o sacerdote. — Volto num instante. Se tentar fugir, ele vai fazer mal a você, entendeu?
Cal não parecia estar em condições de fazer mal nem a uma mosca, mas o velho parecia resignado com o fato de que ficaria ali por bastante tempo.
— Adam, sente-se e não se mexa. — Brick completou.
Foi até a porta e espiou pela fresta. A luz do sol derramava-se sobre as árvores, compondo uma iluminação dourada digna de uma discoteca na grama e nos túmulos por ali, embora o cemitério estivesse deserto. Não havia nada à frente além da rua, por isso partiu para a direita, unindo-se à parede coberta de liquens da igreja, virando no canto e vendo outra construção bem perto. Também era feita de pedra, com janelas de metal e telhado de palha. Parecia ter saído de um conto de fadas.
Verificando mais uma vez se a barra estava limpa, correu pelo cemitério, virou a maçaneta da construção e entrou. Ali estava quase tão frio quanto dentro da igreja, mas havia um odor no ar, de uma espécie de sabão, que o fez pensar na mãe, morta havia muito tempo, enterrada em uma igreja exatamente como aquela, perto de King’s Lynn, onde a família dela morava. Era doloroso demais pensar naquilo, então expulsou os pensamentos da mente, usando a raiva para enxotá-los, como sempre fazia.
A cozinha era pequena, mas fácil de achar. Havia uma cesta de pão na mesa, e ele pegou uma fatia, branca e macia. Enquanto a mastigava, abriu a geladeira, tirando um pouco de presunto e uma fatia de cheddar. Engoliu tudo, um gole de leite ajudando a comida a descer. Havia uma garrafa de cerveja Golden Badger no fundo da geladeira, e ele a pegou, arrancando a tampa na beirada do balcão. Nunca tinha sido de beber muito — havia visto o que a cerveja e o uísque barato tinham feito com o pai —, mas havia certas ocasiões que exigiam álcool. Aniversários, casamentos, e ser possuído por anjos que querem que você salve o mundo de uma genuína força maléfica.
Sorveu dois goles profundos e longos, deixando a mente ficar quieta e silenciosa. Meu Deus, qual fora a última vez que tinha feito aquilo? O silêncio era tão avassalador que chegava a dar nos nervos, beirando a ameaça, e ele se endireitou, limpando a garganta e dando mais um gole na cerveja espumosa. Precisava de água.
Andou até a pia, notando a TV portátil sobre o balcão. Talvez devesse ver o noticiário. Se aquilo, o homem na tempestade, estava realmente em Londres, e achavam que se tratava de um ataque terrorista, aquilo estaria sendo transmitido o tempo todo, em todos os canais. Levou o dedo até o botão de ligar, mas parou na metade do caminho. Será que queria mesmo ver aquilo? Queria mesmo ver aquela coisa que eles deveriam encontrar e combater? Até agora, o homem na tempestade — palavras de Daisy, ele sabia, mesmo que nunca as tivesse dito — estava só na sua cabeça. Vê-lo na tela o tornaria real.
Manteve a mão erguida por mais um instante, depois apertou o botão. Era uma TV antiga, que precisou de alguns segundos para esquentar, a tela cinza pouco a pouco dando lugar a um programa infantil. Um pinguinzinho com um bico laranja engraçado andava de moto em volta de um iglu, buzinando. Aquilo era boa notícia, não era?
Apertou o botão para passar os canais, e era como se a televisão fosse uma barragem que acabara de se romper, com um milhão de toneladas de água imunda jorrando da tela, inundando a cozinha, a casa paroquial, o cemitério e tudo o mais, enchendo o nariz, a boca e os pulmões de Brick. Ali ele viu, em meio às trevas, as imagens granuladas de um vasto vórtice giratório de fumaça e detritos, suspenso sobre a cidade, acima dos arranha-céus; viu as nuvens de matéria espiralando, todas sendo sugadas para o centro da tempestade, para...
Havia um homem ali, só que não era um homem. Como poderia ser? Era grande demais, o corpo do tamanho de um prédio, mas ali estava ele, a boca sendo o núcleo daquela abominação, o ponto de não retorno ao centro do buraco negro. Mesmo àquela distância, mesmo na telinha da TV, Brick sentiu a força daquela coisa, a genuína e incansável força daquela coisa que ia desintegrando o mundo pedaço por pedaço.
Caiu de joelhos, a garrafa escorregando da mão, esquecida. E, de algum modo, de um modo inacreditável, o homem na tempestade pareceu vê-lo ali, encolhendo-se naquela cozinha, porque seus olhos sem vida giraram nas órbitas, enchendo-se de algo que não era riso, não era loucura, não era júbilo, mas sim uma combinação de tudo isso. Ele olhou para Brick e falou, uma voz perdida em meio ao estrondo do furacão, abafada pelo ribombar de sua fúria; uma voz que não falava língua nenhuma que existisse na Terra; mas uma voz que ele compreendia com total facilidade, porque era como se houvesse se infiltrado em seus ouvidos e soprado as palavras espinhosas diretamente em seu cérebro.
Você chegou tarde demais.
O Outro: II
Se eu acaso morrer, de mim pensai somente:
há um recanto, numa terra estrangeira,
que há de ser a Inglaterra, eterna, eternamente.
Rupert Brook, “O soldado”
Harry
Londres, 9h14
O estômago do capitão Harry Botham virou do avesso, como sempre virava na hora da decolagem, mas já tinha voltado ao normal quando Harry manobrou o helicóptero, tirando-o da Base Naval de Portsmouth. O monstruoso motor Rolls-Royce do Apache rugia, e o estrondo das hélices se tornou tão habitual quanto batimentos cardíacos conforme o chão encolhia e o céu se abria.
— Coordenadas no sistema — disse Simon Marshall. O atirador estava sentado à frente e abaixo dele, mas sua voz vinha dos fones de ouvido no capacete de Harry. — Norte. Em vinte minutos estaremos lá.
Harry verificou o monitor de alerta e puxou o acelerador, levando a máquina a mil pés e a duzentos e noventa quilômetros por hora. A luz se derramava na cabine como ouro líquido, o visor escurecendo automaticamente para anular o ofuscamento. Dois pontinhos apareceram no radar, movendo-se rápido, e logo depois um par de caças da Royal Air Force zuniu acima. Seus rastros eram a única mácula contra o azul, em um dia de verão absolutamente perfeito. Dias como aquele eram raros, mesmo no verão — Harry estava inclusive tomando um pouco de sol quando fora chamado. Por mais que ele gostasse de voar, não teria reclamado de algumas horas a mais de folga.
— São os chineses, estou dizendo! — disse Marshall, lendo a mente dele. — Enfim decidiram que querem mandar no mundo.
Harry deu uma fungada.
— Não seja tolo — respondeu, a voz sendo transmitida para os próprios ouvidos e soando como se não fosse real.
— Mas o que é isso, então? — disse o outro. — Um exercício?
— Falaram que não era um exercício — respondeu Harry. Seu superior tinha deixado isso muito claro, mas as instruções apressadas do homem não haviam dado mais informações além de que algo acontecia em Londres. Algo importante. — Provavelmente terroristas. — Harry deu de ombros.
— Eles que se preparem para a minha chegada! — disse Marshall, dando um tapinha no painel de controle.
Harry sorriu. O Apache estava com carga completa: uma metralhadora de trinta milímetros sob a fuselagem, capaz de despejar seiscentos e vinte e cinco tiros por minuto, e uma bela combinação de mísseis Hydra e Hellfire nos pilones. O que quer que os aguardasse, estava prestes a voar em pedaços.
Mas por que ainda havia um vestígio de desconforto no estômago dele, desconforto que não tinha nada a ver com o movimento do helicóptero? Havia passado dois períodos servindo no Afeganistão, e nunca se sentira assim, nem quando fora abatido por uma granada lançada por um foguete em Helmand e precisara fazer um pouso forçado. Naquela ocasião, a adrenalina sugara cada gotícula de medo do organismo dele, transformando-o em uma máquina. Agora era diferente: ele se sentia humano demais, vulnerável demais. Talvez porque sobrevoasse a pátria, vendo os campos e as cidadezinhas da Inglaterra flutuando abaixo como detritos em um rio lento e esverdeado. Talvez fosse porque voasse para Londres, a cidade onde vivera. Engoliu mais ar, subitamente desconfortável no assento.
Tudo o que lhe haviam dito confirmava que ocorrera uma espécie de ataque à capital. A ordem de partir para o combate viera do próprio general Stevens, o que era um indício da gravidade do que quer que houvesse acontecido. Aquele cara só saía da cama por uma guerra mundial.
— Identificar e interceptar o alvo — ele havia dito pelo rádio. E pronto: eram essas as ordens, cinco palavras que Harry deveria obedecer, mesmo que isso significasse arriscar sua integridade física.
— Não cabe a nós entender por quê — falou para Marshall, lembrando o único poema que tinham decorado. Todos no pelotão dele o haviam decorado.
— A nós só cabe agir e morrer — concluiu Marshall. — É isso aí!
Harry verificou as coordenadas e deu um leve toque no manche para recolocar a máquina na trajetória correta. Sobrevoavam Guildford, a um ou dois minutos da autoestrada M25. O Apache ia comendo os quilômetros.
— Opa! — disse Marshall. — Mas que...
Harry mirou através da janela estreita, para além do leque de cores do monitor de alerta. Algo dominava o horizonte, um punho de fumaça negra. Uma turbulência fez o helicóptero oscilar, e Harry teve a súbita impressão de que aquele punho cerrado, com suas falanges, sacudia o mundo, tentando tirá-lo do eixo. Checou sua posição: ainda a mais de trinta quilômetros do objetivo, certamente longe demais para contato visual. Outra vez sentiu as vísceras revirarem, a mão tendo espasmos querendo dar meia-volta no helicóptero. Precisou forçar-se a continuar.
— Aquilo é... Aquilo deve ser gigante, Harry.
— Base, estamos vendo o objetivo — disse ele, sabendo que o centro de comando tinha uma linha aberta com o helicóptero. — Parece uma explosão. Como proceder?
Ouviu-se um sibilo agudo de estática, e em seguida a voz do subcomandante se fez ouvir:
— Como ordenado, capitão. Investigar e interceptar. Manter um perímetro de oito quilômetros. Não sabemos que perigo essa coisa representa.
— Entendido — disse ele, desacelerando o Apache e levando-a para dois mil pés. O que quer que estivesse lá embaixo, queria chegar o mais alto que podia sem entrar no espaço aéreo da Força Aérea Real. Nada o mataria mais rapidamente do que uma colisão em pleno ar com um caça. — As armas estão prontas?
Outra pausa. Em seguida:
— Armas prontas.
Harry sentiu a pele esfriar e formigar. Qualquer esperança de que aquilo fosse um exercício tinha acabado de ser extinta: não havia a menor chance de que deixassem as armas prontas para disparo acima da maior cidade da Europa a menos que aquilo fosse para valer.
A janela dianteira era tomada cada vez mais pela fumaça, tão espessa e escura que uma montanha de granito parecia brotar da cidade. Não, parecia mais que alguém tinha cortado um pedaço do céu. O visor polarizado compensava a falta de luminosidade, mas, mesmo assim, Harry se viu inclinando-se para a frente no assento, tentando entender o que enxergava.
— Não tem nada aqui — disse Marshall, a voz sussurrada no ouvido de Harry. — Meu Deus, não tem nada aqui.
Claro que tem alguma coisa, pensou Harry. Tinha de haver, com toda aquela fumaça. Só que não era fumaça, percebeu ele ao chegar mais perto. Eram coisas. Era uma nuvem espiralada de matéria: havia ali prédios, desfazendo-se em pedaços ao serem sugados para cima. Ele distinguiu figuras reluzentes que poderiam ser carros, e outras menores, mais escuras — não gente, não pode ser gente —, que se retorciam e se debatiam ao se erguer. O furacão girava incansavelmente, em um raio de oito quilômetros, talvez, sugando tudo para...
O que era aquilo? Havia uma forma distinta em meio ao caos. Tudo espiralava em volta dela, tal qual a água suja de um banho dando voltas em torno do ralo; ela disparava dedos de relâmpago que eram escuros, e não brilhantes, deixando imensas cicatrizes negras nas retinas de Harry, que não piscava. Não ousava fechar os olhos nem por um instante, caso aquela coisa, aquele pesadelo inacreditável, viesse atrás dele. Apenas encarava o ser no centro da tempestade — porque era isso que era: um homem. Enorme, sim, e deformado, como se seu corpo fosse um balão que fora inflado até ficar irreconhecível, mas, ainda assim, inconfundivelmente, humano. E o pior era a boca dele, vasta e escancarada, inspirando tudo com um uivo infindo que podia ser ouvido mesmo com os motores do helicóptero em ação.
Harry vomitou antes que percebesse, tirando o bocal bem a tempo, o café da manhã atingindo a tela de vidro reforçado que o separava do atirador. O helicóptero virou com força, e o chão foi se avultando na janela direita.
— Caramba, Harry! — gritou Marshall, e Harry percebeu que havia soltado o manche. Pegou-o, reequilibrou o Apache e o deixou imóvel, limpando a boca com a mão livre. Cuspiu uma bola de ácido, o corpo inteiro encharcado de suor e o estômago retorcendo com violência.
Houve um lampejo de trovão quando um caça passou por cima: era o sibilar de dois mísseis Sidewinder sendo disparados. Os mísseis se precipitaram contra a noite matutina, colidindo com o centro da tempestade. Uma explosão borbulhou do caos, a onda de choque fazendo o helicóptero balançar. Mas o fogo não durou, sugado para dentro da imensa e sombria garganta do homem e, então, foi extinto. Na verdade, pareceu até fazer o tornado girar mais rápido, com mais vigor, se despregando mais do chão e sendo levado pelo vórtice. E o homem continuava ali, seus olhos como dois poços de breu a fervilhar, a boca sugando tudo o que podia.
— Fogo! — gritou Harry, sentindo a loucura se esgueirar no fundo da mente. Tinha de destruir aquela coisa, não para salvar Londres, mas porque compreendia que, se precisasse olhá-la por mais tempo, seu cérebro entraria em curto-circuito. — Fogo, cacete!
Marshall não hesitou, mandando ver na metralhadora. Um chacoalhar ensurdecedor preencheu a cabine, e as rajadas abriram caminho em direção ao homem na tempestade. O fogo rasgou um pouco da cortina de detritos em espiral antes de achar o alvo, mas as balas de trinta milímetros desapareceram no morticínio. Ouviu-se um sibilar baixinho, e o helicóptero balançou quando quatro mísseis foram disparados. Harry contou os segundos — um, dois, três — antes que uma bola de ouro ondulante acendesse. Outra vez a explosão foi engolida, tragada pela cavernosa boca do homem, junto com a constante torrente de detritos. Marshall tentou mais uma vez, esvaziando a munição do Apache e transformando o céu em fogo.
— Não está funcionando! — disse o atirador.
Harry, porém, não ouvia. A fumaça se dissipava, e percebia-se que mais do mundo tinha sido extinto. Não era só a escuridão, o modo como as coisas sumiam na falta de luz; era o nada. Era o vazio total. Só de olhar aquilo a cabeça doía, porque não havia como compreender o que se via. Aquilo simplesmente não fazia sentido.
— Harry, tire a gente daqui! — gritou Marshall. Ele tinha se virado, com os olhos esbugalhados. — Harry!
Algo estourou, como um tiro de canhão, e o helicóptero começou a descer lentamente. Harry precisou de um instante para se dar conta de que era a mudança de pressão, com o ar sendo tragado pela tempestade. Estavam mesmo sendo sugados por ela, presos ao fluxo, com alarme demencial do helicóptero martelando no fone de ouvido. Marshall batia no vidro que os separava, mas Harry não conseguia despregar os olhos da janela. O helicóptero se inclinava para baixo, dando-lhe uma visão perfeita das ruas. Elas se fendiam, dissolvendo-se como esculturas de areia ao vento. Prédios, carros e pessoas, todos explodiam em pó, sendo sugados pelo furacão.
— Harry, por favor! — disse Marshall.
Harry sentiu o helicóptero resistir. Ele se virava devagar, os motores protestando, mas a força que os puxava era intensa demais. Parecia um barco indo para uma cachoeira. Não, parecia mais uma nave espacial sendo atraída para um buraco negro. Não havia nada que pudessem fazer, percebeu. Era o fim.
— Não cabe a nós perguntar por quê — disse ele.
O Apache balançava com tanta violência que a cabeça dele bateu no teto da cabine. O metal rangeu, e, em seguida, os rotores soltaram-se acima, girando para a escuridão. Marshall gania, e Harry arrancou o capacete, subitamente afogando-se no uivo da tempestade e na inspiração infinda do homem suspenso.
— A nós só cabe agir e morrer — prosseguiu ele, agora mais alto. — Não cabe a nós entender por quê, a nós só cabe agir e morrer — repetiu de novo e de novo, como um cântico, uma prece, enquanto a frente do helicóptero começava a se desfazer, espatifando-se em pedaços como um modelo em miniatura.
Depois foi a vez de Marshall, seus braços, pernas e cabeça se soltando, tudo suspenso contra o fundo negro do céu. Harry olhou para baixo e percebeu que não estava mais no helicóptero. Pedaços dele flutuavam à sua volta, suspensos na turbulência, uma milha acima do chão que ia sumindo. Tinha sonhado com isso quando criança, noite após noite — sonhado que podia voar. A lembrança apagou o medo, e, mesmo que estivesse vendo a própria carne começando a se desintegrar, camadas rosadas e depois avermelhadas, ele sorriu.
— Não cabe a nós entender por quê — disse, os lábios retorcidos.
Em seguida, sua mente rompeu-se em meio a um ruído límpido e à luz negra, e tudo o que era Harry Botham foi tragado pelo abismo.
Graham
Londres, 9h24
O pior de tudo era o barulho. Realmente ensurdecedor. Não ouvia as pessoas gritando, nem os motores ligados, tampouco o alarme dos carros ou a batida de metal contra metal nos cruzamentos, nem mesmo as explosões. Havia apenas a tempestade, um estrondo perpétuo que fazia as ruas tremerem, como se a cidade fosse uma coisa viva, com tremores permanentes de terror. O barulho era tão alto que Graham, ao atravessar a cidade, não vira mais do que meia dúzia de janelas ainda intactas, o vidro arrancado dos caixilhos pelo pulsar sônico vasto e ribombante que martelava as ruas. O pulsar produzia o mesmo efeito em seu cérebro, como se o som fosse algo sólido e vibrante, que buscasse a frequência correta para partir seus ossos e deixar seus miolos esparramados pela calçada.
Abriu caminho por uma multidão de turistas fugindo na direção oposta, e depois virou rumo a Millbank. Por um instante, surgiu, no espaço entre os prédios, uma imensa massa giratória que se enroscava e se espiralava em torno de um núcleo de trevas. Dali, a dezesseis quilômetros de distância, parecia algo entre uma nuvem de bomba atômica e uma tempestade; o céu estava inacreditavelmente escuro, como se um pedaço da noite tivesse se soltado e despencado em Londres. Porém, nas lacunas entre os detritos, e em meio aos náufragos de sua cidade, viu algo pior do que a escuridão. Viu os fragmentos extintos do mundo.
Alguma coisa acontecia ali, naquelas brandas explosões que se detonavam no meio da tempestade. Havia caças no céu, e também helicópteros, sendo tragados para o buraco como brinquedos em um rio. Graham virou a cabeça para frente e se concentrou no lugar para onde estava indo. Tinha levado — quanto tempo? — quase quatro horas para fazer o percurso de casa até Millbank. Precisara andar. A cidade estava atulhada de gente tentando fugir, ninguém indo na mesma direção. Todas as principais estradas estavam totalmente paralisadas por acidentes; os trens e o metrô estavam fechados — por isso as pessoas precisavam se deslocar a pé. Tinha a sensação de ter enfrentado cada um dos oito milhões de habitantes de Londres só para chegar a Thames House. Primeiro fora até Whitehall, onde ficava a Unidade de Contraterrorismo, mas Erika Pierce não mentira para ele: não havia ninguém ali. O MI5 era, na lógica, o próximo lugar a ser visitado, mas tinha a horrenda sensação de que, ao chegar lá, também não encontraria ninguém.
Todos fugiram, e você também deveria fugir, porque ela vai devorar você; a tempestade vai devorar você. Sabia que essa era a verdade; sabia que deveria se virar e ir embora. Tinha telefonado para David três horas antes e falado para ele ir para o sul; se possível, para fora do país. Com um pouco de sorte, David já teria chegado ao litoral e poderia cruzar o Canal e chegar à França. Ou talvez tenha ido para o outro lado, talvez tenha ficado preso e sido levado pela tempestade. Talvez esteja agora mesmo circulando o buraco, ou perdido dentro dele. E a ideia de David sendo tragado para o nada, sendo apagado como uma chama, sua essência se extinguindo, fez Graham ter vontade de morrer. Poderia ir também, telefonar no caminho, encontrá-lo em Calais e limitar-se a sobreviver. Faça isso, apenas faça isso.
Afastou as palavras, virando a esquina e vendo o rio bem à frente. Até a água estava agitada, as vibrações fazendo-a se espiralar e formar redemoinhos, cuspindo sujeira e impregnando o ar com o fedor do esgoto. O ruído era mais alto ali, ecoando de um lado a outro dos prédios sobre o aterro. Parecia uma vasta turbina sugando cada restinho de ar para dentro do motor. E, no entanto, também parecia outra coisa. Soava como trombetas, como um milhão de sirenes de guerra sendo sopradas nos céus acima de sua cabeça.
Era o som de Londres sendo digerida em vida.
Correu os últimos cem metros até Thames House e encontrou as portas principais abertas e desobstruídas. Não havia ninguém no saguão, só uma chuva de papéis no piso de mármore. Ao menos as luzes estavam acesas. Por sorte, o prédio tinha o próprio gerador de energia — aliás, vários —, porque, pelo que Graham via, a cidade estava às escuras.
Entrou no primeiro elevador usando seu cartão-chave da unidade antiterrorismo para ativar o painel de controle. Se ainda houvesse alguém ali, estaria no bunker do centro de controle de emergência: um procedimento-padrão em caso de ataque. Contou os segundos enquanto o elevador descia, perguntando-se até que ponto iria o poder dessa tempestade, já que podia ouvi-la reverberar tão abaixo da superfície, no balançar daquele elevador, na vibração ganida dos cabos de metal.
A porta deslizou para o lado e revelou a vasta sala sem divisórias. De início, Graham confundiu o movimento constante com gente, mas logo percebeu que eram apenas os monitores que cobriam cada parede e ficavam em cada mesa, exibindo imagens da cidade e da tempestade. Enxugou o suor da testa, perguntando-se como poderia cuidar daquilo sozinho, quando uma mulher apareceu. Ela desviou os olhos de uma pilha de documentos, franziu o rosto e, em seguida, abriu um sorriso enorme.
— Graham? Meu Deus, achei que ninguém fosse aparecer!
Ele reconheceu Sam Holloway, membro da equipe de decifradores de códigos do MI5. No ano anterior, ela tinha feito alguns trabalhos para ele na Unidade de Contraterrorismo.
— Sam, que bom ver você! — disse ele, entrando na sala. — Por favor, diga-me que não está aqui sozinha.
— Não, Habib Rahman está na sala de comunicação tentando descobrir o que está acontecendo. É isso. O resto do pessoal ou se mandou, ou está em Downing Street tentando tirar o primeiro-ministro e os outros ministros de lá. Essa é a Prioridade Um.
Pois é, salvar aqueles imbecis do governo, certamente uma prioridade.
— Qual é a situação no momento? — perguntou ele, andando até a mesa do diretor. No monitor instalado ali, mais da cidade era sugada pela garganta da tempestade.
— A força aérea enviou uma equipe de ataque, mas...
Não precisou terminar. Ele tinha visto com os próprios olhos.
— Alguma ideia do que seja isso?
— Não — respondeu Sam. — Mas é grande. Tudo do norte de Edgware até Fortune Green sumiu.
— Sumiu?
— Isso. Sumiu. Simplesmente não está mais lá. — Havia certo tremor na voz dela, sem relação nenhuma com o estrondo da tempestade. — Esta filmagem é de um Black Hawk americano, posicionado a cinco milhas do marco zero.
Cinco milhas, mas a imagem era nítida o suficiente para distinguir o vasto golfo que se tinha aberto abaixo do furacão. Parecia não ter fundo. Mais do que isso. Graham teve a impressão de que, se desse um passo para dentro dele, simplesmente deixaria de existir.
— Alguma outra imagem? — perguntou ele.
Sam fez que sim e passou a mão pelo monitor touchscreen, até que a imagem mudasse.
— De um Sentinel — disse ela.
Essa filmagem era de um ponto mais alto, fazendo com que a tempestade parecesse mais do que nunca um furacão, uma corrente espiralada de sombras que se esgueirava sobre a cidade, agora talvez com cinco quilômetros de largura. Enquanto assistia, Graham viu um naco de chão soltar-se da terra, erguendo-se lentamente, quase de modo gracioso, e entrando na tormenta, onde começou a se desfazer. A sala inteira tremeu, poeira caindo do teto e várias telas desligando-se antes de se reiniciar. Era como se ele estivesse de novo no Golfo, escondido em uma caverna enquanto os foguetes do inimigo martelavam seu esconderijo. A ilha de terra devia ter um diâmetro de quinhentos metros. Quantas pessoas?, perguntou-se enquanto ela se desintegrava, presa na espiral urrante do vórtice, puxada para a boca da tempestade. Quantos mais acabaram de morrer?
— Alguma teoria? — ele praticamente tossiu as palavras.
— Nenhuma — disse Sam. — Não há assinatura radioativa, nem indício de ameaça biológica. Porém...
Ele a encarou, prestando atenção na maneira como a cor sumia de seu rosto, e sentiu um milhão de dedos gelados percorrendo suas costas.
— Porém o quê?
— O marco zero. O epicentro da tempestade. Havia alguma coisa ali quando isso tudo começou.
— Uma bomba?
— Não, um homem. Um homem morto. — Ela mordeu o lábio inferior, carregando outro filme na tela, que mostrava uma mesa de necrotério, uma das que ficavam no andar de cima daquele mesmo prédio, deduziu Graham. Deitado nela, estava o corpo de um homem, aberto pelos instrumentos do legista e revelando a carcaça vazia de seu tronco. No entanto, mesmo vendo aquilo em um monitor, era óbvio para Graham que havia alguma espécie de vida naqueles olhos opacos e mesmo assim agitados, e em sua inspiração perpétua. Meu Deus, é o mesmo barulho, percebeu. É o mesmo som da tempestade. — Ele chegou na sexta. Foi a Scotland Yard que trouxe.
— Por que ninguém me avisou? — perguntou Graham.
— Era tudo confidencial, nenhuma comunicação entrava ou saía. O plano era levar... aquilo para Northwood, aplicar todos os procedimentos de segurança, e depois trazer as pessoas. Mas elas nunca chegaram. Algo ocorreu no caminho; só descobrimos quando tudo isso começou.
Graham enxugou a boca, fitando a tela, fitando o cadáver vivo. Aquela era a imagem que ele tinha visto no furacão, a silhueta suspensa no centro do caos. O homem na tempestade, pensou ele, as palavras aparecendo do nada. E, de repente, a avassaladora surrealidade daquilo atingiu-o como um soco no estômago, um gemido agudo estourando em seus tímpanos. Inclinou-se para a frente, perguntando-se se iria vomitar, engolindo de volta o ácido em golfadas ruidosas e arquejantes.
Endireitou as costas, pigarreou e falou em um sussurro áspero:
— Então, o que sabemos com certeza?
— Que aquilo está se expandido com rapidez. É por isso que aqui está deserto. Estamos a uns quinze quilômetros do centro do ataque.
Não é um ataque, pensou Graham, é muito mais do que isso, é muito, muito pior.
— Mas, considerando a velocidade com que essa coisa cresce — continuou Sam —, vamos ter de sair daqui em breve. Tirando isso, não sabemos de nada.
— Sam, precisamos de satélites.
— Estou tentando me conectar agora, mas o único que está perto o bastante é o da NSA, e os americanos não querem liberar nada.
— Faça o que precisar — disse ele, fazendo força para ficar de pé. — Invada o satélite se puder. — Passou por algumas telas enfileiradas e encontrou Habib em sua mesa. Não o conhecia pessoalmente, mas o sujeito era bem famoso por escrever cifras inquebráveis para o exército. — Habib, alguma notícia do general?
— Ele foi alertado quanto ao ataque — respondeu o outro, dando de ombros. — Northwood foi evacuada, mas ele nos deu uso de todas as unidades táticas, e apreciará discutir outras opções.
Outras opções? Não havia opções, pelo menos não que Graham entrevisse. Eles nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Parte dele queria acreditar que era uma bomba atômica, uma das grandes. Sim, seria terrível. Sim, partes da cidade seriam destruídas, ficariam radioativas por décadas, e centenas de milhares de pessoas morreriam. Porém, uma bomba nuclear era uma bomba nuclear, uma ogiva de fissão, um nêutron batendo em uma massa concentrada de urânio-235 e iniciando uma reação em cadeia de liberação de energia. Uma bomba nuclear era algo que ele compreenderia, uma das primeiras coisas que havia estudado. Essa possibilidade estava bem no topo da lista de pesadelos — e se alguém detonasse uma arma atômica numa cidade britânica de grande porte... —, e existiam procedimentos para lidar com isso. Caramba, durante as Olimpíadas, não tinham feito outra coisa senão se preparar para um ataque desses. Uma bomba ele poderia encarar.
Isso era diferente. Porque não é ciência. O que quer que seja, esta coisa não obedece às regras do universo; ela as destrói. E era isso o que era verdadeiramente aterrorizante, porque não havia manuais de instrução para lidar com esse fato, nem simulações de computador, nem ensaios de emergência. Aquilo era incognoscível.
Pressionou as palmas das mãos contra as órbitas dos olhos, desejando estar de volta na cama e que aquilo fosse apenas um pesadelo. Quantas vezes tivera sonhos como aquele? Os sonhos de coisas ruins, nada mais que estresse ou excesso de queijo e vinho do Porto antes de dormir. Por que ele não acordava agora também?
— O senhor precisa dar uma olhada aqui.
Abriu os olhos, uma tempestade solar de flashes preenchendo a sala. Sam estava de pé ao lado de sua mesa, as duas mãos contra o cabelo curto. Em sua tela, havia um boletim do comando distrital. Graham estreitou os olhos, leu a mensagem duas vezes e ainda assim não acreditou.
— Outro ataque? — perguntou ele. — Onde, exatamente?
— No litoral — falou Sam. Sentou-se e digitou instruções.
As imagens na tela desapareceram e foram trocadas por uma fotografia de qualidade rudimentar. Por um instante, Graham não conseguiu entender direito para o que olhava: uma praia, um céu cinzento e zangado. Havia algo de errado naquilo, mas ele não conseguia captar bem o que era.
— O que é isso? — perguntou.
— É uma onda.
Graham percebeu enquanto ela respondia. Só que não era uma onda propriamente. A forma não estava certa. Aquela imensa massa de água tinha o formato de um punho, como se uma colossal explosão tivesse acontecido abaixo do oceano. Estava suspensa no horizonte, e Graham só percebeu a vasta escala da imagem ao reparar que havia uma cidade ali: prédios, casas, carros e pessoas, todos diminuídos pela imensa sombra manchada que era a água.
— Meu Deus do céu! — disse ele, encolhendo-se na cadeira. — De quando é essa imagem?
— De meia hora atrás — falou Sam. — Foi em Norfolk, Yarmouth.
— Meia hora? Por que só soubemos agora?
— Ela foi gravada pelas autoridades locais, mas tudo está em função daquilo. — Sam acenou para a tela de Graham, onde ainda ardia a tempestade. — Não tem gente suficiente aqui; acabei de ver isso nos boletins de hora em hora.
Graham soltou um palavrão, outra vez sentindo aquela vontade de se levantar e sair correndo.
— A cidade, na verdade um vilarejo, foi banida do mapa. Não sobrou nada.
— O que causou isso? — perguntou ele, outra vez esfregando os olhos.
Sam balançou a cabeça.
— Não sabemos. Este ataque tem a ver com outro de ontem à noite, na mesma região. Uma explosão, ou ao menos achamos que foi uma explosão. Ela destruiu uma cidade chamada Hemmingway. Não havia nada ali, ao menos nada que valesse a pena atacar. Mas, por algum motivo, foi o que aconteceu.
— Meteoros? — indagou ele. Quem dera.
— Nada disso. A estação de radar de Holmont não registrou nenhuma atividade de meteoros. Nada veio dos céus.
O que também anulava a possibilidade de ataques de mísseis. Isso era bom; significava que ninguém — o Irã ou a Coreia do Norte, por exemplo — tinha decidido lançar um monte de bombas nucleares contra eles. Graham respirou fundo, tentando silenciar o ruído límpido do medo, tentando dispor seus pensamentos em padrões lógicos claros e organizados. Uma coisa de cada vez; é preciso estabelecer uma cadeia objetiva de pensamentos.
— Existe alguma filmagem do ataque da noite de ontem? — perguntou.
Sam mexeu na tela e carregou um vídeo.
Ela apertou o play, e eles assistiram juntos. Era uma filmagem noturna, tudo aparecia verde. Um bando de oficiais da SWAT trotava sobre o que parecia uma duna de areia; o mar, uma grande placa de ardósia à frente deles, era a imagem mais escura na tela. Graham ouviu ordens sendo grunhidas, e a respiração áspera e ofegante de quem quer que estivesse usando a câmera no capacete. Os policiais chegaram ao topo da duna e começaram a descer em direção a...
— Crianças? — disse Graham ao notar o grupo na praia. Duas meninas e dois, talvez três meninos, ao que parecia, o medo evidente no rosto deles, mesmo em tons de verde e preto. — Mas que droga eles querem com essas crianças?
Ouviu-se um grito, e a fileira da frente dos policiais começou a correr. Partiram para cima das crianças, urrando com fúria. A pele dos braços de Graham ficou totalmente arrepiada na hora em que a polícia atacou, uns tropeçando nos outros, parecendo mais bichos do que pessoas.
Uma das crianças berrou algo; um nome, talvez. Schiller.
— Você entendeu? — perguntou ele. — Parecia...
A tela se iluminou, a luz tão forte que Graham teve de fechar os olhos com força. Quando olhou de novo, um instante depois, a cena era um caos. A câmera tremia demais, tudo estava borrado, mas isso não o impediu de ver um dos policiais torcido em pleno ar como um peixe em um anzol. O homem, ou mulher, porque Graham não podia ter certeza, sacudiu-se e ganiu e, em seguida, estourou. Graham não foi capaz de pensar em outra maneira de descrever a cena. O corpo simplesmente explodira em flocos de cinzas que vagaram pela bruxuleante luz esverdeada, parecendo comida de peixe jogada em um aquário. Outro policial foi dilacerado por dedos invisíveis, depois outro, e o tempo todo o homem com a câmera no capacete ficou sentado na praia balançando a cabeça. Uivou de novo, ficando de pé com dificuldade, e, em seguida, virou a cabeça para o mar.
Foi só um instante — antes que a imagem se arrastasse para cima e se desmanchasse em estática —, mas parecia haver algo na praia, algo onde as crianças estavam, algo queimando.
— Volte! — berrou Graham, ouvindo o pânico na própria voz. — Volte e congele!
Sam voltou a filmagem, depois reproduziu-a normalmente, frame por frame, cada expressão capturada com perfeita clareza, os olhos dos policiais brilhando de insanidade. Os semblantes deles não se pareciam com nada que Graham já tivesse visto, tão repletos de fúria que não pareciam reais. A cena se arrastou instante a instante, a praia aparecendo, depois uma menina, depois um clarão branco, ardendo como um fósforo aceso. Sam parou a filmagem, e por algum tempo os dois ficaram ali mirando o garoto nas chamas, duas enormes plumas de fogo arqueando-se de suas costas, os olhos sendo bolsões de absoluto brilho, chegando a provocar coceira nas retinas de Graham.
— Eles incendiaram o garoto? — perguntou Sam.
Graham balançou a cabeça... Mas o que mais poderia ser? Esse garoto, ele não é humano; veja só, ele é alguma outra coisa. Sam deixou a filmagem prosseguir, o garoto incandescente visível apenas por mais uma dúzia de frames, antes que o câmera ficasse suspenso no ar e a imagem se perdesse.
— Mande estas imagens para o general — disse Graham, sentindo frio, apesar do calor da sala. — Diga a ele para mandar um pelotão ao litoral, para tentar entender o que aconteceu. Alguma coisa no satélite?
— Eu consigo capturar as imagens — falou Sam. — Desde que não se importe em cometer um crime.
— Capture.
Ela abriu um novo painel no monitor, e Graham a assistiu invadir o satélite da Nasa. A operação toda levou trinta segundos.
— Já está apontado — disse Sam. — Estão nos observando.
Claro que estavam. A NSA devia estar monitorando Londres e o litoral para ter certeza de que o que quer que estivesse acontecendo ali não fosse uma ameaça para eles lá. Muito gentil compartilharem conosco. Sam carregou uma imagem na tela. Felizmente, o céu estava perfeito naquele dia — exceto pela tempestade —, e a visão do litoral também era perfeita. Ele fora arrasado. Só restavam detritos e ruínas reluzindo ao sol.
— Podemos voltar para a hora do ataque? — perguntou Graham.
Sam negou com um gesto de cabeça.
— Isso é quase ao vivo. Só nos resta contar com a sorte.
Ele se inclinou para a frente, examinando as imagens na tela, o atoleiro que um dia havia sido estradas, prédios e gente. Tinha algo mais ali.
— Você consegue entender o que é isto? — perguntou, apontando. Parecia uma ilha de terra no mar, e, nela, uma bola de luz, quase uma erupção solar, forte demais para a câmera do satélite captar direito. Sam deu de ombros. — Isso é mesmo de verdade? Não pode ser algum erro na transferência de dados?
— De um satélite da NSA? De jeito nenhum. É de verdade.
Além daquele ofuscamento, Graham distinguiu cinco pontinhos pretos, cinco pessoas. Não havia como distinguir quem eram, a imagem era aberta demais, distante demais, mas ele teve o palpite de que eram as mesmas crianças do vídeo da polícia. Afinal, aquilo ficava a poucos quilômetros de distância.
— Será que podemos rastreá-los, caso se movam?
— Sim, mas na hora em que eu fizer isso a NSA vai saber que estou controlando o satélite. E a última coisa que queremos agora é irritar os norte-americanos.
— Rastreie — disse ele, batendo na tela, nos pontinhos ali. — O que quer que aconteça, precisamos ficar de olho neles.
Sam suspirou, digitando códigos até que a imagem na tela mudasse de lugar. Do outro lado da sala, um telefone começou a tocar. Graham ignorou; seria alguém dos Estados Unidos, alguém muito, muito zangado.
— Estão tentando recuperar o controle — disse Sam.
— Evite-os pelo tempo que for necessário — falou ele. — Vou pedir ao general que monte uma equipe. Precisamos trazê-los vivos para cá.
— Sim, senhor — respondeu Sam.
O telefone parou de tocar, mas depois voltou a fazê-lo, de algum modo conseguindo soar mais alto e mais encolerizado do que antes. Graham ignorou-o, encarando o monitor. A tela ainda mostrava o garoto em chamas, aquelas plumas de fogo estendendo-se de suas costas. Parecem asas, pensou Graham, sentindo outra vertigem avassaladora. Era inacreditável, e no entanto o cataclismo que ardia a menos de quinze quilômetros de onde estava sentado também era inacreditável. Pensou na figura na escuridão, no homem que estava suspenso na tempestade. Não havia certa semelhança ali, entre ele e o garoto em chamas? Uma similaridade? De maneira nenhuma aquilo podia ser apenas coincidência. Havia uma conexão entre o que acontecia em Londres e o que acontecia no litoral.
Se eles achassem aqueles garotos, encontrariam respostas.
Manhã
Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas, como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os sete trovões ressoaram.
Apocalipse 10, 1-3
Daisy
East Walsham, 9h27
Era tanta violência, e ela não sabia como detê-la.
Desenrolava-se diante de seus olhos, dentro das geleiras gigantes do seu mundo congelado, cada cena mais horripilante que a outra. Em uma, ela via Cal sob um carro enquanto o fogo mordia suas pernas. Ela o chamava, estendia a mão para ele, mas aquele lugar, onde quer que ela estivesse, a havia transformado em um fantasma. Mas tinha ficado tudo bem, porque Cal havia escapado, deixando um rastro de cadáveres carbonizados atrás de si. Em outra cena, observava Schiller erguer o oceano e usá-lo como um martelo, reduzindo a nada uma cidade, com todas aquelas pobres almas sendo levadas embora para sempre. A cena era tão maluca que Daisy se perguntava se era mesmo real; talvez fosse só uma ilusão na sua cabeça. Porém, a garota sentia o gosto do sal no fundo da garganta; ouvia o som horrendo do mar que se levantava e comia a terra. Era real. Era tudo real.
Schiller ia ficando cada vez mais poderoso, isso era óbvio, transformando-se de menino em anjo com um simples pensamento. Mas essa transformação cobrava seu preço. Daisy via o fogo no peito dele, o lugar onde seu anjo repousava, e o fogo estava se espalhando. Isso a fez se lembrar do vídeo que tinham visto na escola sobre câncer, sobre o modo como ele... Como era mesmo? Meta-alguma coisa de órgão para órgão, usando veias e artérias como estradas para transportar seu veneno pelo corpo. A chama azul dentro do peito de Schiller tinha estendido os dedos até sua garganta, indo até os ombros, roçando as costelas. Ela via isso como se olhasse uma radiografia. O que aconteceria quando o fogo o consumisse?
Havia alguém mais com Rilke e Schiller agora, não Marcus, não Jade — apesar de ainda vê-los ali; de sentir o medo, o pavor deles —, mas outro garoto. O nome dele era Howard, soube, mas, bem na hora em que pensou nisso, ouviu uma voz tênue, como se viajasse por um longo caminho em meio a uma ventania.
Howie, disse a voz. Meu nome é Howie. Onde é que estou?
Era ele, o novo garoto, falando com ela. Talvez ele estivesse ali também, em algum lugar daquele palácio de gelo e sonhos.
— Acho... — começou ela, perguntando-se qual seria o melhor jeito de explicar. — Acho que você foi ferido.
Meu irmão, prosseguiu o garoto, e mesmo naquele brando sussurro ela ouvia o pesado fardo da tristeza. Ele me matou. Estou no céu?
— Ele não matou você. Ele... Você ainda está vivo, mas está se transformando.
No quê?
— Num anjo. Mas não exatamente num anjo. É que a gente chama assim. Eles são... Não sei direito, Howie, mas são bons, e vieram para nos ajudar.
É isso o que ele é? Ele se referia a Schiller, Daisy compreendeu. Não quero ficar daquele jeito. Não quero matar gente. Não quero queimar.
— Isso não é obrigatório. Não é ele que faz isso, é ela.
Rilke. A coitada, triste, enfurecida e louca Rilke. Como ela podia ter entendido tudo tão errado?
Só quero ir para casa. Por favor, me deixe ir para casa.
— Você vai, eu juro — disse Daisy, tentando espreitar além do labirinto sem fim de cubos de gelo, esforçando-se para encontrá-lo. — Não vai demorar. Essas coisas, elas não querem fazer mal à gente. Estão tentando nos ajudar. Tem uma coisa que a gente precisa fazer.
O homem na tempestade se agitava dentro do gelo, mais claro do que nunca. Estava suspenso sobre a cidade, transformando tudo em nada. Sua boca era imensa, horrenda e infinita, sugando prédios, carros e gente — milhares e milhares de pessoas. Era horrível. Era como aquela vez em casa, quando tinham achado um formigueiro logo atrás da porta dos fundos, e o pai dela pegara o aspirador e sugara todas as formigas. Eles tinham um desses aspiradores caros e modernos, que possuíam um receptáculo transparente em vez de uma bolsa, e ela tinha visto as formigas girando e girando com toda a sujeira e o pó, centenas delas capturadas na tempestade, até que implorara ao pai que desligasse o aspirador.
Perguntava-se se Howie enxergava aquilo também, onde quer que ele estivesse. Mas o garoto parecia ter sumido.
Talvez também fosse possível dialogar com o homem na tempestade. Afinal, ela tinha convencido o pai a desligar o aspirador; ele só não havia se dado conta do que fazia, do mal que provocava. E se aquilo fosse igual? Se pudesse falar com ele, dizer-lhe que o que fazia era errado, talvez ele parasse.
Mas como ela poderia fazer isso ali dentro? Flutuava pelo gelo como se estivesse em um salão de espelhos. E o tempo todo seu próprio anjo repousava no peito. Sabia que estava sendo gestado ali, e um dia nasceria como alguém que acordasse de um sono profundo. O anjo viera de um lugar distante, disso ela sabia, de um lugar onde nem a espaçonave mais rápida poderia chegar. A viagem fora longa, e agora o anjo despertava, recordando-se de como usar braços e pernas, assim como ela às vezes precisava fazer quando acordava de um sono profundo. E, quando ele nascesse...
Você vai ficar igual ao Schiller, pensou ela. Vai ser feita de fogo frio, e vai ser capaz de aniquilar o mundo com o estalar dos dedos.
Isso a assustava, porque às vezes ela sentia raiva. Uma vez, quando tinha uns seis ou sete anos, não conseguia encontrar a mãe. Elas nem tinham saído nem nada, estavam as duas dentro de casa, mas Daisy chamava e chamava e chamava, porque tinha feito um desenho e queria mostrá-lo a ela. A mãe não respondia, e a raiva no peito de Daisy fora tão súbita, tão inesperada, que ela rasgara o desenho em dois. Claro, a mãe estava no quintal, guardando algo no galpão, e, ao voltar, encontrara Daisy fervilhando de raiva, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe consertara o desenho com durex e o colocara acima da lareira, e tudo acabara bem. Daisy nunca tinha esquecido daquele dia, porém, e do jato de fúria incandescente que tinha jorrado de sua barriga. E se aquilo acontecesse de novo? E se o anjo dentro dela achasse que isso era um comando? Agora não seria só um desenho de um farol meio torto a ser destruído.
Mas e se ela precisasse do anjo para falar com o homem na tempestade? Naquele momento, ela era um fantasma; podia ver tudo, mas não podia tocar nada. E, antes disso, ela tinha sido uma menina; quase uma adolescente, é verdade, mas a voz dela era tão baixinha que as pessoas sempre lhe diziam para falar mais alto, especialmente a professora de teatro, a sra. Jackson. O homem nunca a ouviria. Quando o anjo dela nascesse, porém; quando despertasse de dentro do coração dela, então a voz dela soaria alto, alto o suficiente para ser ouvida mesmo em meio ao estrondo uivante da tempestade — alto como a de Schiller lá em Fursville. Ela diria ao homem para deixar o mundo em paz, para simplesmente ir embora. Ele teria de ouvi-la; teria de respeitá-la.
— Howie? — chamou ela, perguntando-se aonde teria ido o menino. Será que Schiller o havia ouvido? Ou Rilke? Será que o mantinham calado de algum jeito? — Se puder me ouvir, não preste atenção em Rilke. Ela não é má pessoa, mas entendeu tudo errado. Não estamos aqui para machucar as pessoas, eu sei. Estamos aqui para ajudá-las.
Não houve resposta. A voz dela era baixa demais. Mas não demoraria agora; seu anjo estava quase pronto. Então ela não seria mais um fantasma, e também não seria mais uma garota.
Seria uma voz, alta o bastante para expulsar a tempestade.
Cal
East Walsham, 9h29
Só agora, no silêncio sepulcral da igreja, o corpo dele parecia se lembrar do que era dor. Ela começou nos pés e subiu até o abdômen. Sentia o coração como um calor pulsante na pele. Mas estava vivo. Vivo e em segurança — se alguém o tivesse seguido até a igreja, já estaria ali, urrando entre os bancos.
E ele estava quente. Isso era o principal. Não estava escorregando para dentro de uma piscina de gelo como Schiller e Daisy. O que era muito bom. Significava que o que quer que estivesse dentro dele não estava com pressa de sair. Tudo o que Cal desejava era beber alguma coisa, trancar a porta da igreja e dormir por cem anos.
Mas e o sacerdote? O velho estava sentado no altar, murmurando algo bem baixinho e às vezes dando um sorriso nervoso para Cal; ficava tirando os óculos e limpando-os no paletó sem parar. Se não tomasse cuidado, não sobraria vidro nenhum. Ajeitou-os no nariz, deu uma tossidela e depois falou em uma voz branda que chegou ao outro lado da igreja:
— Seu amigo precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Por favor, podemos resolver isso juntos. Só me diga o que está acontecendo.
Você não vai querer saber, pensou Cal. Flexionou o maxilar, e um espasmo formigou pelo músculo. Quando engoliu, foi como se tivesse uma meia enrolada no fundo da garganta. Tinha a sensação de que, se não bebesse nada logo, viraria uma daquelas estátuas de pedra que o fitavam com benevolência.
— Olha — disse o sacerdote —, me solte e eu cuido dos seus ferimentos. Tem um kit de primeiros socorros na casa paroquial. Juro que vou fazer tudo o que puder.
— Não — murmurou Cal. — Você não entende. Se chegar perto de mim, se chegar perto de qualquer um de nós, vai tentar nos matar.
— Isso é absurdo. Eu jamais faria mal a uma criança, jamais faria mal a ninguém. Por favor, acredite em mim. Sou um homem de Deus.
— Não acho que Deus tenha nada a ver com isso. Isso é... mais antigo que Ele. — Não tinha muita ideia do que estava dizendo. — Conte-me o que você sabe sobre anjos.
— O quê? — perguntou o sacerdote, limpando os óculos. — Anjos? Por quê?
— Só me conte. Anjos.
O homem limpou a fleuma da garganta, um ruído que poderia ter sido uma risada. Depois deve ter notado a expressão no rosto de Cal, porque franziu o cenho e mirou o chão.
— Os anjos. Bem. Não sei o que quer saber. Na Bíblia, eles são seres espirituais, são os mensageiros de Deus. Aliás, é isso que a palavra quer dizer: mensageiro. Vem do grego. Hum... — Deu de ombros, a corda presa se levantando e em seguida chicoteando o chão. — É isso o que quer saber?
Cal não tinha ideia do que queria saber.
— Não. — Esforçava-se para pensar na pergunta certa. — Eles podem possuir as pessoas? Como os demônios? Eles podem vir à Terra?
As perguntas eram uma insanidade só. O sacerdote balançou a cabeça.
— Veja só, filho...
— Cal.
— Cal, veja só, não sei o que você quer saber. Eu...
Ouviu-se um barulho no cascalho do lado de fora, e em seguida o ranger da porta. Brick se arrastou para dentro da igreja carregando um copo- -d’água em uma mão e uma fatia de pão na outra. Parecia pálido, cada sarda em evidência como se tivesse sido feita a caneta na pele branca; e, quando estendeu o copo, sua mão tremia — tanto que a maior parte da água transbordou para o braço. Cal deu um gole, que queimou feito ácido. Em seu estômago, porém, a sensação foi de frescor, e ele se sentiu melhor instantaneamente.
— Achei que tivesse mandado não falar nada — disse Brick, encarando o sacerdote.
— Você me disse para não tentar fugir — respondeu o homem.
Cal sorveu outro gole, desta vez maior, antes de acrescentar:
— Tudo bem, Brick, fui eu que fiz uma pergunta. Sobre anjos.
Brick sibilou pelo nariz, despencando no último banco, ao lado de Adam. Entregou ao garoto uma fatia de pão, que Adam engoliu como um cão faminto.
— Anjos — fungou Brick, cuspindo migalhas. — Estou dizendo que isso é bobagem.
— Não custa perguntar, custa? — falou Cal, a raiva fazendo tudo doer o dobro. — Já que estamos aqui, não faz mal perguntar. — Ele se voltou de novo para o sacerdote, aguardando o homem continuar.
— Se me disser o que quer saber a respeito, talvez eu possa dar uma resposta melhor.
— Porque... — Cal começou, hesitante, perguntando-se se dizer aquilo em voz alta dentro de uma igreja não faria tudo ganhar uma dimensão de realidade que não tinha antes. À frente dele, Brick arrancava mais um pedaço de pão com os dentes, balançando a cabeça. Cal terminou a frase: — Porque acho que estamos possuídos por eles.
O sacerdote não respondeu, só engoliu ruidosamente e começou a encarar a porta da igreja. Era como se transmitisse seus pensamentos: são loucos, drogados; é só eu afrouxar esta corda e sair correndo, se é que vou conseguir chegar à rua...
— Senhor... Quer dizer, reverendo... — começou Cal.
— Doug — disse Brick. — O nome dele é Doug.
— Doug, sei que isso parece uma maluquice. Se pudéssemos provar, nós provaríamos. — Ele ergueu a cabeça, uma ideia debatendo-se no mar de dor que constituía seus pensamentos. — Peraí, você tem uma câmera?
Brick não demorou muito para achá-la dentro da casa paroquial e voltou depois de cinco minutos com uma Flipcam pequena. Despencou no banco, mexendo na câmera e abrindo o visor.
— Cuidado com isso, por favor — disse Doug. — É da Margaret. Ela ficaria muito chateada se você a quebrasse.
— Não vai quebrar, vamos tomar cuidado — falou Cal. — Preciso que você tenha certeza de que essa corda está firme, está bem? Ela precisa estar bem apertada. Dê mais um nó, só para ter certeza.
O sacerdote seguiu as instruções, e, em seguida, deu dois safanões na corda. O arranjo parecia seguro, mas naquele momento ele era apenas um velho gordo. Dali a um instante, quando cruzassem a linha invisível, ele seria outra coisa, uma criatura de raiva ancestral, primitiva.
— Vai lá — disse Cal.
— Vai você — respondeu Brick. — Eu não vou lá de jeito nenhum.
— Olha só — falou Doug, sua voz uma oitava acima do que estava antes. — O que quer que estejam pensando em fazer comigo, não façam.
— Brick, vai logo.
O garoto mais velho fez uma cara que fez Cal ter vontade de matá-lo ali mesmo. Parecia prestes a entregar a câmera a Adam, mas depois se levantou e foi para o corredor. Parou por um instante, incerto, olhou ameaçadoramente para Cal e, em seguida, foi relutante até o altar. Na hora em que começou a gravar, a câmera emitiu um som baixinho.
— Por favor, fique parado aí — gemeu Doug, tentando mexer no nó com a mão livre.
— Pode parar com isso — disse Cal. — Não vamos machucar você, eu juro.
Brick deu outro pequeno passo, arrastado, e mais outro, diminuindo o espaço entre ele e o sacerdote. A que distância estaria agora? Vinte e cinco metros, talvez? Cal não podia ter certeza, mas não seria...
O sacerdote emitiu um choramingo nasal, que se aprofundou e tornou-se uma fungada. Mesmo do outro lado da igreja, Cal viu os olhos do homem escurecerem, a pele do rosto cair, como se a carne lentamente escorregasse de seus ossos. Seu corpo inteiro se agitou, fazendo-o cair no degrau de baixo, os braços socando o carpete, o piso de pedra, como se estivesse tendo uma síncope. Brick parou, e Cal quase pôde enxergar as ondas de medo pulsando dele, invadindo o ambiente com seu odor azedo e desagradável.
— Vai lá. Você ainda não está perto o bastante.
Brick murmurou algo que Cal não pôde ouvir, e depois cruzou a linha invisível da Fúria. Doug ficou de pé imediatamente, um grito rangendo do abismo negro de sua boca. Partiu para cima de Brick, avançando um metro antes que a corda se esticasse e o prendesse onde estava. O ímpeto fez suas pernas ficarem no ar, o corpo fazendo em seguida um baque contra o piso de pedra. Ele não se importou, agitando-se e urrando.
— Basta, Brick — disse Cal.
Brick cambaleou para trás, quase tropeçando nos próprios pés. E bastou cruzar a linha para que o sacerdote voltasse a ser apenas um sacerdote, um amontoado de pano preto no corredor, ofegando e cuspindo sangue. Ele demorou vários minutos para se lembrar de onde estava, tentando recuperar o fôlego enquanto ia até o degrau mais baixo do altar, enxugando o suor reluzente de sua careca. Apertou o punho, viscoso de sangue, os olhos enevoados perdidos pela igreja até pararem em Cal.
— O que... o que fizeram comigo?
— Mostre a ele — disse Cal. Brick fechou a câmera e deslizou-a pelo chão como uma bola de boliche. O objeto de plástico foi deslizando pelo piso de pedra irregular, batendo no balaústre de madeira ao qual Doug estava amarrado. Ele não parecia mais preocupado com a integridade da câmera. Não parecia mais preocupado com nada, como se a Fúria o tivesse capturado e colocado para fora tudo o que um dia tivera importância, deixando-o vazio.
— Veja a gravação — falou Cal.
Uma eternidade de silêncio se passou, e depois Doug estendeu a mão e pegou a câmera. Ouviram-se uns bipes, e então Cal escutou a própria voz — Vai lá. Você ainda não está perto o bastante —, seguida da trilha sonora inconfundível da Fúria. Mesmo ouvi-la assim lhe dava arrepios. Os olhos do sacerdote pareciam bolas de golfe, enormes e brancos, enquanto se olhava na pequena tela. Como era ver a si mesmo assim? Saber que, por um breve período, você não era você, você era outra coisa, algo terrível? O homem assistiu à cena de novo, depois fechou a câmera e a depositou a seus pés.
— Meu Deus — suspirou ele, de repente uma criança, como se fosse Cal o sacerdote. — O que aconteceu comigo?
— Nós. Nós acontecemos — respondeu Cal. — Agora, por favor, conte-nos o que sabe.
Brick
East Walsham, 9h52
— Os anjos são mais agentes de Deus do que do homem. São mensageiros, basicamente, portadores de revelações. Como quando Gabriel foi a Maria na Visitação, por exemplo. Mas também são guerreiros.
Tentando não ouvir, Brick encarava os próprios pés enquanto o sacerdote falava. Nada do que aquele homem dizia poderia ter relação com o que estava acontecendo, de jeito nenhum. Ele falava da Bíblia, um livro escrito centenas de anos atrás, por gente que não tinha nada melhor para fazer. Aquilo... Aquilo era outra coisa, algo diferente. E no entanto havia palavras que o sacerdote usava, palavras que pareciam acertar bem no alvo. Guerreiros, pensou Brick, ouvindo-o. Não foi isso que Daisy falou? Que estamos aqui para combater?
— Como assim, guerreiros? — perguntou ele. — Os anjos não são querubins bonzinhos com rostos rechonchudos, halos, aquelas coisas?
— Não — disse o sacerdote, negando com um gesto de cabeça. Ainda estava pálido, tremendo, e, na forte penumbra do outro lado da igreja, parecia um fantasma. — Talvez hoje, nos cartões de Natal. Mas originalmente eram mais como um exército, ou... Talvez a melhor palavra seja guardiães. É comum serem representados com espadas flamejantes. Alguns ficam ao lado do trono de Deus.
— Como uma guarda imperial, algo assim — disse Cal lá da parede dos fundos. Brick era capaz de sentir a exaustão na voz do garoto, e se perguntou quanto tempo mais qualquer um deles ficaria acordado. Tudo ali era perfeitamente impassível, como se o tempo tivesse decidido lhes dar uma folga, parar um pouco. Adam já estava enroscado no banco feito um cachorrinho, os olhos totalmente fechados. — Sabe, como o Imperador de Guerra nas Estrelas.
— Bem, essa comparação talvez não seja adequada — disse Doug. — Mas deve servir. Quanto aos outros, sua ocupação principal é levar mensagens para a humanidade. Eles não estão só na Bíblia. Você os encontra em todas as religiões do mundo.
— Então, do que são feitos? — perguntou Cal.
— Não consigo entender por que você acha que os anjos são responsáveis por isso, pelo que quer que esteja acontecendo — respondeu Doug. — Tem de ser... Tem de ser uma coisa química, uma reação de algum tipo. Talvez uma doença.
— Confie em mim — disse Cal. — Você não viu o que nós vimos. Continue.
— Do que são feitos? — O sacerdote se mexeu desconfortavelmente, limpando os óculos de novo. Desta vez, não os colocou de volta, só os ergueu nas mãos e os examinou como se a resposta estivesse escrita neles. — São etéreos, isso eu sei. São espíritos. Já ouviu a expressão “quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete”? A resposta é um número infinito, porque não são criaturas deste mundo. Os teólogos nos ensinam que eles são capazes de se mover instantaneamente de um lugar para outro, o que lhes permite ficar indo e vindo daqui para o céu. Por causa disso, muitas vezes são representados como se fossem feitos de fogo.
Ao ouvir isso, Brick voltou-se para trás e encarou Cal. Sentiu um súbito arrepio e um tremor nos braços, recolhendo-os contra o peito, como se para escondê-los. Brick olhou para a frente outra vez, sentindo as bochechas corarem e se perguntando por quê.
— Então, nada de túnicas nem de harpa? — falou ele.
Doug recolocou os óculos e piscou, sem ter muita certeza se a pergunta era séria ou não.
— Mas deve haver alguma coisa na Bíblia que diga o que eles fazem, como falam com as pessoas, não? — perguntou Cal. — Eles simplesmente aparecem para um café, é isso?
— Não, costumam ser mais um espírito interno; falam de dentro, sem se mostrar.
— Muito conveniente — resmungou Brick.
— Brick, você não acha que tem algo no que ele está dizendo? — perguntou Cal. — Feito de fogo, vivendo dentro de você, guerreiros. Nada disso parece familiar?
Brick não respondeu, só ficou ali sentado ruminando sua raiva.
— Como assim, guardiães? — perguntou Cal.
— Bem, eles nos protegem. Muitas pessoas acreditam que... Você deve ter ouvido a expressão anjo da guarda, não?
— Claro. Mas também existem anjos maus, certo? — perguntou Brick, pensando no que tinha acabado de ver na TV, o homem na tempestade. A imagem já esmorecia em sua mente, apenas uma grande marca escura em sua visão, como se as retinas tivessem sido raspadas. Melhor isso do que ver aquilo de novo, a besta com seu manto de tempestade e sua inspiração infinita. Estremeceu com tanta força que o banco chacoalhou.
— Anjos maus? Claro, claro. De acordo com a Bíblia, Lúcifer tinha sido um anjo, na verdade, um arcanjo. Ele achou que poderia ser mais poderoso do que Deus e tentou liderar, como direi... uma rebelião com seu exército de anjos. Por causa do seu pecado de orgulho, Deus mandou-o para o Lago de Fogo, o inferno, junto com os que ficaram a seu lado. Essa é uma parte das escrituras com a qual, pessoalmente, tenho dificuldade. É sempre tentador acreditar que o mal humano pode ser atribuído ao demônio, e, sim, há ocasiões em que é esse o caso. Mas também acho que o mal é parte de quem somos. Devemos culpar apenas a nós mesmos pelas coisas ruins do mundo.
Houve um tempo em que Brick poderia ter acreditado nisso. Não agora, não depois de tudo o que tinha visto. O homem na tempestade, aquilo não era humano. Era o exato oposto de humano, o exato oposto de toda a vida. Porém, também não era o demônio, não o que está na Bíblia. Era outra coisa, algo que vagava pelos mundos muito antes de qualquer pessoa ter dito a palavra Deus. Brick sentia a veracidade disso em suas entranhas, no rangido colossal do peso do tempo e do espaço a se quebrar; quase podia ouvi-lo no enorme silêncio da igreja. Era impossível explicar, mas estava ali mesmo assim.
— Isso não vai nos levar a lugar nenhum — disse ele, só para que houvesse contradição.
— Pois é, eu sei — respondeu Cal. — Eu sei. Veja só, Doug, algumas das histórias da Bíblia devem ser baseadas em ocorrências reais, não é? Sem ofensa nem nada, cara. Lembro de ouvir que o dilúvio, aquele com Noé e tal, deve ter acontecido por causa de um tsunami ou algo do tipo.
— Sim — disse Doug. — Claro que existem teorias relativistas. Aliás, estudei a ciência na Bíblia na época em que fui capelão em Oxford. Você está falando da teoria do dilúvio do Mar Negro. Por volta de 5.600 a.C., a água do Mediterrâneo abriu uma brecha para o Estreito de Bósforo, acho. Isso teria causado uma inundação terrível. Existem também outros exemplos. A história de Moisés e o Mar Vermelho. Há condições em que um vento forte poderia de fato dividir as águas de um rio. Já aconteceu outras vezes, no delta do Nilo. É bem impressionante.
— Então, o que você quer dizer? — perguntou Brick. — Que a ciência é que faz tudo e Deus só leva o crédito?
O sacerdote riu, fazendo que não com a cabeça.
— Estou dizendo que muitos anos atrás não sabíamos o que hoje sabemos. Um... um vulcão, digamos, era um animal zangado sob a superfície. Um furacão eram os deuses lutando no céu. Os humanos precisam conhecer a verdade das coisas, mesmo que essa verdade seja ficção. Faz parte da nossa natureza tentar entender a vida. Se a ciência não pode explicar algo, inventamos nossa própria ciência para explicar esse algo. E essa ciência costuma se chamar religião.
— Então a religião não é real? — perguntou Brick. — Um sacerdote falar isso... Que besteira.
— Não, você não está entendendo. Religião tem a ver com fé, e fé é uma espécie de conhecimento muito diferente. Deus é um fato científico, e há uma ciência que explica a natureza de Deus. Claro que há. Mas ainda não sabemos que ciência é essa. Talvez um dia a compreendamos, assim como hoje compreendemos a ciência da gravidade, do relâmpago, de, digamos, certos comportamentos de partículas quânticas. Talvez um dia saibamos a verdade científica a respeito de Deus e de nossa criação. Nesse ponto, a ciência e a religião serão a mesma coisa.
Brick sibilou uma risada pelo nariz, ainda que houvesse algo nas palavras do sacerdote que fazia sentido.
— Está dizendo que coisas esquisitas aconteceram muito tempo atrás — disse Cal. — E que as pessoas viram essas coisas e as atribuíram a Deus. Disseram para seus filhos que era Deus, e esses filhos disseram para os filhos deles, e depois alguém acabou escrevendo um livro chamado Bíblia, e se lembraram desse negócio, e ficaram sabendo do mar se dividindo, de um dilúvio, sei lá, e foi assim que a Bíblia foi escrita.
O sacerdote passou a mão pela cabeça e fez que sim.
— Bem, em parte. Alguns milagres são de Deus, sem dúvida. Mas talvez não todos. Tudo é ciência. Tem de ser. Mas o fato de ser uma ciência que ainda não compreendemos não o torna automaticamente falso.
— Os anjos, então — prosseguiu Cal, e Brick percebeu que era com ele que o sacerdote falava. — Talvez isso tenha acontecido antes. Talvez, milhares de anos atrás, as pessoas tenham ficado possuídas por... pelo que quer que esteja dentro de nós. Só que não sabiam o que eram essas coisas; só viam que eram feitas de fogo, com asas. Criaturas que podiam destruir uma cidade inteira com uma só palavra. Elas as viam, e as chamavam de anjos, de mensageiros de Deus, e disseram isso aos filhos, e isso acabou virando parte da religião. Faz sentido, não faz?
Fazia, mas Brick não disse nada.
— E aquela coisa em Londres, o homem na tempestade? Talvez ele tenha estado aqui antes. Talvez as pessoas o tenham visto e pensado que ele era como nós, quer dizer, como os anjos, mas uma versão do mal. Podem ter inventado uma história de como ele foi derrotado e quis se vingar. Isso tudo pode já ter acontecido, Brick.
— E daí, Cal? — falou Brick, virando-se.
Cal estava encostado na parede, envolto nos próprios braços. Parecia pequeno e fraco, mas seu olhar emanava força.
— Isso significa que os anjos já lutaram com ele — disse Cal. — Significa que o impediram de fazer o que quer que tenha vindo fazer aqui. Significa que eles o venceram.
— Como você sabe?
— Porque, se não fosse assim, não estaríamos aqui, estaríamos? Essa coisa quer que a gente aniquile tudo. Parece um buraco negro. E não vai parar até a destruirmos.
— É mesmo? — Brick precisou engolir um azedo caroço de bile que subiu do poço revirado que era seu estômago. A imagem do homem na tempestade apareceu diante dele e encheu a igreja de trevas. Tentar lutar com aquilo seria como tentar parar um trem com um palito de dentes. Seriam arrasados, tragados por aquela boca furiosa junto com tudo o mais. E depois? Não haveria vida após a morte, nem céu nem inferno, não ali dentro. Não haveria nada, exceto o fim das coisas. — E como a gente vai fazer isso, Cal?
— Esperando — respondeu o outro garoto. — Até que nasçam.
Essa ideia era tão ou ainda mais aterrorizante, a ideia de que havia algo em seu peito — não, ainda mais fundo: em sua alma — que aguardava o momento certo para irromper em um punho de fogo e tomar o controle de seu corpo. Essa ideia lhe dava vontade de gritar, e ele se colocou de pé e foi para o corredor, andando de um lado para o outro com as mãos fincadas no cabelo. Ia e voltava, querendo cavar uma trincheira com os pés no piso de pedra e enterrar-se ali para sempre com os esqueletos sob a igreja. Foi só quando chegou perto demais do sacerdote, quando ouviu a respiração do homem tornar-se o gemido insuportável da Fúria, que se obrigou a sentar-se outra vez.
— Mas por que as pessoas nos detestam? — acabou perguntando Brick. — Essa é a parte que eu realmente não entendo. Se estamos aqui para combater aquela coisa, com certeza as pessoas deviam estar do nosso lado, nos ajudar, em vez de tentar nos matar.
— Não sei — disse Cal. — Doug, você se lembra de alguma coisa do que aconteceu quando estávamos filmando?
O pastor ficou alguns tons mais pálido e negou com um gesto de cabeça.
— Parece que... que aquela parte da minha memória, da minha vida, simplesmente não existiu. Num minuto estava falando com vocês, e em seguida apaguei. Depois, tudo voltou ao normal. Só... só que não voltou, porque tentei matar vocês. — Ele enxugou o rosto com a mão, e Brick percebeu que o velho chorava. — Não era eu. Não era eu.
— Vocês já odiaram alguém tanto que perderam a cabeça por causa disso? — perguntou Brick, as palavras saindo de sua boca antes mesmo que ele se desse conta delas. — Já odiaram tanto que sua visão ficou inteirinha branca e foi como se vocês virassem outra pessoa?
Ninguém respondeu. Ele arrastou o pé no chão, desconfortável por estar compartilhando tanto de si.
— Eu, sim. Várias vezes. Costumava ficar com muita raiva.
— Costumava? — disse Cal, com mais do que uma ponta de sarcasmo.
Brick sentia aquilo naquele momento, enquanto falava, como se algo irrompesse de seu estômago.
— Às vezes, não consigo me controlar. Acho que serei capaz de fazer alguma coisa sem volta, algo ruim, como bater em alguém ou até pior, como matar alguém. Quando fico assim, tenho a sensação de que eu, quer dizer, aquela parte minha que pensa nas coisas e evita fazer bobagem, é expulsa da minha cabeça, como se alguma outra coisa simplesmente tomasse o controle. É difícil sair desse estado.
O som da própria voz, falando por tanto tempo, parecia-lhe estranhamente alheio. Umedeceu os lábios, querendo um pouco da água de Cal. Percebeu que não tinha tirado os olhos dos tênis imundos desde que começara a falar.
— Acho que é assim. A Fúria. Você fica com tanta raiva, tão cheio de cólera, que apenas perde a cabeça. Só que é um milhão de vezes pior.
Engoliu ruidosamente, e percebeu que corava de novo. Aquela raiva ainda fervilhava em sua garganta. Após algum tempo, Cal se pronunciou:
— Pois é, faz sentido. Mas não é uma coisa química, nem emocional; é isto: anjos. As pessoas não conseguem aceitá-los porque eles são tão... qual é a palavra mesmo?
— Estranhos? — disse Brick.
— Acho que é isso. Eles são tão estranhos que fazem as pessoas perderem a cabeça. Elas precisam matá-los, precisam matar a gente. Não consigo pensar em nenhum outro motivo.
Mais silêncio, profundo como o oceano. Brick mirou a igreja e viu a barraquinha de cachorro-quente de Fursville queimando, e, atrás dela, o pavilhão. Abriu os olhos de súbito, percebendo que o sono o tinha emboscado.
— A gente precisa ir embora — disse ele, esfregando os olhos. Como Cal não respondeu, Brick olhou para trás e viu que ele também tinha sucumbido, a cabeça repousando nos joelhos. — Cal, não podemos adormecer.
— Tudo bem — disse o sacerdote. — Podem dormir. Vocês têm a minha palavra; não vou me mexer. Sei o que vai acontecer. Não suportaria ficar daquele jeito de novo.
Brick fez cara feia para o homem. Ele era um furioso; não podia confiar nele. É só por um instante, só para recuperar as forças. Fechou os olhos e viu, além do pavilhão, o mar. Havia um barco no mar, um barco que se tornava uma ilha, depois uma casa, e, quando Brick nadou até ela, abriu a porta e entrou, não sabia mais que estava sonhando.
Rilke
Great Yarmouth, 10h07
O chão se dobrou e então recuperou a forma, soando como se o mundo inteiro esticasse as juntas. Uma ponte de pedra ergueu-se da praia encharcada, parecendo a espinha de algum animal colossal rompendo a pele da terra. Ela serpenteava pelo solo sulcado onde um dia estivera o vilarejo. Seu arquiteto, Schiller, retorcia o ar com dedos incandescentes, cordas invisíveis remoldando pedra, areia e terra até que houvesse um caminho distinto vindo do mar.
Foi só quando ele terminou que a transformação começou, as chamas extinguindo-se como um forno a gás ao vento, até que a pessoa que estava ali era não mais um anjo, mas outra vez um menino. Conseguiu sorrir, desgastado, antes de as pernas cederem e ele tombar ao leito protuberante da própria criação. Rilke levantou-se de onde tinha se ajoelhado, os joelhos esfolados pela vibração do chão, e andou até ele. Quando o ajudou a sentar-se, outra mecha de cabelos dele se soltou. Não eram mais loiros, percebeu ela, mas cinza.
— Fez bem, irmãozinho — disse ela, acariciando a bochecha dele. Ainda estava muito frio, como se, toda vez que deixasse o rapaz, o fogo roubasse um pouco mais do calor de seu corpo. — Você acabou com tudo. Ouça, ouça o resultado do que você fez.
Ele escutou, e, por um tempo, ambos ficaram sentados, absorvendo a quietude. O único som era o doce lamber do mar, reduzido a um cão que gania em seus calcanhares. Não havia gritos, nem mesmo alarmes. A onda de Schiller tinha feito bem seu trabalho.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller, quase sussurrando. Os olhos dele estavam fechados e espasmavam como os de um filhote sonhando.
Ela sacudiu os ombros dele, trazendo-o de volta. Por que ele precisava dormir se restava tanto trabalho a ser feito?
— Logo — disse Rilke. Puxou-o até que ele reagisse e se levantasse com dificuldade. Ela colocou um braço embaixo dele, apoiando-o com seu corpo. Era muito pesado, e depois de alguns segundos a garota desistiu. — Ok, podemos descansar um pouco. Mas não aqui. Precisamos achar um lugar seguro.
— Seguro? — veio uma voz atrás dela, que se virou e viu Jade, sentada na praia recém-erigida ao lado dos dois garotos. Parecia uma marionete mal-acabada, os olhos grandes demais, a boca frouxa, o corpo mole.
Rilke tinha quase esquecido que os outros existiam. Aliás, precisava deles? Quando seu anjo nascesse, ela e Schill poderiam mudar o mundo por conta própria. Não precisavam ser supervisionados por ninguém. Por ora, porém, fazia sentido mantê-los por perto. Poderiam vir a ser úteis, em especial o novo garoto, que estava quase despertando.
— Não vai demorar até virem atrás de nós — disse Rilke, dando um passo na ponte de pedra e arrastando Schiller atrás de si.
— A polícia?
— Sim. E outros também. O exército. — E Daisy, pensou ela, mas não falou.
A garotinha também devia estar perto de sua transformação. Porém, Rilke achava que isso ainda não havia acontecido. Teria sentido. Não, estavam descansando, Daisy, Brick, Cal e Adam. Tentou transportar a mente, como tinha feito em Fursville. Sentiu um banco de madeira desconfortável, o odor de algo velho e empoeirado, viu uma luz de cor estranha passando por grandes janelas. Uma igreja, atinou, a respiração um tanto ofegante. Talvez tivessem ouvido histórias sobre anjos vingadores; talvez enfim tivessem compreendido o que precisavam fazer.
E se não fosse isso? E se tivessem ido lá para tentar deter Schiller?
Rilke tentou imaginar o que aconteceria se dois anjos lutassem um contra o outro. Isso por si bastaria para colocar o mundo de joelhos. Schiller teria força suficiente para lutar com Daisy? Ela era só uma garotinha, mas tinha uma força interior que o irmão não possuía.
— Não consigo mais carregá-lo — disse Jade. — Está gelado demais.
— Consegue sim — falou Rilke. — Só até o alto da colina, até acharmos abrigo.
Não esperou pela resposta. Jade faria o que ela mandasse, e Marcus também. Rilke caminhou com Schiller nos braços, e cada passo era um desafio. Isso a fez se lembrar da manhã em que havia chegado ao parque temático, uma manhã que parecia ter sido muito tempo atrás, mas que tinha sido... O quê? Há dois dias? Como tudo o mais, o tempo estava fragmentado. Aqueles dois dias equivaliam a uma vida inteira. As coisas eram tão simples antes... O mundo era só o mundo, e as pessoas, só pessoas.
Esse pensamento era tão absurdo que ela riu. Schiller a encarou com seus olhos sonolentos e semicerrados e sorriu em resposta; ela reparou que um de seus dentes da frente estava faltando. Seu estômago deu um nó, a pele subitamente gélida. Isso o está matando. Não. Estava deixando-o mais forte. Como poderia não estar? Aquilo o havia deixado mais poderoso do que qualquer outra coisa no mundo. Tinha feito dele um deus. E, no entanto, uma voz a chamava, talvez a dela mesma, talvez não: isso o está matando, usando-o e comendo-o por dentro.
— Calada — sussurrou ela; Schiller ouviu-a e franziu o cenho. — Preste atenção no caminho, irmão — disse ela, só para não precisar olhar o buraco enorme na gengiva onde antes havia o dente. E daí que aquilo o estava matando? E daí que seu corpo humano caísse em pedaços? Uma vez que a carne sucumbisse, só haveria fogo e fúria.
Seguiram cambaleando em silêncio pela trilha de pedra fragmentada. Quanto mais avançavam, mais descortinavam a destruição produzida por Schiller. À esquerda deles, havia outro mar, este feito de tijolos, concreto e corpos, boiando em sedimentos e água. Fumaça subia de três ou quatro pontos. Rilke se perguntou se ainda havia alguém vivo ali, depois pensou no paredão de água que esmagara a cidade como o punho de Deus. Nada poderia ter sobrevivido àquilo. Não houvera tempo sequer de alguém desconfiar do que estava acontecendo.
Após pouco menos de um quilômetro percorrido, chegaram ao fim da ponte que Schiller tinha tirado da terra. Ela se transformara em uma boca repleta de dentes; além dela, só havia um caos de destroços. Rilke saiu dela para um gramado, o solo úmido mas firme. Era tão plano que mesmo dali conseguia ver a linha cinzenta do mar, como se ele espreitasse o horizonte para ter certeza de que eles tinham mesmo ido embora. Passou pela cabeça da garota que ele fosse se encolher outra vez e se esconder atrás da cidade em ruínas.
— Podemos descansar agora? — perguntou Schiller. — Rilke, por favor, não estou me sentindo bem.
Ela não olhou para ele, só examinou o campo em busca de abrigo. Havia uma cerca ali perto, semiafundada na lama. Um cavalo jazia morto, emaranhado em fios e madeira. Devia ter tentado fugir quando ouvira o estrondo do oceano, pensou ela, sentindo pela criatura uma compaixão surpreendente. Mandou embora aquela emoção — emoções são para os humanos, Rilke, não para você —, os olhos fixando-se na única estrutura, à exceção dos postes de telefone, que avistava dentro de quilômetros. Era um moinho que perdera as hélices.
Foi na direção dele, arrastando os outros atrás de si como se puxasse um carrinho. Sua sombra ia à frente, ainda comprida, varrendo a grama como uma nuvem escura. Como o homem na tempestade, pensou ela, e isso lhe trouxe de novo aquela sensação esquisita no estômago. Se ele estava ali pelo mesmo motivo que os anjos, então por que não tinha tentado se comunicar com eles? Ele não tinha instruções, ordens? Talvez até tivesse, mas eles é que não conseguiam ouvi-lo. Ou talvez isso só fosse acontecer depois que os anjos nascessem. Pensou em perguntar a Schiller se ele tinha ouvido — sentido — alguma coisa do homem na tempestade, mas o irmão estava tão fraco que não achou que a resposta faria sentido, mesmo que ele soubesse. Melhor levá-lo para dentro, deixá-lo descansar, para depois perguntar.
Demorou mais do que ela esperava para chegar ao moinho, a superfície plana fazendo-o parecer mais próximo do que de fato era. Quando terminaram de cruzar uma pequena represa, o sol tinha mudado de lugar, e havia um ruído se aproximando no horizonte, um estrondo grave que começou parecendo um trovão, mas que era um helicóptero. Rilke ergueu a mão para se proteger da ofuscante luz do dia, vendo a mancha pairando sobre a cidade. Parecia um abutre sobrevoando um cadáver, ao lado das gaivotas que já se reuniam ali, como vastas nuvens acinzentadas à procura de restos. Isso era tudo o que tinha sobrado: pedaços de carne, de ossos, e amanhã nem isso haveria mais. O helicóptero virou e recuou, os baques sônicos reduzindo até sumirem sob o acelerado ritmo do coração dela.
— Está tão quieto — disse Marcus. — Parece que o mundo foi desligado.
Rilke fez que sim com a cabeça, e, em seguida, percorreu os últimos metros até a porta do moinho. Estava trancada, mas era velha, e, depois de alguns chutes, abriu-se, balançando. O fedor de umidade e podridão os bafejou, mas ao menos ficariam escondidos. Deixou Jade e Marcus entrarem, carregando para dentro o novo garoto. Depois, indicou a porta a Schiller. Ela o seguiu na escuridão rançosa, espiando outra vez o mar atrás da terra. O helicóptero havia ido embora, mas algo os observava; ela podia sentir um olhar dançando de cima a baixo por sua espinha. Ergueu os olhos para o céu de um azul perfeito e mordeu o lábio. Em seguida, empurrou a pequena porta de madeira e fechou-a, virando-se e descobrindo-se em uma pequena sala circular. A única janela estava tapada com tábuas dispostas de modo rudimentar, fachos de luz âmbar chegando ao chão com dificuldade, revelando uma escultura de engrenagens e madeira velha, mas não muito mais que isso. Schiller já desabara contra a parede, a cabeça entre as mãos. Jade e Marcus haviam deitado o novo garoto ao lado do maquinário, esfregando os braços e tremendo.
— Vamos descansar aqui por uma hora — disse Rilke, batendo os pés de impaciência. Não tinha gostado dali. Achara que se sentiria segura, oculta, mas parecia o contrário, como se houvesse uma bandeira enorme balançando no alto do moinho, uma bandeira que dizia: “Estamos aqui, podem mandar um míssil”. E era isso o que fariam, se soubessem a verdade. Mandariam um avião, dez aviões, e bombardeariam aquele campo inteiro até que sumissem. Se Schiller estivesse desperto, e transformado, tudo bem. Porém, se estivesse dormindo, se não os ouvisse chegar, então tudo acabaria antes mesmo de começar.
— Uma hora — repetiu ela quando Schiller fez menção de protestar. — Eu acordo vocês.
Os outros se sentaram, mas ela continuou de pé. Também tinha passado a noite em claro e sabia que, se deixasse a cabeça encostar em algum ombro, o sono a tomaria. Andou de um lado para o outro perto da porta, vendo Schiller adormecer, depois Jade e, por fim, alguns minutos depois, Marcus, encolhido como um porco-espinho sob a janela. Ridículos, todos eles. Tanto trabalho a fazer, e só pensavam em descansar. Se o anjo dela estivesse pronto, se tivesse nascido, ela os forçaria a seguir adiante. Ninguém ousaria discutir com ela.
Schiller teve um espasmo, murmurando algo no sono. Rilke ergueu a cabeça, tentando entender o que ele tinha dito. Ele não era de ficar falando enquanto dormia. Ela sabia disso graças às incontáveis noites em que ele ficara assustado demais no quarto e fora dormir na cama dela, ou na cadeira, ou no chão, onde quer que ela o deixasse se acomodar. Assim que ele adormecia, apagava até a manhã seguinte. Ele disse outra coisa, e de súbito Rilke começou a se perguntar se o irmão dormia mesmo ou se sua mente estaria em outro lugar. Isso já não tinha acontecido antes, em Fursville? Daisy tinha falado sobre isso, de como se encontravam nos sonhos. E se Schiller estivesse com ela agora? E se estivessem conversando?
Moveu-se na direção dele, pronta para acordá-lo com um chute. Então hesitou. Não seria melhor descobrir? Perguntou-se o que veria caso sentasse e adormecesse. Daisy iria aparecer? Brick e Cal também? Tentariam fazer Schiller mudar de ideia? Ou será que ela veria o homem na tempestade? Será que enfim ouviria dele o que queria que eles fizessem?
Não havia sons vindo de fora, estrondo nenhum de hélices de helicóptero, rugido nenhum de aviões e mísseis. Era provável que ficassem bem ali por um tempo. Sentou-se ao lado do irmão, assegurou-se de que ninguém a olhava, depois repousou a cabeça no ombro dele. Não demorou para que o sono a encontrasse, varrendo o campo, derramando-se no moinho, sufocando-a. Sentiu pânico por um instante, como no momento em que a montanha-russa para no topo da subida, na expectativa de cair — mas cair onde, e quem vai me segurar? —, e assim caiu na escuridão e no silêncio.
Daisy
East Walsham, 11h09
Havia agora mais gente em seu reino de gelo. Sentiu a chegada dessas pessoas como se fossem pássaros pousando em um galho, fazendo-o balançar quase imperceptivelmente. Os cubos de gelo tilintavam, quicando uns nos outros, cada qual ainda repleto da vida de outros seres. O mundo inteiro nadava em um movimento líquido, com a água sempre em agitação, como a de uma piscina.
— Oi? — disse ela. Seria o novo garoto, aquele que se chamava Howie? Ele ainda estava ali em algum lugar, perdido no labirinto de espelhos gelados. Ela o tinha ouvido gritando pela mãe e pelo irmão. — Diga algo, por favor, sei que está aí!
— Daisy? — A voz veio bem de trás dela, e ela se virou com um semigiro.
A criatura que viu era tão bonita, mas tão assustadora, que Daisy não soube se ria ou se chorava. A criatura se erguia em vestes de chamas brancas como diamante, as asas postadas para cima. Era tão brilhante que a garota se afastou antes de perceber que não a encarava de fato; não com os olhos, pelo menos. Relanceou o olhar para a criatura, reconhecendo-a.
— Schiller? — disse ela. Não era o rosto dele, e, ao mesmo tempo, era. Ele cintilava à luz, como um reflexo em uma piscina ensolarada e ondulada pelo vento. Mas não havia dúvida de que era ele, porque, assim que ela pronunciou seu nome, ele abriu um sorriso enorme e ofuscante. — Mas é você. Como está aqui?
— Não sei — disse ele, e, ainda que tivesse a aparência de seu anjo, sua voz era aguda e branda, bem parecida com a de Rilke. — Acho que estou dormindo.
Claro! Já tinha acontecido antes, não com Schiller, mas com Brick e Cal. Na primeira noite deles em Hemmingway, tinham compartilhado um sonho. Não parecia algo que pudesse realmente acontecer, mas nada daquilo tudo era algo que pudesse realmente acontecer. Além disso, se todos tinham anjos dentro de si, por que não seriam capazes de se comunicar assim? Deveria haver uma espécie de laço entre eles agora, um laço que não era afetado nem por distância, nem por tempo, nem por espaço.
— Tudo bem? — disse ela. — Me diga como é seu anjo.
Schiller deu de ombros, as asas de repente subindo e descendo. Aquele movimento pareceu tão tolo que ela deu uma risadinha. Era a primeira vez que ouvia a voz dele, percebeu. A primeira vez que efetivamente o encontrava, já que ele tinha ficado congelado por muito tempo. Não, você ouviu essa voz, lembre-se, disse uma parte do seu cérebro. Em Hemmingway, quando ele falou e acabou com aquele lugar: uma única palavra que transformou em cinzas uma centena de pessoas. Você estava inconsciente, mas mesmo assim ouviu.
— Eu não queria fazer aquilo — disse ele, lendo os pensamentos dela. — Mas iam nos fazer mal, fazer mal à minha irmã. Não sabia o que mais podia fazer.
Tudo bem, pensou ela. Você não tinha escolha.
Ele deu de ombros outra vez, mas os cantos de sua boca pareciam tão caídos que davam a impressão de terem sido desenhados, um sorriso de cabeça para baixo.
— Falou com ele? — perguntou Daisy.
— Acho que sim — disse Schiller. — Ele não tem palavras, só... sei lá, emoções. Ele tenta me mostrar coisas, mas nem sempre eu entendo.
— Ele mostrou por que está aqui?
— O homem na tempestade — respondeu Schiller sem hesitar. — É isso o que eu vejo o tempo todo.
Daisy fez que sim com a cabeça. Com ela, era igual. Quantas vezes não tinha sido atraída para aquele cubo de gelo em particular, aquele cheio de uma furiosa escuridão, aquele em que ele morava? Naquele momento mesmo em que ela pensou nele, ele se evidenciou, vindo na direção dela com o som de geleiras se rompendo. Mas ela agora sabia como afastá-lo, e fazia isso delicada e insistentemente.
— Rilke diz que é porque ele está nos dizendo o que fazer, o homem na tempestade; que ele é um de nós. Ela acha que temos de seguir o exemplo dele, e destruir as coisas.
Balançou a cabeça enquanto falava, e Daisy notou sua relutância.
— Sua irmã está errada — disse ela. — Terrivelmente errada! Não estamos aqui para nos juntar a ele, mas para combatê-lo.
Como que em resposta, Daisy sentiu algo se apertando em seu peito. Bem, não era exatamente no peito, e sim mais fundo, em algum lugar que ela não conseguia identificar direito. Parecia haver uma pressão ali, como se seu coração estivesse prestes a estourar, mas de um jeito bom, como era acordar e lembrar que é Natal. Era o anjo dela. Logo ele nasceria.
— Não sei — disse Schiller, e havia algo em sua voz; medo, talvez. — Rilke costuma estar certa sobre as coisas. Ela é inteligente. Eu não sou inteligente, só faço o que ela manda.
— Você é inteligente. Sua irmã é metida a valentona. Você não devia deixá-la mandar em você.
O espaço em volta dela ficou mais frio, como se os cubos de gelo estivessem filtrando o calor do ar. Então outra pessoa falou, uma voz igualmente fria:
— Sabia.
Daisy se virou e viu outra figura. Essa era definitivamente humana, ainda que aquele mesmo fogo azul ardesse no lugar onde deveria ficar seu coração. Rilke não andou exatamente até eles, mas flutuou, com o rosto tão retorcido de raiva que poderia ser uma furiosa.
— Sabia que encontraria você aqui, irmãozinho.
— Rilke, só estávamos conversando — disse Daisy.
Rilke se lançou sobre ela como uma ave de rapina, encarando-a com raiva. Não era a garota de quem Daisy se lembrava; era quase como uma personagem de um sonho, alguém que não se parecia com eles, mas que com certeza era um deles. Claro, porque ela não está realmente aqui, nem eu; eu estou com Cal, Brick e Adam. Saber disso a fez se sentir mais segura: com certeza Rilke não poderia fazer mal a ela naquele lugar imaginário.
— Não dê ouvidos a ela, Schill — disse Rilke. — Ela não sabe o que está dizendo. Não viu o que nós vimos.
Rilke então viu, no gelo, um paredão de água que tremia atravessando a terra. Por um instante, sentiu aquilo também, aquele enorme peso de trevas engolindo o céu, caindo sobre ela, e precisou se afastar da sensação antes que desse um grito.
— Ah, Schiller, não — disse. — Aquela gente toda... Você não precisava fazer mal a elas, não precisava ter feito aquilo.
— Você está errada, Daisy — Rilke quase cuspiu as palavras. — Ele precisava, sim. Você ainda não percebeu? Isso ainda não entrou na sua cabecinha idiota? Pode protestar o quanto quiser, mas cedo ou tarde você vai ter de enxergar a verdade. Ele nos chamou, o homem na tempestade. Ele quer que nos juntemos a ele, quer que o ajudemos a limpar o mundo.
— Não — disse Daisy. — Você está errada, Rilke. Como pode não enxergar? — Voltou-se para Schiller, rogando em silêncio para que ele enfrentasse a irmã. Porém, mesmo que ardesse como uma sentinela gigante feita de vidro fundido, ele não conseguia olhar nenhuma das duas nos olhos. — Por favor. — Sentia-se tão impotente, tão pequena. Por que não podia ser como Schiller agora; por que o anjo dela não podia fazer algo para ajudá-la? Se ele já tivesse nascido, Rilke teria de lhe dar ouvidos.
— Não me ameace — disse Rilke, ainda que Daisy não tivesse se dado conta de qual era a ameaça. — Logo você vai se transformar, mas nem pense em se meter no meu caminho. Não vou hesitar em matar você. Schiller não vai hesitar, não é mesmo?
Não era uma pergunta, e, após um instante de hesitação desconfortável, Schiller fez que sim com a cabeça.
— E não é só ele agora. Temos outro, também pronto para se transformar.
— Howie — disse Daisy, lembrando-se da voz que tinha ouvido.
A expressão de Rilke bruxuleou, incerta. Ela correu o olhar pelo caleidoscópio de gelo, como se pudesse vê-lo ali.
— Ele é um dos nossos — sibilou ela. — Está me ouvindo? E, caso esteja me ouvindo, Howie, saiba de uma coisa: se eu achar que você vai ficar contra mim, vou simplesmente esmagar sua cabeça antes de você acordar. Ficou claro?
Como ela podia ser tão horrenda, pensou Daisy. E a resposta era bem clara: ela é louca, ela é completamente insana. E desde muito antes disso tudo. Daisy tinha visto coisas terríveis dentro da cabeça da garota: a mãe maluca, e o homem mau, o médico, cujo hálito cheirava a café, cujas mãos eram ásperas. Coitada, coitada da Rilke; não era culpa dela. Aquilo tinha abalado os alicerces de sua mente, e a Fúria tinha piorado muito a situação. Agora tudo desabava. Daisy praticamente lia isso no rosto da menina, no modo como seus traços pareciam crescer e se encolher, como uma pintura horrível se retorcendo no frio. Ela estava se dilacerando por dentro.
— Deixe-a em paz, Rilke. — Era outra voz, e esta muito, muito bem-vinda.
Daisy se virou e viu Cal ali, ou ao menos uma figura onírica cintilante que parecia ser ele. Brick estava bem atrás, e Adam também, flutuando contra o mar de gelo em constante movimento.
— Vejam só, o herói retorna à casa — disse Rilke. — Inconveniente e arrogante como sempre. Vá embora, Cal, ninguém quer você aqui.
— É mesmo? Não vi seu nome na porta, Rilke — respondeu ele. — O que você quer?
— Quero que vocês deixem Schiller em paz — disse ela. — Deixem-nos todos em paz. Deixem a gente fazer o que viemos fazer. Pouco me importa se vão ficar escondidos em uma igreja esperando o fim do mundo, encolhidos nos braços um do outro. Mas não vão ficar entre nós e o nosso dever. Estão me ouvindo? Estou falando sério, Daisy. Se descobrir que está falando de novo com Schiller, ou com qualquer um de nós, vou acabar com você.
— Mas você está errada! — gritou Daisy, e o gelo se agitou, os cubos batendo uns nos outros. — Você está errada, errada, errada, errada, errada! — Enquanto falava, a pressão no peito aumentou. Sentia-se como uma lata de refrigerante agitada e prestes a estourar.
— Estou mesmo? — Rilke parecia estar refletindo sobre algo; sua expressão absorta se expandiu e então se contraiu, como pulmões. — Talvez a gente tenha que descobrir de uma vez por todas.
O sorriso de Rilke, frouxo e aquoso, era um sorriso de palhaço. Ela olhou para Schiller e, em seguida, para três outras figuras atrás dela que Daisy não tinha visto chegar. Eram Jade e Marcus, e entre eles estava Howie, o novo garoto. Todos tinham o mesmo fogo sem calor ardendo no peito. Rilke se virou, os olhos pequenos e negros, repletos de algo que Daisy não entendia, algo totalmente humano e, mesmo assim, completamente antinatural. Pela primeira vez, Daisy percebeu que o anjo dentro de Rilke talvez lhe gritasse a verdade, tentando fazê-la entender, em uma linguagem que nenhum deles jamais poderia sonhar ouvir. Lamentou por ele, sentindo sua frustração. Quem dera ao menos houvesse um jeito de saberem de uma vez por todas por que estavam ali e por que tinham sido escolhidos.
— Mas há — disse Rilke, puxando seus pensamentos outra vez com dedos gélidos. — Não percebe? Só precisamos ir até lá.
Ir aonde?, perguntou-se Daisy, e outra vez apareceu para ela a tempestade no gelo, rasgando a massa gélida em uma rajada de farpas. Olhou e viu o homem ali, a besta, envolto em um manto espiralante de detritos, a boca aberta, devorando tudo o que podia, transformando substância em ausência. Ele girava os olhos para ela como se soubesse que estava ali, e no estrondo de sua voz ela ouviu risos. Afastou-os com os dedos da mente, gritando em silêncio não, não, não, não.
— Sim, Daisy. É o único jeito de você aprender. — O sorriso de Rilke se alargou, até parecer grande demais para sua cabeça. Ela começou a recuar, levando consigo o irmão flamejante. — Quando acordarmos, vamos até lá, até o homem na tempestade, e vamos perguntar a ele.
Rilke
Great Yarmouth, 11h43
Acordaram juntos; Rilke emergiu do sono a tempo de ver os olhos opacos de Schiller se abrindo, e Marcus encolheu-se contra a parede como se soubesse o que estava por vir. Rilke passou a mão nos lábios secos, pensando no sonho que tinha acabado de compartilhar.
Daisy estava se tornando um problema; ela se recusava a reconhecer a realidade da situação. Rilke estava muito decepcionada, mas não era culpa da garotinha. Era dos outros, de Cal e Brick. Meninos, pensou ela, tão fracos, tão convencidos da própria autoridade. Podia tê-los matado ainda em Hemmingway; deveria ter colocado Schiller contra eles, ou talvez matado os dois com as próprias mãos, assim como fizera com a garota no porão. Tinha sido tão fácil tirar uma vida, tão sem consequência! Apertar, bang, morreu, apertar, bang, morreu, e aí quem sabe Daisy tivesse lhe dado ouvidos, quem sabe até estivesse ali com ela agora.
Haveria tempo para isso, porém. Assim que seu anjo despertasse, encontraria Cal e Brick, e acabaria com eles. Tudo seria muito mais fácil sem os dois. A menos que o anjo deles nascesse primeiro, pensou ela, tremendo, subitamente desconfortável. Como queria se libertar daquilo tudo, da carne, dos ossos, das cartilagens, do fedor humano, e ser uma criatura de genuíno fogo.
Por favor, disse ela para a coisa em seu coração. Por favor, não demore muito. Preciso de você!
Essas palavras fizeram-na se sentir insuportavelmente fraca, e ela se levantou para que seu enrubescimento ficasse menos óbvio. Não sabia quanto tempo tinha dormido — tempo demais —, mas precisavam voltar a andar. O que ela havia dito no sonho-que-não-tinha-sido-um-sonho era real. Só havia um jeito de saberem qual era a verdade. Precisavam encontrar o homem na tempestade e ouvir o que ele tinha a dizer. Essa ideia era como um punho cerrado com firmeza em seu estômago, mas o medo era só outro lembrete de sua fraqueza, de sua desprezível humanidade, por isso o ignorou. Tinha visto o homem na tempestade em sua mente; tinha visto o quanto ele era parecido com Schiller, com tudo o que estava dentro deles todos. Ele era um deles, um anjo, a quem cabia eliminar essa espécie ridícula e pastorear o que restasse de volta ao estábulo. Não havia outra explicação.
Mas como chegar até ele?
— Rilke, ainda estou cansado — disse Schiller naquele irritante ganido de filhote com que se expressava. Apoiou-se nos cotovelos, tudo nele frouxo, leve e repulsivo. — A gente nem dormiu direito.
— Cale a boca, Schiller — falou ela. — Você só sabe reclamar e dormir. Levante-se.
— Mas...
— Mandei levantar, irmão. — Ela deu um passo à frente, a mão erguida, prestes a explicar com um tabefe a seriedade de sua ordem.
Ele se encolheu, movimentando-se até ficar de pé, encurvado e assustado sob os dedos de luz viscosa que penetravam pela janela com tábuas. Rilke encarou Marcus e Jade, e eles obedeceram sem que ela precisasse pedir.
— Estou com fome — murmurou Jade. Com aquele rosto e cabelo imundos, parecia um porco-espinho, o que só serviu para deixar Rilke ainda mais furiosa. A comida era desnecessária, agora que eram feitos de fogo.
Rilke foi até a porta, abrindo uma fresta e espiando o calor incandescente do dia. A única mácula na vasta tela azul do céu era uma névoa opaca acima da cidade que haviam aniquilado, uma tênue nuvem negra que a fez pensar em um véu funerário. Espirais de gaivotas investiam através dela, banqueteando-se com o que quer que tivesse sobrado. Parecia tão distante. Como iam conseguir chegar a Londres, ao homem suspenso na tempestade? Não podiam andar até lá, com certeza não, já que agora carregavam o novo garoto. Rilke não sabia dirigir, e não era como se eles tivessem a opção de pegar um trem. A frustração fervilhava em sua cabeça, e a jovem desejou ser capaz de acabar com a distância do mundo com um grito, apenas urrando pela terra e trazendo a cidade e a tempestade a seus pés. Havia chegado mesmo a abrir a boca, quando percebeu que qualquer som que emitisse seria lastimável. Cerrou os dentes e os punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Teriam de se contentar em ir a pé e ver o que a sorte lhes traria.
— Vamos — disse ela, dando um passo em direção ao dia, seu calor fazendo-a se sentir ainda mais desconfortável sob a própria pele. Queria arder com a ferocidade do sol, e não senti-lo roçar nela, condescendente. Ouviu-se o farfalhar de movimentos atrás dela, e um instante depois Jade saiu pela porta com o braço do novo garoto sobre o ombro, Marcus apoiando-o do outro lado. Schiller foi o último; parecia ter um metro de altura ao sair encolhido do moinho. — Vocês todos são mais fortes do que acham que são agora — ela lhes disse. — Vocês têm anjos dentro de vocês, e eles os manterão em segurança. A fraqueza é apenas uma lembrança da vida antiga. Ignorem-na, e ela vai embora.
Mesmo enquanto falava, sentiu o sangue se esvair da cabeça e o mundo girar atordoado em volta dela. Deu um passo à frente para restabelecer o equilíbrio, começando a contornar o moinho. Havia uma casa distante uns cinquenta metros, e, aos fundos dela, nada além de campos até uma linha de árvores distantes. Porém, se andassem por bastante tempo, com certeza encontrariam uma estrada, não encontrariam? Só que parecia tão, tão longe.
— Rilke, por favor — disse Jade. — Tem uma casa ali. Será que a gente não pode pedir comida ou algo assim?
Rilke olhou para a casa e o viu: um flash negro atrás de uma das paredes caiadas. Ele desapareceu antes que a garota pudesse entendê-lo devidamente, mas isso bastou; ela sabia o que era. Seu sangue pareceu congelar dentro de si.
— Schiller! — gritou ela, virando-se para o irmão, vendo mais figuras negras surgindo, usando capacetes e segurando rifles. Eram demais para serem contados, todos avançando em direção a eles. Como os tinham encontrado?
— Não se movam! — alguém gritou. — Ou vamos abrir fogo, não duvidem!
Eles chegavam de todos os ângulos, jorrando de trás da casa e dos campos em ambos os lados. Rilke correu para Schiller, pegando o colarinho de sua blusa e sacudindo-o com tanta força que mais uma mecha de seu cabelo caiu.
— Mate-os! — ordenou ela, querendo que se transformasse. — Mate-os agora, irmãozinho, agora!
— Fiquem onde estão! — ladrou a voz outra vez.
Schiller choramingou, sem qualquer sinal de fogo naqueles enormes olhos azuis e úmidos.
— Não posso, estou muito cans...
Ela lhe deu um tapa na cara, depois outro, mais forte, até que ele a encarasse.
— Preciso de você, irmãozinho! — falou ela. Em poucos segundos, alguém começaria a atirar, ou eles cruzariam aquela linha que os transformava em selvagens. Fosse como fosse, se Schiller não encontrasse sua fúria, Rilke e seus companheiros iriam morrer. — Preciso que você se transforme, agora mesmo! Preciso que faça aquilo que você faz!
Os soldados avançaram, a luz do sol reluzindo de seus visores, de suas armas. Jade, ajoelhada, gritava; Marcus engatinhava de volta para o moinho. Só restava Schiller; Schiller, um pobre coitado assustado, acabado, humano.
— Não me deixe na mão — disse Rilke, apertando com mais força ainda a blusa dele, sua pele sob a roupa, até que fizesse uma careta.
— No chão, agora! — gritou a voz. — Todos vocês!
— Não ouse me deixar na mão! — a voz de Rilke era um grito, enquanto a garota o sacudia.
Ele explodiu em luz, uma segunda pele de chama azul ondulando pelo corpo, o baque da transformação lançando-a para trás, fazendo-a rolar pelo chão. O ar irrompeu naquele zumbido que anestesiava a mente, tão alto e profundo que apagava os demais sons. Schiller pairou acima do chão, o fogo abrindo caminho até seu pescoço, cobrindo-lhe o rosto, uma asa desfolhando-se das costas.
Algo foi disparado. Tiros, percebeu ela, rindo. Chegaram tarde demais; agora não podem mais feri-lo. Porém, a cabeça de Schiller foi para trás, como que acertada por um martelo invisível. Sua chama bruxuleou e se apagou, e ele foi ao chão, gemendo e agarrando o próprio rosto.
— Não! — gritou Rilke, arrastando-se pelo chão. — Schiller!
Ele a encarou, a chama irrompendo de novo, agora tão forte que ela precisou esconder a cabeça nos braços. Rilke ainda estendia a mão para ele quando ouviu mais tiros e berrou o nome do irmão com toda a força que tinha. Não poderiam tirá-lo dela, não agora, nem nunca. O mundo escureceu e ela o olhou de novo, vendo-o deitado de lado, com uma ferida escancarada em sua têmpora esquerda.
Tudo bem, Schiller, você vai ficar bem, prometo. Só mate eles, por favor, mate todos eles; mas não sabia se tinha falado mesmo as palavras ou só pensado nelas.
Uma bala ricocheteou da terra a centímetros do irmão, e, em seguida, bateu no peito dele, estourando suas costas e abrindo um leque de vermelho vivo, tão brilhante que não parecia real. Rilke gritou de novo, jogando-se pelo último metro até alcançá-lo, envolvendo-o com as mãos, querendo que a criatura ali dentro encontrasse seu poder e reagisse. E ela encontrou; Schiller outra vez irrompeu em fogo frio. Desta vez, Rilke se agarrou a ele, abraçando-o com força, tentando nutri-lo, passando a ele cada gota de energia que possuía.
Ele falou, a voz como um pulso sônico que rasgou o ar, transformando o moinho em uma tempestade de pó, misturando homens e lama, até que o campo parecesse a paleta de um pintor. Porém, o grito falhou após um momento, voltando a ser a voz titubeante do irmão. Ele gemeu, o sangue brotando da cabeça, esparramando-se nela como água fervente após o irromper do fogo. As chamas ondulavam de um lado para o outro em sua pele, sem conseguir se fixar, os olhos se acendendo e se turvando, se acendendo e se turvando, como um avião com falha no motor.
Rilke se abraçou a ele enquanto os soldados avançavam. Os que estavam na frente já haviam se tornado furiosos, largando as armas e partindo para cima dos dois, a carne dos rostos frouxa, as mentes tomadas pela Fúria. Outros ainda disparavam, deixando o ar vibrante com o chumbo incandescente. Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ela os odiava tanto! Odiava os humanos, odiava a si própria por ser tão fraca. Não podia terminar assim, não agora, não quando tinham tanta coisa para fazer. Por que você não acorda?!, urrou ela para o anjo dentro de si. Cadê você? CADÊ VOCÊ?
Outra bala acertou Schiller, arrancando um naco de seu ombro. Desta vez, ele gritou de dor, o fogo se acendendo outra vez. As asas se abriram nas costas, batendo e erguendo-o em meio a um furacão de pó. Ele falou outra vez, o tsunami de palavra-que-não-era-palavra rasgando o campo, desfazendo os soldados em nuvens de cinzas que mantinham as silhuetas por um instante, como se não entendessem o que lhes tinha acontecido, antes de desaparecerem. Mas ainda assim eles vinham, de todas as direções, gritando, atirando, em um número grande demais para serem combatidos.
Como na rave, pensou ela, lembrando-se da primeira noite em que a Fúria quase os tinha feito sucumbir. Era um campo bem parecido com aquele, só que daquela vez era noite, e havia um exército de gente tentando fazê-la em pedaços, o homem de luvas laranja, os dedos de aço na garganta de Schiller. Tinham sobrevivido a eles, tinham escapado; de alguma maneira, haviam saído dali.
Mas como? Como tinham feito aquilo?
Nossos dedos se tocaram, e derrubamos as estrelas.
Ela olhou para Schiller, e ele pareceu saber o que ela pensava. O fogo empalideceu, e ele se curvou para trás, apagando-se da vida, mas ela o abraçou. Vendo Jade ao lado eles, estendeu a mão; percebeu também que Marcus corria de volta, o entendimento do que estavam prestes a fazer de algum modo refletido em seus olhos — não me abandonem. Ele deslizou até eles e deu uma mão para Rilke, que deu uma mão para o garoto que ardia, que pegou a mão do garoto congelado, ao lado dele; Jade se agarrou ao braço de Rilke, e Schiller rugiu, envolvendo todos em fogo frio, e o mundo se despedaçou.
Desta vez, Rilke sabia o que esperar, a sensação de que a vida era um tapete que tinha acabado de ser puxado de debaixo de seus pés. Seus dentes rangeram diante da súbita precipitação e força daquele ato, e ela se esforçou para manter os olhos abertos. Uma onda de energia explodiu de onde estavam, e, em seguida, o campo foi como que projetado com tanta força que o grito de Rilke sequer pôde sair de seus pulmões.
Um instante depois, a vida os reencontrou, envolvendo-os em seu punho cerrado, furiosa por terem achado uma maneira de se libertar. O mundo recuperou sua forma com o som de um milhão de celas de cadeia fechando as portas ao mesmo tempo, trancafiando-os de novo. Rilke se inclinou para a frente, um jato de vômito branco como leite disparando de sua boca, caindo sobre o asfalto. Enxugou as lágrimas com a mão trêmula, vendo que estavam em uma estradinha do interior. Um bosque os protegia de um lado, um declive alto e verdejante do outro, mas ainda ouviu o distante ruído de tiros. Uma chuva de cinzas vagava em volta deles, dançando ao sabor da brisa.
Virou-se ao ouvir o som de gente vomitando, vendo Jade e Marcus também borrifando fluidos na estrada. Somente Schiller estava imóvel, outra vez só um garoto, apenas seu irmão. O sangue formava uma poça embaixo dele, parecendo preto em contraste com o cinza. Ela apertou a mão contra a ferida em seu peito, e a ferida derramou-se por entre seus dedos. Era o sangue dele. Tinham compartilhado o mesmo útero, e isso fazia daquele sangue o sangue dela também, um único sangue. Fez pressão com a outra mão, tentando estancar a ferida. Ele não reagiu; só ficou deitado ali, mirando a imensidão de céu azul acima, os olhos claros indo de um lado para o outro como se ali lesse uma verdade.
— Mas o que foi que acabou de acontecer? — disse Marcus, tentando ficar de pé, mas caindo com o traseiro no chão. — Onde estamos?
— Schiller? — disse Rilke, ignorando o outro garoto. — Pode me ouvir?
Se podia, não dava sinal disso. Sua respiração era superficial, quase um engasgo, e bolhas cor-de-rosa brotavam de seus lábios quando ele expirava. O corpo trepidava, falhando, e os soluços saíram dela antes que pudesse detê-los. Suas lágrimas estavam tão quentes que teve a impressão de estar chorando sangue, mas, quando pingaram no rosto do irmão, eram apenas lágrimas.
— Irmãozinho — disse ela, alisando seu cabelo, ignorando as madeixas que se despregavam nos dedos vermelhos e viscosos —, sei que você deve estar achando que vai morrer. Mas não vai. Quero que preste bastante atenção, muita atenção. Eu sei como salvar você. — Era mentira, claro; ela não sabia nada disso. — Preciso que nos leve para algum lugar, como acabou de fazer. Preciso que nos leve para o homem na tempestade. Acho que ele pode dar um jeito em você.
O corpo de Schiller se agitou de novo, um leve tremor bem no fundo dele, como um terremoto sob o oceano. Ele girou os olhos para ela, a cor deles quase sugada por completo, os lábios retorcidos em uma quase palavra.
— O quê? — perguntou ela, passando o dedo pela bochecha dele.
— Não... Não consigo...
— Consegue, Schiller — disse ela, tentando trancar os soluços no peito, onde se debatiam dolorosamente contra suas costelas. — Você é forte, muito mais forte do que pensa, muito mais... Muito mais forte do que eu já permiti que acreditasse ser. Você é meu irmão, somos feitos das mesmas coisas, eu e você; tudo o que eu posso fazer, você também pode.
Os tiros à distância tinham cessado, mas ela distinguiu o ruído de um helicóptero. Não demoraria para os soldados os encontrarem. Ela tomou a mão de Schiller, beijando seus dedos.
— Faça isso por mim, irmãozinho — falou ela. — Leve-nos para lá. Sei que consegue.
— Ela... Ela não quer que eu faça isso — disse ele.
Quem?, Rilke quase perguntou, antes de responder à própria pergunta.
— Daisy. — E o fogo branco dentro dela fez seus ouvidos apitarem. Ela estava falando com ele agora: como ela ousa... contrapor-se às ordens dela, revirar a mente do irmão e envenenar seus pensamentos.
— Ignore-a, Schill, ela não ama você como eu amo!
Ao ouvir isso, os olhos de Schiller se acenderam. Ele apertou a mão dela com toda a força que lhe restava. Foi como ser apanhada pela garra de um pássaro, algo tão débil que ela teve medo de que os dedos dele se soltassem.
— Amo você, irmãozinho, mais do que tudo.
— Também amo você — ele conseguiu dizer, tossindo mais sangue.
— Então faça isso por mim. — Ela o agarrou com firmeza e depois olhou para Marcus e Jade.
— Não quero — disse Jade, arrastando-se para longe, de costas, e balançando a cabeça. — Não aguento mais.
— Eles vão matar você — disse Rilke. Mas não importava; eles não precisavam de Jade. Ela que fosse morta, seria uma ovelha a menos para Rilke pastorear. Marcus colocou uma das mãos em Schiller, agarrando sua blusa com os dedos esbranquiçados. Apertou o braço do garoto novo, e então fez que sim com a cabeça.
— Você consegue, Schill — falou Marcus.
Rilke fechou os olhos, imaginando a tempestade que ardia sobre Londres e a criatura que sugava a podridão do mundo com aquela inspiração colossal e infinita. Leve-nos para lá, pensou, dirigindo as palavras para a cabeça de Schiller. Leve-nos para ele; sei que você consegue. Não havia uma única dúvida na mente dela. Era por isso que estavam ali. Ele salvaria Schiller, salvaria todos. Aquele homem era o anjo da guarda deles.
Schiller assentiu, depois falou, e outra vez o universo — o tempo, o espaço e todas as órbitas da vida em movimento — não teve outra escolha a não ser deixá-los partir.
Cal
East Walsham, 11h48
Cal acordou, mas achou que ainda estivesse dormindo, porque Brick estava sentado no último banco da igreja acariciando os cabelos de Daisy. Brick, a pele quase azul, sarapintada com a luminosidade colorida dos vitrais, tremia ao contato gélido do corpo dela; sentiu que Cal acordara, pois se levantou, passando as costas da mão pelo nariz.
— Está tudo bem com ela — disse ele. — Você viu.
Ele não falou: aquilo foi um sonho? ou a gente realmente se encontrou? Cal afastou os últimos vestígios de sono, erguendo-se e imediatamente sentindo que fora jogado em uma piscina de lâminas. Ele resmungou e tentou não se mexer, com a dor enfim se assentando em uma supernova atrás da testa.
— Ai! — disse ele. Eufemismo do século. — Você por acaso não viu algum analgésico por aí, viu?
— Na casa paroquial tem um kit de primeiros socorros, como falei — disse o sacerdote.
Doug. Cal tinha se esquecido totalmente dele. Estava sentado onde prometera ficar sentado, esfregando as pernas como que para manter o sangue em circulação. Cal agradeceu com um gesto de cabeça, e, em seguida, olhou para Brick. O garoto maior precisou de um instante para perceber o que lhe estava sendo pedido, e balançou a cabeça em uma negativa.
— Eu fui da última vez — falou. — Agora é sua vez. — Baixou os olhos para Daisy mais uma vez, e Cal tomou consciência do quanto ele a amava. Brick era bom em tentar esconder seus sentimentos, mas era um péssimo mentiroso. Apesar do rosto feito de pedra, seus olhos entregavam tudo. Quando toda aquela loucura terminasse, se eles sobrevivessem, Cal precisaria desafiá-lo para uma partida de pôquer. — Onde ficava aquilo? — perguntou Brick, atravessando o corredor e sentando-se no banco do outro lado. — Aquele gelo todo e tal.
— Sei lá — disse Cal, tentando outra vez levantar-se. Apoiou as costas contra a parede, deslizando para cima um centímetro de cada vez, até ficar mais ou menos na vertical. Pensou no lugar que havia visitado enquanto dormia, a lembrança um tanto esmaecida. Tinha gelo lá, era fato, mas havia outras coisas também. E outras pessoas. — Rilke. Ela estava lá.
Brick fez que sim com a cabeça, usando a unha de um dos dedões para cutucar a madeira do banco à frente.
— Pelo menos ela está bem — disse. — Daisy, digo. Ela estava lá e parecia em segurança. Não acho que Rilke possa lhe causar nenhum mal além de falar com ela.
— O que já é bem ruim — rebateu Cal. — Aquela garota é maluca.
Ao ouvir isso, Brick quase sorriu. Largou o que quer que estivesse cutucando.
— E agora? Rilke disse que está indo para lá, para a tempestade. Acha que ela estava falando sério?
Cal deu um passo hesitante em direção à porta. Agora que estava de pé e em movimento, a dor parecia mais branda, como se tivesse se entediado com ele. Deu mais um passo, esticando os braços com suavidade. As costas pareciam ter se transformado na mesma pedra da qual a igreja era constituída, como se ele lentamente houvesse se tornado uma das estátuas inertes que enfeitavam paredes e tumbas. A mãe sempre lhe dissera que sentar no chão por muito tempo lhe daria hemorroidas. Era só o que faltava mesmo: ser acometido por hemorroidas.
A mãe! Como tinha ficado tanto tempo sem pensar nela? Ela estava em Londres, bem no centro daquilo tudo. Agora já devia ter sido engolida inteira, devorada pela besta. Ele sacudiu a cabeça, tentando mandar para longe a ideia; melhor não pensar em nada disso.
— Brick, para ser sincero, pouco me importa se ela estava falando sério ou não. Sabe de uma coisa? Se ela for até lá, até aquela coisa, de repente vai ser o melhor que pode acontecer. De repente aquilo vai engoli-la, ela e o irmão. E vai fazer um favor a todos nós.
Ou talvez ela tenha razão, pensou ele. Talvez o homem na tempestade seja um de nós; talvez ela peça a ajuda dele e o traga para cá, bem para nosso esconderijo. E ele visualizou as nuvens enegrecerem, o teto da igreja se descascar, tudo indo para dentro do redemoinho furioso do céu, o homem ali, sugando o mundo para sua boca, obliterando tudo. Cal estremeceu com tanta força que quase caiu, a igreja escura demais, fria demais, quieta demais. Andou a passos incertos até a porta, onde um dedo de sol acenou para ele.
— Já volto — falou.
Adentrar a luz do dia era como entrar num banho quente, a luz era um líquido dourado em que podia mergulhar. O sol estava bem acima de sua cabeça, o que significava que tinham dormido por um bom tempo; talvez algumas horas. Ainda havia um restinho de fumaça no ar, mas não se ouvia nada mais na cidadezinha, nenhuma sirene, nenhum grito. Era como se nada tivesse acontecido. Não seria maravilhoso?, pensou ele. Se tudo simplesmente tivesse sumido?
Levou algum tempo para achar a casa paroquial, porque tinha saído pelo lado errado da igreja. O cemitério era grande e cercado por teixos e algo espinhento, a vegetação tão densa que poderia muito bem não haver mundo nenhum do outro lado. A casinha ficava entre leitos de flores e mais árvores, quase repulsivamente pitoresca. Ele abriu caminho pela porta, parando ao ouvir vozes adiante.
— ... o departamento afirma que cerca de um milhão de pessoas podem ter morrido, e outros milhões desapareceram.
A televisão; Cal reconheceu o tom formal do âncora do noticiário. Mesmo assim, caminhou pé ante pé, pronto para voltar correndo por onde tinha vindo se fosse necessário. O sacerdote não havia dito que tinha uma esposa? A ideia de ela vir guinchando pelo corredor, pronta para arrancar os olhos dele, dava-lhe vontade de sair dali imediatamente. Achava que seu corpo não resistiria a mais um ataque, nem se fosse o de uma velha senhora. Superando o medo, abriu a porta e entrou na cozinha. A televisão estava a um canto, um homem e uma mulher sentados à bancada do noticiário enquanto a tempestade ardia atrás deles. Cal desviou o olhar. Não queria ver aquilo. Porém, continuou ouvindo enquanto vasculhava o armário.
— Traremos mais notícias num instante — disse o homem. — Enquanto isso, uma declaração de Downing Street confirma que o primeiro-ministro e os demais ministros foram evacuados da cidade, em meio a críticas de que não estão fazendo o suficiente para ajudar o povo de Londres. Com a taxa de mortos já em sete dígitos, e ainda nenhum sinal de que a ameaça tenha sequer sido identificada, o governo enfrenta uma pressão cada vez maior da comunidade internacional para proteger a população.
Abriu uma segunda porta, mas só viu vasilhas e panelas. A terceira continha panos, e, bem no fundo, uma bolsa verde com uma cruz branca na frente. Abriu o zíper e tirou um frasco de aspirina, ainda ouvindo o que estava sendo dito.
— Nossa correspondente em Londres, Lucy White, ainda está em campo. Lucy, pode nos dizer o que estão falando nas ruas?
A voz da mulher era quase sufocada pelo som ininterrupto da tempestade, o som de um milhão de trombetas soando.
— Como pode ver, Hugh, aqui só se fala em caos, o que é compreensível. Estou do lado sul do rio, bem pertinho da roda-gigante London Eye. Ainda ontem havia milhares de pessoas aqui, moradores e turistas aproveitando a cidade. Agora as ruas estão lotadas de uma multidão tentando fugir do ataque que acontece a menos de trinta quilômetros. Do outro lado do rio, talvez você possa ver os veículos do exército. Estavam montando uma zona de quarentena no aterro norte. As pontes foram fechadas. Ninguém pode ir para lá, nem a imprensa. O que quer que aconteça, vamos ter de assistir daqui.
— Pode descrever esse ataque, Lucy?
— Sim, é uma nuvem, uma nuvem quase em forma de cogumelo, igual à de uma explosão atômica. Só que... — Ela engoliu em seco em busca de palavras. — Ela se move, como um furacão. É enorme. Estima-se que tenha oito quilômetros de diâmetro, e está crescendo. Tudo o que se aproxima, e temos informações confiáveis de que estão incluídos nesse meio aviões da força aérea, é... como dizer... sugado: prédios, carros, até ruas inteiras.
Cal abriu o frasco e engoliu uma aspirina. Depois da segunda, tomou mais uma, usando as mãos para jogar a água da pia na boca e no rosto.
— Há relatos de uma figura dentro da nuvem — prosseguiu a mulher, e ao ouvir isso Cal se virou para a televisão. — Um homem. Acreditamos que seja uma espécie de ilusão de óptica, mas... Mas não sabemos de fato.
Na tela, a repórter foi empurrada por um estrangeiro zangado que gritou alguma coisa para a câmera antes de sair correndo. Havia muita gente ali, centenas de pessoas só naquela tomada, a maioria fugindo na mesma direção. Acima da cabeça dela, o equivalente a uma noite de inverno, o céu negro feito breu. A tela era pequena demais para que se pudesse realmente distinguir o que estava suspenso ali, mas aquilo rodopiava e se agitava, uma espiral giratória de vespas. A repórter tinha razão: era enorme.
— O secretário de defesa anunciou a convocação de um grupo de especialistas para tentar identificar a ameaça — prosseguiu a mulher. — Mas, até que esse relatório seja liberado para o público, não temos nada oficial.
Um soldado adentrou a filmagem, empurrando a mulher e fazendo um gesto para a câmera. A repórter lutou para falar enquanto era deslocada para fora da tela.
— Estão nos dizendo que a linha de quarentena está passando para o sul. É com você, Hugh.
Estática, e de volta para o estúdio. O homem arrumava os papéis, a boca aberta como a de um peixinho dourado. Ele tossiu, e Cal desviou de novo o olhar. Era sempre mau sinal quando os âncoras ficavam sem fala; era assim que você sabia que a encrenca era para valer. Cal esfregou as têmporas e, vendo o telefone ao lado da televisão, seus pensamentos se voltaram para a mãe. Ela estaria terrivelmente preocupada com ele, teria deixado incontáveis mensagens em seu celular, mas não havia nenhum sinal em Fursville, e o celular tinha se perdido em algum lugar entre o ataque à fábrica e a destruição de Hemmingway por Schiller. Pegou o telefone sem fio, parou um instante e, em seguida, ligou para casa.
O que diria a ela? Oi, mãe, desculpe ter sumido por uns dias; é que da última vez que nos vimos você tentou arrebentar o vidro do carro para me matar, lembra? Claro que ela não lembraria. Era assim que a Fúria funcionava; era o que ela tinha de mais cruel. Atacavam você, matavam você, e depois o esqueciam. Era como se você nunca tivesse existido.
A ligação foi atendida, mas foi ele quem respondeu do outro lado da linha. O som da própria voz lhe deu palpitações, uma descarga forte de adrenalina detonando em sua barriga.
— Olá, você ligou para a família Morrissey. Não estamos em casa no momento, mas deixe um recado, por favor. Ou, se quiser falar comigo, ligue para o meu celular. Valeu.
Ele parecia tão jovem, tão distante, tão não ele mesmo, como se houvesse outra versão de Cal Morrissey sentada em casa, uma versão sem um anjo no coração. Ouviu o bipe, percebendo que respirava alto ao telefone, e encerrou a chamada com o dedão. Não queria que a mãe achasse que ele era algum tarado obcecado; ela já tinha muito com que se preocupar. Esticou a cabeça, tentando se lembrar do celular dela, e apertou os números. Começou a tocar. Por favor, que tudo esteja bem com você, pensou ele. E estaria, certo? Moravam em Oakminster, era bem a leste da cidade, a quilômetros da tempestade. A menos que ela tenha ido para Londres, pensou. De repente, ela está lá me procurando.
— Alô?
Aquela única e simples palavra pegou-o totalmente de surpresa, inundando-o. Antes que percebesse, ele chorava, os gritos saindo com tanta força que não foi capaz de articular uma só palavra. Desabou contra o balcão, as lágrimas escorrendo do rosto, chegando salgadas à língua, o corpo inteiro sacudindo com a força daquele momento.
— Callum? Cal, é você? Meu Deus, onde você está? Está tudo bem?
Ele soltou um punhado de quase-palavras, respirou fundo e tentou de novo:
— Estou bem, mãe — gemeu, o choro se atenuando em brandos soluços. Enxugou as lágrimas, os olhos como que recheados de algodão, a garganta ardendo. — Estou bem.
— Meu Deus! — disse ela, e Cal percebeu que a mãe também chorava. — Estava tão preocupada, Cal, eu achei... Achei que alguma coisa terrível tivesse acontecido. Onde você está?
— Estou em segurança. Fora da cidade. Você também precisa sair daí, mãe, tem uma coisa realmente terrível acontecendo.
Um som de fricção, como se ela destrancasse uma porta ou algo assim. Cal ouviu vozes.
— Estou bem — disse a mãe, fungando. Havia no tom de voz dela certo enrijecimento agora. Cal o conhecia bem: depois que as lágrimas iam embora, sempre vinha a raiva. — Tem ideia do quanto fiquei preocupada? Você simplesmente sumiu com o carro. Estou presumindo que foi você quem levou o carro.
— Sim, desculpe, eu...
— Cal, mandei a polícia ir atrás de você! Os vizinhos, ninguém conseguia entender por que você teria fugido! Foi por causa do que aconteceu na escola? Seus amigos estão assustados, Cal, e também furiosos; eles acham que você os abandonou. A coitada da Georgia continua no hospital. Por que, Cal? É melhor ter uma boa explicação!
Tem uma coisa dentro de mim, uma criatura que vai nascer para me transformar em uma arma, e assim poderemos combater o homem na tempestade, mas ela é tão poderosa e tão estranha que as pessoas não aguentam ficar perto dela, por isso tentam me matar. Essa ideia era tão absurda que ele fungou em meio a uma risada amarga.
— Não é engraçado, Cal! Seu pai chega amanhã, e ele vai ficar muito zangado!
— Desculpe, não estava rindo. Olha, mãe, não posso contar tudo, não agora. Só queria que soubesse que estou em segurança, que estou bem. Logo eu vou para casa, prometo, mas tem uma coisa que preciso fazer primeiro.
Era mesmo verdade? Ele realmente poderia ir para casa? O que aconteceria se combatessem o homem na tempestade, se de algum modo pudessem derrotá-lo? Os anjos simplesmente iriam embora? Ou teriam vindo para ficar?
— Não vá para casa! — disse a mãe. — Não estou lá. Estou na casa de sua tia Kate. Você não viu as notícias?
— Vi. — Cal ofertou um agradecimento mudo ao ar por ela estar em segurança, ou pelo menos fora da cidade. Kate vivia em Southend, bem ao lado do mar. Se elas precisassem, podiam pegar um barco e ir para outro lugar da Europa. — Pois é, a situação está difícil mesmo, mãe.
— Estão dizendo que milhões de pessoas vão morrer, ou já estão mortas. Meu Deus, Cal, você pode vir para cá? Onde você está? Juro que não vou ficar zangada se resolver dar as caras agora aqui na casa da Kate.
— Eu... Não posso, mãe, ainda não. Mas em breve, está bem? — O choro bateu em seu peito outra vez, mas ele o trancafiou. — Olha, preciso desligar, mas eu te amo.
— Cal, por favor, só me diga onde está! Eu vou aí e pego você!
— Eu te amo, mãe.
Ela precisou de um instante para escutá-lo, não suas palavras, mas a verdade dentro delas, a compreensão de que talvez fosse a última vez que se falavam. Ela começou a chorar de novo, e Cal a visualizou na casa de Kate, sentada no sofá de courino com o casaco de estampa de onça, a cabeça apoiada nas unhas perfeitamente vermelhas, cercada por aquela névoa de laquê e de Chanel nº 5. Viu-se colocando um braço em volta dela, apertando-a, do modo como fazia quando ela e o pai brigavam, dando-lhe um beijinho na pele macia da bochecha.
— Eu te amo, Cal — disse ela, a voz não mais que um sussurro. — Eu te amo muito. Diga que tudo vai dar certo.
— Tudo vai dar certo. Juro, vai dar certo mesmo. — Tinha a sensação de que havia uma pedra na garganta; quase não conseguia forçar o ar a passar por ela. — Preciso desligar, mãe.
— Não, Cal.
Sim. Ele desligou com o dedão e ficou ali, em um mar de luminosidade solar, sentindo-se exausto demais até para chorar. Deixou o telefone cair dos dedos, e o aparelho despencou do balcão para o piso de pedra, a tampa da bateria se soltando.
Diga que tudo vai dar certo, disse ele à criatura dentro de si, a coisa que se alojava em sua alma, o anjo-mas-não-anjo. Prometi a ela, o que significa que você prometeu também. Você tem de cumprir a promessa; tem de dar um jeito nas coisas.
Não houve resposta, só o batimento irregular do próprio coração. Virou-se, perguntando-se se teria forças para sair da cozinha, quanto mais para chegar à igreja. Ao menos a aspirina estava fazendo seu trabalho, anestesiando a dor. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Talvez, se continuasse dizendo aquilo, aquelas palavras se tornassem verdade. E tinha quase conseguido se convencer disso quando ouviu uma mudança no som da televisão, um coral de gritos transmitidos em ondas. Olhou para o aparelho e viu a tempestade, de algum modo ainda vasta mesmo na tela pequenina, e então ouviu a repórter avisar:
— É verdade, acabamos de obter confirmação: essa coisa está se movendo.
O Outro: III
A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, não a ausência de medo.
Mark Twain
Graham
Thames House, 11h59
— Está se movendo.
Graham tirou os olhos da tela, piscando para dissipar os pontinhos de luz. A filmagem da operação de campo tinha chegado havia alguns minutos, e ele já a assistira quatro vezes. Os soldados usavam câmeras no capacete — procedimento-padrão para qualquer ação ofensiva —, mas o que tinham gravado simplesmente não fazia nenhum sentido. Os garotos haviam saído do moinho, e o menino, o mesmo de antes, tinha de algum modo se transformado. Não tinham nenhuma imagem decente; a luz que ele emitia era brilhante demais para as câmeras, saturando-as, fazendo-as sangrar em brancura. Porém, em algum lugar do borrão, Graham jurava ter visto uma criatura em chamas, com duas asas enormes e incandescentes.
Então, em um lampejo, ela desaparecera. Graham tinha voltado e avançado a filmagem frame a frame, uma mera décima terceira parte de segundo entre eles. Em um, quatro garotos normais e o menino em seu inferno; no seguinte, um círculo de fogo, como quando você fotografa fogos de artifício em movimento. E, depois disso, apenas uma saraivada de cinzas e brasas. Aquilo que via era inacreditável, totalmente impossível. Tinha de ser algum defeito da câmera, só que todas as filmagens disponíveis, de meia dúzia de câmeras diferentes, mostravam a mesma coisa.
O pior de tudo era que eles tinham perdido mais de trinta homens. Graham ainda não dispunha do relatório completo, mas, pelo que ouvira em seu breve telefonema ao general Stevens, não havia sequer cadáveres; os soldados tinham sido vaporizados com o moinho e um campo de beterrabas. Só tem pó, dissera-lhe o homem. Os outros soldados estavam sendo tratados por estarem em choque. Aparentemente, dois terços deles tinham tentado arrancar os próprios olhos.
— Graham, está me ouvindo? — Era Sam, sentada ao lado dele.
— Hã? Desculpe. O que foi?
— Está se movendo.
Ela dirigiu a mão para a tela, e ele seguiu o arco grosseiro da unha roída, vendo a filmagem via satélite da cidade, que mostrava tudo, de Watling Park a norte a Fortune Green ao sol, e a maior parte daquilo era apenas um sólido borrão. Era como assistir à previsão do tempo e ver a inequívoca espiral de um furacão. Este, também, tinha um olho no centro, um bolsão de noite absoluta que aparecia, negro e vazio, sob lentes normais, infravermelhas, ultravioleta e todas as outras de que dispunham. Era como se, além daquele ponto sem retorno, não houvesse mais nada, calor nenhum, matéria nenhuma, ar nenhum, só um buraco onde deveria estar o mundo. E Sam tinha razão: a tempestade parecia agora se dirigir para o sul, envolvendo as linhas de trem de West Hampstead. Graham viu um fragmento de algo enorme ser erguido pelo turbilhão, um armazém, talvez a loja Homebase que havia ali. Desfazia-se no caminho, soltando pedaços enquanto desaparecia na corrente giratória.
— Nós...
Foi só o que Sam conseguiu dizer antes de a sala inteira sofrer um solavanco. Graham quase gritou, segurando a cadeira com tanta força que achou que tivesse quebrado alguns dedos. Todos os monitores da sala se apagaram, as luzes piscando enquanto o sistema de emergência lutava para recuperar o controle. Quando as luzes reacenderam, Graham viu que uma fenda se abrira no teto de trinta metros de puro concreto do bunker. Mau sinal.
— Que droga foi essa? — perguntou ele. Ainda havia um tremor percorrendo a sala, fazendo seus dentes baterem.
O monitor de Sam se reacendeu, com a transmissão via satélite ainda em ação. O movimento da tempestade tinha se intensificado, deslizando para o sul como uma nesga de petróleo respingando lentamente em direção à parte inferior da tela. Atrás dela restava um oceano de breu, uma trincheira vazia onde antes havia uma cidade. Graham ficou de queixo caído. Sentiu o gosto do pó da sala na língua, no ressecamento da garganta. Está vindo em nossa direção, está vindo para cá.
— Não sobrou nada — falou Sam. — Meu Deus. Aquilo... aquilo destruiu tudo!
Porém, destruir não era a melhor palavra. Uma destruição deixava ruínas, destroços, cadáveres. Essa coisa não deixava nada, cadáver nenhum, destroço nenhum, cinza nenhuma. Devorava tudo. Graham sabia que, se fosse possível ficar à beira daquela trincheira, só veria escuridão e nada mais. A sala tremeu de novo, a própria terra em volta deles parecendo rugir escandalizada, como um animal indefeso que sofresse uma tortura horrível.
— Não há nada que possamos fazer — gritou uma voz atrás deles. Graham olhou e viu Habib dirigindo-se ao elevador. Ele deu de ombros, pedindo desculpas. — Vocês também precisam ir. Se estiverem aqui quando isso chegar...
Não precisava terminar a frase. Graham sabia que, se aquela besta — a besta... de onde vinha isso? É um ataque, só um ataque — se lançasse contra Thames House, o fato de estar no subterrâneo não os salvaria. Ela os alcançaria com seus dedos de tempestade, levando-os ao buraco escancarado de sua boca, e tudo o que fazia dele ele mesmo seria erradicado. Virou-se de novo para a tela, ouvindo o bipe baixinho da porta do elevador.
— Ele tem razão — falou. — Você precisa dar o fora daqui.
— Claro. E deixar você no comando? — disse Sam. — De jeito nenhum. Não confio que um homem vá tirar a gente dessa!
Ela sorriu com delicadeza, apertando o ombro dele, e ele colocou a própria mão sobre a dela por um instante. Se a tempestade continuasse indo para o sul, então iriam embora, mas ainda havia tempo. Uma explosão abafada ondulou pelo teto, e choveu mais pó, fazendo tanto estardalhaço que Graham quase não ouviu o telefone que começou a tocar na mesa. Atendeu.
— Hayling falando.
— Graham, aqui é Stevens. — Seus anos de serviço militar fizeram-no endireitar as costas ao ouvir a voz do general.
— General. Está se movendo.
— Estamos cientes. Não temos mais opções.
— Como assim, general?
— Lançamos outro ataque aéreo quinze minutos atrás, mas o canalha engole tudo o que mandamos. O que quer que esteja no centro disso, não permite nossa aproximação. E você, tem alguma ideia do que estamos enfrentando?
— Não — respondeu Graham. — O que nós sabemos, o senhor sabe. Não é atômico, não é meteorológico, não é geológico nem biológico. E agora sabemos que é móvel.
— Se a trajetória atual for mantida, o centro de Londres será atingido em uma hora. — A voz do general, normalmente tão forte, parecia a de um garotinho. — É quase como se... como se essa coisa soubesse aonde está indo. Consegue me entender?
Está indo aonde tem gente, pensou Graham.
— Não, senhor — disse ele.
— E o outro incidente, aquele do litoral? Alguma pista?
— Não, senhor.
— Graham, preciso que fale a verdade para mim. — Stevens pigarreou. Algo ruim estava por vir. — Acha que sua equipe será capaz de identificar essa ameaça antes que ela chegue ao centro de Londres?
— Minha equipe? — Graham olhou para Sam e para a sala vazia atrás dela. Ruminou por um instante, e, em seguida, disse: — Não, senhor. Acho que não.
Uma pausa, e, depois, um profundo suspiro.
— Então fique bem trancado, Graham, porque vamos mandar uma bomba nuclear.
— General? — Aquilo com certeza seria um erro. Graham quase riu diante daquela insanidade. — Pode repetir?
— Você me ouviu bem — disse o homem mais velho. — Estamos sem opções. Se não fizermos algo agora, é impossível saber o que vai acontecer. Aquela coisa está crescendo, está ficando mais forte, e está se movendo. Conter a ameaça, Graham, e neutralizá-la; preocupar-se com os efeitos colaterais depois. É essa a nossa política no exterior; vai ter de ser nossa política aqui também.
— Mas o senhor não pode — gaguejou ele. — O senhor não pode autorizar um ataque nuclear em solo britânico, em Londres.
— Está feito. O primeiro-ministro deu sinal verde cinco minutos atrás. Estamos fazendo o melhor que podemos para evacuar a cidade, mas precisamos fazer isso com rapidez. Por esse motivo estou telefonando, Graham. Feche bem esse bunker até tudo isso acabar. Ou isso, ou você vai embora, mas não posso garantir que vá ficar fora da zona da explosão, não agora. Neste momento, o Dragão 1 está no ar.
— Quanto tempo temos? — perguntou ele.
— No máximo noventa minutos; é quase certo que menos. Lamento, Graham. Aguente firme. Com sorte, a gente acaba com esse negócio de vez e uma equipe vai buscar você assim que possível.
— E se não funcionar?
O general fungou ao telefone.
— Se não funcionar, então Deus nos ajude. Boa sorte.
— Para o senhor também — falou Graham, mas eram palavras vazias. Colocou o telefone suavemente na base, mirando-o como se o esperasse tocar outra vez, para ouvir o general dizer: Rá! Peguei você, hein, Graham? É a minha vingança por aquela vez que você esfregou pimenta no papel higiênico lá no Iraque! Mas claro que o telefone não tocou. Não tocaria de novo. Virou-se para Sam. — Você ouviu?
Ela tinha ouvido; Graham sabia pelo tom cinza-pergaminho da pele dela, pelo olhar vazio.
— Uma bomba nuclear em Londres — disse ela, balançando a cabeça. Uma lágrima desceu por seu rosto, criando uma trilha pela poeira que se assentara nele. — Meu Deus, Graham, isso está realmente acontecendo.
Ele olhou a tela, vendo a cidade. A cidade dele. Se o ataque — não, a besta; lá no fundo, você sabe a verdade — não a devorasse, então uma explosão atômica acabaria com ela, transformando-a em ruínas nas quais ninguém poderia pisar por décadas. Tinha de haver outro jeito, mas sua mente era uma tigela vazia. Soltou um palavrão e deu um soco na mesa, frustrado.
— Vamos trancar tudo? — perguntou Sam. — Aqui tem suprimentos para manter cem pessoas por um mês, a gente vai ficar bem.
Esconder-se, fechar a porta, deixar a cidade arder. Como poderia viver consigo mesmo se fizesse isso? Mas quais eram as opções? Sair correndo para o sul, onde o general comandava a operação? Ao menos teria uma boa visão da nuvem de cogumelo na hora em que se erigisse acima do Big Ben. Pensou em David; rezou para que tivesse saído da cidade, para que não estivesse esperando-o voltar para casa.
— Eu... — começou a falar, e então o vídeo do satélite piscou, mostrando um lugar perto do Maida Vale. Um pontinho de cor bruxuleante sob a tempestade furiosa, como se algo irrompesse pela tela do outro lado. Inclinou-se para a frente, o nariz quase achatado no vidro. — O que é isso?
A imagem era larga demais para que distinguisse a fonte da luminosidade e, após um segundo ou dois, desapareceu.
— Podemos dar zoom ali? — perguntou ele, apontando o local onde a chama desaparecera.
Sam fez que sim com a cabeça e digitou uma linha de código. A imagem ficou borrada, depois se aproximou, tornando-se mais nítida; borrou-se de novo, se aproximou mais e, depois, ficou mais nítida, e três vezes mais, até que exibisse um punhado de ruas em formato de lua crescente e casas em formato de caixa. A tempestade não era mais visível, mas estava próxima, porque sua sombra manchava a metade superior da imagem. Ali não havia sinal de vida além dos quatro pontinhos, indistintos, mas inequívocos.
— São eles! — disse Graham, esmurrando a tela com o dedo.
— Quem? — perguntou Sam.
— As crianças do litoral! — Parecia absurdo, impossível, mas tudo o mais que acontecera naquele dia também parecia. De algum modo, ele tinha certeza; teria apostado tudo naquilo; teria apostado a própria vida. Na verdade, era exatamente isso que estava disposto a fazer. Levantou-se. — Fique trancada aqui, Sam, mantenha-se em segurança!
— Não! — disse ela, levantando-se da cadeira. — De jeito nenhum! Se você for, eu vou também!
— Sam...
— Nada de “Sam”. É meu trabalho cuidar da cidade; não vou enfiar minha cabeça num buraco. O que quer que você esteja planejando, eu vou junto.
Ele concordou com um gesto de cabeça, andando até o elevador. Noventa minutos até a detonação. Tempo suficiente se conseguisse achar uma moto e ligar o motor. Não tinha ideia do que encontrariam caso fossem até lá, mas ao menos estariam fazendo alguma coisa. Se aquelas crianças tivessem algo de bom, ao menos poderia alertá-las. E, caso não tivessem, teria a satisfação de vê-las pegar fogo. A porta do elevador se fechou, e Sam segurou a mão dele enquanto se dirigiam para a tempestade.
Tarde
A eles não cabe entender por quê,
A eles cabe agir e morrer:
Para o Vale da Morte
Foram os seiscentos.
Alfred Lord Tennyson, “O ataque da brigada ligeira”
Rilke
Norte de Londres, 12h14
Pareceu ter demorado mais, desta vez, para que a vida os alcançasse.
O mundo se encaixou com um estalo em volta dela, e com ele veio um barulho diferente de tudo o que Rilke já ouvira, um rugido tão alto que deu a impressão de empurrá-la para dentro da terra. Apertou as orelhas com as mãos enquanto outro jato de vômito leitoso irrompia de seus lábios. O barulho persistia, parte estrondo, parte urro, parte badalo, como se ela estivesse dentro do sino gigante de uma catedral.
Forçou-se a abrir os olhos, já sabendo o que veria. O céu estava vivo, uma movimentação frenética que fervilhava acima como um caldeirão de óleo virado para baixo. Vastas nuvens de matéria circulavam em órbitas lentas, quase graciosas. Nelas Rilke enxergava pedaços de coisas, o reluzir de um caminhão, a silhueta de uma árvore ou do topo de uma igreja, além de incontáveis objetos similares — gente, percebeu ela — que bem poderiam ser folhas levantadas pelo vento. O tornado era tão denso que o sol era uma moedinha de cobre no céu, esquecido, as ruas ao redor escuras, à penumbra.
E, no centro daquilo tudo, estava ele, o homem na tempestade. Rilke não o via direito além do caos de nuvens, mas ele estava lá. Podia senti-lo, assim como podia sentir a gravidade atraindo-a, chamando-a com aquela respiração atemporal e infinita. Era ele o fantasma dentro da máquina, dentro daquele motor de trevas e poeira que rugia acima dela, e a voz dele era o grito de um milhão de trombetas. Exatamente como no Apocalipse, pensou ela, lembrando-se das histórias que ouvira na igreja. Os anjos soam suas trombetas, e o mundo acaba.
Uma risada lunática escapou dela e foi sufocada pela tempestade. Rilke ainda estava de joelhos quando percebeu Schiller caído à sua frente. Havia gotas de sangue sobre os ferimentos dele, as quais apenas flutuavam, como se não se lembrassem muito bem do que deveriam fazer, como se estivessem presas entre o lugar de onde tinham vindo e o lugar onde estavam agora. Schiller piscou para a irmã, seu olho esquerdo era uma piscina escarlate. Parte de seu crânio estava fendido onde levara um tiro, lascado como um fragmento de pedra. O que havia embaixo era viscoso, escuro e fosco. Ela colocou as mãos em concha ali, como se fosse segurar seu cérebro.
Você conseguiu, Schiller, ela enviou esse pensamento para ele, sabendo que sua verdadeira voz não lhe chegaria, que não havia espaço para ela em meio ao ar que berrava. Você nos trouxe até ele; estou tão orgulhosa de você!
Ele sorriu para ela, e seus olhos se reviraram nas órbitas. Ela sacudiu a cabeça dele com delicadeza até que ele recuperasse o foco, e, em seguida, mirou a tempestade. Será que ele sabia que estavam ali? Será que podia senti-los? Ajude-nos, gritou ela dentro da cabeça. Não deixe meu irmão morrer!
A tempestade se agitava na própria fúria, em nuvens gigantes como os tentáculos de cem criaturas se retorcendo e se enroscando. Rilke correu o olhar ao redor, para além de Marcus, cujo rosto era um retrato de puro horror, e de Howie, ainda trancafiado em seu casulo de gelo, avistando uma rua e casas dos dois lados. Tudo estava coberto de pó e cinzas, numa chuva fina que ainda caía do céu em ruínas. Não havia ninguém mais à vista. Como falariam com o homem? Pense, Rilke, pensou ela, vendo o irmão perder a consciência outra vez. Pense, pense, pense, sua idiota!
Schiller precisava se transformar. Era o único jeito. Se o irmão voltasse a ser anjo, o homem na tempestade teria de notar sua presença. Ele era grande demais para vê-los onde estavam agora, barulhento demais; ele era como uma colheitadeira prestes a esmagar um passarinho. Colocou a outra mão na bochecha de Schiller, erguendo sua cabeça do chão. Ele gemeu, mas ainda estava ali, ainda estava vivo.
Mais uma vez, irmãozinho, ela lhe disse. Deixe-o sair, e a tempestade vai ver você.
Ele sacudiu a cabeça, um movimento mínimo, que ela sentiu nos dedos.
De novo, repetiu ela. Ele só precisa saber que você está aqui e vai dar um jeito em você. Sei que vai, Schiller. Eu sei; você precisa confiar em mim. Apoiou a cabeça dele na barriga e colocou a mão livre em seu coração. Deixe-o sair, deixe-o falar. Ele vai curar você, e você nunca mais vai precisar ser fraco. Deixe-o sair.
Os olhos do irmão esvaziaram-se e, por um instante, ela achou que o tivesse perdido. Mas ele deve ter tido algum vislumbre da morte, de algo pior do que a dor, pior do que a Fúria, pior ainda do que a tempestade, porque seu corpo inteiro de súbito retorceu-se para cima, como se fosse acordado de um pesadelo. E, com esse movimento, veio o fogo, irrompendo das fornalhas de seu olhar, derramando-se sobre o corpo, transformando-o em um fantasma de azul, vermelho e amarelo. As asas se abriram, um brilho enorme contra as nuvens. Ele gritou uma palavra para a tempestade, uma palavra que abriu caminho pela rua, demolindo uma casa após a outra.
E o homem na tempestade o ouviu.
Algo detonou no meio do furacão, um barulho poderoso que poderia ter sido a terra se abrindo. Uma onda de choque explodiu, fazendo uma nuvem de detritos subir pelo céu e atravessar a cidade, removendo as nuvens e revelando o que estava atrás delas.
Ele estava suspenso ali, grande demais para ser humano, muito maior do que os prédios acima dos quais se erigia, e, no entanto, de algum modo, ainda um homem. Cintilava na atmosfera perturbadora como uma névoa de calor, quase uma miragem, seu corpo feito de sombras ondulantes, as mãos erguidas para os lados. O rosto não era realmente um rosto, só um vórtice giratório que fez Rilke pensar naquelas enormes brocas que cavavam túneis em montanhas, um giro infindo e vibrante que detonava tudo ao redor.
Mas eram os olhos dele... Duas órbitas vazias em sua cabeça, totalmente inertes e, ao mesmo tempo, plenas de um júbilo odioso. Era impossível dizer a que distância o homem estava, talvez dois ou três quilômetros, mas Rilke sabia que aqueles olhos a tinham visto; ela os sentia se arrastando por seu rosto como dedos de um cadáver, abrindo caminho até sua cabeça, até seus pensamentos. Sua mente de súbito era um brinquedo de dar corda, uma maçaroca desajeitada de latão e mola, desmontada e quebrada pelo toque dele. Ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau, uma coisa dentro dela berrava, mas ela lutou contra aquilo: ele não é, ele vai salvar Schill, ele precisa salvá-lo porque nada mais pode fazer isso, por favor, por favor, por favor.
Schiller agora estava de pé — ou pairando trinta centímetros acima da rua —, naquele pulsar atômico que fazia o concreto vibrar. Ele falou outra vez, numa descarga ondulante de energia que abriu uma trincheira na terra, dirigindo-se ao homem na tempestade. E o homem respondeu. Aquela inspiração infinita jamais parou, mas os olhos transmitiram sua mensagem direto para a cabeça dela; não palavras, nem imagens, só o horrendo silêncio e a imobilidade do fim de todas as coisas. O mero peso daquilo, do nada eterno e infinito, fez com que ela tivesse vertigens. Ela tropeçou em Howie, caindo de costas, o ar sendo removido dos pulmões. Essa coisa não vai deixar restar nada, pensou ela. Haverá apenas um buraco enorme onde antes havia o mundo.
— Não! — gritou ela, a palavra sugada de sua boca pelo vento furioso, pelo rugido sem fim da tempestade.
Não acreditaria naquilo. Vá até ele, Schiller, ajoelhe-se a seus pés, mostre que veio para servir. Ele com certeza abriria os braços e os receberia como filhos, não receberia? Ele esfolaria a pele da alma deles, rasparia os ossos, os deixaria em puro fogo. Vá até ele, irmãozinho. Não, corra, leve-nos daqui. Não, irmãozinho, é aqui o nosso lugar. As duas metades dela estavam em guerra, e sentia o mecanismo da mente se esfarelar.
Schiller ergueu-se, como que fisgado, a coisa mais brilhante no céu. O homem o observava, vastos tsunamis ainda inundando Londres, envolvendo tudo o que tocavam. Relâmpagos negros lançavam-se ao chão, vindo de sob a tempestade. Só que ali não havia chão, percebeu Rilke, só o vazio. O chão tinha simplesmente desaparecido. O homem mirava seu irmão como um lagarto espreita um inseto, os olhos negros cheios de ganância, de avidez. Mas havia também uma centelha de reconhecimento. Ele entendia quem era Schiller.
Ele conhece você, disse ao irmão, erguendo os olhos para onde ele ardia contra a luminosidade sobrenatural, como uma estrela que fora derrubada do firmamento. O coração dela pareceu levantar-se junto dele, e soube que estava certa, que estavam ali para servir o homem na tempestade. Ela abriu um sorriso enorme, a euforia como uma enchente de sol dentro de suas artérias, fazendo-a sentir que já não era nada além de luz e calor.
Não durou.
O homem na tempestade mexeu os dedos e virou o mundo do avesso.
O chão desabou sob seus pés, e o ar de repente ficou repleto de pedregulhos, rochas, casas. Ela abriu a boca para gritar, mas o grito não saiu porque ela caía em trevas, como se despencasse em uma cova sem fundo. Schiller ainda ardia bem acima dela, e ela estendeu a mão para ele, sabendo que, se não fizesse isso, cairia para sempre. Os olhos do irmão arderam, um lampejo de emoção bem no fundo do fogo, e ela sentiu os braços dele envolvendo-a — não sua carne, mas outra coisa. Ele a arrancou do poço, colocando-a a seu lado com Marcus e o outro garoto, abraçando-a com um pensamento, enquanto a cidade desabava em volta deles. Não havia mais superfície entre ela e a tempestade, só o vácuo, um oceano de vazio.
O homem fez outro gesto com as mãos, puxando a terra como se levantasse um cobertor. De ambos os lados, um bilhão de toneladas de matéria ergueram-se no ar, lançadas na direção deles. O ar rugiu, as orelhas de Rilke estalando com a onda de pressão que chegou primeiro. Ela levou as mãos ao rosto, sabendo que não trariam proteção nenhuma, que seria esmagada e viraria pó. Porém, mesmo que o mundo sacudisse e sacudisse e sacudisse, não havia impacto, nem dor.
Espiou entre os dedos, vendo uma bolha de luz de fogo bruxuleante ao redor deles. Pedaços de concreto do tamanho de casas batiam contra o escudo como ondas contra recifes, carros, caminhões, árvores e gente também, explodindo em líquido com a colisão. A maré não tinha fim, inundando as trevas ao redor, pressionando-os, jorrando para cima, dando a Rilke a sensação de estar em uma caverna, sem nenhum sinal à vista da fraqueza humana de Schiller, tudo ardendo com força total enquanto ele lutava para mantê-los vivos.
A torrente parou, o céu se abrindo de novo, ainda repleto de fumaça, uma cachoeira de matéria caindo na escuridão. À frente estava o homem suspenso em sua tempestade, e havia algo mais naquele olhar agora — não exatamente dentro dos olhos, ela percebeu, mas sendo canalizado através deles. Era ódio, puro e simples. Ele queria matá-los.
O que foi que eu fiz?, ela perguntou, entrando em pânico, vendo o abismo abaixo dos pés, uma boca aberta só esperando que ela caísse. O poder de Schiller era a única coisa que os sustentava; quanto tempo mais ele duraria? Agarrou o irmão, as chamas frias contra a pele dele fazendo cócegas. Ele bateu as asas, a bolha de fogo em volta deles se extinguindo, espirais de poeira dançando até findar em todas as direções. Marcus estava suspenso ao lado dela, sustentado por dedos invisíveis, e também o novo garoto, os quatro trancados na fúria dos olhos do homem. Ah, o que foi que eu fiz, Schiller? Eu estava errada, não estava? Totalmente errada!
O ruído da respiração infinita do homem aumentou, pinceladas negras tomando o ar como uma tela sendo rasgada. A tempestade outra vez começou a afunilar-se para sua bocarra escancarada, os detritos sendo sugados lá para dentro. Rilke também, seu estômago era uma montanha-russa enquanto se precipitava na direção dele. Ela se agarrou ao irmão com toda a força que possuía, mesmo que soubesse não ser preciso, sentindo-o ser puxado através do ar como um barco para um redemoinho.
— Enfrente-o! — ela gritou em seu ouvido, quase sem ouvir a própria voz.
A resposta dele flutuou para seus pensamentos.
Rilke, não consigo, ele é forte demais.
A corrente era muito poderosa, arrastando-os para as lâminas giratórias de sua boca. Iam mais rápido agora, o homem se avolumando à frente, enorme, um colosso. Seus olhos ardiam. Ele iria ingeri-los, e depois...? Depois nada, você nunca terá sido e nunca será outra vez.
— Schiller! — rogou ela.
O irmão falou, a palavra como um míssil detonando no meio da tempestade. O homem nem pareceu senti-la, precipitando-se, indo cada vez mais rápido, até que só houvesse sua boca, somente aquela garganta ilimitada e sem luz. Schiller falou outra vez, mas sua voz era humana, o miado de um gatinho. A capa de chamas desapareceu, e ele se agitou em pleno ar, preso na corrente. Tinha acabado. Era o fim. Tudo estava perdido.
Rilke fechou os olhos, sentindo o ar que fedia a carne e a fumaça, e gritou:
— Daisy!
Daisy
East Walsham, 12h24
— Daisy!
Daisy levantou a cabeça ao ouvir seu nome. Os cubos de gelo estavam agitados. Todos recuavam, menos um, o dele, onde o homem na tempestade ainda estava suspenso. Ela não queria olhar, mas como poderia desviar os olhos? A visão que o cubo continha era diferente agora, a cidade apagada sob o homem como se alguém houvesse apagado um desenho de que não gostasse. Tudo em volta dele estava sendo aspirado para sua boca.
— Daisy!
O nome dela outra vez, e desta vez ela reconheceu a voz. Era Rilke. E não eram ela, o irmão, Marcus e Howie, bem ali, como insetos se afogando em poeira enquanto eram sugados para a tempestade? Ah, Rilke, você foi se encontrar com ele, bem como falou, pensou ela, a tristeza fazendo pressão em seu peito. E agora a menina ia morrer. Por que Rilke não tinha lhe dado ouvidos? Por que não havia acreditado nela? Rilke era tão tola!
A pressão mudou de lugar, crescendo, e o coração de Daisy soltou um baque doloroso. Não era tristeza, era outra coisa. Colocou uma das mãos — aquela que na verdade não possuía naquele lugar — contra o peito, sentindo a frieza ali, e, ao olhar para baixo, línguas de fogo lambiam seus dedos.
Ah, não, pensou ela. É agora!
O anjo dela estava nascendo.
— Daisy? — Desta vez, outra voz, de um lugar perto.
Daisy espiou por entre os enormes cubos de gelo que batiam uns contra os outros e viu Howie, o novo garoto. Não seu corpo físico, que estava com Rilke na tempestade; aquela era uma outra parte dele. Sua alma, ela supôs. Ele tinha a mesma idade dela. Talvez fosse um pouco mais velho. Em seu peito, também havia um bolsão de fogo, espalhando-se para os ombros e descendo pela barriga, como se ele fosse feito de palha. Parecia aterrorizado, os olhos arregalados e brancos, encarando a si mesmo como um menino que tivesse visto aranhas irromperem da própria pele.
— Está tudo bem — ela lhe disse, tentando esconder o próprio medo. Estendeu as mãos e, num instante, ele estava ao lado dela, abraçando-a, sua cabeça-não-real enterrada em seu ombro-não-real. Ela acariciou os cabelos dele, sussurrando-lhe: — Não se preocupe, não vão fazer mal a você; eles estão aqui para nos deixar em segurança. São bons, são amigos. Não se assuste.
Não doía; era mais como quando você vai nadar e, então, entra na água: no começo, ela parece muito fria, mas logo você nem repara. O toque gélido das chamas já tinha chegado ao pescoço dela, e agora alcançava o queixo. Ela abraçou Howie e Howie a abraçou, ambos incendiando-se ao mesmo tempo. Algo badalou em sua cabeça, uma melodia muito parecida com a que sua caixinha de música tocava quando Daisy era criança. Não havia palavras, mas ela sabia que aquilo era uma voz, a voz do anjo.
— Está ouvindo? — perguntou ela, sentindo Howie assentir com a cabeça contra seu corpo. — Não assusta, assusta?
Ela baixou os olhos e viu que agora o fogo estava por toda parte, cobrindo-a por completo, e por dentro dela também. Sentia-se tão sem peso quanto o ar, como se fosse um facho de luz. Grãos de poeira subiam e desciam em volta dela, atraídos para ela, e o gelo derretia apesar do frio, riachinhos de água cristalina formando uma poça sob seus pés. A melodia na cabeça ia ficando mais alta à medida que o anjo encontrava sua voz, e, embora Daisy não fosse capaz de entendê-la, compreendia o que ele mostrava: os bilhões de anos de sua vida apresentados em um único segundo. Não houve tempo de processar aquilo antes que se sentisse puxada para cima, do mesmo jeito como às vezes acordava dos sonhos, como um mergulhador sendo içado do oceano em uma corda. Fechou os olhos com força contra a súbita vertigem.
Vai ficar tudo bem, disse ela enquanto Howie desaparecia, voltando para seu corpo no mundo real. Ele seria um anjo também, ela sabia. Confie em mim.
Ela rompeu a superfície do oceano onírico, o mundo real costurando-se em volta dela: uma igreja, vitrais, bancos de madeira, mas nada com a mesma aparência de antes. Tinha a sensação de poder espreitar o coração das coisas, ver do que eram feitas, os pequenos átomos e suas órbitas. Se quisesse, poderia arrebentá-los a um só pensamento. O fogo dela era a coisa mais brilhante ali, irradiando-se dela, emitindo um zumbido grave que parecia fazer tudo tremer.
Não era tão ruim, era? Era como...
E foi então que teve um súbito momento de pânico, a constatação colossal do que ela era. Olhou a si mesma, o incêndio na pele, o modo como as mãos pareciam translúcidas, diminutas máculas de energia subindo e descendo pelos dedos. Algo forçava suas costas também, como se as costelas tentassem abrir caminho à força. Não era dor, só uma coceira enlouquecedora. E, quando se deu conta do que causava aquilo — minhas asas, meu Deus, meu Deus —, gemeu diante do som de um monstruoso passarinho arrebentando a casca de seu ovo.
Virou-se para tentar vê-las, mas o movimento produziu força demais, lançando-a para o outro lado da igreja. Ela voou contra uma parede, com as asas tremendo, fora de controle, mandando-a em rodopios para o lugar de onde tinha saído. Em algum ponto daquele caos giratório, ela viu Brick, Cal e o pequeno Adam, todos se abaixando para se proteger. Havia também outro homem, aparentemente um sacerdote, gritando para ela, após sucumbir à Fúria. Estendeu as mãos para ele, dizendo-lhe para não se assustar, mas, para o horror dela, ele explodiu em uma nuvem de cinzas, suspenso como um fantasma no ar, até lembrar-se de se espalhar.
Daisy gritou, o barulho sendo o de motores de um avião colocados em funcionamento. Suas asas bateram outra vez, levando-a até as vigas no alto. Pare, por favor. Ah, Deus, eu só quero voltar a ser eu mesma. Por favor, por favor, por favor. Mas o anjo não lhe deu ouvidos, fazendo-a chocar-se contra o teto, as imensas asas a bater, soltando uma avalanche de madeira e pedras antigas. Afastou-se com um empurrão, caindo no chão, mas sem acertá-lo, só pairando acima dele como se nele houvesse uma almofada invisível.
— Daisy! — chamaram o nome dela outra vez, mas agora era Cal.
Ela o viu correr entre as fileiras em sua direção, tropeçando nos destroços de um banco. Daisy estendeu as mãos para ele, mas o movimento a mandou para trás aos rodopios. Gemeu outra vez, o som fazendo um vitral explodir, vertendo luz solar na escuridão.
Não se mexa, não se mexa, ordenou ao corpo. Ficou como uma estátua, ouvindo a estonteante sinfonia do anjo — é esse o som do coração dele — e escutando passos rápidos. Cal praticamente derrapou ao lado dela, estreitando os olhos contra a luminosidade. Parecia exatamente ele, mas, quando ela se concentrou, enxergou os pedacinhos de que era feito: os órgãos viscosos, como se ele estivesse em um açougue, os poros na pele e, mais fundo que isso, as células que nadavam no sangue e o show de fogos de artifício dentro de seu cérebro. Não gostou; não gostava de ver que as pessoas eram apenas motores de carne. Porém, não se afastou, para não lhe fazer mal.
— Daisy, você consegue me ouvir? — perguntou ele. Ergueu a mão, uma constelação de átomos, como que para tocá-la, e, em seguida, pareceu mudar de ideia. — Tudo bem com você?
Ela não ousou responder. A voz dela agora era outra coisa, uma arma. Um lembrete do que vira antes de seu anjo nascer, Rilke e os outros sendo sugados para a boca da tempestade. Era por isso que o anjo dela nascera agora, porque precisavam que ela os salvasse. Mas como? Estavam longe, lá na cidade. Bem na hora em que fez a pergunta, a coisa dentro dela deu uma resposta, não com sua voz, mas apenas com uma imagem — ela em um campo com Adam, presa em um carro, as mãos dadas, de algum modo em movimento. Claro, aquilo fazia sentido, não fazia? O tempo e o espaço não eram mais reais, não para ela.
— Está tudo bem com ela? — Desta vez, era Brick, de pé ao fundo da igreja, as mãos no cabelo avermelhado. O rosto dele era uma máscara de preocupação, e ela fez o melhor que pôde para sorrir. Isso não ajudou muito a acalmá-lo, o que não foi de surpreender. Se ela se parecesse com Schiller, seus olhos pareceriam feitos de aço derretido.
— Acho que sim — respondeu Cal. — Daisy, está me ouvindo?
Sim, disse ela, falando com eles dentro de sua cabeça, de algum modo emitindo as palavras. Aquela voz não podia lhes fazer mal. Estou aqui, Cal, não se assuste.
Cal abriu um sorriso enorme, olhando para trás.
— Está ouvindo? — perguntou ele, e Brick fez que sim com a cabeça. Cal se virou de novo. — Como você faz isso?
Daisy não respondeu, porque não sabia. Brick deu alguns passos pelo corredor, e Daisy reparou que ele deu a mão para Adam.
Ela o chamou com sua mente, acostumando-se com o som das palavras dentro da cabeça. Sei que estou diferente, mas continuo sua amiga, está bem?
O menino fez que sim com a cabeça, um estremecimento de sorriso correndo por seus lábios. Daisy respirou fundo — ainda que não achasse que precisava de ar, considerando sua versão física atual — e saiu do chão. Movimentos lentos, bem estudados, era esse o truque. Nada muito exagerado. Ficou de joelhos e em seguida deu uma batida de asas para experimentar. Era estranho, como se tivesse um par de braços a mais. Sentia que elas cortavam o mundo real como uma faca quente cortaria manteiga, içando-a até que ficasse de pé, ou melhor, até que pairasse sobre o chão. Era estranho estar assim, mais alta do que Brick. Sentia-se uma adulta, o que era empolgante, mas também um pouco triste. Não queria ter crescido ainda.
— Como é? — perguntou Cal, os olhos parecendo prestes a pular do rosto.
Não dói, respondeu ela. É... Não consigo explicar. É como usar uma roupa de super-herói ou dirigir um carro. Sim, é um pouco assim, como dirigir, porque, se fizer algo errado, pode machucar alguém.
Ela se lembrou do sacerdote. Tapou a boca com a mão ao virar-se para o outro lado da igreja; tudo o que restava do homem era um montinho de cinzas incandescentes. Um halo de brasas brilhantes flutuava em círculo ao redor dele, como se ainda não quisessem deixar de viver, como se pudessem manter a morte distante com uma dança.
Ah, não, o que foi que eu fiz?, falou. Eu o matei.
Porém, a emoção fervilhante que ela esperava, aquela torrente insuportável de tristeza, não veio. Uma vez, quando tinha cerca de oito anos, achara um besouro no quintal dos fundos, um besouro pequenino, do tamanho da unha do dedão. Queria levá-lo para casa, ser amiga dele e guardá-lo em uma caixa de fósforos, e tentou fazer com que ele se agarrasse a um palito. Mas o besouro ficava esperneando e correndo para longe; frustrada, bateu nele por acidente com força demais e o matou. Tinha chorado, chorado e chorado; o pobre besourinho havia morrido por causa dela. Ela achava que jamais perdoaria a si mesma.
Agora, porém, a tristeza estava esquecida em sua barriga. Estava ali, mas esquecida. O anjo está me protegendo dela, percebeu, como um escudo. E, com essa compreensão, veio o entendimento de que aquilo não duraria para sempre; que, assim que voltasse ao normal, aquela tristeza horrível de súbito a atingiria.
— Você não fez de propósito, Daisy — disse Cal, usando um banco como apoio para levantar-se. — Não foi culpa sua.
Eu sei, respondeu ela. Ela lamentaria depois, porque agora havia outra coisa que precisava fazer. Cal, precisamos salvar Rilke e Schiller, eles precisam de nós. Ela viu a imagem na cabeça, o homem na tempestade sugando-os em sua boca espiralante, e compreendeu que Cal, Brick e Adam também a tinham visto. Eles vão morrer.
No fundo da igreja, Brick quase cuspiu uma risada.
— Eles que se danem! — falou ele. — Por que eu iria ajudá-la? Ela que provocou isso.
— Ele tem razão — disse Cal, dando de ombros. — Ela fez por onde.
Não se trata dela, falou Daisy. Precisamos dela, precisamos de todos eles, para combater aquilo. Não acho que vamos conseguir fazer isso sozinhos. Não tinham tempo, talvez já fosse tarde demais. Cal, por favor, precisamos ir.
A ideia de abrir um buraco no espaço e entrar nele, e ver-se à sombra do homem na tempestade, era para ser assustadora. Mas isso também era anestesiado pela presença do anjo. Parecia mais um eco de medo, algo de que Daisy não podia se lembrar muito bem. Ele me deixa forte, pensou consigo. Me dá coragem.
Cal, por favor, pediu outra vez, estendendo-lhe a mão. Gavinhas de luz ergueram-se da pedra abaixo dela, cada qual sumindo após um instante. Cal examinou-as, e, em seguida, voltou os olhos para ela.
— Temos escolha? — perguntou ele.
Claro, disse ela. Vocês todos têm escolha. Mas precisam fazer a escolha certa.
Cal olhou para Brick, os dois garotos compartilhando um pensamento que Daisy não conseguiu entender bem. Em seguida, Cal se virou para ela e fez que sim com a cabeça. O medo saía dele em ondas grandes e escuras, mas sua expressão era firme. Ele engoliu ruidosamente, e depois lhe deu a mão. Ela pareceu ver a vida inteira dele desenrolar-se em um instante, sua casa, a mãe e uma garota bonita chamada Georgia; o coração dela ficou pesado, como se tivesse vivido aquela vida ao lado dele. Segurou a mão de Cal com delicadeza, tomando cuidado para não feri-lo. Adam desvencilhou-se de Brick e correu por entre os bancos, abraçando-a pela cintura.
Brick?, perguntou ela. O garoto mais velho ficou parado ali, arrastando os pés no chão, mordendo o lábio. Ela viu os lampejos que apareciam dentro do crânio dele, os pensamentos correndo de um lado para o outro, lutando entre si, e viu também o momento em que tomou sua decisão. Ela nem esperou que ele assentisse. Apenas usou a mente para abrir um buraco no ar, a realidade incendiando-se à sua volta como se a pele do mundo tivesse pegado fogo. Do outro lado, estavam a cidade e a tempestade, e com um bater de asas ela os levou rumo a elas.
Brick
Londres, 12h32
Daisy nem lhe deu chance de responder. Em um segundo, ele estava na igreja, perguntando-se como ia se livrar daquela situação, e no seguinte, passou a se sentir como um pião em movimento.
Deu um salto-mortal para cima, e tudo se tornou um borrão, com seu estômago espremendo-se até ficar do tamanho de uma pinha. Em seguida, seus sentidos voltaram para o devido lugar num estalo, e ele já estava em outro lugar, deitado de costas. Abriu a boca para gritar, mas tudo o que saiu foi um jato de vômito branco. O ar estava repleto de cinzas, pousando em sua língua e deixando ali um gosto amargo. Ele as cuspiu, limpando o resquício de vômito dos lábios e levantando-se em seguida com dificuldade.
Daisy estava alguns metros à frente. Só que não era Daisy. Não mais. A criatura que ela se tornara agora, aquela que tinha roubado o corpo da menina, pairava acima do chão, ainda envolvida em chamas. Suas asas eram como as velas de um navio incandescente, duas vezes mais altas do que ela. E o ruído que emanava era uma descarga elétrica que pulsava através do ar, pelo chão, fazendo os dedos de Brick formigarem e o cabelo se eriçar. Não fazia sentido que aquela garotinha que eles carregavam algumas horas atrás, aquele saco de ossinhos-palito, agora fosse aquilo. Brick precisou desviar o olhar.
Porém, o que viu era infinitamente pior.
O céu acima do horizonte era como um oceano de ponta-cabeça, um mar ondulante de trevas cujas ondas levavam a cidade — Isso é Londres? Não pode ser, não sobrou nada! — para suas profundezas. E, em meio ao oceano, havia uma figura, iluminada por relâmpagos negros que chicoteavam através do caos; estava suspensa como um leviatã, uma descomunal criatura do mar revirando a água. A visão era tão horrenda que um gemido insurgiu da barriga de Brick, frágil, débil, derramando-se de sua boca. E, antes que o garoto pudesse se conter, soluçava, tateando para trás, gritando.
— Por que você me trouxe aqui? Por quê?
— Brick... Cuidado... — Era Cal, gritando de onde estava, a alguns metros de distância, as palavras roubadas pelo vento uivante. Ele estava encolhido, o cabelo batendo no rosto. Adam, o garotinho, ainda abraçava Daisy, o rosto enterrado tão fundo na barriga dela que Brick se perguntou como a pele dele não tinha sido queimada pelas chamas. — Venha para cá.
Brick balançou a cabeça em uma negativa, arrastando-se para trás. Bateu em algo, ganiu e virou-se, avistando um carro, tão coberto de poeira alaranjada que parecia estar ali fazia um século. O jovem o usou como apoio para se levantar, os pés mergulhando em algo macio. Era um corpo, percebeu ao baixar os olhos. Uma coceira que apitava formou-se na mente de Brick; algo ali não estava certo. Ele afastou o pé do cadáver, sacudindo o tênis sujo e vendo outros corpos caídos como uma trilha de dominó que tivesse sido derrubada. Eram dezenas.
Ah não, ah não, ah não; por que não o tinham deixado na igreja? Lá ele estava em segurança, ainda mais com o sacerdote morto. Poderia ter ficado lá durante dias, poderia ter ficado lá para sempre.
Porque precisamos de você, Brick. A voz de Daisy soava tão alto em sua cabeça, com tanta nitidez, que bem poderia estar dentro de sua carne. Brick chegou até a dar uma pancadinha na têmpora, como que para afastá-la com uma sacudidela. Mas não, ela ainda estava pairando acima do chão, emoldurada pelos destroços de uma dezena de casas, os olhos fervilhando, cuspindo flocos de fogo, a boca aberta e revelando uma garganta de genuína e alva luminosidade, como se tivesse engolido o sol. Preciso de você, Brick, não posso fazer isso sozinha.
— Mas que droga eu posso fazer aqui? — gritou ele de volta.
Abaixo da tempestade, o chão tinha sido eliminado; só havia um poço que devia ter mais de quinze quilômetros de diâmetro. Como ele poderia enfrentar uma criatura capaz de fazer aquilo? Ela o viraria do avesso só com o olhar.
Acredite em mim, disse Daisy. É só disso que eu preciso.
Ele balançou a cabeça outra vez, como se tentasse afastar uma mosca dos pensamentos.
Brick, por favor.
Um trovão ensurdecedor disparou do centro da tempestade, e Brick viu o relâmpago — desta vez, não era escuro, mas luminoso. Uma onda de ar escaldante explodiu pela cidade, quase rígida o bastante para jogá-lo para trás, e, no centro do tornado, ele viu uma enorme mandíbula escancarada. Ao lado dela, havia uma silhueta incandescente, tão pequena que poderia ser um plâncton prestes a ser devorado por uma baleia. Brick percebeu quem era, e chamou o menino em voz alta:
— Schiller!
Preciso me aproximar dele, disse Daisy dentro da cabeça de Brick, a voz metade dela, metade do anjo. Se eu não for, eles vão morrer.
Ela dirigiu a fornalha de seu olhar para o céu, para a batalha que ardia à distância. Era insano. Anjo ou não, aquela coisa, o homem na tempestade, a esmagaria. Ela era só uma garotinha.
Cal berrou algo que Brick não conseguiu entender.
Mas eu preciso, respondeu ela. Preciso. É exatamente como na peça. Brick não tinha ideia do que ela queria dizer com aquilo, embora suas palavras levassem imagens para a mente dele: um palco, crianças vestidas com roupas de época. Um verme de desconforto sulcou seu estômago. Assusta, assusta mesmo, mas você sabe que precisa fazer. Ela olhou para Cal, depois para Brick. Seja forte. Cuide de Adam.
— Daisy, espere! — disse Cal, mas era tarde demais.
Ela flexionou as asas, as pontas parecendo incendiar o ar como se fossem de papel. Fez-se um clarão, um buraco escancarado no céu, e ela sumiu. Como se fosse água, a realidade inundou o buraco de novo, houve um barulho como o de um tiro ecoando pela rua em ruínas quando o vácuo foi preenchido. Adam cambaleou para a frente, quase caindo antes que Brick o pegasse, ambos ficando em meio a uma chuva de cinzas.
Outro estouro, e Brick olhou para a tempestade e viu um clarão bem ali, em seu coração trevoso. Daisy, ardendo em luz. Ela é só uma garotinha, pensou ele, subitamente furioso. Está contente agora? Ela é só uma garotinha, e você a matou.
Deu um passo para a tempestade, mas, de súbito, parou. Ele precisava ajudá-la, mas o que poderia fazer? Nunca na vida tinha se sentido tão pequeno, tão ridículo. Ele e Cal trocaram um olhar, e Brick viu sua frustração, sua impotência, espelhando a dele.
— Temos de fazer algo! — disse Brick. — Ela vai morrer!
Cal inclinou a cabeça para o lado.
— Que foi? — perguntou Brick.
— Não está ouvindo?
Passaram-se mais alguns instantes até que Brick ouvisse um gemido baixinho subindo pelo estrondo infindo da tempestade. Um motor, vindo na direção deles.
— Daisy vai saber se virar — disse Cal, apontando uma moto que contornava uma pilha de detritos no fim da rua demolida, acelerando para onde estavam. — Temos problemas maiores agora.
Daisy
Londres, 12h38
Era como jogar-se em um rio veloz, a corrente rápida carregando-a, levando-a contra sua vontade, tão forte e veloz que ela perdeu a noção de onde estava. Girava em pleno ar, vendo tempestade e céu, tempestade e céu, e depois ele, a boca tão grande que parecia se precipitar em um vulcão. Também viu os olhos dele, como dois sóis invertidos no céu, enormes, irradiando trevas e encarando-a diretamente.
Estendeu os membros, os seis: braços, pernas e asas. Era como abrir um paraquedas, retardando assim sua derrocada. O vento era algo vivo que vinha em lufadas, com porções enormes de coisas voando, sugadas para o vórtice. Sentia-se Dorothy no furacão, vendo casas inteiras ali dentro, inclusive com gente, tudo sendo devorado.
Um clarão surgiu à frente, no meio da boca do homem. Schiller! pensou ela. Estou chegando!
Daisy!, a voz era dele, transmitida direto para a cabeça dela. Socorro!
A boca do homem da tempestade moía sem parar, mas o medo de Daisy ainda era algo pequenino em sua barriga, como se o anjo o contivesse para ela, como se tomasse conta dele. Era como andar de bicicleta, pensou ela. No começo, você acha que é impossível, você acha que nunca, nunca vai conseguir se equilibrar, e, de repente, lá está você, em alta velocidade pela rua, sem conseguir sequer se lembrar de como era não ser capaz de pedalar. Era como se tivesse aquele corpo desde sempre, como se houvesse nascido com ele.
Daisy desviou para um lado a fim de evitar um pedaço de concreto que veio girando, espatifando-se ao colidir contra a parede lateral de uma casa flutuante. A casa se desfez em volta dela em uma explosão de pó de tijolos. À frente, distinguiu não um anjo, mas dois. Howie, claro, seu anjo também nascera. Ele e Schiller pairavam dentro de uma bolha de fogo laranja, os dois à primeira vista tão luminosos que Daisy nem reparou em Rilke e em Marcus ao lado deles, presos por um fio invisível. Não havia sinal de Jade.
Aguentem firmes, pensou para eles. Em um instante, estava à beira do vórtice. A corrente era inacreditavelmente forte, o homem fazendo tudo o que podia para puxá-la para seu esôfago. Do outro lado, não havia nada, nem escuridão, nem luz, só uma ausência tão evidente que fazia a cabeça de Daisy doer só de olhar. O pior de tudo, porém, era que, mesmo que a tempestade ainda ardesse, o que emanava da boca dele era um silêncio sinistro e ensurdecedor. Era como se Daisy tivesse ficado surda de um ouvido.
Bateu as asas de novo, firmando-se em sua posição. Schiller e Howie fizeram o mesmo. Precisavam de toda a força possível para evitar sumir no ralo daquela boca. O que ela poderia fazer? Falar com ele, disse a si mesma, como você disse que faria. Fale para ele deixá-los em paz.
Daisy bateu as asas, alçando-se à altura dos olhos ardentes do homem. Nem tinha certeza se eram mesmo olhos, porque, além deles e da boca, o homem não tinha realmente um rosto, só um vórtice giratório de fumaça e tempestade. Mas, mesmo assim, os supostos olhos pareciam estudá-la; o ódio do homem era algo com vida própria, que se agitava e se retorcia. Ela abriu a boca, sentindo o fogo arder na barriga e queimar a garganta, sendo disparado boca afora.
O que ela queria dizer era “Deixe-nos em paz”, mas o que saiu foi uma palavra que não conhecia, uma palavra que não era humana. Era como se houvesse cuspido um foguete, um pulso de energia escapando dos lábios com tanta força que a jogou para trás. Endireitou-se a tempo de ver a onda de choque atingir o homem no olho esquerdo, uma onda de fogo que consumiu a ondulante carne negra como a água faz com a neve.
Desculpe!, gritou Daisy. Ela não queria feri-lo, só queria que ele fosse embora. Abriu a boca para lhe dizer isso, mas outra palavra foi disparada, esta abrindo caminho pelo outro olho, soltando fragmentos de matéria escura bruxuleante que escorreram em direção à boca do monstro.
A cabeça dele balançou para trás, e aquela inspiração arquejante se extinguiu. Foi como se a gravidade tivesse sido subitamente religada, despencando tudo para o vazio abaixo. Daisy bateu as asas, e viu Schiller e Howie fazerem a mesma coisa. Voou até onde os dois estavam, atravessando uma monção de poeira e detritos.
Schiller!, ela gritou. Os dois anjos eram tão parecidos que quase não conseguia distingui-los, mas de algum modo ainda sabia quem era quem. Ele a fitou com os sóis gêmeos de seus olhos, e mesmo através do fogo ela notou o quanto estava ferido. Rilke se agarrava a ele como um filhote de canguru. Marcus estava suspenso ao lado deles, sustentado por alguma força invisível. Todos pareciam muito fracos, muito vulneráveis. Vá, tire-os daqui!
Não quero deixar você aqui, respondeu Schiller na cabeça dela. Daisy estendeu-lhe a mão, feita de fogo, translúcida, uma mão de fantasma. Passou-a pelo rosto espectral dele, as chamas se sobrepondo, se juntando. Ao afastar-se, levou gotículas de luz dourada da pele dele.
Pode ir, vou ficar bem.
Ele fez que sim com a cabeça, fechou os olhos e incendiou a si mesmo e aos outros para fora da existência. O ar correu para preencher o espaço que ocupavam até então, fazendo as cinzas incandescentes brincarem uma com a outra. Daisy olhou através delas e viu Howie, seu rosto sendo o de um menino e o de um anjo, os dois em um. Ela teve a sensação de que o conhecia havia tanto tempo que era difícil acreditar que aquela era a primeira vez que efetivamente se encontravam.
Tudo bem com você?
Ele nem teve chance de responder. O homem na tempestade se recuperou, o motor de sua boca reiniciando, sugando Daisy. O barulho era tão alto que parecia um punho martelando o cérebro dela, uma orquestra com um milhão de tambores de aço tocando sem sintonia. Ela berrou, a voz quase tão alta quanto os tambores, uma coisa física que subiu cortando o céu espiralante, afastando as nuvens para que — por apenas um momento — o sol aparecesse.
Bateu as asas, imaginando que era um pássaro voando para longe. Outro enorme fragmento de prédio destroçado veio na direção dela, mas Daisy passou através dele, fazendo-o em pedaços. Howie estava a seu lado agora, as asas agitando-se.
Precisamos combatê-lo, disse Daisy. É só falar; os anjos sabem o que fazer.
Viraram-se juntos, encarando o homem. Daisy abriu a boca, a palavra a meio caminho em sua garganta, mas um relâmpago negro disparou da tempestade e chicoteou seu peito. Teve a sensação de que tudo dentro de si tinha sido solto, o golpe lançando-a velozmente pelo ar. Estendeu as asas, mas isso só deu a impressão de que ela rodopiava ainda mais rápido. Outro estrondo, depois um grito que só poderia ter sido Howie reagindo.
Vamos!, gritou para si mesma, movendo as asas com cada gota de força que lhe restava, controlando a queda. Olhou de novo a tempestade, que agora parecia estar a quilômetros de distância, e tocou as chamas do próprio corpo para ter certeza de que estava tudo bem. Seu coração humano batia com força, enquanto o coração de anjo também martelava, mas aquela sensação horrível continuava como um nó no estômago. Era a mesma sensação que havia tido ao encontrar a mãe e o pai mortos na cama, só que muito pior. Era a tempestade; era assim que a tempestade queria que o mundo se sentisse.
Essa ideia deixou-a furiosa, diminuindo o medo. Daisy bateu as asas, precipitando-se para a palpitante massa do furacão. Howie estava ali, um borrão de fogo contra as trevas, os gritos dele chocando-se contra a pele da besta. Outros espinhos de relâmpago vieram na direção dele, criando uma fonte de centelhas ao baterem contra sua blindagem incandescente.
Daisy abriu a boca e deixou o anjo falar, a palavra fervilhando pelo ar, chocando-se contra a besta, que disparou outro estilhaço de luz negra fendida. Ela desviou com um bater de asas, falando de novo, e de novo, e de novo, Howie juntando-se a ela, forçando a tempestade a recuar. A inspiração sugadora da besta extinguiu-se mais uma vez, a turbina de seu esôfago falhando. Daisy não parou, gritando mais palavras, vendo-as serem absorvidas pela pele do rosto do homem.
Está funcionando, está funcionando, continue!, ela disse a Howie, as palavras em sua cabeça juntando-se com outras de sua boca, algo ancestral e sobrenatural que rachava o ar ao rugir rumo à tempestade. Continue, Howie, vamos derrotá-lo!
A boca do homem se abriu ainda mais, parecendo abranger o céu inteiro. Desta vez, ele não inspirou, mas expirou um vigoroso urro que a golpeou, fazendo-a cambalear para trás. Ela apagou por um instante, como se seu cérebro fosse um computador se reiniciando, e, quando voltou a si, percebeu que caía. Gritou, e a voz era a dela. Quando tentou bater as asas, elas não obedeceram. Baixou os olhos para si, e não havia mais chamas, só o próprio corpo, seu uniforme escolar, um calçado faltando. Caía para o abismo lá embaixo, gritando para seu anjo: Onde está você? Volte!
A besta ainda disparava seu grito, uma palavra que parecia não ter fim. O ar estava repleto de movimento, um milhão de detritos vindo em sua direção, um tsunami. Algo acertou-a, e uma dor inacreditável invadiu seu corpo inteiro enquanto o abismo parecia se erguer para recebê-la.
Cal
Londres, 12h42
Cal observou a moto derrapar e parar no meio da rua, ao lado das ruínas de uma casa. Havia duas pessoas nela, um homem e uma mulher, nenhum dos dois usando capacete.
— Precisamos dar o fora daqui! — disse Brick.
Tinha soltado Adam e seguia aos tropeços por entre os destroços do asfalto. A criança nem pareceu reparar no que acontecia, os olhos arregalados mirando o céu. Acima deles, a tempestade ainda ardia, e Cal conseguia ver Daisy, uma lua incandescente orbitando um núcleo de trevas. Tenha cuidado, disse a ela antes de se virar.
O homem saiu da moto e ergueu as mãos como que para mostrar que não estava armado. A mulher veio atrás, dando alguns passos na direção deles. Os dois se entreolharam e falaram entre si, o homem dando de ombros.
— Mas quem são essas pessoas? — perguntou Cal. Brick não respondeu, ainda recuando, deixando Adam entre ele e os recém-chegados. Inacreditável, pensou Cal, estendendo a mão para o garoto. — Adam, cara, vem pra cá!
O homem gritou algo, mas o estrondo da tempestade era alto demais.
— ... não quero... vocês... perguntas — tentou o homem outra vez, seu grito reduzido a um murmúrio.
A mulher se adiantou e Cal a mandou voltar com um gesto.
— Não, fique onde está, não se aproxime!
Como não o ouvia, ela deu mais um passo à frente. Brick se afastou um pouco mais, tropeçando no asfalto rachado. Cal aproximou-se de Adam, pronto para pegá-lo no colo e carregá-lo para longe.
— Esperem! — o homem da moto gritou. — Voltem...!
A mulher deu mais um passo, e, do nada, se transformou, precipitando-se para a frente. Cal soltou um palavrão e começou a correr. A mulher se lançou sobre Adam, os lábios arreganhados, os dentes à mostra. Ela era rápida, e meio que atacou, meio que caiu em cima do garoto, pegando-lhe os cabelos.
— Saia de cima dele! — Cal se jogou contra ela como se estivesse em uma partida de rúgbi, o impacto fazendo os dois rolarem pelo chão.
A boca dela era a de uma naja, procurando os braços e a garganta dele, os dentes rangendo. Cal conseguiu prendê-la debaixo de si e preparou um soco, mas se desequilibrou com o corpo dela se retorcendo. Ele agarrou sua carne, firmando-se bem, e tentou outra vez. Seu punho acertou em cheio o nariz dela em uma erupção de sangue, mas ela sequer pareceu sentir, tentando arranhá-lo com as unhas quebradas.
Brick!, Cal tentou gritar, mas não havia ar suficiente em seus pulmões. Olhou para trás e viu o garoto maior atrás de um carro, só olhando. Seu babaca egoísta!, pensou. Um olhar na outra direção lhe disse que ao menos o homem não se aproximava. A mulher — a coisa — abaixo dele agarrou seu rosto com mãos de ferro, um dedo em um olho dele. Cal soltou um grito gutural, afastando-a a pancadas, e ouviu algo estalar sob o punho. Enfiou o cotovelo na garganta dela, colocando todo o seu peso, tentando desviar dos braços agitados com sua mão livre. Ela gemia, sufocando, o som mais horripilante que Cal já ouvira na vida, mas o ímpeto homicida não deixava os olhos arregalados dela.
— Desculpe! — gritou ele. — Desculpe!
Um tiro rasgou a rua. Cal se deteve, ofuscado pelo fogo, percebendo que não tinha sido tiro nenhum. Schiller estava ali, uma estátua de chamas, as asas sendo a coisa mais alta na rua em ruínas. Rilke e Marcus estavam ajoelhados ao lado dele.
Schiller fixou seus olhos derretidos, e a mulher debaixo de Cal se desfez. Cal desabou na maçaroca que ela havia sido transformada, soterrando-se de repente em uma nuvem de cinzas. Tossiu, rolou para longe e ficou deitado de costas até se lembrar do homem. Ao olhar outra vez, porém, viu que ele tinha despencado no chão, boquiaberto.
— Espere! — gritou Cal. — Você... não...
Rilke apontou para ele.
— Mate-o também. — A voz dela soara com total clareza.
A tempestade tinha amainado. Cal levantou a cabeça e viu que ela não sugava mais o ar. As chamas gêmeas que eram Daisy e o outro garoto estavam suspensas ao lado da boca destruidora do furacão, ladrando gritos que pareciam explodir contra a escuridão como uma bateria antiaérea. Eles estão vencendo, pensou ele, o alívio em seu interior como a luz do sol.
Então a besta abriu a mandíbula e um punho de ruído irrompeu de sua boca. Ela vomitou uma nuvem de pó, uma cidade inteira reduzida a detritos e projetada à frente, obscurecendo a luminosidade, fazendo o dia ficar ainda mais escuro. Schiller abriu as asas, respirou fundo e, em seguida, desapareceu tão rápido que a irmã desabou no ponto onde ele estava até um segundo antes. Ela cambaleou sobre as mãos e os joelhos até encontrar o equilíbrio.
— Schiller, não! — gritou Rilke para a tempestade, estendendo-lhe as mãos. — Não! Ela não precisa de você, eu é que preciso!
O homem na tempestade expirou sua nuvem de veneno, o chão sacudindo tanto que Cal precisou se agachar para não cair. Uma faísca se acendeu no redemoinho — era Schiller lutando contra a corrente.
— Schiller! — gritou Rilke outra vez.
Mas era tarde demais. Ele já se fora. Cal se levantou rápido e atravessou a rua correndo, parando a vinte e cinco, trinta metros do homem da moto.
— Quem é você? — berrou ele. Teve de repetir a pergunta duas vezes até que o homem o ouvisse em meio à tempestade. O homem deu um passo à frente, mas Cal ergueu a mão. — Se você se aproximar, vai morrer! Apenas me diga o que quer!
— Meu nome é Graham Hayling! — gritou ele em resposta. — E eu quero ajudar!
Daisy
Londres, 12h46
Ela se sentia uma pedra jogada no oceano, mergulhando nas profundezas frias e sem luz. De ambos os lados, via distantes paredes de pura pedra, onde a cidade fora separada em duas partes, uma cachoeira de detritos caindo do alto delas. Abaixo, nada além de um poço.
— Por favor! — ela chamou o anjo, mas ele não respondeu. Algo ruim acontecera com ele. — Me ajude!
Despencou, a cabeça virada para baixo, o mundo ficando mais escuro e mais silencioso a cada violento compasso de sua pulsação. A qualquer instante, bateria no fundo e pronto. Ficaria enterrada para sempre naquele buraco, a quilômetros de tudo e de todos. Era o pior pensamento do mundo, até que outro lhe ocorreu — o poço poderia não ter fundo; ela poderia nunca parar de cair. Gritou mais uma vez por socorro, o grito desesperado perdido no estrondo do vento em seus ouvidos.
O fogo irrompeu, e, por um instante, ela achou que seu anjo tivesse voltado. Então ela sentiu braços em volta de si e, virando-se, viu Schiller, caindo com ela. Ele estendeu as asas, as chamas mais luminosas do que seria possível contra a penumbra, e depois veio a já conhecida vertigem de revirar o estômago quando ele a conduziu para fora do poço. Reapareceram em plena tempestade, no centro do uivo furioso da besta, e Daisy bateu as asas antes mesmo de perceber que seu anjo havia voltado.
Obrigada, disse ela para os dois, desvencilhando-se de Schiller para desviar de uma saraivada de concreto e metal que passou voando. Outra coisa zuniu em sua direção, um prédio, ainda intacto. Abriu a boca e permitiu que o anjo falasse, a palavra alvejando o prédio como um míssil, demolindo-o em pleno ar. Pairou acima da poeira, atravessando os muitos destroços que ainda jorravam da boca da besta, dirigindo-se para uma chama distante que tinha de ser Howie. Ele ainda gritava, ainda lutava.
Vamos!, disse ela, chamando Schiller, que apareceu ao seu lado, entrando e saindo da tempestade, os olhos como fachos de farol penetrando a penumbra. A besta estava à frente, sua boca a maior coisa que Daisy já vira, um buraco no céu do tamanho de uma montanha. Berrou para ela, uma onda sonora de choque que vaporizou um caminho em meio ao caos, acertando-a entre os olhos. Ao lado dela, Schiller gritou também, sua voz como um tiro de canhão. Daisy se agachou e ziguezagueou até parar ao lado de Howie, os três disparando uma palavra atrás da outra, até que o rosto do homem se tornasse um ninho de vermes negros incandescentes.
Está funcionando?, perguntou Schiller. O trovão da tempestade era tão alto que Daisy tinha dificuldade para ouvir as palavras dele, mesmo que estivessem dentro da cabeça dela.
Ele está morrendo?
Acho que sim, respondeu ela, disparando outra palavra, dilacerando ainda mais a tempestade. Ele se sentia como uma brisa de verão que limpasse as nuvens do céu com seu sopro. Continue!
A besta sacudiu sua cabeça gigante, tão grande que parecia mover-se em câmera lenta. Um som semelhante a disparos de uma metralhadora emergiu de seu interior, seguido por um relâmpago negro, tão escuro que gravou sua silhueta nos olhos de Daisy. O relâmpago roçou nela, mas foi Schiller quem sofreu o impacto. A luminosidade acertou seu rosto com um estampido, e outro raio serpenteou e golpeou seu corpo como um arpão, desaparecendo tão rápido quanto tinha surgido. O fogo do menino bruxuleou, e ele começou a cair.
— Não! — gritou Daisy, a palavra geminada com uma do anjo, queimando em seus lábios, alvejando a besta como um enorme martelo invisível.
Howie berrou também, seu grito detonando no meio da tempestade. Daisy encolheu as asas, mergulhando atrás de Schiller, vendo-o bater em um fragmento grande, o corpo girando como o de uma boneca de pano. Ela o alcançou com a mente, envolvendo-o com mãos-fantasma, usando o mesmo pensamento para protegê-lo dos detritos voadores. Trouxe-o para perto de si, segurando-o perto dela, quando outro garfo de relâmpago sem luz disparou pelo céu, passando perto o bastante para que ela sentisse seu gélido toque na pele. Schiller não se movia. Ela não podia sequer ter certeza de que ele respirava e, quando espiou dentro do crânio dele, não enxergou nenhum dos pequenos pensamentos bruxuleantes.
A raiva de Daisy esquentou em seu íntimo como um motor, acelerou por sua garganta e explodiu em outro grito. O som que ele fez ao sair de seus lábios foi como o estrondo de um trovão e, quando atingiu o homem, abriu caminho na tempestade e revelou a pele branca e macilenta de seu rosto inchado. A carne parecia derreter, pingando dos olhos como cera de vela. Ela não hesitou, gritando de novo, de novo e de novo, as palavras dela e do anjo em coro:
— Morra, morra, morra!
Ele soltou um gemido ensurdecedor, como o som de um enorme navio afundando no oceano. A tempestade que saía de sua boca praticamente parou, e a cólera em seus olhos foi substituída por algo diferente, algo que poderia ser medo. Ele olhou para ela, para Schiller, para Howie, como se os estudasse, marcando o rosto deles na memória. Em seguida, o céu ficou negro, como se tivesse coberto a si mesmo com a noite.
Daisy só entendeu o que tinha acontecido quando levantou a cabeça e as viu. Asas, duas, produzidas com uma chama tão negra que alguém parecia ter recortado seu contorno para fora do mundo com um par gigantesco de tesouras. Elas irradiavam sua luz negra através do que sobrava da cidade, e Daisy pensou que, se o fogo pudesse apodrecer, essa seria sua aparência. Era horrível, mas, suspensa diante daquilo, com as próprias asas abertas e os próprios olhos em chamas, ela não poderia ignorar a imagem. Podia estar olhando para um espelho: claro, um espelho de brincadeira, daqueles que distorciam seu reflexo, mas ainda assim era um espelho.
A besta baixou as vastas asas. A tempestade ondulou, o fogo da criatura se espalhando, ardendo ao longo do corpo e do rosto. Daisy percebeu o que ela fazia e gritou outra palavra, mas era tarde demais. Com um barulho estrondoso e outro clarão de escuridão ofuscante, a besta desapareceu. O ar logo preencheu o espaço que ela antes ocupava, e tudo o que estava suspenso pela tempestade caiu no poço. Algo enorme passou a milímetros dela, e ela agarrou Schiller, mantendo-o bem perto.
Vamos, disse para Howie. Ele fez que sim com a cabeça, com seu olhar ardendo, e, juntos, sumiram da existência em um piscar de olhos.
Rilke
Londres, 12h57
Não existia mais Londres, só um buraco, como se alguém tivesse arrancado a cidade de um mapa gigante, embora ainda houvesse prédios no limiar do poço. Rilke tinha a impressão de estar vendo a roda-gigante London Eye cambaleando na extremidade, à distância, e também o prédio Shard, ainda que estivesse sem o topo. Porém, tudo o mais havia sumido. Só sobraram ausência e ruínas, um abismo envolto em uma terra devastada. Rilke tinha a sensação de que sua mente estava igual: um abismo enorme onde deveria estar sua sanidade, com todos os outros pensamentos reduzidos a destroços. Ao menos a tempestade tinha desaparecido. O que quer que Schiller tivesse feito, havia funcionado. Tirando a chuva sem fim de poeira e detritos que caía no poço, o céu agora estava limpo.
Por favor, permita que ele fique bem, pensou ela. Por favor, Deus, permita que ele volte para mim.
Fez-se um clarão ao lado dela, que a fez se encolher, mas, quando se virou, era apenas Daisy se materializando. Ela segurava uma figura flácida nos braços, um saco vazio que não podia ser seu irmão. Não podia.
Rilke foi o mais rápido que pôde até ela, derrapando de joelhos ao lado de Schiller. Havia uma ferida enorme em seu estômago, a umidade ali escura como tinta preta, mas pigmentada com filetes de sangue. Ela o abraçou, alisando seu cabelo. Havia apenas uma ou outra madeixa; o couro cabeludo se enrugara e ele estava quase careca. Na verdade, seu rosto inteiro parecia o de um velho, com os olhos inchados e a boca frouxa. Ele não parecia real; parecia feito de papel, o rabisco de um rosto feito por uma criança. Ah, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz?
— Schiller, fale comigo, por favor! Por favor, irmãozinho!
Ao lado dela, Daisy respirou fundo e seu fogo esmaeceu, as asas esvanecendo e fechando-se, até que voltou a ser uma garotinha. Ela cambaleou, e Cal correu até ela, amparando-a antes que caísse. O nariz dela sangrava, e o garoto limpou-o delicadamente. Ela também aparentava ter cem anos de idade. Adam se aproximou dela, capturando sua mão como se fosse uma borboleta. Rilke a odiava, odiava todos eles. E odiava a si mesma, acima de tudo. Como podia ter sido tão tola?
— O que você fez com ele? — disse ela, apertando o irmão contra o peito. A emoção batia em suas costelas com punhos de ferro, gritando para poder sair, mas ela a trancou, a dor na garganta dando a impressão de que engolira vidro. — O que você fez com ele, Daisy?
— Pare com isso, Rilke! — falou Cal. — Você viu o que aconteceu; ele nos salvou, salvou todos nós.
Rilke acariciou o rosto do irmão com força suficiente para sulcar a pele pálida. Sacudiu-o enquanto o chamava, mas ele tinha o olhar vidrado e perdido ao longe. Onde está você, Schill?, ela perguntou. Saia daí agora mesmo.
— Aquela coisa morreu? — veio uma voz de trás dela. Rilke se virou e deu com Brick surgindo do alicerce de um prédio, fungando poeira pelo nariz. — Você a matou?
— Não — respondeu Daisy. Certa dose de cor voltou às suas bochechas, fazendo as rugas desaparecerem. Ela se sentou, apoiando a mão no peito de Cal, ainda ofegante, respirando fundo. Fez-se outro clarão e, de repente, o outro garoto estava com eles, os braços se agitando no ar enquanto lutava para recuperar o equilíbrio. Não teve sucesso e caiu de joelhos, olhando ao redor, em choque. Daisy sorriu para ele. — Howie, tudo bem?
— Acho que não — respondeu ele após um instante, deixando-se deitar. — Acho que bebi rum demais.
Rilke puxou o irmão pela camisa, apertando-o com tanta força que achou que os dedos fossem quebrar. Como ele ousava brincar enquanto o irmão dela estava ali, à beira da morte?
— E agora? — disse Brick.
— Acho que a tempestade só mudou de lugar — falou Daisy. A garotinha enxugou o rosto com o dorso da mão, fazendo das gotículas de sangue uma horrenda máscara para os olhos. — Assim como nós, ela se transportou.
— Para onde? — perguntou Brick.
— Para a Califórnia — gritou o homem, aquele que tinha aparecido de moto, ainda à distância na rua. Ele tinha dito seu nome antes, mas Rilke não se importava. Ele era um deles, um dos humanos, e Schiller deveria tê-lo matado, assim como havia matado a mulher. Mas isso é errado, Rilke, argumentou seu cérebro. Você estava errada, lembra? Errada a respeito de tudo. Ela mandou aquele pensamento embora, observando o homem enquanto ele fechava o celular. Estava coberto de pó, parecendo um fantasma à bizarra luz alaranjada do dia em ruínas. — Aquela coisa apareceu nos Estados Unidos, acabam de confirmar!
— Cal, quem é ele? — perguntou Daisy.
— Acho que é um amigo — respondeu Cal. — Pessoal, este é Graham. Graham, este é nosso pessoal.
O homem acenou com a cabeça, franzindo o rosto.
— Vocês se importam em me dizer o que está acontecendo? — perguntou ele. — Quem são vocês?
— Apenas garotos — respondeu Daisy. — Mas somos outra coisa também.
— Cale a boca! — berrou Rilke, a raiva parecendo tão viva dentro dela que se perguntou se não seria seu anjo. Os dois tinham de estar conectados. — Vocês todos, calem a boca! O meu irmão precisa de ajuda!
Schiller parecia estar afundando em si mesmo, desinflando. Rilke o puxou para si, os soluços enfim irrompendo da prisão de sua garganta, derramando-se da boca dela como vômito. Não era mais capaz de detê-los; não conseguia respirar, forçando-se a sugar grandes lufadas de ar entre gritos estrangulados. Não suportava ser tão fraca.
— Ajudem ele! — disse ela para ninguém e para todos. — Não sei o que fazer! Ele vai morrer!
— Pois é. E de quem é a culpa? — disse Brick para ela, agachando-se e cuspindo uma bolota de secreção enegrecida. — Foi você que o trouxe aqui.
Rilke quis matá-lo. Enxugou as lágrimas, mas elas continuaram a escorrer, e ela enfiou o rosto na umidade da barriga de Schiller, para que ninguém as visse. Ele cheirava a cobre e fuligem; a algo velho, a um objeto antigo que houvesse sido descoberto. Queria poder entrar nele, trancar-se em seu sangue. Desse jeito, não o deixaria morrer.
— Eu tinha tanta certeza — disse ela.
— E estava tão errada — murmurou Brick.
— Tudo bem, Brick — falou Daisy. A voz dela estava próxima e, quando Rilke levantou a cabeça, viu a menina perto dela, a mão repousando na testa de Schiller. Não queria que Daisy o tocasse, mas não encontrava forças para objetar. — Schiller, está me ouvindo? É Daisy.
Não houve resposta; ele podia já ser um cadáver. Daisy ergueu a cabeça, e Rilke percebeu que ela ainda falava com ele, mas com a mente. Olhou aquilo horrorizada, como se fosse ela que estivesse sangrando. Puxou-o para ela, repousando a cabeça dele em seu joelho.
— Estou falando sério, Schiller — disse Daisy. — Não se assuste. Eles vão cuidar de você.
— Do que você está falando? — perguntou Rilke. — Eu vou cuidar dele, só eu e mais ninguém, está me ouvindo?
Daisy não tirava os olhos de Schiller. O menino tossiu outra vez, e seus olhos opacos se desanuviaram. Ele olhou para Daisy, depois para Rilke.
— Está tudo bem, Schill — falou Rilke. — Você vai melhorar.
Você vai fazer o que eu mandar, ela lhe disse com a mente. Ele sempre tinha feito o que ela mandava, sempre. Rilke não era capaz de se lembrar de uma única vez em que ele a tivesse desobedecido; nenhuma vez em todos aqueles anos juntos. Porque ela sempre fazia o que era melhor para ele. Era função dela cuidar dele, e ele sabia disso, confiava nela. Você não vai morrer, não vou deixar. E então ela se deu conta da ideia insuportável de ficar sem ele. Porque nunca tinham passado um dia sequer separados, nem um único dia. Ele era tão parte dela quanto seu próprio coração, seus próprios pensamentos. Incubados juntos, nascidos juntos, tinham vivido juntos, eram um só. Porque não posso viver sem você, Schill. Não consigo. Então, descanse, melhore, e voltaremos às coisas como eram antes.
Ele sorriu para ela. Rilke visualizou a vida se esvaindo dele, e mais daquele fluido de um negro viscoso saiu de sua barriga, como se seu sangue tivesse sido envenenado. Ele abriu a boca para falar, mas, em vez disso, vomitou um jato escuro. Seu corpo era uma enorme coisa quebrada que ele não conseguia mais controlar; que ela não conseguia mais controlar.
— Schiller! Não! — gritou Rilke. Pegou o queixo dele, erguendo-o. — Não vou deixar você morrer, está me ouvindo? Você não vai me deixar.
— Não estou com medo — disse ele em um sussurro gorgolejante. — Não dói.
— Mas eu preciso de você, irmãozinho — disse Rilke. — Eu te amo.
A resposta dele não foi uma palavra, mas um pensamento — um pensamento emitido com tanta força que Rilke o sentiu. Era dourado, luminoso, repleto do aroma de lavanda e dos livros velhos que havia na biblioteca de casa, o lugar onde passavam dias e mais dias lendo um para o outro, brincando de esconde-esconde, e, depois, onde ela se escondia das coisas ruins, onde o irmão cuidava dela; algo tão maravilhoso que parecia soprar para longe os últimos vestígios de escuridão da cidade. De repente, era verão de novo, quente, silencioso, cheio de um riso que era sentido, mas não ouvido. Por que não podiam estar lá, no assento perto da janela da mãe, as pernas dela repousando nas dele enquanto contavam as histórias do que fariam ao sair de casa? Não, isso nunca. Rilke afundou a cabeça no peito de Schiller, abrindo caminho como se pudesse arrancar a doença dali. Schiller conseguiu erguer a mão, colocando-a na nuca dela, a pele dele tão fria que era como se estivesse congelando de novo.
— Eu sinto muito — soluçou ela. — Sinto muito mesmo.
Não precisa se desculpar, disse ele, e ela entendeu que seria a última vez que ouviria sua voz. O corpo de Schiller estremeceu, a mão se afrouxando e escorregando, batendo contra o chão. Ele inspirou pela última vez, mas não havia em seus olhos nem medo nem tristeza, só um lampejo de alívio e, em seguida, absolutamente nada. Um gotejar de chamas ardeu no peito dele, subindo, crescendo, voando para cima com as asas abertas, uivando enquanto se esvanecia na luz. O fogo pareceu dilacerar a raiva dela em suas entranhas, porque Rilke viu-se de pé, gritando para ele:
— A culpa é sua! Você fez isso com ele! Desgraçado! Desgraçado!
Mas ele já tinha sumido. Ela se voltou para Daisy, depois para Cal, e, em seguida, para Brick, querendo matar todos eles, socá-los até que morressem por terem matado Schiller. Porém, sem ele, Rilke era apenas meia pessoa, meia alma, e não conseguia se equilibrar. Cambaleou e caiu ao lado do corpo do irmão, agarrando-se a ele como se pudesse ressuscitá-lo, tremendo à medida que o calor de seu gêmeo partia com o anjo rumo ao céu que clareava.
Cal
Londres, 13h12
Pareceu ter passado uma eternidade antes que alguém dissesse algo. Cal se levantou e ficou olhando para Rilke enquanto ela soluçava abraçada ao irmão morto. Exceto por ela, o único som era o bate-bate dos detritos que despencavam do céu, dando a impressão de uma chuva de granizo.
— Sinto muito — disse Daisy. Ainda estava ajoelhada no chão junto a Rilke e Schiller, com a mão no peito do menino. — Sinto muito, muito mesmo, Rilke.
Rilke não respondeu: seus os olhos escuros e pequenos encaravam algo que ninguém mais podia ver. Daisy olhou para Cal, que abriu um arremedo de sorriso e estendeu as mãos para ela. Daisy se levantou com esforço e correu para ele, abraçando-o com força, os delicados soluços dela arrebentando contra o peito do garoto.
— E agora? — perguntou Brick. Ele chutava fragmentos de pedra no chão, as mãos enfiadas nos bolsos. — Acabou, enfim. Quer dizer, para nós.
— Não — falou Daisy, enxugando os olhos. — Precisamos ir atrás dele. Ele não morreu.
Os olhos de Brick se arregalaram, e ele fez que não com um gesto de cabeça.
— De jeito nenhum. Fizemos nossa parte. Mandamos aquilo para longe. Agora os outros que se virem com a situação.
— Não tem mais ninguém para fazer isso, Brick — respondeu ela. — Só a gente.
— Mas quem são vocês? — perguntou Graham, o sujeito da moto. Ele ainda estava do outro lado da rua, logo atrás do limiar invisível da Fúria. Ficava olhando nervoso para o céu, o celular aberto na mão. — Não consigo entender.
— Bem-vindo ao clube — respondeu Brick.
— Você não acreditaria se a gente contasse — acrescentou Daisy.
O homem mais fungou que riu.
— Não acreditaria que vi você em chamas, com asas, voando lá no alto e enfrentando... o que era aquela coisa? Vamos ver se eu acredito ou não. Minha mente agora está mais aberta do que estava de manhã.
— Não importa o que somos — disse Daisy. — Importa o que precisamos fazer. Estamos aqui para detê-lo.
— Mas o que é aquilo?
— O mal — falou Marcus, a voz vindo de onde se encontrava encolhido no chão. — É Lúcifer, o demônio.
Porém, “o mal” era o termo errado, pensou Cal. Aquilo era mais um buraco negro, sem mente, mecânico, devorando matéria e luz, até que não sobrasse nada. Só não disse isso porque pareceu muito idiota.
Graham negou com um gesto de cabeça.
— Estão me dizendo que vocês são os mocinhos? — perguntou ele.
Cal pensou na polícia em Hemmingway, nas dezenas de policiais transformados em cinzas. Olhou para a cidade, observando o poço que fora escavado bem no meio dela — com mais de quinze, talvez mais de vinte quilômetros, e só Deus sabe com que profundidade —, aberto durante uma batalha entre os anjos e a tempestade. Quantas pessoas haviam morrido por conta disso? Um milhão? Não tinha sido culpa deles, mas Schiller, Daisy e o novo garoto não tinham exatamente economizado na força do ataque.
— Sim — disse Daisy. — Somos.
Graham pareceu ruminar isso por um instante, e, em seguida, colocou o telefone no ouvido, falando bem baixo para que Cal não o ouvisse.
— É sério — reclamou Brick. — Não é mais problema nosso.
Graham agora berrava, com as bochechas vermelhas de raiva.
— Esta pode ser nossa única chance — falou o homem. — Está disposto a apostar tudo nisso? General? General?
Ele fechou o telefone com força, andando de um lado para o outro. Olhou para o céu, protegendo os olhos do sol, cada vez mais brilhante.
— Ok. Temos um problema. Precisamos ir para o subterrâneo. Tem uma estação de metrô aqui perto; ela vai nos proteger até as equipes de proteção contra radiação chegarem.
— Proteger do quê? — perguntou Daisy. — Acho que a tempestade não vai mais voltar. Acho que a gente deu um susto nela.
— Não da tempestade — disse Graham. — De uma bomba nuclear.
— Do quê? — perguntou Cal.
— De um ataque nuclear tático contra a cidade. O alvo principal era a tempestade, mas estão mirando em vocês também. Eles acham que vocês são parte disso.
— Mas por quê? — disse Daisy, desvencilhando-se de Cal.
— Por causa do que aconteceu no litoral. Vocês destruíram uma cidade inteira lá. Ela simplesmente sumiu do mapa.
— Mas não foi a gente — falou Daisy, olhando para Rilke. — Foi... Foi um acidente. Não foi culpa nossa.
— Não sou eu que decido — afirmou o homem. — O ataque já foi lançado. Temos minutos. Vamos!
Ele voltou pelo caminho de onde viera, mas ninguém o seguiu.
— Rilke, o que foi que você fez? — perguntou Cal. — Você acabou com uma cidade inteira? — Ela não respondeu, nem parecia ouvi-lo. — Meu Deus!
— Deixe-a em paz, Cal — falou Daisy. — Não foi culpa dela.
— Não foi culpa dela — repetiu Brick. — Ela é uma psicopata, vocês já esqueceram? Deixem-na aqui; deixem essa maluca fritar.
— Estou falando sério — disse o homem, olhando para trás. — Vocês podem conversar quando estivermos no metrô, mas, se não começarem a se mexer agora mesmo, todos vão morrer.
— Não — disse Rilke. — Não vamos.
Ela se levantou lentamente, alisando a roupa em uma tentativa de tirar o sangue e a terra que a enlameavam. Havia algo em seus olhos, algo que ardia. Virou-se para o homem, depois para Daisy.
— Você consegue encontrá-la? — perguntou ela.
— A tempestade? — Daisy arrastou o pé no chão. Estava faltando um dos pés de calçado, reparou Cal. — Não sei. Acho que sim. Por quê?
— Porque vou exterminá-la — falou ela. — Ela vai morrer por causa do que fez com o meu irmão.
— Escutem — disse Graham. — Se não formos embora, não vamos sobreviver.
— Ele tem razão — falou Brick, indo aos tropeços atrás do homem. — Precisamos ir com ele.
— E depois? — perguntou Cal. — Vamos nos esconder? E o que é que você vai fazer quando ele começar a tentar arrancar a sua cara?
Brick parou, sem saber o que fazer. Soltou um palavrão, pegando uma pedra e lançando contra o que restava de uma casa.
— A gente devia ir, devia terminar isso — disse Cal. — Você viu do que é capaz, Daisy. Você assustou aquela coisa. Feriu ela, acho. Algo que pode ser ferido pode morrer, não pode?
— Acho que sim — respondeu Daisy. — Acho que ela fugiu porque a gente podia matá-la.
— Então vamos fazer isso — disse Rilke, aproximando-se de Daisy. — Leve-nos até ela.
— De jeito nenhum — falou Brick. — Você é maluca.
Algo rosnou acima, uma trovoada distante. O coração de Cal pareceu parar por um segundo, porque pensou que a tempestade tinha voltado. Então se deu conta de que era outra coisa, talvez um avião, ou um míssil. O barulho ia aumentando, rasgando um caminho no céu.
— Chegou a hora — disse Graham. — Última chance.
Rilke olhou para Cal, o semblante dela tomado por uma fúria selvagem. Havia uma pergunta ali, tão nítida quanto se a tivesse enunciado. Você vem? Que escolha ele tinha, na verdade? Se não enfrentassem a tempestade, cedo ou tarde o mundo inteiro ficaria daquele jeito. Fez que sim com a cabeça. Rilke voltou-se para Marcus, que abriu um ligeiro sorriso.
— Estou dentro! — falou ele.
— E eu também! — concordou Howie. — Vamos acabar logo com isso.
Todos se viraram para Brick, o barulho no céu aumentando a cada instante. A bomba não precisava atingir o chão, Cal sabia. Seria detonada acima da cabeça deles, onde causaria o máximo de estrago. Quanto tempo tinham? Um minuto? Cinco? Brick devia estar pensando a mesma coisa, porque soltou outro palavrão.
— Certo — disse ele. — Vamos fazer do seu jeito.
— Vá logo! — Daisy falou para o homem. — Antes que seja tarde demais!
— E quanto a vocês? — respondeu ele. — Vocês precisam ir para o subterrâneo também, para um lugar seguro!
— A gente vai ficar bem — falou ela. Fechou os olhos, as chamas se espalhando lentamente a partir do peito, as asas se estendendo como as de um cisne ao despertar. — Diga a eles que estamos do lado deles — continuou, o fogo frio chegando ao seu pescoço. — Diga a eles que estamos tentando ajudar. E obrigada pelo aviso.
O incêndio a envolveu e, quando abriu os olhos, era como se fossem as janelas de um grande navio em chamas. O ar vibrava perante sua força, aquele mesmo zumbido de anestesiar a mente, mas, ao fundo, o rugido de um avião ficava cada vez mais alto.
— Tem certeza? — perguntou Brick. — Quer dizer, a gente poderia apenas...
Daisy não o deixou terminar, apenas ergueu os braços e virou o mundo do avesso. O estômago de Cal revirou. Viu Marcus desaparecer, depois Adam, e, em seguida, Howie. Rilke também, com um último olhar de partir o coração para o corpo do irmão. O homem, Graham, foi levado com eles. Na hora em que partiram, algo explodiu acima, com uma luminosidade que parecia ainda mais forte do que a de Daisy, uma explosão sem som que deixou o céu prateado. Cal viu o estrago que a bomba causou ao explodir, uma reação em cadeia que destruía tudo. Um anjo teria sido capaz de resistir àquilo? Será que teriam sobrevivido se não tivessem sido avisados?
Depois não houve nada além da vertigem e do turbilhão do éter, além da terrível constatação do que os aguardava do outro lado.
Daisy
Londres, 13h26
Desta vez, ela manteve os olhos abertos.
Era como quando o pai costumava fazê-la voar, quando era criança. Ele a segurava com força, as mãos enormes envolvendo as dela, e, em seguida, ele a girava em um rodopio, erguendo-a no ar. Das primeiras vezes, ela tinha fechado os olhos, com medo de olhar, apesar da emoção. Mas, quando teve certeza de que ele não a soltaria, mandando-a em um voo por sobre o telhado de casa, ela os abriu, vendo o mundo se mover tão rápido que ficava só um borrão — a única coisa constante era o rosto sorridente do pai, que girava com ela. Ela era a lua da gravidade dele; sabia que, por mais rápido que ele fosse, ela nunca se soltaria dali.
Não era o pai que a prendia agora, era o anjo, e, enquanto ela escapava do mundo, desprendendo-se das gotas de realidade como um cão que se sacode após nadar, teve a impressão de vê-la. Era como se o mundo fosse feito de areia colorida espalhada por um furacão. Na hora em que ela saiu do tempo — com Cal, Brick, uma pobre coitada e perdida Rilke, e os demais ao lado —, a paisagem foi completamente apagada. A luz branca que Daisy vira, aquela que ardia no céu, mais forte do que o sol, mais forte até do que a luminosidade dos anjos, era uma bomba, deu-se conta, enfim. Espiou seu próprio coração com os novos olhos, viu os átomos colidindo, a força que explodia de cada um enquanto a reação se espalhava. A explosão tentou alcançá-los, mas — graças àquele homem e a seu aviso — já tinham escapado pelas fendas, passado para um lugar onde nada, nem mesmo uma explosão nuclear, poderia lhes fazer mal. Pouco a pouco a luz se apagou, a cidade destroçada desapareceu, deixando-os suspensos em um local vazio e silencioso.
Mas não por muito tempo. Logo sentiu os dedos da realidade esgueirando-se por suas costelas, pela barriga, do mesmo jeito que você sente a gravidade tentando puxá-lo para baixo. A vida os queria de volta; ela não gostava nem um pouco quando arrumavam um jeito de se desvencilhar dela. Daisy concentrou-se, mantendo os olhos abertos — fazer isso parecia desacelerar o processo, dando-lhe mais tempo para pensar. Agora não havia em volta dela nada além de escuridão, mas era um tipo estranho de escuridão, que também era luz — podia ver os outros flutuando a seu lado, como se estivessem todos afundando. Estavam com os olhos fechados, mas, mesmo que não estivessem, ela achava que não seriam capazes de enxergá-la. Não é igual para eles, pensou ela. Isto acontece num piscar de olhos, em uma única batida do coração. Era engraçado vê-los daquele jeito, como se dormissem, e Daisy quase deu uma risada.
Até que sentiu. Uma perda súbita. Jade, pensou, vendo a garota por um instante em uma floresta cercada de soldados. Em seguida, o som de um tiro, e mais nada. Sinto muito, disse ela, seu anjo outra vez anestesiando a tristeza.
O mundo em volta dela vibrava, bem de leve, apenas um ligeiro roçar no ar, na pele dela. O tremor ia ficando mais forte, mais insistente. Era o universo, ela percebeu; eles corriam o risco de fragmentá-lo. As pequeninas engrenagens giratórias da realidade não tinham sido feitas para mantê-los ali. O que aconteceria se ela resistisse por mais tempo? Talvez o tempo e o espaço se fechassem atrás dela, encerrando-os para sempre, trancafiando-os dentro daquele bolsão de nada. A ideia assustou-a, então começou a relaxar a mente, pronta para deixar a vida puxá-la de volta.
Só que... alguma coisa a deteve, outra ideia. Vasculhou na cabeça, na alma, atrás do anjo que agora vivia ali, mas ele não reagiu, não pareceu notá-la, o que não era de surpreender. Esses anjos não eram anjos de jeito nenhum, não aqueles anjos sobre os quais tinham lhe falado. Pareciam mais bichos, algo assim. Não, pareciam mais máquinas. Não sabiam se comunicar, pensou ela. Talvez nem soubessem que a comunicação era uma possibilidade. Eram absolutamente obstinados, construídos para um propósito: combater o homem na tempestade em qualquer lugar e ocasião. Tudo o mais lhes era alheio, incognoscível. Tinham sido programados para defender a vida, mas sequer conheciam a mágica, a maravilha daquilo por que lutavam. Se isso era verdade, pensou ela, era horrível.
As vibrações em volta dela pioravam, fazendo seus dentes rangerem ainda que tivesse total certeza de que ali, naquele lugar, ela não tinha dentes. Os outros se agitavam onde estavam suspensos, em pleno ar, parecendo lençóis secando ao sabor de um vento forte, os rostos ficando distorcidos e estranhos. Daisy diminuiu a força com que se agarrava ao éter, permitindo-se escorregar de volta para o mundo, só se ancorando de novo quando sentiu algo mover-se dentro do peito. O anjo... Será que o anjo estava querendo lhe dizer alguma coisa? Ou será que estava só se mexendo ali, do mesmo jeito que ela costumava se mexer quando estava em um carro numa viagem longa, tentando achar uma posição confortável?
Me diga, pediu ela. Pode falar comigo, sou sua amiga. Me diga quem você é, por favor.
Uma coceirinha dentro da alma, uma sensação que era indolor mas, ao mesmo tempo, desagradável, como se ela tivesse penas crescendo na medula óssea. Era dessa maneira que eles falavam? Daisy se sentia como uma das formigas que o pai tinha aspirado. Até onde sabia, aquelas criaturas podiam estar tentando chamá-los, falar com eles. Mas como pode uma formiga se comunicar com um humano, e como poderia um humano se comunicar com um anjo? Era impossível.
No entanto, surgiu subitamente um pensamento em sua cabeça, uma sensação. Era desconfortável também, penas que coçavam, eriçando-se na carne de seu cérebro, mas ela parecia entender a tradução. Esse lugar, esse lugar horrendo, vazio, que tremia, congelante, rangente, perdido no tempo, era o lar. Era ali que os anjos viviam até que fossem convocados para a luta, e era para lá que voltavam quando a guerra terminava. Não havia vida, não ali, nem felicidade, nem diversão, nem família, nem amizade, só lampejos de dever imersos em zilênios de nada.
É isso mesmo?, disse ela, com a sensação de que as vísceras tinham sido removidas e jogadas fora. Essa ideia era terrível, insuportável. Mas o anjo não disse mais nada, não de um jeito que ela conseguisse entender. Coitado. Coitado, tão sozinho. Queria poder fazer algo. Queria poder ajudar você. Você pode ficar comigo para sempre, se quiser. Prometo que nunca mais mando você para cá.
E, assim que disse essas palavras, desejou não tê-las dito, porque não falava realmente a sério. Depois disso — se houvesse depois; se sobrevivesse e houvesse um mundo onde viver —, queria voltar para sua vida, para... talvez não para sua casa, porque isso seria triste demais. Mas havia outros com quem ela poderia viver, talvez a avó, ou com Jane, irmã da mãe. Ao menos poderia tentar ser normal de novo, e, após algum tempo, quem sabe, talvez isso tudo fosse parecer uma memória distante, apenas um sonho. Poderia voltar para a escola, ir para a universidade, casar-se, ter filhos e ser uma pessoa normal, ser simplesmente Daisy. Porém, nada disso seria possível se tivesse um anjo dentro de si, se a qualquer momento pudesse se incendiar e transformar o planeta em cinzas.
Afastou aqueles pensamentos, na esperança de que o anjo não tivesse ouvido sua oferta, ou ao menos não a tivesse entendido. Arrancando do mundo os ganchos da mente, deixou-se cair, sentindo os ouvidos tamparem-se com a mudança de pressão. Os outros caíam junto, aquelas pequenas chamas azuis ardendo no peito de todos. Quer dizer, todos menos Brick. A chama dele tinha crescido, espalhando-se pelos ombros e descendo para a barriga.
Ele é o próximo, pensou Daisy enquanto a descida deles se acelerava, o rugido do vento nos ouvidos, o estrondo da queda fazendo os ossos chacoalharem. Fechou os olhos outra vez contra a vertigem, contendo-se ao máximo para não gritar. Era assustador, mas ela também sentia outra coisa, algo diferente — entusiasmo. Era uma sensação tão peculiar, aliada ao medo, que precisou de um instante para entender que a sensação não era dela, mas, sim, do anjo — a emoção da fuga, de sair daquele lugar, de nascer outra vez no mundo. O que quer que estivesse dentro dela — sobrenatural, anjo ou máquina cósmica intemporal projetada para manter o equilíbrio do universo — estava ansioso, desejoso, queria estar longe dali.
Com o fim da queda, com o mundo recuperando sua forma ao redor, Daisy outra vez desejou não ter dito o que dissera. E se, quando tudo terminasse, o anjo não quisesse ir embora?
Brick
São Francisco, 13h26
Quase na mesma hora em que os destroços da Londres esburacada tinham desaparecido, outra paisagem apareceu, envolvendo Brick com força suficiente para fazê-lo cambalear. Foi para trás, tropeçando nos próprios pés, a luz do sol como um punho esmurrando seu rosto. Seu estômago revirou, o jato azedo acumulando-se na boca enquanto o garoto caía. Caiu sentado, cuspindo, gemendo por entre os lábios úmidos e tentando ver além da umidade nos olhos.
Estavam em uma floresta, num pinheiral que, à primeira vista, parecia tão semelhante ao de Hemmingway que Brick teve um lampejo de saudade, quase de partir o coração. Porém, não demorou a perceber que ali as árvores eram maiores, e balançavam com força por causa da onda de choque criada pela chegada de Daisy. Os galhos se soltavam, desabando no chão; vinte, trinta segundos passaram-se antes que tudo ficasse imóvel. Uma brisa vagava pela quietude da penumbra, carregando a fragrância das coníferas. Através das árvores, Brick viu que o sol estava mais baixo, como se fosse manhã, e perguntou-se aonde Daisy os teria levado. Os outros estavam espalhados pelo solo da floresta, todos limpando o resquício de vômito dos lábios, menos Daisy e Howie, o novo garoto.
Brick se levantou, ignorando o modo como o mundo parecia girar. Não entendia nada do que estava acontecendo, mas tinha certeza de que ser repetidas vezes desfeito e refeito em átomos não devia fazer nada bem. A verdade era que não estava mesmo se sentindo muito bem. Havia algo de errado em seu estômago. Colocou a mão nele, tendo a sensação de que faltava um pedaço, um pedaço que fora deixado em Londres. Não doía, só era esquisito. Essa ideia, de estar danificado, deixou-o com raiva. Ou, ao menos, deveria tê-lo deixado. Porém, estranhamente, aquilo apenas lhe inspirava calma.
— Onde estamos? — perguntou Cal, levantando-se com dificuldade.
Daisy, outra vez apenas uma menina, deu de ombros, mirando a floresta com uma expressão confusa. Adam correu até ela, e ela o abraçou.
— Eu... não sei. Achei que seríamos levados para onde ele estava.
Brick olhou através das árvores, esperando ver o céu escurecer, mas havia apenas a luz do sol e o canto dos pássaros.
— Talvez você o tenha matado — disse ele. — Talvez seja o fim.
— Não — respondeu Daisy. — Não matamos. Os anjos teriam ido embora se o homem na tempestade estivesse morto.
Por que ela parecia tão nervosa ao dizer isso?
— Talvez eles tenham ido embora — falou Brick. — Como sabe que eles não voltaram para o lugar de onde vieram?
Daisy fechou os olhos e, quando os abriu de novo, eram duas poças de metal fundido tão brilhantes que Brick precisou erguer o braço para proteger a vista.
— Nossa! — Foi tudo o que ele conseguiu dizer.
— Vou dar uma olhada por aí — disse Daisy, desvencilhando-se de Adam.
Brick ouviu o ssshhh do fogo quando ela se virou, seguido do bater lento e vigoroso de asas. Entreviu-a, em meio à pele imunda e sardenta do braço, ardendo pelos galhos. Era como ver o sol nascer, e logo ela estava suspensa contra o azul, a coisa mais brilhante no céu. Brick mirou Cal, depois Marcus e Howie, e, enfim, Rilke, que estava ajoelhada no chão, encolhida, seus olhos eram duas pedrinhas escuras que não piscavam. Perguntou-se se deveria dizer algo a ela, mas achou melhor não. Por mais que Rilke fosse má, acabara sentindo pena dela. Não devia ser nada fácil saber que você tinha provocado a morte do próprio irmão.
Por outro lado, ela tinha dado um tiro em Lisa, assassinado sua namorada bem embaixo do seu nariz. Esfregou a barriga, perguntando-se o que seria aquilo que lhe causava aquela sensação tão esquisita. Era quase uma sensação de alívio.
— O que aconteceu com aquele homem? — perguntou Cal. — Graham. Ele não veio junto?
— Pois é — disse Marcus. — Veio. Acho que aquilo é ele.
O desengonçado garoto apontava para o espaço entre duas árvores, e, quando Cal se virou e olhou, levou a mão à boca, engasgando. Brick aproximou-se deles, curioso, espreitando as sombras e vendo um amontoado vermelho, pequeno e úmido, como o embrulho que um açougueiro lhe daria. Só que esse tinha o que parecia metade de um rosto junto, e uma cordilheira de dentes enterrada em uma órbita sem olho. Afastou-se, fechando os olhos com força.
Cal soltou um palavrão.
— Mas que droga aconteceu com ele?
— Ele não era um de nós — disse Rilke, sussurrando as palavras para a terra. — Não podia sobreviver a isso, e se desfez.
Ninguém falou nada por alguns instantes, e, em seguida, Cal pediu:
— Bem, não contem para Daisy. Acho que ela não lidaria muito bem com isso.
Brick não se preocupava mais com Daisy, não mais. Ela parecia capaz de enfrentar qualquer coisa. Ele, por outro lado... Achava que mais uma reviravolta, mais um horror, poderia ser a última gota; poderia arrancar tudo o que sobrava de sua sanidade e fazer da sua cabeça uma tigela vazia. E, no entanto, não sentia medo, não sentia praticamente nada naquela hora, o que o desconcertava.
— Vou cobrir isso — disse Marcus, andando em círculos até achar um galho solto, usando-o para cobrir o cadáver deformado do homem. Recuou com rapidez, limpando as mãos nas calças.
O rosto do homem não era mais visível, mas Brick podia vê-lo em sua cabeça, claro como o dia. Imaginou que provavelmente o veria para sempre, até o fim. E, de novo, não havia uma sensação, mas a ausência dela, algo que não conseguia entender direito. Um pedaço dele que tinha estado ali até onde se lembrava agora havia sumido. Dessa vez, levantou a camiseta e cutucou de verdade a barriga suja de terra.
— Está com fome? — perguntou Howie, o novo garoto. Brick deixou cair a camiseta e o encarou. O garoto tinha uns treze ou catorze anos, e, mesmo que tivesse se transformado, sua pele ainda estava marcada por hematomas e cortes. — Deus sabe que eu poderia bater um enorme prato de qualquer coisa agora mesmo. Será que tem algum lugar aqui perto onde a gente possa comer?
— Como você pode estar com fome? — perguntou Cal.
— Comer é necessário — disse Howie.
A floresta ficou mais brilhante com o retorno de Daisy, seu fogo sugado de volta para os poros na hora em que pousou. Ela balançou a cabeça, e o motor dos olhos foi desligando.
— Estamos no alto de um grande declive — disse ela, apontando para a esquerda. — Tem uma cidade para o lado de lá, com muitos morros e uma torre pontuda. E o mar. E também uma grande ponte laranja. Não vejo nenhum sinal do homem na tempestade.
— Ainda acho que você assustou de vez aquele canalha — disse Brick, estremecendo. — Você arrancou a cara dele. Acha que tem volta depois disso?
Como ninguém respondeu, ele levantou a cabeça e viu que todos o olhavam. Daisy tinha um sorriso suave nos lábios. Ele franziu o rosto para ela, preparado para aquela raiva fervilhante surgir do estômago, quase decepcionado quando isso não aconteceu. Só havia aquela mesma calmaria em sua barriga, aquela sensação de vazio. Entendeu de repente: a raiva não estava mais ali. Deu um tapa na barriga, como se alguém tivesse lhe tirado um rim. A raiva era tão inerente a ele que era quase assustador não senti-la.
— Que foi? — perguntou ele, com todos ainda o mirando. — O que aconteceu?
— É você — disse Cal. — Olhe.
Ele não queria, mas que escolha tinha? Levantou a camiseta outra vez, e a pele ali estava azulada. Poderia ter sido a terra, só que havia um brilho brando, um cintilar sutil quando a luz batia. Colocou a mão, sentindo que era frio. Esfregou a pele, soltando flocos de gelo.
— Não! — disse, esperando o medo, a raiva, qualquer coisa. Porém, seu estômago estava vazio, sua cabeça estava vazia. Aquilo era ainda pior do que o gelo que lentamente subia por suas costelas, que se esticava das pontas dos dedos como uma infecção, transformando suas mãos em pedra, porque ele não ligava de verdade para o corpo. Nunca tinha gostado dele: era alto demais, com um rosto agressivo demais. Mas a raiva... era o que ele era, era o que o fazia ser Brick. Tirando isso, o que sobrava?
— Apenas se entregue — disse Daisy, aproximando-se dele. — Sei que é assustador, mas eles vieram ajudar. Eles vão cuidar de você, mantê-lo em segurança.
— Como fizeram com Schiller? — retrucou Brick, os lábios frios demais para dar a devida forma às palavras. Tinha a sensação de que saíra para uma tempestade de neve, a pele congelada, rígida como plástico. Cambaleou, batendo em uma árvore, tentando levar as mãos ao rosto, ou virar a cabeça. Os outros perderam a nitidez, e o mundo ficou cinza. Por que aquilo estava acontecendo? Não precisava ser ferido primeiro? Como Schiller, como Howie?
As coisas estão se acelerando, disse Daisy, a voz dela no centro do cérebro dele. Porque não há muito tempo. Não se assuste, Brick, estou aqui.
Ele sentiu que estava caindo, nenhuma dor ao pousar na grama espinhenta da floresta. Não sabia se olhava para cima ou para baixo. Uma rajada de pânico provocou um baque em seu coração, um rápido lampejo de raiva, tragado com rapidez pela mesma calma avassaladora.
Não resista, disse Daisy.
Ele resistiu, tentando reavivar a raiva, como um piloto em queda livre tentando religar um motor morto. Outra explosão seca, branda demais, breve demais para combater a paralisia. Tentou de novo, e, desta vez, reuniu forças para abrir os olhos. Ficou de pé com dificuldade, tropeçando em direção à luz, sem se importar para onde estava indo, querendo apenas se mexer, se afastar. Deu três passos antes de perceber que não estava mais na floresta. Se deu conta de que não tinha mais pés. Estava suspenso dentro de um palácio de gelo, as paredes mudando de lugar constantemente, preenchidas com a vida dos outros. Era o mesmo lugar que havia visitado nos sonhos ao adormecer na igreja.
Virou-se, em busca de uma saída, encontrando-se face a face com Daisy. Ela estava envolvida em fogo, o corpo como uma teia cintilante de luz, o rosto saído de um sonho, não exatamente real, não exatamente capaz de manter sua forma. As asas arquearam-se acima da cabeça dela, erguendo-se como uma fonte de fogo, cuspindo faíscas derretidas em azul, vermelho e amarelo. Ela estendeu para ele uma mão que não era realmente uma mão, fria contra o rosto dele.
Você confia em mim, Brick?
Ele não respondeu, só ficou encarando-a, encarando a criatura que a tinha possuído. Tudo nela emanava poder — uma energia pura, impoluta, concentrada. Se quisesse, ela poderia arrebentar o mundo, fazendo dele fragmentos de poeira e sangue, e, no entanto, não havia nada naquele ato que prenunciasse violência, raiva, ódio.
É porque eles são bons, disse Daisy.
Não, eles não eram bons. Não havia nada neles, assim como não havia emoção em uma arma nem em uma bomba, só uma coleção de partes móveis que faziam o que quer que lhes mandassem fazer. Schiller tinha provado isso ao destruir Hemmingway, quando matara aqueles policiais. Talvez, então, não fosse tão ruim ser poderoso, ter o controle. Se seu anjo tivesse sido o primeiro a nascer, se isso tivesse acontecido em Hemmingway, jamais teria deixado Rilke descer ao porão, e Lisa ainda estaria viva.
Pensar em Rilke fez seu estômago revirar, ainda que Brick tivesse bastante certeza de que ali naquele lugar, qualquer que fosse, ele não possuía um estômago. Alguma coisa começou a arder nele, como se uma vela tivesse sido acesa. Essa coisa, essa criatura — não um anjo, é o termo errado; essa coisa é mais antiga do que a Bíblia, mais antiga do que a religião, mais antiga do que as estrelas —, tentava sufocar seu medo e sua raiva. Era parte do trato, ele percebeu; em troca do fogo, você precisava dar uma partezinha de si, as emoções que poderiam levá-lo a usar esses poderes em outra direção. Sentiu o calor bruxuleante em suas vísceras se ensopar.
Apenas deixe acontecer, disse Daisy. Ele precisa da sua ajuda.
Ele precisava de Brick, e Brick também precisava dele. O garoto relaxou, inspirando profundamente o ar que na verdade não existia, tentando se desligar da raiva. Por ora, ao menos. Essa criatura não o conhecia, não entendia que ele era feito de raiva. Nada podia deletá-la. Fingiria estar calmo, acompanharia a criatura, mas sua fúria ainda estaria ali. Sempre estaria ali. Mesmo com um ser como aquele dentro dele, era capaz de encontrá-la.
E, quando a encontrasse, Rilke pagaria caro.
— Ok — disse ele a Daisy, sorrindo para ela com seus lábios inexistentes. — Estou pronto.
Daisy
São Francisco, 13h38
Daisy deslizou de volta para o mundo real a tempo de ver o anjo de Brick nascer. O fogo ardia através da pele dele, começando pelo peito e se espalhando com rapidez. Ele abriu a boca para gritar, uma luz branca subindo pela garganta, os olhos irrompendo em supernovas. Suas costas se dividiram, asas abriram-se com força suficiente para rachar o tronco da árvore atrás dele, enchendo a floresta com barulhos ao cair. Resistia à transformação, lançando-se do chão para os galhos acima, com gritos disparando de sua boca, altos o bastante para fazer o chão tremer. Os pássaros dispersaram-se das árvores, tantos que fizeram o céu escurecer.
Fique calmo, ela lhe disse enquanto ele despencava pela folhagem, chocando-se contra o chão. Ele esperneava, como se alguém o tivesse coberto de gasolina e ateado fogo, aquelas asas enormes bruxuleando até ficarem quase invisíveis, e depois se acendendo de novo. Calor nenhum saía dele, só um frio tremendo, que transformava a terra em gelo. Dedos de luz se projetavam do gelo, procurando Brick e, depois, desabando no nada. E aquele mesmo zumbido entorpecente agitava o ar, fazendo com que os ouvidos de Daisy doessem. Não tem problema, disse ela. Esse barulho. É esse o som do seu novo coração.
Brick decolou de novo, desta vez de lado, atravessando uma árvore e transformando seu tronco em farpas. Virou, retorcendo-se em uma profusão de chamas, gritando para cima com tanta força que Daisy viu alguns dos pássaros caírem do céu, despencando para a terra como pedras — dezenas deles.
Brick, chega!, falou ela. Ele deve tê-la ouvido, porque parou de se retorcer e ficou pairando a cerca de trinta centímetros do chão, as asas dobradas abaixo dele como se fossem um tapete voador. Ele levou a mão ao rosto, tateando-o, passando os dedos pelo peito e pela barriga.
— Tudo bem, cara? — perguntou Cal, ao lado de Daisy. — Brick?
— Ele vai ficar bem — respondeu Daisy. Brick?, falou ela com a outra voz, a da mente. Fale comigo. Aguardou a resposta, mas tudo o que podia sentir era algo saindo do garoto, algo que ardia com mais ferocidade do que o fogo. Não foi capaz de distinguir o que era com seus olhos humanos, então deixou o anjo assumir o controle, o mundo outra vez se rompendo em nuvens de átomos dançantes. Agora a coisa dentro de Brick estava mais límpida. Ele estava com raiva. Não fique assim. É por isso que eles anestesiam você, porque é mais fácil quando não está com raiva nem com medo. Brick, você precisa acreditar em mim.
Brick se virou para ela, o incêndio nos olhos encontrando-a. Ele resistia, tentando aferrar-se à raiva. Mas isso era ruim. Não era o que os anjos queriam.
É o que eu quero, disse ele. Com um leve bater de asas, endireitou-se, suspenso ali, com o chão abaixo dele já como um lago congelado, aquelas mesmas estranhas gavinhas de luz subindo antes de desaparecer. Daisy quase enxergava o que acontecia dentro dele — Brick tentando forçar-se a ficar com raiva, e o anjo resistindo. Ele começou a flutuar pelas árvores, seu novo corpo sugando o calor do ar, dos galhos, cobrindo tudo com fogo. Continuava falando enquanto ia, ainda que Daisy não soubesse se todos podiam ouvi-lo, ou se apenas ela podia.
Não pedi isso, não tive escolha. Então, se vou fazer isso, esse anjo — ou como queira chamá-lo — também precisa fazer algo por mim.
Como assim? Mas ela tinha a sensação de que já sabia. Lisa, a namorada de Brick, presa no porão de Fursville, encurralada como um rato por Rilke, e, em seguida, morta a sangue-frio. Daisy virou-se para os outros, vendo Rilke ainda agachada no chão, encarando Brick com olhos frios, escuros, assustados.
Não, falou Daisy. Brick, por favor, ela não sabia o que estava fazendo.
Sabia. Sabia sim.
Brick deslizou para a clareira como um guerreiro, as asas abertas, duas vezes maiores do que ele. Aquele som irradiava dele e de Daisy também, revirando o chão, fazendo as pedrinhas dançarem e as pinhas caírem dos pinheiros. Ele parou ao lado delas, seus olhos ardendo pela clareira, nunca deixando Rilke. Ela devia ter entendido, porque se levantou sem firmeza, recuando. A garota olhou para Daisy, e não precisava haver um laço telepático entre as duas para que Daisy entendesse que ela dizia: Socorro.
— O que está acontecendo? — perguntou Cal, os outros aglomerados em volta dele, como se pressentissem que algo ruim estava prestes a acontecer.
— Mantenha-o longe de mim! — disse Rilke, a voz dela quase sumindo no zumbido trepidante. Estava encolhida, parecendo tão fraca, tão humana. Foi recuando até bater nos galhos baixos de uma conífera, quase se afundando neles, como se pudesse se esconder. — Juro...
Jura o quê? Brick não disse essas palavras em voz alta — não podia, não sem abrir um buraco no mundo —, mas sua voz pareceu ecoar pelas árvores, quicando pela cabeça de Daisy. Os outros também ouviram desta vez, porque todos levaram as mãos às orelhas. O que vai fazer comigo, Rilke? Me dar um tiro?
Chega!, gritou Daisy, emitindo as palavras para ele. Não podemos lutar uns contra os outros, não podemos!
Cale a boca, Daisy, disse Brick. Isso não é da sua conta. Isso não tem nada a ver com nenhum de vocês. É entre mim e ela.
— Brick, já chega, cara, deixa para lá, tá bom? — Cal deu um passo para Brick, mas o garoto maior limitou-se a erguer a mão e flexionar os dedos. Foi como se um vento forte tivesse detido Cal, fazendo-o cair de costas e arrastando-o pelo chão.
Não!, gritou Daisy. Brick, não o machuque, por favor!
Ela estendeu as próprias asas, sentindo a força dentro de si, como se seu corpo estivesse cheio de um milhão de vespas. Do outro lado da clareira, Howie se transformou, irrompendo em chamas, os olhos como ferro derretido, mas ainda repletos de incerteza, olhando de um para o outro.
Não é ele que eu quero, falou Brick enquanto Cal se levantava. Só quero ela. Só quero mostrar a ela como é. Que tal, hein, sua psicopata?
Ele quase não falou a última palavra, o som dela fazendo as árvores se agitarem, provocando uma chuva de agulhas. Rilke emitiu um som que estava entre um resmungo e um ganido, como um rato encurralado contra a parede. Ela ficava batendo o punho cerrado contra o peito, e Daisy precisou de um momento para entender que ela tentava despertar seu anjo, tentava se transformar.
Agora já não é tão legal, não é?, prosseguiu Brick, movendo-se lentamente na direção de Rilke. Não é muito bom quando sou eu que tenho as armas e você está indefesa. Falei que ia matar você por causa daquilo, lembra?
Ele estendeu a mão outra vez, e, apesar de não tocar Rilke, a cabeça dela foi para trás. Ela gritou, os dedos pressionados contra a testa.
Por favor!, gritou Daisy. Ela olhou para Cal, para os outros, mas ninguém se mexeu. Até Howie, banhado em chamas, estava imóvel. Por que ninguém fazia nada?
— Ela era um deles! — justificou Rilke, engasgada com as próprias palavras. — Ela era um dos furiosos; precisava morrer!
Brick se aproximou, os dedos brincando com o ar. Mesmo através da névoa cintilante que o cobria, era óbvio que ele sorria. Estendeu um dedo, apontando-o bem para o rosto de Rilke.
Ela não precisava morrer. Não estava fazendo mal a ninguém lá embaixo. Você devia tê-la deixado em paz; ela teria melhorado. Mas você a matou, você deu um tiro na cabeça dela.
— Ela teria nos ferido! — falou Rilke. — Eu precisava...
Está gostando da sensação?
Ele moveu os dedos, e Rilke começou a levitar. Esperneava contra seu toque invisível, mas não havia nada que pudesse fazer.
Chega!, Daisy comunicou-se com a mente, e seus pensamentos tornando-se uma força física que atingiu Brick, arremessando-o para longe. Ele rolou duas, três vezes, as asas emaranhando-se, levantando um redemoinho de pó. Mas isso não durou muito. Em seguida, estendeu-as de novo, voltando-se para encarar Daisy. O sorriso tinha ido embora, seus olhos agora eram dois poços ardentes de fúria.
Fique fora disso, Daisy, disse ele, com as palavras de algum modo transmitidas para dentro do zumbido do coração do anjo, um tanto faladas, outro tanto pensadas. Não quero ferir você.
Ele não faria isso, faria?
Rilke, perguntei se estava gostando.
Ele projetou o dedo à frente. A uns seis metros de distância, a cabeça de Rilke foi para trás, sua cabeça se partiu. O sangue brotou de sua testa ferida, escorrendo por seu nariz e para dentro de sua boca, transformando os gritos dela em gorgolejos desesperados e horrendos.
Brick, não!, gritou Daisy. Brick ficou ali, mergulhado em chamas, seu dedo ainda se projetando. Era difícil distinguir a expressão em seu rosto. Ele deixou a mão cair, e virou-se para Daisy.
Eu... Eu não quis...
Rilke se afastou cambaleando, ofuscada pelo sangue. Seu pé bateu numa raiz e ela caiu, a cabeça batendo contra o chão com tanta força que lançou um halo escarlate na terra. A menina gemia, tentando rastejar para a frente.
Rilke?, disse Daisy, movendo-se na direção dela.
Só estava tentando assustá-la!, falou Brick, a voz dele como a de um garotinho dentro de sua cabeça. Desculpe!
Ele estendeu a mão outra vez, e o mundo se revirou, espalhando Cal e os outros como se fossem balinhas jogadas para cima. O ar se agitou, e uma onda de choque empurrou Daisy com tanta força que ela precisou estender as asas para se manter onde estava. O trovão ondulou pela clareira, não só no céu, mas também no solo, como se uma explosão tivesse sido detonada ali embaixo. Até Brick chacoalhou sob esse efeito, as chamas se apagando, os olhos arregalados e temerosos por um instante, antes que o incêndio irrompesse outra vez. Encarou as mãos, como se não pudesse acreditar no que tinha feito.
Daisy quase não teve coragem de olhar para Rilke. Porém, quando se virou, viu que a menina ainda estava viva, retorcendo-se no chão, as mãos no rosto. Daisy olhou de novo para Brick, perguntando: O que você...
Outro rugido, tudo se movendo, como se a floresta fosse uma vasta criatura que houvesse decidido se levantar e andar com eles no lombo. O chão se inclinava, Cal e Adam rolando entre as árvores nos braços um do outro, Rilke escorregando sob a cauda da conífera.
Não fui eu!, gritou Brick, sua voz-mente despojada de raiva, repleta de terror. Não fui eu, juro!
Aquele conhecido lamento infindo e horrendo se precipitou, o rugido uivante de um bilhão de trombetas no céu, um som que parecia capaz de agitar o universo e estilhaçá-lo. Daisy bateu as asas, impelindo-se para cima da floresta, subindo outra vez além das árvores trêmulas. À distância, estava a mesma cidade que vira antes, agora chacoalhando e virando pó com a força dos tremores. Do outro lado, o mar estava branco, febrilmente agitado.
Não fui eu, ouviu Brick dizer de novo, agora mais baixo. Claro que não tinha sido. Aquilo era muito pior.
Era o homem na tempestade.
Brick
São Francisco, 13h51
Brick foi atrás de Daisy, usando as asas para elevar-se acima da floresta. Examinava as mãos enquanto subia, esperando ver sangue nelas, como se tivesse esmagado a cabeça de Rilke com os próprios dedos. A raiva tinha sumido, submersa em um mar de calmaria, mas deixara um gosto amargo na boca, como o de bile. Não pretendia feri-la daquele jeito. Quase a tinha matado.
Ele irrompeu da copa das árvores, o céu se abrindo em volta, a vertigem apertando seu estômago como um punho de ferro. Nunca tinha gostado de altura, e, agora, estava ali, pairando cem metros acima da superfície com nada para impedi-lo de cair além de um par de asas flamejantes. A ideia era tão absurda, tão assustadora, que chegou a rir — uma risada insana e esganiçada que durou menos de um segundo, até que olhasse o horizonte e visse a cidade desaparecendo.
Ela se desfazia como um castelo de areia, os prédios sumindo primeiro, depois as colinas — montes sólidos de rocha — dissolvendo-se em poças. O chão tinha virado um oceano, um vasto redemoinho que girava em um círculo lento. O próprio oceano estava tão branco que poderia ser feito de neve, gemendo ao ser sugado para o vórtice. Brick viu uma ponte — uma coisa enorme e vermelha — arrebentar como se fosse feita de palitos de fósforo, sugada para o fluxo. O redemoinho espalhava-se pela cidade com velocidade incontrolável, tudo desabando em pó e fumaça. A terra parecia berrar, um grito de pura aflição que fazia os ouvidos de Brick doerem.
É ele, disse Daisy a seu lado, a voz repleta de pesar. Ah, Brick, ele matou todos.
Quantas pessoas? Cem mil? Um milhão? Elas nem teriam percebido, sugadas pelo esôfago tão rápido que teriam morrido antes mesmo de conseguirem recuperar o fôlego. Não pode ser real, não pode ser real, mas era; ele podia sentir o miasma do concreto atomizado, do sangue derramado e da fumaça — tanta fumaça. Podia sentir a força do vento que se precipitava para o abismo, tentando puxá-lo junto.
Precisamos enfrentá-lo, prosseguiu Daisy. Howie tinha subido e se postado ao lado dela, sua forma de anjo tão parecida com a dela que poderiam ser gêmeos. Onde está ele? Não estou entendendo.
Não era como em Londres. Para começar, não havia tempestade. Lá ele tinha ficado suspenso no ar, sugando tudo com aquela boca que era um poço, o céu repleto de escuridão. Ali não havia sinal dele, só a cidade se afogando.
Ele está no subterrâneo, disse Brick, entendendo de súbito.
O epicentro da destruição agora era um buraco escancarado, com quase dois quilômetros de diâmetro, e aumentava com rapidez. Terra e mar vertiam juntos no poço, lançando arco-íris contra o céu sem nuvens, o efeito estonteante. Algo mais também estava acontecendo, fendas vastas e serpenteantes irradiando-se da destruição, despedaçando a terra. Uma ia abrindo caminho para a floresta na colina abaixo deles, escavando uma trincheira nas ruas, atravessando as casas. Tudo desmoronava.
Espere aí, falou Brick. Onde estamos? Aquele homem não tinha dito que aquilo tinha reaparecido em São Francisco?
Acho que sim, respondeu Daisy. Por quê?
Por causa da falha, respondeu Howie, antes que Brick pudesse fazê-lo. A falha de Santo André.
A... o quê?, perguntou Daisy, mirando Brick com seus olhos ardentes.
É... começou ele, parando enquanto uma colina inteira, cheia de casas e de prédios, afundou no chão que se desintegrava, o som diferente de tudo o que Brick já ouvira na vida. É uma fenda na Terra, um ponto fraco.
Era como se o homem na tempestade rasgasse os alicerces, o esqueleto que mantinha a unidade da Terra. Se quebrasse ossos suficientes, o continente inteiro desabaria.
Então o que faremos?, perguntou Daisy. Como vamos lá embaixo?
Brick olhou para ela, depois para Howie, sabendo a resposta mas recusando-se a dizê-la, porque dizê-la a tornaria real. Não que ainda fizesse algum sentido esconder alguma coisa. Daisy podia enxergar dentro da cabeça dele com a mesma facilidade com que enxergaria dentro da própria.
Vamos lá embaixo, falou ela.
Brick negou com um meneio de cabeça. A única coisa que ele queria era se virar e ir embora. Era isso o que fazia melhor; escondia-se das coisas, fingia que elas não existiam. Era por isso que gostava tanto de Fursville: porque ninguém podia se aproximar dele quando estava lá. Estava em segurança. A lembrança do lugar, dos momentos em que fora lá sozinho e escapara das brigas, do estresse, do lixo sem fim que era sua vida, fez a já conhecida raiva fervilhante subir por seu estômago. Danem-se eles, por que seria ele a lutar? Aquela batalha não era para ele. Nem a bravura, bem sabia. Era o anjo mexendo com a cabeça dele, fazendo-o pensar em coisas nas quais não lhe cabia pensar. Não, melhor se mandar logo, enquanto ainda podia, achar outra Hemmingway, sobreviver.
Até o homem na tempestade achar você, falou Daisy. Porque ele vai. Ou acha que ele vai parar por aqui? Ele vai destruir tudo, Brick, o mundo inteiro. Vai engolir tudo. Ainda não entendeu? Não vai sobrar nada.
Ele se afastou do vácuo estrondoso e virou-se para o horizonte banhado em ouro. Vá, vá, apenas vá. Eles podem resolver isso sozinhos.
Não podemos.
Agora ele podia voar, podia ir para qualquer lugar que quisesse só com um pensamento, podia deixá-los ali para resolver a situação. Aquelas pessoas nem eram amigas dele; depois daquilo, nunca as veria outra vez, mesmo que sobrevivessem. Nunca precisaria olhar para a cara delas de novo.
Brick, não!
Era muito melhor do que ser engolido pelo homem na tempestade.
Por favor, pediu Daisy, estendendo-lhe a mão, as chamas da mão dela enroscando-se nas dele, entremeando-se como dedos, tentando detê-lo ali. Ele se afastou, batendo as asas uma vez, talhando um caminho no céu, batendo-as outra vez, a loucura e o caos se encolhendo, os pedidos de Daisy ficando mais baixinhos, o estrondo da cidade em ruínas desaparecendo atrás do ar em agitação enquanto ele voava. E era tão bom estar em movimento, em movimento, sempre em movimento.
Cal
São Francisco, 13h56
O chão tremia tanto que ele não conseguia se manter em pé. Toda vez que tentava, a superfície se inclinava como um barco em uma tormenta, fazendo-o girar. Apoiou-se em Adam com toda a força, a mão presa na camiseta do garotinho. Estava escuro demais para enxergar o que quer que fosse, e as árvores desabavam ao redor, bloqueando o sol.
— Daisy! — gritou ele, o ar repleto do fedor das pinhas. Não havia como ela ouvi-lo com o ribombar da terra, os estalos e os ganidos das árvores, mas ela não precisava de ouvidos, ela o sentia.
O chão virou para baixo com tanta força que, por um momento, Cal ficou suspenso em pleno ar. Caiu de costas, encolhendo-se. Adam rolou para o lado dele, sem fazer o menor barulho, os olhos leitosos de pânico. Cal agarrou-o, abraçando-o com força. Um facho de luz atravessou os galhos, revelando a encosta de um penhasco que não estava ali antes. Raízes de árvores projetavam-se da lama como minhocas, e uma avalanche de solo martelou contra o chão. Esperou outro tremor, esperou o mundo se abrir sob ele e finalizar seu trabalho, mas não havia nada além de silêncio.
Isto é, um relativo silêncio. Ainda era capaz de ouvir um gemido distante, o som de um Leviatã monstruoso nas profundezas. Não tinha muita certeza do que era, mas podia chutar: era o homem na tempestade, suspenso sobre alguma cidade, devorando-a por completo. Apoiou-se nos cotovelos, esperando pela dor insuportável de um osso quebrado ou de um membro torcido, mas só encontrou hematomas.
— Tudo bem com você? — perguntou a Adam. O garoto fez que sim com a cabeça, colocando a mão na bochecha. Havia uma dúzia de agulhas de pinheiro enterradas em sua pele, fazendo-o parecer um porco-espinho. Cal puxou-as com delicadeza. — Vai arder por algum tempo — falou ele, sentindo o calor das agulhas no próprio corpo. — Mas elas não vão matar você. Vamos, precisamos achar os outros.
Ele se levantou, o chão irregular fazendo-o sentir-se bêbado enquanto ajudava Adam a ficar de pé. Tinha perdido qualquer senso de direção que não fosse para cima e para baixo. Espiou por entre os galhos, vendo o brilho do sol — ou talvez de um anjo, não dava para ter certeza.
— Daisy! — gritou ele outra vez, sua voz provocando um sobressalto em Adam. — Onde você está?
— Cal?
Ele reconheceu Marcus, o som vindo de algum lugar acima. Perguntou-se se o outro garoto tinha se transformado, se pairava no ar, e em seguida deparou com seu rosto magrinho espiando do alto do precipício. Tinha um sorriso enorme no rosto.
— Cara, que bom te ver! Achei que estaria... Você sabe. Como foi parar aí embaixo?
— Como foi que você foi parar aí em cima? — rebateu Cal.
— Terremoto — falou Marcus. — Mas não um terremoto-terremoto; só pode ter sido ele.
— Está vendo Daisy em algum lugar? — perguntou Cal. — Brick, ou alguém?
Marcus olhou para trás e deu de ombros.
— Nada; devem ter ido brigar em algum lugar. Mas foi legal da parte deles ajudar a gente.
Cal fez que sim com a cabeça automaticamente, tentando enxergar um jeito de subir o penhasco. A terra ainda estremecia, os tremores vibrando em seus calçados e provocando dor nos ossos das pernas. Sempre tinha confiado na terra firme, mas agora não podia deixar de pensar no quanto era fina a crosta do planeta, no quanto era frágil, e no oceano sem fim de pedra derretida sobre o qual ela flutuava. Tudo seria muito mais fácil se algum deles tivesse se transformado; podiam simplesmente abrir as asas e voar para longe dali. Porém, não havia nenhum sinal de que o anjo dele estava sequer próximo de nascer. Como sempre, tinha ficado com o preguiçoso. Tentou rir, mas o riso saiu mais como uma fungada.
— Está vendo algum caminho, alguma alternativa? — perguntou ele.
Marcus balançou a cabeça em uma negativa.
— Está assim até onde enxergo; do outro lado, também. Não posso me mexer, vou ter de esperar uma carona. Você, talvez, consiga sair por aquele lado. — Ele apontou para a direita. — De repente tem algum espaço entre as árvores.
— Vou lá dar uma olhada — falou Cal, a caminho. O progresso era lento porque o chão tinha fendas menores, os pés se afundando na terra. Toda vez que ele dava um passo, rangia os dentes, esperando um buraco se abrir e as trevas o envolverem. Duas vezes, Adam se desvencilhou, porque Cal segurava a mão do menino com força demais. — Foi mal, cara, de repente é melhor você ficar aqui.
Adam negou com a cabeça, apertando os dedos de Cal com a mesma força. Prosseguiram, abrindo caminho por aglomerados de galhos quebrados, cheios de seiva. Não havia sinal de espaço entre as árvores, como sugerira Marcus, mas, depois de mais ou menos cinco minutos, Cal ouviu alguma coisa. Ele parou e virou a cabeça para o lado, ouvindo o que parecia os grunhidos de um animal selvagem. Pela primeira vez, perguntou-se onde exatamente estavam, e que tipo de criatura viveria naquela mata.
Esgueirou-se entre duas árvores, examinando a penumbra à frente, e acabou por ver uma silhueta. Dois olhos enormes e brancos, sem corpo, podiam ser vistos na penumbra, olhos de fantasma. Então a sombra se arrastou, e ele percebeu que era Rilke. O rosto dela estava tão coberto de sangue que era quase invisível. Ela murmurava algo entre aquelas inspirações guturais, ainda que Cal estivesse longe demais para entender quais eram as palavras dela. Arrastou Adam por entre as árvores, apoiando-se em um joelho ao lado da garota.
— Rilke? — chamou ele. Daquela distância, podia ver o buraco na cabeça dela, o buraco feito por Brick. Era do tamanho de uma moeda de cinquenta centavos, e ainda escorria sangue dele. Pelas marcas viscosas da pele, podia-se entrever o osso, e algo de um tom escuro de rosa projetava-se do buraco como se tentasse escapar dali. Como ela ainda podia estar viva?
Rilke ainda murmurava, flashes ocasionais de dentes brancos luminosos contra a vermelhidão. Cal se aproximou, sua pulsação martelando nos ouvidos.
— ... culpa minha, não foi culpa minha, ele colocou no porão, pintou de ouro, pintou de um jeito brilhante e não estava lá, não posso fazer nada, posso, Schill? Não se está ali, não se é ouro...
— Rilke! — chamou outra vez. — Está me ouvindo?
Ela disse mais algumas palavras, palavras que não faziam absolutamente nenhum sentido, e, em seguida, franziu o rosto. Exceto pelo ferimento, sua testa estava praticamente sem sangue, dando a impressão de que usava um véu.
— Schill, é você? — A voz dela, partida em um milhão de pedacinhos, era a de uma senhora de idade. — Irmãozinho? Não estou vendo você.
— É o Cal — disse ele. Ele mexeu a mão na frente do rosto dela, mas ela não deu sinal de que o viu.
O que Brick tinha feito com ela? Cal sussurrou um palavrão, olhando para Adam, depois para a floresta. Rilke precisava de um hospital, mas, mesmo que vivesse tempo suficiente para chegar a um, os médicos a despedaçariam assim que passasse pela porta.
— Quebrei a boneca, não quebrei, Schill? — perguntou Rilke, o sangue escorrendo do canto dos lábios. — Quebrei, quebrei a boneca, desculpe ter colocado a culpa em você. Quebrei, quebrei a boneca... Eu me quebrei, você me quebrou, não conte para a mamãe; eu te amo.
Ela começou a tremer, como se estivesse tendo uma convulsão. O que Cal deveria fazer? Adam se deitou ao lado de Rilke, tomando a cabeça dela em sua mão, afastando as madeixas de cabelo de seus olhos. Ele a abraçou com força, pressionando a bochecha contra a dela, até que os tremores passaram. Cal sentiu seus olhos arderem, já não mais pelas agulhas dos pinheiros. Precisou passar o braço no rosto para enxugar as lágrimas. Tomou a mão de Rilke na sua, a pele dela bem fria, entrelaçando seus dedos com os dela.
— Vai ficar tudo bem — disse ele. — Vamos ficar com você, até...
Não terminou, sem saber o que estaria por vir. Rilke começou a tremer de novo, seu corpo inteiro tendo espasmos, quase se levantando do chão. À distância o mundo acabava; Cal podia ouvir o terrível estrondo massacrante daquilo, o som da terra, do mar e do céu sendo engolidos inteiros. Em contraste, a clareira era quase pacífica. Havia até um pássaro cantando em algum lugar, o mesmo som que Cal ouvira naquela mesma manhã — como podia ser o mesmo dia? Parecia um milhão de anos atrás —, altivo até o fim. Talvez ele, Adam e Rilke, e aquele passarinho, pudessem só aguardar ali, no ninho de pinheiros, no escuro e no silêncio, até tudo terminar. Provavelmente nem perceberiam quando acontecesse, seria apenas um estrondo súbito e game over.
A clareira iluminou-se por um breve instante e, em seguida, escureceu de novo. Cal se arrastou para trás quando uma onda de fogo desceu sobre Rilke, se extinguindo rapidamente. Aconteceu de novo, as chamas espremendo-se de seus poros, tentando ganhar força, e apagando-se em um piscar de olhos. Rilke estava alheia a isso, ainda balbuciando coisas sem sentido, com seus olhos grandes, brancos e opacos.
— Adam, afaste-se! — disse Cal, estendendo a mão para o garoto, que fez que não com a cabeça, abraçando Rilke com mais força ainda.
A menina se incendiou de novo, as chamas se enroscando no tronco, bruxuleando pelo pescoço e pelo rosto, morrendo depois. Desta vez, Rilke pareceu senti-las, os lábios congelando no meio de uma palavra. Colocou uma das mãos no peito, uma inspiração fraca e gorgolejante. Línguas de fogo lambiam seus dedos, agora mais fortes.
— Quebrada? — disse ela. — Boneca quebrada, Schill, está me ouvindo? Consegue me consertar? Me conserte antes que ela descubra, ela nunca vai saber. Você vai ficar em segurança comigo, irmãozinho, estou aqui para te proteger.
As chamas se mantinham, ardendo no peito dela, espalhando-se pelos membros, emitindo um frio inacreditável. O mesmo ronronar martelante ergueu-se no ar, ficando mais alto, depois diminuiu, como um motor tentando ligar. Sumia, depois voltava com força total, as chamas ardendo com tanta violência que, dessa vez, Adam se arrastou para longe. Não parecia a mesma coisa que acontecera com Brick, com Daisy. Aquilo era diferente, o fogo mais urgente, ardendo da cabeça aos pés, como se a atacasse. Rugia como mil bocas de fogão acesas, com força total, e lutava para permanecer vivo, para se estabilizar. Cal praticamente podia enxergar o anjo ali, a silhueta dele se retorcendo nas chamas. Entendeu que ele não queria morrer — não, morrer era a palavra errada. Ele não queria voltar para o lugar de onde tinha vindo, qualquer que fosse. Gritava, um ruído débil como o de um filhote de passarinho, de um pintinho que tivesse sido chocado cedo demais.
— Vamos! — disse Cal, estendendo a mão para Adam.
Não tinha ideia do que ia acontecer, mas não podia ser bom. Rilke disparava ar frio enquanto o anjo sugava o calor da floresta, aquele ruído ficando mais agudo, como se ela fosse explodir. Mesmo que não explodisse, mesmo que se transformasse, sua mente estava despedaçada. Não seria capaz de controlar seu poder e acabaria tão perigosa quanto o homem na tempestade. Por um segundo, Cal cogitou pegar um galho e afundar na cabeça dela antes que se transformasse. Porém, o anjo pareceu ler sua mente, agitando-se com mais vigor, o som de seu coração de uma força que impelia Cal para longe.
O incêndio ficou mais forte, projetando-se dos olhos e do buraco na cabeça dela, como se houvesse uma fornalha no crânio. Quando Cal olhou de novo, Rilke estava no ar, uma única asa semiformada erguendo-a em diagonal. Desapareceu, e ela caiu, depois se acendeu de novo, as duas asas se desenroscando para fora, levando-a para o céu, onde ela desapareceu no brilho do sol.
Cal virou o rosto, piscando para tirar as manchas de luz da visão. Deu a mão a Adam e conduziu-o por entre as árvores, torcendo para que ainda restasse algum pedaço de Rilke e para que esse pedaço ainda se lembrasse do que deveria fazer, se lembrasse de resistir, mas não se lembrasse do que Brick fizera com ela.
Daisy
São Francisco, 14h17
Daisy estava arrasada. A cidade — agora nada além de um vazio fumegante, com vinte, trinta quilômetros de diâmetro — ficava para um lado. Parecia as fotos que a garota tinha visto do Grand Canyon, a não ser pelo chão de fumaça turva. Com dificuldade, ela entrevia uma figura na escuridão, o homem na tempestade, que parecia uma aranha monstruosa em sua teia. E o poço ainda crescia, as bordas desabando feito areia, tragadas na maré espiralante de matéria que circundava sua boca. O oceano se derramava dentro dele, soltando nuvens de vapor, uma cachoeira que se estendia até onde Daisy enxergava.
Atrás dela, Brick não era muito mais do que uma manchinha no céu, uma estrela cadente. Ela não conseguia acreditar que ele tivesse ido embora. Fora muito egoísta da parte dele. Que covarde. Mas até que ela entendia, pois estava assustada também. Aliás, estava aterrorizada, mesmo com o anjo dentro de si. Mas eles não podiam ir embora, pois não havia mais ninguém. Se não lutassem com o homem, se não o vencessem, não sobraria nada.
Ouviu Cal na floresta chamando por ela. Ao menos, estavam em segurança lá embaixo. Mais seguros do que estariam lá no alto. Iria até eles quando pudesse, se pudesse. Agora, tinha problemas maiores para resolver.
Pronto para o segundo round?, perguntou Howie ao lado dela. O sol estava atrás dele, a luz brilhando pela fina renda de suas asas abertas. Como eram belas. Daisy poderia mirá-las por horas. Nós o ferimos uma vez, podemos fazer isso de novo.
Daisy não tinha tanta certeza. Antes eles eram em três, e agora o homem na tempestade estava debaixo da terra. Por que Brick não tinha ficado com eles? Poderiam derrotá-lo se permanecessem juntos. Algo surgiu da floresta atrás, rasgando um caminho pelo céu. Caiu, subiu de novo, a luz se acendendo e se apagando com dificuldade.
Rilke!, chamou Daisy, reconhecendo-a. Aqui, precisamos de você!
Não houve resposta, e Daisy tentou captar os pensamentos da garota, afastando-se imediatamente quando viu o caos dentro dela, a escuridão — boneca quebrada, boneca quebrada, ele acabou comigo, Schill, o garoto acabou comigo, vou acabar com ele também, não conte para a mamãe, por favor, eu vou... Algo terrível tinha acontecido, ainda pior do que a loucura que ela vivera antes.
Rilke, por favor, me escute! Rilke girou em pleno ar, concentrando-se naquela luz distante e evanescente que era Brick. Não, por favor, precisamos de você!
Rilke desapareceu, detonando uma explosão sônica que ondulou pelo ar e lançando Daisy para trás. Ela usou as asas para se endireitar, observando o espaço onde estivera Rilke, as brasas que pingavam para a terra. Não! Não era justo; por que tinham de agir assim? Iam acabar se matando. Daisy abriu a boca e soltou um choro que abalou o céu. Ela sentiu ódio. Por que não a ouviam? E por que Cal não havia se transformado ainda? Ele saberia o que fazer; ele a ajudaria.
Precisava se concentrar, do jeito que a mãe tinha lhe ensinado fazer em situações muito assustadoras. Inspirar profundamente pelo nariz, segurar, depois expirar pela boca, como se colocasse para fora todas as coisas ruins. Foi só assim que Daisy conseguira subir no palco pela primeira vez, quando ensaiavam para a peça. Foi só assim que conseguiu dizer a primeira fala. Inspirou, sem nem saber se ainda precisava de ar, sentindo a pressão no peito diminuir, segurando o ar por um instante antes de soltá-lo. Parecia ver o medo indo embora, a ansiedade, todas as coisas horríveis dentro dela.
Vamos!, falou para si, antes que as coisas ruins voltassem. Eu consigo!
Nós conseguimos, disse Howie. Ele assentiu com a cabeça, e ela retribuiu o gesto. Em seguida, apontou a cabeça para baixo, rasgando a pele da realidade. Reapareceu acima do centro do cânion, apanhando dos ventos que uivavam no vórtice abaixo. Era enorme, muito maior do que tinha parecido à distância, um mar furioso de pedra e água. Relâmpagos — pretos e brancos — chicoteavam para cima, arranhando os paredões, provocando labaredas monstruosas e escuras onde quer que tocassem.
Era o homem na tempestade, era a besta. Não podia vê-lo direito, não com os olhos, mas usou os do anjo para enxergá-lo, suspenso no centro da tempestade, respirando naquela mesma inspiração infinita. Ele a viu também, porque parou de respirar para bradar o mesmo grito de fazer tremer a terra, um berro que regurgitou uma cidade em ruínas, e uma nuvem de matéria negra veio na direção de Daisy.
Ela abaixou a cabeça, sentindo o anjo energizar-se dentro de cada célula de seu corpo. Howie voou para seu lado, e os dois mergulharam de cabeça, indo ao ataque. Daisy abriu a boca, uma palavra sendo disparada de seus lábios, abrindo caminho pelos detritos. Os anjos de ambos falaram, uma linguagem de pura força, abrindo uma trilha na tempestade. O mundo escureceu com esse mergulho, o fogo dela revelando cada pedra, cada pedaço reluzente de metal, cada cadáver mutilado que se precipitava a seu lado. Ela ignorou tudo, descendo, gritando uma palavra atrás da outra até enfim vê-lo.
Aquela criatura, de algum modo, ainda era um homem — sim, inchado e monstruoso, mas com dois braços, duas pernas e uma cabeça. O corpo dele tinha o tamanho de um prédio, de um arranha-céu, a pele era esticada, rachada em alguns lugares, unida por uma rede de fios negros envenenados que antes podiam ter sido veias. Uma escuridão se convulsionava na fenda, como se ele tivesse sido esvaziado e, depois, enchido de fumaça. Aquelas asas, aquelas asas horríveis e trevosas que eram muito semelhantes às dela, embora fossem ao mesmo tempo muito diferentes, encontravam-se estendidas atrás dele como uma teia de penumbra.
Porém, acima do pescoço, não havia nada humano. Havia só aquela boca, aquele buraco escancarado onde deveria estar o rosto, parecendo mais do que nunca um redemoinho ou um furacão. Ela não enxergava os olhos dele, mas podia senti-los observando-a, ganchos embutidos em sua pele.
Ela abriu a boca outra vez, sentindo a energia incendiar um caminho até sua garganta, jorrando de seus lábios. Acertou o homem no meio do peito, arrancando pedaços de carne velha e morta. Howie gritou também, a palavra dele rasgando o ar e arrancando um naco de escuridão da tempestade. Ela disparou de novo, ambos falando juntos, gritando, jogando tudo o que tinham contra ele.
Algo aconteceu com o homem. Ele começou a girar, como um motor, uma turbina, não mais soprando, mas, como antes, inalando.
Daisy sentiu a mudança na corrente de ar, que agora a sugava. O vácuo na boca dele ficou mais próximo, maior, o som como um trovão abalando a mente dela. Ela gritou em resposta, sua voz e a do anjo perdidas em meio à loucura. Outra coisa chicoteou da boca dele, uma lâmina de trevas que cortou o ar ao lado de Daisy. Outra se seguiu, esta enroscando-se em seu corpo, uma língua de noite liquefeita que a envolveu como um punho.
Daisy entrou em pânico, tentando abrir as asas, mas descobrindo que estavam bem presas. Seu anjo faiscava violentamente, lutando contra a escuridão, e ela torcia o corpo tentando se desvencilhar. Rodopiava para dentro do poço, a mente incapaz de entender o que a segurava. Não havia nada senão um facho de ausência completa e absoluta que parecia comê-la, tentando ingeri-la e tirá-la da existência.
Não!, gritou, berrando contra aquilo de novo e de novo, até que o pedaço de noite começasse a se desfazer, dissolvendo-se no frio fogo de seu anjo. Mas era tarde demais; a corrente a levava, puxando-a para as nuvens de fumaça e poeira que circundavam a garganta da besta.
O rugido do vórtice ficou ainda mais alto, e o movimento se tornou mais vigoroso — era como ser sugado por um ralo. Ela fechou os olhos, e logo percebeu que não ver era infinitamente pior do que ver. Ao abri-los de novo, viu, à frente, o fim — um ponto de breu total para o qual tudo estava sendo sugado. Era o menor dos buracos, pequeno demais para sugar todas aquelas coisas. Mas ele inspirava cada pedaço de matéria, com raios, não exatamente relâmpagos, estalando dele, dezenas a cada segundo. Porém, som nenhum vinha dali, e ela se perguntou se tinha ficado surda.
Outro esvoaçar de noite liquefeita, mas Daisy se retorceu e o evitou, sentindo o insuportável nada passar por ela. Abriu a boca, lutando. Algo estranho acontecia à medida que se aproximava do buraco bruxuleante. As coisas se desaceleravam — não propriamente, mas despedaçando-se, como se nem o tempo pudesse manter-se ali. O tempo, o som, a matéria, a vida: o homem na tempestade detestava tudo, detestava absolutamente tudo. Quase podia enxergar sua história na imensa quietude que lhe cercava a garganta. Aquela coisa, o que quer que fosse, vinha de um lugar em que não havia nada. Essa coisa era o que existia antes de a vida existir, antes das primeiras estrelas, antes do Big Bang. Era o vazio anterior ao universo, e o vazio que o sucederia.
O horrendo senso de solidão que a envolveu foi intenso demais. Não o suportou. Aquela criatura era um buraco negro que devoraria tudo, se alimentaria e se alimentaria, até que não sobrasse nada — nenhum afeto, nenhuma alegria, nenhum amor. Só o silêncio, para todo o sempre. Não havia nada que pudessem fazer contra aquilo. Não havia chance.
Ouviu Howie chamando-a, mas o ignorou. Deu uma última olhada na besta, e, em seguida, vergou as asas e se apagou conforme saía do alcance dela.
Rilke
São Francisco, 14h32
Havia algo de errado com a cabeça dela, mas a garota não era capaz de entender o quê. Para começar, a cabeça doía: havia uma agulha latejante de sofrimento bem no centro de seu cérebro. Parecia que dali um barulho se irradiava, o som de campanários de catedrais badalando, e havia também uma coceira sussurrante e enlouquecedora em seus ouvidos. Não conseguia pensar direito, sendo incapaz de se fixar em um pensamento. Tudo o que ela sabia era que ele tinha feito aquilo, aquele garoto alto. Brick, era esse o nome? Rilke tentava lembrar, mas as imagens e as memórias na mente dela eram peças de um quebra-cabeça soltas em uma caixa; não faziam sentido nenhum.
Também não conseguia enxergar muito bem. Na verdade, não enxergava nada. Porém, algo enxergava por ela, o mundo era uma teia de fios dourados que compunham as árvores, os campos, as colinas e o céu. Havia algo dentro dela, algo feito de fogo. Ou será que ela tinha sido sempre assim? Não tinha certeza, não sabia quais pensamentos eram reais, quais eram fantasia. Ela era uma boneca? Quebrada? O que a tinha trazido à vida?
A vingança. Alguém tinha morrido. Schiller. Ele era um boneco também? Sim, um boneco bonito, o boneco dela. Alguém o tinha quebrado. O garoto alto, o garoto alto com asas. O motor do cérebro dela parou, o assovio ficando mais agudo, como se as pessoas gritassem bem em sua orelha. Sentiu o corpo tremer, uma convulsão que provocou espasmos em cada músculo. Era como se tivesse cordas: não era exatamente uma boneca, mas uma marionete.
Olhou ao redor com seus novos olhos, vendo o mundo disposto diante dela, nu e vulnerável. Eram átomos que ela via como tijolos que compunham cada pedra, cada nuvem, cada passarinho a cantar, cada lufada de ar que engolia? Eram tantos, galáxias deles, mas pareciam fazer sentido para ela. Via uma trilha brilhante no céu, onde alguém tinha estado, como o rastro de uma ave. O garoto alto, ele tinha passado por ali.
Bateu as asas. Ela sempre tivera asas? Não sabia. O barulho era insuportável; não era capaz de enxergar nada além dele. Toda vez que tentava, era como se se esforçasse demais. Alguma coisa no brinquedo de corda de seu cérebro poderia arrebentar se não tomasse cuidado. Talvez não existisse o antes, só o agora. Podia ter acordado pela primeira vez. Isso fazia sentido, pensou ela. Se era uma boneca, então talvez estivesse dormindo. Talvez estar quebrada fosse o que a despertara.
Não, talvez o fato de terem acabado com Schiller fora o que a despertara. Achou que o tivesse visto, a pele cintilante, como se ele fosse talhado em vidro — ou gelo —, os olhos como contas negras. O garoto alto havia acabado com ele. Sim, era isso. Por que outro motivo ela estaria com tanta raiva dele, desse garoto que se chamava Brick?
Tudo bem, Schiller, falou, ou tentou dizer, embora não se lembrasse de como fazer para abrir os lábios. Tudo bem. Bonecas não precisavam falar. Pensou aquilo receosa de que, se não o fizesse, talvez aquilo escorregasse para fora da bagunça que era sua cabeça. Sei o que preciso fazer. Preciso achá-lo, aquele garoto alto; preciso acabar com ele também, só assim a gente vai ficar junto de novo, não é, Schill? Diga que sim. A mamãe não vai ficar zangada se... se eu acabar com ele.
A cabeça dela gritava como uma turbina de avião. Ela fazia o melhor que podia para ignorá-la, seguindo o rastro, o mundo passando abaixo como se ela estivesse sendo conduzida, como se algo a levasse sob o braço. Mas, claro, ela era uma boneca, então algo tinha de a estar carregando, algo ancestral, horroroso e cheio de fogo. Quase conseguiu ouvi-lo, além do caos, uivando para ela com palavras que Rilke nunca entenderia, tentando lhe dizer alguma coisa.
Tudo bem, falou. Eu sei o que você quer que eu faça. Ela pensou no boneco chamado Schiller e pensou no garoto alto. Vou acabar com ele, vou acabar com ele, vou acabar com ele.
Cal
São Francisco, 14h34
Cal parou de andar, percebendo uma escuridão crescente na cabeça. O ar tremia, com lufadas de vento estalando entre as árvores, levando o fedor de fumaça e sangue. O chão parecia ter vida própria, tremendo com tanta força que seus dentes batiam. Adam se segurava no bolso de seu jeans, encarando-o.
— Daisy! — disse Cal, sentindo o terror dela.
O que estaria acontecendo com ela? Aquilo era totalmente errado. Nunca tinha se sentido tão inútil a vida inteira. As coisas sempre haviam estado sob controle. A vida, os amigos, tudo. Era perfeito. Agora, porém, não era capaz nem de cuidar de uma garotinha.
Soltou um palavrão e bateu no peito, com força suficiente para causar dor.
— Vamos! — berrou ele para aquela coisa dentro de si, aquela criatura. Sabia que ela estava ali porque ela fizera seus amigos tentarem matá-lo, sua mãe também, no que parecia um milhão de anos atrás. — Vamos, sua porcaria inútil! Se vai fazer alguma coisa, então faça.
Bateu em si mesmo de novo e de novo, mas o anjo não respondia. Talvez o dele não funcionasse. Talvez tivesse morrido na viagem de onde quer que tivesse vindo. Lembrou-se de um dia, na escola, quando eram crianças, em que havia brincado de Imagem e Ação. Megan — Meu Deus, Megan, onde você deve estar agora? Será que você sobreviveu ao ataque a Londres? Está morta? A súbita sensação de perda era insuportável — levara um pintinho para a escola. Os pais dela tinham galinhas, e uma delas procriara. Havia dúzias deles, e ela tinha levado um naquele dia. No caminho, porém, ele morrera. De susto. Quando ela abriu a caixa, tudo o que tinha sobrado era um montinho de carne e penas, já frio. Aquilo teria acontecido também com o anjo dele? Estaria agora deitado dentro de Cal, um monte de partes quebradas e sem peso chacoalhando dentro da alma dele? A ideia o fez ter vontade de se abrir e tirar tudo de dentro, só para se livrar daquilo.
E o que ele poderia fazer sem o anjo? Ir até o homem na tempestade e pedir-lhe delicadamente que desse o fora? O homem só precisaria pensar, e o corpo de Cal, o corpo que tivera a vida toda, cada célula dele, seria deletado. Cinco litros de sangue, alguns ossos, todos embrulhados em couro bem fino. Todos aqueles anos de treinamento, Choy Li Fut, lutar com seu mestre, tudo isso para nada. No que dizia respeito a armas, era tão útil quanto uma meia encharcada.
— Droga! — disse ele, mandando a escuridão para longe e dando mais um passo.
Adam seguiu, sendo arrastado junto. Também não dava nenhum sinal de se transformar. Aliás, parecia mais jovem e mais frágil do que nunca. O novo garoto, Howie, tinha ido com Daisy, não tinha? E Brick? Cal não podia ter certeza. Rilke, pobre Rilke, perdida, também tinha se transformado. Talvez os quatro estivessem lutando. Com certeza isso bastava, não bastava? Tinham assustado a besta quando eram só três, lá em Londres. Tinha de ser o bastante.
Só que não era. Ele sabia. Cal bateu no peito outra vez, gritando:
— O que é que você tem? Está com medo? Você é ridículo, ridículo!
Nenhuma resposta ainda, e seu desespero, sua exaustão, seu medo subitamente se transformaram em uma fúria que lhe subiu pela barriga.
Ele disparou pelas árvores, correndo agora, indo para uma faixa ensolarada que ficava adiante. Que se dane. Não importava que fosse humano, não importava que fosse morrer. Lutaria de qualquer jeito com o homem na tempestade. Ao menos teria tentado. Nada poderia ser pior do que ficar para trás, escondido na floresta. Nada. Cruzou a última fileira de árvores, a luz do sol ofuscando-o tanto que ele quase não viu. Então teve um vislumbre dela entre os dedos, uma trincheira que corria paralela à floresta, um súbito precipício que descia a metros de seus pés. Deteve-se derrapando, chutando pedrinhas para o abismo. Ouviu passos atrás dele, e estendeu um dos braços para que Adam não despencasse.
— Meu Deus — disse ele, indo devagarzinho até a beirada e dando uma olhada. Abaixo — talvez trinta, quarenta metros — estava o solo que um dia estivera conectado à floresta. Entre Cal e esse solo, havia um desfiladeiro aberto pela terra estremecida, estendendo-se nas duas direções até onde o jovem podia ver. Sentiu a cabeça girar e deu um passo para trás, erguendo o rosto para o horizonte. Um buraco negro o dominava, estendendo-se de norte a sul, terra e mar fervilhando para dentro dele enquanto ele próprio continuava a fervilhar. Estava em uma colina, perto do topo, e podia enxergar quilômetros, mas tudo o que havia contra o céu era o poço, um halo de nuvem escura suspenso sobre ela.
Cal bateu as mãos na cabeça, como que tentando impedir que sua sanidade fugisse com o vento. Aquilo era gigantesco, inacreditável. O homem na tempestade ingeria tudo, toda pedra, toda gota de água do mar. Devorava. Se Cal fosse até ali — se sequer se aproximasse do chão fendido —, ele o sugaria sem nem reparar. Seria só mais um pedacinho junto do milhão de outras almas que antes haviam vivido ali. A morte dele não significaria nada, a vida dele não significaria nada. Seria apenas tragado para aquele esôfago horrendo, expurgado de sua existência.
Caiu de joelhos, entorpecido demais para falar, anestesiado demais para chorar, para se mexer. Tinha acabado. Daisy morreria, os outros também, e o mundo chegaria ao fim. Fechou os olhos, ouvindo o martelar infindo da tempestade, o som ensurdecedor dos ossos do mundo se fraturando abaixo dele.
Algo tocou seu ombro, e ele se encolheu. Olhou e viu Adam bem a seu lado, o rosto do garotinho sem expressão, como sempre.
— Sinto muito — disse Cal. — Acho que acabou. Não há nada que possamos fazer.
Adam pegou a cabeça de Cal, colocando-a contra seu peito. Cal ficou ali, ouvindo o bater do coração do garoto, rápido como o de um coelho. Deveria ser o contrário, pensou ele. Ele é que devia confortar o garoto. Afastou-se, envolvendo a cintura de Adam com as mãos, abraçando-o.
— Você foi muito corajoso — falou ele. — Lamento que tudo isso tenha acontecido com você.
Adam levantou a cabeça para o horizonte, e Cal seguiu seu olhar, vendo mais do mundo escorregar para dentro da garganta da besta. O mar fazia um barulho que ele nunca tinha ouvido, um gemido sônico quase humano, como se o oceano não pudesse acreditar no que lhe acontecia. Tanto dele já fora engolido, bilhões e bilhões de litros, que, mesmo que encontrassem um jeito de deter o homem na tempestade, o mundo jamais seria o mesmo.
— Não olhe — disse Cal, puxando Adam mais para perto. — Melhor não ver. Apenas finja... — Finja o quê? Nunca tinha sido bom com crianças, nunca soubera o que dizer. — Finja que é uma brincadeira, tipo esconde-esconde. Vamos voltar para a floresta, achar um lugar para nos esconder. Só um tempinho. Depois... — Ele engoliu em seco, e, em seguida, tentou tossir para desanuviar o nó na garganta. — Você tem saudade da sua mãe? Do seu pai?
Adam fez que não com a cabeça, estreitando os olhos.
— Eu sinto. Sinto muita saudade da minha mãe. Acho... Acho que logo a gente vai vê-los de novo. Não vai demorar, vai?
Você não vai ver ninguém, pensou ele, porque não tem vida após a morte ali, não tem nada depois, só a escuridão, o nada, por toda a eternidade. Pense, Cal, tem de haver um jeito!
Colocou a mão no peito. Talvez seu anjo só precisasse de um incentivo — tipo uma arma na cabeça.
— Preciso que espere aqui — disse ele. — Jure que não vai vir atrás de mim.
Cal estreitou o rosto do garoto entre as mãos e, depois, o abraçou.
— Vai dar tudo certo. Se não me vir de novo, volte para as árvores. Alguém vai achar você.
Ele se afastou do garoto, virando-se para o desfiladeiro. Dali ele parecia não ter fundo, como se levasse direto ao centro da Terra. Aquilo era tão idiota, tão insano, mas que escolha ele tinha? Fechou os olhos, pensou na mãe, no pai, em Megan e em Eddie. Em Georgia também. Se fizesse isso, nunca saberia como era beijá-la, nunca conheceria a sensação do corpo dela em seus braços. Mas tudo bem. Tudo bem.
Respirou fundo, inclinou-se para a frente e se deixou cair.
Brick
Clear Lake, Califórnia, 14h42
A aterrissagem de Brick foi desajeitada; as asas atrapalharam quando ele se materializou, fazendo-o tropeçar. O chão chegou cedo demais, e Brick cobriu a cabeça com as mãos, gritando, o som rasgando o caminho pela grama, depois pela pedra e, por fim, pela água. Caiu de ponta-cabeça, ouvindo o gelo rachar enquanto se formava em volta dele, o ímpeto fazendo-o cruzar a superfície de um lago e, em seguida, jogando-o na outra margem, onde enfim rolou até parar.
Não havia dor. Achava que não poderia sentir dor naquele estado. Porém, havia alívio. Ele tinha ido embora. Não precisava lutar. Sentou-se, o mundo uma miríade móvel de átomos e de moléculas que deveria ser inconcebível, mas que, por algum motivo, fazia sentido. Ao estender a mão, conseguia ver as coisas de que era feito, as células da pele, dos ossos, do músculo e da gordura, a corrente do sangue e o fogo que ardia, de algum modo, dentro e fora dele ao mesmo tempo, fazendo-o parecer transparente. Havia uma mancha escura em sua pele incandescente, e ele precisou de um instante para entender que via através da mão. Deixou-a cair de lado, avistando uma nuvem de fumaça no céu acima das colinas distantes. Não tinha ido longe o bastante.
Levantou-se tão logo pensou nisso. Agora que se acostumara à criatura dentro dele, aquilo não era tão estranho. Na verdade, era bom. Quantas vezes na vida não tinha desejado um poder como aquele? Quantas vezes não quisera poder correr de tudo, ou esmagar a cara das pessoas que o irritavam? Não tinham sido poucas. Deus sabe o que não teria feito para ter esse poder quando estava na escola. Ninguém teria rido da cara dele.
Isso o fez pensar em Rilke, e ele estremeceu. Ela mereceu, disse a si mesmo. Mereceu mesmo, porque matou Lisa. Mas as palavras fizeram seu estômago revirar.
Tentou esquecer aquilo, indo fundo em sua mente e se desconectando do anjo. Era a melhor maneira de entender aquilo, como se fosse uma máquina, um traje, tipo o Homem de Ferro. O anjo é que era poderoso, mas não tinha controle nenhum. Só podia fazer o que mandavam. Brick não entendia por que, mas isso fazia algum sentido. Eles não podiam viver ali, naquela realidade, sozinhos. Precisavam viver dentro de você, como um parasita em um hospedeiro. E, quando estavam ali, não tinham escolha; só podiam fazer o que você queria que eles fizessem. Brick tinha certeza absoluta de que seu anjo tentava se comunicar com ele; provavelmente estaria tentando dizer que voltasse e enfrentasse a besta. Mas dane-se. O corpo era dele, as regras eram dele. Se o anjo não gostasse, que voltasse para o seu lugar de origem.
As chamas se apagaram, e o rapaz teve um instante de desconforto enquanto as asas se dobraram de volta em sua coluna. Ser humano de novo não era agradável. Sentia-se real demais, só carne e cartilagem. Os dentes pareciam esquisitos na boca, grandes, sem ponta, frouxos. Ele também estava cansado e, quando passou a mão pelo cabelo, vestígios de cobre se depositaram entre seus dedos. Sacudiu-os.
Porém, era bom ver com seus antigos olhos. Estava em um campo. Não, talvez em um vale. Não havia nada plantado, só havia flores silvestres. O lago com o qual colidira na descida era enorme, estendendo-se até o horizonte, a superfície ainda agitada por causa do impacto. Junto da margem mais próxima, havia algumas casas. Talvez houvesse comida ali. Brick estava faminto.
Ele partiu, a luz do sol como uma segunda pele, provocando-lhe coceiras. O calor o lembrava de Hemmingway, e isso, por sua vez, o fez pensar em Daisy. Você a largou lá para morrer sozinha, disse sua cabeça. Mas era mentira. Howie estava lá. Ela não estava sozinha. Prosseguiu, forçando-se a esquecer. A primeira casa estava próxima, enorme, de madeira: devia ser um rancho ou algo assim. Havia cavalos no jardim, alguns olhando-o com enormes olhos negros, as caudas balançando. O que deveria fazer? Bater na porta e pedir um sanduíche? Apenas entrar e pegar o que quisesse. Afinal, os proprietários não poderiam impedi-lo, não agora.
Deu mais alguns passos e uma porta se abriu na casa, e uma senhora de idade saiu. Segurava uma cesta de alguma coisa, talvez de roupa suja, e estava tão concentrada em descer os degraus da varanda que demorou um pouco para reparar em Brick. Quando o fez, encolheu-se.
— Oi — disse ela, com seu sotaque americano. — Posso ajudar?
— Estou com fome — ele falou, sem ter certeza do que mais dizer. — Faz tempo que não como.
— Ah... — A mulher recuou na direção da porta enquanto Brick continuava avançando. — Você precisa ir embora. Aqui não alimentamos imigrantes. Tem uma cidade do outro lado do lago, talvez lá você encontre um... um...
Brick virou a cabeça para o lado, tentando entender o que ela dizia. As palavras dela agora eram longas e gorgolejantes, disformes, e um lado do rosto dela ficara paralisado, como se estivesse tendo um AVC. Ela emitiu um som, como o de um cachorro ao vomitar, a cesta escorregando de seus dedos, deixando a roupa suja cair no chão. Em seguida, passou a correr, indo direto para ele, os olhos eram duas bolhas de ódio quase explodindo de seu rosto. Brick soltou um palavrão e recuou. Como podia ter esquecido da Fúria?
— Espere! — disse ele, virando-se e tropeçando nas próprias pernas.
Caiu desajeitadamente, e um jato de dor agudíssima atingiu o punho esquerdo. Levantou-se, mas era tarde demais, as mãos da senhora já estavam em volta de seu pescoço, as unhas dela querendo perfurar a pele de sua garganta. Brick engasgou com o súbito fedor corporal misturado com perfume, gritando enquanto os dedos dela sulcavam um caminho até sua bochecha.
O pânico acendeu a força dentro dele, e o som das chamas preencheu seus ouvidos, seguido pelo zumbido do anjo. Ele se lançou para cima, virando-se ao subir, e assistiu aos braços da idosa desintegrarem-se em cinzas. Ela ainda assim estendia a mão para ele, sufocando no pó do próprio corpo, as protuberâncias dos ombros ainda rotando.
— Vá embora! — disse ele, e suas palavras fizeram a mulher explodir em uma névoa vermelha, transformando a casa de madeira em farpas. A força o lançou para trás, e ele gritou de novo, um som que acertou o lago como um foguete, fazendo a água explodir. Acalme-se, ordenou a si mesmo, sem ousar se mexer, só pairando acima da grama congelada. Agora havia movimento vindo das outras casas, pessoas que saíam por causa do som da explosão.
Hora de ir. Levantou-se, pronto para disparar para longe daquele lugar, sentindo o ar à sua volta estremecer e cambalear enquanto o anjo se preparava para rasgar a realidade. Estava prestes a transportar-se, o mundo começando a derreter, quando viu uma silhueta no céu — outra chama, igual à dele. Deteve-se, observando aquele sol enquanto o anjo se aproximava. Seria Daisy, para falar com ele? Não adiantaria. Estava decidido.
Deixe-me em paz!, falou, desta vez mantendo as palavras dentro da cabeça, onde não causariam mal nenhum, sabendo que ela as ouviria mesmo assim. Vá embora, Daisy, estou cansado disso tudo!
Ela respondeu, mas ele não entendeu direito, captando pedaços de palavras: garoto alto, boneca quebrada, e aquela era a voz de Daisy ou de...
Rilke, percebeu Brick, e, assim que pensou no nome dela, Rilke disparou em sua direção, um grito rasgando o vale com força suficiente para criar um tsunami de terra. A onda de choque o golpeou, fazendo-o cambalear para trás e atravessar os destroços de duas casas. Ele se envolveu com as asas, o fogo protegendo-o, mas não houve tempo para se recuperar antes que ela atacasse outra vez. Brick sentiu-se alçado do chão e, agora, sim, havia dor, como se sua coluna estivesse sendo arrancada. Rilke nadava à sua frente, com os dedos incandescentes dela dançando no ar, puxando fios invisíveis de sua pele.
Ele está aqui, disse ela, as palavras ecoando na mente de Brick. Está aqui, Schiller, aquele garoto alto. Vamos dar um fim nele? Vamos arrancar as asas dele como se fosse uma borboleta? Mamãe ficaria orgulhosa.
O rosto dela era o de um anjo, seus olhos dois bolsões de luz solar putrefata, e, no entanto, atrás do fogo, quase invisível, ele enxergava a verdadeira expressão da garota — que era aterrorizante. Era frouxa, caída, como a de uma boneca mal-acabada. Havia ainda um buraco na cabeça dela, o buraco que ele tinha feito. Louca ela sempre fora, mas ele tinha feito aquilo com ela. Tudo o que havia de bom na garota tinha vazado por aquele buraco, gotejado para fora, e ela se tornara quebrada, vazia.
Não!, disse ele, lutando com ela. Desculpe, não foi minha intenção!
Ela puxou a cabeça dele para cima, como se tentasse arrancar a rolha de uma garrafa. Ele cuspiu um grito gorgolejado, seus braços girando sem parar. Algo estalou, uma vértebra, e dessa vez ele reagiu, gritando com Rilke, deixando seu anjo falar. A palavra disparou para cima, estrondando pelo vale como um trovão. Ele não a acertou e tentou de novo, desta vez berrando, com seus ouvidos zumbindo devido ao esforço. Ela foi como que golpeada por um martelo, mas ele não esperou para ver o que aconteceria. Fechou os olhos, abriu um buraco no mundo e nele entrou.
Cal
São Francisco, 14h46
Ele caiu, sentindo o fluxo do vento roubar o fôlego de seu corpo. Chocou-se contra o paredão do desfiladeiro, toda a dor perdida no estrondo de adrenalina. Depois, começou a girar, acertando outra vez o paredão, tudo escurecendo.
Por favor, funcione! Por favor, Por favor!
Não havia sinal de que seu anjo estivesse despertando. Mas era muito frio ali, congelante. Tinha a sensação de estar mergulhando no coração de uma geleira que não tinha fim nem fundo.
Outro impacto, agora sem dor. Vamos, seu maldito, é agora ou nunca! Se Cal chegasse ao fundo do desfiladeiro antes de se transformar, ele e o anjo morreriam. O frio se espalhava, parecendo irradiar-se de seu peito. Tentou olhar para as mãos, mas estava escuro demais, e ele caía muito rápido, rodopiando loucamente. Quanto tempo mais teria? Segundos?
Vamos!, disse, sentindo-se um paraquedista cujo paraquedas tivesse de ser aberto por outra pessoa. Vamos, vamos, vamos!
E então algo irrompeu de sua pele, uma chama trêmula que foi logo apagada pelo vento.
É isso!
Outra chama trêmula invadiu seu corpo, desaparecendo tão rápido quanto aparecera. No clarão, ele divisou os paredões do desfiladeiro se estreitando. Ele ia bater no fundo, ele ia...
Sentiu, levantando-se dentro dele, uma figura fria que se libertou de sua alma, berrando como um bebê recém-nascido ao irromper em fogo. Hesitou diante do horror daquilo, resistindo, de repente preferindo morrer a ser hospedeiro da criatura em seu interior. Ao se agitar, o movimento o fez passar através da pedra, fazendo-a em mil pedacinhos. Abriu a boca e soltou um uivo que abriu uma fenda na pedra, como um machado faria com a madeira. Berrou de novo, sentindo duas formas inacreditáveis desdobrarem-se de sua coluna, velas de pura energia que abriam caminho através de tudo ao redor, levando-o para cima até que irrompeu do chão.
Obrigou-se a parar, a ficar ali, a cem metros da terra que jazia abaixo. Seu horror passara, substituído por uma empolgação que se agitava em sua barriga. O anjo martelava, seu fogo em cada célula, o pulsar sônico de seu coração fazendo o ar cantarolar. Nunca tinha imaginado que se sentiria assim, como se pudesse tomar o mundo inteiro na mão e esmagá-lo. Jamais tinha imaginado que a sensação seria tão boa. Todas as outras emoções — o medo, o desespero que sentira havia poucos minutos — tinham sumido.
— Dem... — disse ele, a palavra disparando da boca com tanta força que Cal foi projetado para trás. Ele desfraldou as asas como se as tivesse tido a vida inteira, endireitando-se. Seus lábios formigavam com a força da palavra, e concluiu dentro da cabeça: Demorou, hein! Achei que você nunca fosse aparecer.
Se o anjo o entendeu, não deu nenhum sinal disso. Cal não sentia nenhum resquício de humanidade, nada vagamente familiar. Recolheu as asas, começando a mergulhar. O rugido do vento nos ouvidos lembrou-o das partidas de futebol, da pura alegria de correr o mais rápido que era capaz. O mundo se apressava para encontrá-lo, uma construção de partículas douradas, de bilhões e bilhões delas, cada qual movendo-se em sua pequena órbita, cada qual conectada com a outra de algum modo. Ele poderia mergulhar através delas caso quisesse, fendendo a realidade, como um nadador faz com a água. Riu, com a alegria borbulhando na garganta quando estendeu as asas outra vez e parou, lembrando-se do motivo de o anjo estar ali.
À frente dele, o horizonte estava fendido. Parecia diferente agora, através de seus olhos de anjo. A terra não tinha só desabado ali, tinha sido eliminada. Havia bolsões de completo vazio, nada daquelas engrenagens subatômicas que ele distinguia em todos os outros lugares. O homem na tempestade as tinha devorado. Não sobrara absolutamente nada.
E ele ainda estava lá embaixo.
Daisy!, pensou Cal, perguntando-se como pudera tê-la esquecido, mesmo que por um instante. Concentrou-se, libertando-se do mundo outra vez enquanto a rastreava. Ele logo se materializou, com a vida trancando a porta atrás de si com um baque que fez sua cabeça doer. Quando o halo de brasas sumiu, percebeu que estava de volta à floresta, e Daisy era só um monte de trapos, sentada contra uma árvore.
Cal desligou o motor do anjo e desceu ao lado dela. Não podia acreditar no quanto ela parecia velha, vendo as madeixas de um branco vivo em seus cabelos. Seus olhos estavam enevoados e repletos de tristeza.
— Daisy! — disse ele, aproximando-se da menina. Flocos de poeira vagavam para cima, saindo do corpo dela e desafiando a gravidade, como se ela se desintegrasse. Cal ajoelhou-se e colocou uma das mãos em seu rosto. Estava muito fria. — Você está bem?
Ela fez que não, colocando a mão dele sobre a dela. A floresta inteira tremia sob a ira da tempestade distante. Até os pássaros agora estavam calados.
— E Adam? — perguntou ela.
Cal olhou para trás, tentando entender onde estavam, e acabou vendo-a desaparecer em um pilar de fumaça. O ar estalou ao preencher o espaço que ela ocupava, mal tendo tempo de acomodar-se antes que ela reaparecesse em uma nuvem de cinzas incandescentes, com Adam preso ao peito. Os olhos do menino estavam arregalados, e ele despejou um vômito leitoso na camisa dela.
— Desculpe — ela lhe disse, enxugando sua boca.
Adam tremia, e Cal não soube se era por medo ou pelos tremo- res do chão.
— O que aconteceu? — perguntou Cal. — Você o viu lá embaixo? O homem na tempestade?
Daisy assentiu, engolindo ruidosamente.
— Ele está ainda mais poderoso do que antes — falou ela. — Ele quase me engoliu. Eu... acho que eu vi...
Suspirou, com o corpo inteiro tremendo.
— Viu o quê? — perguntou Cal.
— De onde ele vem. O que ele é.
Cal se sentou ao lado dela no chão macio e úmido, colocando a mão em seu ombro. Não insistiu, só esperou que ela encontrasse as palavras certas.
— Já ouviu falar de buracos negros? — perguntou ela enfim.
Cal fez que sim com a cabeça.
— Claro. Estrelas que sofreram um colapso, algo assim.
— Não sei direito. Mas elas devoram as coisas, não devoram? Tipo, tudo. Simplesmente devoram até não sobrar nada.
— Daisy — começou ele, mas sem nada para dizer depois.
— O homem na tempestade é como um buraco negro — falou ela, limpando uma lágrima do olho. — Porque ele nunca vai parar, não até que... — Ela estendeu os braços para a frente. — Até que tudo desapareça.
— Ei! — disse ele. — Ei, Daisy. Está tudo bem. Não é um buraco negro. Não pode ser.
Talvez alguma coisa parecida com um buraco negro, pensou ele, algo igualmente poderoso. Ela teria razão? Será que aquilo ficaria devorando e devorando tudo até o planeta inteiro ser apenas pó? Será que a criatura então pararia, ou devoraria a lua também, e o sol, virando do avesso aquele trechinho do universo?
Daisy levantou o rosto para ele, fungando: era apenas uma garotinha que ele resgatara em um carro um milhão de anos atrás. O medo e a dúvida a devoravam também. A tempestade tinha sugado todo o resto. Cal viu a pergunta no rosto dela.
— Podemos derrotar aquilo, Daisy. Precisamos.
Ela fez que sim com a cabeça, respirando fundo e parecendo se recompor.
— Precisamos de todos — disse ela, a voz pouco mais que um suspiro.
— Todos? Está falando de Brick? Ele não estava lá com você?
— Ele fugiu — falou ela. Cal abriu a boca, pronto para reclamar, mas ela o interrompeu antes disso. — Ele só está com medo, Cal, não é culpa dele. Ele vai voltar, tenho certeza que sim.
Não conte com isso, pensou Cal. Afinal, Brick era Brick. Ele deixaria o mundo inteiro acabar se fosse para salvar a própria pele.
— Cadê o novo garoto? — perguntou Cal. — Ele estava com você ou fugiu também?
— Howie. Ele estava lá. Eu... não sei para onde ele foi. Você acha que ele está bem?
Cal não tinha sentido outra morte, não como quando Chris morrera em Fursville. Olhou ao redor, perguntando-se onde estaria Marcus. E Rilke.
— Ela foi atrás de Brick — respondeu Daisy. — Tentei conversar com ela, mas...
— Mas ela é Rilke.
— Ela não está bem, Cal. Brick fez muito mal a ela. Não sei se tem conserto. Mas precisamos trazê-la de volta. Precisamos de todo mundo, ou não vamos conseguir enfrentá-lo.
Schiller estava morto. E Jade fora apagada como uma vela. Quanto mais demoraria até o corpo mutilado de Rilke também entregar os pontos? Ainda havia outros. O homem com a arma, lá em Fursville, aquele em quem Rilke tinha dado um tiro. Ele tinha um anjo dentro de si. A pessoa no carro em chamas, aquela por quem ele passara ao sair de Londres de carro. As pessoas com quem Marcus tinha viajado, que tinham sido mortas no caminho. Quantas mais?
Deve haver dezenas de nós, pensou ele. Centenas. Mas elas nunca tiveram a menor chance, não com a Fúria. Por que tinha de ser assim? Não fazia sentido.
— Acho que os anjos não tinham escolha — disse Daisy, tossindo outra vez. — Quando eles vêm do mundo deles, precisam entrar na primeira pessoa que veem, ou não sobrevivem. — Como ela sabia disso? — É só o que eu acho. E não existem centenas de nós. Não acho que haja mais alguém, só a gente.
Cal balançou a cabeça, fixando o olhar entre as árvores. Acima do poço, o céu estava mais escuro agora. Parecia que um milhão de metralhadoras estavam sendo disparadas, obuses ladrando fundo sob a superfície.
— Só nós — disse Daisy. — Mas é o suficiente, Cal. Somos suficientes. Você tem razão, podemos derrotá-lo.
Ela sorriu para ele, e ele de repente viu algo, uma lembrança que vazou da cabeça dela, levada pelo vento como um aroma. Duas pessoas numa cama, dormindo, como bonecos de cera.
— Eu... eu não estou com medo — falou ela.
Daisy estendeu a mão e ele a pegou, tomando seus dedos fininhos.
— Mas como fazer isso? — perguntou ele.
Não teve tempo de responder porque alguns galhos moveram-se. Uma figura magricela se agachou debaixo de uma árvore e, derrapando, parou ao lado deles. Marcus abriu um sorriso enorme, o rosto com arranhões em zigue-zague.
— Estavam pensando que se livrariam de mim, é? — disse ele.
Daisy riu, o som de algum modo mais alto do que a terra a ribombar.
— Tudo bem, cara? — falou Cal. — Achou um jeito de descer?
— Não, você que achou um jeito de subir — respondeu ele. — Qual é o plano, então? Voar para casa, tomar um chá?
Cal sorriu. Como Marcus podia estar tão relaxado? Não entendia como não estavam todos encolhidos em um canto, gritando, chorando e arrancando os cabelos. Aquilo tudo não bastava para enlouquecer uma pessoa, para deixá-la arrasada, sem falar coisa com coisa? Ele achou que ainda podia estar em choque, numa reação retardada. Se sobrevivessem àquilo, podiam todos terminar no hospício.
— São os anjos, seu bobo — disse Daisy, outra vez colhendo os pensamentos da cabeça dele. — Eles nos mantêm em segurança de várias maneiras.
— Você precisa ficar fora da minha mente, Daisy — falou Cal. — Sou um adolescente. Tem coisas aqui dentro que você não quer ver.
— Como a Georgia? — disse ela, dando outra risadinha.
— Cala a boca — protestou ele, olhando dentro da cabeça dela e vendo ali um menino no palco, a imagem tão nítida que poderia ser uma memória sua. — Ou então vou começar a falar do Fred.
— Ei! — disse ela, dando-lhe um tapinha com as costas da mão. — Nada disso!
Riram baixinho, e, em seguida, ficaram sentados em silêncio, ouvindo a tempestade distante.
— Sério — disse Cal. — Como vamos derrotá-lo?
— Vamos começar do começo — falou Daisy. — Precisamos achar Brick e os outros. Não conseguiremos sem eles.
— Mais fácil falar do que... — Cal parou, inclinando a cabeça para o lado. Seus ouvidos zumbiam, como na manhã que sucede um show. — Está ouvindo?
— Parou — disse Daisy.
Era isso. A tempestade tinha silenciado, tão de repente e tão completamente que a quietude na floresta era quase irritante. Cal colocou um dedo na orelha, flexionando o maxilar.
— Você acha que acabou? — perguntou Marcus.
— Não — falou Daisy, inclinando o tronco para a frente, seus olhos se movendo de um lado para o outro enquanto ouvia. — Acho que não. Só mudou de lugar.
O zumbido no ouvido de Cal ficou mais alto, e a floresta se acendeu, repleta de fogo. Uma silhueta despencou dentre as árvores, provocando um baque no chão, brilhando com tanta força que Cal só distinguiu a pessoa dentro das chamas quando elas se extinguiram. Ele piscou para eliminar os pontos de luz da visão, vendo o novo garoto agachado.
— Howie! — disse Daisy. — Tudo bem?
— Eu estou bem — falou ele com a voz rouca, cuspindo uma bolota de catarro escuro. — Fiquei perdido quando me transportei, ou sei lá o que foi aquilo. Fui para algum lugar escuro e frio. Achei que nunca mais ia voltar. E você? Vi você sendo sugada.
— Eu saí — disse ela.
Howie deitou de costas, parecendo exausto. Também parecia assustado.
— Acho que ele me viu.
— Viu você? — perguntou Cal. — Como assim?
— O homem na tempestade — falou Howie. — Acho que ele sabe para onde eu fui. Acho que ele está vindo.
Brick
Rio de Janeiro, 14h52
Ele irrompeu do céu como um relâmpago, provocando uma leve trovoada quando o mundo se refez ao redor. Desorientado, tropeçou, caindo em uma chapa de ferro corrugado. Era algum tipo de casa, ou de barraco, seu fogo frio refletido no metal fosco. Rodopiou, e as asas cortaram o metal, transformando-o em pó. Havia construções similares por toda parte, centenas delas, estendendo-se por um morro. À distância, havia outra cidade, e outro oceano. Ele viu uma montanha com uma estátua enorme em cima, que reconheceu da televisão.
Onde diabos estava?
Ouviu um barulho próximo, alguém ganindo. Virou-se mais uma vez, e viu um rosto aparecer entre duas das construções. Era uma criança, mas a expressão era a de um bicho, repleta de ódio furioso. Outros gritos se somaram ao do menino, até que o lugar soava como um zoológico na hora da comida. Passos vinham para cima de Brick, pisoteando a terra, um enxame proveniente de todas as direções, com os olhos arregalados, as mãos retorcidas em garras.
Vão embora!, gritou ele, tentando conter as palavras na garganta, onde não causariam mal nenhum. Mesmo assim, o pensamento parecia ter força própria, ondulando pelas construções e transformando em cinzas a primeira fileira de furiosos. Não, desculpem, desculpem!, disse ele, batendo as asas, só o tamanho delas já chutando a nuvem de carne e ossos em pó em redemoinhos que se precipitavam, brincando entre as casas. Levantou voo, vendo os furiosos abaixo, agora centenas deles, pisoteando-se para alcançá-lo.
Algo detonou no céu, uma onda de choque explodindo sobre a favela, achatando as casas de latão e tudo o mais. Brick ergueu as mãos para se proteger, e entre os dedos viu Rilke disparando em direção à terra. Ela o alcançou em uma fração de segundo, o impacto socando-o através de metal, terra e rocha, como se ele estivesse sendo jogado em uma cova por um trem. Sentiu os dedos da mente dela esgueirarem-se em sua cabeça, em seu coração, tentando desfazê-lo, e a xingou, cada palavra uma martelada que a forçava para trás.
Brick conseguiu se desvencilhar, com o anjo ardendo em potência máxima, seu zumbido elétrico como a coisa mais ruidosa do mundo. Disparou como um foguete pelo canal que tinha talhado na pedra, escapando para a luz do sol. Rilke o esperava pairando, tão luminosa quanto se o sol tivesse caído do céu. Em volta dela, havia apenas uma cratera de destruição, as construções em ruínas. Pessoas ainda jorravam dos escombros, tropeçando em cadáveres de amigos e vizinhos, ofuscadas pelo próprio ódio instintivo.
Ele estendeu as asas, pronto para fugir outra vez, mas Rilke o agarrou com mãos invisíveis, prendendo-o ali. Ela tapou a boca dele com algo, um punho de ar enterrado em sua garganta. Como poderia ser tão forte, quando estava tão machucada?
Desculpe, Rilke, disse ele.
Olhe só para ele, Schill, ouviu-a. Veja como ele suplica feito um cachorrinho. O que vamos fazer com ele? O mesmo que ele fez com você? Vamos arrebentá-lo pedacinho por pedacinho?
Brick lutava, incapaz de se soltar. Não podia sequer fazer uma palavra escapar pela garganta bloqueada.
Você o matou, ganiu Rilke. Matou meu irmão!
Não!, foi o máximo que Brick conseguiu emitir antes que Rilke abrisse a boca e despejasse um som. Não propriamente uma palavra, só um som molhado e gorgolejante, mas proveniente do anjo dela, e, quando tal som o atingiu, ele teve a impressão de que o universo inteiro virara do avesso. Despencou no chão de novo, rolando em meio a aço e rocha. Mesmo através do fogo gélido, foi tomado pela dor.
Uma eternidade pareceu se passar até que ele enfim parasse de se mover. Levantou-se, seu anjo não mais ardendo. Um líquido pingou de seu rosto, bem quente contra a pele e, quando o tocou com os dedos, eles ficaram vermelhos.
Não, pensou ele, os ouvidos zumbindo tanto que só ouviu os furiosos quando o primeiro deles apertou sua garganta. Rosnou, tentando soltar aqueles dedos, e sentiu algo bater em sua bochecha, um punho ou uma bota. Fogos de artifício incolores dançavam contra o céu, esburacando sua visão. Tentou fazer o anjo pegar no tranco, assim como fazia com sua motocicleta, mas não sabia como. Uma unha longa e suja foi contra seu olho, e ele gritou. Funcione, droga, por favor! POR FAVOR!
Mais furiosos vieram para cima dele, tantos que ele não via mais o sol. Não tantos que chegassem a esconder Rilke, porém, quando ela flutuou pelo ar até ele, com as asas plenas. Brick ouviu então um barulho além do zumbido martelante do anjo, agudo e feio, como um prego contra vidro. Era o riso de Rilke.
Quem ela achava que era? Tinha matado Lisa com um tiro na cabeça. E quantos mais? Milhares. E ainda tinha a ousadia de acusar ele de assassinato? A raiva de Brick subiu do estômago: um incêndio explosivo que incinerou a turba e jogou Rilke para trás, permitindo a Brick sair do chão.
Ele não deu a Rilke a chance de se recuperar: foi para cima dela com tudo o que tinha. Ela agitava os braços como se estivesse em uma briga de bar, cada golpe mandando enormes lufadas de energia pelo ar. Errava a maioria delas, talhando trincheiras no morro, na cidade, chicoteando o mar à distância. Ele também gritava, sem se importar com o que dizia, deixando o anjo falar por si. Rilke contra-atacava, e havia relâmpagos disparando em todas as direções, o ar ao redor agitando-se febrilmente.
Um dos ataques dele deve ter acertado o alvo, porque, de repente, Rilke saiu rodopiando e ardendo, sumindo em meio a um mar de detritos. Brick passou a mão no ar, seus dedos invisíveis erguendo mil toneladas de metal, madeira e gente como se fossem um lençol. Cerrou o punho, e o lençol virou uma bola, aquilo tudo maior do que um estádio de futebol. Ele a mandou para longe, vendo-a ser lançada pelo ar como se disparada por uma catapulta, deslizando sobre a superfície do oceano.
Tinha de estar morta, aquilo por certo a teria matado.
O oceano explodiu, e Rilke disparou dele como um míssil vindo de um submarino. Ela desapareceu para, então, reaparecer no mesmo instante no céu acima de Brick. Seu fogo se intensificou, e ela desapareceu de novo, e de novo, preenchendo o ar de brasas. Ele ouvia a voz dela aparecendo e sumindo, ainda entremeada de insanidade: acabou com a gente, acabou com a gente, não vou contar, irmãozinho, ela não precisa saber, não se o matarmos.
Chega!, disse ele. Basta!
Rilke removeu a si mesma da realidade outra vez, e, agora, ao refazer-se, apareceu bem atrás dele, o fogo dela projetando sua sombra dourada sobre a terra. Envolveu-o com seus braços, os dela e os do anjo, travando os dele na lateral do corpo. O som que os anjos deles faziam juntos era surreal, um martelar tão alto que Brick era capaz de ver pedras dançando no chão lá embaixo, tudo o que era sólido virando líquido. Faíscas sibilavam e estalavam em volta deles.
— Você devia tê-lo deixado em paz! — disse ela, os lábios contra o ouvido dele, as palavras detonando contra sua armadura de fogo, ricocheteando em todas as direções.
O ar ia ficando mais agitado, rosnando para a força deles. À distância, a cidade desabava, seus prédios transformados em pó. A imensa estátua se partiu em dois pedaços e caiu, com metade da encosta desabando depois.
Brick a enfrentava, tentava se desvencilhar, mas não conseguia se mexer. A terra abaixo estava sendo afastada, como se um helicóptero pairasse sobre a água, formando uma imensa cratera. O pulsar sônico dos anjos ficou mais alto e mais agudo. Aqueles flashes de luz branca, dourada, azul e laranja zuniam feito chicotes, cada um fazendo o céu tremer. Ele mal conseguia ouvir Rilke com o barulho.
— Você não devia ter acabado com a gente!
Não acabei!, gritou ele. Não acabei! Foi o homem na tempestade! Ele matou o seu irmão!
As palavras dele devem ter soado verdadeiras, porque sentiu que ela afrouxou a pegada. Brick aproveitou a oportunidade para escapar de seus braços. No momento em que desfez o contato, algo se acendeu no espaço entre eles. Foi como outra explosão nuclear, impelindo-o para cima em uma onda luminosa. Precisou de um instante para achar as asas, estendendo-as e se detendo, com os olhos arregalados diante da visão do que tinham feito.
A força da explosão não tinha deixado nada — nem prédios, nem gente, nem água —, só um deserto de poeira cor de areia de um horizonte a outro. O oceano fervilhava do outro lado, distante da terra ao tentar nivelar-se de novo, o rugido audível mesmo dali do alto. O ar subia e caía em volta dele, o planeta recuperando o fôlego, e um estalo aqui e ali precipitando-se contra o céu.
Não fui eu que fiz isso!, disse ele consigo, o próprio coração batendo quase com a mesma força do coração do anjo. Foi ela, ela fez isso, ela matou todo mundo, não eu!
Não havia o menor sinal de Rilke em lugar nenhum. De repente, ela explodira a si mesma, arrebentando-se em átomos, espalhando-os pelo túmulo sem limites abaixo. Por Brick, tudo bem, até porque nunca se sentira tão cansado, tão fraco, mesmo com o fogo correndo em suas veias.
Algo atraiu sua atenção para o sol, e ele ergueu a cabeça, vendo-o partir-se em dois. Rilke se lançava contra ele, o grito dela levantando a poeira dos mortos, criando dunas de cinzas. Brick ergueu as mãos, pronto para se defender, percebendo, ao fazer isso, que não poderia derrotá-la, não sozinho.
Usou a mente, abrindo o tecido do espaço-tempo e atravessando-o. Desta vez, porém, sabia exatamente para onde ia.
Daisy
São Francisco, 15h01
— Ele está chegando.
Howie mal tinha terminado de falar quando Daisy ouviu um som de tiro na floresta. Ela olhou por entre os galhos no momento em que um relâmpago negro partiu o céu em dois, tão escuro que feriu a retina deles. Veio outro, com nuvens de trevas infiltrando-se do ar cindido como tinta vertendo em água. O trovão pingava do céu fraturado, preenchendo a floresta de ruído.
— Preparem-se! — disse Cal. — O que quer que aconteça, vamos nos manter juntos, certo?
O céu agora estava sujo de fumaça, com gotas de um fogo negro e horrível espraiando-se do centro do caos como manchas solares envenenadas. Uma forma se avolumava daquela insanidade oscilante, com duas enormes asas que batiam com força suficiente para rachar os troncos das árvores, despojá-las de tudo. A besta rugia ao libertar-se, um rugido para dentro, como uma respiração asmática ensurdecedora. Seu rosto estava oculto pela fumaça, mas Daisy pôde ver a silhueta de sua boca ali, a coisa mais escura do céu.
— Fiquem juntos! — disse Cal outra vez, agora gritando. — O que a gente faz agora?
Daisy olhou para ele, depois para Howie e, em seguida, para Marcus, que segurava Adam em seus braços fininhos. Todos olhavam para ela à espera de uma resposta. Mas por quê? Por que achavam que ela sabia o que fazer? Ela só tinha doze anos. Não era uma heroína, nem forte, nem tão inteligente assim, para falar a verdade. Não sabia de nada. Não sabia.
Só que... sabia sim! A verdade estava em algum lugar no fundo dela, gritando o mais alto que podia, dizendo-lhe que, se eles não se mantivessem firmes ali e tentassem enfrentar o homem na tempestade, todos iriam morrer. Ela chegava a visualizar isso: Marcus e Adam primeiro, transformados em pó, porque ainda não tinham seus anjos. Depois ela, porque estava exausta. Cal e Howie revidariam com tudo, mas não seria suficiente, não contra aquilo.
A besta içava-se do vazio atrás do mundo, estilhaçando a realidade. Trazia consigo aquela sensação horrenda, sugando todo o calor do dia, toda a bondade, fazendo Daisy querer simplesmente sentar e chorar pelo resto da existência. Não havia nada acima dela além de um oceano invertido de piche fervilhante, o sol era um halo tênue. Era como se a noite tivesse caído, de repente e sem aviso. Os olhos do homem eram holofotes escuros que perscrutavam a floresta, procurando por eles. Sua boca arquejante sugava árvores, raízes e pedras. Porém, ele ainda não os tinha visto.
Precisamos ir!, disse ela. Agora mesmo!
Como assim?, perguntou Cal. Podemos enfrentá-lo, somos três. Nós o enfrentamos em Londres, vamos enfrentar de novo.
Espere!, ela lhe disse, mas Cal já tinha se despojado de sua pele humana, com uma fornalha irrompendo nos vazios de seus olhos, espalhando-se pelo corpo. As asas expandiram-se em suas costas: um farol ardente que fez a noite tornar-se dia outra vez. O homem dirigiu seu olhar sem luz para onde estavam, e Daisy chegou a sentir a pútrida alegria dele ao perceber que os tinha pego.
Ela mergulhou na própria cabeça, destrancando a porta e deixando seu anjo sair. Howie fez o mesmo, irrompendo em chamas. Daisy ergueu os olhos do anjo e viu o homem atacar com um punho de fumaça, que veio com a força de um meteoro, com uma velocidade inacreditável.
Daisy usou a mente para alcançar o tempo e prendê-lo em seus dedos em chamas. Era como tentar segurar um dobermann pela coleira — sentia que era ela a ser arrastada. Porém, fincou os calcanhares, ouvindo o universo gemer de dor quando suas regras foram quebradas, cada átomo estremecendo em protesto.
Não consigo segurar, disse ela, vendo o céu cair em câmera lenta, aguardando o momento em que seria alvejada e tudo terminaria. Cal, porém, soube o que fazer, abrindo uma porta e os puxando através dela — primeiro Marcus e Adam, depois Howie, e, por fim, Daisy —, batendo-a após a passagem.
Ela olhou para trás quando a realidade se fechou, vendo as garras da noite liquefeita acertarem o chão onde estavam, explodindo árvores em farpas. Então o tempo libertou-se de seu domínio — a barriga dela dançando quando arderam e voltaram. Através da algazarra de brasas reluzentes, ela via os outros, dois anjos que brilhavam como aço derretido, além de Adam e Marcus envoltos nos braços um do outro, um fogo azul queimando abaixo da pele do peito deles.
O mundo revirou-se até voltar ao lugar, esvoaçando um pouco como uma cenografia prestes a desabar. Quando assentou-se, Daisy distinguiu uma paisagem de gelo e neve, uma cordilheira de montanhas projetando-se do horizonte como dentes. Estava quase escuro ali.
Daisy desceu ao chão, desconectando-se de seu anjo para que ele descansasse. Assim que o fez, arrependeu-se; ali estava congelando, o vento como que os dedos de um morto subindo e descendo por suas costas.
— Podia ter avisado — disse Marcus, enxugando o vômito da boca. Ele e Adam estavam curvados, uma poça de fluido branco à frente. — Não me importo de ser arrastado pelo mundo, mas poderia me dar a chance de me preparar da próxima vez? O vômito não é nada; só que acho que fiz cocô nas calças.
Daisy riu enquanto estremecia. Adam correu até ela, que o envolveu nos braços.
— Também podia ter levado a gente para um lugar mais quente — disse Marcus, batendo os dentes.
— Desculpe — respondeu Cal. — Ainda não peguei o jeito disso. No mais, aqui está tudo quieto, não tem ninguém por perto para tentar matar a gente. — Suspirou. — A gente devia tê-lo enfrentado.
— Pois é — disse Howie, balançando a cabeça. — Agora ele sabe que a gente está com medo.
— A gente não teria vencido — falou Daisy. — Teria sido suicídio. — A palavra ficou presa na garganta dela, junto a imagens da mãe morta na cama. E nós teríamos machucado você. — Nós não éramos fortes o bastante.
— Como você sabe? — disse Howie.
— Cara — disse Cal —, chega! Nenhum de nós tem a menor ideia do que está acontecendo, mas a Daisy, ela entende as coisas. Desde o começo. Você pode fazer o que quiser, mas eu confio nela.
Cal exibiu um sorriso, e Daisy retribuiu, mesmo que fosse bem difícil, porque os músculos de seu rosto estavam congelados. Howie apenas passou um braço pelo ar, deixando-os de lado e examinando as montanhas, aninhadas na penumbra.
— Podemos vencê-lo — disse Daisy. — Mas precisamos de todo mundo. De Brick e de Rilke.
— Rilke? — falou Marcus. — A essa altura, ela já deve ter morrido, depois do que ele fez com ela.
— De você e de Adam também — prosseguiu Daisy. — Precisamos que os anjos de vocês nasçam.
— Pois é, estou tentando — disse Marcus, batendo no peito. — Mas esse negócio não está me dando a menor bola. Deve ser o anjo mais preguiçoso do... da... da terra dos anjos.
— Por que vocês os chamam de anjos? — perguntou Howie, virando-se para eles.
— Você sabe — disse Cal. — Fogo, asas, voo, dar uma surra em um demônio malvadão no céu. Bem óbvio, para dizer a verdade.
— Mas eles não são anjos, são? — indagou o novo garoto. — Quer dizer, para começar, os anjos não existem. E, se existem, são bons. Tipo, totalmente bonzinhos, ou algo parecido. Estes são diferentes. Essa coisa... — ele estendeu as mãos, como se ainda tivessem fogo brotando delas — ... essa coisa meio que me dá vontade de explodir tudo.
— Acho que eles não estão na Bíblia — falou Cal. — Falamos com um sacerdote uns dias atrás. — Ele parou, franzindo o rosto. — Cara, não, foi hoje de manhã. — Fez que não com um gesto de cabeça, como se não conseguisse acreditar. — Bom, ele disse... Bem, para ser sincero, não lembro, eu estava muito mal. Mas algumas pessoas acham que a Bíblia se baseia em coisas que as pessoas viram, tipo, séculos atrás, em histórias que foram transmitidas.
— E... — disse Howie, porque Cal havia parado de falar.
— E aí que, você sabe, isso pode ter acontecido antes, essas coisas feitas de fogo lutando com a coisa feita de fumaça, ou o que quer que seja. As pessoas viram, contaram para os filhos, e eles ganharam o nome de anjos. Que tal?
Howie deu de ombros.
— Que diferença faz? — questionou Marcus. — A gente só sabe que eles estão aqui, dentro da gente, e que querem botar pra quebrar. Fim da história.
— Tem certeza? — falou Howie. — E se eles estiverem do lado dele; e se nós é que devemos ajudar o homem na tempestade?
— Nem me venha com esse papo — disse Cal. — A gente ouviu isso de Rilke, e veja o que aconteceu com ela.
Howie ergueu as mãos, rendendo-se.
— Estou só tentando eliminar todas as possibilidades. Não é muito difícil passar de bêbado na praia para possuído por um ser mais ou menos anjo que quer salvar o mundo da destruição certa.
— Você estava bêbado? — perguntou Daisy. — Quantos anos você tem?
— Treze — disse ele. — Idade mais do que suficiente.
— Você ainda está bêbado? — perguntou Cal.
Howie sorriu.
— Infelizmente, não. Acho que uma garrafa de rum poderia ajudar bastante a lidar com essa situação.
— Eca! — disse Daisy.
Ficaram um pouco calados, e ela se voltou para dentro, para falar com seu anjo. Ele tem razão? Você é bom? Você já esteve aqui? Ele não respondeu, limitando-se a ficar sentado como uma estátua na alma dela. Daisy pensou no que tinha visto antes, no lugar de onde haviam vindo, um lugar frio e inerte onde nada acontecia. Estremeceu ao pensar que, quando aquilo acabasse — em derrota ou vitória —, seu anjo teria de voltar. Ficaria trancado de novo em sua cela até a próxima vez que se fizesse necessário.
— E aí, como é que a gente faz? — perguntou Marcus. — Meu anjo pode levar dias para acordar. Até lá, pode não haver mais nada para salvar.
— Não necessariamente — disse Cal. — Existe um jeito de... dar motivação a eles.
— É?
Cal fez que sim com a cabeça, mas, em vez de falar, pareceu transmitir uma imagem. Daisy o viu de pé à beira de um precipício, e, em seguida, caindo. Se seu anjo não tivesse despertado naquele momento, teria morrido, e Cal também. Fora uma aposta arriscadíssima.
— O quê? Cara, de jeito nenhum! — falou Marcus. — Você é maluco! Não tem a mínima chance de eu fazer isso!
— Foi só uma ideia — disse Cal. — Tem alguma melhor?
— Talvez eu tenha — falou Daisy.
Ela sorriu para Marcus e se conectou com seu anjo, olhando a chama azul no peito do garoto, a força que ela fazia para sair, para alcançá-la. Marcus recuou, apertando os olhos para proteger-se do brilho nos olhos dela, murmurando:
— Por que tenho a sensação de que não vou gostar disso?
Cal
Manang, Nepal, 15h15
Confie em mim, disse Daisy. Não dói.
Cal observava enquanto ela flutuava em direção a Marcus, seu fogo ardendo, mas sem exalar calor. Dedos de luz projetaram-se da neve, desabando quase de modo instantâneo. O ar tremia com a força dela, soando como uma dúzia de amplificadores de guitarra no volume máximo. Seus olhos eram como poças de luz solar liquefeita, e Cal ainda sentia o medo fazer cócegas em sua espinha, pensando na surrealidade daquilo.
— Ah, tá! — disse Marcus, dando um passo hesitante para trás. — Vou simplesmente confiar em você, claro.
Daisy não retrucou, só estendeu a mão para o peito de Marcus. Cal não viu nada até apertar o botão psíquico e se conectar com o anjo. De repente, Marcus era um motor cheio de engrenagens, seu peito repleto de fogo azul. Aquelas chamas pareciam estender-se para Daisy, procurando-a. Os dedos dela eram genuíno fogo, projetando-se através da camisa de Marcus e para dentro da pele dele.
— Opa, opa, opa! — gritou Marcus, dando um passo para trás, seu caminho bloqueado por Howie. — Isso não é legal, Daisy, só...
Vai ficar tudo bem, falou ela, insistindo na tentativa. A lâmina de sua mão aplanada cortou-o como o bisturi de um cirurgião, seus dedos tocando o fogo que ardia em seu peito. Assim que ela fez contato, ouviu-se um nítido estrondo, e Daisy voou para trás, como se tivesse levado um choque elétrico. Porém, ela sorria, porque o fogo de Marcus se espalhava no peito dele, atravessando as veias e saindo pelos poros. Ele resistiu, dando tapas na pele, dançando parado, ganindo palavrões, amaldiçoando Daisy o tempo inteiro.
Não resista, disse ela. Está vendo? Não dói, dói?
Ele não respondeu, só ficou saltitando e chutando bocados de neve. As chamas frias e azuis bruxuleavam para cima e para baixo, tentando firmar-se, até que, de repente, ganharam vida com força total, vermelhas, laranja, douradas. Marcus gritou, o ruído ecoando pelas montanhas distantes. Seus olhos estavam repletos de luminosidade incandescente, cuspindo faíscas. Ele foi ao chão quando uma asa, batendo para baixo, virou-o na diagonal. Cal precisou levantar voo para sair do caminho enquanto Marcus esperneava no chão, arrancando nacos de pedra com as novas mãos.
Somente quando a outra asa de Marcus deslizou para fora, ele pareceu acalmar-se, pairando a cerca de um metro do chão. Seu peito se enchia e esvaziava, ainda que Cal tivesse certeza absoluta de que não precisavam efetivamente respirar quando estavam daquele jeito. Marcus girou para cima e levou as mãos ao rosto, examinando a nova pele.
— Lega... — As sílabas ricochetearam entre eles, e Marcus tapou a boca com a mão.
Voz interior, falou Daisy.
Esta?, respondeu ele, as palavras na cabeça de Cal, fracas, mas cada vez mais fortes. Opa, eu... Isto... Que loucura, cara! Só pode ser um sonho!
Se é, então estamos todos no mesmo sonho, disse Cal. Tudo bem?
Tudo, tudo bem. É... É como ter tomado Valium, sei lá. Você se sente... calmo, uma coisa assim.
O que é Valium?, perguntou Daisy.
Um remédio para ficar legal, respondeu Howie.
Achei que seria diferente, prosseguiu Marcus, com as asas estendidas acima da cabeça, filtrando a fria luz do sol em filamentos de ouro. Achei que sentiria algo mais forte, sabe? Como se estivesse possuído ou algo assim. Mas... não tem nada a ver. Parece que sou o Super-Homem.
Você é magricela demais para ser o Super-Homem, protestou Cal. Ele se virou para Daisy. Como você sabia que devia fazer isso?
Apenas sabia respondeu ela. Acho que o anjo me mostrou.
Queria que ele tivesse mostrado a você antes de eu pular de um precipício, falou Cal. Teria ajudado bastante.
Daisy riu, o som erguendo-se acima das batidas do coração deles como o canto de um pássaro após uma tempestade.
Desculpe, disse ela. Cal riu também, e meu Deus, como era bom, ele se sentia dez toneladas mais leve. Daisy ajoelhou ao lado de Adam, sua mão incandescente repousando no ombro dele. O garotinho não parecia assustado; não parecia nada, para dizer a verdade. Mas seus grandes olhos estavam repletos de confiança ao olhar para ela.
Você vai ficar bem?, perguntou a ele. Não precisa fazer isso se não quiser. Mas não dá medo, Adam; eles estão aqui para cuidar de nós.
Deixe-o assim, disse Howie. É uma criança, não vai ajudar muito em uma luta.
Provavelmente era verdade, mas, mesmo que Adam não lutasse, ao menos o anjo o manteria em segurança. A chaminha no peito dele procurava Daisy, que delicadamente levou a mão até ela.
Estou aqui, viu? Não precisa ficar com medo.
Ela fez contato, liberando outra supernova de luz e som. Cal precisou virar para o lado desta vez e, quando olhou de novo, viu Daisy e Adam no ar, deixando um rastro de chamas ondulantes. O garotinho estava em dificuldades — Cal não via, mas percebia —, e Daisy o segurava, recusando-se a soltá-lo. O trovão rasgou o céu, e um clarão surgiu quando Adam se transformou. Após um ou dois minutos, os dois anjos desceram, sem chegar exatamente a pousar na neve.
Tudo bem?, perguntou Cal. Adam fez que sim com a cabeça, os olhos como duas piscinas de minério derretido que não piscavam.
Você foi tão corajoso!, disse Daisy. Sabia que seria.
Adam sorriu para ela, suas asas batendo acima da cabeça. Cal aguardou, perguntando-se se ele falaria agora que não tinha boca. Não havia sinal dele, porém, na profusão de vozes em sua cabeça. O que quer que o garoto tivesse enfrentado quando a Fúria havia começado, aniquilara mais do que apenas sua voz.
Dê uma chance a ele, disse Daisy, capturando os pensamentos de Cal como borboletas em uma rede. Logo ele vai falar, sei que vai.
Cal fez que sim com a cabeça, e, por alguns instantes, ficaram suspensos ali, os cinco, as asas arqueadas contra o dia evanescente, suas pontas quase se tocando. Os anjos espalhavam luz e som pela neve, fazendo tudo parecer uma dança. Até as montanhas estrondavam contra o horizonte, tremendo como se tivessem medo. E fazem bem em tê-lo, pensou Cal. Porque agora estamos prontos.
Quase, disse Daisy.
Pois é, precisamos de um plano ou algo assim, não é?, falou Marcus. Uma estratégia, ou coisa parecida.
Eu tenho um plano, disse Howie.
Mesmo? Marcus virou seus olhos flamejantes para o novo garoto. Legal. Qual?
Não morrer.
Excelente, cara, disse Cal. Mas ele riu outra vez, o som correndo dentro de si, quente contra a gelidez do anjo. Não morrer é um plano?
É, disse Howie, rindo também. O que quer que aconteça, por pior que fique, não morrer.
Todos riram, tão silenciosamente quanto podiam, o ar entre eles tremendo e cintilando com a força daquele ato. Até Adam riu. Cal se perguntava o que as pessoas diriam se pudessem vê-los ali — cinco criaturas talhadas em fogo frio, dando risada, as asas se agitando acima. Essa imagem fez com que Cal risse com ainda mais força, e precisou se afastar, encarar as montanhas, para tentar se conter.
Vocês são malucos!, disse Howie. Totalmente, completamente malucos, sabiam?
Pois é, falou Marcus. Acho que já faz um tempo que a gente sabia disso, cara.
“Não precisa ser maluco para trabalhar aqui, mas ajuda”, acrescentou Daisy, gerando novas risadas. Que foi? Minha mãe tinha um adesivo que dizia isso. Só agora entendi o sentido.
Então, disse Cal, sentindo as lágrimas congelarem no rosto, caindo na neve abaixo como diamantes. Não temos um plano, não temos ideia do que está acontecendo. O que falta fazer?
Só uma coisa, respondeu Daisy, olhando além de Cal, além das montanhas, por cima de continentes e oceanos. Precisamos achar Brick, e também Rilke.
Ele não vai voltar, disse Cal. Sei que tem fé nele, Daisy, mas pode acreditar: neste momento, Brick está o mais longe possível do homem na tempestade, e somos as últimas pessoas que ele quer ver.
Brick
São Francisco, 15h18
Eles tinham de ainda estar ali, tinham de ajudá-lo.
Brick seguiu o caminho que tinha feito havia poucos minutos no piloto automático, deixando que seu anjo o guiasse pelo espaço atrás do universo. Quando fora cuspido de volta ao mundo real, porém, era noite em vez de dia, e onde antes ficava a floresta havia agora uma extensão nua de terra que se estendia até o horizonte cindido. O vento batia contra ele enquanto tentava pousar, como se o esmurrasse, o zumbido do coração do anjo tão alto que Brick precisou de um instante para se recompor ao ribombar do trovão acima.
O homem na tempestade estava suspenso no céu, parecendo um corvo gigante em um ninho de trevas. Suas asas se erguiam dos dois lados, feitas de um fogo da cor de fumaça e petróleo. Entre elas, havia um vórtice que girava e girava, um furacão que sugava tudo à vista. Brick sentia seu toque frio contra a pele, levando-o junto com a rocha partida da encosta. Tropeçava em pleno ar, chamando com a voz e a mente ao mesmo tempo, mal conseguindo ouvir a si mesmo. Era como se fosse uma pulga sendo sugada por uma turbina de avião.
Não havia nem sinal dos outros.
Onde estavam? Tinham voado para longe, abandonando-o. Aqueles desgraçados egoístas! Tinham-no deixado ali para morrer. Lutava para controlar as asas, tentando libertá-las da corrente. Mas ela era forte demais, com aquela pressão incansável, sugando Brick para a boca do homem. Soltou um palavrão, que se desprendeu de seus lábios como uma bala de canhão de luz, disparando pela terra na direção completamente errada.
— Socorro! — gritou ele, tentando fugir por meio do fogo, como fizera com Rilke. Rilke... em comparação a isso, ela era um filhotinho.
Tentou ouvir a voz de Daisy, a de Cal, a de qualquer pessoa, mas era como se seus ouvidos tivessem virado purê. O universo inteiro girava em torno dele, ficando mais escuro e mais frio, fechando-se em volta de sua cabeça. Ele girava rápido demais até para ver aonde ia, a mandíbula enorme e triturante do homem aparecendo e desaparecendo em alta velocidade.
Brick esticou as asas para firmar-se, passando a mão pelo ar e lançando uma lufada de energia contra a coisa acima. Abriu a boca e amaldiçoou-a, urrando sua fúria contra a besta. O homem na tempestade não pareceu nem sentir, com a respiração incansável de turbina ainda sugando-o para cima. Brick girou na vertical, a terra tão longe dele que ele já enxergava a curva do horizonte. Batia as asas, as pernas, as mãos, como se nadasse, tentando estabilizar-se com desespero. Porém, a corrente de ar era impiedosa.
— Não! Não vou permitir! — gritou ele. O mundo ia escurecendo à medida que ele era sugado para as nuvens tempestuosas, o barulho da boca do homem como punhos de metal machucando seu cérebro. — Não vou!
Sentia-se uma criança a gritar, arrastado pela mão de um pai. Sentia-se tão pequeno, tão impotente, tão ridículo, com tanta raiva. Passara a vida inteira furioso com o mundo. Tinha levado aquela raiva consigo para todo lugar, sem nunca conseguir se livrar dela. A raiva era a razão de estar onde estava quando a Fúria atacara. Era por causa dela que tudo isso tinha acontecido com ele. E agora ela o mataria.
Não! Não precisava ser daquele jeito. Ele não precisava ficar com raiva. Talvez fosse assim que as coisas acontecessem com eles, os anjos; talvez fosse por isso que tentavam anestesiar tudo na sua cabeça. Talvez só se colocavam em ação se você não estivesse com raiva — nem triste, nem feliz, nem com medo. As emoções eram demasiado humanas, só serviam para atrapalhar. Quantas vezes não tinha dito isso a si mesmo, só para se acalmar e deixar a raiva passar?
Agora, Brick! É agora, ou você vai morrer!
Fechou os olhos, tentando ignorar o vento nos ouvidos e o ar frio e úmido que se agarrava a seu corpo feito terra, como se estivesse em uma cova. Acalme-se, disse ele. O coração não obedeceu, batendo em um ritmo febril no peito, parecendo prestes a estourar com a pressão. Acalme-se. Forçou-se a pensar na praia em Hemmingway, no belo oceano, plano e brilhante como papel-alumínio, nada além de calor, silêncio e quietude.
Deu certo: a raiva fervilhante no estômago começou a se amenizar, a brasa no cerne de sua mente passou a esmorecer. Na ausência dela, ele conseguia sentir o anjo ocupando cada célula de seu corpo, esperando que ele entendesse e fizesse a coisa certa. Ainda havia algo desagradável entremeado em suas entranhas, mas imaginou que aquilo era o melhor que poderia fazer.
Ajustando as asas, virou-se para enfrentar a tempestade, tapando as escotilhas para conter a maré de emoção. Era capaz de sentir algo ardendo dentro de si, vindo do anjo, uma onda de calor frio. Ela rasgou seu esôfago e detonou de seus lábios, tão poderosa que deixou o ar em chamas. A palavra talhou um caminho incandescente, formando um rastro de míssil ao desaparecer na fumaça. Aguardou a explosão, aguardou que o rosto do homem derretesse, que mugisse em um grito de derrota.
Nada aconteceu.
Brick abriu a boca, esperando o anjo se recompor. Aquela cócega de medo ainda estava ali, a raiva voltava crescente. Ele entrou em pânico, lutando contra o arrasto da inspiração do homem, as asas batendo como as de um cisne.
Um arame de relâmpago negro disparou do vórtice, tão escuro que parecia um rasgão na realidade. Veio zunindo na direção de Brick, rápido demais para que o evitasse, e chocou-se contra sua asa. A dor foi tão forte, tão diferente de tudo o que já tinha sentido, que de início sequer pôde assimilá-la. Então ele veio, um sofrimento que o abalou até o âmago, parecendo emanar não de seu corpo, mas do corpo do anjo.
Gritaram juntos quando outra chicotada desceu serpenteante, golpeando suas costas. Brick olhou para trás, vendo a escuridão presa à outra asa, retendo-a como uma criança pinçando um bichinho indefeso. Jogou a mão para trás, tentando contê-la, mas ela girava rápido demais, subindo, subindo e subindo para o tornado. Ouviu o som de algo se rasgando, e veio outro jato de dor incandescente. Quando Brick olhou de novo, viu a asa esvoaçar, uma folha de fogo pálido que se enroscava ao vento, esvanecente.
Seu anjo gritou mais uma vez, agora sem força na voz. E, sem uma asa, Brick tombou para dentro da tempestade.
Rilke
Rio de Janeiro, 15h22
Saia, saia de onde quer que esteja!
Rilke espiava por entre a pele do mundo, tentando achar o menino com asas. Era isso que ela fazia agora? Brincava de esconde-esconde com Schiller?
Não, ele morreu, lembra?, algo lhe disse. Ela estendeu a mão feita de éter reluzente e tocou a testa. Havia um buraco ali, como um terceiro olho, mais ou menos do tamanho do dedo. Não conseguia de jeito nenhum se lembrar de como tinha feito o buraco. Um garoto de asas, um garoto com fogo no lugar do cabelo, o mesmo garoto que matou seu irmão.
Quase podia vê-lo na confusão dos pensamentos, um garoto alto chamado Brick. Mas por que ela brincava de esconde-esconde com ele? Não fazia sentido nenhum, e, quando tentou pensar a respeito, a cabeça pulsou com ondas de desconforto, os pensamentos travados como se alguém houvesse jogado um graveto entre duas engrenagens. Deixou aquilo de lado. Aquele pensamento logo voltaria; provavelmente só estava cansada e... e...
Olhou ao redor e viu um deserto parecido com uma praia, só que a areia abaixo era de várias cores — dourado, branco, cinza e vermelho. Pequenas espirais de fogo serpenteavam em sua direção, como dedos que a procurassem, desfazendo-se depois de um ou dois segundos. Distinguia cada grãozinho, e, dentro de todos eles, havia cidades de luz e matéria. Era hipnotizante.
Concentre-se, Rilke, disse a si mesma. Encontre o menino. Você não se lembra? Ele acabou com você.
Era isso! Ele acabara com ela, a quebrara, como se ela fosse uma boneca. E tinha acabado com Schiller também. Isso devia tê-la deixado zangada, mas não havia nada dentro dela além de um torpor enfurecedor, como se tivesse sido recheada com algodão da cabeça aos pés. Mas era isso o que acontecia com bonecas quebradas, não era? Empacotadas e deixadas de lado, ou jogadas na lixeira.
Algo zumbiu acima, uma mosca, e ela estendeu uma mão que não era realmente a dela, os dedos invisíveis tirando o objeto do céu e esmagando-o. A mosca caiu no chão, acertando a areia com um estampido mecânico e incendiando-se. Havia agora mais delas, voando acima e fazendo um som de tud, tud, tud, e ela as golpeou, derrubando mais duas antes que o resto fosse embora. Ótimo, agora tinha esquecido por completo o que deveria estar fazendo.
Descamou o mundo de novo, como se abrisse uma porta.
Alguma coisa tinha perturbado o ar ali, deixando uma espécie de ondulação dourada, quase como a esteira que um barco faz na água. O garoto alto obviamente não era muito bom em se esconder; tinha deixado um rastro para que pudesse segui-lo.
Peguei você!, disse ela, abrindo um sorriso enorme ao entrar pela porta. O corpo dela explodiu em átomos e houve uma súbita vertigem, como chegar à beira de uma cachoeira, e, em seguida, estava inteira de novo, o mundo refirmando-se ao seu redor. Passou a mão no corpo para limpar as brasas, tentando entender o caos à sua volta.
O céu tinha vida: uma tempestade em forma de homem. Ele se agitava dentro de um oceano de nuvens negras, quase como se estivesse se afogando ali. Algo nele parecia familiar, mas Rilke não sabia o quê. O vento ali era incrível, um furacão que fazia o que podia para sugá-la. Parecia um vasto campo que acabara de ser arado. À distância, havia um buraco no mundo, como se algo enorme houvesse feito uma escavação do centro da terra e rastejado de lá de dentro. Rilke estendeu as asas, firmando-se e esquadrinhando a terra para encontrar o garoto alto.
De repente, um tiro acima dela. Mas era um tiro mesmo? Não, era alto demais. Nem mil tiros poderiam emitir aquele som. Ela olhou para cima, para o oceano invertido, vendo uma centelha contra a treva espiralante. É ele! Ela teve certeza. Era o garoto feito de fogo. Ele estava desaparecendo em meio à fumaça, tentando se esconder dela.
Não o deixe ir!, disse-lhe sua mente. Ele acabou com você, acabou com você. Ela não o deixaria se esconder, não agora, nem nunca. Elevou-se do chão e bateu as asas, ascendendo em direção ao fogo. O garoto alto estava em dificuldades, línguas de luz negra envolvendo-o. Uma delas socou suas asas, arrancando uma delas, e Rilke o ouviu gritar acima do estrondo de estourar os tímpanos do céu em movimento. Ele desapareceu no vórtice giratório de nuvens, e ela aumentou a velocidade. Outros garfos de relâmpago negro vibraram ao lado dela, mas ela desviou de todos, concentrando-se na única coisa que importava.
Saia, saia de onde estiver!, disse outra vez, rindo enquanto seguia o garoto incandescente pelas trevas.
Daisy
Manang, Nepal, 15h25
Está pronta?
Cal fez a pergunta encarando-a com seus olhos de anjo. Os cinco formavam um círculo saturado de fogo. O som de seus corações parecia liquefeito, enchendo os ouvidos dela, provocando uma sensação engraçada em sua cabeça. Também estava achando difícil se mexer, como se todos fossem ímãs, atraindo-se. Perguntou-se o que aconteceria se todos se tocassem, se isso seria demais para aquele pequeno mundo. Tinha a sensação de que abririam um buraco nele.
Daisy?
Ela assentiu, mas era mentira. Não se sentia nem um pouco pronta. Como alguém poderia estar pronto para algo daquele tipo?
Cal se virou para os outros. E vocês?
Marcus deu de ombros. Não que eu tenha outra coisa mais importante para fazer agora.
Daisy estendeu a mão para Adam, seus dedos soltando raios de estática ao tocar o rosto dele. Ele não pareceu se importar, sorrindo para ela. Os olhos dele pareciam não ter fundo. Ela tinha a sensação de que podia cair naqueles poços geminados de fogo e nunca mais sair.
Ele não precisa ir, falou Cal. Quer dizer, talvez seja mais seguro ele ficar aqui, esperando a gente.
Você vai ficar bem, não vai, Adam?, perguntou Daisy. Seria mais perigoso para ele ficar sozinho. E se fosse atacado pela Fúria? E se o homem na tempestade decidisse mudar de lugar outra vez e fosse atrás dele? Vamos manter você em segurança. Mas não precisa lutar. Assim que pousarmos, você fica escondido. Combinado?
O que fazer a respeito de Brick?, perguntou Cal.
Ele vai estar à nossa espera, disse ela. Não sabia como, mas tinha certeza disso; praticamente podia enxergá-lo afogando-se na escuridão. Ele tinha mudado de ideia e voltado para ajudá-los, e agora enfrentava a besta sozinho. Daisy respirou fundo o ar de que não precisava, sentindo o martelar dos dois corações. O anjo era capaz de mantê-la calma, mas ela continuava assustada, e sentia isso como uma coceira no estômago. Isso a fazia sentir-se fraca, incerta, o que a levou a se perguntar sobre outra coisa.
Eu acho... ela começou, mas depois se deteve, tentando entender seus pensamentos.
O quê?, perguntou Cal.
Ela ruminou um instante a mais, depois disparou: Acho que precisamos permanecer calmos.
Ah, claro, falou Howie. Sempre me sinto calmo quando estou prestes a arrumar briga com uma criatura que está tentando engolir o mundo.
Não, disse Daisy. Estou falando sério. É como aquilo que você estava dizendo sobre o remédio pra ficar legal. Os anjos nos mantêm calmos, não deixam as emoções interferirem. Acho que é assim que eles lutam. Só podem fazer isso se as nossas emoções não atrapalharem.
É?, falou Cal. Quando moveu os ombros, suas asas subiram e desceram. Acho que faz sentido.
Tudo o que Daisy tinha era seu instinto, e o que havia acabado de dizer parecia certo.
Então o negócio é manter as emoções sob controle, disse Marcus.
Beleza, tudo bem. Mais algum conselho?, perguntou Cal.
Ela bem que queria ter outro conselho, mas não havia mais nada. Só o não morrer de Howie. Era basicamente tudo o que tinham. Daisy negou com a cabeça, dizendo sinto muito.
Cal expirou com um pouco de força, fazendo o ar tremer.
Em Fursville, tudo parecia tão simples, disse ele. Quer dizer, em comparação com isso aqui. Lá a gente só precisava sobreviver.
Parecia que tinham estado no parque temático meses atrás, anos até. Mas haviam deixado Hemmingway naquela manhã, menos de doze horas antes. Para Daisy, aquilo não fazia sentido nenhum, exceto pelo fato de entender que, de algum modo, o tempo era diferente para os anjos — e agora era diferente para eles também. Por um período que pareceu uma eternidade todos ficaram em silêncio, e Daisy viu os pensamentos deles como se flutuassem na frente dela: Fursville, andar nos cavalos do carrossel, jogar futebol — Cal estava sempre pensando em futebol —, correr pelo campo com o vento nos ouvidos, uma menina bonita assistindo da arquibancada, um piquenique na floresta com um cachorro grande e peludo que ficava tentando comer os sanduíches, outro garoto ali que era bem parecido com Marcus, talvez seu irmão. Eram as lembranças que eles queriam levar consigo, percebeu ela, imaginando as suas próprias — pegar sol no quintal atrás de casa, sentindo o aroma de lavanda, o pai trazendo uma bandeja de comida chinesa e uma garrafa de espumante sem álcool, que tinham bebido para celebrar a boa notícia de que o câncer da mãe havia ido embora, todos cheios de alegria, correndo um atrás do outro entre os arbustos e, depois, deitando-se na grama, lado a lado, inspirando seu aroma enquanto miravam os galhos acima. Se, quando morresse, ela pudesse viver dentro de qualquer memória da vida, seria essa que escolheria.
A coceira do medo tinha se tornado outra coisa, uma cunha de pedra em sua garganta. Mesmo do outro lado do dique que o anjo tinha construído dentro dela, Daisy sentia as lágrimas prestes a jorrar. Excelente, Daisy, que ótimo jeito de esquecer suas emoções, disse a si mesma, na esperança de que os outros não a ouvissem. Contudo, deviam ter ouvido, porque Cal riu.
Vamos, disse ele. Antes que a gente comece a chorar feito bebês.
Fale por si, falou Howie. Ele abriu as asas, flexionando-as na frente do sol e transformando sua luz em espirais de âmbar.
Vai fazer as honras?, perguntou Cal.
Daisy fez que sim com a cabeça, tomando a mão de Adam, o ar entre os dedos deles estalando feito uma fogueira. Ela fechou os olhos e abriu o mundo, um buraco grande o suficiente para levar todos.
Boa sorte, falou ela. Então, eles sumiram.
Cal
São Francisco, 15h32
Na fração de segundo em que se moveram, ele tentou preparar-se, tentou controlar os nervos. E então chegaram, com a realidade cerrando-se ao seu redor como uma armadilha de urso, afundando seus dentes em volta dele para tentar travá-lo onde estava. Tinham voltado para o vasto cânion vazio que antes fora uma cidade, o oceano ainda estrondando dentro dele. O céu inteiro pareceu vibrar por um instante, um grito de trovão ecoando pela terra enquanto as leis da física ajustavam-se para encaixá-los na realidade. Porém, o barulho não durou muito tempo, sendo engolido pela tempestade que rugia acima.
A besta estava em um trono de fumaça, com as asas estendidas de um horizonte a outro, a boca parecendo uma imensa e doentia lua suspensa sobre o mundo. Não restava praticamente mais nada dela, apenas fiapos de carne solta e morta inacreditavelmente compridos, esvoaçando para os lados como bandeiras rasgadas. Seus olhos eram bolsões de noite.
Aqueles faróis invertidos vasculharam o chão, encontrando-os em segundos. Assim que aquela não luz cor de vômito o focalizou, Cal teve a sensação de que tinha levado um soco no estômago, na alma, como se o impacto houvesse sugado dele a última gota de vida. Gemeu diante do horror, do vazio total e completo, sabendo que era o que sentiria caso o homem na tempestade o engolisse.
Cal sentiu uma súbita lufada de vento dominá-lo, puxando-o para cima, para a boca da besta, que parecia um aspirador. Abriu as asas, tentando conter as emoções, gritando para que o anjo o enfrentasse. Não precisava dizer-lhe o que fazer: um som engatilhou-se na garganta e disparou da boca como uma bala mortífera que subiu rasgando, queimando um caminho pelas nuvens raivosas até explodir contra o rosto da criatura.
Outros gritos vieram logo depois. Daisy estava suspensa no ar a seu lado, gritando com sua voz e com a do anjo também. Marcus e Howie encontravam-se à direita, suas cabeças indo para trás como canos de revólver toda vez que ladravam um tiro. O ar entre eles e a tempestade transformaram-se em fogo líquido, fervendo e sibilando como algo com vida própria. A besta soltou mais um grito, como o de um Leviatã no fundo do mar.
Está funcionando! Mesmo que a voz de Daisy estivesse em sua cabeça, ele tinha dificuldades para ouvi-la. Continuem atirando nele!
Cal bateu as asas, erguendo-se no céu fervilhante. Abriu a boca, deixando o anjo lançar outra palavra. Esta chocou-se contra o rosto da besta, arrancando dele um naco de fumaça e de matéria negra do tamanho de um prédio, que foi imediatamente sugado pelo vácuo giratório, como se a criatura devorasse a si mesma. O movimento de sua boca travou e diminuiu, o estrondo de quebrar os ossos diminuindo por um momento antes de recuperar a força.
Algo chicoteou de dentro da escuridão, e um flagelo farpado de relâmpago negro estourou no ar bem à frente do rosto de Cal. Ele caiu, ofuscado pela negra ferida deixada em sua retina. Ouviu outro disparo, torcendo o corpo para evitá-lo, piscando para recuperar a visão do mundo.
Daisy e os outros estavam acima dele, indo de um lado para o outro como vaga-lumes enquanto lançavam golpes sucessivos. Miravam os olhos da besta, uma barragem de explosões rasgando-os. O homem se contorcia dentro da tempestade, aquela inspiração se extinguindo e recomeçando, de novo e de novo. Ele começava a entrar em pânico, percebeu Cal. Estava com medo.
Cal bateu as asas, abrindo caminho em direção a Daisy. Eram pequeninos em comparação com o homem na tempestade, mas isso trabalhava a favor deles. Toda vez que ele disparava um garfo de relâmpago, eles saíam do caminho, seus ataques já lentos demais, desajeitados demais. Cal jogava os braços para a frente, socando com punhos invisíveis: marteladas que se chocavam contra a besta. Era como observar um imenso navio de guerra disparando cada arma de seu arsenal.
O céu então se moveu, e a coisa inteira desabou no chão; a imponderabilidade daquilo fez Cal gritar. Protegeu o rosto com as mãos quando uma onda de energia veio com toda a força, fazendo-o girar para longe como uma bola de críquete. Acertou o chão, abrindo um buraco por raízes e rochas, transformando tudo em pó, até parar.
Mesmo com o anjo, ele sentia dor. Levantou o tronco, vendo o homem na tempestade contra o horizonte, bem longe. O céu ainda caía, só que não era o céu, eram as asas da criatura. Aquelas plumas enormes de fogo putrefato desceram banindo tudo, liberando um furacão. Não conseguia ver Daisy em lugar nenhum, nem os outros. Todos tinham sido lançados para longe.
Endireitou o tronco, dando ao anjo um momento para reencontrar sua força. Em seguida, levantou-se do chão, lançando-se de novo ao caos.
Era tarde demais. Aquelas asas bateram uma terceira vez, e o homem na tempestade desapareceu em uma profusão de cinzas negras.
Brick
São Francisco, 15h40
Era como estar dentro de uma máquina de lavar funcionando a toda velocidade, e ele não tinha mais nada com que lutar.
Seu anjo agonizava. Os ferimentos eram graves demais. Brick tentou abrir as asas, mas uma não estava mais lá, e a outra pendia, rasgada e inútil. Felizmente, sua pele blindada ainda ardia, apesar de o fogo agora estar mais fraco, com força suficiente só para iluminar o funil de fumaça e de nuvens à sua volta. Mesmo que ainda tivesse as asas, elas não teriam servido de nada. Brick já não sabia de onde tinha vindo, nem para onde deveria ir.
Algo crescia na escuridão, rápido demais para evitar. Varou aquilo, vendo nacos de alvenaria virarem pó. Havia outras coisas ali, presas como restos de comida no esôfago do homem. Pessoas também, ou o que restava delas, pedaços de cartilagem que ainda tinham rostos humanos presos no limiar da garganta. Elas apareciam em clarões para ele, centenas, talvez milhares. E aqueles eram só os resquícios. Quantos outros milhões teriam sido devorados?
E ele era um deles. Brick, tolo, ridículo, furioso. Ninguém ia sentir falta dele. Não, ele já era um fantasma, já estava esquecido.
Não pense nisso, disse a si mesmo, com as emoções filtradas através do coração do anjo. Isso vai enfraquecê-lo. Você precisa lutar!
Ele esvoaçava, pairando sobre uma vasta montanha flutuante de pedra. Do outro lado, de repente, viu onde o túnel se afunilava, terminando em um ponto que irradiava escuridão total. Nuvens de fumaça e de matéria atomizada espiralavam em volta, provocando relâmpagos. O rugido da tempestade diminuía, e o silêncio que pulsava do buraco era a coisa mais aterrorizante que Brick já ouvira. Tudo ali era errado; o tempo parecia se partir, tudo desacelerando ao circundar aquele ralo.
Ali não era a morte, jamais poderia ser algo tão simples assim. Era a eternidade, o infinito, um golfo atemporal de nada do qual nunca poderia escapar. Era um buraco negro, uma ruptura na realidade que devoraria tudo, que engoliria, engoliria e engoliria, até que nada mais restasse.
— Não! — gritou ele. A voz do anjo se manifestou como um ínfimo tremor, como se ele tivesse sido colocado no mudo.
Brick ganiu, os braços girando, sua asa mutilada batendo. Conseguiu se virar, olhando para a direção de onde tinha vindo, as paredes do túnel espiralando incansavelmente, arrastando mais e mais do mundo para seu fim. Havia outra coisa ali, um bruxulear de fogo contra a insanidade. Ah, Deus, por favor, por favor, por favor!, pediu Brick. A silhueta se aproximou, explodindo por nacos de detritos flutuantes. Tinha de ser Daisy, ou Cal, tem de ser, por favor, meu Deus.
Não adianta se esconder, disse Rilke, e Brick sentiu seu coração afundar até o pé. Ela se lançou contra ele, as asas abrindo no último instante, como as de um dragão. Mirava-o com as piscinas derretidas de seus olhos, com um sorriso enorme. O terceiro olho ainda flamejava na testa, o olho que ele tinha criado, com gotas viscosas de fogo caindo dele como se o cérebro dela derretesse.
Aí está você!, disse ela. Encontrei você!
Por favor, Rilke, pediu Brick. O contraste entre o silêncio num ouvido e o trovão no outro lhe dava náuseas. Por favor, por favor, me ajude, me tire daqui!
Rilke virou a cabeça para o lado, o sorriso desfazendo-se, frouxo e mole.
Ajudar você?, falou ela, a voz arranhando a superfície do cérebro dele. Por quê?
Porque estou morrendo!, gritou ele, tentando agarrar o ar, tentando alcançá-la. Essa coisa vai me matar!
Mas você me matou, disse ela, batendo as asas para lutar contra a corrente de ar. Você me partiu em duas, e agora mamãe vai ficar furiosa.
Desculpe, disse ele. Ela estava louca, estava em cacos. Desculpe, Rilke, não foi minha intenção.
E Schiller, você quebrou ele também.
Não, isso não!, disse ele, sentindo que deslizava para mais perto do buraco. Tinha a sensação de que estava sendo esticado, como se fosse ser estraçalhado. Não fui eu, foi ele, o homem na tempestade! Você precisa acreditar em mim!
Não, foi você, o garoto com asas, disse ela, encarando-o com aquelas órbitas flamejantes.
Não, eu... Eu não tenho asas!, gritou ele, tentando girar e mostrar as costas. Não fui eu, veja só! Como poderia ter sido eu?
Ela franziu o rosto, o zumbido dos anjos dos dois fazendo o túnel inteiro sacudir.
Ele acabou comigo, gaguejou Brick. O homem com asas, com asas enormes. Ele acabou comigo, e agora quer me matar. Precisamos lutar contra ele, Rilke, juntos, por favor!
Onde ele está?, disse Rilke, voando para mais perto, quase perto o bastante para que Brick a tocasse. Ele a buscou, não com os braços, mas com a mente, tentando enganchar-se nela, ancorar-se, mas não sabia como fazê-lo.
Estamos dentro dele, falou. Ele está tentando comer a gente.
Deixe de bobagem, Schill, ela respondeu, rindo. Ele não pode comer a gente.
Ele vai, falou Brick. Relâmpagos de luz branca detonavam em sua visão, como fogos de artifício. O fogo dele se apagava rápido. Seu anjo agonizava. Ele odeia a gente, vai acabar com todos nós, a menos que a gente o enfrente. Por favor, Rilke, não me deixe morrer. Eu sou... sou seu irmão.
Schiller?, disse ela. É você? Não consigo enxergar direito.
Brick sentiu algo enroscar-se em sua cintura, um tentáculo invisível que o atraiu para a garota incandescente. O buraco negro não queria soltá-lo, agarrando-se a cada célula do seu corpo. Era como se estivesse se desfazendo, era uma folha de papel na água, dissolvendo-se. Rilke o puxou, levando-o de volta para o rugido e o trovão da tempestade, e ele se agarrou a ela, segurando-a como uma criança faria com sua mãe. Ela o abraçou por um instante, depois recuou.
Você não é o meu irmão, falou ela com uma voz fria como o incêndio à sua volta. Você mentiu para mim.
Sou sim, disse ele, rezando para que ela estivesse louca o suficiente para acreditar nele. Não está me reconhecendo, irmã?
Ela parecia perdida, o fogo de seus olhos bruxuleando enquanto as engrenagens quebradas de sua mente rangiam, tremiam, e tentavam girar. A tempestade uivou, e nuvens de detritos transbordaram das paredes do túnel. Um rugido poderosíssimo levantou-se em volta, seguido de outra explosão, como se alguém estivesse disparando tiros de canhão contra eles. Que droga estaria acontecendo lá fora?
Rilke, por favor, você precisa tirar a gente daqui antes que seja tarde demais!
O corpo inteiro dela tremeu, como se estivesse tendo uma convulsão, emanando grandes ondas de energia. Quando parou, ela o agarrou com os dedos da mente, rebocando-o ao lado dela enquanto batia as asas e se afastava. A corrente tentava sugá-los de volta, mas ela era forte demais, abrindo caminho torrente acima. Em volta deles, a tempestade se agitava, abalada pelo trovão. Brick sentiu algo, vozes em sua cabeça — Daisy, Cal, os outros também. Eram eles? Estavam atacando a tempestade? Por favor, tomara que sim!, pensou ele no instante em que as nuvens se afastaram à frente, com trechos de um facho de luz fraca e enevoada alcançando-o.
É isso aí, irmã, você está acabando com ele!
Ela parou, girando-o no ar, seus olhos em chamas.
Você não é ele, constatou ela. Você não é Schiller.
Ele tentou se soltar, perguntando-se se seu anjo precisava de asas para se transportar, ou se podia apenas arder e voltar para o chão, como fizera antes. Os dedos invisíveis de Rilke eram como bastões de ferro nas costelas dele, ancorando-o a ela.
Não ouse! O ganido dela bateu em seu cérebro, a pressão ficando ainda mais forte. Ele estapeou a área com as mãos, mas não havia nada a combater. Seu fogo ardia, mas nem de longe com a mesma luminosidade do de Rilke. É você, eu sabia, você mentiu para mim, acabou comigo e com ele também.
Brick atacou: uma flecha de chama translúcida cortou a garota. Sua pressão psíquica se afrouxou, e ele desfolhou o mundo, pronto para fugir rumo à ausência.
Então o homem na tempestade rugiu. Alguma coisa estava acontecendo, luz negra irrompeu das paredes, fazendo a fumaça revirar. Então o mundo se desintegrou em volta de Brick, e seu grito se extinguiu ao explodir em átomos e ser sugado para o vácuo.
Daisy
São Francisco, 15h44
— Não podemos deixá-lo fugir! — o grito de Cal ecoou pela terra deserta, vibrando acima de Daisy conforme o ar agitado corria para o espaço onde o homem na tempestade estivera. O céu estava repleto de flocos de cinzas incandescentes; atrás delas, porém, ele começava a romper as nuvens que iam se afinando. Sua luz espalhava-se quase de um modo nervoso pela terra enegrecida, como se estudasse os danos causados em busca de sobreviventes. Não havia nenhum. Nem poderia haver. Daquele ponto no céu, Daisy enxergava quilômetros em cada direção, todo vestígio de vida banido pela besta.
O poço ainda crescia, deformando-se com a enxurrada de água do mar que se precipitava dentro dele. Enormes trechos de terra desabavam no vácuo crescente. Daisy se perguntava se o homem na tempestade tinha voltado para o subterrâneo, mas não o sentia ali. Não, era mais como se ele houvesse cortado uma parte tão grande do mundo que não conseguia mais se manter em um lugar.
Ela o sentia bem longe dali. Ele deixara um rastro que desaparecia em pleno ar, um pouco como a cauda de um rato sob um tapete. Se ela levantasse o mundo, conseguiria ver para onde ele tinha ido.
Cal voou para seu lado. Howie e Marcus também estavam ali, examinando o horizonte. Ela olhou para baixo, entrando em pânico quando não avistou Adam. O alívio que se apossou dela ao vê-lo surgir atrás quase a fez chorar. Ela o abraçou por um segundo, o ar entre eles faiscando em protesto, e o soltou.
Estou bem, disse ela. Tudo bem comigo. Nós o assustamos, Cal, com certeza o assustamos, para ele fugir desse jeito...
Esse cara é um frangote, falou Howie.
Vamos, sugeriu Cal, antes que ele possa se recuperar.
Desta vez, não esperou por ela, o corpo explodindo em pó incandescente. Daisy o seguiu, usando a mente para levantar o tapete, correndo atrás da cauda do rato no vazio. Era como se tivesse sido capaz de fazer isso a vida inteira, algo tão natural quanto andar. Uma batida de coração, e o mundo recuperou a forma em volta deles, com um protesto de estrondos. As cinzas se soltavam do ar destituído — era isso que eram, percebeu ela, as partes do mundo que tinham sido queimadas para abrir espaço para os anjos. Através delas, viu a besta. Estava suspensa sobre outra cidade, que parecia ter saído de um conto de fadas, repleta de prédios antigos e torres. Um rio enorme e de aparência suja serpenteava por ela. Havia pessoas, milhares, todas encarando a tempestade e gritando para ela, e para a coisa que morava nela.
Cal era um floco aceso contra a noite taciturna, a voz de seu anjo abrindo caminho, ecoando pela cidade.
Daisy se apressou até Cal, sentindo os outros a seu lado. Desta vez, Adam os acompanhou: ela entendeu que ele não queria ficar sozinho. A turbina da boca da besta reiniciava, os prédios abaixo começando a se desintegrar, subindo aos pedaços. O rio parecia uma chuva virada do avesso, secando-se contra a gravidade. As pessoas também estavam sendo sugadas, exatamente como as formigas do aspirador. Daisy alcançou-as com a mente, tentando segurá-las, mas eram muitas, frágeis demais, e se despedaçavam ao seu toque. Desculpem, falou ela, e o horror daquilo ia inchando dentro de sua barriga, de seu peito.
Concentre-se, Daisy!, pediu Cal. Ignore suas emoções!
Ela tentou, sufocando-as. Ao abrir a boca, soltou um grito que rasgou as nuvens, cortando o rosto do homem. Cal atacava os olhos outra vez; Marcus e Howie disparavam um tiro atrás do outro contra os restos maltrapilhos de seu corpo. O vento era um punho que os agarrava e os sacudia enquanto os soprava para dentro da boca cavernosa. Daisy precisou de toda a força para não ser levada por ele.
A besta revidava, vomitando mais daqueles relâmpagos negros horríveis. O ar vibrava com tudo aquilo, nenhum dos relâmpagos roçando o alvo. A maior parte acertava o chão, explodindo como bombas, reduzindo a cidade a ruínas. Aquela respiração infinda era um grito uivante, repleto de fúria, tão alto que fazia cada osso do corpo de Daisy estalar.
Estamos vencendo!, disse ela, contendo a vertigem de empolgação e alívio, forçando-se a permanecer calma. Continuem disparando!
Não precisavam que ela mandasse. Cal tinha praticamente demolido o rosto da besta, nacos de matéria negra soltando-se dos olhos, sugados para a boca. O homem parecia estar reconstruindo a si mesmo porém, a fumaça preenchendo as lacunas e solidificando-se. Daisy ardeu no céu, deixando o anjo falar. A palavra foi como uma bala gigante fendendo o crânio da tempestade, sua força fazendo-a recuar. Daisy deu um salto para trás em pleno ar, sentindo outro ataque surgir da garganta e sair pela boca. Havia tantas explosões detonando contra a tempestade que o homem era mais fogo que fumaça. Não havia jeito de ele sobreviver a muito mais daquilo, jeito nenhum.
E, no entanto, sua fúria aumentava, fervilhando dele em ondas negras e imensas, curando os ferimentos que os anjos abriam. Ela soltou mais um grito, e este foi recebido por uma chicotada de treva genuína, as duas forças ribombando ao se anularem. Os relâmpagos eram usados para bloquear também os gritos de Cal, como um campo de força.
Daisy mergulhou, evitando um dedo de luz invertida disparado contra ela. O chão se precipitou para cima, perto o suficiente para ela ver a cidade arruinada, as manchas que antes haviam sido pessoas. Ela se virou no último instante, a terra embaixo explodindo quando o homem na tempestade atacou de novo. Bateu as asas, lançando-se pela fumaça e parando ao ver o fogo irromper de dentro da boca da besta. O homem na tempestade uivou de novo, aquele grito horrendo, para dentro, sugando tudo. Algo estava acontecendo ali.
Brick!, percebeu ela, sentindo-o, e, assim que falou seu nome, ouviu a resposta: um frágil grito de socorro. Mais fogo de dentro, como se o homem na tempestade houvesse engolido um enxame de vaga-lumes.
Socorro!, a voz dele era uma trovoada distante dentro da cabeça dela.
Está ouvindo?, perguntou Cal, aparecendo ao lado dela. Parecia exausto, mas seu anjo ardia com força. É Brick!
Daisy afastou-se com um movimento repentino quando outro raio rasgou o ar entre eles. Cal abriu a boca e disparou uma palavra contra ele, o som desaparecendo nas nuvens em volta da besta, sem causar qualquer ferimento.
Não está funcionando, falou ele. O homem é forte demais.
Ele tinha razão: estavam ferindo a besta, mas não a estavam matando; eram como marimbondos picando o couro de um elefante. E estavam dando seu máximo, não estavam? Haviam desligado suas emoções, dado aos anjos tudo que estes demandavam. O que estava faltando? O que eles estavam fazendo de errado?
Por sobre o uivo da tempestade, Daisy distinguiu outro grito de Brick.
O que ele está fazendo lá dentro?, Cal perguntou.
Daisy não sabia; mas sabia que Brick não estava sozinho. Cal balançou a cabeça, e ela escutou seu grito: Estou indo, Brick, aguente firme!
Espere, Cal!
Daisy o seguiu. No entanto, antes que o alcançasse, o mundo se enegreceu. Um punho de fumaça se projetou da tempestade, tão grande que toldou até o último raio de sol. Daisy gritou e se comburiu em fuga do mundo antes que a fumaça a atingisse. Quando retornou à existência, tonta devido à brusca mudança de perspectiva, achava-se do outro lado da tempestade. A imensa massa de escuridão descaiu sobre a cidade, como se alguém despejasse do céu bilhões de barris de petróleo. Cal, com Adam, se desvencilhou, enquanto Howie explodiu em brasas conforme fugia.
Marcus não teve a mesma sorte. Quando olhou para cima, já era tarde demais; o grito que deixou escapar sumiu na fumaça, que o atingiu como um soco, prensando-o contra o solo, o punho maior do que a cidade que existia até então. A fumaça não se deteve, conferindo à terra a forma de funil, empurrando o garoto cada vez mais para as profundezas, gerando uma teia crescente de rachaduras. Daisy gritou por Marcus, mas, onde antes havia os pensamentos do garoto, agora só havia uma ausência escancarada.
Não! Daisy se ergueu; a raiva em seu interior brandindo como uma coisa viva. Abriu a boca, e desta vez o grito que se libertou foi tão poderoso que formou uma bolha no ar, um caminho de fogo que desembocou no coração da tempestade. Houve um breve instante no qual ela pensou que seu ataque tinha se desvanecido, mas, então, uma explosão ocorreu dentro da besta, como se uma bomba atômica tivesse sido detonada. Imensas nuvens de uma substância podre se desprenderam do céu, e a fumaça tóxica desenhou trilhas em direção à terra.
Daisy se acercou com a mente e segou a ferida recém-aberta a fim de agarrar qualquer coisa que encontrasse ali e extirpá-la. As mãos invisíveis de seu anjo desferiram puxões e arranhões, e a besta mugiu o som de milhões de bois feridos. A raiva de Daisy fervia, e desta vez a garota não a impediu; permitiu que lhe servisse de combustível.
Meu Deus!, pensou. Não poderia ter estado mais errada. Não era para eles esconderem suas emoções: era para as usarem!
Daisy destrancou a porta que tinha batido na cara de seus sentimentos, e centenas de sensações se convulsionaram em seu íntimo. Como um vulcão, o magma raivoso ia se expelindo. Ela soltou outro grito, e o céu inteiro pareceu tremer. O buraco que o grito fez na tempestade era colossal e perfeitamente redondo, e a luz do dia vazou através dele. A besta gemeu e flectiu as asas, e uma floresta de raios brotou da carne em farrapos. Estava prestes a sumir de novo.
Bateu as asas, o que provocou uma onda de poeira. Mas não desapareceu. Em vez disso, ergueu-se, içou-se paulatinamente, ganhando velocidade a cada batida de asas.
Para onde está indo agora?, Daisy se indagou. Sentiu a presença de Cal ao seu lado. Uma chuva de poeira e cinzas se derramava, uma espécie de neve preta.
Está fugindo!, disse Cal, sorrindo. Vamos atrás desse desgraçado!
Cal
Termosfera, 15h58
A besta subia como um foguete, deixando atrás de si uma pluma de fumaça profundamente escura. O ar tremia em seu rastro. Cal se jogou para o lado, vendo parte da cidade passar por ele, desintegrando-se no processo. Havia construções, prédios comerciais que desabavam, gritos em rostos visíveis do lado de dentro. Cal fechou os braços e ardeu através do céu, vendo o mundo se encolher. O horizonte encurvou-se, o céu escureceu, e as estrelas apareceram em pleno dia.
Howie voava ao seu lado. Daisy também estava ali, outra vez na ofensiva, os gritos inacreditavelmente altos e luminosos, chocando-se contra o corpo da besta.
Marcus tinha sumido, esmagado dentro da terra com tanta força que nem mesmo seu anjo conseguira salvá-lo. Cal sentira o momento da morte do menino, uma fração de segundo de agonia, e, depois, nada.
Nem pense nisso, disse a si mesmo. Não deixe as emoções o dominarem.
Cal atacou com a mente, jatos de energia rasgando o caminho garganta acima, desaparecendo nas trevas. A tempestade ainda subia, perfeitamente camuflada contra o vazio do espaço. Somente os clarões de fogo dentro de sua garganta o entregavam, parecendo explosões subaquáticas. Brick, pensou Cal, sabendo que o garoto estava preso junto com Rilke. Os dois precisavam de ajuda.
Uma língua de relâmpago negro estalou pelo ar ao lado de Cal, detonando com força suficiente para disparar um diapasão em seu ouvido. Ele rolou, berrando ao mesmo tempo, seu grito perfurando a tempestade. Não estava adiantando nada. Era como usar um estilingue contra um tanque. Não conseguiam atravessar a blindagem.
Ele precisava chegar mais perto.
Howie, chamou, vendo o outro menino abaixo dele, suspenso acima do contorno azul da Terra. Cal não tinha percebido o quão alto eles tinham chegado, e, de repente, entrou em pânico, receando não poder respirar, até que se lembrou de que não precisava. Suas entranhas reviraram em uma súbita vertigem, e ele precisou olhar para cima a fim de se recompor. Sentiu Howie aproximar-se.
Sim?, disse o outro garoto.
Você consegue distrair a besta? Preciso chegar perto dela. Cal apontou para a boca, tão escura que parecia um buraco no espaço.
Vou ver o que consigo, respondeu Howie, partindo e deixando um rastro de luz ao se arquear para cima. A besta tentou acertá-lo, mas ele era rápido demais, ziguezagueando para evitar o relâmpago. Alguma outra coisa acontecia dentro da tempestade, e a turbina de sua boca girava outra vez. Não fazia barulho no vácuo do espaço, mas Cal pôde sentir sua força quando ela começou a puxá-lo. Desta vez, ele não resistiu; só guardou as asas e se permitiu subir. Abaixo, algo de estranho acontecia nas nuvens, correndo pela superfície do planeta como água ensaboada no banho. Um túnel de vapor serpenteou para cima, sacudindo Cal ao passar. Mas o que... — foi o máximo que conseguiu dizer antes de entender que a besta devorava a atmosfera, o ar, o oxigênio.
Fique calmo, não pense nisso.
Baixou a cabeça, subindo mais rápido, desacelerando apenas ao ouvir a voz de Daisy dentro de sua cabeça.
Cal!
Ele olhou e a viu ali, de asas estendidas. Era como se fosse feita de magnésio incandescente, uma chama tão brilhante que mesmo com os olhos do anjo ele precisou virar o rosto.
Tudo bem?, perguntou ele.
Eu estava errada, falou ela. Parou ao lado dele, que arriscou olhar de novo, tendo a sensação de que pairava ao lado do sol. Cal, precisamos nos entregar. Os anjos querem que usemos nossas emoções, é o único jeito de ficarem fortes o bastante.
O quê? Como você sabe?
Apenas sei, disse ela. Tudo bem ficar assustado.
Não, ela estava errada. O medo o deixaria fraco. Tinha aprendido isso várias e várias vezes nas aulas de artes marciais — a manter o foco, a nunca ficar com raiva, nunca ter medo; do contrário, a derrota era certa. Concentre-se, deixe tudo passar por você, focalize, e então ataque.
Espere aqui, disse ele. Cuide de Adam.
Ignorou os protestos dela, disparando para cima até que a boca do homem estivesse próxima. Dali ela parecia grande o suficiente para engolir o mundo inteiro. Aqueles mesmos flashes de fogo irrompiam de dentro da carne fumacenta da garganta da besta, e lampejos de som ficavam aparecendo no peso ensurdecedor do silêncio, vozes-mentes que poderiam pertencer tanto a Brick quanto a Rilke. Cal estava equilibrado no limiar de um redemoinho, e cerrava os dentes diante do terror que era aquilo.
Ele foi com tudo, sentindo-se tragado para cima com tanta violência que achou que tivesse deixado o estômago para trás. Caiu na maçaroca que girava, sentindo o cheiro do ar e do mar nos vapores ao redor. O mundo abaixo ia encolhendo, pequenino e vulnerável em seu leito de noite sem fim. Em seguida, também desapareceu: a tempestade o engoliu.
Assim que entrou, Cal abriu as asas, a turbulência fazendo sua cabeça girar. Era como estar dentro de uma caverna, só que uma caverna feita de fumaça encaracolada. Nacos de terra e de cidade espiralavam em volta dele em uma dança silenciosa, desintegrando-se ao colidirem. Tudo ali convergia para um ponto distante, um pontinho de treva absoluta. Ela tinha razão, pensou ele. É um buraco negro. Entre ele e o buraco, preso no fluxo de matéria a girar, havia um orbe bruxuleante de fogo que tinha de ser Brick ou Rilke. Ou ambos, percebeu, ao ver duas formas ali dentro esperneando e lutando.
Brick!, chamou ele, velejando em sua direção. O vento espocava contra seus ouvidos, tentando agarrá-lo, e ele precisou usar toda sua força para resistir. Brick! Rilke!
Socorro!, gritou Brick. Raios dentados de eletricidade faiscavam deles, liberando uma energia fria e espinhenta que Cal era capaz de sentir contra a pele. Permitiu-se chegar mais perto e perdeu o equilíbrio, subitamente sendo atraído para a garganta. O empuxo era forte demais. Cal não conseguia manter-se ali. Se chegasse mais perto deles, correria o risco de ser estraçalhado.
Brick teria de esperar. Cal gritou. Ali, debaixo da couraça da tempestade, seu ataque foi como uma granada lançada por um foguete, mergulhando fundo na parede antes de explodir. Abriu a boca outra vez, deixando o anjo falar, um massacre de força que abriu caminho até o buraco negro à frente.
Cal sentiu a tempestade se agitar, um gigante afundando, mas a inspiração infinda estava mais forte do que nunca. Sentiu-se preso nela, seu anjo ardendo em força total, mas ainda sem poder resistir à corrente. Não era suficiente. Ele não era suficiente.
É sim, Cal, ouviu Daisy dizer, um sussurro no meio de sua mente. Mas você precisa usá-las, você precisa ser você.
Usar o quê? Suas emoções? Ele tinha visto o que aquilo tinha feito com Brick e Rilke. Tinha enlouquecido os dois. Ainda agora enxergava o modo como tinham se arranhado, se mordido, enfrentando-se no éter. Limpe a mente, concentre-se, ataque.
Confie em mim, Cal.
E ele então confiou. Mais do que tudo.
Respirou fundo, e então soltou: todo o medo, toda a tristeza, toda a confusão e toda a fúria, a sua fúria. Ela disparou no estômago, no coração, na cabeça, um fogo puro e branco que irrompeu de sua boca. O ar rugiu, um facho de luz cruzou a tempestade, cortando a pele da nuvem, perpassando a carne esfarrapada. Cal gritou até achar que iria virar do avesso. A emoção ainda fervilhava, um estoque infinito dela, uma vida inteira dela, dando-lhe força, dando poder ao anjo. Abriu a boca e gritou de novo, o mundo em volta dele finalmente se acendendo.
Rilke
Termosfera, 16h03
Rilke precisou fechar os olhos para se proteger do súbito brilho das explosões, mas não havia som, nem trovão, só os gritos patéticos do garoto em chamas.
Por favor, por favor, me deixe ir embora!
Não que ele ainda ardesse. Só havia um brilho débil cobrindo sua pele, e mesmo esse brilho se apagava e se acendia como uma vela ao vento. Rilke o mantinha à frente, usando as mãos que não eram realmente mãos para protegê-los. O mundo não era nada além de fumaça e sombra — não havia solo nem céu, só um túnel de trevas enrodilhadas pontuadas por explosões. Aquilo tentava sugá-los, mas as asas dela mantinham os dois parados. Estava tão cansada, e tão confusa, que não se lembrava se já tinha sido diferente. Quase tudo dentro dela estava gasto agora, mas tudo bem. Só tinha mais um trabalho a fazer, depois poderia ir para casa e ficar de novo com o irmão.
Porém, o menino em chamas não morria.
Estendeu as não mãos, apertando a cabeça do garoto. O fogo dele ardia onde ela encostava, crepitando e cuspindo. Era como uma segunda pele, encouraçada, que ela não podia atravessar. Mas toda boneca podia ser quebrada. Ela o sacudiu, batendo-o contra uma ilha flutuante de pedra, quebrando-a em mil pedacinhos.
Por favor, não sou quem você pensa!, gritou o garoto dentro da cabeça dela, sua voz como o zumbido de uma mosca-varejeira, inquietante. Por que ele não parava? Puxou-o de volta para si, mantendo-o parado, examinando o brilho derretido de seus olhos. Ele estendeu a mão para ela. Não o machuquei. Não fui eu.
Talvez ele não morresse porque estava dizendo a verdade. Será que ela podia acabar com ele se fosse inocente? Mas Schiller era inocente, e tinham acabado com ele. Tudo era muito confuso. Imaginou o irmão, seu belo rosto, tão parecido com o dela e, ao mesmo tempo, tão diferente. Seu cabelo loiro, aqueles olhos azuis grandes e redondos. As asas de fogo que se estendiam de suas costas...
Ei, isso não podia estar certo, podia? O irmão dela não era o garoto com asas.
Estendeu a mão, a mão que sempre fora dela, sentindo o buraco na cabeça, a dor que pulsava ali. Onde tinha arranjado aquilo? Quem tinha feito isso com ela? Tinha uma lembrança de uma figura em chamas, de um anjo com asas, ardendo em sua cabeça. A coisa na frente dela, aquele trapo chorão, não tinha nada a ver com aquilo.
O que ela estava fazendo?
As últimas reservas de força dela foram sugadas. Era demais. Tudo o que queria era estar com Schiller, de volta na biblioteca de casa, sentada junto da janela enorme, mergulhada em sol, respirando o ar pesado e poeirento. Sempre haviam estado em segurança ali, protegidos dos estranhos, protegidos da mãe, protegidos dos homens. Aquele era o espaço deles, sempre seria.
Schiller, disse ela. Soltou Brick mentalmente, o garoto já meio esquecido quando rolou para longe. Estou indo, disse ela. Espere por mim.
Ela não sabia para onde ir, mas, com certeza, se se limitasse a relaxar, chegaria lá. Ela recolheu as asas, sentindo a corrente de ar envolvê-la com uma mão fria, puxando-a. Não era isso o que acontecia quando você morria? Um túnel? Uma luz no final? Não havia nada no final deste túnel, ao menos nada que ela enxergasse, embora pressentisse a morte ali, mais real e mais certa do que qualquer outra coisa.
Socorro! Era o garoto em chamas de novo, flutuando ao lado dela, esperneando contra o ar. Ela o ignorou, sorrindo ao flutuar docemente pela corrente, para o fim de tudo, para o irmão, nos braços da morte.
Entregou-se à morte. Para ela, era o fim.
Daisy
Termosfera, 16h07
Daisy soltou mais um disparo do canhão que era sua boca, um míssil alimentado pelas emoções que a tomavam, o qual perfurou o rosto do homem na tempestade, explodindo na carne de fumaça. Agora já não havia quase mais nada dele, só aquela boca escancarada, um buraco no espaço que ficava girando, engolindo tudo o que conseguia.
Cal estava lá dentro em algum lugar. Brick e Rilke também. Estavam todos ainda vivos, isso Daisy sabia, mas a garota não sabia se estavam vencendo ou não. Explosões silenciosas lançavam teias de luz que ondulavam dentro da escuridão, e línguas de fogo protuberantes se esgueiravam pela pele de nuvem.
Daisy baixou o olhar para a tigela azul de seu planeta. Sempre parecera tão vasto, todo lugar sempre dando a impressão de ser tão longe. Agora, porém, ela podia estender os braços e segurá-lo entre eles. Parecia tão frágil.
Você não vai ficar com ele!, gritou, virando-se, abrindo a boca e soltando outro grito, um grito de cólera, que explodiu dentro da tempestade, sendo ecoado por outras três ou quatro detonações em sua garganta. Cal. Não havia sinal de Howie, mas ela podia ouvi-lo gritar. Adam estava perto, um pontinho de luz suspenso abaixo. Quase o chamou para perguntar se estava bem, antes de lembrar que ele não podia responder.
Não, não é que não podia. Não queria.
Ela parou, fechando a boca, lembrando-se do dia em que Adam chegara a Fursville. Estavam sentados em torno da mesa, tentando entender o que acontecia, apenas alguns dias — alguns milhões de anos — atrás. Era Brick, isso, fazendo tum-tum, tum-tum, assustando o menino. E Adam gritou, o som daquilo rasgando o ar, quebrando vidros, apagando a vela. O medo tinha feito isso com ele, o grito de seu anjo não nascido. O único som que fizera em todo o tempo em que o conheciam.
Adam!, chamou ela, mergulhando em sua direção. Parecia tão assustado, as pernas contra o peito, o rosto protegido pelos braços cruzados. Ele lembrava uma pequena tartaruga, mas com um casco de fogo. As asas reluzentes estavam estendidas, mantendo-o em órbita. Eram imensas e brilhantes.
Ela o puxou para perto com a mente e, em seguida, abraçou-o. O espaço entre os dois crepitava e cuspia, uma força invisível tentando separá-los; era como tentar manter uma boia debaixo d’água, mas Daisy segurou firme.
Sei que está com medo, disse ela. Sou eu, Adam, Daisy. Olhe para mim.
Ele ergueu a cabeça, aqueles olhos enormes e incandescentes sem jamais piscar. Daisy sorriu para ele, dolorida pelo esforço de mantê-lo próximo. Ela não o soltava.
Sei que tudo isso é muito louco. Mas confie em mim. Eu vou cuidar de você, Adam, sempre. Prometo. Tudo bem?
Ele fez que sim com a cabeça. Daisy olhou para trás e viu algo formar-se no caos da tempestade.
Sei que isso assusta, por isso tudo bem ficar com medo. Todos estamos com medo. Eu, Cal, o novo garoto, estamos todos com medo. Acho que é para ficarmos com medo.
Ele franziu o rosto, o próprio semblante parecendo o de um fantasma debaixo da pele de fogo.
É como... Ela tinha dificuldade para encontrar as palavras certas. É como quando uma coisa muito ruim acontece e você quer gritar, sabe? Mas você não grita porque não quer levar bronca. Sabe como é? Os seus pais brigavam com você quando você gritava?
Ele fez que sim com a cabeça, e ela visualizou uma imagem, emitida da cabeça dele para a dela, uma casinha, repleta de lixo — não havia um trechinho de chão visível embaixo da bagunça. Uma sala de estar, cheia de fumaça de cigarro fedorenta e do cheiro de vinho, mas não do vinho bom que a mãe e o pai dela às vezes compravam, e sim de algo mais forte e mais rançoso. Um quarto, também, repleto de brinquedos quebrados. Ali não era permitido fazer barulho, ainda que a televisão estivesse berrando no quarto ao lado, ainda que ela, Daisy, sentisse seu estômago — que não era realmente o seu — torcer de fome, ainda que ela estivesse com frio e cansada. Fazer barulho traria o homem, o homem que ela não via, mas que tinha um odor tão asqueroso e fétido quanto a casa. Melhor ficar em silêncio, guardar tudo, não chorar nunca.
Ah, Adam, falou ela. Era assim que eles eram, seu pai e sua mãe? Eram horrendos assim?
Ele esperneou para se afastar, como se estivesse com vergonha, mas ela continuou abraçando-o, como se o espaço entre eles estivesse prestes a explodir. Outra lembrança — Adam chorando no escuro depois de um pesadelo, uma figura abrindo com força a porta do quarto, irrompendo no ambiente, batendo nele com tanta força que o menino viu estrelas. Ela sentiu a dor como se fosse dela, o sangue na boca, a raiva também. Sentiu a confusão em sua barriga.
Ele batia em você?, perguntou ela, sem acreditar. Precisava se livrar daquilo; a sensação era horrível. Sentia Adam fazendo a mesma coisa, escondendo aquilo bem lá no fundo, onde não poderia lhe fazer mal.
Não, falou ela. Não fuja. Use isso! Todo esse negócio aí dentro, você precisa colocar para fora. É como uma parte ruim em um pêssego, um pedaço podre. Se você cortar, tudo bem, mas, se deixar, ele vai apodrecer tudo. Ela balançou a cabeça, tentando pensar em um jeito melhor de dizer aquilo. Você precisa pensar em tudo, em toda a raiva, em toda a tristeza, em todo o medo. Ponha para fora, Adam, por favor. Apenas grite, e grite, e grite!
A boca de Adam se abriu e ela quase conseguiu sentir, subindo em borbulhos dentro dele, anos e anos de tristeza e silêncio, uma represa prestes a se romper.
Isso!, falou ela. Sabia que você ia conseguir, eu sabia!
Estava quase lá, quase fora dele.
Os olhos de Adam se arregalaram, seu rosto se retorcendo em uma máscara de horror. Daisy levantou a cabeça, vendo tarde demais uma gui- lhotina de fumaça que caía bem em sua direção. Estendeu a mão antes de perceber que fazia isso, abrindo a porta do mundo, empurrando Adam por ela.
Você consegue, Adam. Eu te amo.
O ar entre eles explodiu como uma bomba quando se separaram, um incêndio de luz branca que a mandou girando espaço afora.
Cal
Termosfera, 16h13
Ela simplesmente sumiu.
Cal se virou e olhou através da fumaça. Em um instante, Daisy estava ali; no outro, tinha sido envolta em trevas, levada para longe. Procurou-a em sua cabeça, mas não podia dizer se era a voz dela ou só o eco.
Daisy?, chamou. Nenhuma resposta. Ele bateu as asas, indo contra a corrente, forçando um caminho para fora da tempestade. O ar acima irrompeu em cinzas, e uma figura apareceu ali. Adam franziu o rosto ao ver Cal, suas asas tendo espasmos enquanto tentava controlá-las.
O que aconteceu?, perguntou Cal. A resposta estava no rosto do garotinho no instante em que ele olhou o vazio. Ela tinha sumido. A raiva dentro de Cal fulgia, uma supernova que ardia em seu centro. Olhou para a tempestade, o homem espaçosamente deitado em seu leito de nuvem, engolindo o mundo. Ela era só uma menina! Seu canalha, era só uma menina! A tristeza era insuportável, como se o queimasse por dentro.
Olhou para Adam e viu em seus olhos estreitados a mesma indignação. O garotinho não sabia como lidar com aquilo, com o medo, a raiva.
Mas seu anjo sabia. Cal praticamente visualizava a emoção ali, além da névoa transparente de sua pele. Era algo que não se parecia com nada no mundo, átomo nenhum girando na órbita, nenhuma faísca elétrica, só uma bola de luz, mais brilhante que o sol, subindo pela garganta do garoto.
Grite!, disse Cal. Por favor.
Adam abriu a boca e berrou o nome de Daisy.
O grito se desprendeu dele como se um lança-chamas tivesse disparado com o rugido de uma turbina de avião, luminoso o bastante para sugar toda a cor do mundo. A onda de choque atingiu Cal como um punho, fazendo-o girar. Abriu as asas, vendo o fogo do garoto socar a tempestade, cortando seu caminho pelo rosto da besta. E ele parecia continuar interminavelmente. Podia não ter mais ar nos pulmões, mas mesmo assim berrava, num incêndio que iluminava o céu.
Cal sentiu as engrenagens da mente protestarem ao ver aquilo, a imponderabilidade daquilo. Era demais. O anjo dentro dele pareceu alimentar-se do que havia de febril em sua emoção, tirando-a da alma, expulsando-a pela garganta. Cal sufocou-se com ela, engasgando enquanto cada coisa ruim da vida era subitamente regurgitada. Pensou em Daisy, sempre sorrindo, sempre corajosa, sempre pronta para abraçá-lo com aqueles bracinhos de palito. Tudo aquilo tinha acabado. Ela tinha acabado.
Ele urrou para a tempestade, cuspindo um incêndio de luz e chamas, purgando-se. O ar sacudiu com o poder daquilo, o mundo abaixo gemendo enquanto a física da qual ele dependia começava a fraturar-se. As vozes dos dois ardiam incansavelmente — sua fúria sem fim, sem misericórdia.
O fogo deles estava afastando as nuvens da tempestade, revelando as pálidas fendas de carne estendidas abaixo. O motor daquela boca estava falhando, girando e depois parando, girando e depois parando. As trevas se afastaram, como se a besta vomitasse o vazio atrás do universo.
Mesmo assim, Cal gritava, ainda que tivesse a sensação de que se afogava, ainda que seu cérebro lhe pedisse para parar. Mas não achava que seria possível, nem se quisesse. Sentia-se um fantasma, como se não tivesse mais lugar dentro da carne e dos ossos de seu corpo. Se morresse agora, não faria diferença, porque seu anjo estava ali. Tinha se encaixado em sua pele como um sobretudo. Achara um jeito de se fazer real.
Essa ideia era assustadora, e seu medo alimentava ainda mais o fogo, que ardia entre seus lábios enquanto gritava, gritava e gritava.
Daisy
Espaço, 16h19
Era o túmulo dela. Um túmulo sem fim.
O punho de fumaça a envolveu, assim como envolvera o poço. Só que, desta vez, não a atraía para o homem na tempestade, mas a projetava para longe dele, do planeta, dos amigos. O caracol de noite liquefeita a devorava por dentro, espalhando-se pela boca e pelo rosto, sufocando-a, cegando-a. Seu anjo trabalhava com força total, combatendo-o. Mas ele não duraria muito mais. Ela podia sentir sua dor em cada célula, sua exaustão. Morreriam juntos, no vácuo frio e escuro do espaço.
Não, era horrível demais. Não queria que tudo acabasse ali, onde não havia sol, nem pássaros, nem flores. Como ela encontraria a mãe e o pai? Atacou-o com os dedos, rasgando a máscara mortuária, descamando-a a tempo de ver um enorme medalhão de prata no céu à frente. Sua mente em pânico precisou de um instante para entender que era a lua, e uma batida de coração depois ela a atingiu, socando através da rocha branca. Outra vez estrondeou em uma enxurrada de detritos, mas não conseguiu desacelerar. Sentia-se um peixe enganchado por uma farpa sombria sendo puxado para fora do oceano.
Estava ficando mais frio, e algo acontecia com sua cabeça — a visão dela começava a falhar. A fumaça a envolveu como se a morte já a possuísse, tudo escuro, silencioso, tirando o zumbido martelante do coração do anjo. Aquilo a estava digerindo, dissolvendo. Quando atacou a fumaça de novo, não havia sinal da terra, nem sinal de nada que não fossem as estrelas.
Não!, gritou. Desta vez, achou que ouviu uma resposta, em algum lugar lá no fundo de si. Era uma voz que conhecia, mas precisou esperar que ela voltasse antes de acreditar. Mãe? É você?
Não era. Como poderia ser? Era só uma parte do cérebro dela tentando mantê-la calma. Não se importava. Como era bom rever a mãe e o pai na luz hesitante da imaginação. A dor escavava as costas dela à medida que a fumaça a sulcava, seu fogo se reduzindo. Quando acabasse, não teria mais defesas contra a tempestade. Ao menos, seria rápido.
Fechou os olhos. Os pais estavam ali, e ela sorriu para eles. Parecia ter sido tanto tempo atrás. Levou-se até eles, de volta ao dia em que tinham feito um piquenique no jardim. A mãe estava fraca demais para percorrer qualquer distância que fosse, mas tinha chegado ao quintal com a ajuda deles, e estava deitada no cobertor à sombra da árvore do vizinho. Um dos gatos da sra. Baird tentara fugir com o almoço do pai enquanto ele estava na cozinha fazendo chá. Daisy o afugentou até metade do caminho rumo à cerca, pegando a coxa de galinha do leito de flores e limpando-a.
— Ele nem vai reparar — dissera à mãe.
O pai voltou e deu uma mordida, e ela e a mãe rolaram pelo chão, rindo com tanta força que Daisy nem conseguia respirar, especialmente quando ele tirou um pelo de gato dos dentes.
Daisy ria agora. O zumbido do anjo ficou mais alto, e ela pôde sentir o súbito rugido de seu fogo quando ele se acendeu.
Ele está rindo também, percebeu. A sensação era diferente de tudo o que já havia sentido, como se seu corpo inteiro fosse feito de som. Mesmo que estivesse, como de fato estava, longe demais para encontrar o caminho de volta, mesmo que a fumaça quisesse enterrá-la no nada infinito do universo, ela sorria.
O que mais havia? A vez que tinham ido a uma fazenda de salmão na Escócia, e o pai tentara andar no teleférico acima do lago. Ele sentou do lado errado e acabou dentro d’água até a cintura — embora tivesse passado o dia inteiro dizendo a ela para não se molhar. Tiveram de mandar o bote resgatá-lo. Ela riu, a barriga doendo, o fogo ardendo como se tivesse colocado uma boca de fogão na potência máxima.
Não entendia de onde vinham essas memórias, mas sua cabeça de repente estava repleta delas, cada uma mais brilhante do que a outra. Seu anjo parecia uma criança ouvindo música pela primeira vez, com fogo por fora e por dentro. Seu próprio riso pulsava de cada poro, absolutamente desconhecido e familiar ao mesmo tempo. Era um não som na mente, um badalar como o de sinos. Ele talhava a fumaça como uma coisa física, cortando-a, soltando faixas de noite que se retorciam.
Você é ridículo!, disse ela, falando com o homem na tempestade, com a besta que bramia no céu distante. Poderia comer tudo o que quisesse, mas jamais poderia vencer, jamais. Como poderia triunfar enquanto houvesse riso no mundo? Eu não tenho medo de você, você é uma piada, você não passa de uma piada!
O riso dela — o riso do anjo — explodiu contra a fumaça, quebrando-a em feixes. Do outro lado, havia uma extensão de estrelas tão imensa que Daisy não podia absorver tudo com o olhar. Era como se estivesse suspensa no centro de um vasto planeta vazio cuja crosta fosse cravejada de diamantes. Eram milhões, bilhões, de cores diferentes, todas muito distantes. Ela girava, hipnotizada, aterrorizada, pensando: qual é o meu planeta? Ah, meu Deus, qual? Mesmo com os olhos do anjo, todas as estrelas pareciam iguais. Podia voar para qualquer uma delas só com um pensamento, mas precisaria de todo o tempo que lhe restava para achar o caminho de casa. Morreria ali, mas não precisava morrer sozinha.
Fechou as asas em torno de si, deixando as lembranças escorrerem por ela como a luz do dia. O anjo as bebia, nutrindo-se delas, ficando mais forte, seu fogo tão brilhante que ela sentiu que precisava recuar um passo na própria cabeça. Ele queria mais, e ela entendeu.
Começou a buscar mais memórias. A vez em que a cadeira de Chloe quebrou enquanto ela estava sentada na aula de inglês, e ela praticamente saíra rolando porta afora. Daisy tinha quase feito xixi nas calças de tanto rir.
Apesar do medo, Daisy ria, o anjo ria, o som daquilo expulsando o fim da fumaça. Desta vez, até o vácuo do espaço permitia, o som ecoando em seus ouvidos. No caminho todo até ali, só tinha havido ausência. Nada mais do que ausência, infinita e insuportável. Aquele lugar, o vazio entre as estrelas, era o que ele gostava, o homem na tempestade. Ele queria deletar tudo para que só restasse aquilo.
Bom, ela não deixaria, de jeito nenhum. Preencheria tudo com riso.
Desta vez, Fursville, andar nos cavalos do carrossel com Adam e Jade. Depois brincar de pega-pega, perseguindo uns aos outros no chão ensolarado, as pernas magricelas de Brick escorregando no cascalho, seu riso agudo e surpreendente. A Fúria não importava. Nada importava. Ali, naquela hora, apesar de tudo, tinha sido feliz.
Ela riu, o anjo ardeu, tomado pela maravilha de tudo aquilo. Ele emanou um badalo silencioso que cortou o vácuo e encontrou um eco nos outros anjos, um chamado que conduzia ao lar.
Daisy estendeu as asas, sintonizou-se, ardeu e se consumiu.
Brick
Termosfera, 16h27
Brick nadava contra uma corrente que era forte demais para ele, braços e pernas inúteis contra o fluxo de ar. Ainda ardia, mas não tinha energia para se transportar. Rilke tinha feito seu melhor para matá-lo e devia ter chegado perto, porque tudo nele doía, tudo parecia fora de lugar. Seu anjo tinha aguentado o que podia, e agora funcionava com quase nada.
A tempestade seguia enfurecida em volta dele, sugando-o para sua garganta, de volta ao buraco no fim do mundo. Pedaços de planeta passavam flutuando, rompendo-se no caminho, e através dos detritos Brick a vislumbrava, vislumbrava Rilke, brilhando como o sol mas recusando-se a lutar. Ele não entendia o que ela estava fazendo. Era como se tivesse desistido. Se quisesse, ela poderia tirar os dois dali. Estava ferida, sim, mas só seu corpo humano. O anjo ainda funcionava com força total.
Rilke!, chamou ele de novo, no que devia ter sido a centésima vez. Por favor, não faça isso!
A tempestade se agitou, aquela mesma artilharia detonando em algum lugar do lado de fora. Agora havia também outra coisa, algo que rugia mais alto do que o furacão. O que quer que fosse, tinha de estar funcionando, porque as nuvens giravam mais devagar, e a corrente estava mais fraca.
Mas não fraca o suficiente. Ele deslizava pelo esôfago da besta, sem conseguir firmar-se. Ela ia engoli-lo inteiro, no vazio infinito de seu estômago. Essa ideia — de uma eternidade de nada, de uma eternidade sozinho — o fazia uivar, o som saindo tanto dele quanto do anjo. Não queria morrer sozinho. Tinha ficado sozinho por tempo demais, sem deixar ninguém entrar em sua vida, nem mesmo Lisa. Sua raiva sempre o tinha preenchido, nunca dera espaço para mais nada.
Rilke, espere!, clamou. Se ela ouvia, não dava sinal, flutuando contra a corrente em sua teia de fogo. Ele esperneava em pleno ar, sentindo-se um paraquedista em queda livre. Resistir à corrente era uma coisa, mas cruzá-la era outra. Ela estava ligeiramente à frente dele, e ele girava braços e pernas, aproximando-se — Espere, pelo amor de Deus! — talvez dez metros, depois cinco.
O ar entre eles começou a faiscar, como se alguém soltasse fogos de artifício. Dedos invisíveis puxaram-no de volta, e ele pensou que poderia ser ela tentando afastá-lo. Porém, ela sorria, como se estivesse no meio de um sonho acordado.
Rilke!, disse ele, usando o que restava de força para se empurrar na direção dela. Raios de energia zapearam por seu braço quando pegou o pé dela. Ele a escalou como se ela fosse uma escada, assustado demais para se soltar. Exatamente como antes, quando brigavam, o zumbido de seus corações ficou mais agudo, soando como se estivessem prestes a estourar. Ele a abraçou, grato apenas por ter alguém ao lado enquanto girava rumo ao fim.
O que você quer?, perguntou Rilke, mirando às cegas da concha que era seu corpo.
O que ele deveria dizer? Que não queria estar sozinho quando fosse devorado pela besta? Não respondeu, só continuou agarrado a ela. Não ia demorar muito mais, o buraco negro bem à frente, nuvens de matéria espiralando-se em volta dele, sendo esmagadas até virar poeira e sendo depois sugadas. Até o som estava sendo puxado, restando apenas o silêncio.
Não é tarde demais, disse ele, com a voz muito alta naquele silêncio. Você pode tirar a gente daqui.
Estou cansada, respondeu ela. Só quero ir para casa. Quero ver Schiller.
A tempestade sacudiu de novo, pedaços dela desabando enquanto o ataque continuava do lado de fora. Ele se agarrou a Rilke com os braços trêmulos, sentindo a pressão aumentar entre eles. Não poderia se segurar por muito mais tempo, mas não precisava. Em segundos, apenas desintegraria; seria como se nunca tivesse existido.
Não queremos você aqui, disse Rilke. Enfim os olhos dela se voltaram para ele, duas poças de chumbo derretido e uma terceira no meio da testa, aquela que ele tinha feito. Ela ergueu os braços e o empurrou, mas ele se manteve preso a ela com toda a força. Só eu e meu irmão. Vá embora.
Não, falou ele.
Vá embora!
Ela o empurrou com força, escorregando das mãos dele. Os dois estavam agora no silêncio profundo e ensurdecedor, deslizando para o buraco negro. Rilke já se desfazia, pedaços dela se soltando como se fosse feita de areia. O anjo ardia, tentando mantê-la integrada. Brick puxou-a para perto outra vez, seu terror tão intenso que não encontrava semblante através do qual se revelar. O ar entre eles pulsava, cuspindo fogo líquido, mas Brick enfrentava aquilo. Não se soltaria, não encararia o fim sozinho.
Um clarão ofuscante surgiu e, de repente, ele estava dentro de uma sala, uma biblioteca, observando grãos de poeira vagando preguiçosamente entre as prateleiras. Schiller estava sentado em uma janela na frente dele, a respiração umedecendo o vidro. Não havia nada ali além de dourado, como se a sala flutuasse em um oceano de luz solar. Brick chorava, mas entendia que as lágrimas não eram dele, que pertenciam a outra pessoa, a Rilke.
— Ele se foi — disse Schiller, voltando-se para Rilke, para Brick. — Não vou deixá-lo machucar você de novo, prometo.
— Eu sei, irmãozinho, eu sei — ele se ouviu dizer. — Vamos proteger um ao outro, para sempre. Eu te amo.
Schiller se inclinou para a frente e o abraçou, e a memória — Aquilo era uma memória? — esvaneceu. Tinha sido tão real que Brick quase esquecera o homem na tempestade, o buraco negro no fundo da garganta dele. Olhava para Rilke, vendo a vida dela como se tivesse sido a dele: o pai sumido há tempos, a mãe louca, e o homem, o homem mau que dizia ser médico. Seu rosto apareceu, o bafo de café e álcool, as unhas compridas e sujas. Brick quase berrou, forçando a memória a se afastar, a dor que vinha com ela. Esperneava, tentando ficar preso a Rilke, sabendo que ela precisava dele tanto quanto ele precisava dela.
Não preciso, disse ela. Eu tenho Schiller. Sempre vou ter Schiller.
Ele não está lá dentro, falou Brick, ambos se dissolvendo na luz sombria do buraco negro. Não tem nada lá, está vazio. Schiller se foi.
Os olhos deles se encontraram, e ele percebeu que, lá no fundo, além da loucura, além da exaustão, ela sabia a verdade.
Não importa, disse ela. Vou encontrá-lo.
Rilke sorriu, os lábios explodindo em cinzas. Brick sentiu os dedos escorregarem quando o corpo dela se desfez, tentando pegá-la com as mãos em concha, juntá-la. Assim que se separaram, o ar entre eles se acendeu, a mesma explosão nuclear de antes fazendo-o subir de volta pela garganta da besta. Rolava como um pião, impelido por uma onda de energia. Chamou Rilke, tentando alcançá-la com as mãos, com a mente, tentando levá-la junto.
Mas era tarde demais. Ela se fora.
Cal
Termosfera, 16h29
Ele cuspia fogo, e a tempestade queimava.
A besta se desfazia, seu corpo virando fumaça, só a boca ainda suspensa acima do chão, ainda escancarada. Mesmo ela perdia sua força, sua inspiração não muito além de um sussurro. Nacos de detritos semidigeridos caíam dela, junto com fios bruxuleantes de luz negra. Era quase como se o homem na tempestade virasse a si mesmo do avesso.
Adam pairava como um dragão, com a mesma pluma de fogo integrado rugindo dos lábios. Howie também urrava jatos de magma da boca. Os dois faziam o céu tremer. Cal em momento nenhum parou de pensar em Daisy, a tristeza e a raiva alimentando o incêndio dentro dele. Nunca pararia de pensar nela.
Isso é muito fofo, disse uma voz, a voz dela. O choque cortou o grito ardente do anjo, e Cal olhou para o firmamento. Uma das estrelas se movia, caindo em direção à terra. Ela emanava um som, e ele precisou de um instante para perceber que era riso.
Daisy? Mas como?!
Não sei, disse ela, bruxuleando fora de seu campo de visão antes de reaparecer ao lado dele em um halo de cinzas incandescentes. Ele a mirou, boquiaberto, e ela riu ainda mais.
Vai engolir uma mosca se ficar com a boca aberta desse jeito.
Então ela se jogou nos braços dele, o ar entre os dois estalando em protesto. Ele abriu um sorriso enorme, abraçando-a com toda a força. O alívio era como um rio irrompendo em sua alma.
Use-o, disse ela, desvencilhando-se e olhando a besta.
O quê?
Isto, disse ela, apontando o peito dele. Isto.
Ele usou, rindo um relâmpago de fogo que flagelou a treva evanescente da tempestade. Daisy fazia a mesma coisa, o som das risadas como um canto de pássaro. Adam tinha parado para recuperar o fôlego, e, ao ver Daisy, também começou a rir. Não só ele, mas também o anjo. Cada jato de som era uma arma que rasgava o vazio acima de suas cabeças.
O homem na tempestade tentava arder e sumir, mas suas asas estavam em farrapos. Os cotocos se moviam em espasmos, como os de um corvo ferido, o relâmpago apenas ondulando na superfície. O ar estava repleto de movimento, uma saraivada de penas negras caindo. Ele já não emitia nenhum som, só os estertores lamentáveis de uma coisa moribunda. Um último suspiro desesperado.
Uma pérola de luz branca apareceu no coração das trevas, parando um momento como uma gota de orvalho. Ela se expandiu em um instante, como uma supernova silenciosa. Cal mergulhou a cabeça no braço e, quando olhou de novo, a besta estava perdida no silêncio. Uma figura solitária precipitava-se do inferno frio, girando pelo ar como uma boneca de pano em chamas.
Brick, disse ele. Mas Daisy já estava em seu encalço, voando para longe da existência e reaparecendo quase instantaneamente com o outro garoto nos braços. Ele estava vivo, mas por um triz, toda parte dele despojada do fogo do anjo, exceto os olhos. Tinha perdido as asas: uma por completo, e a outra parecia um lenço pendendo do ombro.
Tudo bem, cara?, perguntou Cal.
Rilke, disse ele. Cal procurou-a na mente, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele olhou para Daisy, os olhares se encontrando, e ela também entendeu. Rilke tinha desaparecido, mas levara consigo meia tempestade.
Vamos, disse Cal. Não havia praticamente mais nada dele, sua mente e seu corpo vazios. Mas havia o suficiente. Cal bateu as asas, subindo rumo à tempestade. As nuvens se dissipavam agora, como ratos desertando de um navio que afundava. Atrás delas havia um espantalho de carne velha, uma ferida aberta que emitia luz negra. Tinha chegado ao fim. Estava morto. Terminado. Vamos acabar com isso de uma vez.
A Fúria
Termosfera, 16h32
Cal lutava. Disparava com cada pedaço de si, com cada resto de emoção. O anjo fazia o que fazia, convertendo-a em energia, em fogo, urrando contra a besta. O homem na tempestade agora não era nem uma coisa nem outra. Tudo nele tinha sido praticamente arrancado, deixando apenas aquele núcleo giratório, aquele orbe negro, como um mármore de obsidiana no céu. Até isso encolhia, a luz negra se extinguindo. Assim como os anjos, ela não podia resistir sozinha, pensou Cal. Sem seu hospedeiro, não era nada. Bombeava ondas de silêncio ensurdecedor, cada qual como um grito invertido. Cal sentia que seu corpo nem lhe pertencia mais. Sentia-se desajeitado por dentro, como se operasse uma máquina desconhecida. Mas não importava. Sentia a alegria emergir, subindo pela garganta e ardendo de sua boca. Nada mais importava, porque tinham derrotado a besta; tinham vencido.
Brick lutava, ainda que não conseguisse segurar o próprio peso. Daisy o mantinha suspenso no ar, a mente como uma correia em volta dele. Ele mal enxergava. Sua cabeça era um caos de ruído branco. Mas sabia o que fazer, os braços pelo éter, de algum modo encontrando a energia para atacar o que restava da tempestade. Tudo em que conseguia pensar era Rilke. A garota que tinha matado Lisa, que tinha tentado matá-lo; a garota cujo irmão fora assassinado; a garota cuja mente ele destruíra, cuja sanidade ele tinha arrancado pelo buraco em sua cabeça; a garota que fora tão triste, tão enfurecida, que se recusava a conversar com todo mundo sobre isso, inclusive com o irmão — tão parecida com Brick, tão parecida com ele. Não a entendia, nem o que tinha acontecido, mas a raiva dela agora pertencia a ele, e ele podia usá-la, como aliás o fez, gritando até a besta sumir. Esta é por você, Rilke, sinto muito, espero que encontre seu irmão. De verdade, sinto muito, sinto muito, sinto muito...
Howie lutava, o fogo dentro de si tão natural que ele se perguntava se tinha sido sempre assim, se tinha acabado de acordar de um sonho de uma vida normal, de um sonho de uma família perto do mar, com amigos, com noites na praia bebendo rum. Como qualquer coisa ali poderia ser real? Tudo parecia artificial demais, algo que ele poderia ter visto na TV. A verdade é que agora era uma criatura cuja energia era capaz de destroçar o mundo com apenas uma palavra. A tempestade era agora um trêmulo floquinho de sombra na tela brilhante do espaço. Ela bruxuleava, raízes venenosas de luz crescendo dela, sumindo quase de imediato. Howie atacava, pisoteando-a com a mente como se esmagasse um besouro, de novo, de novo e de novo. O som era como o do trovão. Não queria adormecer nunca, nunca voltar para a vida de sonho, para o lugar em que não tinha força. E seu anjo também não queria, percebeu ele, porque, se o deixasse, o único lugar para onde iria era a escuridão, a gelidez, o lugar fora do tempo. Ele se agarrava ao anjo, sentindo seu fogo congelante arder dentro da alma, rindo.
Adam lutava, gritando para a besta, vendo o rosto da mãe no céu, o do pai também. Tinha tanta raiva deles, ele os odiava. Durante aqueles anos todos, o tinham mandado calar a boca, ficar quieto, parar de reclamar, parar de chorar. Não mais.
— Agora quem fala sou eu! — gritou ele, e a voz era ainda mais alta do que a da mãe e a do pai quando berravam, mais alta ainda do que a do homem na tempestade. Era a coisa mais alta do mundo, e era dele. — Estou falando, e vocês não podem fazer nada! — Ele não permitiria que o machucassem nunca mais, não toleraria aquilo. Nunca mais queria vê-los, e não precisava se não quisesse. Moraria com Daisy, com Cal, talvez até com Brick, apesar de ele resmungar o tempo todo. Ele olhou para eles, que reluziam ao sol como enfeites de árvore de Natal. Eram todos feitos de fogo, exatamente como ele. Eram seus irmãos e irmã, e ele os amava tanto que seu coração doía. Gritavam para o céu e ele também, todos juntos, tal como seria para sempre.
Daisy lutava. Não parecia que lutava, porém, porque tudo o que fazia era rir. Aquilo borbulhava dentro dela como se tivesse ficado represado um milhão de anos, mas enfim em liberdade. Não conseguiria parar nem se quisesse. Cada risada era uma chama dourada despejada pela boca, lembrando-a do vapor que saía por ela em dias frios. Elas subiam até o homem na tempestade, indo parar em sua pele velha e nojenta, sufocando-o. Não que ainda restasse muito dele; só um círculo de trevas, um buraco gigante afundado no céu. Ele ficava menor e mais pálido, o universo em processo de cura. Daisy abriu as asas e voou até ele, ainda rindo de alívio. O anjo ria também, o zumbido como um diapasão, fazendo com que cada célula em seu corpo parecesse mais leve do que o ar. A tempestade tinha se encolhido para longe dela, que chegou a sentir pena da besta, porque jamais poderia saber o que ela sentia. A besta — embora não fosse realmente uma besta, pois, diferente de um animal ou uma pessoa, não estava de fato viva — vagava pelo vazio frio e escuro do espaço procurando vida, porque não a suportava. Tudo o que conhecia era o nada, a ausência. Para ela, este mundo era um equívoco, uma lacuna horrenda nas regras, algo que não podia ser tolerado, que tinha de ser reequilibrado, ajustado. Mas ela não contara com os anjos, nem com as pessoas. E, por certo, não contara com o riso. Se havia algum oposto exato do vazio, daquele nada infinito que ela tanto amara, tinha de ser o riso, não tinha? Não havia nada mais humano. Daisy lutava contra a tempestade, atingindo-a, ela que agora não passava de um grão de poeira que a garota podia prender entre dois dedos, logo menor do que os diminutos átomos que compunham o ar, enfim tão pequena que nem os olhos do anjo de Daisy a entreviam, pequenina o bastante para cair no meio das fendas do mundo. Uma única centelha de relâmpago negro bruxuleou pelo céu, e então Daisy sentiu seu fim, tudo o que ela era irrompendo em uma explosão ondulante. A onda de choque lançou-a para trás, e ela ardeu para fora do tempo e do espaço, levando consigo os outros, surfando ao som do riso até chegar em casa.
Noite
Do tempo triste somos os arrimos;
digamos tão somente o que sentimos.
Muito o velho sofreu; mais desgraçada
nossa velhice não será em nada.
William Shakespeare, O Rei Lear
Cal
Hemmingway, 16h47
De início, não sabia onde estavam. Então o mundo os alcançou, envolvendo-os com seu braço, e, através do halo espiralante de cinzas, ele o reconheceu. À direita estava o mar, ainda perturbado, mesmo após aquele tempo todo. À esquerda havia um estacionamento e uma pequena construção achatada com as portas presas com tábuas. O chão ainda estava coberto de cinzas — menos agora, mas o suficiente para mostrar pegadas, e também marcas de pneu, de quando haviam partido naquela manhã. Tudo parecia diferente aos olhos do anjo, mas, quando foi para dentro da mente a fim de tentar se desconectar do fogo, nada aconteceu.
Acabou? A voz era de Brick, e Cal, virando-se, viu-o deitado no chão, apoiado contra a duna. Seu fogo ainda ardia, mesmo que fraco, e o garoto se arrastava desconfortável nele. Seus grandes olhos brilhantes piscavam.
Melhor que tenha acabado, falou Howie, pairando acima do chão ao lado dos banheiros, com as asas semidobradas. Porque eu estou completamente acabado.
Acho que acabou, sim, disse Daisy. Ela e Adam ficaram lado a lado, os anjos zumbindo alto o suficiente para erguer areia e cinzas em uma dança. Outro ruído veio dela, um badalo de cristal que criou uma sensação estranha na cabeça de Cal. O homem na tempestade está morto.
Tem certeza?, perguntou Brick. Daisy inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse ouvir algo. Após alguns instantes, ela fez que sim.
Tenho certeza. Você não sente? Ele se foi.
Cal sentia, e era a sensação como a de ter comido algo ruim, algo que o deixara nauseado por dias e mais dias, e ele finalmente o vomitara. Perguntava-se se o anjo também estava aliviado, porque sua cabeça parecia diferente. Sentia-se pegando carona dentro do próprio crânio, impelido para um lado pelo gelo da criatura. Não conseguia entender se a sensação era resultado de um ferimento, de algo que tinha acontecido durante a batalha, mas, quando pôs as mãos na cabeça, no corpo, não parecia estar faltando nada.
Não consigo me desconectar dele, disse Brick. O garoto maior se retorcia na areia e na cinza, sua única asa se arrastando embaixo dele como um membro mutilado. Ele não vai embora.
Cal tentou de novo, apertando aquele interruptor invisível que o colocava de volta no controle do corpo. Nada aconteceu, e teve um ligeiro vislumbre de pânico no estômago. O anjo pareceu gostar, sua segunda pele se acendendo, bombeando aquele mesmo pulsar que entorpecia a mente. Fique calmo, fique calmo, falou a si mesmo, mas, de repente, a veste de chamas pareceu errada, como se vestisse a carne de outra pessoa. Não queria mais ver através dos olhos do anjo, não queria ver os mecanismos secretos do mundo, os pequenos motores atômicos que giravam incansavelmente; não queria sentir o vazio imenso e escancarado que aguardava bem do outro lado da concha de papel da realidade. Ele deu de ombros, tentando libertar-se, mas o anjo estava bem no meio de sua cabeça, sufocando seus pensamentos.
O que está acontecendo?, perguntou ele.
Faça ele ir embora!, gritou Brick, agora de pé, agitando os braços diante do rosto como se estivesse em meio a um enxame de abelhas. O medo do garoto era contagioso. Howie começava a coçar o incêndio à sua volta, suas asas cortando a parede de um banheiro e transformando-a em pó. Adam choramingava, cada chorinho fazendo o ar tremer ao derramar-se dos lábios.
Esperem, está tudo bem!, falou Daisy. Não se assustem!
— Vá embora! — Agora Brick gritava, as palavras como socos através das dunas, mandando bolos de areia para a espuma branca do mar. — Vá embora! Já terminamos, não precisamos mais de vocês!
Brick! Chega!
Cal mordeu o lábio para conter o pânico e viu Daisy flutuar, carregando Brick nos braços. Foi como observar mãe e filho, e Brick logo se acalmou, ainda que o espaço entre eles tenha criado um show de fogos de artifícios. Ela o soltou, com o baque de um pulsar de energia escapando, levantando redemoinhos de poeira.
Mas eu não consigo desligar, disse Brick, as mãos apertando as têmporas. Ele não sai da minha cabeça.
Eles... Ela procurava as palavras. Eles não querem voltar para o lugar de onde vieram. Lá é frio e escuro.
Aqui eles não podem ficar, disse Brick, agora se socando. A cabeça é minha, está ouvindo? Vá embora!
Chega, falou Daisy, dando-lhe a mão. Quanto mais emotivo você ficar, pior vai ser. É isso que eles querem, emoções. Estão se alimentando dessa raiva toda.
Você falou para nós que era isso que devíamos fazer, argumentou ele, com seus olhos ardentes fixos nela. Você nos disse para usar isso. A culpa é sua!
Pare com isso, cara, disse Cal. Se ela não tivesse dito isso, agora estaríamos mortos, entendeu? Dê um tempo pra ela.
Vá para o inferno, Cal, Brick resmungou. Não pedi que nada disso acontecesse. Ele torceu a cabeça para cima, gemendo. Consigo sentir ele aqui dentro. Saia, saia, SAIA!
Daisy olhou para Cal, o rosto dela cheio de tristeza. Aquele som de badalo tinha ido embora, e o ar parecia mais pesado por causa disso.
Eles ficam muito sozinhos lá, falou ela. Eles detestam. Não podem ficar?
Se ficarem, nós vamos morrer, respondeu ele. É a Fúria, Daisy. Assim que qualquer pessoa se aproximar de nós, vai querer nos destroçar. Não podemos nos esconder para sempre, é só uma questão de tempo. Ele pensou na criatura dentro de si, na coisa que o mantivera vivo, e sentiu-se inexplicavelmente culpado ao dizer: Fale para irem embora; é o único jeito. Você consegue?
Daisy olhava o mar, mas, na verdade, enxergava outra coisa. Cal tentou espreitar os pensamentos dela, mas o que sentiu ali — uma pressão no peito dele, na garganta — era insuportável.
Daisy?, perguntou ele. Ela o olhou e sorriu, o sorriso mais triste que ele já vira.
Acho que sei o que preciso fazer.
Daisy
Hemmingway, 16h59
Ela não sabia por que os tinha levado de volta para aquele lugar, Hemmingway. Agora ali era a casa, imaginava ela, a única que tinha. A única de que precisava. Parecia ter sido séculos atrás quando ela e Cal entraram de carro naquele estacionamento, e uma vida inteira quando saíram. Parecia ter passado anos ali, na beira do mar, ao sol, com Cal, Brick, Adam e os outros. Mas os anos — e os segundos, minutos, horas, dias — eram diferentes agora. O tempo era uma coisa fragmentada.
Casa. Ela tinha sido feliz ali. Não o tempo todo, claro. Tinha ficado doente, com medo e com raiva também, de Rilke, de Brick e de todos os furiosos, e sobretudo do homem na tempestade. Mas ter encontrado nem que fosse um pouquinho de felicidade no meio daquilo tudo tinha sido como quando o sol irrompe pela nuvem mais pesada, pintando o mundo de dourado. Sim, ela tinha sido feliz ali. Sempre seria feliz ali.
Eles também podiam ser felizes ali, os anjos. Por que eles precisavam voltar para seu lugar de origem só porque seu trabalho tinha terminado? Eles não eram máquinas prontas para serem guardadas de volta no armário. Daisy lembrou-se de ter pensado que os anjos eram como robôs, armas sem alma a serem usadas na guerra contra a besta. Mas estava equivocada. Eram mais como bebês que aprendiam a usar suas emoções pela primeira vez, descobrindo todas as coisas maravilhosas que poderiam sentir. Não tinham nada de seu, disso ela tinha bastante certeza, mas isso não significava que não podiam sentir o que ela sentia.
E quem iria querer voltar para um lugar vazio e horrendo para sempre se pudesse ficar aqui, rindo, amando, em meio a tudo o que é bom? No momento exato em que ela pensou isso, sentiu seu anjo rir, aquele diapasão invadindo o ar, tão diferente do riso humano e, mesmo assim, tão inconfundível. Riu também.
Como assim?, perguntou Cal. O que você precisa fazer?
Ela sorriu de novo, olhando o anjo que estava dentro da alma dele. Ainda não entendia o que eles eram de verdade, nem de onde vinham. Como poderia? Aquelas coisas eram mais velhas do que o tempo, mais velhas do que o universo. Haviam estado ali desde sempre, em plena existência eterna. E também o homem na tempestade. Ele era o para sempre, os zilênios intemporais e vazios. Só de tentar pensar naquilo, a cabeça dela doeu, por isso, parou. Nada daquilo importava, não agora que tinham encontrado um lar. Estava cansada, os anjos estavam cansados. Era hora do repouso.
Aproximou-se de Brick, o garoto esperneando em seu traje de fogo. Mas que bebezão ele era.
Brick, chamou ela. Ele a ignorou, os braços girando como se ele de algum modo pudesse puxar-se para fora do próprio corpo. Brick!, repetiu, tocando o ombro dele. Ele franziu o rosto e a olhou zangado.
Simplesmente tire ele de mim!, disse ele.
Quero que me escute, respondeu ela. Quero que fique menos zangado. E também menos egoísta. Ele ia começar a responder, mas algo na expressão dela o deteve. As coisas se tornam mais fáceis quando a gente é legal, não é? E não custa nada.
Do que você está falando?, perguntou ele. Isso não tem nada a ver com você, Daisy.
Apenas tente, falou ela. Você acha que todo mundo detesta você, mas não é verdade. Você não vê, nós amamos você, Brick. Sempre amaremos. Seja legal, prometa.
Ele ficou de queixo caído e lentamente fez que sim. Ela riu outra vez — agora, para ela e para o anjo, o riso era facílimo — e, em seguida, moveu uma mão até o peito dele, empurrando os dedos dentro do fogo. Era como colocar uma folha na frente de uma joaninha e observá-la subir. O fogo de Brick disparou com força suficiente para catapultá-lo para trás, fazendo-o rolar pelo estacionamento. Fogo escorreu do braço de Daisy, abrindo caminho até o som dos sinos que soavam no centro dela. Sentiu o instante em que o anjo juntou-se ao dela, os dois sentados em seu peito, badalando com tanta força que os dentes dela batiam.
Brick deu um grito, retorcendo-se no concreto cheio de areia onde pousara, a trinta metros de distância mais ou menos. Ele a mirou com os próprios olhos, arregalados, úmidos, humanos.
Agora você é humano, lembre-se disso. Não pode chegar perto de mim.
Ele se levantou, mas ficou onde estava.
— O que você fez? — balbuciou Brick, as palavras débeis e gaguejadas, como se aquela fosse a primeira vez que falava.
Daisy se voltou para Howie, que recuou para os banheiros destruídos e estendeu as mãos para ela.
Espere aí, e se eu quiser ficar com o meu?, disse ele.
Ele vai matar você mais cedo ou mais tarde, respondeu ela. E depois vai morrer também.
Mas, e você?
Eu estou oferecendo outra coisa a eles, acho, falou ela, flutuando até ele e procurando seu peito. Queria ter tido tempo de conhecer você melhor.
O anjo dele veio de bom grado, ardendo pelo braço dela e entrando em sua alma. A força daquilo fez com que Howie fosse girando quase até as árvores. Após um ou dois segundos, levantou a cabeça, colocando as mãos nos ouvidos. Não era de admirar: o zumbido que emanava dela era ensurdecedor, três corações de anjo batendo no mesmo lugar. Ela agora se sentia muito fria, muito pesada. Mas não podia parar. Olhou para Adam, sorrindo para ele.
Pronto?, ela lhe perguntou.
Mas eu quero ficar com você, respondeu ele, e foi bom ouvir sua voz. Ela flutuou até ele, sentindo aquela mesma descarga elétrica crescer entre os dois.
Vou estar sempre aqui, disse ela. Preciso que você seja corajoso, Adam. Preciso que seja forte. Prometa-me que nunca vai ter medo de usar sua voz de novo, está bem?
Ela o soltou, e ele piscou para ela com seus olhos em chamas.
Prometa.
Prometo, prometo.
Não vai doer.
Ela apertou os dedos contra o peito dele, seu anjo se libertando mais rápido do que os outros. Ele rasgou seu caminho pela pele e mergulhou dentro dela. Era como se ela tivesse comido demais, como se estivesse prestes a explodir. A súbita corrente de energia mandou Adam para longe, depositando-o gentilmente aos pés de Brick. O garoto maior se abaixou, segurando-o com força quando ele tentou correr para ela de novo.
Daisy quase não conseguiu se virar para encarar Cal, tão pesado estava seu corpo, tão cheio de gelo e fogo.
Como sabia que isso não ia matar você?, perguntou ele. Como sabia disso tudo?
Eu não sabia, respondeu ela. Mas eles sabiam.
E agora?
Ela deu de ombros.
Vamos vivendo.
Endireitou o braço, procurando o peito dele, mas ele pairou para longe.
Obrigado, falou Cal. Nunca teríamos conseguido sem você.
Eu sei, disse ela, dando outra risada. Prometa-me que vai cuidar de Adam. Nunca se separe dele.
Cal se virou e sorriu para o menino.
Claro, vou tentar, Daisy, mas não sei o que vai acontecer...
Cal...
Certo, prometo. Nunca vou me separar dele.
Ela tentou de novo, mas ele recuou mais ainda.
Não sei mais o que dizer, ele falou.
Então não diga nada. Ela estendeu a mão uma quarta vez, os dedos entrando no peito dele. Fez-se um clarão, como um choque elétrico, um jato de pura energia estalando dentro do corpo dela. Cal voou para trás, rolando pelo chão. Quando levantou a cabeça, seu rosto estava coberto de cinzas. Parecia um fantasma, e isso só fez com que ela risse com ainda mais força. Os anjos riram também. O corpo dela estava oco e repleto de badaladas. O zumbido que vinha dela era alto o suficiente para fender a terra.
— Daisy? — gritou alguém, mas ela não conseguiu ouvir direito quem tinha sido.
Também não pôde enxergar muito bem, o incêndio que ardia dela tão brilhante que até os olhos do anjo enfrentavam dificuldades. Era demais, o mundo tremendo por contê-la, a pele da realidade esticando-se para fazê-la caber. Os anjos estavam agitados; podia senti-los nos pensamentos, no sangue, na alma. Ela parecia estar prestes a explodir e levar o universo junto.
Piscou algumas vezes e viu Cal, Brick e Adam através da visão turva, parecendo tão pequenos, tão humanos. Lembrou-se da primeira vez que os encontrara: Cal, quando a salvara no carro, falando-lhe da Dona Mandona como se ela nunca tivesse ouvido falar de navegação via satélite antes; Adam, quando chegara com os outros, tão calado, com tanto medo, até que haviam brincado nos cavalos do carrossel, Angie, Geoffrey e Wonky-Butt, o Cavalo-Maravilha, e seu rosto se abria como uma flor; e Brick, coitado, triste, zangado, o Brick que os encontrara bem ali, naquele lugar exato, que os levara a Fursville, cujo riso era como o de um pássaro quando enfim se esquecia de ficar zangado com o mundo. Como era possível amar as pessoas tanto, com tanta força?
Vocês precisam ir embora, disse ela. Acho que algo está prestes a acontecer.
— Daisy, não, não vá embora! — pediu Adam. Ele quis se aproximar dela, mas Cal o segurou.
— Adeus, Daisy — falou Cal, sorrindo para ela.
Não é um jeito tão ruim de ir embora, pensou Daisy. Vendo um sorriso.
Sorriu em resposta, virando-se antes que o riso se tornasse lágrimas. Ela os veria de novo, tinha certeza. Talvez não do mesmo jeito que antes, mas tudo bem. Não era o fim do mundo. Vagou pelas dunas, o mundo descamando-se a seus pés, o mar sibilando quando o sobrevoou. Mesmo que se sentisse pesada, subiu como um balão, dirigindo-se para o azul brilhante. O movimento dos anjos ia ficando mais frenético, como se fossem gatos presos juntos em uma cesta. Mandou que se acalmassem, mas eles não entenderam. O martelar de seus corações ficava mais agudo. Quanto tempo mais ela tinha antes que o mundo não pudesse mais contê-la? Horas? Minutos? Segundos?
Mas o tempo está fragmentado, disse a si mesma. Ele nunca vai nos alcançar.
Virou-se e olhou para baixo, observando os garotos abrindo caminho para as árvores sem folhas. Abaixo dela, o mar ia sendo varrido, e também a superfície, a energia vertida por ela talhando uma cratera na Terra. O ar se agitava como se tentasse escapar, como se soubesse o que estava por vir. O tempo rangia, tentando pegá-la com seus dedos, mas ela agora estava pesada demais para ele, ele não conseguiria carregá-la.
Ela se manteve firme até não poder mais vê-los — Brick foi o último a sumir, erguendo uma mão trêmula, as lágrimas como cristais no rosto sujo enquanto desaparecia. Vá embora, ela lhe disse. Nada de ruim vai acontecer agora — e, em seguida, o universo se fragmentou sob o peso dos anjos.
Eles pareciam arder dentro dela, uma explosão que começou na alma e se expandiu para fora, chegando às margens da floresta antes que ela estendesse mentalmente a mão e segurasse o tempo, libertando-se. Algo gemeu, o som como o de uma gigantesca buzina de navio no centro do mundo. Tudo sacudia, a realidade ameaçando fazer-se em pedaços, a explosão desesperada para terminar o que tinha começado. Porém, Daisy não desistiria. Os anjos trabalhavam com ela, segurando as rédeas do tempo.
Na cabeça, ela se atinha com a mesma força àquela memória, deitada em seu jardim à sombra das árvores, observando contas de luz solar se perseguirem pela grama. Repousava a cabeça na perna da mãe, sentindo o cheiro do tecido e de amora. O pai acenava para ela da janela da cozinha, parecendo cem anos mais jovem do que antes, parecendo ele mesmo outra vez. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, e sabia que sempre ficaria assim, porque nunca mais precisaria sair daquele jardim, nunca mais precisaria dizer adeus. Deitaria ali com a brisa no rosto, a mão da mãe no braço, o gato do vizinho passando por seus pés, ronronando como um trem a vapor, para todo o sempre.
Ela riu, e do lado de fora o mundo moveu-se sem ela. De início, lentamente — ela viu gente lá embaixo, uma multidão —, mas logo se acelerando. O dia virou noite, e a noite virou dia. Os rostos mudaram, mas ela viu gente que conhecia, Cal, Brick, Adam movendo-se rápido demais para que enxergasse o que faziam. Houve chuva, depois neve. A floresta desapareceu, sendo trocada por prédios, e eles também desapareceram, a linha do litoral mudando a cada batida de seu coração. Mas ela ainda os via, os amigos, os irmãos, de pé perto do mar, observando-a por uma fração de segundo. A cada vez que apareciam estavam mais velhos, até que estivessem grisalhos e recurvados, mas, ainda assim, ela os reconhecia.
O mundo continuou sem ela, os anos passando, as décadas, os séculos, e ela observou a terra recuar e o oceano avançar. Viu as cidades no céu, e os foguetes, viu o sol ficar grande e vermelho, e, durante tudo isso, o mesmo riso ecoava dela, uma única inspiração que mantinha todo o tempo à distância. Em algum momento, ela precisaria soltar o fôlego, sabia disso, quando o homem na tempestade aparecesse de novo, ou alguma outra criatura como ele. Em algum momento, os anjos se libertariam dela para poder combater em outra batalha. Mas, até lá, haveria só o jardim, o sol, e a mãe e o pai — amo vocês tanto, mas tanto —, e um riso que ressoava ao longo das eras.
Brick
Hemmingway, 17h23
Brick não suportava a ideia de deixá-la ali sozinha, mas que escolha ele tinha? Ele podia ouvir o pulsar sônico dos anjos dentro dela, aumentando o tempo todo, como se ela estivesse prestes a explodir.
— A gente precisa ir embora — disse Cal, tomando Adam pela mão e levando-o para longe do mar. O garotinho resistiu, tentando se soltar, mas Cal o segurou. — Cara — falou para Brick —, é sério. Esse barulho não é bom.
Não parecia bom mesmo. O mundo despedaçava-se em volta de Daisy, a terra e a água fervendo enquanto ela flutuava céu acima. Brick sentia o tremor nos pés, o chão se agitando, prestes a se despedaçar. Ele mal conseguia ver a garota através do orbe de fogo que a cercava. Parecia um pássaro em uma gaiola em chamas.
— Não quero ir embora — disse Adam aos soluços. — Eu quero a Daisy!
— Vai ficar tudo bem com ela — falou Cal. — Não está ouvindo?
Era incrível, mas ela ainda ria, o som cristalino mais alto do que o zumbido dos anjos. Cal se abaixou e colocou o garoto em cima dos ombros. Começou a correr para as árvores, e Brick foi atrás, aquele pulsar afastando-o, rugindo contra suas costas. Howie já tinha sumido. Brick escorregava nas cinzas, no concreto cheio de areia do estacionamento, tão cansado que mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Parecia estar aprendendo do zero a usar seu corpo, agora que o anjo fora embora. Sentia-se leve demais, frágil demais, como se fosse se quebrar em mil pedacinhos ao menor toque.
Porém, era um milagre que pudesse sequer se mover. Seu anjo devia ter curado os ferimentos mais graves, remendando seu interior.
Manquitolou por entre as árvores, olhando para trás, através dos galhos nus. Daisy estava suspensa sobre o mar, brilhando tanto quanto o sol. A água fumegava abaixo dela, congelando e depois fervendo, de novo e de novo, formando estátuas de gelo que duravam meros segundos antes de derreter de vez. Era hipnotizante, e Brick quase se esqueceu de si na maravilha caleidoscópica daquilo. Estendeu a mão para ela, percebendo que chorava. E, mesmo que não tivesse mais o anjo, ouvia a voz dela em sua cabeça, como se ela estivesse bem ao lado dele, sussurrando em seu ouvido.
Vá embora. Nada de ruim vai acontecer agora.
Deteve-se entre as árvores, e o mundo atrás dele ficou branco e silencioso. Uma onda sem som o pegou, carregando-o pelo ar, tão rápido que não conseguiu nem gritar. Então ele caiu no chão macio e arenoso, e a vida escureceu.
Não soube depois de quanto tempo abriu os olhos. Estava deitado de costas, mirando um céu que estava a meio caminho do dia e da noite. Seus ouvidos apitavam, como se ele tivesse passado a noite em um show, mas acima do gemido incômodo ouvia vozes. Tentou se sentar, sentindo como se cada fibra do corpo estivesse ferida. Até as pupilas doíam, e a visão parecia leitosa. Inclinou a cabeça para o lado, piscando para afastar as lágrimas. Algo se movia à frente, talvez vários algos. Não tinha certeza.
Ele se apoiou levantando um ombro, e passou a outra mão nos olhos. Ao olhar de novo, as silhuetas tinham se solidificado em figuras, em pessoas, uma correndo em sua direção. Um jato de adrenalina percorreu seu corpo exausto. A Fúria.
Ele foi embora, tentou dizer às pessoas, a boca recusando-se a formar as palavras. O anjo foi embora.
A silhueta estrondou na direção dele, e ele ficou de pé com dificuldade, conseguindo dar um passo antes de cair de cara no chão. Eram gritos que ele ouvia? Berros sufocados e furiosos? Depois de tudo o que acontecera, depois de tudo o que fizera para combater o homem na tempestade, era assim que ia terminar? Dentes na garganta, unhas nos olhos? Tentou de novo, mas não havia mais nada dentro dele. Mãos o seguraram, rolando-o de lado, o buraco negro de uma boca caindo em sua direção. Rezou para que fosse rápido. Era o mínimo que merecia.
— Tudo bem?
Não ouvia direito as palavras com aquele apito nos ouvidos.
— Cara, está me ouvindo?
Brick ficou deitado, o coração tentando sair do peito. Piscou até o rosto inclinado sobre ele ganhar foco.
— Cal? — rosnou Brick.
O outro garoto abriu um sorriso enorme, cheio de hematomas, cansado, mas de resto intacto.
— Tudo bem? — repetiu Cal.
Por que ele ficava perguntando? Era bem óbvio que ele não estava bem. Cal fez força para sentar-se, tentando recordar como tinha chegado ali. Tudo em sua cabeça era ruído branco, mas ele se lembrava de correr com Cal e com Adam, lembrava de Daisy flutuando por cima do oceano. O que tinha acontecido com ela? Ela tinha explodido? Ele pegou o braço de Cal, usando-o como apoio para levantar-se.
— Daisy — falou ele. Por favor, tomara que ela esteja bem, tomara que não tenha morrido.
— Ela está lá — disse Cal, apontando.
Brick continuou apoiado no outro garoto, o mundo girando. Podia estar no meio do deserto. Só que a areia ali tinha um milhão de cores diferentes, e logo à frente estava o oceano, tão espumoso que alguém parecia ter derramado mil toneladas de detergente nele. O sol estava parado no horizonte, alto sobre a água, mas, quando Brick se virou, também estava suspenso sobre a cabeça de Cal. A imponderabilidade daquilo lhe causou vertigens.
— Você precisa se sentar — disse Cal.
Brick se desvencilhou do garoto e seguiu cambaleante pela praia rumo ao primeiro sol, o sol dela. Havia mais pessoas à frente, que o brilho transformava em silhuetas. Brick teve de se aproximar para que seus olhos leitosos identificassem Adam e Howie. Ambos estavam imundos, as roupas em farrapos, mas os anjos tinham cuidado bem deles, curado os piores ferimentos antes de ir embora. Ambos sorriam.
— Ei — falou Howie, a voz parecendo papel-areia. — Você está um lixo.
Brick riu, mesmo que doesse. Howie estava preto e azul, seu cabelo prateado.
— Você também não está lá muito bem — falou ele. — Parece o meu avô.
— Deve ser um homem muito bonito — disse Howie, fazendo Adam dar uma risadinha.
Brick olhou de novo para o sol. Era forjado em luz, em cores que ele jamais vira, ondas de energia que cintilavam indo e vindo pela superfície. Ele não conseguia ver nada dentro da esfera, mas um badalo cristalino emanava dela, o som inconfundível.
— Ela está rindo — falou Adam. — Está feliz.
— Você acha? — indagou Brick.
O garoto tinha razão, não havia a menor dúvida. Quantas vezes Brick tinha ouvido aquela risada, que tinha tirado sua raiva, e o tornado humano outra vez?
— Daisy — disse ele, e a ideia dela ali, presa naquela bolha de fogo, deixou-o com raiva. Por que tinha de ser ela? Ela era só uma menina, deveria ter sido outra pessoa. Ela devia ter podido ir para casa, viver sua vida. Não era justo, não era...
Sentiu uma mão no ombro e, ao olhar, viu Cal.
— Você fez uma promessa a ela — disse ele.
Brick percebeu que tinha os punhos cerrados, as unhas penetrando a carne das palmas. Ele tinha prometido algo, tinha prometido não viver com raiva. Mas como poderia manter essa promessa?
— Sério, cara — falou Cal, apontando a água com a cabeça. — Quer realmente correr o risco de ela vir atrás de você? Ela vai te fritar.
Brick riu de novo, sem querer, deixando o corpo relaxar. A verdade é que estava cansado demais para estar com raiva. Inspirou profundamente o cheiro do mar, o cheiro de casa. Podia tentar, por Daisy. Ela tinha salvo a todos, várias e várias vezes. Devia isso a ela.
— Está bem — concordou. — Você está olhando para o novo eu, um mané todo feliz novinho em folha.
Cal riu para ele, e por um instante ficaram ali, estreitando os olhos contra o brilho do segundo sol. A Brick, parecia impossível que menos de uma semana atrás ele estivesse sentado naquela mesma praia preocupado com dinheiro, combustível e Lisa. Como era possível que tantas mudanças acontecessem em um período tão curto? Essa ideia fez suas pernas bambearem, e ele quase caiu, as mãos de Cal segurando-o.
— Ei! — A voz veio de trás deles, e todos se voltaram ao mesmo tempo, vendo um policial uniformizado andando sobre as dunas. Brick deu um passo para trás, calculando a distância entre eles. Trinta metros. Por favor, não, pensou ele. Por favor, não se transforme. O homem — não um policial, mas um bombeiro — agora corria, apontando o novo sol. — O que é que vocês estão fazendo?
Vinte e cinco metros. Vinte. O homem tropeçou e resmungou. Ah, não. Não pode ser. Quinze metros, e Brick já tinha quase se virado e começado a correr, antes que o bombeiro ficasse de pé outra vez.
— Precisam dar o fora daqui! — disse o bombeiro, passando correndo por eles, levantando areia no caminho. — Vão, vão pra casa já!
Brick se lembrou de respirar, observando o bombeiro que corria para o mato, gritando algo no rádio. Obrigado, disse para Daisy, para os anjos, para qualquer outra coisa que estivesse ouvindo.
— Precisamos ir embora! — falou Cal.
— Para onde? — perguntou Brick. — O que vamos fazer depois disso? Fingir que nunca aconteceu? Que talvez não aconteça de novo?
Cal deu de ombros.
— A única coisa que eu sei é que estou louco por uma lata de Dr. Pepper. Todo o resto pode esperar.
— Você sabe que isso é puro veneno — disse Brick. — Só açúcar e química.
— Eu sei — respondeu Cal. Ele se virou, seguindo pela praia na direção contrária do mar. Os outros foram atrás, cada qual levando as duas sombras de dois sóis. — Mas, se eu consegui sobreviver ao dia de hoje, com certeza vou sobreviver a uma lata de refrigerante.
Brick balançou a cabeça, e então notou que sorria, com tanta força que as bochechas doíam. Cal tinha razão. Realmente, não importava o que ia acontecer depois. Agora estavam em segurança, tinham sobrevivido. Olhou de novo em direção a Daisy, oculta em sua bolha de luz. Será que ela os observava agora? Levantou a mão e acenou para ela.
— Adeus, Daisy — falou. — Logo a gente se vê. Cuide-se.
Depois se virou e correu atrás dos outros, ouvindo o riso dela encher o ar a suas costas conforme perseguia sua sombra ao sol.
Alexander Gordon Smith
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















