



Biblio "SEBO"




O romance A Terceira Expedição foi publicado pela primeira vez em 1987; era ainda a guerra fria: a União Soviética disputava com os Estados Unidos a supremacia mundial. Vinte e cinco anos depois, a União Soviética desapareceu e a guerra fria acabou, mas o mundo está muito mais perto do apocalipse.
Hoje, cerca de quarenta países têm ou podem ter a curto prazo armas nucleares. Mas talvez até piores do que a proliferação de armas atômicas são os estragos à natureza e as mudanças climáticas que o homem está provocando. O nosso planeta não comporta bilhões de automóveis e motocicletas exigindo asfalto e cuspindo gás carbônico. E o aquecimento global também aumenta as queimadas de florestas que aumentam... o aquecimento global. Essas agressões à natureza são insustentáveis a curto ou médio prazo.
A minha geração teve a sorte de viver quase setenta anos de paz, conforto e prosperidade, e no entanto vários problemas estão piores hoje do que cinqüenta anos atrás. Desemprego, violência criminal e da polícia, drogas, favelas, crianças de rua, imoralidade, corrupção, terrorismo e poluição se agravaram.
As manipulações genéticas também podem chegar a ser um pesadelo. O efeito estufa, talvez aliado a esses males, arrisca trazer catástrofes de uma amplitude jamais vista e causar mudanças drásticas em nossa civilização. O homem brinca com o fogo e os governantes fazem vista grossa ou tomam apenas medidas "para inglês ver". Até quando?
O escritor André Malraux disse que na história a algumas gerações muito é dado, de outras muito é exigido. Quem é jovem em 2013 provavelmente vai viver tormentas que a falência de minha geração está deixando.
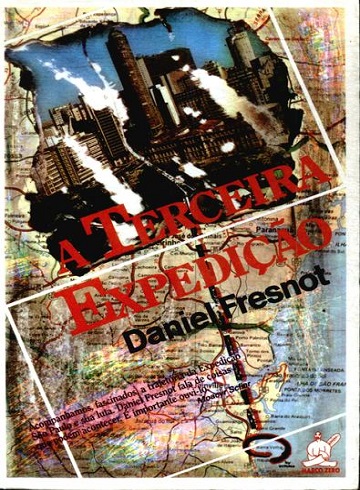
Sim, jovem irmão. Eu participei da Expedição São Paulo com o Capitão Dino. Da primeira, da segunda e da terceira que terminou tão mal. Começou dois anos após o apocalipse, vinte e um meses para ser exato. Você sabe, Deus quis que a região mais poupada fosse o nosso Estado de Santa Catarina. Florianópolis, a única capital a não ser atingida pelo fogo, só pela água. De cento e cinqüenta milhões de habitantes o Brasil foi para menos de dez, sete, oito, não se sabe ao certo. No hemisfério norte a vida humana cessou. Disseram que sobreviveram uns esquimós porque estavam acostumados ao frio, mas ficamos sabendo que nem eles... Só nós aqui, alguns andinos e, parece, na Indonésia, Austrália, por aí. E, é claro, os atingidos. O ano que seguiu o apocalipse foi o mais duro da minha vida. Dormimos em canos de cimento porque aqui em Barra Velha o mar avançou e destruiu a cidade. Sobrou a fábrica de lajotas, canalizações de cimento e a fábrica do Capitão Dino. O Capitão Dino era paulista, mas nasceu na Itália. Dino Fontana ele se chamava. Um ano antes veio aqui em Barra Velha montar uma fábrica filial. Foi bem recebido, o município tinha pouca indústria, só pesca, fumo, feijão e turismo na estação. Lembro bem da chegada, ele tinha um carrinho azul, sempre cumprimentava todo mundo. "E o paulista que quer abrir uma fábrica", repetiam as senhoras. Ficou várias semanas procurando local e acabou alugando a antiga olaria do doutor Getúlio. O Capitão Dino parecia às vezes... esquisito. Pessoa religiosa mas nunca foi à missa. Costumava dizer: "Se Deus quiser", "Graças a Deus"... sempre muito gentil e era muito estudado. Diziam que se formou na maior universidade da Itália e que tinha livros escritos; depois eu soube que era verdade. Ele impressionou a cidade porque salvou um homem. Estava andando com o carrinho azul de Barra Velha a Piçarras, procurando local para a fábrica, quando viu gente em volta de um homem sangrando. Um marginal que levou um corte profundo no braço. Parou o carro, pôs o ladrão no banco de trás e rodou até o hospital. Barra Velha tinha o maior hospital de Joinville a Itajaí: dois médicos, duas enfermeiras e um dentista. Aí o Capitão Dino ficou segurando o homem pelas pernas na sala de operações enquanto o médico o tratava. As pessoas não estavam acostumadas a ver um industrial, um doutor de São Paulo, sujar-se e sujar o carro para ajudar um tipo desses. Quando o ladrão melhorou foi para o xadrez. Aí o Capitão foi ver o delegado, explicou que estava montando uma fábrica e ofereceu serviço ao marginal propondo que metade do salário fosse para pagar o hospital. Você imagina, o ladrão aceitou tudo, o Capitão deu um dinheiro para pagar a comida até começar a fábrica, cinqüenta mil cruzeiros, e o ladrão uma vez solto deu no pé. Parece que era procurado em Porto Alegre. O delegado guardou os cinqüenta mil e ficou nisso.
Capitão Dino foi e voltou de São Paulo várias vezes. Finalmente, chegou com a mulher e os quatro filhos para montar a fábrica para valer. Eu disse quatro filhos mas os dois maiores não eram dele, eram do primeiro casamento da esposa, uma estrangeira também. Em cidade pequena tudo se sabe. Aquele namorou a filha do prefeito no ano da enchente, aquela bem que gosta de uma birita em casa, e assim por diante. Mas Dino e a esposa não ligavam. Pareciam querer cumprir uma missão. Aliás fizeram muita coisa boa. Ajudaram o prefeito a reconstruir a orla marítima que estava derrubada. Porque o mar em Barra Velha sempre foi violento e se você não protege com quebra-ondas de concreto forte, num certo ângulo, a construção não resiste. Bem, fábrica foi crescendo, eles trabalhavam para valer. Era carreta que vinha do Paraná, do Rio Grande, de todo lugar. Cheguei a contar onze num só dia, carretas de quinze metros, baús de dez. Traziam matéria-prima, levavam mercadorias. Foi um tempo bom. E veio o apocalipse.
Tem gente que diz que o Capitão havia previsto a guerra. Que foi por isso que deixou São Paulo. É possível... No dia do apocalipse eu estava consertando uma Kombi. Houve um silêncio muito grande, os grilos, os pássaros ficaram mudos. Vi um rato saído do terreno baldio parar, ficar nas patas traseiras e apontar o nariz para o norte. Eu estava deitado debaixo da Kombi, estranhei o silêncio e o rato farejando. Passaram-se uns minutos e não aconteceu nada, voltei a trabalhar. Mas aí, começaram uns fatos esquisitos. O ar ficou mais pesado. No horizonte, ao norte, vimos como que uma faixa de luz. Depois foi ao sul. Houve também um ruído abafado, muito assustador embora fosse bem baixo. Os animais e os insetos continuavam silenciosos; era tudo muito estranho, anormal. Foi bem uma hora assim. Alguém falou que o rádio não dava mais notícias. Então o senhor Jorge, que conserta televisão e entende de eletrônica, foi ligar um aparelho. Não pegava nada. Alguns foram procurar o prefeito e eu fui até a fábrica, o Capitão Dino havia parado a produção. Ele estava branco e repetia umas palavras em francês. Ele havia telefonado e sabia que São Paulo e o Rio já não existiam mais.
O prefeito veio até a fábrica acompanhado pelo doutor Abraham, que era dono do hospital. A esposa do Capitão tentava ligar para Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e de fora do escritório ouvíamos as notícias a cada minuto. "Porto Alegre não responde." "Curitiba não atende." "Joinville não atende." "Ligue para Paris", disse o Dino. A esposa foi ligando pelo ddd. Ficamos todos esperando, até que ela chorou e teve uma crise nervosa. Então, depois de acudir a mulher, Dino se trancou com o prefeito e o médico e ficaram a sós conversando. Quando saíram o prefeito falou qualquer coisa assim: "Meus amigos, é muito provável que tenha ocorrido uma guerra nuclear. Devemos todos manter a calma mas vamos agir como se a pior das hipóteses fosse acontecer. Se houve uma guerra muito grande, o maior perigo é o mar, pois contra as radiações não há o que fazer. Com calma e ordem vamos ajudar a evacuar as casas frente ao mar." Aí todos falamos ao mesmo tempo. O prefeito e o médico gritaram e as pessoas calaram. E o Dino nos disse: "Meus irmãos. Se Deus nos poupou até agora é porque vamos viver. Que cada um em sua casa faça uma reserva de água, a maior possível. Aqueles que moram frente ao mar devem ir já buscar as suas famílias e trazê-las para o alto. O galpão da Fibrasul pode abrigar mais de cem famílias. As outras devem ir à fábrica de lajotas ou à igreja do morro. Façam tudo com calma e sem precipitação para evitar o pânico. Graças às fábricas, ao hospital e à casan teremos água por várias semanas. A comida também não faltará. Agora vamos todos agir com calma. Que Deus nos proteja." E foi de novo cuidar da esposa.
A escola foi evacuada e toda a parte baixa da cidade. Os operários da Fibrasul e os funcionários municipais organizaram a retirada. Quando a noite foi caindo muita gente queria voltar às suas casas para buscar isso ou aquilo, mas Dino e o prefeito não deixaram. E começou a primeira noite.
Às nove horas ou pouquinho depois acabou a luz elétrica. E era noite escura, sem lua ou estrelas. A nossa rede vem do sul, de Camboriú, e também não víamos as luzes de Piçarras. O céu tinha uma consistência esquisita que eu não conhecia. Na fábrica pegaram algumas lanternas que foram colocadas nas entradas do galpão. Às dez horas percebi que o barulho do mar era mais forte. E às onze horas ou pouco depois ouvimos gritos no fundo do galpão, eram os ratos que depois aprendemos a conhecer. Ratos e ratazanas fugiam do mar para os morros. Eu fiquei em cima de um tambor e eles não me incomodaram. Durante a noite toda o ruído do mar foi crescendo. Lá pelas duas horas fui ajudar os operários a levantar e proteger as máquinas. Usamos talhas, guinchos, a empilhadeira, tudo que pudesse servir. Capitão Dino parece que já tinha imaginado esta possibilidade, pois tinha solução para cada máquina. "Esta, aqui. A prensa com o guincho, etc." Isso foi até mais de cinco horas. Dino olhava muito para o relógio. "O senhor olha as horas?", perguntei. "Porque espero que teremos uma manhã", me respondeu. Foi aí que senti realmente medo pela primeira vez.
Nem às seis e nem às sete a noite havia findado. Quando algum refugiado na fábrica perguntava as horas, sempre mentíamos e atrasávamos de uma hora ou mais. Nem às oito, nem às nove e nem às dez apareceu a luz. "Como pode isto acontecer?" perguntei ao Capitão. "Radiações e partículas podem formar uma camada em alta altitude que não deixa chegar os raios solares." "Mas o sol não acabou?", me desesperei. "Para muita gente ele acabou." "Quanto tempo pode durar isto, doutor?", chorei. "Não sabemos." O Capitão parecia só ocupar-se com a proteção das máquinas e sentíamos todos que a água do mar estava bem perto. Lá pelas dez horas começou uma chuva tremenda. Num minuto o aguaceiro invadiu o galpão, mas graças ao trabalho feito não atingiu o maquinário. Os refugiados protegeram-se em cima das bobinas, das chapas, de qualquer caixa ou bancada, todos ensopados. Não lembro quanto tempo durou a chuva. Só sei que quando parou, a escuridão deu lugar à sombra.
Vimos então o mar a uns três metros da rua da fábrica. A cidade, a laguna e a estrada federal haviam desaparecido. Era impossível chegar à igreja do morro que se tornou uma ilha. Os refugiados da igreja começaram a gritar mas não dava para entender o que diziam. Os marceneiros da fábrica montaram uma balsa e fomos todos por trás, subindo a encosta, para chegar até o ponto mais próximo ao morro da igreja. Não foi brincadeira carregar a balsa morro acima, mas apesar do cansaço o esforço nos dava ânimo. Acho que todo mundo entendia que se ficássemos parados vinha o desespero... Finalmente chegamos até a água, do bom lado. O mar já havia atacado o morro e despencado bons barrancos. Amarramos a balsa e os homens na água a empurravam. Quando não deu pé, subiram e remaram. A gente acompanhava com o olhar, os refugiados da igreja também. Embarcaram primeiro as crianças, não subiu nenhum adulto de lá. E a balsa foi voltando. As crianças desceram, os homens voltaram a entrar na água. O dia, se assim posso chamar aquela neblina preta, continuava muito frio e sombrio.
Mal a balsa estava voltando, o morro todo despencou. A torre da igreja ruiu com o resto e ainda ouvimos o sino. As crianças salvas ficaram órfãs. A balsa foi jogada para trás e o Mino, que era encarregado da marcenaria, teve uma perna esmagada. Doutor Abraham conseguiu salvá-lo aquele dia, mas o Mino nunca participou das expedições. Vi ele chorando quando partimos da secunda vez, acho que foi pior do que perder a perna.
O Capitão Dino, com a sua família, dormiu algumas horas no escritório. Mas a fome já estava apertando e o prefeito iniciou o racionamento. Foi três bolachas por criança, quatro vezes ao dia. Além disso tinha algum peixe, tinha óleo de soja e bananas. Naquele ano todo só comi carne de rato, outra não havia. Tentamos umas hortas mas a terra não deu nada.
Começou uma sucessão de noites negras e dias escuros. De Barra Velha Deus nos deixou a fábrica de canalizações e lajotas, a Fibrasul do Capitão Dino, o hospital, o tanque da casan, alguns sobrados e o mar. O mar mantinha um ruído surdo, que nunca ninguém ouviu antes do holocausto. Os aguaceiros, a fome, o frio e os ratos eram os maiores inimigos. E também o desespero. Você, meu jovem irmão, não sabe o que é um ano sem ver o sol nem as estrelas. Muitos enlouqueceram, alguns ficaram mudos, mudos até a morte. O secretário do prefeito, que escrevia poemas, se matou. E acho que sem o exemplo do Capitão Dino eu também me tinha desesperado. Porque os aguaceiros e os ratos não nos deixavam descansar nem nas casas e nem nas fábricas. Então trabalhamos com fome e trabalhamos duro. Botamos a fábrica de lajotas a funcionar, sem nenhuma energia elétrica, só com caldeira de lenha e vapor. Já que era quase impossível achar lenha seca acabamos com os móveis das casas e com os estoques de chapas e compensado do Dino. Depois, usamos árvores molhadas calcinadas com álcool ou gasolina e, quando terminou o combustível, calcinadas em fornos na terra até com panos, papéis, livros, tudo. Uma parte do tronco calcinado servia para preparar o seguinte, o resto ia no forno de canalizações. Porque o que nos salvou foram estes tubos de cimento que Barra Velha usava para os esgotos. A água não passava e os ratos não atingiam. Empilhamos os tubos e dormíamos dentro, só com uma abertura, a outra tampada com cimento. Os ratos podiam passar por cima, mas era difícil entrar.
Fabricamos o cimento que graças a Deus a região tem. Catamos peixes mortos, comi grama, sim eu comi grama que engana bem o estômago mas dá diarréia. Lutamos para fazer fogo, acho que só como os homens das cavernas de antigamente. E nós éramos os homens dos tubos. Cem mil gerações para ir da caverna ao tubo de cimento. De vez em quando Capitão Dino falava umas coisas em francês e ficava doído por dentro. Mas o trabalho e a sobrevivência da família dele acho que o ajudaram.
Tentamos entrar em contato com as cidades vizinhas. O mar levou toda Piçarras, que não tinha parte alta, como Barra Velha. São João de Itaporiú foi poupado. Eles nos deram lenha e nós demos tubos. Mais longe, por muito tempo, foi impossível chegar porque ninguém podia se arriscar com os ratos. Só no segundo ano, quando os dias clarearam.
Porque depois de doze meses de sofrimento e morte, chegou a primavera.
Eu falo sempre Capitão Dino, mas ele nunca foi capitão. Nem sei se chegou a servir exército. Mas depois do apocalipse foi sendo o chefe e todo mundo o chamou respeitosamente de Capitão. Nas expedições então, só era Capitão Dino. Acho que dos veteranos ninguém nunca pensou em discutir uma ordem dele ou um conselho porque, na verdade, ele sabia mais do que todos nós juntos. Sou provavelmente, com David Mauger, seu enteado, o único homem vivo não atingido que viu a biblioteca dele em São Paulo: tinha dez mil livros. Até perguntei: "Capitão, o senhor leu todos estes livros?" Ele me respondeu: "Olha Mané, não li todos os que estão aqui, mas em compensação li outros que não estão aqui..." E acrescentou: "Aliás muito antes do apocalipse já tinha decidido não emprestar mais livros..." E não duvido que leu mesmo. Mas não eram só os livros, não. Porque ontem como hoje tem muito doutor formado que não sabe nem ouvir o português. Pergunta e desentende a resposta ou não pergunta e carece da resposta. Mas aí já são outros quinhentos. O Dino sabia ouvir, e não só falar, muito antes do apocalipse. Tinha experiência de indústria e de professor, de ciências e de coisas da gente. Ele era alto, assim mais alto do que eu que sou meio baixo, e mais para magro. Cabelos escuros e óculos de executivo. Não usava barba e nem bigode, mas o que impressionava era o olhar. Principalmente o olhar e a fronte larga.
Nós sentimos a primavera chegar muito de repente. Alguns já estavam quase que conformados e achavam que nunca voltaria o sol. Acho que o Dino tinha muita esperança, nunca perdeu a esperança, mas a gente tinha até medo da esperança e ele também. O trabalho, a fome, a luta, protegem muito. Naquele ano do cão não procurei muito papo sobre se o sol voltaria ou não, se as estrelas e a lua voltariam. E de repente sentimos o ar mais leve, o céu um pouco mais alto, a sombra mais clara. Não dá para explicar a alegria.
A nossa vida mudou completamente. Recomeçamos uma horta e ela frutificou. Muito pouco, é verdade, mas deu algum feijão. Comemos este primeiro feijão, eu, a esposa do Dino, o David, o Capitão, doutor Abraham e mais alguns, em volta de uma fogueirinha, rindo como nunca dantes. Tomamos álcool de feijão misturado com água, foi uma festa! A gente sabia que agora ia só melhorar. E as boas notícias se sucederam. A cada dia o céu clareava mais; até as noites eram menos opacas. Uma noite o seu João, que era o guarda da Fibrasul antigamente, começou a gritar como um louco: "Uma estrela! Uma estrela! Vi uma estrela!" Saímos todos correndo, não dava para ver a tal estrela mas acho que todo mundo acreditou no seu João. E na noite seguinte ela estava mesmo lá. A gente não via uma estrela havia bem uns quinze meses. Ainda tinha gente dormindo em tubos, mas já tínhamos arrumado quatro sobrados, os escritórios da fábrica, as salas do hospital. E os ratos eram menos ousados. Acho que sentiram que era tempo deles voltarem a se esconder, de deixar o lugar ao homem e à luz.
Mas os ratos foram um pesadelo ainda muito tempo. Bicho danado de inteligente. Lutamos muito para proteger as crianças no primeiro ano. E perdemos muita gente. Por sorte não sofremos de epidemia como em Itaporiú, onde pensaram até em deixar a cidade. O Capitão Dino rechaçou vários doentes de Itaporiú e os deixou fora dos nossos tubos, à morte certa. De noite ouvimos alguns berrando até o fim. Os sobreviventes de Itaporiú os enxotaram e nós não os aceitamos porque era a única coisa a fazer. Durante a sombra queimávamos os corpos, ou o que sobrava. O que os ratos mais comiam era a cara.
Cheguei a queimar corpo sem saber se tinha sido de homem ou mulher.
A sombra, o frio, a chuva eterna, tudo foi diminuindo e desaparecendo. No começo sobrava uma neblina cinza e baixa mas os morros foram aparecendo aos poucos. Descobrimos o mar, que era diferente e nunca mais foi o mar de antes. Aí fomos reorganizando a Nova Barra Velha. Instalamos primeiro dois tornos no hospital para aproveitar o gerador. A lenha já não era problema há tempo e conseguimos fabricar mais um gerador. Organizamos matança de ratos, para cada cem rabos de ratos matados você ganhava um saquinho de feijão. Ganhei seis saquinhos. Queimamos uns matagais que eram refúgio de ratazanas e outros bichos. Fabricávamos ou consertávamos tudo: o prego, o martelo para enfincar o prego, a tábua, a serra para cortar a tábua, o parafuso para a serra, etc., uma coisa puxa a outra. Alguns quiseram arriscar entrar no mar para ver se traziam alguma coisa da antiga Barra Velha. Mas o primeiro que foi não voltou e o Capitão proibiu os mergulhos.
As hortas comunitárias davam cada vez melhor. Voltamos a comer salada, alface, tomate e frutas.Voltamos a fabricar vinho, este foi um dia abençoado. Porque o vinho é uma felicidade que Deus deu aos nossos patriarcas, a Noé, a Abraão e a Jacó. O doutor Abraham e o Dino foram também reunindo todos os livros, mapas, guias que não desapareceram e tivemos a primeira biblioteca da Nova Barra Velha. O padre de São João do Itaporiú trocou dezessete livros e duas bíblias por duas barricas de vinho. Chamamos o vinho de Barra Nova e até imprimimos um rótulo. No rótulo não colocamos ano mas sim "Primeira Safra", "Segunda Safra", etc. A segunda safra deu dois mil litros, que armazenamos em tambores da Fibrasul bem lacrados.
Então tratamos de abrir uma picada na direção de Massaranduba. Massaranduba ficava a trinta e seis quilômetros de Itaporiú, era a cidade dos salesianos. No ano do cão nunca tivemos notícias deles, com exceção de um agricultor que um dia chegou em Itaporiú e contou que das dezessete capelas de Massaranduba só sobrou uma, a do Sagrado Coração de Jesus. Com pás, enxadas e até puxando um trator fomos reabrindo a estrada para Massaranduba com grandes esperanças. A gente cantava enquanto abria o caminho. Você entende, esta estrada era a nossa chance de voltar ao mundo.
Mas as esperanças foram deixando lugar à apreensão, pois quanto mais nos aproximávamos, menos encontrávamos sinais de vida. Finalmente chegamos às primeiras casas, eram só ruínas. Ninguém sobreviveu em Massaranduba. Mas como nada acontece à toa, o esforço não foi em vão porque alcançamos a estrada asfaltada para Guaramirim e Jaraguá do Sul ao norte e para Blumenau ao sul. Blumenau, você imagina? Barra Velha não era mais uma ilha.
Quando vimos a estrada fomos avisar o Dino. "Capitão, a estrada parece utilizável! O que fazemos?" "Voltamos para casa", disse o Capitão, "e preparamos as viagens para as cidades..." Acho que foi aí que nasceu a idéia das futuras expedições. Mas ninguém podia imaginar no que daria cinco meses depois.
De Massaranduba a Barra Velha eram seis a sete horas andando. Você saía de manhã de Barra Velha e podia dormir na Capela São Bosco na ex-cidade. Ainda não dava para parar no caminho e era perigoso fazer a viagem sozinho. Mas fomos construindo o caminho já dando passagem para algum veículo, embora não tivéssemos uma gota de gasolina há muito tempo. Se a fé move montanhas, a esperança abre estradas. Isto eu aprendi suando muito, pois nunca fui lavrador, só operário.
Quando voltamos a Barra Velha reinava grande animação. Havia chegado um barco! Era gente de Itajaí que acompanhava a nova costa para encontrar vida humana. Estes marujos de Itajaí foram os primeiros homens de fora que vimos em um ano e meio. Então tivemos notícias. Nos informaram que na costa sul, da ilha de Florianópolis até o morro do Cristo de Itajaí, havia muitos sobreviventes. E que o sul do estado fora bastante poupado, principalmente o interior. Mas no Rio Grande era impossível ir por causa da radioatividade. Os marujos ficaram uma semana conosco e foram até Massaranduba ver a estrada. O Capitão fez um relatório e uma lista do que necessitávamos para levarem a Itajaí. Que mandassem o barco de volta com a mercadoria, poderíamos pagar com vinho, com lenha e outros produtos. Até demos um banquete em homenagem aos nossos irmãos do barco.
Os marujos deixaram e levaram saudades. O chefe deles conversou muito com o Dino. Explicou que Itajaí possuía três embarcações iguais àquela e que tinham salvo um cargueiro. Este cargueiro, se conseguissem reformá-lo e encontrassem combustível, poderia cruzar o Atlântico. O Capitão ficou mais alegre e excitado do que uma criança. "Um cargueiro, Mané! Você percebe? Se Deus quiser ainda iremos à África e à Europa! Lá também deve haver sobreviventes. Imagine a cara deles quando chegarmos... O Brasil vai descobrir a Europa..." O Dino estava meio louco. Falou do cargueiro mais de um mês. Mas também preparou a ida pela estrada.
Os problemas eram muitos. Primeiro, para onde ir? Para o sul, o vale do Itajaí? Ou para o norte, Jaraguá e Guaramirim? Os marujos disseram que no sul havia muitos homens, mas isso era ao sul do rio Itajaí. Tivemos uma grande reunião e cada um deu a sua opinião. No fim prevaleceu o norte, por dois motivos. Porque o Itajaí, já antes do apocalipse, era um rio dado a enchentes, e com o ano de chuvas era difícil imaginar que Blumenau e as cidades vizinhas não inundassem totalmente. Quando eu era garoto, o Itajaí subiu três metros acima das pontes, em Blumenau. A outra razão é que Guaramirim e Jaraguá eram mais perto e foram cidades muito industriais. Têxtil, indústria química, motores faziam colossos lá. Além do mais, ninguém falou mas todos pensavam em Joinville. De Guaramirim, numa segunda etapa, talvez chegássemos a Joinville, já que pela costa não havia mais caminho. Muitos tinham parentes em Joinville.
"Vamos construir carroças", disse o Dino. "Quero vinte carroças. De Massaranduba a Guaramirim a distância não é muito maior que Barra Velha Massaranduba. Vamos puxar carretas oitenta quilômetros na ida e se Deus quiser mais oitenta na volta!" Fizemos primeiro eixos de madeira e metal. Eu queria desmontar um jipe para aproveitar o eixo e as rodas mas o Capitão não deixou. No fundo ele era um otimista. Itaporiú fez cinco carros e nós fizemos quinze. Eram três de alimentos, três de água, seis outros levavam cobertores, armas, ferramentas, e oito iam de leve. Desta viagem guardo boa lembrança. Quer saber de uma coisa? Acho que o homem nasceu para trabalhar e para viajar. Só assim pode se sentir livre.
Antes a estrada não fosse asfaltada! Tinha mais buracos do que renda do norte. Quebramos todas as rodas de todas as carroças. Mas não foi o pior: houve as árvores caídas e os trechos da estrada que o mato comeu. Um tronco enorme levou nove horas para ser retirado, neste dia as carroças avançaram menos de vinte metros. E quase perdemos a estrada que a floresta havia apagado. Fomos reencontrá-la mais de meio quilômetro adiante. Isto atrasou bastante mas não impediu a viagem. Uma noite, acampados na estrada fomos rodeados por cães selvagens. Eles hesitaram mas não atacaram. Nós também não atiramos e os homens e os lobos se separaram de madrugada.
E você sabe o que nos aguardava em Guaramirim? Gasolina! Gasolina, álcool e diesel! Encontramos tanques de reserva de uma estação da Petrobrás. Tinha lá mais combustível do que poderíamos gastar em cinqüenta anos. Enchemos todos os tambores da Fibrasul trazidos e ainda fomos à cata de tambores pelas fábricas da cidade. Aliás, não te falei, mas a cidade estava sem vivalma. E a razão era óbvia: era impossível ir até Jaraguá, ainda havia radioatividade. A indústria de Jaraguá atraiu um foguete e toda a parte oeste de Guaramirim estava incendiada. Mas o combustível da Petrobrás foi a sorte de Barra Velha, permitiu três expedições e causou a morte de mais de quatrocentas pessoas.
Depois que retornamos, voltou o barco de Itajaí e as coisas se precipitaram. Barra Velha tinha a melhor moeda de troca possível: diesel, álcool, gasolina e tudo à vontade, era só ir buscar. De todas as regiões poupadas vieram encomendas. Dino Fontana propôs um encontro dos chefes de comunidades. Você, meu filho, que nasceu bem depois do apocalipse, pode entender o que isto representava? As ilhas de sobreviventes pela primeira vez se reuniam. E isto foi em Barra Velha. Chegaram os representantes de ltajaí, Brusque, Florianópolis e vinte e cinco cidades menores. Todos vieram de barco pois outras comunicações até nós não havia. A reunião foi no galpão maior da Fibrasul, que pintamos com cal e deixamos como novo. Foi um encontro bonito.
O homem é mesmo capaz do pior e do melhor. Antes do apocalipse eu participei de umas reuniões do sindicato, em Joinville. Não era muito de fazer política, mas é o sindicato que dava a assistência médica, conseguia às vezes água da casan e coisas assim. Pois bem, toda reunião dava polêmica. Era o pessoal da chapa da oposição contra o pessoal do presidente, nunca vi um encontro sossegado. Em Barra Velha foi outra coisa. Primeiro todos os representantes estavam em pé de igualdade e o povo que assistiu à assembleia também. Não houve necessidade de presidente de sessão, nem se negou a palavra a quem quer que fosse. Todos ouviam com atenção e nenhum representante tentou tirar vantagem dos outros, ou convencer a todos a todo custo. Sabe, com o que cada um viveu, entendemos que ninguém é dono da verdade. O mundo que nos rodeia, meu irmão, ainda está muito acima das nossas cabeças e o homem, com foguetes e tudo, não entende um milésimo de um por cento. O homem foi à Lua, matou uns cinco bilhões de irmãos, estragou a Terra e ainda não tem nem nome para milhares de espécies de insetos desta mata. Acho que quando começamos a fabricar máquinas, a voar, cruzar o oceano em algumas horas, passamos a pensar que sabíamos de tudo. Foi muita cegueira mesmo...
Primeiro a reunião verificou a data certa. Porque durante o ano do cão a grande maioria deixou de contar os dias, ou melhor, as horas, e quando voltou a luz muitos não sabiam nem em que mês estávamos. O Dino foi o único que sempre contou em Barra Velha e eu confio nos cálculos dele. Depois Dino fez uma proposta à assembleia. Falou assim, e estas palavras não esquecerei porque decidiram a minha vida, a dele e a de mais muitas centenas de homens. "Meus irmãos, Deus quis que voltasse a luz e ela voltou para nós. A morte está recuando, o homem ainda tem vez na Terra. Devemos unir os nossos esforços e tentar encontrar sobreviventes nos outros estados." Aí ele tirou um mapa do sul do Brasil e mostrou aos ouvintes. "Nós temos combustível e estrada até Guaramirim. Ao norte de Guaramirim a antiga estrada federal passava longe da costa, a dois quilômetros a oeste de Joinville, subindo a serra Negra e descendo em Curitiba. É bem provável que este caminho, com algum esforço, seja praticável, contanto que não haja radiações. A única probabilidade forte de radioatividade é Joinville, pois do trevo de Jaraguá até Curitiba não há outro alvo, nem cidade importante. Se não houver radiações em Joinville ou se soubermos contorná-las, devemos chegar até São José dos Pinhais, que é praticamente subúrbio de Curitiba.
"Se não estou errado poderemos ir e voltar daqui a São José dos Pinhais com caminhões e carroças. São José dos Pinhais foi dos maiores parques industriais do Paraná, sem falar de Curitiba. Devemos encontrar lá remédios, máquinas, hospitais e tudo o que for possível salvar. É infelizmente muito pouco provável que haja sobreviventes na capital, mas não sabemos. A costa fica longe e os navios não podem se arriscar devido à destruição do porto de Paranaguá. Mas isso não é tudo.
"Da zona de Curitiba há um caminho possível para São Paulo." Quando o Capitão falou em São Paulo você devia ver a cara da assistência! Muitos devem tê-lo achado doido varrido mas todos ficaram em silêncio. "Proponho reunir cem caminhões, de preferência baús fechados. Os veículos chegariam de navio até Barra Velha, o que pode ser feito em dois meses. O objetivo desta viagem é Curitiba, e, se houver condições, Ponta Grossa, Itapeva, Tatuí, Sorocaba e São Paulo pela Castelo Branco ou pela Raposo Tavares."
Mas os representantes das outras comunidades tinham objeções e a proposta do Dino por pouco não foi rejeitada. Só que ele havia estudado o assunto e tinha resposta para os argumentos. "E os ratos?", perguntou alguém. "Ratos não atacam baús", disse o Dino, no que estava enganado. "Se me desculpa a franqueza, este projeto é loucura", falou o representante de Florianópolis. "Também disseram isso de Marco Polo, Colombo, Charcot, Amundsen e tantos outros..." Alguém perguntou e Dino explicou que Charcot e Amundsen foram gringos que viajaram aos polos quando isto era considerado impossível ou muito arriscado. Acho que Colombo e Marco Polo você sabe, né? Aos poucos ele foi convencendo a assembléia. Acabaram concordando mas só com quarenta caminhões, sendo que a metade voltaria de Curitiba mesmo se houvesse condições para prosseguir adiante.
A assembleia também decidiu tentar abrir uma picada de Barra Velha a Itajaí, e nos trechos que faltavam de Itajaí aos morros de Florianópolis. As picadas deveriam ser a boa altura acima do mar, porque alguns diziam que o mar de novo avançaria, as trevas iam voltar, etc. Sabe, surgiu uma irmandade bem mística, no ano do cão, que se chamava Luz nas Trevas. Eles eram meio fanáticos e não se conformavam com a volta da luz. Eu sempre respeitei mas nunca tive muita simpatia pelos seguidores da Luz nas Trevas. Acreditavam muito numa virgem preta, diziam que o homem perdeu o sol e as estrelas para encontrar a sua luz interna. Enfim, coisas meio desesperantes.
Os representantes das cidades voltaram em dois barcos e Barra Velha agora sempre recebia visitas. Chegaram até imigrantes que deixaram outros locais, atraídos talvez pelo combustível. A Fibrasul voltou a funcionar algumas horas por dia, fabricávamos tambores para a gasolina. Era um tambor meio esquisito pois sempre faltava alguma matéria-prima, mas a gente foi improvisando. Nos tambores ia impresso: "Fabricado pela comunidade de Barra Nova."
Um dia, meu irmão, vi uma mulher morena carregando um tambor de duzentos litros. Ela era nova, imigrante na cidade e só falava Barra Nova, não como nós acostumados com Barra Velha que sempre se chamou Barra Velha. Me deu vontade de brincar com a Maria — pois fiquei sabendo que era Maria — e depois desta brincadeira ficamos casados quarenta anos. Porque graças a Deus Maria ainda é viva e é minha mulher. Falei qualquer coisa que o tambor era maior do que ela mas ela era mais bonita. Ela riu e vi que era mesmo bonita, fiquei feliz. Desde o apocalipse acho que não via uma mulher assim sorrindo, morena de dentes perfeitos e brancos, cabelo lindo e liso. Também não lhe faltava seio nos seios, nem coxa nas coxas e nem, Deus me perdoe, bunda onde precisa. Pois é, a Maria gostou do Mané e passamos a conversar bastante. Acho que sem ela eu não voltaria da expedição.
O pai de Maria era loiro mas ela saiu morena. Sempre viveu na roça e foi isso que a salvou. Ela trabalhava numa fazenda perto de Novo Trentano e estava sozinha no campo no dia do apocalipse. Ao invés de tentar voltar à cidade ela seguiu campo adentro, Deus sabe por quê. Encontrou alguns outros perdidos e dormiram em árvores. Tentaram ir em direção de Brusque mas estavam todos desorientados e os ratos já rondavam. Então sobreviveram numa caverna onde não penetrava a água. Disputaram a caverna aos morcegos e saíram ganhando. Maria nunca foi de se dar por vencida. Quando voltou a luz eles se arriscaram e chegaram até a nova costa. Até que um dia ela tomou um gole do nosso vinho e decidiu ir sozinha para este lugar Barra Nova. Pegou o barco e desceu aqui. É coragem que muito homem não tem.
Os primeiros preparativos da viagem foram desanimadores. Um barco de Florianópolis afundou e a tripulação morreu. Parece que uma carreta foi mal fixada e arrombou a caldeira do navio a um quilômetro do porto. Também não conseguiram só baús, como queria o Dino, mas sete carretas, cinco truques, uns vinte baús fechados e mais jipes e tratores. Trinta e quatro veículos ficaram para a expedição, acho que não queriam arriscar os outros. Também exigiam que dez dos vinte baús voltassem de Curitiba e deixaram até barco aguardando. Além disso a picada avançava muito pouco, era muito morro, penhasco, animais e mosquitos. Abandonamos a picada provisoriamente, até a volta da expedição. Os que desmaiavam pegaram uma febre brava que só foi curada com ervas que achou o doutor Abraham. Mas apesar de tudo chegou o dia da partida.
Preciso te explicar como éramos organizados. Os tratores iam na frente para afastar troncos ou objetos que barrassem a passagem. Ao lado do condutor ficavam dois homens armados e a cabine era totalmente fechada e protegida. Depois vinha um jipe com o Dino e três homens. Eles tinham um walkie-talkie e uma faixa do cidadão ligados com o primeiro e o último baú, três caminhões da fila e os tratores. No décimo e vigésimo veículo estava o estoque de combustível, no quinto, décimo quinto e vigésimo quinto a água e parte dos alimentos. Ninguém podia ficar em cima dos truques ou carretas, só nas cabines ou dentro dos baús. As carrocerias tinham comunicação interna com as cabines. Também inventamos sinais que um caminhão da fila podia passar ao outro. Uma lanterna vermelha significava: perigo-pare. Duas lanternas vermelhas: perigo-acelere. Uma bandeira amarela: reabastecimento, e assim por diante. Levamos dois baús só de peças de reserva, baterias, rodas, eixos, tudo, dava quase para montar uns carros inteiros. Levamos solda, esmeril, serras metálicas e guinchos e havia um baú-oficina. Cada caminhão da fila tinha a sua reserva individual de água, alimentos, combustível e munições, além de mapas rodoviários de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Cada caminhão levava pás, ferramentas, pneus sobressalentes, lanternas, barraca, foguetes de sinalização e remédios. Também trouxemos pombos-correio que de São José dos Pinhais ou numa situação de emergência levassem mensagem de socorro.
Em Barra Velha ainda deixamos jipes, tratores e dois caminhões de auxílio com ordem de partir se não voltassem os dez baús em dois meses. E não era só isso. Na altura de Joinville já devíamos mandar duas equipagens de volta com relatório e tudo. O Capitão Dino tinha ordens de voltar se um quarto dos veículos ficasse seriamente danificado. Além disso o maior dos baús foi transformado em ambulância ou hospital e podia tratar quinze ou mais pessoas em beliches. Éramos cento e oitenta e três, cada veículo tinha o seu chefe para ser obedecido. Fui escolhido para chefiar a primeira carreta, veículo número 9.
Na hora da partida aconteceu algo de mau augúrio, o primeiro trator não queria avançar. Foi consertado mas atrasou o comboio por duas horas. Finalmente, sob uma faixa de "Boa sorte à expedição Curitiba-São Paulo", a fila pegou a estrada de Massaranduba. A meio caminho passamos a primeira noite e na manhã seguinte alcançamos a estrada. Ela continuava tão ruim quanto da primeira vez, mas o comboio foi avançando, numa velocidade de quinze quilômetros por dia.
Foram três dias para passar de Guaramirim. Lá começava o desconhecido. Você, Teodoro, quer escrever um livro sobre a nossa história, mas acho que não é nada fácil transmitir o nosso estado de ânimo. Sabe, a cada curva da estrada tínhamos uma esperança, e a esperança nunca desaparecia. Acho que todos, no fundo, queriam algo impossível, como encontrar uma cidade vivendo normalmente, com luzes e cinema como antes do apocalipse. Ou então encontrar gente que nos dissesse: foi tudo um pesadelo; o resto do Brasil e do mundo continua vivo, o desastre foi só de Santa Catarina. Alguma coisa assim. Diga no teu livro que em cada viagem, na ida como na volta e em cada trecho do caminho, todos levavam, no fundo do peito, a esperança de encontrar vida humana.
O Capitão Dino tinha um filho, aliás filho do primeiro casamento da esposa, um rapaz chamado David. Completou dezesseis anos no dia da partida do comboio e o Capitão o levou junto. Dino confiou o jovem à minha carreta dizendo: "Mané, trate-o como um de seus homens, nem mais nem menos. Mas proteja o menino, que senão a minha mulher me mata..." Conversando com David durante a viagem aprendi muita coisa da vida do Capitão, e a vida dele não foi comum. Conheceu a esposa em Israel, ela era nascida lá. Viveram juntos em Paris, em Viena e no Senegal da África. David nasceu em Israel, a irmã na França, um filho do Dino na África e a última em São Paulo porque o Capitão e a esposa, com trinta anos, escolheram o Brasil. Acho que desacreditaram de lá fora. Dino montou a fábrica de São Paulo e a filial de Barra Velha; parece que já conhecia o ramo, mas no exterior foi professor. Deu aulas em universidades e sei até a lista: Turim, Paris, Jerusalém e Dakar. Não é para qualquer um, eu nunca passei da segunda série mas admiro muito quem é estudado.
Pois bem, no quarto dia saímos de Guaramirim, que era um cenário bem triste, só, desolado. Antes disto o Dino e um cientista de Florianópolis tentaram avaliar a importância da radioatividade em Jaraguá do Sul. Eles tinham um contador Geiger, que é um aparelho que faz barulho de metralhadora tac-tac-tac-tac-tac quando tem radiação. Subiram num prédio de Guaramirim com binóculos e aparelhos. O cientista escrevia tudo. Olhava no binóculo um segundo, nos instrumentos e escrevia. Data, temperatura, tempo, força dos ventos, ele anotava a cada hora. Na segunda viagem os cientistas foram quatro e sete na última, mas infelizmente morreram todos.
De Guaramirim até o trevo da federal a coisa foi bem. Quando não tinha estrada os tratores abriam caminho. Eu puxava a minha carreta de quinze metros e conversava com David. De noite a gente dormia na cabine, ou então no baú-hospital que vinha pouco atrás. Mas o incrível é que passamos o trevo sem perceber, de tanto que o mato havia comido o local. Eu conhecia bem aquele trevo porque trabalhei numa fábrica de Joinville dez meses. Me mandaram embora para pegar outro com salário mais baixo: era a política da direção. Então demos meia-volta e o Dino me pediu para subir com ele no jipe e ver se eu reconhecia o trevo. A meia-volta não foi brincadeira, os tratores precisaram abrir um descampado para trinta e quatro veículos de mais de dez metros cada um. Não adiantava você manobrar e dar meia-volta porque a pista não dava passagem a dois de vez. Enquanto os tratores e os homens derrubavam a mata, a gente procurava o trevo. Eta trevo duro de se achar! Passamos no local mais de cinco vezes. De vez em quando eu pensava ter encontrado e não era. O Capitão já estava ficando nervoso... O que nos salvou foi uma placa enferrujada de propaganda, era de uma fábrica de malhas e lembrei da publicidade pois já tinha pedido carona bem debaixo, "Malhas Marisol de Joinville — Km 212." Eu teria beijado a bendita placa. Depois que o comboio deu a meia-volta o pessoal foi limpando o trevo. Por sorte a estrada além do trevo estava mais conservada, porque daquele jeito levava um ano até Curitiba.
Então andamos para o norte. No jipe do Dino fixaram um contador Geiger, e outro no primeiro trator. O cientista de binóculos a cada morro olhava o horizonte, o perigo eram as radiações de Joinville. E no segundo dia o caminhão à minha frente pôs o sinal vermelho: perigo-pare. O cientista louco, que este é o apelido que demos a ele, detectou radioatividade e era impossível continuar. Então o Capitão decidiu que deveríamos abrir a nossa estrada, bem a oeste da federal, para contornar a região de Joinville. Limpamos quarenta quilômetros de pista, embora aproveitando um antigo caminho de fazenda. Isto levou vinte e um dias mas no fim deixamos Joinville para trás.
Quando alcançamos a federal, na altura de Pirabeiraba, Dino mandou os dois veículos de volta. O cientista louco entregou um relatório do tamanho de um livro e os carros voltaram. "Agora o problema vai ser a serra", me avisou David Mauger. Mas bem antes topamos com outra dificuldade, o rio Bonito estava sem ponte.
O rio nos atrasou mais dez dias. Foi cortar árvores, fazer caibros e construir a ponte. "Esta ponte tem que agüentar cem comboios iguais ao nosso", queria o Dino. Modéstia a parte, fizemos uma bela ponte que serviu às outras expedições. Dez anos depois eu ainda soube que ela continuava de pé. Gravamos nela: "Ponte Rio Bonito — Construída pela Expedição São Paulo." O Capitão estava muito mais interessado em São Paulo do que em Curitiba.
Querido Irmão da Comunidade de Nova Florianópolis,
Te envio esta carta de Barra Nova onde cheguei há mais de um mês. Estou aqui reunindo excelente material sobre os pioneiros que abriram o caminho para Curitiba e São Paulo dois anos após o apocalipse. Tive a sorte de encontrar um sobrevivente das três expedições: Mané Maestro, que conheceu, conforme conta, o Capitão Dino, sua mulher e seus filhos. O irmão Mané continua muito lúcido e com grande memória. Acredito que a compilação vai merecer publicação e talvez possa até servir aos nossos Centros de Educação.
Além das conversas com Maestro e outros antigos habitantes de Barra Nova, tive acesso aos relatórios técnicos da primeira e segunda expedição. São documentos empoeirados que aparentemente não eram consultados há muitos anos. Os relatórios confirmam os dizeres de Mané quanto ao percurso das duas viagens, mas contêm quase que exclusivamente dados de temperatura, ventos, estimativas das zonas com radioatividade, listas de material recuperado, etc. Copiei as partes mais interessantes, que mandarei para Florianópolis junto com as gravações.
Quero pedir-te um imenso favor, meu querido irmão. Descobri que o filho maior do Capitão Dino, chamado David Mauger (Dino Fontana era na verdade o seu padrasto), sobreviveu às expedições e estaria vivendo em algum lugar do nordeste do Brasil. Gostaria que tu confirmasses esta informação e, se conseguir descobrir o seu paradeiro, ficarei muitíssimo grato. David Mauger deve ter hoje cinqüenta e seis anos, é de estatura alta e tinha cabelos ruivos. São os poucos dados que posso te dar.
A vida em Barra Nova é agradável e tranqüila. De manhã trabalho com Maestro, de tarde escrevo, capino e passeio. Procuro imaginar a vida dos nossos pais e avós que atravessaram o holocausto e o ano negro. Foram mesmo gente de coragem e tenacidade, não sei se eu teria agüentado o que sofreram. Provei, meu irmão, o famoso vinho de Barra Nova, o primeiro que a terra voltou a produzir. Mané me ofereceu uma garrafa quinta safra e desde então toda noite adormeço feliz graças ao Barra Nova... O vinho daqui merece a reputação e, tão logo possa, te envio uma barrica.
Sei que posso contar contigo para procurar pelo destino de David Mauger. Muitas saudades e um abraço fraterno do teu velho amigo Teodoro.
Depois de passar o rio Bonito encontramos os primeiros atingidos. Foi aterrador. Eram sobreviventes de Garuva, todos alcançados pelas radiações. Garuva fica ao pé da serra que separa Santa Catarina do Paraná. Chamam de Serra Negra e ela merece o nome.
Eu já havia visto leprosos e os atingidos de Garuva não ficavam atrás. Haviam perdido cabelos, cílios e todos os pelos do corpo. Foi o condutor do primeiro trator que os avistou e parou o comboio. Eles mendigaram comida e alguns se arrastavam porque as pernas não os sustentavam mais. Demos água, alimentos e algumas roupas e não dava para fazer muito mais. Dino conversou bastante com um deles mas eles não se arriscavam na serra, nem tinham muita informação a dar. Quando o comboio voltou a partir, o nosso estado de ânimo estava bem abalado. Guiamos em silêncio e subimos a serra com raiva no coração.
A estrada da serra era praticável mas no fim da tarde caiu neblina e era neblina para ninguém botar defeito. O comboio parou no mesmo lugar, uma ladeira forte, e fui procurar umas pedras a fim de calçar as rodas. Na hora de pegar uma pedra, a pedra correu... Era um tatu ou outro bicho que tomei por pedra. Se você se afastasse dois passos já não via o comboio, por isso o Dino deu ordem de ninguém descer dos baús. No dia seguinte a neblina estava no mesmo lugar e no outro dia também, não queria ir embora. Então resolvemos avançar do mesmo jeito.
Cada veículo ficava com luzes e pisca-pisca ligados e a ordem era buzinar três vezes se perdesse de vista o veículo da frente. Os tratores ligaram um holofote especial e o comboio se deslocou.
Subi a serra toda de primeira, umas cinco horas sem engatar a segunda. Às vezes eu não via nem a lateral direita do capô da carreta. Mas nunca perdi o pisca-pisca do baú à minha frente e quando passamos a descer, a neblina diminuiu. Quando chegamos ao topo da serra todos os veículos buzinaram com alegria, foi a nossa maneira de festejar. Mas logo na descida um truque perdeu o breque, descontrolou e bateu no caminhão da frente. Por sorte o acidente ficou nisso, sem feridos, só escoriações. O susto foi grande. Abandonamos o truque à beira do caminho.
Este caminhão foi o primeiro. Você vê, amigo, hoje Barra Nova é o centro, quase a capital das comunidades do sul. Daqui saiu a reconquista. Mas vinte e um meses após o apocalipse nós só víamos a Nova Barra como a antiga Barra Velha muito diminuída pelo mar. Uma cidade pequena que perdeu oitenta por cento da sua área e da sua gente. Passou-se uma geração, a minha, e já é difícil imaginar as nossas reações. Éramos provincianos pobres que descobrem que a capital acabou.
Não posso deixar de pensar no destino e foi Dino que me ensinou isso, até à revelia. Sabe, ele conhecia muito a história do homem, da Antigüidade, da Europa, de vários países. Um dia, durante a noite de um ano, ele falou: "Antes da guerra os ratos viviam nos esgotos, os homens em casas, e hoje inverteu. Acho que o diabo ganhou uma disputa com Deus..." Eu não perguntava tudo que queria porque quando Dino falava da história ele sofria. Ele via a aventura do homem, a coragem, o trabalho, a arte, como que sacrificados. "Uma história de milhões de anos com final infeliz", era o que dizia. A esposa dele às vezes conseguia fazê-lo pensar em outra coisa, mas nem sempre. Acho que é esta mágoa que o puxava cada vez mais longe nas expedições. "Um dia, Mané, eu quero visitar o Louvres destruído..." e me explicou que o Louvres tinha sido o maior museu da França. "E quero ver as cinzas de Florença..." Isto devia doer muito, você entende?
Para ele não foram cinco bilhões de homens mortos, foram esses e todos os que antecederam. Ele também falou: "Acabou o sonho de Adão..."
Chegamos à planície do Paraná. O ar estava esquisito, mais leve e luminoso, as paisagens eram bonitas. Alguns se assustaram com a luz mas os contadores não davam sinal de radiação. "Um fenômeno de reverberação", disse o cientista. Nenhum sinal de vida humana, nem mesmo de atingidos. Eu até preferia não achar ninguém a encontrá-los de novo. Me dói ver o sofrimento. Uma tarde vimos um mato queimando a uns quatro ou cinco quilômetros da estrada. Buzinamos, fizemos sinais, mas ninguém respondeu. Dino e mais cinco homens foram a pé até o local e os acompanhamos pelos binóculos. Era um matagal que chegava aos quadris e os jipes não passavam. O grupo voltou sem ter encontrado sinal de gente. Nem o cientista soube explicar como surgiu esta queimada, pois não era tempo para raios. Na volta a Barra Velha o Dino mandou parar o comboio e retomou ao local mas não achou nada novamente. Ficou sendo o incêndio misterioso.
Quebramos mais um caminhão, o segundo da jornada. O baú 16 se arrebentou numa valeta. Passamos o material para os outros veículos e seguimos adiante. Na terceira tarde o comboio parou mais cedo, estávamos a cinco quilômetros de São José dos Pinhais. "Se não houver radiações", disse o Capitão, "amanhã entraremos na primeira grande cidade..."
E entramos. São José dos Pinhais estava deserta porém menos destruída do que Guaramirim. A maioria dos postes continuava de pé e você podia ler as placas: "Cuidado Pedestres", "Sinal a 100 metros", "Escola", dava aflição. As plantas resistiram melhor que os homens e a grama cobria boa parte do asfalto. Havia lojas com portas abertas, como se a cidade tivesse sido abandonada às pressas. Passamos em frente a um cinema que programava As Taras do Sexo Sujo. O comboio passava em silêncio e ninguém tinha coragem nem de falar.
Paramos em frente à catedral, na praça central. Dino deixou os motoristas no volante, os homens armados e todos de sobreaviso, parecia mesmo que ele temia alguma coisa. Mandou dois jipes bem armados numa determinada direção e todos esperamos. O Capitão foi rezar na catedral e esta era a primeira vez que eu o via entrar numa igreja. Ele voltou com os olhos vermelhos de quem chorou, mas não falou nada. Esperamos bem uma hora e os jipes voltaram. Quando chegaram Dino estava frente à minha carreta e ouvi o diálogo.
O maquinário está lá, Capitão...
Em condições de ser retirado?
Parece que sim. Mas vimos uma coisa esquisita.
O que foi?
Vimos... ratos atingidos... Acho que são ratos que sofreram as radiações. Eles não têm pelo, têm rabo curto e olhos como que injetados, vermelhos.
Eles atacaram?
Não, fugiram. Mas sentimos a presença de muitos deles.
Só ficarei tranqüilo quando deixarmos a cidade...
David estava comigo e também ouviu o relatório. Se ficou com medo não demonstrou. Então Dino deu as ordens, já havia tudo preparado. Metade do comboio ficou em frente à catedral e a outra metade se dividiu. Um grupo foi buscar o tal maquinário e o outro, com a minha carreta, foi à Santa Casa de São José dos Pinhais. De lá levamos três consultórios completos de dentista, incluindo os armários, a cadeira, tudo. Só deixamos um buraco no chão. Levamos uma sala de operação cirúrgica, maças, remédios aos montes, aparelhos de oftalmologia e até o gerador do hospital. Parecíamos vândalos ou piratas. O chefe do grupo, o Gelo, nos apressava: "Rápido, levem tudo, faremos a triagem em Barra Nova..." Parte do gerador e do material de dentista foi na minha carreta; ninguém falava, só corria e carregava.
Chegamos de volta à catedral antes do outro grupo que o Dino comandava. Esperamos e foi aí que vi os ratos atingidos. No parque central da praça eram vários e como o companheiro os tinha descrito, sem pelo, rabo muito curto e olhos vermelhos. Eles nos olhavam muito intrigados.
Finalmente chegaram os caminhões do Dino e partimos rapidamente. Já estava escurecendo e os ratos me deixavam nervoso. Estavam ficando mais assanhados. Saímos de São José dos Pinhais e pernoitamos numa encruzilhada cheia de placas indicando as direções: "Joinville", "Aeroporto", "Curitiba", "São Paulo — Retorno", etc. Ficava em frente a uma fábrica moderna chamada Nutrimental. Dino deixou guarda dobrada.
De manhã um grupo visitou a tal fábrica Nutrimental mas só conseguiu recuperar uma empilhadeira. O galpão principal estava tomado pelos ratos porque tinha sido fábrica de rações e alimentos. Ao meio-dia seguimos na direção de Curitiba mas uma hora depois precisamos dar meia-volta: radioatividade! Voltamos à encruzilhada das placas e da Nutrimental para passar mais uma noite. Dino começou a consultar os mapas da região e da cidade e me chamou junto com David.
Mané, parece que é impossível entrar em Curitiba pelo sul.
Então vamos pelo norte, Capitão.
Infelizmente não dá para gastar muito tempo procurando acesso a Curitiba, Devemos seguir adiante.
O senhor quer mesmo São Paulo...
É... São Paulo... A maior cidade da América do Sul, com hoje talvez menos habitantes do que Barra Velha. Mas vale a pena tentar.
Vamos contornar Curitiba?
Vamos para Ponta Grossa.
No dia seguinte voltamos a atravessar São José dos Pinhais, sem parar, procurando um caminho que só o Dino conhecia.
Onde paramos ontem? Ah, sim, procurando contornar Curitiba para seguir em direção a São Paulo. Bem, não foi nada fácil. Era preciso chegar a Campo Largo na estrada de Ponta Grossa mas não havia caminho praticável de São José dos Pinhais. Os jipes procuravam e retornavam sem resultado. Acampamos ao sul de São José e Dino mandou metade dos baús para Santa Catarina. Todo o misterioso maquinário teve prioridade para a volta e foram um trator e dois jipes para acompanhar os baús. O nosso comboio ficou reduzido a menos de vinte veículos. Nos despedimos com lágrimas nos olhos e muita buzinada. O Gelo comandou a frota de volta.
Para conseguir alcançar Campo Largo demos uma volta imensa. Retornamos em direção à serra. Rodamos para oeste até Mandirituba. De lá o norte não deu passagem e voltamos para o sul. Quitandinha, Lapa, Porto Amazonas, cidades abandonadas e, vez ou outra, cruzamos com um grupo de atingidos. Finalmente, duas semanas depois da partida dos baús, encontramos a estrada de Ponta Grossa, mas era a BR 277 quinze quilômetros além de Campo Largo. Neste ritmo nunca chegaríamos a São Paulo.
A BR 277 estava em condições de uso e Dino mandou apressar a marcha. Ignoramos Campo Largo e a sua zona industrial. Mas não atingimos nem Ponta Grossa: os alimentos e o combustível não dariam para a volta. O Capitão então chamou todos os chefes de veículos; ele estava abatido e parecia lamentar o que anunciava: "Meus amigos, é perigoso seguir adiante pois pode comprometer a volta. Mas vamos até Vila Velha, as furnas do Diabo e a lagoa Dourada estão vinte quilômetros à frente." Foi assim que passamos uma noite no cume dos arenitos velhos de quatrocentos milhões de anos.
Quem não conhece Vila Velha não sabe do que é capaz a natureza. Os picos de arenitos lembram figuras animais ou humanas. Tem o camelo, o rinoceronte, o gavião, o leão. Tem proa de navio, índio, noiva, tartaruga, grutas, baleia e esfinge. Os índios e os primeiros bandeirantes que lá chegaram consideravam o lugar sagrado. Contavam que foi o local de antiga batalha de gigantes que Deus petrificou para sempre. Do alto dos arenitos o panorama é grandioso e deserto. As colinas deslocam a terra até o horizonte como ondas calmas. Só há silêncio, calor e pedra.
Fizemos uma fogueira e deitamos sob as estrelas. Os caminhões embaixo na estrada eram vigiados e isto soava ridículo pois Vila Velha parecia não ter recebido visitas desde que a terra foi criada. Vai lhe parecer loucura, mas cheguei a pensar que ao acordar os caminhões seriam de pedra. Sonhei com dois anjos descendo do céu e pousando nos arenitos. Um deles me falou: "Agora os homens vão ressuscitar mas viverão ao contrário, da velhice para a infância. Nascerão velhos e irão rejuvenescendo até serem bebês. Porque Deus gosta das crianças pequenas e sofre com os adultos." Eu não sabia, mas quando retornamos a Barra Nova Maria estava grávida de mim.
Se Deus criou os arenitos, o diabo fez as furnas. Buracos de cinqüenta metros e mais que caem em água escura. Esta água não tem fim, vai debaixo da terra até o rio Amazonas, dizem alguns. O nível da água havia subido e a estação do teleférico vertical estava recoberta. Nunca gostei das furnas e nem da lagoa Dourada que, para mim, é beleza enganadora. A beleza que pode ter o mal, assim como certas mulheres perdidas, pintadas e arrumadas, são belas.
De manhã iniciamos a viagem de volta. Dino deixou uma inscrição gravada numa pedra no alto dos arenitos. "Aqui esteve a primeira expedição de Santa Catarina nove meses e dezessete dias depois da noite de um ano." Ele ainda escreveu o texto em inglês e em hebraico, pois conhecia a língua do povo de Israel. Na volta a comida foi racionada e não demos nada a um grupinho de atingidos nas cercanias de Quitandinha. Eles choraram e nos amaldiçoaram. Em Vila Velha estávamos a mais de duzentos e cinqüenta quilômetros de Barra Velha em linha reta e só sobravam alimentos para onze dias.
Conhecendo o caminho, a volta foi bem mais fácil. Na serra do rio negro a neblina nos esperava de novo. Em Garuva abandonamos mais um caminhão que vinha sendo rebocado. E em Guaramirim recuperamos gasolina para levar a Barra Nova. Finalmente paramos na Capela São Bosco de Massaranduba onde fomos festejados pela pequena colônia permanente que agora lá vivia. Muita gente fez a viagem de Barra Nova para nos ver um dia mais cedo. Maria foi a primeira.
Mas a recepção mais calorosa se deu em Barra Nova. Fomos carregados em triunfo pela população. Abriram dezenas de barricas de vinho e comemos caça e pescado. Soltaram fogos, rojões, tiros para o ar, sirenes e buzinadas. À noite houve um grande baile e todas queriam dançar com os membros da expedição. Aqueles que só foram até São José ficaram até com um pouco de inveja. A comunidade nos ofereceu um bolo de um metro e meio de altura, presentes e muitas flores. Foi uma alegria.
A esposa do Capitão beijou o marido e o filho, pegou um em cada braço e disse bem alto, para ser ouvida: "Vocês dois estão proibidos de aventura pelos próximos dois meses!"
Para todos a expedição foi um sucesso, menos para o Capitão. Repartimos o material recuperado com muito orgulho e alegria. Dos equipamentos dentários, um foi para Florianópolis, outro para Brusque e o último ficou em Barra Nova. O doutor Abraham e a sua equipe fizeram a triagem dos remédios. Quando voltamos, o maquinário de São José dos Pinhais já não estava na cidade e não perguntei do paradeiro. Só mais tarde é que fui saber do que se tratava realmente. A empilhadeira também ficou conosco, o gerador embarcou para Itajaí. Leonardo, o cientista louco, retornou no navio com as suas pilhas de anotações. Mas Dino conseguiu segurar todos os caminhões. O negócio dele era São Paulo.
Neste mês da volta, o mês de abril, chegou um padre idoso, um padre de verdade em Barra Nova. Ele era alemão mas vivia em Santa Catarina, padre Humberto era o seu nome. Ele me contou que com dezoito anos lutava na frente russa com o exército alemão. Via as bombas cair de perto e fez um voto: se escapasse seria missionário. Viveu e cumpriu. Padre Humberto me casou com Maria. A Maria estava de branco e já com barriga de cinco meses. Eu de terno, gravata e botinas, foi uma cerimônia linda. A mulher do Dino nos ofereceu louça e toalha de mesa de linho. David tirou fotos com uma máquina e dois filmes recuperados em Guaramirim. Depois ele mesmo revelou as fotos. Padre Humberto fez votos para que os nossos filhos, os filhos deles e os netos dos filhos deles nunca conhecessem a guerra.
Pouco antes de nascer a minha filha os navios trouxeram mais baús e vi que o Dino não havia sossegado. Fui procurá- lo, "Capitão, vem mais uma viagem?" "Vem, Mané. Desta vez só paramos em São Paulo." O diacho do homem nos preparava umas surpresas. Pois oito dias depois de nascer a Cecília, nossa filha, ele me chamou.
Outro passeio, Mané. Desta vez com mais de cem veículos. Conhecendo o caminho como conhecemos, até Ponta Grossa, será mais fácil.
Deus lhe ouça, Capitão.
Vamos tentar ajudar os atingidos que encontrarmos. Levaremos cinco baús-hospitais. O doutor Abraham vai tratar os atingidos de Garuva.
O senhor vai trazer os atingidos aqui?
Vamos trazer aqueles que quiserem, é o nosso dever. Tem mais. Você lembra do equipamento que recuperamos em São José? Estamos testando roupas especiais que protegem da radioatividade nos materiais ambientes e mesmo no ar ou na água se houver. Com estas proteções alguns homens poderão entrar em zonas proibidas por até cinco horas. E o suficiente para passear em Curitiba e São Paulo. O Abraham quer penicilina, Florianópolis quer tornos e retificas, temos encomendas até de Tubarão. O freguês manda.
Por que o senhor não tenta a via mais curta. Curitiba-São Paulo pela BR 116?
Não passaríamos o vale do Ribeira e nem o rio em Registro se a ponte estiver caída. Além disso a serra é pior que a de Garuva. Temos que dar a volta, Mané.
E depois de São Paulo, Capitão?
A vida é grande, Mané. Iremos até onde Deus deixar...
Quando eu te conto isto, meu jovem Teodoro, lembro de um caso que me contou o Dino na terceira expedição e que muito me auxiliou. É a história de um piloto francês dos anos mil novecentos e vinte ou trinta, chamado Henri Guillaumet. Esse Guillaumet pilotava os primeiros aviões que cruzaram o Atlântico sul e levavam o correio de Paris a Santiago do Chile. Foram os primeiros no Atlântico sul, os primeiros a voar de noite, os primeiros a sobrevoarem a cordilheira dos Andes a seis ou sete mil metros de altitude em cabine aberta. Protegiam-se do frio com papel jornal por debaixo do casaco. Eles faziam França-Espanha-Marrocos-Mauritânia-Senegal-Natal no Brasil-Argentina e Chile numa semana, quando de navio eram dois a três meses pelo cabo das Tormentas. Se caíssem no mar, no deserto ou na cordilheira era morte certa, de frio, de sede, afogados ou degolados por beduínos.
Henri Guillaumet caiu na cordilheira a seis mil metros de altitude. Fez pouso forçado, sozinho e com o avião inutilizado. Então começou a andar. Durante cinco dias e noites ele andou, arrastando a sacola do correio, e só chupou neve ou gelo. Teve mil vezes a tentação de deitar no chão e esperar a morte, mas continuou andando e andando. Sempre arrumava forças para continuar. Até que encontrou uma estrada e foi salvo por andinos. Depois que Guillaumet se recuperou no hospital, disse: "O que eu fiz, nenhum bicho, só um homem o faria." Acho que este francês tinha alguma coisa do Capitão Dino. Alguma coisa que aos quarenta anos te puxa para a frente como se tivesses vinte.
Para sorte minha a segunda viagem foi atrasada de uns meses e tive a felicidade de ver nascer e crescer a Cecília. Eu me reconhecia neste neném, no toquinho de gente bem parecida com a criança que eu fui. Segurava a minha filha junto ao peito e passeava, os dois olhando na mesma direção, sentindo a cabeça dela no meu queixo. Ela gostava de ser carregada e ficava bem quietinha, só reclamava quando eu deixava de dar colo. Era bem sapeca, já tinha o caráter de Maria: sabia o que queria. Com três meses uma criança já é gente completa. Tenho quatro netos e com cada um a felicidade foi igual.
Você me pergunta como era a esposa do Capitão. Era loira e bonita, uma mulher muito distinta. Alta, quase da altura do marido, com sardas e rosto doce. Eles se amavam muito, a gente sentia isso. O Capitão estava sempre bastante ocupado, dirigindo a fábrica, preparando viagem, mas eu sei que sem a mulher ele não teria conseguido levar tanta atividade. Assim como sem a Maria e a Cecília eu não teria voltado da terceira expedição. A mulher de Dino tinha a cabeça livre e paixão sincera pelo marido. Foi uma senhora mulher.
Passaram-se uns quatro meses depois que o Dino me chamou. Acho que continuavam testando equipamentos em Itajaí. Duas vezes fomos buscar gasolina em Guaramirim com vários caminhões. Perto da cidade de Rio do Sul, em Ituporanga, bem no interior, a comunidade de lá conseguiu reativar uma fábrica de papel. Derrubamos pinhos, fizemos cavacos, tratamos e mandamos uma pasta que deveria se parecer com celulose. Florianópolis também ajudou e foi fabricado o primeiro papel da nova era. Era um papelão castanho um pouco diferente, mais grosseiro, mas funcionava. Serviu até para escrever. Uma vez por mês recebíamos bobinas pelos marujos para a fabricação dos tambores e outras necessidades. A picada para Itajaí foi recomeçada, deu mão-de-obra mas chegou até o rio Itajaí, de lá uma balsa te levava para a comunidade. Só que a trilha ainda não dava passagem a caminhões, e nem a ninguém em dia de muita chuva. Também construímos casas e aumentamos o hospital. Foi montado um edifício para receber e alojar os atingidos da serra ou de outro lugar. O doutor Abraham dirigiu a construção. O médico era um homem bonitão, da idade do Capitão, só que mais largo de ombros e mais forte. Antes da chegada da esposa de Dino com os seus filhos, ele era o único judeu da antiga Barra Velha e talvez o melhor homem da região. Sim, senhor.
E um belo dia chegou o famoso equipamento. Era um sistema de proteção feito numa borracha grossa coberta por amianto. Dentro ficavam bombonas de oxigênio, daquelas que usam os mergulhadores. O capacete lembrava o de escafandrista, com vidro grosso na altura dos olhos. Experimentamos, dava para andar, pegar objetos, mas pesava e esquentava bastante. O cientista louco e seus colegas garantiam que você poderia pegar materiais contaminados sem o menor risco. E lá estava eu, e mais alguns, testando os equipamentos sob o sol de Barra Nova, andando feito pingüins.
Algumas das proteções, mas nem todas, tinham um walkie-talkie interno para conversar com o parceiro. Só que as bombonas pesavam e você mal podia sentar para descansar. Se caísse, alguém precisava ajudar porque sozinho não levantava. Enfim, não era muito perfeito mas era só o que possuíamos contra a maldita radioatividade.
Em fins de novembro os caminhões estavam de novo prontos e senti que a viagem não tardaria. Era impressionante vê-los enfileirados na saída da estrada para Massaranduba. Eram mais de setenta baús, quinze carretas, uns quinze tratores com cabines protegidas e doze jipes. Desta vez tínhamos até rolim, aquele veículo para amassar o asfalto com uma grande roda dianteira de concreto, e guinchos poderosos. Havia um baú-padaria, com chaminé e forno para assar o pão da expedição. Dino não mentiu e eram cinco baús-hospitais com beliches; a expedição contou com três médicos, dez enfermeiros, quatro cientistas e seus equipamentos. Tinham até máquina de escrever para os relatórios. No mais, o sistema de organização era o mesmo que da viagem anterior, só que com muito mais faixas de rádio entre os veículos. E o comboio foi dividido em três partes independentes de uns trinta e cinco carros cada uma. Era o comboio 1, o 2 e o 3. Dino comandou o comboio 1 — e toda a expedição — Gelo o comboio 2 e o doutor Luís Carlos, que foi o médico da primeira viagem, ficou com o número 3. Desta vez eu ia dirigir um baú, o décimo segundo do primeiro comboio. Eu tinha ligação rádio e carregava reservas de água e gasolina além de todo o equipamento individual. Meu baú também levava cinco ternos de proteção contra a radioatividade. Porque na nossa gíria chamávamos esta roupa de terno e quem a usava de escafandrista. Só não fiquei com o oxigênio para evitar um possível acidente devido aos riscos de carregar gasolina.
Faltando duas semanas para o Natal foi finalmente dada a ordem de partida. O comboio número 1 saiu primeiro, o 2 e o 3 a um dia de intervalo. No meu baú vinha de novo o David, para os outros era a primeira viagem. Havia o Zé Neto de Florianópolis, o Carlinhos, um gaúcho que foi metalúrgico, e um cientista encarregado dos ternos. Nosso cientista se chamava Abelardo e era míope que só ele. Acho que sem os óculos não enxergaria nem o volante.
Partimos dois anos e dois meses depois que o homem destruiu três quartos da Terra.
Querido irmão Teodoro,
Como tu vais, velho de guerra?
Aqui em Florianópolis foi acionada a busca a David Mauger. O reitor mandou quatro estudantes para o nordeste e enviamos cartas a todas as comunidades do Brasil. Se teu personagem está vivo, creio que em breve teremos notícias dele. A menos que tenha deixado o país e neste caso será preciso esperar pela sorte.
Estou muito curioso para ler teu trabalho sobre os pioneiros. O irmão da minha mãe participou da segunda expedição e tenho até uma foto dele em frente a um caminhão. Mas ele falava pouco deste período que devia trazer-lhe recordações dolorosas.
Sem a tua presença a nossa escola está calma e enfadonha. O velho continua querendo que assimilemos toda a literatura anterior ao apocalipse. É dose para elefante! Não imaginava que além de fazer guerra nossos ilustres antepassados escrevessem tanto. Enfim, não há como fugir.
Poucas notícias. Estou com um braço enfaixado e com isto escapo à plantação comunitária. Me machuquei jogando bola contra os cavalões de Porto Alegre. Helena, aquela loira que admiramos tanto, noivou e vai casar. O felizardo é um estudante de fora, mandado pela escola de Tubarão. Ai de nós, perdemos a Helena... Fiquei inconsolável.
Promessa é dívida, companheiro. Aguardo a barrica de Barra Nova de uma boa safra e já estou salivando. Vê lá, hem? Muitas saudades e aquele abraço do teu irmão
Zezinho.
Massaranduba-Guaramirim-Pista contornando Joinville, Dino apressou a marcha, desta vez queria chegar a São Paulo. Em Garuva paramos. O Capitão e um médico foram conversar com os atingidos. Explicaram que tinham baús disponíveis para levá-los a Barra Nova, e que aqueles que quisessem ir seriam bem tratados lá. Podiam embarcar agora mesmo porque as pistas estavam em bom estado. Aquele que parecia ser um dos chefes do grupo pediu para pensar e consultar os seus irmãos. No dia seguinte voltaram e pediram garantias, se teriam comida, se poderiam voltar caso não se dessem bem em Barra Nova. No fim foi tudo acertado e a comunidade dos atingidos veio em peso embarcar. Mas eram em demasia e não cabia todo mundo. Tivemos a maior dificuldade em fazê-los acreditar que seguiam mais dois comboios iguais ao nosso. Além disso traziam todo tipo de pobres pertences que seriam inúteis em Barra Nova. E não queriam abandonar nada. Por fim, depois de muita discussão, Dino propôs que já embarcassem as mulheres e as crianças, os homens seguiriam depois. Mas os atingidos, ainda desconfiados, não aceitaram. O jeito foi esperar pelo comboio seguinte.
O comboio 2 chegou naquela noite. Eles deram a maior carreta para levar os pertences dos atingidos. Aquela população infeliz se amontoou em cinco baús-hospitais, prontos a voltar com trator e jipe. Mas surgiu mais uma complicação: alguns atingidos tinham sinais de varíola e os médicos não queriam levar a Barra Nova as roupas velhas. Aconselhavam queimá-las. Os atingidos que sofriam do frio ao pé da serra gritaram que precisavam daqueles trapos. Por fim o Dino perdeu a paciência e impôs suas condições. Se quisessem ir até Barra Nova era preciso queimar as roupas e os doentes iriam em baú separado, ficando em quarentena. Senão que ficassem em Garuva.
Os atingidos pediram mais uma vez para pensar. Desceu todo mundo dos baús. Depois de uma hora voltaram dizendo que aceitavam, contanto que em Barra Nova lhes dessem roupas novas. Foi prometido e embarcaram. Os enfermeiros deram leite às crianças e primeiros socorros aos mais sofridos. Os baús-hospitais manobravam para voltar quando chegou o comboio 3 e a confusão recomeçou. Uma curva da pista não dava passagem para dois caminhões de frente e foi preciso recuar todo o comboio 3. O Dino estava ficando louco e perdemos mais aquele dia. Os atingidos reclamavam da falta de espaço nos baús e diziam que Deus nos castigaria se os estivéssemos ludibriando.
Finalmente Dino deu ordem de partida ao nosso comboio e deixou o Gelo resolver os problemas da volta dos atingidos. Nós ficamos três dias em Garuva mas os comboios 2 e 3 atrasaram mais cinco. Gelo precisou ir e voltar com os baús-hospitais e deixou os outros veículos acampados. Em Barra Nova o doutor Abraham já estava esperando pela população dos atingidos. Os habitantes de Barra Nova, apesar da curiosidade e da repulsa, procuraram tratá-los normalmente e com carinho. Nenhum deles nunca quis voltar para Garuva.
Começamos a subir a serra e, talvez por já estar acostumado, a neblina me pareceu menos brava. E mais uma vez chegamos à planície do Paraná. Ela continuava bonita e deserta. O Dino parou no local da queimada inexplicada e mostrou aos cientistas. Pesquisaram os arredores e não acharam sinal de vida. Pouco depois o caminho piorou. As chuvas haviam feito estragos e a nossa média diária caiu bastante. Os tratores removiam barrancos, tapavam buracos e lentamente prosseguíamos. Até que alcançamos a zona de São José dos Pinhais. Em menos de quinze dias havíamos percorrido mais da metade do caminho da primeria expedição.
Dino não parou em São José dos Pinhais, mas mandou caçar alguns ratos atingidos para os cientistas. No nosso baú o Abelardo colou os seus óculos a uma gaiolinha com cinco ratos. "Interessante, muito interessante...", repetia. "Deformações genéticas." "O senhor acha isso interessante?", perguntou o David meio agressivo. "A natureza se defende, meu jovem. Estudando estes bichos talvez possamos prevenir mal-formações nos filhos dos atingidos." O Zé Neto disse então que se soubéssemos entender realmente um só fato qualquer, entenderíamos todo o universo. Achei isto muito certo e ganhei estima por ele. Porque acredito que em cada ser, em cada planta ou em cada nuvem frente a nossos olhos está na verdade a chave para o mundo todo. Mas se Deus nos deu olhos, o diabo lá se instalou e puxou umas cortinas.
O nosso comboio 1 possuía um mascote, era um graxaim, cachorro selvagem domesticado. Foi o Mino — aquele que perdeu a perna com a balsa no dia do apocalipse — que o recolheu e criou. O graxaim obedecia ao Mino, ao Dino e gostava bem de mim. Um animal bonito e forte, de pelo cinza, chamado por todos de Ulisses. Ulisses era ligeiro e não raro pegava um coelho, uma raposa, ou outro bicho do mato. Na expedição ficava ora no jipe do Dino, ora conosco no baú. Tinha grande afeição pelo David, em Barra Nova corriam e pulavam sempre juntos. Lembrarei deste cachorro meio lobo, que quando morreu foi como ter perdido um irmão. Você verá, Teodoro, que Ulisses teve para nós papel de destaque na terceira expedição.
Pois contornamos Curitiba pelo caminho já conhecido de Campo Largo, mas, para a minha surpresa, o comboio voltou para leste em direção à capital. Dino queria tentar uma incursão em Curitiba. Nos aproximamos da cidade até onde os contadores Geiger o permitiram, perto do bairro de Santa Felicidade. Foi um bairro bonito, residencial, com árvores e pinhos e bons restaurantes. A vida lá era boa, antes do apocalipse. Cinco companheiros, incluindo o Capitão, vestiram os ternos e avançaram de jipe. Dois andavam armados e um terceiro levava uma máquina fotográfica. Ulisses rosnou quando viu os escafandristas, tálvez estranhasse o cheiro.
Depois de uma hora o jipe voltou. Eles foram até as alturas que dão para o Parque Barigüi e fotografaram os primeiros prédios destruídos do centro de Curitiba. Não encontraram ninguém e nem ratos. Esguichamos os ternos de proteção, numa operação que levava mais de meia hora. Eram jatos de água em cima de cada um e aí pareciam realmente escafandristas. O cientista louco autorizou se desvestir e finalmente os cinco pioneiros puderam tirar o equipamento. Estavam vermelhos e encharcados de suor, mas todos bem. O nosso primeiro sistema de proteção era rudimentar mas funcionava. O jipe também foi isolado e esguichado. Vi Dino aquela noite, ele estava radiante. "Amigo Mané, se Deus quiser vamos passear na Ipiranga e na São João." Não sabíamos que em São Paulo as dificuldades seriam outras...
De manhã voltamos na direção oposta. Em Campo Largo o comboio 2 já nos esperava. Gelo contou ao Dino a chegada dos atingidos em Barra Nova. Trazia pedidos do doutor Abraham: penicilina, vacinas contra a varíola, remédios para retardar a leucemia, etc. Parece que o estado clínico de muitos atingidos era mesmo assustador. Quando o comboio 3 do doutor Luís Carlos chegou, ficou incumbido de penetrar em Campo Largo, vasculhar farmácias e hospitais e voltar para Barra Nova. O 3 cumpriu a missão acima do esperado e voltou com um carregamento enorme de produtos médicos. Só que a maioria já estava vencida, ou danificada e às vezes até radioativa. Em Barra Nova foi feita uma triagem que levou mais de três semanas. Os produtos perigosos foram enterrados. O que sobrou deu para tratar muita gente ate bem depois da terceira expedição.
E seguimos viagem para Ponta Grossa. Desta vez os dois comboios iam juntos. De noite acampávamos em fraternidade. Os grupinhos acendiam fogueira, alguém puxava uma viola e vinham cantigas do sul. Era o momento mais agradável, quando havia passado o calor e a poeira do dia. Eu tocava gaita e acompanhava milongas, cantos de gineteadas ou então ritmos brasileiros. No 1 tínhamos até um sanfoneiro, o Chico Bolero. Algumas noites o Dino se misturava com a gente e por vezes pedia esta ou aquela música. Ensinou até o Chico a tocar uma melodia russa, bonita, esperançosa e sofrida.
Uma tarde alcançamos Vila Velha. Dino e Gelo deram um churrasco. Para isso mandamos uns homens caçarem. Mas um deles voltou muito agitado, dizendo que havia visto um homem que fugiu ao avistá-lo. Um grupo seguiu na direção indicada, procurou horas e não achou nada. Durante o churrasco, de noite, de repente Ulisses começa a latir. Silenciamos, pegamos as espingardas e ouvimos alguém correndo no mato soltando gritos esquisitos. O Capitão passou a berrar: "Venha! Somos amigos! Não tenha medo!" Mas o homem, se é que era homem, não atendeu e nem voltou. De manhã deixamos comida no local e seguimos adiante. Dino também deixou indicações escritas do caminho até Massaranduba e o que restava da civilização.
Até Ponta Grossa a estrada estava bem conservada. Perto da cidade visitamos uma indústria química que o Dino já conhecia, por vender tambores antes da guerra. Recuperamos terebintina, álcool industrial e outros produtos. A cidade de Ponta Grossa tinha a mesma aparência desolada e abandonada que Guaramirim ou São José dos Pinhais. Mas ao invés dos ratos era coberta de baratas. Eram baratas para todo lado, de dar nojo. Então iniciamos a jornada pela rodovia 151 em direção à divisa com o estado de São Paulo. Estávamos a cento e vinte quilômetros de Curitiba, mais de trezentos de Barra Nova e uns seiscentos de São Paulo. Porque o caminho Ponta Grossa-Itapeva-São Paulo dá uma volta de oeste para nordeste, contornando a serra e o vale do Ribeira. O Brasil é bem grande, Teodoro, tem chão que não acaba...
Gastamos um dia em Ponta Grossa e na fábrica vizinha. Nunca vi tanta barata junta! Mal pegamos a estrada para Itararé e Itapeva os baús deram o sinal de emergência e os comboios pararam. Ninguém sabia o que estava acontecendo e ficamos aguardando até que um dos enfermeiros explicou que o pessoal do baú 22 fez uma incursão clandestina em Ponta Grossa, à procura de cachaça. Encontraram garrafas de cerveja e outras que levaram emprestado. Na saída da cidade um deles foi beber no gargalo e não percebeu que ao abrir a garrafa havia quebrado a ponta. O coitado engoliu um pedaço de vidro de uns dois centímetros. Quando o vi estava deitado, ansioso, com o caco de vidro no estômago.
O Dino e o doutor Luís Carlos confabularam. Era preciso extrair o pedaço pois havia grande risco dele acabar rasgando os intestinos. Por outro lado os baús não estavam equipados para uma operação dessas. Dino apelou para um truque que ele conhecia da Europa. Mandou o rapaz engolir mais de um litro de azeite e muita massa de pão. O jovem se esforçava para não vomitar e ingurgitar a massa e o óleo. Prepararam dois jipes para conduzi-lo de volta o mais rápido possível até Barra Nova. Os jipes partiram enquanto o rapaz ainda engolia pão e óleo. Soubemos que conseguiram fazer todo o percurso em quarenta horas. Guiaram de dia e de noite, um jipe quebrou e chegaram todos num só carro. Doutor Abraham extraiu o caco envolto numa massa protetora de pão lubrificado que salvou a vida do homem.
O responsável do baú 22 foi substituído e seguimos viagem. Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés, passamos as pequenas e bonitas cidades do interior do Paraná. Dava dó ver tanta planície e panorama abandonado, vazio e morto. Recuperamos o material rádio de um posto da polícia rodoviária e serras de uma madeireira. Até que alcançamos o rio Itararé que forma a divisa com o estado de São Paulo. Em São Paulo a estrada melhorou bastante e o Capitão estava eufórico. Embora tivesse vivido em tantos países, acho que ele era meio bairrista com São Paulo. "Eu sabia que voltaria!", disse a David.
Eu estava na cabine do nosso caminhão conversando com David, Zé Neto, o cientista Abelardo e Carlinhos o Gaúcho que dirigia. Falamos sobre o Barão. Você não conhece o Barão, Teodoro? Talvez o encontres algum dia porque acho que, ele não muda nunca, e se o vires estará igualzinho. E um personagem muito digno que apareceu em Barra Velha antes do apocalipse. Estava muito bem vestido, até com cartola preta e bengala, e daí o apelidamos de Barão. Vivia sempre mudo e sentado num bar. Ele surgiu um certo dia, não se sabe de onde vinha, alguns disseram que era europeu. Tomava um álcool forte e não respondia às perguntas, mas sempre tão distinto que até intimidava. Parecia trazer todas as dores do mundo no rosto e um olhar às vezes bem irônico. Só abria a boca para dizer "xixi" ou "cocô" e então alguém o levava até o banheiro. Voltava a sentar e beber. Não é piada não, mas nunca ninguém ouviu ele dizer alguma outra coisa. Depois de uns tempos desapareceu. Voltou pouco antes da primeira viagem e nunca disse de onde, nem como havia sobrevivido. Lá estava ele de novo, sentado no bar da cooperativa, muito bem trajado e mudo. Às vezes parecia assim explodir de rir, ficava vermelho, roxo, mas se continha. Personagem bem misterioso. Dino parecia se interessar muito por ele. "O Barão carrega a dor e a dignidade da humanidade", dizia.
Pois falávamos do Barão quando finalmente chegamos a Itapetininga. Em Itapeva e Capão Bonito o comboio não parou, a não ser para reabastecer. Mas em Itapetininga Dino resolveu levar toda a biblioteca da faculdade. Enchemos um baú com os livros e os fichários. Dino fiscalizava o carregamento pois tinha paixão por livros. Levou também as teses dos estudantes, enciclopédias, tudo que encontrasse. Se o Capitão tivesse sobrevivido, acho que Barra Nova hoje teria a maior biblioteca do mundo. "A próxima biblioteca será a nossa em São Paulo", confiou ao David. "Antes da guerra com o meu carro, em uma hora e meia estaria em São Paulo para jantar no restaurante com a tua mãe...", falou com saudades. E eu vi que o homem sofria.
De Itapetininga a São Paulo — cento e cinqüenta quilômetros — tínhamos dois caminhos possíveis. Seguir na direção de Sorocaba e de lá atingir a Rodovia Castelo Branco, ou então para Tatuí e a Castelo no quilômetro cento e vinte e sete. O caminho de Sorocaba é mais curto porque você pega a auto-pista uns quarenta quilômetros à frente. Mas Dino e os chefões preferiram Tatuí na esperança da Castelo Branco estar mais conservada e porque temiam que Sorocaba, por ser cidade grande, fosse foco maior de radioatividade.
Pouco antes de alcançarmos a Castelo Branco vimos um bando de pássaros voando para o norte e foi grande alegria. Eram os primeiros seres vivos que cruzávamos desde as baratas de Ponta Grossa e nos deram esperança. Vários companheiros acenaram para os pássaros, que seguiram viagem indiferentes. Haveria gente viva em São Paulo? No nosso baú foi feita uma aposta: o gaúcho pensava que encontraríamos a cidade deserta e arrasada. "Se cidades menores não escaparam, imagine São Paulo", dizia. Mas o nosso cientista era de outra opinião: "A vida é tenaz, meu amigo", repetia. "Haverá algum tipo de vida, nem que sejam ratos, formigas ou matagal." Apostaram um jantar em Barra Nova para toda a equipagem do caminhão.
Na autopista topamos com um obstáculo imprevisto: os veículos abandonados no dia da guerra. Para abrir caminho aos comboios era preciso ir sempre removendo carros, caminhões e ônibus. No primeiro pedágio gastamos uma tarde inteira para abrir passagem à expedição e pernoitamos por lá. No dia seguinte pegamos a autopista na contramão por ser a via mais livre. À medida que São Paulo se aproximava todos ficaram mais excitados, inclusive o Dino. Passamos as placas de Sorocaba, Itu, São Roque e ninguém nem mesmo pensava em penetrar nestas cidades e atrasar a chegada. A partir do quilômetro cinqüenta, cada placa quilométrica cruzada era saudada com as buzinadas de setenta caminhões, jipes e tratores. Na terceira noite da Castelo Branco Dino reuniu todos os responsáveis de caminhões num conselho de guerra.
"Devemos chegar em São Paulo amanhã pela tarde. Os comboios vão parar na marginal do rio Pinheiros e ninguém deve descer do carro. Quero dois homens armados em cada cabine e os motoristas prontos a voltar para a Castelo ao primeiro sinal. Se os viadutos do Cebolão estiverem caídos, mandaremos um grupo a pé com os ternos de proteção. Salvo imprevisto, passaremos a noite no fim da Castelo ou na marginal. Deve haver dois homens acordados em cada carro, a noite toda, o 1 e o 2 tendo espaço para manobrar." O homem temia alguma coisa.
Mas infelizmente não foi tão fácil chegar a São Paulo quanto o Dino esperava. Ao meio-dia do dia seguinte, no quilômetro dezesseis, a Castelo Branco terminava. A rodovia e os viadutos sobre o Tietê estavam totalmente destruídos. Dava dó estar tão perto, praticamente em Osasco, e não poder prosseguir. Dino não se conformava e chutava as pedras do chão. "Levaríamos semanas para consertar esta merda!", dizia, com o perdão da palavra. Foi então que Chico Bolero, o tocador de sanfona, procurou o capitão. "Antes de casar, Capitão, fiz três romarias a Pirapora do Bom Jesus. Sei que havia um caminho de Santana do Parnaíba até a Via Anhanguera. Com trechos de terra batida, mas os caminhões passavam." Dino e os outros chefões consultaram os mapas, o Chico várias vezes, e resolveram arriscar. Fizemos mais uma manobra de meia-volta, abrimos passagem para a pista oposta e uma hora depois estávamos subindo para a Estrada dos Romeiros.
Era curva, morro e ladeira. Até que uma baixada da estrada muito alagada deteve os comboios. Gelo, Dino e alguns outros examinaram a situação e concluíram que o jeito era abrir uma boa valeta para desviar a água. Pegaram uns trinta homens que foram cavando o canal com pás e enxadas. O trator número 1 também ajudava. O pessoal trabalhava com água até a cintura enquanto o Dino, como sempre, mantinha uma guarda armada e os motoristas nos seus volantes. Quando a noite caiu a baixada estava livre e o comboio passou a lama graças a madeiras e folhagens.
Dormimos pouco adiante. No dia seguinte mais um contratempo: a ponte do rio Tietê não oferecia segurança. Por sorte o rio é bem estreito e lá foram os homens consertar a obra. Umas boas estacas resolveram a situação e os caminhões atravessaram, um por vez e em marcha lenta. A ponte aguentou a todos. Nesta noite entramos em Santana do Parnaíba, o comboio ficou na estrada mas acompanhei o Dino até a catedral e a casa do Anhanguera. "Desta cidade partiram os bandeirantes", nos contou o Capitão. "No século XVII ela rivalizou com São Paulo para capital da província. Foi a corte em Lisboa que optou por São Paulo."
Lembro bem desta noite de quarenta anos atrás. Andávamos na pracinha de Parnaíba junto ao coreto abandonado. Era noite escura e bem fria, mas apesar da desolação percebi que a vila tinha sido bonita; lembrava as cidades históricas de Minas Gerais. Parece que o Capitão pensou na mesma coisa. "Como estará Ouro Preto hoje?", perguntou. "Ouro Preto, patrimônio da humanidade..." Teve um riso amargo. Depois Dino nos contou alguma coisa do Anhanguera, das bandeiras e expedições do século XVI. Também de um pioneiro que deixou de herança aos filhos e netos uma descrição do caminho até os Martírios, perto do rio Araguaia, e de como, de mão em mão, o relato permitiu a primeira expedição científica mais de dois séculos depois.
Ouvíamos o Dino quando três companheiros do comboio chegaram correndo: "Capitão! Na estrada... Mais de dez homens adoeceram... "
Voltamos imediatamente para os caminhões. Dino estava pálido, tenso e não dizia mais uma só palavra. Entrou no baú-hospital e foi conversar com o doutor Luís Carlos enquanto, de fora, tentávamos saber das notícias. Perto dos caminhões, os companheiros haviam feito umas fogueiras para combater o frio e a neblina. Era um tal de bate-boca, já falavam de epidemia e que iríamos todos ficar doentes e morrer.
Finalmente o Dino saiu do báu. "A trinta quilômetros da Praça da Sé!", repetia. "Estamos a trinta quilômetros da Sé, doze do Jaraguá e temos que voltar... Puta que o pariu!" De vez em quando o Capitão soltava uns palavrões bem sentidos, mas era sem maldade. "Escuta, Mané. Você vai sair imediatamente com três jipes e ver se o caminho até a Anhanguera ainda é praticável. O comboio vai dar meia-volta. De manhã vocês nos encontram na Castelo. Só ficaram doentes aqueles que entraram na água do Tietê ou da baixada. Ainda bem que deixei os motoristas nos volantes..." Fiquei bem aliviado, pois eu não tinha participado da obra do canal e nem do reforço à ponte.
Pegamos os jipes e tocamos na estrada de Polvilho e Cajamar. Levei comigo o Chico Bolero que conhecia a região, mas era tanta neblina e escuridão que ele não enxergava nada e nem a gente. A certa altura a estrada bifurcava e, óbvio, pegamos a direção errada. Por fim alcançamos a Via Anhanguera na placa quilômetro vinte e nove, e tinha até um caminhão tombado bem na entrada. Aliviados, voltamos a alcançar a expedição, que já tinha deixado Parnaíba. Encontramos os caminhões ainda na Estrada dos Romeiros, fiz o relatório ao Dino e voltei para o meu baú. Se a Anhanguera não estivesse destruída como a Castelo, já conhecíamos o caminho até a cidade de São Paulo.
Mais uns vinte homens adoeceram no dia seguinte. Daqueles que entraram na água da baixada ou do Tietê nenhum escapou. Eles vomitavam e tremiam de febre, muitos deliraram. O doutor Luís Carlos tentou diversos remédios e plantas sem sucesso, embora conseguisse baixar um pouco os acessos de febre. No sexto dia um companheiro morreu. A expedição parou e cavamos um túmulo à beira da estrada. Rezamos, alguns chegaram a chorar e prestamos a última homenagem. Dino Fontana apressava a volta porque temia pelos outros doentes.
Foi o quinina que salvou os companheiros doentes. Alguns sintomas do que padeciam lembravam acessos de malária e o médico iniciou em dois deles um tratamento com o pouco quinina que possuía. O resultado foi milagroso e isto animou aos outros. Um dos motoristas do Gelo conhecia uma planta que dizia ser boa contra a malária. O comboio parou no mato e um grupinho foi à cata destas folhas. Com o que acharam fizemos litros e mais litros de chá, que manteve o pessoal até o quinina do doutor Abraham chegar em Barra Nova.
A volta foi rápida, da Castelo a Itapeva, Itararé e Ponta Grossa. Dino abandonou os seus planos de recuperação de diversas máquinas e outros materiais por causa dos doentes. Alguns problemas mecânicos atrasaram o comboio entre Ponta Grossa e Campo Largo, chegamos a pensar em enviar dois baús-hospitais na dianteira, mas o Capitão e o Gelo preferiram evitar a dispersão. Do nosso baú só havia adoecido o Carlinhos e, a cada parada, íamos vê-lo e tentar reconfortá-lo. Ele nunca perdeu o moral e, graças a Deus, sarou completamente em Barra Velha.
Um terceiro baú havia sido transformado em hospital mas quebrou uma ponta de eixo na pista que contorna Joinville. Tivemos de improvisar outro carro para os leitos e transportar os doentes. Quando chegamos ao trevo de Guaramirim foi aquela buzinada... Barra Nova e Massaranduba estavam a uma tacada. E no dia seguinte estávamos na Capela São Bosco. Em Barra Nova já sabiam da nossa volta e, como da vez anterior, muitos curiosos fizeram a viagem até Massaranduba. A esposa do Dino veio especialmente levando os irmãos de David.
Encaminhamos os doentes, que puderam finalmente tomar quinina de verdade. O Carlinhos enjoou tanto de beber chá na viagem que jurou nunca mais tomar chimarrão. Achei Barra Nova mudada. O inverno havia chegado e a cidade crescido. Três dias após a minha volta levei a minha filha Cecília para ver uns pingüins que subiam o litoral vindos do sul. A pequena Cecília ficou excitadíssima. Ela que já rebolava no meu colo, passou a imitar o andar dos pingüins...
Irmão Sobrevivente,
Se você ler esta mensagem saiba que há vida humana organizada no estado de Santa Catarina. Temos comunidades em Massaranduba — São João de Itaporiú — Barra Velha — Luís Alves — Rio dos Cedros — Ilhota — Brusque — Itajaí — Nova Trento — Rio do Sul — Ituporanga — na costa próximo à antiga ilha de Florianópolis e ao sul, até as cercanias de Tubarão. A região poupada vai aproximadamente de vinte e seis graus e vinte e cinco minutos a vinte e oito graus e quarenta minutos de latitude sul, da nova costa até o rio Itajaí do Oeste e a Serra Geral.
As nossas comunidades dispõem de hospitais, escolas, água e alimentos, e podem cuidar de você caso tenha sido atingido por radiações. Para chegar até nós aconselhamos o seguinte caminho:
Estrada 127 até Capão Bonito.
Estrada SP 258 de Capão Bonito a Itararé.
Estrada PR 151 de Itararé a Ponta Grossa.
Estrada BR 376 de Ponta Grossa a Campo Largo.
É preciso evitar Curitiba e São José dos Pinhais devido à radioatividade e aos ratos.
De Campo Largo pegue a estrada para Araucária.
De Araucária alcance a BR 376 (antiga 101) por Cachoeira e Campo Largo da Roseira.
Na BR 376 siga pela serra até Pirabeiraba.
É preciso evitar as cercanias de Joinville.
Um quilômetro e meio ao sul de Pirabeiraba pegue pista de terra a oeste (à direita de quem vai para o sul) de quarenta quilômetros. Esta pista volta à BR 376 que deve ser acompanhada até o trevo para Guaramirim e Jaraguá do Sul. Do trevo ir na direção de Guaramirim, sem penetrar na parte oeste da cidade.
Em Guaramirim, frente à fábrica Energe, pegar a estrada SC 304, direção de Blumenau. Vinte quilômetros ao sul de Guaramirim está a primeira comunidade de Massaranduba.
Este caminho pode dar passagem a veículos.
Você será bem-vindo com todas as pessoas que trouxer, inclusive crianças.
Boa sorte — Informe a todos.
Já conhecíamos o caminho para São Paulo mas não sabíamos o que nos esperava em São Paulo. Quando penso na tragédia da terceira expedição acredito que o destino quis deter a ânsia de viagem do Dino Fontana e de seus companheiros. Estava escrito em algum lugar que dois anos depois do fim do mundo os homens não passariam de São Paulo. E esperou-se mais dez até a recolonização. Dino queria uma revanche contra o holocausto, revanche que nunca encontraria e sabia nunca poder encontrar.
Talvez o mal e a dor, Teodoro, sejam tão necessários ao nosso crescimento quanto o ar ou a água. Dino era destes homens que não se conformam com o que julgam errado. Em São Paulo ele se arriscou por um gesto ou uma lembrança, a lembrança do mal que os homens poderiam ter deixado de cometer. Ou não poderiam? Séculos de ciência e filosofia não desvendaram quase nada do mistério do que nos rodeia. Inventamos a tecnologia como alguém que constrói o observatório do monte Palomar para olhar o rosto da sua filha. Você sabe, meu jovem, sou daqueles que pensam que pode haver mais verdade num sonho, na frase de uma criança ou de um poeta do que em toda a física e a química.
Passamos aquele inverno em Barra Nova de volta à vida civil. Trabalhávamos, construíamos casas e caminhos, reformamos a Fibrasul, fizemos uma escola e um salão de festas. Criávamos os nosso filhos, sabe, a gente investia muito nos filhos. Aqueles que viveram uma guerra têm a esperança de que os filhos saberão evitar a desgraça. Dino e o doutor Abraham davam aulas aos meninos maiores e as davam com fé. As aulas do Dino comportavam digressões, ele tentava passar tudo o que sabia. De repente as crianças ouviam a descoberta de Tróia, a vida de Gauguin, as viagens de Marco Polo. Elas adoravam porque ele mesmo nunca sabia aonde iriam dar. Eu fui dos adultos que quando podiam assistiam a estas aulas.
Dino contava histórias de fé e heroismo. De como homens, pela vontade, pela inspiração ou pelo trabalho, criaram ou atingiram feitos elevados. De sofrimento também, porque a opressão sempre nos acompanha. Falava da resistência ao nazismo, da vida dos artistas, falava de arqueologia, da Europa e da África, das descobertas e muito de história. Uma vez ele nos perguntou: "Por que este caderno é azul? Alguém pode dizer o que significa ele ser azul? Eu não posso, nem encontrei ainda quem pudesse. Ele é azul por acaso? Ou só porque o dono da fábrica achou que cadernos azuis vendem mais? Existe um sentido no fato de ele ser azul e este sentido nos escapa." E aí ele puxava para um poeta francês ou falava de Van Gogh. Mas era sempre muito claro e podia ser acompanhado por todos.
No meio de uma aula do Dino apareceu o Rodrigo, ofegante. Rodrigo, acho que não te falei, era um jovem louco por radioamador. Todo dia tentava entrar em comunicação com o resto do mundo, sem nenhum resultado, mas continuava tentando. Chegou vermelho como um pimentão. "Capitão, Capitão! Com a aparelhagem que o senhor recuperou... estou falando com espanhóis..." O Capitão largou a aula e saiu correndo atrás do Rodrigo. Todos acompanhamos. Fomos até o local e o rádio estava sintonizado com gente de fora. Eram andinos da Bolívia e estavam tão emocionados e curiosos quanto a gente. Transmitiam de uma estação do exército na região de Chuquisaca e, pelo que nos informaram, eram bem menos numerosos do que nós em Santa Catarina. Mas sabiam da existência de outros sobreviventes no Peru.
Dino falou com os bolivianos. Havia algo pungente em você conversar com pessoas sabendo que nunca poderia chegar até elas, nem elas até você. Nos contaram de como sobreviveram ao "ano de la noche", da fome e do frio que passaram. Um deles chamado Ermelino nos disse jocoso: "Me salvei porque fiz um trato com meu estômago: você não me exige comida e eu não reclamo das dores por que passo."
Combinamos entrar em comunicação todos os dias às dezessete horas do Brasil. A ligação com os bolivianos se tornou uma alegria cotidiana e um meio de romper o isolamento. Chegamos a trocar fofocas, contar casos sem importância, mantendo a amizade a milhares de quilômetros. Rodrigo aprendeu a falar espanhol e recebeu aulas pelo rádio. Tornou-se um craque na gíria boliviana e ensinava o português aos andinos.
Aquele inverno feliz passou voando. Com a primavera David Mauger começou a namorar uma loirinha, Tuuliki, filha de finlandeses de uma colônia próxima a Itajaí. David chegou a fazer o percurso da picada numa noite, e a pé, para ver a Tuuliki. Estava acompanhado de Ulisses, o graxaim, e contava as estrelas e os quilômetros. O amor dá forças que a gente não sabia ter. Quando chegou na colônia finlandesa, os pais da Tuuliki serviram-lhe um cafezinho e o mandaram de volta dizendo que a filha ainda era muito novinha. Mas David fingiu que pegava o caminho de volta e ficou uns dias perto da colônia, dormindo no mato e vendo Tuuliki às escondidas. Quando lembro disto, Teodoro, lamento já ser um velho.
A primavera também nos trouxe a Barra Nova Fernando Teixeira e o seu grupo de Florianópolis. Eles vinham oficialmente participar da terceira expedição.
Fernando Teixeira era o chefe do grupo de Florianópolis, uns quarenta homens mais ou menos. Ele quis disputar ao Dino a chefia da terceira expedição. "Florianópolis manda baús, manda material", dizia, "e Barra Nova colhe os frutos. Tenho mandato das comunidades de Florianópolis e Brusque para dirigir a próxima viagem." Obviamente o Dino não entendia as coisas desta maneira e surgiu um atrito. "Não haverá terceira expedição sem o nosso acordo", diziam os homens de Florianópolis. Pela primeira vez uma viagem criava disputa antes mesmo de se iniciar.
Nós, os antigos das duas viagens, fechamos com o Dino contra o novo grupo. Sozinhos eles nunca chegariam a São Paulo e foi preciso sentar e tentar uma conciliação. Adotamos o sistema da segunda expedição, a divisão em três comboios. Um deles ficaria sob as ordens do Fernando, outro do Gelo e o último do Dino. A direção geral era confiada aos três homens, sendo que em caso de divergência a maioria de dois prevalecia. Dino tinha a confiança do Gelo e sabia, em geral, poder contar com o voto dele. As aparências estavam salvas e o pessoal de Florianópolis concordou. Em caso de separação dos comboios cada um dos três se tornava único mestre a bordo depois de Deus. Mas a rivalidade entre Fernando e Dino deixava antever problemas pois os dois eram do tipo "pavio curto".
Na organização dos comboios apareceram as primeiras desavenças. O Capitão queria os tratores na frente, sob as ordens do seu comboio número 1. Fernando propunha dividir os jipes e tratores, indo um terço a cada comboio. Isto fazia pouco sentido, a menos que pensasse em seguir caminho próprio, pois os tratores eram necessários para abrir estrada na frente. Gelo pôs panos quentes e acabou-se optando pela maioria dos tratores com o comboio 1, tendo cada outro comboio dois tratores seus e quatro jipes. O grupo de Florianópolis ficou com o comboio número 2, com Dino na frente e Gelo na retaguarda. "Este pessoal vai nos dar dor de cabeça", confiou Dino ao Gelo, "procure sempre ficar atrás deles". Eu soube depois que o Capitão combinou com o Gelo uma freqüência secreta, para poder contatá-lo sem ser ouvido pelo 2. O clima não era dos mais confiantes. Por seu lado Fernando Teixeira tentou convencer alguns companheiros da segunda viagem a lhe servirem de guia, caso não se entendesse com o Capitão.
Quando chegou o verão, mais uma vez estávamos prestes a partir. A novidade nesta viagem era que levávamos umas famílias de colonos que queriam se instalar no Paraná. Estas vinte famílias foram o primeiro núcleo de recolonização depois da guerra nuclear. Uma carreta levava dois tratores — tratores de verdade — para estes lavradores. Eles também ficaram com três jipes para poderem alcançar Barra Nova em caso de necessidade e trazer combustível. Padre Humberto abençoou os colonos.
Na véspera da partida tomei um porre federal. A viagem me atraía, mas a idéia de nova separação de Maria e minha filha me pesava. Fiquei doente e na manhã seguinte subi no meu baú com uma tremenda de uma dor de cabeça, amparado pelo Zé Neto e o Carlos. Desta vez não ia cientista no nosso caminhão, eles iam em veículo próprio. Lembro que fazia muito calor e a excitação da partida deixava todos um tanto tensos. Quinze minutos antes da largada demos pela falta de David e do mascote. Fui avisar o Dino:
Capitão. Não encontramos o David e nem o Ulisses.
Onde se meteu aquele moleque?
Sei não, Capitão. Talvez ainda não tenha voltado da colônia finlandesa.
Vai me deixar maluco. Mande já um jipe para buscá-lo.
Dino foi informar aos comboios 2 e 3 que a saída seria atrasada. Fernando Teixeira propôs que o comboio dele saísse na frente, o que deixou o Dino fulo de raiva. Enquanto isso os colonos aguardavam no calor dos baús e os curiosos em volta dos comboios. A minha dor de cabeça não sumia e eu via toda aquela agitação à minha volta como se nada disso me dissesse respeito. Mais parecia um filme ou um pesadelo.
A coisa não parou aí. O jipe que foi atrás de David furou dois pneus na picada e os integrantes voltaram a pé para pedir ajuda. Mandamos todo mundo descer dos veículos e a viagem foi adiada por vinte e quatro horas. Fernando aproveitou a situação dizendo que no dia seguinte ele partiria "com ou sem filho e com ou sem mascote". Dino considerou que isto era uma quebra do acordo de direção a três e tiveram mil dificuldades para apartá-los.
À tarde David apareceu, confuso e pedindo desculpas. Dino brigou com o afilhado até em italiano e em francês! Imagine você que o namoro de David e Tuuliki atrasou cento e vinte veículos e mais de seiscentas pessoas.
A terceira expedição seguiu para o seu destino. Cento e vinte tratores, jipes e caminhões deixaram a colônia de Massaranduba, cruzaram Guaramirim morto, passaram pelo trevo de Joinville-Jaraguá. A chuva nos pegou na pista que havíamos aberto para contornar Joinville. Era um atoleiro só. O primeiro caminhão patinou, demos os sinais de emergência e começou o encalhe. Depois deste caminhão foram vinte outros. Um trator com guindaste dava meia-volta, trabalhávamos sob a chuva fina para desencalhá-lo e cinqüenta metros adiante era o seguinte que atolava, A chuva não quis parar por mais de oito dias.
Foi a vez dos tratores de atolar. Um deles estava tentando puxar um baú do Gelo quando encalhou. Usamos dois outros tratores, fora os jipes, para puxar àquelas toneladas de aço. A lama cobria até o rosto dos homens e a chuva não cessava. Era desanimador. O confinamento na chuva e na umidade abalou o moral de todos e começaram a surgir algumas brigas. Dois homens se pegaram na lama e foi preciso apartá-los. Como um deles era de Florianópolis e o outro de Barra Nova, Fernando Teixeira quis dar razão ao seu patrício contra Barra Nova e o Dino. A desavença passou ao escalão de cima.
Depois de uma semana neste lodo Dino calculou que havíamos avançado uns nove quilômetros. Além disso a lama constante era um perigo para os motores. A situação ficou tão preta que o doutor Luís Carlos propôs seriamente a volta a Barra Nova, para posteriormente tentar outra viagem. A expedição por pouco não passa de Santa Catarina.
Por sorte o sol voltou, e com ele a confiança, O primeiro dia sem chuva provocou aquela buzinada de alegria. A lama continuava igual e perigosa mas o moral era outro e passamos a avançar. Os motoristas faziam proezas para evitar as poças. Os caminhões pareciam rebolar na pista e na grama, todos torcendo na cabine a cada metro ganho. Eu dirigia o baú com o ouvido preso ao ruído do motor. Pelo som sentia se havia perigo de patinar e, modéstia à parte, nunca atolei.
Voltamos à BR em Pirabeiraba. A chaminé da usina de açúcar de trinta e seis metros de altura, que estava de pé nas viagens anteriores, havia desabado. Pensei comigo que isto era um mau presságio, mas não falei nada. E atacamos a serra. A neblina provocou uma batida no comboio 2. Deixamos um dos caminhões com a esperança de rebocá-lo na volta. Na planície ensolarada do Paraná a colônia escolheu um local para se instalar, perto daquela famosa queimada misteriosa. Ali acampamos vários dias para ajudar os colonos a construir as primeiras casas. Estas famílias eram corajosas, pois eu não sentia nenhuma vontade em ficar sozinho por aquelas bandas, a serra Negra te separando do resto do mundo. Mas a decisão era deles.
Os pioneiros escolheram o nome de Esperança para a colônia. A poucos quilômetros ficava o povoado abandonado de Rio Una. A terra lhes pareceu boa para a colheita e havia um riacho com água limpa. Os colonos de Esperança estocaram gasolina, armas e dois contadores Geiger, além de remédios e ferramentas. Ainda deixamos com eles todo o material de que não necessitávamos na viagem. Dino não resistiu e foi de novo examinar o local do incêndio que avistamos na primeira viagem. Voltou pensativo e de mãos vazias. Cada um desejou boa sorte às famílias e embarcamos em direção a São José dos Pinhais.
Em São José tentamos mais uma operação de recuperação numa pequena metalúrgica da cidade. Acontece que o material estava contaminado, os contadores de radioatividade chiaram alto e tivemos de abandonar o projeto. Alguns homens do comboio do Fernando Teixeira ficaram nervosos e atiraram nos ratos. Os ratos atingidos fugiram na ocasião mas, talvez por vingança, na saída da cidade avançaram num dos últimos baús do comboio 3. O pessoal levou um susto grande com centenas de ratos atacando o caminhão, alguns chegando a subir no capô. Mas o motorista era bom e o caminhão se safou, com os pneus rangendo. Deixamos aquela cidade bem aliviados. Os ratos eram os donos de São José dos Pinhais e queriam continuar sendo.
Em Curitiba o Dino comandou uma incursão com os ternos de proteção. Repetiram o mesmo caminho que da vez anterior, para além do Parque Barigüi. Dois cientistas acompanhavam, devidamente protegidos. Mais uma vez nada encontraram, a capital parecia deserta e morta, umas plantas esquisitas já furavam o asfalto. "Em Hiroxima também cresceu estranha vegetação, com flores cinza desconhecidas", nos contou o Capitão. O nosso cientista louco não estava errado, mesmo doente a vida é tenaz. No parque também acharam uns insetos parecidos com as lagartixas de antes do apocalipse. Levamos plantas e lagartixas para os cientistas da expedição.
A fila de veículos pegou a Rodovia do Café para Vila Velha e Ponta Grossa. Dino, Gelo e Fernando Teixeira apressaram o ritmo. Não paramos em Vila Velha, só nos detivemos em Ponta Grossa, onde o grupo de Florianópolis catou umas baratas. "Ratos, lagartixas, baratas, vamos montar um zoológico em breve", disse sarcástico o David. Ele na verdade sofria de saudades da namorada e não via a hora de voltar para o caminho Barra Nova-colônia finlandesa. "A saudade não mata, mas maltrata" bem disse o poeta.
Registre, Teodoro, estas palavras de Dino, porque daqueles que as ouviram eu talvez seja o último em vida. Foi por ocasião de uma aula que ele dava a jovens adolescentes e outros curiosos. Dino nos disse: "E muito provável que esta não seja a primeira vez que a Terra sofre uma noite de um ano. Existe uma teoria bastante fundamentada segundo a qual um cometa, ou a sua cauda, se chocou com a Terra por volta do ano 1500 antes de Cristo, quando o povo de Israel saía do Egito. Este cometa teria dado origem ao planeta Vênus.
"As tradições de muitos povos dos mais distantes, da Polinésia, na China do imperador Yahou, do México, no Egito do Médio Império e a Bíblia registram fatos concordantes. Lembrem-se das pragas do Egito, as trevas, os terremotos, os rios cor de sangue, que Moisés obteve de Deus para salvar o seu povo. Até Josué empreender a conquista da Palestina, e durante uns cinqüenta anos após o início do Êxodo, a Terra sofreu grandes convulsões. Dizem os polinésios, os maias e vários outros povos, em antigos relatos e segundo os historiadores, que o céu caiu sobre a terra, o oceano entrou em convulsões e as ondas brigavam com o céu. Os gregos antigos registram fatos similares na mitologia, no tempo do rei Ogiges, o Agag da Bíblia.
"Durante cinco ou mais dias o sol não apareceu. A única luz provinha dos incêndios. Depois caíram trevas tão grandes que um irmão não via o rosto do irmão mesmo tentando acender velas. O povo judeu caminhou no deserto quarenta anos em meio à sombra e pálida luz. Lendas da Finlândia contam que um só casal se salvou do cataclismo, dando seqüência à humanidade. Este casal se alimentou de um produto com gosto de mel ou ambrosia, caído do céu. Pode ser o Maná que os hebreus encontraram no deserto do Sinai. Há inúmeros exemplos. Heródoto ouviu de um velho sacerdote egípcio que o sol nem sempre se levantou ao leste para se pôr a oeste, e que antes dos cataclismos a posição da Terra no céu não era a mesma. Josué pediu a Deus que o Sol detivesse o seu curso até ele obter a vitória, e o sol não se pôs.
"O planeta Vênus não consta em nenhum mapa astronômico antes de 1500 antes de Cristo, embora seja bem visível e os povos antigos muito estudassem o céu. No teto do túmulo de um arquiteto egípcio está um mapa o ceu sem Vênus e com o Sol se levantando a oeste. E há vários outros fatos. Antes do Médio Império a Líbia e o Saara eram férteis. Foram encontrados na Sibéria mamutes congelados que pouco antes de morrer haviam comido grama e plantas que crescem hoje mais de mil e quinhentos quilômetros ao sul. Só uma mudança climática muito violenta e repentina poderia trazer os grandes gelos onde na véspera crescia a grama. Estes cataclismos poderiam explicar a famosa destruição da Atlântida, cujo povo dominou o norte da África e a Europa ocidental até a Toscana, segundo os mais antigos historiadores gregos e latinos.
"De novo no século oitavo e sétimo antes de cristo, e provavelmente no ano 687 a.C., a Terra viveu grandes convulsões de origem cósmica, que foram profetizadas por Isaías e constam dos relatórios astronômicos chineses. 'Durante a noite (23 de março 687 a.C.) caíram estrelas como chuva. A terra tremeu. Os cinco planetas saíram do seu curso', diz o registro de Confúcio. Lembrem-se das palavras da Bíblia. 'Ele repreende o mar, e o faz secar, e esgota todos os rios... Os montes tremem perante Ele, e os morros se derretem e a terra está queimada. Sim, o mundo e todos que nele habitam.' Se isto pode nos servir de consolo, os nossos antepassados viveram cataclismos semelhantes ao nosso apocalipse nuclear.
A diferença, talvez, é que ninguém apertou um botão para matar cinco bilhões de homens, mulheres e crianças."
Quando Dino chegava à guerra — e ele sempre chegava, mesmo procurando evitá-la — eu via uma sombra forte em seu olhar. Dino tinha olhos muito claros, olhos de gringo, e uma testa bem larga. Acho que os jovens também perceberam este pesar e então fizeram perguntas sobre os tempos antigos. "Capitão, será por isso que o Mar Vermelho se abriu, deu passagem a Moisés e afogou os egípcios?" "É bem difícil responder à tua pergunta. Se a cauda de um cometa se chocou com a Terra nada mais foi o mesmo. Houve mudanças geográficas, climáticas, imensas e grandes destruições. Esta teoria pode explicar que mares e oceanos mudassem de posição, e talvez até mesmo o planeta. Pode ter havido uma modificação no eixo de inclinação da Terra e na posição do polo magnético. E deve ter havido descargas elétricas, queda de meteoritos e de substâncias do cometa. O Mar Vermelho deixou passar o povo de Israel e se abateu sobre o orgulhoso exército faraônico... Disto eu não duvido. Aliás a história egípcia relata a morte do Faraó no mar. Terá sido conseqüência da colisão? Cabe a vocês julgar...
"E tem mais. Também o súbito desaparecimento dos dinossauros foi atribuído pela ciência à possível queda de um meteoro de grandes proporções. Há mais de cinqüenta milhões de anos, e num curto lapso de tempo, desapareceram as muitas espécies destes gigantes. E se foi mesmo um meteoro, neste ou naquele caso, por que veio cair na Terra? Pelas leis do acaso? Eu não acredito no acaso..."
Você pergunta por que o Dino disse que não acreditava no acaso? Bem, ele não nos falou na ocasião. Talvez porque achasse que o menor fato tem um sentido, embora quase nunca o vejamos. Aliás, Teodoro, eu que sou um velho ignorante acho que acaso, causa, destino, coincidência ou relações de produção são palavras que servem para esconder tudo o que desconhecemos...
E seguimos para o norte, para o estado de São Paulo. A PR 151 foi uma estrada bonita que contorna a serra Paranapiacaba, cruzando cidades agradáveis como Castro, Jaguaraíva, Sengés. A região é verde, o campo tem muitas árvores e terra boa, e por isso mesmo havia antes da guerra grandes fábricas de papel de Telêmaco Borba até Itapeva. O sul do Brasil foi região rica que Deus abençoou e os homens destruíram. Hoje a Serra do Mar voltou a ser selvagem, mas sem o apocalipse teria quase toda desaparecido. Maria, a minha mulher, diz que a natureza se vingou do homem, da destruição e do sofrimento que os homens causavam aos animais e às plantas. Eu acho que pode ter alguma verdade nisso.
Em Castro passamos o rio Iapó e os jipes seguiram até o aeroclube. O sonho secreto do Dino era achar e recuperar um pequeno avião em condições de voar. E, se fosse possível, sobrevoar São Paulo antes de penetrar na cidade. Infelizmente ele não conseguiu, porque se tivéssemos um teco-teco a sorte da expedição poderia ter sido outra. Os aparelhos de Castro, como em Itapeva e Itapetininga, estavam destruídos ou não ofereciam segurança. O plano quase deu certo em Capão Bonito, onde chegamos a remendar a pista e ligar um avião. O aparelho andou uns vinte metros e pifou de vez. A sorte não estava com a terceira expedição.
Atingimos pela segunda vez o estado de São Paulo. Os comboios avançavam a um bom ritmo, mas as reuniões de noite entre os três chefes provocavam discussões violentas. Dino e Fernando Teixeira decididamente não se entendiam, a ponderação do Gelo não bastava para evitar os atritos. Uma noite, a poucos quilômetros da Castelo Branco, vi o Dino abandonar o encontro, branco de raiva. "Vou mandar tudo à merda! O Teixeira que vá aonde quiser..." Foi duro acalmá-lo. Ele sentia o seu trabalho, o seu esforço em organizar os comboios e levá-los até São Paulo roubado pelo grupo de Florianópolis. No dia seguinte Dino estava mais calmo e a viagem prosseguiu como se nada tivesse acontecido.
O nosso caminho de Barra Nova até a Anhanguera e São Paulo tinha cerca de mil quilômetros. Levar sãos e salvos mais de cem caminhões e quinhentos homens por dois mil quilômetros, nas condições do após-guerra, não era empresa fácil. Dino precisava de autoridade e ele a via disputada. Quando os comboios alcançaram a Castelo Branco o Capitão estava sombrio, a ruptura com Fernando Teixeira já era patente. O comboio 2 só não passou na dianteira e se afastou de nós porque o pessoal de Florianópolis não conhecia o percurso da Castelo para a Via Anhanguera. Mas em São Paulo a separação seria dificilmente evitada, todos o percebiam.
O trabalho da segunda viagem em abrir caminho na auto-pista muito nos ajudou e chegamos à Estrada dos Romeiros no dia seguinte. Ainda pernoitamos na Castelo e, de manhã, seguimos para Santana do Parnaíba. A velha vila colonial da Anhanguera continuava desolada e bonita, tão perto de São Paulo e tão oposta. O destino das cidades é tão diverso quanto o dos homens, nem todos temos as mesmas cartas. São Paulo cresceu e se tornou a maior cidade do país. Parnaíba estacionou no tempo e no espaço. Barra Velha, de pequeno balneário sem importância passou a capital da reconquista. Hoje a maior cidade do mundo não tem cem mil habitantes.
De Parnaíba à Via Anhanguera a pista exigiu muitos reparos. Se na noite fria da segunda expedição o jipe passou sem problemas, para os caminhões a dificuldade era outra. Dino ainda temia as águas contaminadas e não deixava ninguém pôr o pé na menor poça. Além disso queria deixar o caminho em bom estado para facilitar a volta. Levamos um dia inteiro para alcançar Polvilho e outro até a Anhanguera. O caminhão tombado estava no mesmo lugar, com a carga aberta e espalhada pela pista. Fomos acompanhando as curvas da Anhanguera que oferecia boa passagem. Às três horas da tarde, ao pé do pico do Jaraguá, Dino deteve os comboios e nos convocou para uma reunião, a última antes de entrar em São Paulo.
Dino, que já havia conversado com Gelo e Teixeira, nos disse mais ou menos o seguinte: "Companheiros, Gelo vai chefiar dez carros do comboio 3 para tentar chegar ao topo do pico do Jaraguá e lá permanecer. E o ponto mais alto da região da Grande São Paulo, poderão acompanhar a nossa progressão e vigiar toda a cidade. O resto do comboio 3 fica na Anhanguera e fará recuperação nas fábricas até o limite da marginal. O 1 e o 2 vão penetrar em direção ao centro da cidade, pelas ruas Cerro Corá e Heitor Penteado. O objetivo é alcançar a Avenida Doutor Arnaldo onde pernoitaremos, e de lá descer a Rua da Consolação. Nos reagruparemos na Praça da República. Boa sorte a todos."
Depois da fala do Capitão, Chico Bolero se aproximou de mim, e até hoje lamento profundamente não ter dado a devida atenção às suas palavras.
Mané, você lembra do caminhão tombado na entrada da Anhanguera?
Lembro, Chico.
Pois na noite em que o avistamos da primeira vez, me pareceu que a carga não estava aberta...
O plano de Dino era esperar que o Gelo chegasse em cima do Jaraguá para entrar na cidade. Mas Fernando Teixeira não quis aguardar e o Capitão, tentando evitar a divisão, acompanhou o movimento. Naquela mesma tarde, depois da reunião, Gelo se separou do resto dos comboios e tomou o caminho do pico do Jaraguá com dois tratores, dois jipes e oito caminhões. Nós seguimos até a marginal Tietê e pernoitamos em frente à ponte que une a Via Anhanguera ao Alto da Lapa.
A desolação era tremenda, São Paulo estava escura e parecia deserta. Estávamos à beira de uma cidade cujas luzes já foram visíveis da Lua e não se ouvia o menor movimento. As pistas da marginal estavam desmoronadas e cobertas em parte pelo Tietê. Eram muitos os postes caídos e precisamos remover cabos elétricos derrubados. Os esgotos transbordavam e o fedor era grande. Por toda parte o asfalto e a calçada estavam arrebentados e cobertos de destroços.
Pertinho da ponte, ainda na Anhanguera, ficava a antiga fábrica matriz do Dino. Eu o acompanhei até os galpões, ao cair de noite, e Dino não conseguiu esconder a tristeza. Na entrada estava ainda a placa "Fibratex Tambores de Fibra" mas dentro não havia mais nada que prestasse. As máquinas já estavam irrecuperáveis, o estoque de papel todo embolorado. "Tem aí umas duzentas toneladas de fungo", disse o Dino apontando para as bobinas. As portas e janelas dos escritórios estavam quebradas, com goteiras e poças em todo canto. Na sala que tinha sido dele antes de mudar-se para Santa Catarina, Dino salvou uma foto do pai e outra da mulher. "E só o que sobrou da Fibratex... ", disse pensativo.
Aquela noite, às portas de São Paulo, eu não encontrava o sono e nem a maioria dos companheiros. Ficamos conversando sem fim sobre o que nos aguardava pela manhã. "Pelo menos os ratos parecem poucos", falou um motorista. "Cheguei pela primeira vez em São Paulo", contou outro companheiro, "com uma calça, uma camisa e doze cruzeiros no bolso. Dava para duas médias com pãozinho. Eu vinha de Minas e só tinha o endereço de um primo em Vila Jaguara, a poucos quilômetros daqui. Só que o tal primo havia mudado sem deixar endereço e com dívidas na praça. Passei fome e dormi embaixo de viaduto. Mas graças a Deus acabei arrumando serviço de ajudante. Ainda bem que não tinha família para sustentar porque não há nada pior do que ver os seus filhos passando necessidade..."
Quando a madrugada clareou senti que aquele dia seria especial. Dino também não havia dormido e foi entrar em comunicação com o Gelo.
Alô, Gelo? Está me ouvindo?
Pode falar, Capitão.
Aonde estão vocês?
Falta bastante, Capitão. O mato comeu toda a estrada do pico. Não sei nem se chegaremos hoje.
Apressem-se, Gelo. Daqui a uma hora entramos na cidade.
Boa sorte.
Para vocês também...
E a expedição cruzou a ponte. Avançamos ao ritmo dos tratores limpando os escombros. Os contadores não chiaram em demasia e a progressão subiu a Rua Monte Pascal, entrou na Cerro Corá. Paramos nas alturas do Alto da Lapa, perto de um Jumbo Eletro, donde se via grande parte de São Paulo destruída. Dino e Fernando Teixeira observaram longamente a cidade com binóculos e trocaram informações que eu não ouvi.
Enquanto isso, soubemos bem depois, Gelo tentava escalar o Jaraguá. Ele sabia, pelo Dino, da importância de chegar rapidamente em cima do pico de mil cento e trinta e cinco metros de altitude, de onde se avista toda a cidade de São Paulo. Em todas as cidades grandes Dino tomava as maiores precauções e deixava pelo menos dois homens de prontidão em cada veículo, às vezes mais. Quando paramos no Alto da Lapa para almoço os jipes cobriam a frente, a retaguarda e os flancos do comboio. Os defensores nos jipes só podiam comer depois dos outros, quando revesados. Nesta terceira viagem, por insistência pessoal do Capitão levamos duas metralhadoras instaladas no capô de dois jipes. Até aquele dia eu não entendia muito bem a necessidade de tanta proteção, o Dino nunca confidenciou o que temia.
Gelo, de quem dependia a nossa sorte, era um homem muito alto e magro, uma cabeça acima do Dino ou do doutor Abraham. Ele tinha sido o braço direito do Capitão na fábrica antes do apocalipse e era respeitado por todos os operários. Falava pouco, só o essencial e nunca à toa. Pois Gelo e seu grupo encontraram as maiores dificuldades em cruzar o Parque do Jaraguá na direção do pico. A reserva florestal havia apagado a estrada turística e foi tão difícil chegar às escarpas da elevação quanto subir ao topo. Eu conhecia o Jaraguá de antes da guerra, uma vez que o Dino me mandou na Fibratex em São Paulo para copiar uma máquina que faltava à Fibrasul. Passei três semanas com os companheiros da oficina e não conte para a Maria! — tive um namoro no Parque Estadual do Jaraguá. Foi num sábado, estava de folga e saí a passear com uma moça que trabalhava na fábrica vizinha, a Cablex. A reserva florestal tinha cinco milhões de metros quadrados, havia lugar para você conversar sossegado. Ficamos lá no mato até o domingo à noite... Eu era bem jovem, Teodoro, não tinha nem a tua idade e isto explica muita coisa.
Meu Amor,
Não sei se um dia você receberá esta carta. Escrevo mesmo sabendo que não há jeito desta folha chegar até você. A expedição me pesa demais pelas saudades de ti. Escrevo para ficar mais perto de ti.
Tuuliki, meu amor, fui pedir ao Dino para me mandar de volta mas ele não aceitou. Estamos finalmente chegando em São Paulo e se Deus quiser retornaremos em breve. Não vejo a hora. Não vejo mesmo.
Tuuliki, meu amor, se teus pais disserem que você é muito nova, ou que não fomos feitos um para o outro, não acredite! Só confie no teu coração.
Você vai me esperar? Vai mesmo?
Tuuliki, meu amor, quando voltar vou te pedir em casamento. Padre Humberto nos casará e ficaremos sempre juntos. Construirei uma casa para nós, com muitas janelas e um grande jardim. Tuuliki, te beijo, te amo, sinto a tua falta a cada segundo.
Tuuliki, te amo.
David.
A turma do Gelo chegou no tanque de ouro, aquele que Afonso Sardinha teria utilizado no século XVI em seu trabalho de mineração de ouro. Perceberam então que tinham perdido a estrada turística para o pico e deram meia-volta. Isto acontecia enquanto o resto da expedição estava parado para almoço no Alto da Lapa. Usando machetes e enxadas foram abrindo caminho na mata. "A porcaria do pico, que parece tão perto da Anhanguera", me contou o Gelo meses depois, "não chegava nunca..." Ele não deixou o grupo descansar nem dormir. "Só dormem lá em cima." Estavam há vinte e quatro horas avançando sem descansar quando recuperaram a estrada. Na curva seguinte ela estava de novo invisível, e assim ia.
Nós avançávamos em direção à Avenida Doutor Arnaldo. Acompanhamos a Rua Heitor Penteado abrindo caminho entre os entulhos e destroços de todo tipo. O avanço foi lento porque os carros abandonados eram muitos, sem falar dos escombros que impediam a passagem. Atingimos finalmente a avenida quando já escurecia. Dino instalou os caminhões em fila dupla, para acamparmos bem no meio, protegidos pelos veículos. Isto me lembrou os filmes de faroeste onde os pioneiros americanos colocam as carroças em círculo para se defenderem dos índios. Estávamos situados exatamente entre um cemitério e um hospital, onde a Doutor Arnaldo é bem larga. A algumas centenas de metros, na escuridão, começava a Avenida Paulista, que menos de três anos antes ainda era o orgulho e a pujança de São Paulo.
Na Doutor Arnaldo vimos um pequeno bando de urubus fuçando o lixo. Eles não se incomodaram com a nossa presença. Dino não deixou os homens acenderem fogueiras e nem mesmo o baú-padaria soltar fumaça. Na manhã seguinte passaríamos todos sem pão. Outra tarefa nos esperava, o sistema de pistas e viadutos que liga para a Consolação e a Paulista estava impraticável. Fomos examinar a situação à luz dos jipes e lanternas de bolso pois o Dino também proibiu os holofotes. A destruição era grande e o comboio nunca alcançaria a Consolação pela manhã. Desencorajados voltamos a pé até a Doutor Arnaldo para examinar um acesso pela Pacaembu, mas a idéia não agradava ao Dino. "Ruas estreitas e curvas não são seguras", falou como que pensando alto quando voltávamos.
Restava uma possibilidade, a pista externa na direção da Avenida Angélica e de lá achar caminho para a Consolação. Fomos ver o local, era mão-de-obra para a noite toda. Apesar do cansaço de todos, Dino e Teixeira pegaram uma equipe para remover os blocos caídos e abrir passagem. O pessoal começou a trabalhar à luz das lanternas e foi até a madrugada. Uma vez o trabalho encaminhado, Dino me procurou e ao David. Pela primeira vez em muitos dias eu o vi alegre.
Mané, você está convidado à minha casa...
O senhor morava por aqui?
São três quarteirões. Vamos lá, David?
Reuniram dois jipes com segurança, retornamos pela Doutor Arnaldo e duas ruas abaixo ficava a casa do Capitão. No jipe Dino ia cantando alto, brincando conosco e não escondia a felicidade. "Se você esqueceu algo em casa, David, aproveita..." Passaram-se quarenta anos desta noite, Teodoro. Como passam rápido quarenta anos! Em breve não haverá um só homem que tenha conhecido o mundo de antes do apocalipse. E dentro de algumas gerações muitos nem acreditarão nas histórias do nosso tempo.
"O mundo se faz com homens e livros", dizia sempre o Capitão citando Monteiro Lobato. Não com armas e opressão, e foi isso que os povos de antes da guerra não souberam realizar. A meu ver a política sempre foi uma das atividades mais imperfeitas do homem, e se todos eram pela paz e pela justiça, sempre havia boas razões para não poder praticá-las. Até que deu no que deu. Durante o ano negro, quando as nossas crianças morriam de frio e de fome, quando os ratos nos atacavam até dentro dos tubos de concreto, tivemos tempo de sobra para entender que a aposta era muito alta...
Os jipes pararam frente ao sobrado do Dino. A grade estava caída e a porta arrombada. Entrei pela primeira vez atrás de Dino e David. Na sala muito grande ainda estavam os quadros, meio tortos, na parede. Vi um retrato do Dino jovem, ele usava barba, a testa bem larga e vestia a roupa dos países frios. Subimos ao primeira andar onde ficava a famosa biblioteca. Livros e estantes estavam derrubados e espalhados pelo chão, os móveis quebrados. "Alguém já esteve aqui", sentenciou sombrio o David.
Dino estava calado e tinha perdido toda a sua alegria. Ficou um longo tempo sem responder, parecia não ter ouvido David. Por fim, sem mexer em nada, foi se afastando. Quando subimos nos jipes ele só perguntou: "Antes ou depois do apocalipse?..."
Amanheceu o nosso segundo dia em São Paulo, uma madrugada cinzenta e úmida. Partimos bem cedo e em silêncio, fomos avisados para nunca usar a buzina. A maioria dos companheiros andava muito cansada, não dormiram nem quatro horas em quarenta. Eu já lamentava não ter descansado na véspera, às portas da cidade, mas o dia clareando e a excitação em avançar deram novo ânimo. Quando lembro desta manhã, creio que reinava entre os homens muita tensão, embora contida. O cenário de destruição mexia com os nossos nervos. "São Paulo virou um lixão", constatou David. Os primeiros soldados que entraram nas ruínas do Gueto de Varsóvia ou em Berlim destruída devem ter sofrido a mesma estranha sensação. Estávamos em território hostil.
A pista lateral trabalhada durante a noite deu passagem até a Avenida Angélica. Os jipes acharam caminho para a Rua da Consolação e, quando a alcançamos na descida em direção ao centro da cidade, derrubamos o canteiro central porque a via direita oferecia melhores condições. Os baús do Dino e do Teixeira passaram um por um pelo canteiro aberto. Mais abaixo os tratores já limpavam o caminho a poucos quarteirões da Praça Roosevelt. O louco do Dino estava conseguindo, e em poucas horas estaria cruzando a Ipiranga e a Avenida São João.
Dino levou um ano e meio para chegar até onde queria, o centro de São Paulo. David me contou certa vez que, ainda abrigados nos tubos de concreto e abraçando os seus filhos menores, Dino lhes prometeu que voltaria a São Paulo. Nas condições do ano negro era preciso ser louco ou profeta. Pode te parecer estranho, Teodoro, mas acho que o Capitão tinha mesmo um pouco de ambos. Previu a guerra e previu a volta. As precauções que tomava nas viagens me fazem até perguntar se não previa o que iria nos acontecer naquela tarde.
Paramos para almoço em frente à Igreja da Consolação. Dino deixou sentinelas em todas as ruas que dão para a praça. Dois jipes já avistavam a Praça da República e o Colégio Caetano de Campos. Dino não penetrou na igreja como era o seu hábito, com a exceção da Catedral de São José dos Pinhais, a primeira cidade grande que alcançamos. Tentou mais uma vez entrar em contato com o Gelo mas o comboio do Jaraguá não respondia. O Capitão procurou David no meu baú e tentou nos reconfortar.
Esta noite, se Deus quiser, dormiremos na Doutor Arnaldo e amanhã já teremos saído destas ruínas.
Voltamos diretamente? — perguntou David esperançoso.
Ainda vamos tentar alcançar a Raposo Tavares. No quilômetro quarenta e um havia uma firma de painéis fotovoltaicos, que produzem eletricidade graças à energia solar. Uma maravilha. A matéria-prima é o silício da areia e o calor do sol. Se conseguirmos recuperar os equipamentos teremos luz elétrica em todas as comunidades do sul. Vale a pena deixar a Tuuliki esperando mais alguns dias...
David não falou nada, mas a careta dele era eloqüente. Trocaria sem pestanejar toda a luz elétrica do mundo por um dia a mais com a namorada.
Foi a vez das sentinelas comerem, e a nossa de vigiar os arredores. Com exceção dos urubus, não se via um ser vivo em São Paulo. O fedor continuava, os esgotos pareciam ter invadido as ruas. Depois do meio-dia nos deslocamos, a ordem era parar na Praça da República, uns quinhentos metros adiante, em duas filas, assim como havíamos acampado na Avenida Doutor Arnaldo. Levamos quase que uma hora para percorrer estes quinhentos metros, porque os tratores tinham afastado o entulho e blocos de cimento caídos com muita pressa e sem segurança.
Um monte daqueles objetos desmoronou e cortou o caminho. Fomos remover tudo aquilo com pás e com as mãos, já que a volta dos tratores exigiria uma manobra complicada dos caminhões que o Capitão não quis arriscar.
Finalmente os dois comboios pararam paralelos na Praça da República. A primeira providência que tomou o Dino, depois de muita discussão com Teixeira, foi ordenar a manobra para deixarmos todos os veículos no sentido da volta, a cabine apontada para a Consolação. Acho que ele só relaxou um pouco com os comboios prontos a voltar. Reuniram então uns cinqüenta homens, metade do Fernando Teixeira e metade nossa, para uma patrulha pelo centro da cidade. Iríamos a pé porque abrir passagem aos jipes tomaria muito tempo. Estávamos todos armados e carregamos uma das metralhadoras tiradas do capô do jipe.
Neste exato momento a turma do Gelo alcançava finalmente o observatório do Jaraguá. Com binóculos e uma luneta vasculharam a cidade para nos localizarem. Gelo viu o comboio na Praça da República e o nosso grupo se afastando em direção à São João. O que ele avistou também quase o deixou louco. Saiu correndo até o rádio do baú para dar o sinal de emergência.
Nós estávamos bem na esquina da Avenida Ipiranga com a São João. Eu olhava para a fachada destruída do Citibank cujo relógio ainda dava a hora do apocalipse em São Paulo, quando, atrás de nós ouvimos uma, seguida de muitas explosões.
Nós os chamamos os Vândalos da Cantareira. Eram sobreviventes muito atingidos que viviam de pilhagens do que foi a cidade de São Paulo. Estavam fortemente armados e tinham explosivos à vontade, provavelmente encontrados em alguma pedreira ou dependência do exército. A moradia deles ficava na serra da Cantareira, ao norte da cidade, e dela desciam para incursões. Foi a serra da Cantareira que os salvou da morte certa no dia do apocalipse. Os Vândalos que eu vi tinham o rosto deformado dos atingidos, vestiam roupa e capa pretas com cinturões de balas atravessados no peito ou na cintura. Acho que cultivavam a força e uma aparência assustadora. Talvez a violência fosse a única resposta que encontraram para o desespero.
Ao ouvir as detonações demos meia-volta e vimos os caminhões explodindo e se incendiando. Levei algum tempo para entender o que acontecia, era muito inesperado. O comboio que eu deixara há alguns minutos estava em chamas, vi companheiros caindo como bonecos, outros agachados iniciando uma resistência, mas sem saber ainda nem para onde atirar. Do nosso grupo Dino foi o primeiro a reagir, gritou: "Todos comigo!", puxou pelo ombro quem carregava a metralhadora e começou a correr de volta para a ponta do comboio. Parou um segundo à minha frente, me olhou bem nos olhos e sussurrou: "Protege o menino!"
Do alto das ruínas do que foi o Colégio Caetano de Campos os Vândalos acertavam os nossos homens. Outros deviam estar por detrás das árvores da Praça de República. Corremos atrás do Dino e do companheiro com a metralhadora. Eu tentava não largar o David, que já estava à minha frente. Chegamos à ponta do comboio e Dino teve a idéia salvadora. Pegou um grupo para destacar um dos caminhões que levavam a gasolina e o combustível.
Os Vândalos já pensavam ter nos abatido, era só questão de tempo. Entre eles havia um menino que não parecia ter dez anos de idade. Trepado no Caetano de Campos o moleque tinha pontaria certeira e mal se escondia, querendo mostrar bravura. Nossos homens já estavam de olho, em breve seria ele o alvo. Dino percebeu e gritou:
— Ninguém atira no moleque! É uma ordem!
E continuou conduzindo o caminhão do combustível em direção à praça e à frente do colégio. Dentro do baú um companheiro preparava mecha ou algum detonador. Me agachei ao lado de David e passamos a atirar nos Vândalos. Eles viam a vitória certa e alguns poucos se escondiam. Acho que acertei no ombro de um todo de preto com chapéu de aba também escura. Vi o menino das ruínas cair com um tiro no peito na hora em que Dino e o seu grupo estavam soltando o caminhão-bomba no centro da praça.
A explosão foi pavorosa. Os escombros, as árvores, postes e placas, tudo voou. O Caetano de Campos estremeceu e um pedaço inteiro da ala mais distante de nós ruiu de vez. Até mesmo alguns dos nossos companheiros se feriram com a nossa arma, por não estarem deitados ou bem protegidos. Mas o efeito foi decisivo, abalou o ataque Vândalo. Passado o golpe e o pesadelo da explosão seguiu-se um silêncio total.
Acho que este silêncio estranho durou quase um minuto. Por fim os Vândalos sobreviventes soltaram alguns tiros, mas claramente para proteger a retirada. Desapareceram tão rapidamente como haviam surgido. Eu mantinha David ainda deitado mas podia ver por debaixo do eixo um bom pedaço do campo de batalha. Quando pensávamos que os Vândalos haviam sumido, ouvimos mais explosões na ponta extrema do comboio. Foi um ataque relâmpago para acertar os nossos últimos caminhões em condições de rodar. A praça da República pareceu ainda mais desolada depois da retirada final dos Vândalos. Só então prestamos atenção aos gemidos dos nossos feridos.
Dino ordenou a recuperação de um baú-hospital com a frente toda amassada. Não podíamos mover o caminhão mas aproveitamos a instalação. Ao mesmo tempo contou os homens válidos, uns cinqüenta e cinco, se estou bem lembrado, e deixou a grande maioria de proteção caso os Vândalos voltassem a atacar de surpresa. O nosso único "hospital" aproveitável não dava para todos os feridos e alguns nem podiam ser removidos. Doutor Luís Carlos estava levemente ferido na perna mas procurava atender a todo. Improvisamos uma doação de sangue, e doei, como o David e o Dino.
Uma vez atendidos os feridos com o pouco que podíamos por eles, nos reunimos todos atrás da linha de caminhões incendiados. Estávamos, é claro, de arma na mão e naturalmente nos dividimos em dois grupos, um atrás do Dino e outro junto ao Fernando. Pois Teodoro, você talvez não acredite mas surgiu uma briga feia e eu via a hora em que a praça voltaria a ser um campo de batalha, mesmo sem Vândalo nenhum presente.
- Que ordem idiota foi essa de não atirar no moleque?
Prefiro morrer a atirar em crianças — respondeu Dino ao Teixeira fora de si que o encarava.
Esta "criança" acertou três dos meus homens!
Eu não atiro em crianças... e basta!
Atrás de Dino, seguramos mais firme as armas pois os homens de Fernando estavam quase apontando para nós. Alguns armaram ostensivamente o fuzil e os imitamos. A esta altura pensei que haveria luta entre nós. Bastaria alguém mais tenso ou esquentado ter soltado um tiro para começar outra matança entre irmãos. Graças a Deus, isto não ocorreu, e tanto Dino como o Teixeira mandaram baixar as armas.
A discussão, no entanto, voltou. Dino e Fernando sabiam que a única chance era alcançar o Gelo no Jaraguá ou na Via Anhanguera. Mas diferiam quanto à maneira. Um homem de Teixeira trouxe um mapa de São Paulo e o seu chefe foi explicando a idéia.
Daqui da praça, o metrô vai até a Barra Funda. De lá seguimos a linha da Fepasa em direção à Lapa e Osasco. É a melhor maneira de chegar ao Gelo.
É a melhor maneira de morrer — respondeu Dino. — O metrô deve ser domínio dos ratos ou dos Vândalos, ou de ambos...
Teixeira não concordava e não houve jeito do Dino dissuadi-lo. A solução foi a divisão das nossas poucas forças. Uns trinta homens foram com o Fernando Teixeira até a boca do metrô quando já escurecia. Se enfurnaram nos corredores e nunca mais os vimos.
Ficamos a sós na praça, éramos vinte e poucos incluindo Dino, David, eu e mais o cachorro Ulisses. Estávamos em território hostil, sem veículos, e provavelmente sendo observados pelos Vândalos. Não podíamos fazer nada pela maioria dos nossos feridos. Carregamos só três maças, uma com o doutor Luís Carlos, cuja perna havia piorado. As outras duas com feridos leves, dois companheiros que tínhamos esperança de ver sarar em breve. Não levamos mais maças porque os dois homens a carregar cada ferido não podiam empunhar a arma.
"Eles devem ter cortado a retirada, portanto a Rua Consolação", nos disse baixinho o Dino. "Vamos tentar passar por Perdizes. Andaremos de noite e descansaremos durante o dia." Nós não sabíamos mas os jipes mandados pelo Gelo haviam, nesta mesma tarde, caído noutra emboscada. Precisaram recuar e desistir. As ruínas de São Paulo nos cercavam, a esperança era o Jaraguá.
Caminhamos em fila dupla, com três homens na vanguarda e três na retaguarda. A ordem era de silêncio absoluto. David estava ao meu lado quando não carregava maca. Dino andava à nossa frente, perto do servente da metralhadora. Cruzamos pela última vez esta Praça da República em direção à Rua do Arouche. Eu nem quis olhar para a boca do metrô onde Fernando e seus homens arriscavam a sua sorte. Andávamos de preferência numa calçada junto aos prédios, quando a vanguarda dava o sinal e as ruínas o permitiam.
Foram quase duas horas para passar o Largo do Arouche. Esta tinha sido a direção aparente da retirada dos Vândalos e estávamos de sobreaviso. O viaduto inteiramente derrubado da Amaral Gurgel foi outra dificuldade. Tivemos de escalar escombros quase sem ruído. Fui carregando, uma após uma, as três maças num atalho por aquele monte de concreto e pedra. Mas a noite avançava e progredíamos pouco. Vi o Dino olhar preocupado o relógio enquanto esperávamos o sinal da vanguarda.
Até a meia-noite, mais ou menos, seguimos pela Rua Jaguaribe. Graças a Deus nem sinal dos Vândalos. Cruzar a Avenida Angélica em direção ao Pacaembu foi outra façanha. A avenida é larga e os riscos eram grandes. Fomos cruzando em grupos de quatro, dois para proteger cada maca, agachados e correndo. Com uma lanterninha do tamanho de um isqueiro Dino consultava o seu mapa e sussurrava uma ordem à vanguarda. Os homens feridos colaboravam e não soltavam um gemido.
Esta noite, que não esquecerei, nos deixava exaustos. A tensão era grande e carregávamos o cansaço da batalha. Pouco antes do amanhecer atingimos, como a um rio muito largo, a Avenida Sumaré.
Dino arriscou e fomos atravessar a Avenida Sumaré, mesmo a descoberto. A madrugada já fazia sentir a sua chegada e o plano era nos escondermos durante o dia em sua casa da Rua Valença. Atravessamos correndo e agachados, em dois grupos, não havia mais tempo para divisão em grupos de quatro homens. Se os Vândalos nos esperassem ali seríamos alvos fáceis.
Continuamos correndo em silêncio até a Rua Grajaú. É uma ladeira que sobe para o alto do morro do Sumaré. A vanguarda deu o sinal e continuamos a caminhada rápida e cautelosa. Quando já clareava chegamos à antiga casa do Dino e nos instalamos no primeiro andar, no meio dos livros derrubados.
Conhecendo bem a casa, Dino deixou sentinelas nos lugares adequados e pareceu relaxar um pouco. Lembro que ele me disse: "Mané, já percorremos quase metade do caminho até o Gelo..." O otimismo voltou com a luz do dia. Cuidamos dos feridos e de descansar um pouco. Deixamos a porta da frente caída, do mesmo jeito que a encontramos. A nossa única chance era passarmos despercebidos.
Me acomodei no primeiro andar, no que tinha sido o quarto de Dino e sua mulher. Usei até um livro grande, em francês, como travesseiro e dormi no chão mesmo. Apesar do cansaço não encontrei o sono fácil. As emoções daquele dia e daquela noite tinham sido muitas, e haveria outras nos aguardando. Estariam os Vândalos nos vigiando? Tive um sono difícil e acordei todo quebrado, com os ossos doídos. Ainda bem que Dino me achou um cobertor pois sentia o frio até o interior do corpo.
Acordei já bem no meio da tarde, era a minha vez de vigiar o terraço. Me agachei, procurei posição para ver sem ser visto. O panorama do terraço do Dino era de uma cidade destruída, de um cenário aos pedaços. Os prédios do centro e do início da Avenida Paulista traziam a marca negra de incêndios. Estavam quase todos pelo menos em parte derrubados. As casas do Pacaembu com janelas e tetos quebrados. Aquilo respirava morte e abandono.
Dino estudava o mapa de São Paulo quando começou o ataque. Mais uma vez os Vândalos atacavam quando queriam e onde queriam. As sentinelas da frente reagiram e começou o tiroteio. Mas os Vândalos lançaram explosivos contra a frente da casa, e das quatro sentinelas só um companheiro, o Zé Neto, pôde recuar são e salvo. Os atacantes ocuparam o jardim da frente e tentavam penetrar no piso térreo da casa.
Atiramos do vão da escada para impedir o acesso. Doutor Luís Carlos, embora imobilizado também empunhava arma, como os outros dois feridos. Se não mantivéssemos fogo cerrado, seríamos varridos pelo ataque. Do alto da escada Dino chamou o David, o Zé Neto, o Carlos, e mais dois companheiros e a mim.
Vocês serão o primeiro grupo a sair. David conhece o caminho. O jardim dá para a rua de baixo, Rua Pombal. Aparentemente os Vândalos só estão na frente. Quero que vocês passem enquanto os seguramos aqui.
E você? — perguntou David.
Não se preocupe, filho. Também tentaremos escapar. Da Pombal vá em direção à Heitor Penteado, mas pegue sempre ruas paralelas, não fiquem no caminho da vinda. Passem o Tietê de alguma maneira esta noite e estarão a salvo.
E você? — insistiu Carlinhos.
Vamos dar um tempo para vocês passarem e faremos a retirada. Não há tempo para conversas. Peguem munição, mapa e a lanterninha. Levem também o Ulisses, ele vos ajudará.
Fui pegando balas, mapa e lanterna, além do meu cobertor, e reunindo nosso grupinho. O tiroteio na escada continuava cerrado. Desceríamos do terraço do Dino pela calha até o jardim dos fundos da casa. Amarrei o cachorro que iria primeiro. Nós seguiríamos pelo mesmo caminho, com cordas. Dino nos falou pela última vez.
Mané, você chefia o grupo. Leva eles até o Gelo e Barra Nova. Não deixe o Gelo tentar incursão na cidade. Vocês devem voltar, está entendido? É uma ordem.
Sim, Capitão.
Que o Gelo nos espere mais um dia na Anhanguera. Se não chegarmos a ordem é voltar a Barra Nova. Entendido?
Sim, Capitão.
Boa sorte. Que Deus vos guie.
Boa sorte. Capitão!
E ele voltou para a escada. Fomos descendo pela corda até o jardim que estava quieto. Ainda ouvindo detonações seguimos David pelas ruas abandonadas do Sumaré.
Éramos seis mais o cachorro. Havia Zé Neto, de Florianópolis, mas que já morava em Barra Velha antes do apocalipse. Carlinhos, um gaúcho de Porto Alegre que foi metalúrgico e deixou a fábrica para ser agricultor em Santa Catarina. Os outros dois companheiros: Tiago e Walmor, Walmor tinha cara feia e coração de ouro. Havia ainda David Mauger, nascido em Israel e teu servidor natural de Juquitiba, estado de São Paulo. Mais Ulisses, graxaim das matas de Barra Velha. O destino tirou a todos de seu lugar natal, salvou do apocalipse e acabou jogando nas ruas de São Paulo fugindo dos Vândalos.
A nossa odisséia de volta a Barra Nova começou na tal Rua Pombal. Seguimos por ruas curvas e desertas, passamos frente à abandonada Igreja Nossa Senhora de Fátima. Fiz o sinal-da-cruz, senti esta igreja como a testemunha de nossa fragilidade. Cinco homens e um adolescente em meio a ruínas e inimigos. E se o Gelo não nos encontrasse? Não queria nem pensar no caso. Quando finalmente alcançamos a Rua Aurélia, já longe do Sumaré, a noite havia caído.
As ruas estreitas da Lapa facilitavam a nossa fuga. A noite era escura e sem lua. Nos perdemos pelo Alto da Lapa, que ninguém conhecia muito bem, e depois de muita errança atingimos a marginal entre o Cebolão destruído e uma antiga fábrica de adubos. A manhã já clareava e era para nós um perigo. Também não podíamos arriscar penetrar nas águas do Tietê, ninguém havia esquecido a doença da segunda expedição. O jeito foi se esconder e esperar pela noite seguinte.
A fome começou a apertar e não tínhamos mantimentos. "Do outro lado do rio estão o Gelo e a comida", eu disse baixinho aos companheiros. "É preciso agüentar." Naquele dia todo não ouvimos sinal dos Vândalos e consegui dormir três horas. Masquei um pouco de grama, como fiz durante o ano do cão. O fedor continuava forte mas acabamos nos acostumando. Lembrava sem cessar das palavras do Dino: "Cruzem o rio e estarão a salvo..."
Foi um barquinho aos pedaços, uma velha chata de drenagem do Tietê que nos salvou. Carlinhos a avistou da marginal ao cair da tarde. Pegamos uns pedaços de pau para guiá-la. Subimos todos já na noite mais clara e cruzamos em silêncio as águas do rio. Estávamos em Vila Jaguara, a meio caminho entre a Via Anhanguera e a Castelo Branco. Já pensava estar a salvo quando perdemos o Zé Neto de vista.
Havíamos contornado uma fábrica grande e Ulisses latiu baixinho. Nos reunimos e faltava o Zé Neto. Ulisses apontava numa direção, uma rua escura perpendicular à nossa. "Fiquem aqui sem se mover", disse aos companheiros, "vou tentar achar o Zé". Entrei pela rua desconhecida, mas era sem saída, dava para o portão de uma fábrica. Voltei e ainda procurei pelas ruas adjacentes. Nada de achar o Zé. Faltavam poucas horas para amanhecer, o que fazer?
Achamos que não podíamos abandoná-lo e permanecemos no local por mais de duas horas. A certa altura Ulisses começou a rosnar e ouvimos um barulho. Engatilhamos as armas e nos protegemos. Vimos um vulto andando, era o Zé! Estava à nossa procura, já meio desesperado e desorientado. "Vocês me deram um baita susto!", foi a sua reação. Pouco depois do reencontro amanheceu. Ainda estávamos em Vila Jaguara, sem rumo muito certo. Arrisquei continuar andando na luz do dia, pois o risco maior era o comboio do Gelo dar meia-volta sem nos esperar. Além disso a fome era muita.
Caminhamos com os maiores cuidados até que atingimos uma autopista destruída. Era a Rodovia Castelo Branco, havíamos errado o caminho da Anhanguera! O que fazer então? Dar meia-volta e procurar pela Anhanguera era arriscado. David sugeriu seguirmos ate o quilômetro dezenove da pista e aguardar a volta do Gelo de Parnaíba. Nos pareceu a melhor solução e seguimos as ruínas da auto-pista, perto da margem do Tietê que acompanha a estrada. Mais uma vez fazíamos alpinismo entre escombros.
O cansaço e a fome atrasaram a marcha. A noite nos pegou ainda a quilômetros do caminho de Parnaíba. Pernoitamos todos exaustos entre blocos de concreto e o mato que invadia as ruínas. Mastigamos uma planta de folhas largas que apelidamos "a salada do pobre". Era amarga mas digestível. O Carlinhos para enganar a fome só nos falava de... comida! "E aquela vez em Barra Velha que comi um frango inteiro..." "Um picadinho ia bem agora..." "Se continuar falando, você é que vai virar picadinho", se queixou Tiago. Mas Carlos não sossegava e voltava com conversas nutritivas. Eta, homem falador...
De manhã o jeito foi levantar e continuar andando. A estrada já estava mais viável e tínhamos passado o último viaduto derrubado. O que nos deteve mais uma vez foi um coelho. Zé Neto avistou o bicho e saiu correndo atrás feito um louco. Acho que a fome dá asas porque o Zé pegou o animal. Matamos e assamos o coelho, mas era pouca carne para muitos esfomeados. Fiquei roendo um ossinho até alcançarmos a estrada de Parnaíba.
Pernoitamos na encruzilhada esperando os caminhões do Gelo. Mais uma noite e mais um dia e tivemos que aceitar a triste evidência: o Gelo já havia ido embora!
Andar, andar e mais andar. Um quilômetro após o outro, um metro após o outro foi a nossa sina. Você já precisou andar mil quilômetros a pé, Teodoro? Imagino que não. Nós estávamos a mil de Barra Nova, uns oitocentos da Colônia Esperança. Sem alimentos, sem veículos e com pouca munição. Pensei comigo: jurei ao Dino levar David de volta e levarei. O jeito era ir caminhando.
Reuni o grupinho. "Gente, se fizermos pouco mais de trinta quilômetros por dia, dentro de um mês chegamos em Massaranduba e Barra Nova. Poupem a munição, necessitaremos dela para a caça. Vamos precisar de coragem e da ajuda de Deus. Melhor andar de dia e parar de noite para evitar de nos perdermos." "Por que não tentamos a via mais curta, sugeriu o Tiago, a 116?" "Os caminhos conhecidos são os mais curtos", respondi. "E os mais seguros. Se Dino veio por aqui tinha as suas razões." Concordamos todos em seguir o caminho da ida. Eu tentava animar os companheiros mas sabia que os perigos seriam grandes.
A primeira dificuldade, e constante, foi a fome. Não agüentaríamos a viagem só com a "salada do pobre". Graças a Deus encontramos e comemos bichos dos mais variados: tatu, coelho, ratazana, até cobra, nada escapou à nossa ânsia. Agüentar a fome como agüentamos no ano negro também ajudou, já estávamos acostumados a driblar com o corpo. Não sofremos demais da sede graças aos rios e riachos da região que por sorte não faltam no sul. Bebemos também água de chuva e dormimos ao relento ou trepados em árvores. Quando faltava coragem os outros davam incentivo.
Preciso te falar um pouco do Carlos, Teodoro, em breve você vai entender por quê. Carlinhos tinha trinta anos na volta da terceira expedição. Era um homem magro, de olhar penetrante e estranho, muito sensível e falador. Ele teve uma vida atribulada, de metalúrgico, um belo dia largou a cidade para o campo sem ter tido nunca experiência de agricultor. Ele apanhou muito para aprender no seu campo de Barra Velha. Alguns riam do Carlinhos mas sempre senti admiração. Era um rapaz inteligente e corajoso, acho que com mais jeito para o estudo e o serviço de escritório. Era solteiro e pouco dado à vida social, bailes ou forrós. No fundo muito tímido e ensimesmado. Pois Carlos, sem ter culpa, arruinou todos os meus belos planos de caminhada para a nossa velha Barra Nova.
No primeiro dia da volta estávamos todos tontos. Na verdade ninguém queria acreditar que havíamos perdido o Gelo e muitos ainda olhavam para trás com a esperança de ver surgir o comboio 3. Mas era à toa. Gelo já estava longe, a caminho do Paraná.
Carlinhos continuava falando de comida. Qualquer coisa com comida boa e não boa, pura e impura. Zé Neto e Tiago andavam juntos e eu acompanhava David. Parecíamos seis vagabundos numa estrada sem fim. Fomos conversando, como conversamos quase que a volta toda. Falar dava coragem e evitava de pensar nos quilômetros. Carlos comentava:
Em Barra Velha fui o primeiro a plantar trigo. Os outros duvidavam, diziam que não renderia. Caçoaram e até rogaram praga. Mas fiz até um pão de oito quilos.
Oito quilos?
É. O trigo é planta pura, abençoada. Eu trouxe o pão a Barra Velha, que antes vinha todo de Piçarras. Aliás o pessoal de Piçarras, todo convencido, também não acreditava. Deus deu o trigo para nascer em qualquer lugar.
Talvez seja o plantio mais antigo do homem — disse David que tinha freqüentado o colégio.
Que nada — respondeu Carlos. — É a fava. A fava manteve o homem por milênios.
Como é que você sabe disso?
Sei de muita coisa que não ensinam na escola. Do que é puro e impuro, bom ou mau. Sei até do meu destino, que é sofrer para os outros...
Carlinhos é às vezes dado ao exagero — se intrometeu Zé Neto. — Que nem daquela vez que você contou ter comido um bezerro todo. Não é Carlinhos?
Olhe, acham que eu exagero. Dizem até que minto. Mas não é bem assim. E que às vezes a verdade de vocês acaba e eu sigo em frente...
Querido Mano Teodoro,
David Mauger viveu vários anos na Bahia mas deixou este estado numa direção desconhecida. Soubemos que ele casou e teve filhos. Parece que a mulher dele é finlandesa. Estas são as poucas informações seguras que obtivemos. O reitor leva a sério a tua pesquisa e está fazendo o impossível para achar o teu personagem. Soube que teu livro sobre os pioneiros está bem adiantado. Quando voltas à faculdade? Para a tua chegada daremos grande festa, daquelas de comer e beber até estourar a pança. Traga umas boas barricas de Barra Nova que o resto é por nossa conta.
Desenfaixei o braço a tempo de pegar o torneio de pingue-pongue. Cheguei até as quartas-de-final, nada mal para um ex-aleijado. Mas você ainda não sabe da maior notícia: estou noivo!! Pois é... Ela se chama Marta e é linda, linda, linda mesmo! Vou casar antes de ti, cuidado para não ficar pra titio, meu velho! Mande notícias.
Aquele abraço do apaixonado Zezinho.
A Castelo Branco não acabava nunca. Aos poucos passamos Itapevi e a placa de São Roque. Dava dó e raiva passar por tantos veículos abandonados e mortos. No segundo dia Tiago e Walmor teimaram em tentar dar a partida em alguns carros que pareciam em melhores condições. Foi pura perda de tempo. No mínimo as baterias estavam mortas. Eu que havia estudado mapas com o Dino sabia que ao acompanhar tão penosamente a Castelo estávamos acrescentando quilômetros. A Raposo Tavares, sem mesmo falar da 116, nos teria poupado bons dias de andança. Mas aprendi no mato com meu pai que os caminhos conhecidos são os melhores. Não falei nada ao grupo para evitar especulações e aventuras.
A estrada nos conduzia para oeste. Eram mais de cem quilômetros até Tatuí para finalmente seguir em direção ao sul. Os pés doiam, a fome doía, mas o jeito era ir avançando. Quando não há escolha não resolve se lamentar. Andamos debaixo da chuva, como debaixo do sol forte. Eu punha em volta da cintura o cobertor que trazia da Rua Valença. De noite dormíamos a três protegidos por ele. Levava nas costas o fuzil e no bolso a pouca munição. Um sapato meu já estava pedindo arrego e sabia que ele não agüentaria até Santa Catarina. David, a partir do terceiro dia, sofria de bolhas no pé e tosse. Cada um carregava as suas dores mas continuávamos avançando.
— Vou pra frente porque é a direção da Tuuliki — me falou David.
Pois acho que a cabeça move mais o homem do que ao carro a gasolina — respondi.
Quando chegarmos vamos direto pro hospital do Abraham — sentenciou Tiago.
Vou tirar umas boas férias lá — confirmou o Zé Neto.
Quero ser tratado a pão-de-ló — exigiu Walmor.
E com belas enfermeiras — acrescentou Tiago.
Vocês só pensam em comer — interveio Carlinhos — e substâncias impuras... Deus nos deu o pão, as frutas, os legumes, o leite, os peixes, a carne do boi, a água, o vinho e a mulher que amamos.
Lá vem mais um sermão. Poupe-nos, são Carlinhos...
Para você, Zé, não adianta sermão, teu lado não é o meu.
Gente — intervim —, se não nos entendermos todos nunca chegaremos a Barra Nova.
Em Barra Nova, se Deus quiser, acenderei vela e plantarei meu trigo. Viverei em paz.
Pois eu caso com a Tuuliki nem que precise raptá-la.
Meus sapatos não agüentam nem até o Paraná — disse o Walmor. — Vamos terminar a viagem todos descalços.
Os meus estão encharcados, mas duvido é que os pés agüentem até lá — acrescentou o David olhando para o chão.
Têm que agüentar, David. Pense na Tuuliki e na tua mãe.
Deve estar morta de preocupação. Por mim e pelo Dino. Será que eles se safaram dos Vândalos?
Só Deus sabe. Mas o Dino não se deixa abater fácil. Vi isso no ano negro e na fábrica.
Pois acho que ele sempre se arriscou demais...
Você vê, David, quando eu era moleque havia um campo muito bonito que era do seu Zacarias. Seu Zacarias tinha cercado o campo dele com arame farpado e deixava guarda de espingarda para atirar em quem invadisse a propriedade. Pois eu devia ter uns doze-treze anos e tava de olho numa flor muito bonita que crescia lá. Me apaixonei, e então nem te conto... O resto da molecada não queria muito arriscar levar um tiro no traseiro à toa. Pois para agradar a uma moreninha de quem nunca cheguei nem a pegar a mão, passei o arame e colhi uma flor pra Maria. Ela também se chamava Maria. A menina me esnobou, não deu bola. Mas quando o coração chora o que perdeu, o espírito se alegra com o que encontrou. Pois até hoje tenho muita pena de quem nunca se arriscou para colher uma flor...
No quinto dia passamos a placa de Sorocaba. A procura incessante pela comida atrasava a nossa marcha. Desse jeito não levaríamos um mês para alcançar Barra Nova, mas três pelo menos. Outra preocupação era o fato do Carlinhos estar a cada dia mais esquisito. Não aceitava andar ao lado do Zé Neto nem do Tiago. Só parecia tolerar ao David e a mim. Pelo Walmor aparentava indiferença. Carlinhos se sentia ameaçado mas eu não conseguia perceber os motivos. Continuava falando de comida pura e impura, era agressivo com Tiago e Zé e por vezes dava a maior importância a detalhes mínimos, um olhar ou uma palavra.
Por que você nunca solta este capim-gordo? — cismou o Carlos com o Tiago.
Tiago havia arrancado junto à estrada um ramo de capim-gordo que ia levando na caminhada.
Qual é o problema com este capim? — perguntou o Tiago.
Não se faça de inocente. Você não leva isto à toa. Conheço este capim... é comida de cavalo.
E daí?
Isto é planta negativa. Você não faz isto por amor.
Ora, Carlos, não amole. Pego a planta que eu quiser.
Precisei interferir e solicitar ao Tiago que largasse aquele mato. Por outra vez o Carlinhos nos surpreendeu a todos prevendo para a tarde uma chuvarada que nada deixava antever. Cismou toda a manhã que vinha o aguaceiro, e veio! Quando a chuva começou, ela não esfriou a cabeça de Carlos, que via nela uma espécie de punição divina.
Deus é grande! A água vai lavar nossos pecados...
Vai é encharcar a minha roupa e arrisca molhar a munição — interveio com mau humor o Zé. Isto provocou de novo o delírio de Carlos.
Com ou sem munição, estamos nas mãos de Deus. A tua arma é o que menos importa.
Ora, será que Deus manda uns frangos já grelhados para nós na viagem? Ou uma metralhadora se os Vândalos nos seguirem?
Os Vândalos estão bem longe — falei ao grupo. — São bichos da cidade e duvido que saiam de São Paulo.
Os Vândalos como esta chuva vieram porque os merecemos. Alguns membros da expedição não estão com Deus mas com o demônio.
Procurei pôr panos quentes porque via a hora do Carlinhos e do Zé Neto se pegarem a tapas.
Carlos, chega de acusações. Somos todos filhos de Deus. Ninguém é melhor ou pior do que os outros. — Falei isso com pouca convicção, mais para evitar atritos. Eu via melancólico que na ida a desavença de Dino e Fernando comprometeu a viagem. Na nossa volta Carlinhos cismado arriscava ter o mesmo papel.
A chuva só parou noite adentro. Não tínhamos como nos proteger dela e o nosso moral estava a zero. A água penetrava dentro da roupa e a colava ao corpo. A madrugada era fria e a tosse de David aumentou. Quando o dia clareou estávamos gelados, com frio e fome, e nada descansados. Mandei seguir viagem porque era preferível andar a ficar neste marasmo que eu via podendo ameaçar a nossa sobrevivência. As crises de tosse e os pés sofridos de David me preocupavam tanto quanto a cabeça de Carlinhos. O sol voltou e nos aqueceu um tanto. Perto do meio-dia fomos à cata de almoço. Salada do pobre e uma ratazana feia do mato foi tudo o que achamos.
Nós não possuíamos meio seguro para avaliar o número de quilômetros percorridos e eu não tinha idéia de quanto faltava para a estrada de Tatuí. Mas isso não foi o pior. Como desgraça pouca é bobagem, no dia seguinte começou o nosso maior problema. Naquela manhã, mais ou menos a meio caminho entre Sorocaba e Tatuí, o Carlinhos não quis mais avançar. Alegava que Deus não queria que ele seguisse viagem em companhia do Zé e do Tiago. Ia ficar sentado esperando a vontade de Deus, e falou qualquer coisa a respeito de um cavalo alado que viria buscá-lo.
Não tínhamos percorrido nem um décimo da volta. O nosso grupinho contava agora com um menino doente e um louco.
O que fazer? Tentamos argumentar com o Carlos mas nada o demovia de suas opiniões.
Carlinhos, Deus ajuda quem se esforça. Se você ficar parado aqui vai morrer nesta estrada...
Se esta for a vontade de Deus, não adianta espernear.
Venha conosco. Você não quer plantar o teu trigo em Barra Nova?
Não ando em má companhia. Se Deus quiser chegarei em Barra Nova muito antes de vocês.
Tive de apelar para a astúcia e a força. Pedi ao David para ficar conversando com Carlos e ocupar a sua atenção enquanto chamei os demais.
Gente — expliquei —, o único jeito é amarrar o Carlos com dois cintos e levá-lo numa maca. Senão ele morre por aqui...
Pô... Já estava com saudades de carregar maca!
Vamos carregar mil quilômetros?
Pelo menos até ele melhorar da cabeça.
Parece que não há outro jeito...
Pois é. Me dê teu cinto, Zé. Você também, Walmor.
É que sem cinto a minha calça cai...
Dá para amarrar com uma planta. Vou te ensinar.
Escondendo os dois cintos fomos nos aproximando de David e Carlos. Tiago e Walmor ficaram cada um de um lado e o seguraram pelos braços. Cometi a violência de amarrar as mãos dele com um cinto apertado enquanto o Zé Neto amarrava as pernas. Era a única maneira de não abandonar o companheiro e acho que Deus nos perdoou esta violência. Depois fabricamos uma maca improvisada com dois galhos e o meu cobertor. Zé e Tiago começaram carregando a maca e combinamos mudar a cada hora. É claro que o Carlinhos reclamava, mas depois de um tempo pareceu se conformar com a situação e ficou calado.
Carreguei a maca com Walmor. Zé e Tiago mais uma vez. Poupamos o David, que não estava em boas condições físicas. Antes de escurecer fomos de novo à cata de comida. Por sorte achamos uns pés de limão siciliano num sítio abandonado à beira da estrada. Apesar de amargos enchemos a barriga de limões, que eu comia com casca e tudo. David foi dando os limões roxos ao Carlos, que aceitou comê-los das mãos do rapaz. No primeiro riacho desamarramos as pernas do Carlinhos para limpá-lo e deixá-lo fazer as suas necessidades. Ele estava dócil e não tentou rebelar-se.
Na tarde seguinte, a sétima depois da saída de São Paulo, alcançamos o caminho de Tatui e Itapetininga. Dei graças a Deus e até me ajoelhei para rezar. Finalmente íamos avançar a caminho do sul.
Pensei comigo mesmo que se o Carlos quisesse impedir a nossa marcha, ainda poderia. Bastaria ir sacudindo o corpo na maca para dificultar o avanço. Para a sorte nossa (e dele) creio que isto não lhe passou pela cabeça. "Estou sendo levado contra a vontade!", era o que mais repetia. Ele ainda amaldiçoou o Tiago e o Zé: "Vocês verão o quanto custa servir ao demônio." Tiago não dava muita importância mas eu sentia que isto feria o Zé, que ainda penava carregando quem o xingava. Mas nos dois primeiros dias, Carlinhos ficou calado a maior parte do tempo.
A fome tira forças. Para carregar o Carlos eu penava mais que de costume. Sou baixo mas sou resistente. Já construí um galpão inteiro de mil metros quadrados, seis metros de pé-direito, com apenas um ajudante vez ou outra. Nesta obra eu não perdia o fôlego como na caminhada da maca. Quando abrimos a estrada para Massaranduba, na primavera que seguiu ao ano do cão, suei muito mas nunca perdia o ânimo. Na volta da terceira expedição sofria de cansaço, de dores, e ainda carregava com um olho no David, que me preocupava bastante.
Passamos Tatuí, e uns trinta quilômetros adiante uma aldeia chamada Morro do Alto. A SP 127, como a 250, sobe e desce sem parar, até Ponta Grossa. Eram uns bons quatrocentos quilômetros de curvas e ladeiras. Naquela noite o estado de David piorou e senti que ele ardia de febre.
Eu sei que a tortura me espera em Barra Velha. O túnel maior do mundo, como dizia o meu pai. Mas Deus me dará coragem para agüentar, é a graça que peço. Que eu tenha forças, forças até a morte. Tiago e Zé venceram, me amarraram nesta maca. Mané e David não entendem, não percebem que estes dois são o mal. Quiseram que eu engolisse comida impura mas eu resisti. Graças a Deus!
Resisti como quando trabalhava na prensa excêntrica aos doze anos de idade, dez horas por dia, todos os dias da semana e por meio salário mínimo. Como quando perdi o dedo na prensa excêntrica. Como quando quis cultivar trigo em Barra Velha diante da zombaria e das ameaças dos malignos. Resisti e continuarei resistindo, se Deus quiser. Como quando recusei a comida impura, resistirei.
David e Mané, e talvez Walmor, que não são do mal, serão as minhas testemunhas, meus apóstolos. Eles contarão o que passei, assistirão ao suplício e o dirão. Porque não se apaga o bem, mesmo vencido, mesmo matado. Quando eu ver Deus, se souber merecer esta graça, assistirei do alto à pequenez do mal. Do mal, do cão, do Tiago e do Zé, seus lacaios.
Deus me dará forças para resistir, porque isto Ele nunca me negou. Quando ao homem não falta coragem, falta sorte ou inteligência. Por isso o mal se manteve vitorioso até hoje. Mas sei que Deus espera o homem que terá a coragem, a sorte, a inteligência. Que não será mais um mártir e saberá ser vencedor. Neste dia acolheremos nosso Salvador, todos na Assembleia de Deus.
Todos nós. Os humilhados, os mártires, os torturados. Os que não souberam vencer o mal até hoje. Por ignorância, ou falta de coragem ou discernimento. A legião dos anjos acabará com o dragão e seus lacaios.
Todos nós. Os escravos, os filhos que apanham, que sofrem, que mendigam. Os que estão sós e desesperados. Os loucos também. Se falhei, sei que um dia virá um homem, outro filho de Deus. Ele terá a ciência do poeta, a coragem e a força de são Jorge. Ele vencerá.
O cachorro me respeita. Ele é a encarnação sofrida de outro vencido. Ele sabe que no fim dos tempos eu serei seu mestre e amigo e irmão. Ele entende mais porque já viveu, já sabe. Tiago e Zé também sabem, porque venderam a alma.
Igual ao gerente que não me deixou trabalhar com dedo a menos e meu pai desempregado. Bebendo. Não quero problemas com a caixa, rapaz, você está pela caixa. Como os malignos que não têm fé no trigo. Como a Fátima que não quis deixar a cidade. E como o meu pai que morreu de porre. Como todo o mal do mundo. Toda a comida impura, o sofrimento causado.
Quando chegar a hora da tortura em Barra Velha, serei forte, se Deus quiser. Como Cristo no martírio. Como a minha mãe na doença. Como os dois irmãos que perdi. Não aceitarei a comida do mal e nem a bebida. Por maior que seja a minha fome, por maior que seja a sede.
E então virá um anjo montado num cavalo alado e me levará ao Paraíso. Me ajoelharei diante da luz do Senhor. "Seja Bem-Vindo, Irmão Carlos", me desejarão os anjos. E do alto esperarei pelo Salvador do mundo.
"Darei pão aos que têm fome, darei água, aos que têm sede", falou o Cristo. Isto Ele me dará depois do sofrimento. A cobra continuará reinando na terra por algum tempo. Acho que por pouco tempo.
Quando Deus me receber, serei luz. Só luz. Na Assembleia de Deus serei feliz, sempre feliz. Não vou me reencarnar em sapo, ou cão, ou cobra. Terei esta imensa graça, se Deus quiser.
Se eu agüentar o túnel em Barra Velha, se agüentar... Deus me dará forças, isto Ele nunca me negou. Obrigado, Senhor. Que a Vossa vontade seja feita... Obrigado. Muito obrigado.
O destino nos salvou no dia seguinte. A poucos quilômetros de Itapetininga avistamos um caminhão abandonado pelo comboio do Gelo. Era um baú que eu conhecia, o motor havia fundido, provavelmente por falha do motorista. E na pressa de seguir viagem Gelo havia deixado quase tudo no baú, inclusive comida. Foi uma festança e tanto. Havia lá feijão, latas, sardinhas e goiabada, além de alguma munição que servia para o meu rifle e o do Zé Neto. Tive até de moderar o apetite dos companheiros, com medo de alguma indigestão. Ninguém mais falava, só comia. Passamos todo o resto do dia dentro do baú e dormimos lá mesmo. Teto e comida pela primeira vez em mais de dez dias, foi uma felicidade.
Muito a contragosto deixamos o baú na manhã seguinte. Enchemos os bolsos de latas de comida e ainda carregamos alguns sacos. Reiniciamos a nossa longa andança. A comida fez bem a David e baixou a febre, mas os pés dele continuavam em sangue e bolhas. Andar era um sofrimento contínuo. Levei um pano grande do baú, caso precisasse de outra maca para o menino e também para nos cobrir de noite. As noites são frias no sul, e aliadas à fome eram a nossa maior inimiga.
Andamos bem umas quatro horas. De repente David começou a berrar feito um louco:
A bateria! A bateria! A bateria do caminhão...
Que tem a bateria?
A bateria do caminhão do Gelo deve estar funcionando.
É só passá-la para qualquer veículo abandonado! A voltagem é a mesma...
Paramos para pensar. A idéia de David parecia viável. Se conseguíssemos ligar a bateria do baú a um carro qualquer abandonado da estrada, teríamos um veículo funcionando. Era só chupar a gasolina do próprio baú ou de algum outro carro. Resolvemos tentar e demos meia-volta. Fizemos o percurso de volta até o baú em menos de três horas, tamanha a excitação que a idéia provocou. E antes de anoitecer alcançamos o baú abandonado.
Passamos mais uma noite no caminhão. De manhã tiramos a bateria e recuperamos um velho Rural Willys que parecia em boas condições mecânicas. A bateria do caminhão era maior que a do Willys, mas demos um jeito e deixamos o capô meio levantado. Filamos gasolina do baú, e óleo também. E chegou a hora da verdade.
O carro não queria pegar. Estava há mais de dois anos parado e bem reticente. Além disso a parte elétrica do painel não funcionava, de modo que eu não tinha plena certeza quanto à bateria. Mas o Walmor teve a idéia salvadora. A cinqüenta metros do nosso local começava uma boa ladeira. Empurramos o carro até lá e tentamos fazer pegar no tranco. Da primeira e da segunda brecada nada aconteceu. Mas da terceira vez ouvimos o som bendito do motor, o carro funcionava!
Foi uma felicidade, Teodoro, que nem te conto. Parecíamos crianças e o Zé Neto soltou uns tiros para o ar. Subimos na Rural, comigo no volante, Carlinhos deitado e sempre amarrado atrás, David e Ulisses no espaço traseiro. Tiago ficou com o Carlos no banco e os dois outros companheiros, Zé e Walmor, sentaram na frente. O motor da Willys ainda zumbia e este som era a mais linda das músicas. Então o carro começou a avançar. Se Deus quisesse, em dez dias no máximo estávamos salvos em Barra Nova.
Fui guiando o carro a quarenta quilômetros por hora, ainda receoso de algum desastre mecânico. A cada hora que passava percorríamos uns bons dois dias caminhando. Passamos Itapetininga e Capão Bonito. Dormimos no carro e no dia seguinte catamos mais gasolina. A gente ia brincando na Willys de tão fácil e gostosa que parecia a viagem.
De Capão Bonito seguimos para Itapeva, contornando a serra de Paranapiacaba. As notícias eram boas. David melhorava da febre e um pouco dos pés. Carlinhos continuava quieto e aceitava a comida. No carro era só alegria.
Quero ver a cara deles em Barra Nova ao chegarmos — comentou David.
Este carro é meu lá — afirmou o Zé Neto.
Pois eu vou acender vela na Capela São Bosco — disse o Walmor.
Vamos confiar o Carlinhos ao doutor Abraham, ele faz uma "spicoterapia" nele.
Que spicoterapia! É psicoterapia — disse David, que tinha estudo.
Você entendeu, não entendeu? Então não me acorrege...
Rimos como crianças enquanto o Paraná se aproximava.
O que é bom dura pouco. A poucos quilômetros do rio Itararé a Willys pifou de vez. Tentamos tudo mas ela não queria mais avançar. Depois de um dia inteiro tentando salvá-la nos conformamos a reiniciar a viagem a pé. Tentamos colocar a bateria numa Belina da estrada mas de nada adiantou.
De novo andando e de novo carregando maca. Carlinhos estava um tanto prostrado mas respondia às perguntas e comia o que lhe dávamos. No fim daquele dia alcançamos o rio Itararé, divisa dos dois estados e já pernoitamos no Paraná. Talvez o Gelo abandonasse outro caminhão e se repetisse o milagre. Eu tentava reconfortar Zé e Tiago, abatidos por terem que trocar o conforto do carro pela andança. Levamos dois dias e meio para atingir Jaguariaíva, a primeira cidade paranaense. Na verdade eu estava mais confiante, pois graças à Willys e ao nosso esforço já havíamos percorrido um bom terço do caminho. Até mesmo mais da metade se alguém nos esperasse na Colônia Esperança. Era animador. Mas por outro lado as provisões do baú estavam acabando e logo voltaríamos a viver de expedientes.
A sorte continuava conosco. Ao atravessar Jaguariaíva deparei com uma pintura azul desbotada numa parede. Indicava "Bicicletaria" e havia uma seta embaixo. Percebemos que isto poderia ser outra salvação e seguimos a seta até uma loja velha de cortina de ferro abaixada e ainda com a placa: "Bicicletaria São Jorge." Arrombamos a grade e demos com o tesouro: dezenas de bicicletas de todos os tamanhos e bem empoeiradas. Sem mesmo conversar, só na excitação da descoberta, desmontamos uma bicicleta de criança e aproveitamos as duas rodas para a maca de Carlinhos. A maca ambulante seria puxada por um dos ciclistas. Ulisses poderia acompanhar a bom passo.
E deu certo. Saímos da cidade pedalando e de novo otimistas. A gente penava bastante nas ladeiras, mas para quem andava a pé a bicicleta é um progresso inapreciável.
— Só falta experimentar jegue ou cavalo — disse jocoso aos companheiros.
Em apenas dois dias, a boa velocidade, chegamos a Castro. Ponta Grossa estava bem perto. E no dia seguinte cruzamos com as baratas donas de Ponta Grossa. Não paramos na cidade de nojo dos insetos. Decidi que dormiríamos em Vila Velha, eu queria rever os arenitos.
Assim foi. Com a noite caindo chegamos aos monumentos. Subimos no alto e lá estava a inscrição que o Dino havia gravado na primeira viagem: "Aqui esteve a primeira expedição de Santa Catarina nove meses e dezessete dias depois da noite de um ano." Reparei então que quando Dino havia inscrito a palavra "primeira", já estava bem decidido a empreender outra viagem. Não era homem de desistir fácil. Me deu vontade de acrescentar na placa que aí também estiveram seis homens e um graxaim, voltando sem veículo de São Paulo a Santa Catarina.
Nesta noite David teve um sonho. Viu o padrasto que lhe dizia: "Não parem em Campo Largo. Siga direto, meu filho." David acordou muito abalado pois este sonho lhe trouxe a convicção que o Dino havia morrido. David não encontrou mais o sono pelo resto da noite e tentei reconfortá-lo. Ambos sentados nos arenitos, na noite escura, não enxergávamos a dois palmos. Um dos companheiros roncava e David chorou baixinho.
Contei a David meu outro sonho feito neste mesmo local. De como a morte talvez não seja o fim de tudo. Do tão pouco que entendemos dos mistérios do mundo. "Se você sonhou com o Dino, é porque ele não acabou. Ele há de te proteger por toda a tua vida." Passei o braço em volta do menino, que reprimia o choro. Aquela noite, pela primeira vez David me falou do seu pai. "Meu pai brigava feio com a minha mãe, até que ela se separou. Me catou e ao meu irmão e fomos morar sozinhos em Jerusalém. Uma semana depois, encontrou o Dino que dava aulas em Israel. No ano seguinte nos mudamos para a França. Eu tinha sete anos mas não esqueci os acontecimentos."
Com a madrugada os companheiros acordaram, queixando-se do frio e da fome. Walmor reparou que David tinha os olhos vermelhos.
Que foi, meu rapaz?
Nada, não liga não. Saudades do Dino.
Ora, o Capitão já está em Barra Nova preparando outra expedição — brincou o Walmor. Mas a sua voz soava bem falsa.
Aos Irmãos das Comunidades de Itajaí, Brusque, Nova Florianópolis e demais.
Tenho, irmãos, o doloroso dever de informá-los da destruição dos comboios 1 e 2 na cidade de São Paulo. Os homens dirigidos por Dino Fontana e Fernando Teixeira foram atacados de surpresa por sobreviventes atingidos nas ruínas da Praça da República. Estão atualmente desaparecidos:
Quatrocentos e quarenta e cinco homens, incluindo Fernando Teixeira, Dino Fontana, seu filho David, doutor Luís Carlos, doutor Francisco Fonseca, sete cientistas e oito enfermeiros.
Oitenta e um caminhões, doze jipes, seis tratores, dois guindastes e um rolim.
Todo o material de posse dos comboios na hora do ataque.
O comboio 3, sob minha direção, não penetrou até o centro de São Paulo mas perdeu seis caminhões, dois jipes e vinte e quatro homens. Estamos realizando um relatório detalhado, que lhes será enviado muito em breve.
A maioria dos desaparecidos foi morta, mas várias dezenas de companheiros sobreviveram ao ataque em São Paulo. Sugiro que seja enviada com a maior urgência uma expedição militar para socorrê-los e castigar os seus assassinos. Os meus homens que conhecem o caminho até São Paulo estão todos dispostos a partir a qualquer hora.
Que Deus proteja os nossos companheiros!
Gelo, responsável do comboio 3 da Expedição São Paulo.
- Você conhece a história, David, da Senhora Baratinha que tinha fita no cabelo e dinheiro na caixinha?
Senhora Baratinha, Mané? Você também tá ficando mole do coco?
Tô nada, David. Quer ouvir a história?
Vai firme. Quem sabe esquecemos uns quilômetros...
Pois a Senhora Baratinha tinha fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Era um bom partido e queria casar. Então saiu à sua janela e anunciou: "Quem quer casar com a Senhora Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha?" Certa de que ia abafar...
Se eu casar um dia na vida, será com a Tuuliki.
Não quero perder esta festa. Primeiro passou um burro e era pretendente ao casamento. Mas a baratinha perguntou: "Qual é o ruído que você faz?" O burro nem pestanejou e gritou "Hi han..." assim como um burro faz. A Senhora Baratinha não gostou, achou muito barulhento. Depois veio um grilo, de terno e gravata, muito comportado. Mas a baratinha também não gostou do ruído do grilo e não aceitou o casamento.
Eu só caso com a Tuuliki. Os pais queiram ou não...
Finalmente apareceu um intelectual, o doutor João Ratão. Era um ratinho muito sabido, com pós-graduação nos Estados Unidos e etc. Dona Baratinha ficou encantada e marcaram a festa de casamento.
Pois eu só caso...
Já sei. Com a Tuuliki, né?
Isso mesmo. Mas pode contar a história...
Doutor João Ratão tinha um defeito: era muito guloso. A cidade toda preparou a cerimônia, era um acontecimento e tanto. Fizeram um feijão delicioso, com toucinho e tudo para depois da entrevista com o padre. Doutorzinho João Ratão já estava vestido de fraque e cartola quando sentiu o cheirinho daquele feijão. Pensou, se eu passar uma lambiha ninguém vai perceber. Subiu no panelão... e caiu dentro do feijão!
Não brinca! Garçom, tem um doutor no meu feijão...
A baratinha toda de branco esperava na igreja quando ouviu os gritos do João Ratão dentro da panela. Foram tirar o noivo todo envergonhado, lambuzado de feijão, toucinho e tudo. Foi um vexame. Então Dona Baratinha desmanchou o casamento e voltou à sua janela. E até hoje continua cantando: "Quem quer casar com a Senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha?"
E daí?
E daí nada. Acabou a história.
Final mais sem graça. Me lembrou de uma outra, de um astrônomo que caiu num poço. O que te fez pensar na Dona Baratinha, Mané?
Talvez as baratas de Ponta Grossa. Você sabia, David, a barata é um bicho esquisito, muito antigo. Agüenta tudo, inclusive altas diferenças de temperatura. Para elas menos quarenta graus e refresco.
Elas nunca entram em fria?
Enquanto você não perder o senso de humor, doutor, está tudo bem.
Então, no ano da noite estavam numa boa?
Provavelmente. O homem pode desaparecer, ficam as baratas e os ratos... Mas o que você está fazendo, David?
Chega! Eu paro! Vou esperar pelos jipes do Gelo. Não dou mais nem um passo, com ou sem bicicleta...
Anda já, rapaz! Ou você tem sangue de barata?
Tomamos o caminho complicado que evitava os grandes centros de Curitiba, Pinheirinho e São José dos Pinhais. Se Deus continuasse ajudando, em breve encontraríamos a BR 376 e a serra Negra. Só que uma manhã, ao acordar ao sul de Campo Largo, nos vimos rodeados de atingidos.
Fui falar com eles e explicar que éramos amigos e sobreviventes de uma expedição a São Paulo. Aquele que parecia ser um dos chefes perguntou, indicando o Carlinhos, por que mantínhamos aquele homem amarrado. Tentei explicar que ele estava transtornado, com problemas mentais, mas os atingidos, que eram muitos, exigiram que eu o desatasse. Nós não estávamos preparados para uma resistência e precisamos obedecer. Soltei o Carlinhos, que foi conversar com os atingidos. Carlos contou que Zé e Tiago eram demônios, que David, Walmor e eu uma espécie de inocentes manipulados pelo mal. Citou a Bíblia e impressionou bastante aos atingidos. Estes se voltaram para nós e nos obrigaram a acompanhá-los até a sua comunidade. Confiscaram as nossas armas e as preciosas bicicletas.
Fomos andando por um caminho de mato até um grande conjunto de palhoças onde vivia aquela gente. No percurso os atingidos só falavam com o Carlos e mantinham uma mudez pouco amigável conosco. Até que o chefe nos mandou, aos cinco mais o cachorro, ficar numa choupana bem vigiados e voltou a conversar com Carlos.
Ficamos umas boas três horas assim trancados. Umas crianças nos trouxeram água e uma comida à base de farinha. Nos jogamos esfomeados sobre os pratos. Também deram um osso de galinha ao Ulisses. A noite caiu e o jeito foi se acomodar e dormir no chão.
No dia seguinte pedi para falar ao chefe. Expliquei que queríamos prosseguir viagem com o nosso amigo, que só o amarramos porque ele não queria mais andar. Propus até aos atingidos virem conosco, contando que em Barra Nova havia luz, escola, hospital, etc. O chefe me ouviu com atenção mas não mudou de idéia.
Vocês estão do lado do mal. O senhor Carlos é um justo. Seguirei a opinião dele.
Tentei de tudo para convencê-lo mas sem sucesso. No fim ele encerrou a entrevista dizendo:
Nós não lhes faremos mal. Mas terão de ficar aqui e trabalhar no nosso campo para merecer a comida. Vocês são os nossos hóspedes por tempo indefinido.
O chefe se levantou e não me deixou dizer mais nada. Inconformado, fui levado de volta à choupana para contar aos companheiros o ocorrido.
Prisioneiros de atingidos, só nos faltava essa! David então lembrou o sonho de Vila Velha com o Dino o aconselhando a evitar Campo Largo.
Estamos em maus lençóis — disse o Zé Neto apreensivo. — O louco do Carlos é capaz de aprontar uma...
Repeti que o chefe havia dito que não nos fariam nenhum mal. Mas era preciso sair dali, recuperar as nossas armas e bicicletas. Não seria fácil pois os atingidos pareciam ser várias centenas.
Naquela tarde Carlos veio conversar conosco. Percebi então que ele era a nossa única chance de sair da aldeia dos atingidos. Me esforcei em fazer a cabeça dele neste sentido.
Carlos — expus —, Deus nos levou de São Paulo ao Paraná. Ele quer que voltemos todos a Santa Catarina. A mãe de David precisa rever o seu filho, eu quero ver a minha mulher e a minha filha. Você pode nos ajudar, Carlos. Precisamos do teu auxílio.
Carlos não estava de todo convencido mas não rejeitava o que eu dizia. Insisti até ele responder:
— Vou pensar, Mané. Vou rezar esta noite. Se for a vontade de Deus voltaremos todos a Barra Nova...
A nossa sorte dependia da cabeça de Carlos. De manhã ele não apareceu e fiquei apreensivo. Se ele não voltasse eu não teria ocasião de tentar convencê-lo. Pelo meio-dia nos serviram de novo a farinha com água. E à tarde quem veio foi o chefe dos atingidos com quem eu havia falado na véspera.
O vosso amigo, que é um justo, diz que vocês devem prosseguir viagem até Santa Catarina. Vamos devolver as suas armas mas ficamos com as bicicletas.
Chefe, nós precisamos das bicicletas. São muitos quilômetros até Santa Catarina.
Nós ficamos com as bicicletas. São úteis para nós. Mas vocês podem seguir amanhã de manhã.
Saiu da choupana e nunca mais o revi. Na manhã seguinte os atingidos nos devolveram as armas e os pertences. Nos deram também uma boa porção de farinha para a viagem. Carlos finalmente apareceu, todo radiante.
Você tinha razão, Mané. Devemos é voltar...
E passou a andar conosco, sem necessidade de cintos e maca. Voltamos à estrada e reiniciamos a jornada. "Vamos sempre deixar guarda de noite agora", decidi. "Perdemos as bicicletas, não quero perder a vida." E retomamos o caminho da 376, contornando a capital.
No Paraná, dois ou três dias depois de soltos pelos atingidos, pegamos a maior tempestade da viagem. Chuva, trovoada, relâmpagos, era assustador. Começou pela tarde e o céu ficou negro, como se a noite tivesse caído antes do tempo. O vento levantou e o temporal começou. Estávamos sem abrigo e não deixei ninguém sob as árvores por medo dos relâmpagos. Árvore alta e isolada atrai os raios. Sentamos no asfato mesmo, esperando passar aquela fúria. Eu observava Carlinhos com medo que visse na tempestade mais alguma vontade divina, mas ele não dizia nada. Parecia conformado com a volta e mais calmo do que no início da viagem.
A tempestade continuou noite adentro. A menos de cem metros do local onde estávamos agachados várias árvores foram derrubadas. A natureza tem forças prodigiosas e quando as solta, saia de perto! O vento uivava sem cessar e carregava a chuva quase na horizontal. Por fim o tempo se acalmou e as estrelas apareceram. O mundo parecia apaziguado. Encharcados e exaustos dormimos lá mesmo. Deixei o Walmor de sentinela, que me acordasse às duas horas para vigiar os companheiros.
De noite Walmor me acordou e foi descansar. Com o rifle na mão eu observava o sono dos meus amigos. Enquanto Ulisses permanecia quieto sabia que não havia perigo. De vez em quando ele levantava e observava numa determinada direção. Em geral era algum bicho do mato que seus sentidos adivinhavam. A sabedoria dos animais é outra que a dos homens e deve possuir muitos segredos de que nem suspeitamos. Eu já morei sozinho, antes da guerra, vigiando uma construção numa região afastada e dada a malandros. A minha cachorra me salvou a vida um bom par de vezes.
Madrugou e continuamos a jornada. A farinha dos atingidos já havia acabado mas no Paraná tivemos mais sorte com a caça. Matamos até uma grande capivara que deu um belo festim. E finalmente atingimos a nossa estrada 376. Estávamos agora muito perto da colônia Esperança e da salvação. Naquela noite não encontrei o sono e me propus de vigia. Achava que no dia seguinte alcançaríamos a colônia, que devia contar com jipes, comida e toda a assistência. Estava excitado como um colegial que conseguiu uma façanha: trazer o seu grupo por quase oitocentos quilômetros nas condições do pós-guerra. Mas o destino nos reservava mais dificuldades.
Ao meio-dia alcançamos a colônia, estava deserta. Só fomos entender a razão muito depois, em Barra Nova. A volta do Gelo e o seu relato sobre os Vândalos assustaram os colonos, que preferiram voltar com ele. Aliás, o pavor dos Vândalos se estendeu até Florianópolis e o sul do estado. Por vários anos impediu qualquer outra tentativa de recolonização.
Nós não sabíamos, mas em Barra Nova Gelo tentava desesperadamente armar outra expedição para salvar os sobreviventes e punir os Vândalos. Nada conseguiu. O medo dos nossos patrícios foi tamanho que não aceitaram mais arriscar um jipe sequer. Durante muitos anos para nós, antigos das expedições, ficou a mágoa de não ter podido tentar salvar os companheiros de São Paulo.
O homem é assim, Teodoro. Os Vândalos de São Paulo conseguiram assustar mais a mil quilômetros de distância do que aqueles mesmos que atacaram.
Passamos a noite na colônia Esperança. Foi um golpe duro vê-la toda abandonada. Meu receio era agora a serra Negra e a sua neblina. Eu também temia os cachorros selvagens das matas de Guaramirim a Massaranduba. Resolvi tomar algumas precauções para a serra. Levamos corda da colônia; se a neblina fosse bem brava subiríamos amarrados uns aos outros para não nos perdermos. Também fiz uma coleira para o Ulisses. E voltamos a caminhar. A comida já não era problema pois havíamos achado na colônia do bom e do melhor. Frutas, carne-seca, legumes, havia de tudo. Levamos uma boa reserva que, se Deus ajudasse, daria para os cento e cinqüenta quilômetros que agora nos separavam de Barra Nova.
Mal atingimos a serra, a neblina estava lá. Reuni o grupo e confiei o meu plano:
— Do outro lado é Santa Catarina. A serra é o último grande obstáculo. Vamos subir todos amarrados e proponho andar também de noite até passar a montanha. Uma tacada só! Todos toparam e entramos neblina adentro. Eu ia na frente segurando Ulisses na coleira. Atrás vinha Walmor, Carlos, David, Tiago e Zé. Eu não enxergava além do David. Carregávamos arma, comida e cobertores recuperados da colônia. Parecíamos um grupo de alpinistas maltrapilhos.
A meio caminho da subida David não aguentou mais dar um passo. Seus pés haviam voltado a inchar e ele sofria demais. O jeito foi carregá-lo nas costas e continuar subindo. Isso não foi brincadeira; David, que era alto, devia pesar seus oitenta quilos e a estrada só subia. De dez em dez minutos eu revezava com Walmor, que era forte, ou com Tiago e Zé. Puxava a corda e os companheiros vinham carregá-lo.
Agüentamos com heroísmo toda aquela marcha. David se desculpava de trazer tanto transtorno, mas não tinha culpa de nada. Estávamos tão decididos a vencer a serra que o fizemos numa única marcha. Acho que a raiva nos empurrava para a frente. Ninguém mais falava, eu só ouvia a respiração dos companheiros.
Andamos a tarde e a noite toda, e carregando David. Quando madrugou já estávamos descendo e a neblina era mais fraca. De manhã caímos no chão, já embaixo da serra, e ninguém teve coragem de ficar vigiando. Todos estavam por demais exaustos.
Acordamos de tarde e seguimos até a altura de Garuva. Estávamos em Santa Catarina! Agora eram vinte quilômetros até Pirabeiraba, a pista contornando Joinville, Guaramirim e a casa... Faltava pouco para rever Maria e Cecília. Minha filha devia estar bem crescida. Será que lembrava do pai? Até Garuva eu procurava não pensar na minha família. Mas estando mais perto meu peito apertava de saudades. Os outros companheiros pensavam da mesma forma e não viam a hora de entrar em Massaranduba.
Mais um dia e foi a chaminé derrubada de Pirabeiraba. Uma grande coruja branca saudou a nossa passagem. Sempre com David nas costas tomamos a pista de terra batida que havíamos ajudado a abrir.
Se Deus quiser, mais quatro dias e é Massaranduba. Ainda não consigo acreditar...
Acho que merecemos uma medalha — disse Walmor. — São Paulo-Joinville a pé!
E comigo nas costas — falou David.
Doutor Abraham vai cuidar dos teus pés. Em dois dias você fica bom.
Deus lhe ouça, porque está uma tortura.
Os quarenta quilômetros da pista ainda nos detiveram dois dias. Carregar David cansava a todos e, embora ninguém o dissesse, atrasava bastante. Carlinhos também tentou carregar o rapaz, mas magrinho do jeito que ele era não conseguiu andar cem metros.
E uma bela manhã que não esquecerei avistamos o trevo de Jaraguá. Tiago chorou ao alcançar o trevo. Estávamos arrebentados, esgotados, e quase a salvo.
O último grande susto levamos perto de Guaramirim. Ulisses estava nervoso e rosnava sem cessar. Mandei cada um empunhar a arma e ficar atento. Estávamos numa zona de mato alto e eu não via a hora de sair em campo aberto.
De repente uma dezena de cães selvagens apareceu à nossa frente. Não tive dúvidas e mandei atirar. Alguns foram feridos mas a maioria dos companheiros errou o alvo. Estávamos na verdade tão esgotados, física e mentalmente, que mal conseguíamos fazer pontaria. Havíamos todos emagrecido muito, Carlos parecia um esqueleto e Tiago não ficava trás. Eu sentia dores nos ossos e nas costas. As dores me acordavam de madrugada. Zé tinha crises de tosse, uma antiga bronquite. que havia acordado. Nos arrastávamos por teimosia.
Foi Ulisses quem nos salvou. Pulou ao ataque, um contra dez. Os cachorros ficaram doidos e não nos deram mais atenção, só atacavam ao graxaim. Tivemos tempo de acertar a pontaria. Sentei David no chão e fui atirando. Acertamos vários deles, mas eles só deram trégua uma vez Ulisses massacrado.
Deixaram o nosso amigo estraçalhado na estrada. A jugular aberta e o sangue jorrando. Em volta dele quatro ou cinco cães também estendidos no chão. David não conteve o choro pelo Ulisses. Queria enterrá-lo mas dei ordem de seguir rapidamente, temia uma volta dos cães. Fomos andando a bom passo e deixamos o mato para trás. Os cães não voltaram.
Cerca de uma hora depois entramos em Guaramirim. O susto com os lobos foi grande e ninguém tinha mais forças para continuar. Pensei em alguém ir na dianteira pedir socorro até Massaranduba, mas rechacei a idéia. Era perigoso mandar um companheiro sozinho. Ficamos aquela tarde e a noite toda numa rua escura de Guaramirim em volta de uma fogueirinha improvisada.
Gente, amanhã vamos dormir em camas de verdade!
Já esqueci como é que é...
Amanhã, David, você encontra a tua mãe e teus irmãos. E a Tuuliki...
Graças a você, Mané. E aos outros irmãos.
Só quero ver a cara deles em Massaranduba quando chegarmos. Não vão acreditar.
E eu nunca mais ando na vida. Chega de expedições. O bom é ficar em casa.
Estou estranhando o Gelo não ter voltado à nossa procura. O que será que aconteceu? — perguntou Zé Neto.
Talvez ele tenha passado quando estávamos com os atingidos — falei.
Ele tinha tempo de fazer duas idas e voltas. Ou três...
De qualquer forma amanhã teremos a resposta. Estamos a vinte quilômetros de casa.
David estava quieto, massageando os pés, deitado como nós todos. Tiago mantinha a guarda. Era bom se sentir tão perto da vida organizada. Comemos quase tudo o que sobrava da nossa reserva.
Esta maçã deixo para amanhã. Na verdade tivemos sorte. A Rural Willys, as bicicletas...
A comida no baú e na colônia.
Pois eu acho que também tivemos coragem. E força de vontade.
É. Pés pra que te quero...
Quem ensinava força de vontade era o Dino — falou o Walmor. E logo se corrigiu. — Aliás, ensina; tenho certeza de que ele também se safou dos Vândalos.
Disso eu não duvido — acrescentou Tiago, de pé com a espingarda. — O Capitão tem sete vidas.
David do outro lado da fogueira interveio com uma voz fina de criança:
Não adianta disfarçar. Dino está morto. Eu sei...
Às cinco horas do dia seguinte um agricultor de Massaranduba viu chegar na estrada cinco homens sujos, de roupa rasgada, carregando um menino. O camponês se assustou e pensou que eram os tais Vândalos de quem todo mundo falava. Largou a enxada e saiu correndo.
Tentei gritar: "Não tenha medo! Ajude-nos!", mas o homem fugiu a toda. Continuamos avançando e pouco depois surgiu um jipe. Nele havia o padre da Capela São Bosco. O jipe veio até nós sem receio.
Somos sobreviventes, padre, da expedição de São Paulo.
Sejam bem-vindos. Vou levá-los para Barra Nova.
Trepamos todos no jipe e o padre que guiava não parou em Massaranduba, pegou a estrada direto para Barra Nova. Com a noite já escura o jipe nos deixou no hospital. O padre foi então chamar o prefeito, doutor Abraham e os nossos parentes. No hospital tomamos a primeira refeição quente em mais de um mês. Nos deram café com leite e pão de verdade com manteiga e geléia.
A cidade toda já sabia da nossa chegada e as pessoas iam invadindo o hospital. Vocês sabem de Fulano? E de Sicrano? Os parentes dos companheiros mortos em São Paulo queriam todos saber do pai, do irmão, do marido. Eu não tinha coragem de tirar-lhes a esperança. Até que o doutor Abraham expulsou todo mundo dizendo que precisávamos nos recuperar. Só deixou os nossos familiares. Revi Maria e a minha filha. Maria foi logo dizendo:
Deus ouviu as minhas preces — e chorou como uma criança.
Não chora, Maria, que a Cecília se assusta. A esposa do Capitão abraçou o filho como uma menina a uma boneca. Só Carlinhos que não tinha parentes em Barra Nova ficou sozinho, mas acho que partilhava da nossa felicidade.
Dino está morto, mãe — sussurrou David.
Eu sei, meu filho. Como sabia que você vivia...
Às dez horas doutor Abraham pediu aos parentes que nos deixassem dormir. Ele já havia examinado cada um de nós e indicado remédios ou sedativos.
Quero que vocês durmam umas doze horas — confiou. E apagou as luzes.
Estávamos em camas de verdade, com lençóis limpos e em segurança. Chorei baixinho de felicidade e ouvi que David também chorava. Passamos a conversar no escuro, como colegiais numa colônia de férias.
Conseguimos, Zé. Que tal o teu colchão?
Ficava mais macio com aquela enfermeira loira que me deu os remédios...
É a filha do padeiro. Quando partimos para São Paulo ela ainda era solteira.
Bem que o doutor Abraham podia receitá-la para mim.
Vocês só pensam em sacanagem.
Não venha me dizer, Carlinhos, que ela é comida impura...
Eu não sou puritano. Deus deu a mulher para o homem e o homem para a mulher.
Pois fez muito bem. Acho que o homossexualismo não tá com nada...
Amanhã, se o Abraham me solta, vou ver a Tuuliki...
Para quando é o casamento, David?
Para muito breve, Mané. Os pais dela não poderão recusar um herói da expedição como genro.
Se recusarem, vamos todos com os rifles sugerir que mudem de idéia.
A porta se abriu e entrou a enfermeira loira dos sonhos de Zé Neto.
O doutor mandou vocês dormirem, não ficarem tagarelando. Boa noite!
Foi assim, Teodoro. David casou com a Tuuliki aquele ano. Foi uma festa bonita e a mãe dele chorou muito. A vida voltou ao normal. Carlos cultivou o seu campo de trigo. Eu voltei a trabalhar na Fibrasul, que a esposa do Capitão administrava. Zé, Walmor e Tiago retornaram aos seus ofícios. Uma vez por ano o Gelo organizava um banquete para os sobreviventes das viagens.
Eu tive mais filhos. Agora tenho netos e bisnetos. Do grupinho de seis que voltou de São Paulo só David e eu continuamos vivos. E comigo não será por muito tempo. Dez anos depois da terceira expedição, quando voltou a reconquista do país, a primeira grande colônia foi chamada Dino Fontana. Em homenagem ao homem que abriu o caminho do resto do mundo e nunca aceitou a destruição da guerra nuclear.
O homem é um bicho esquisito, Teodoro. Capaz do bem e do mal, de alguma lucidez e da maior cegueira. Você é filho dos novos tempos, não conheceu o mundo de antes do apocalipse. Diziam que aquele mundo se havia tornado uma grande aldeia. Foi sim é uma grande mentira. O homem voava, em algumas horas ia para Nova York ou Paris. Mandava foguetes para Vênus, Marte e mais além. Mas nunca foi capaz de sentar e abolir as armas. Todos sabiam que os arsenais eram suficientes para acabar com a vida humana e ninguém podia se privar deles. Todos sabiam que a cada ano as bombas eram mais terríveis e mais numerosas. Falavam em equilíbrio do terror. Por que não em equilíbrio da paz?
Você não pode ter, Teodoro, saudade daqueles tempos porque não os conheceu. Dino tinha e muitas. Eu era um homem pobre, trabalhador muito ignorante. Ele era viajado, estudado, conhecia dezenas de países. Eu nunca havia visto o exterior, nem nunca verei. Ele conhecia as potências de então, Rússia, Europa, Estados Unidos, países imensos e de muita riqueza. O mundo talvez parecesse mesmo uma aldeia para os ricos.
De quem se protegiam estes países com tantas armas? Até hoje não consegui entender. Existe uma coisa muito profunda no homem: é o medo. Se não sentisse medo o homem seria um semideus. Mas o homem tem medo da luz e do escuro, tem medo do frio e do calor, tem medo dos outros homens. Talvez tenha medo é de si mesmo. Inventa grades, polícia, exército e foguetes para, protegê-lo. Para protegê-lo do quê?
Às vezes penso que o medo vem lá das cavernas. Das milhares de gerações em que nossos ancestrais estavam desarmados face aos bichos perigosos, ao frio e à escuridão. O homem inventou cidades para proteger-se, muralhas em volta dessas cidades e armas em cima das muralhas. Alguns dizem que somos um animal agressivo, um lobo para o outro homem, mas eu não acredito. Quem tem filhos sabe que quer a vida para eles. E a vida só existe com paz.
Desculpe, Teodoro, esta conversa de um velho. Alguém disse que a sabedoria é sádica, porque só nos ensina o quão pouco sabemos. Tenho quase setenta anos e acho que é isso mesmo. Dino tinha muito estudo, muita experiência e poucas certezas. Ouvia a qualquer um com atenção porque sabia que não era dono da verdade, apesar de seus diplomas. Acho que foi isso que faltou aos nossos pais de antes da guerra, saber que a verdade não está contida em nenhum livro, em nenhum programa político. A verdade é mais escorregadia do que uma enguia.
Antes do apocalipse vi jovens psicólogos achando que a verdade era explicada pela ciência deles. Aí vinha um sociólogo crente que a verdade, ou digamos noventa por cento dela, estava na sociologia. Eu tinha um vizinho católico apostólico para quem tudo estava explicado na Bíblia. O vizinho do outro lado era adventista e tinha também tudo explicado na Bíblia, só que de maneira bem diferente. Eu tava no meio dos dois, ficava difícil ter opinião fechada.
Uma vez vi o Dino discutindo com um universitário e disse: "Se você é dono da verdade por que não tira patente e cobra royalties"? O governo russo era dono da verdade, o americano também e os outros países mais ainda. Cada um só construía bombas para, no fundo, no fundo, o bem de todos. Dino me contou outra vez, Teodoro, que na Idade Média francesa uma cidade se rebelou em nome de uma crença religiosa diferente. O bispo, que era também o general, veio de Paris para acabar com a heresia. Ordenou ao seu exército: "Matem a todos, Deus reconhecerá aqueles que são inocentes."
Vou te dar um conselho, Teodoro. Com ou sem razão, viva e deixe viver.
Irmão Teodoro,
Meu nome é David Mauger e recebi mensagem sua com perguntas sobre a terceira expedição e os acontecimentos posteriores. Eu tinha dezesseis anos e creio que fui o mais novo participante das três expedições. Vou tentar dar-lhe algumas informações de que tenho lembrança.
Dino Fontana, meu padrasto, desapareceu em São Paulo na Rua Valença número 160, onde vivemos antes de mudar para Santa Catarina. Era uma casa grande de três andares, onde passei a infância. Tinha um vasto jardim e uma bela vista sobre o morro do Pacaembu, o bairro do Sumaré e até os prédios do centro da cidade e da Avenida Paulista. Dino conservava lá a sua biblioteca que dizia ter cerca de dez mil livros. Lembro que havia muitos livros estrangeiros, franceses e italianos principalmente. Possuíamos também vários quadros e uma coleção de jogos de xadrez.
Posso lhe revelar que Dino temia uma guerra e por esta razão resolveu criar a filial de Barra Velha. "Se houver um holocausto", nos disse certa vez, "a Fibrasul pode ser a nossa arca de Noé..." Os pais dele viveram a Segunda Guerra Mundial na Europa e ele viu a guerra de perto quando trabalhou em Israel onde conheceu a minha mãe. Sabia que uma cidade grande como São Paulo não escaparia. E acredito que foi justamente o apocalipse que o empurrou cada vez para mais longe. Se tivesse sobrevivido à terceira expedição, ele organizaria uma quarta, uma quinta, não descansaria nunca. Era uma espécie de revanche contra a estupidez e a maldade humanas.
A guerra o atingiu muito mais profundamente do que deixava transparecer. Quebrou um sonho, uma fé no bem do homem. "Se deixar de trabalhar, enlouqueço", falou enquanto organizava uma das expedições. E também: "Não dou para Robinson Crusoé..." Acho que é por saber disto que minha mãe nunca tentou dissuadi-lo das viagens, mesmo conhecendo os riscos.
Dino Fontana abriu o caminho para a recolonização do Brasil mas também, durante o ano negro, foi graças a ele, ao doutor Abraham e a uns poucos outros, que os sobreviventes de Barra Velha continuaram vivos. Se Dino não deixou a comunidade se desesperar, ele mesmo nunca saiu do desespero após o holocausto. Mas bem pouca gente percebia.
Com a sua morte minha mãe nunca mais foi a mesma. Poucos dias depois que o nosso irmão menor completou vinte anos, ela faleceu. Dino e ela eram por demais ligados, amorosos e cúmplices ao mesmo tempo. Tentamos tudo para fazê-la sorrir e esquecer, mas eu sentia que viver era para ela um esforço. Sonhava em encontrar o Dino após a morte.
Você me pergunta da nossa comunidade no Maranhão. Temos quatro pequenos centros na região, Nova Viana, Nova Rosário, Lago Verde e Irmãos, além de Nova São Luís. Nossas comunidades são pobres mas todos têm o mínimo necessário e as crianças são saudáveis e educadas. Sei que antes do fim do mundo as injustiças eram muitas no nordeste e milhões passavam fome ou doença. Na antiga cidade de Rosário encontramos no cemitério mais túmulos de crianças do que de adultos. Eu acredito que a injustiça foi a causa maior do apocalipse.
Em Nova Viana tenho quatro filhos, três rapazes e uma moça. O maior se chama Dino e só pensa em viajar, quer criar uma colônia na Amazônia. O menor gosta muito de ler e já pediu que você envie o seu livro quando ficar pronto. Ele é apaixonado pela história dos pioneiros.
Que mais posso acrescentar? Foi graças à coragem de Mané Maestro que voltei vivo da terceira expedição. Os Vândalos da serra da Cantareira acabaram perecendo quando não tiveram mais o que pilhar em São Paulo. Mataram-se uns aos outros, não souberam se organizar para plantar e viver em paz. Para mim isto prova que o mal e a coerção não são solução. É o que procuro ensinar aos meus filhos.
Muito boa sorte ao seu livro. Por favor, transmita ao Mané, à Maria, Cecília, José e aos jovens, as nossas saudades, minhas e da Tuuliki. Diga também que Dino e a minha mãe velam por eles.
Abraço fraterno do David Mauger.
Daniel Fresnot
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















