



Biblio VT




Ao narrar as circunstâncias que levaram ao meu confinamento dentro deste asilo para loucos, tenho consciência de que minha situação atual vai criar uma dúvida natural sobre a autenticidade desta narrativa. Trata-se de um fato lamentável que a maior parte da humanidade é demasiadamente limitada na sua visão mental para ponderar com paciência e inteligência aqueles fenômenos isolados vistos e sentidos apenas por uns poucos psicologicamente sensíveis e que se encontram fora da sua experiência comum. Homens com um intelecto mais aberto sabem que não existe uma distinção clara entre o real e o irreal; que todas as coisas se manifestam do seu jeito apenas graças aos delicados canais físicos e mentais por meio dos quais nós nos tornamos conscientes delas; mas o materialismo banal da maioria condena como loucura os lampejos de uma visão extraordinária que consiga penetrar o véu comum do empirismo óbvio.
Meu nome é Jervas Dudley, e desde a infância mais remota tenho sido um sonhador e um visionário. Rico além da necessidade de uma vida profissional e temperamentalmente inapto para os estudos formais e a diversão social das minhas relações, vivi sempre nos domínios à parte do mundo visível, passando minha juventude e adolescência com livros antigos e pouco conhecidos e perambulando pelos campos e bosques da região próxima da casa dos meus ancestrais. Não creio que o que li nesses livros e vi naqueles campos e bosques era exatamente o que os outros garotos leram e viram lá, mas sobre isso devo falar pouco, já que um relato pormenorizado só confirmaria as difamações cruéis sobre meu intelecto que ouço algumas vezes ao acaso dos acompanhantes furtivos sussurrando à minha volta. Basta que conte os eventos sem analisar as causas.
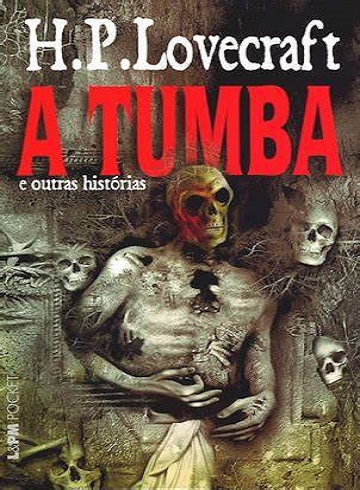
Já disse que vivi à parte do mundo visível. Mas não disse que vivi sozinho. Nenhum ser humano pode fazer isso, pois na falta da companhia dos vivos, ele inevitavelmente busca o apoio da companhia de coisas que não são ou não estão mais vivas. Próximo da minha casa há um vale arborizado peculiar em cujos recantos na penumbra passei a maior parte do tempo lendo, pensando e sonhando. Sobre os seus barrancos cobertos de musgo meus primeiros passos da infância foram dados, e em torno dos seus carvalhos grotescamente nodosos minhas primeiras fantasias de meninice foram criadas. Como passei a conhecer bem as ninfas dos bosques que tomavam conta daquelas árvores e quantas vezes observei suas danças vibrantes sobre os feixes luminosos que se esvaeciam de uma lua minguando... mas sobre essas coisas não devo falar agora. Vou contar apenas da tumba solitária na mata cerrada escura da encosta; a tumba abandonada dos Hydes, uma família antiga e enaltecida cujo último descendente direto foi colocado dentro dos seus nichos muitas décadas antes do meu nascimento.
A câmara mortuária a que me refiro é feita de granito clássico, gasto e descolorado pelas garoas e umidade de gerações. Escavada contra a encosta, a estrutura é visível apenas na entrada. A porta, uma laje de pedra pesada e intimidadora, é presa por dobradiças enferrujadas e encontra-se trancada entreaberta de um jeito estranhamente sinistro, com correntes e cadeados pesados de ferro, seguindo um padrão horripilante de meio século atrás. A residência da família cujos herdeiros estão aqui sepultados um dia coroou o declive que contém a tumba, mas há muito foram vitimados pelas chamas que começaram com a queda de um raio. Da tempestade à meia-noite que destruiu essa mansão melancólica, os moradores mais velhos da região falam algumas vezes com vozes sussurradas e inquietas, insinuando o que eles chamam de “ira divina” de uma maneira que em anos posteriores aumentou vagamente o fascínio sempre forte que eu sentia pela sepultura obscurecida pela mata. Um homem apenas pereceu no fogo. Quando o último dos Hydes foi enterrado nesse lugar de sombra e silêncio, a urna triste cheia de cinzas veio de uma terra distante, para a qual a família havia acorrido quando a mansão queimou. Não resta ninguém para colocar flores diante do portal de granito, e poucos têm a coragem de desafiar as sombras deprimentes que parecem deixar-se ficar estranhamente em torno das pedras gastas pela água.
Nunca vou esquecer a tarde em que encontrei ao acaso pela primeira vez essa casa de morte meio escondida. Era o auge do verão, quando a alquimia da natureza transforma a paisagem silvestre numa massa de verde intenso e quase homogêneo, quando os sentidos são quase inebriados com as ondas repentinas de orvalho das folhagens e os cheiros sutilmente indefiníveis da terra e da vegetação. Em ambientes assim, a mente perde a sua perspectiva, o tempo e o espaço tornam-se insignificantes e irreais e ecos de um passado pré-histórico perturbam insistentemente a consciência fascinada.
Todo o dia eu perambulava pelos bosques misteriosos do vale, perdido em pensamentos que não devo discutir e conversando com coisas que não preciso nomear. Em anos uma criança de dez, eu vira e ouvira muitas coisas incríveis desconhecidas para a maioria e era peculiarmente amadurecido em determinados aspectos. Quando encontrei repentinamente a entrada da câmara mortuária ao forçar minha passagem entre dois capões de urze-branca, não tinha idéia do que descobrira. Os blocos escuros de granito, a porta tão curiosamente entreaberta e os entalhes fúnebres sobre a abóbada não despertaram em mim associações de um caráter lúgubre ou terrível. De túmulos e tumbas eu sabia e imaginava muito, mas por conta de minha índole singular fora mantido distante de qualquer contato pessoal com adros e cemitérios. A estranha casa de pedra em meio à mata no declive era para mim apenas uma fonte de curiosidade e especulação, e seu interior frio e úmido, para dentro do qual eu espiava em vão através da abertura tão aflitivamente exposta, não continha para mim nenhuma sugestão de morte ou decomposição. Mas naquele instante de curiosidade nasceu o desejo loucamente irracional que me trouxe para este inferno de confinamento. Incitado por uma voz que só pode ter vindo do espírito abominável da floresta, tomei a decisão de adentrar na escuridão que me chamava, apesar das correntes pesadas que barravam minha passagem. Na luz que caía do dia, sacudi alternadamente os obstáculos enferrujados a fim de escancarar a porta de pedra e experimentei espremer meu corpo franzino através do espaço já oferecido, mas nenhum plano teve sucesso. Apenas curioso num primeiro momento, agora estava desvairado, e enquanto voltava para casa no crepúsculo que se adensava, prometi para os cem deuses do bosque que a qualquer custo algum dia forçaria uma entrada nas profundezas escuras e frias que pareciam me chamar. O médico com a barba grisalho-ruiva que vem todos os dias ao meu quarto disse uma vez para um visitante que essa decisão marcou o princípio de uma lamentável monomania, mas vou deixar um julgamento final para meus leitores quando tiverem tomado conhecimento de tudo.
Os meses que seguiram minha descoberta foram passados em tentativas vãs de forçar o intrincado cadeado da câmara mortuária levemente aberta e investigando de maneira cuidadosamente comedida a natureza e a história da estrutura. Com os ouvidos tradicionalmente receptivos de um garoto pequeno, aprendi muito, apesar de uma reserva costumeira que me levou a não contar a ninguém sobre minhas informações ou decisão. Talvez valha a pena mencionar que eu não estava de forma alguma surpreso ou aterrorizado ao ficar sabendo da natureza da câmara mortuária. Minhas idéias um tanto originais sobre a vida e a morte fizeram com que associasse de uma maneira vaga o corpo morto com o corpo vivo respirando, e sentia que a família grande e sinistra da mansão queimada estava de alguma forma representada dentro daquele lugar de pedra que eu queria explorar. Histórias resmungadas de ritos estranhos e festas pagãs de anos passados na mansão antiga me proporcionavam um interesse renovado e potente sobre a tumba, diante de cuja porta eu sentava por horas seguidas cada dia. Uma vez enfiei uma vela para dentro da entrada quase fechada, mas não consegui ver nada a não ser um lance de degraus de pedra esmaecida que levavam para baixo. O cheiro do lugar repugnou-me, mas, apesar disso, enfeitiçou-me. Eu sentia que já o conhecera antes, num passado remoto além de todas as lembranças, além até do tempo que ocupo o corpo que possuo agora.
Um ano depois de ter contemplado a tumba pela primeira vez, achei por acaso uma tradução carcomida do Vidas de Plutarco no sótão lotado de livros da minha casa. Lendo a vida de Teseu fiquei muito impressionado com aquela passagem que falava da pedra grande, embaixo da qual o herói menino encontraria os indícios apontando seu destino no momento em que fosse velho o suficiente para levantar o seu peso enorme. A lenda teve o efeito de dispersar minha impaciência mais aguda de entrar na câmara mortuária, pois ela me fez sentir que o momento ainda não era oportuno. Mais tarde, disse para mim mesmo, eu chegaria a uma força e inventividade capazes de destrancar com facilidade a porta acorrentada pesadamente, mas até que isso acontecesse eu faria melhor me conformando ao que parecia ser a vontade do Destino.
Dessa maneira, minhas vigílias junto ao portal desagradavelmente úmido tornaram-se menos constantes, e grande parte de meu tempo passei com outras ocupações igualmente estranhas. Algumas vezes levantava no maior silêncio durante a noite e saía furtivamente para caminhar naqueles adros e cemitérios dos quais fora mantido distante por meus pais. O que fiz lá não devo dizer, pois não tenho certeza da realidade de certas coisas, mas sei que, no dia seguinte a um desses passeios noturnos, muitas vezes eu espantava aqueles à minha volta com meu conhecimento sobre tópicos quase esquecidos por muitas gerações. Foi depois de uma noite dessas que choquei a comunidade com a idéia extravagante sobre o enterro do rico e festejado Squire Brewster, um conhecido construtor local que fora sepultado em 1711 e cuja lousa da sepultura, com uma caveira e ossos cruzados entalhados, estava desintegrando-se lentamente. Num momento de imaginação infantil jurei que não apenas o agente funerário Goodman Simpson tinha roubado os sapatos com fivelas de prata, as meias de seda e as roupas de baixo de cetim do falecido antes do enterro, mas também que o próprio Squire, ainda não totalmente inanimado, se revirara duas vezes no caixão coberto por um monte de terra no dia seguinte ao sepultamento.
Mas a idéia de entrar na tumba nunca deixou meus pensamentos, sendo na verdade estimulada pela descoberta genealógica inesperada que meus próprios ancestrais maternos possuíam pelo menos um ligeiro vínculo com a supostamente extinta família dos Hydes. Sendo o último de minha descendência paterna, da mesma forma era o último desta linhagem mais antiga e mais misteriosa. Comecei a sentir que a tumba era minha, e passei a esperar com uma ansiedade fervorosa o momento em que poderia passar por aquela porta de pedra e descer aqueles degraus de pedra viscosos no escuro. Agora eu passara a ter o costume de ouvir com muita atenção junto ao portal ligeiramente aberto, escolhendo minhas horas favoritas de silêncio à meia-noite para a estranha vigília. Quando atingi a maioridade, já tinha aberto uma pequena clareira na mata cerrada junto ao trecho embarrado da encosta, permitindo que a vegetação desse a volta pelos lados e por cima do espaço como as paredes e o telhado de um caramanchão rústico. Esse caramanchão era meu templo, a porta trancada, meu santuário, e aqui eu ficava deitado sobre o chão musgoso pensando coisas esquisitas e sonhando sonhos estranhos.
A noite da primeira revelação foi uma noite mormacenta. Eu devo ter dormido de cansaço, pois foi com um sentimento claro de despertar que ouvi as vozes. Desses tons de voz e sotaques hesito em comentar e da sua essência não vou falar, mas posso dizer que eles apresentavam algumas diferenças incomuns de vocabulário, pronúncia e modo de elocução. Cada nuance do dialeto da Nova Inglaterra, desde as sílabas incultas dos colonos puritanos passando pela retórica precisa de cinqüenta anos atrás, pareciam representadas naquela conversação imaginária, apesar de ter sido só mais tarde que observei o fato. Naquele instante, na verdade, minha atenção fora distraída dessa questão por outro fenômeno, um fenômeno tão fugaz que não pude jurar sobre a sua realidade. Eu mal pude acreditar quando acordei e uma luz foi apagada com pressa dentro da sepultura abaixo. Não acredito que estava aterrorizado, ou tomado pelo pânico, mas sei que fui completa e permanentemente mudado naquela noite. Ao voltar para casa segui com decisão absoluta atrás de um baú que se decompunha no sótão, onde encontrei a chave que no dia seguinte destrancou com facilidade a barreira diante da qual por tanto tempo eu esbravejara em vão.
Foi na luz suave do fim da tarde que entrei pela primeira vez na câmara mortuária da colina abandonada. Um feitiço tomara conta de mim, e meu coração pulava com uma alegria que mal consigo descrever. Quando fechei a porta e desci os degraus que gotejavam de umidade sob a luz da minha única vela, eu parecia conhecer o caminho, e apesar da vela ter crepitado com a atmosfera infecta e asfixiante do lugar, senti-me particularmente à vontade no ar mofado e de ossuário. Olhando à minha volta, observei muitos caixões com lousas de mármore, ou os restos de caixões. Alguns estavam fechados e intactos, mas outros quase tinham desaparecido, deixando as alças de prata e as placas isoladas em meio a alguns montes estranhos de pó esbranquiçado. Sobre uma placa li o nome de Sir Geoffrey Hyde, que viera de Sussex em 1640 e morrera aqui alguns anos mais tarde. Num nicho proeminente havia um caixão razoavelmente bem preservado e desocupado, ornamentado com um único nome que me provocou um sorriso e um arrepio. Então um impulso bizarro me fez subir sobre a lousa larga, apagar a vela e me deitar dentro do espaço vazio.
Na luz cinzenta do amanhecer saí trôpego da câmara mortuária e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Eu não era mais um jovem, apesar de somente 21 invernos terem gelado o esqueleto de meu corpo. Os aldeões madrugadores que observavam meu avanço de volta para casa me olhavam com estranheza e enchiam-se de espanto com os sinais de folia vulgar que viam em alguém cuja vida era conhecida por ser sóbria e solitária. Só apareci diante dos meus pais após um longo e reparador sono.
Daí em diante passei a visitar a tumba obsessivamente, vendo, ouvindo e fazendo coisas que não devo nunca me lembrar. Minha fala, sempre suscetível a influências do ambiente, foi a primeira coisa a sucumbir à mudança, e o arcaísmo de dicção repentinamente adquirido foi logo observado. Mais tarde uma coragem e irresponsabilidade estranhas apareceram em meu comportamento, até eu passar a possuir inconscientemente a postura de um homem do mundo apesar de uma vida inteira de isolamento. Minha língua outrora calada tornou-se tagarela com a graça tranqüila de um homem de Chesterfield, ou com o cinismo pagão de um homem de Rochester. Eu demonstrava uma cultura peculiar completamente distinta da erudição extravagante e monástica que estudara na juventude, e cobria as guardas dos livros com epigramas descuidados e de improviso que sugeriam diversão e festa com a graça e a jovialidade dos rimadores clássicos. Uma manhã no café cheguei próximo do desastre ao declamar uma canção efusiva de festança com um tom de voz obviamente afetado pela bebida. Ela trazia um pouco da jocosidade georgiana[1] nunca registrada num livro e seguia mais ou menos assim:
Venham para cá, meus amigos, com seus canecos de cerveja
E vamos beber ao dia antes que ele nos abandone
Abarrotem suas travessas com uma montanha de carne
Pois comer e beber é o que nos traz alívio
Então encham seus copos
Pois a vida vai passar logo
Quando estiverem mortos nunca vão poder brindar ao seu rei ou às suas garotas!
Anacreonte tinha um nariz vermelho, é o que dizem
Mas o que é um nariz vermelho se você é feliz e se diverte?
Que uma talhadeira me parta ao meio! Prefiro ser vermelho enquanto estou aqui,
Do que branco como uma flor-de-lis – e morto daqui a meio ano!
Então Betty, minha garota,
Venha me dar um beijo
No inferno não há uma filha de hospedeiro assim!
O jovem Harry se aprumou como pôde
Logo vai perder a peruca e cair para baixo da mesa
Mas encham seus copos e passem eles adiante,
Melhor debaixo da mesa do que debaixo da terra!
Então divirtam-se e brinquem
E tomem um longo trago
Pois embaixo de dois metros de barro é mais difícil de rir!
O diabo me deixou torto! Mal consigo caminhar,
E maldito seja se consigo ficar de pé ou conversar!
Aqui, patrão, diga para Betty pegar uma cadeira
Eu vou demorar um pouco para chegar em casa, pois minha mulher não está lá!
Então me dê uma mão
Pois não consigo ficar de pé
Mas estou feliz enquanto seguir em cima da terra![2]
Nessa época percebi o medo que sentia do fogo e das tempestades com raios e trovões. Antes indiferente a tais coisas, agora sentia um terror indescritível delas e me retirava para os recantos mais profundos da casa sempre que o céu ameaçava um espetáculo elétrico. Uma obsessão favorita minha durante o dia era a adega em ruínas da mansão queimada, e, fantasiando, via a estrutura como ela fora no seu auge. Numa ocasião surpreendi um aldeão ao levá-lo com confiança até uma adega menor mais abaixo, de cuja existência eu parecia saber apesar de ela não ser vista e lembrada por muitas gerações.
Finalmente chegou o dia que eu temia há tanto tempo. Meus pais, assustados com a conduta e aparência alteradas do filho único, começaram a exercer sobre meus movimentos uma espionagem benévola que ameaçou resultar em desastre. Eu não contara a ninguém sobre as visitas à tumba, tendo guardado minha intenção secreta com um zelo religioso desde a infância, mas agora era forçado a tomar cuidado andando aos ziguezagues pelos labirintos do vale coberto de bosques na possibilidade de ter de despistar um possível perseguidor. A chave para a câmara mortuária, cuja existência só eu sabia, era mantida presa por um cordão em torno do pescoço. Qualquer coisa que encontrasse enquanto estivesse entre as paredes da sepultura nunca era carregada para fora.
Uma manhã, quando saía da tumba úmida e prendia a corrente do portal com a mão um tanto trêmula, observei na mata contígua o rosto temível de um vigia. Certamente o fim estava próximo, pois meu caramanchão fora descoberto e o objetivo das minhas incursões noturnas, revelado. O homem não me abordou, então voltei às pressas num esforço de ouvir o que ele poderia relatar para meu pai aflito. Será que minhas visitas além da porta acorrentada estariam prestes a ser proclamadas ao mundo? Imagine minha agradável surpresa ao ouvir o espião informar a meu pai num sussurro cauteloso que eu passara a noite no caramanchão fora da tumba, com os olhos semicerrados pelo sono e fixos sobre a fenda onde o portal trancado permanecera entreaberto! Que milagre então havia tapeado o vigia? Eu estava convencido agora que uma intervenção supernatural me protegia. Encorajado por esse incidente caído dos céus, passei a ir abertamente à câmara mortuária, confiante que ninguém testemunharia minha entrada. Por uma semana vivi todas as alegrias daquela sociabilidade sepulcral que não devo descrever. Foi então que aconteceu a coisa, e me trouxeram para esta moradia maldita de tristeza e monotonia.
Eu não deveria ter me aventurado na rua naquela noite, pois os sinais de trovoadas estavam nas nuvens e uma fosforescência infernal subia do pântano malcheiroso nos fundos do vale. O chamado dos mortos também era diferente. Em vez da tumba na encosta, era o demônio que governava a adega queimada no cimo da colina que me chamava com dedos invisíveis. Quando saí do bosque no meio do caminho entre a campina e a ruína, contemplei na luz indistinta do luar uma coisa que sempre esperei vagamente. A mansão, desaparecida por um século, uma vez mais se erguia com sua altura imponente para minha visão extasiada, e cada janela cintilava com o esplendor de muitas velas. Subindo o longo caminho de entrada rodavam os coches da alta sociedade de Boston, enquanto a pé vinha uma congregação numerosa de dândis com seus pós-de-arroz das mansões vizinhas. Juntei-me a essa turma, apesar de saber que devia estar com os anfitriões em vez de com os hóspedes. Dentro da mansão havia música, risadas e uma taça de vinho em cada mão. Reconheci vários rostos, mas eu os teria reconhecido melhor se estivessem ressecados ou carcomidos pela morte e a decomposição. Em meio a essa turma animada e inconseqüente eu era o mais maluco e devasso. Blasfêmias divertidas jorravam em torrentes dos meus lábios, e, em gracejos chocantes, eu desconsiderava qualquer lei de Deus ou da natureza.
De repente, o estrondo de um raio ressoou acima da algazarra da folia, rachando o telhado e estabelecendo um silêncio temeroso sobre a festa turbulenta. Labaredas de chamas e rajadas incandescentes de calor engolfaram a casa e os foliões. Aterrorizados com o assalto de uma calamidade que parecia transcender os limites da natureza sem controle, todos fugiram gritando noite afora. Permaneci sozinho, preso ao meu assento por um medo rastejante que nunca sentira antes. E então um segundo terror tomou conta da minha alma. Queimado vivo até virar cinzas, com meu corpo espalhado pelos quatro ventos, talvez eu nunca fosse sepultado na tumba dos Hydes! Meu caixão não estava preparado para mim? Eu não tinha o direito de descansar por toda a eternidade em meio aos descendentes de Sir Geoffrey Hyde? Sim! Eu reivindicaria minha herança de morte, mesmo que minha alma tivesse de procurar ao longo dos tempos por outra morada corpórea para representá-la na lousa desocupada do nicho da câmara mortuária. Jervas Hyde nunca deveria compartilhar do destino triste de um Palinurus![3]
Quando o fantasma da casa queimando desapareceu gradualmente, eu me vi gritando e lutando enlouquecido nos braços de dois homens, um dos quais era o espião que me seguira até a tumba. Uma chuva caía aos cântaros, e ao sul no horizonte apareciam os clarões dos raios que recém haviam passado sobre as nossas cabeças. Com o rosto marcado pela tristeza, meu pai ficou junto enquanto eu gritava pedindo para ser colocado dentro da tumba e repreendeu muitas vezes os homens que me seguravam para que me tratassem da melhor forma possível. Um círculo enegrecido no chão da adega em ruínas indicava um impacto dos céus, e nesse local um grupo de aldeões curiosos com lanternas espreitava uma caixa pequena com um acabamento antigo que o raio havia descoberto.
Parando com minha luta fútil e despropositada, acompanhei os observadores enquanto eles examinavam o tesouro desconhecido e me deixavam compartilhar das suas descobertas. A caixa, cujos ferrolhos estavam quebrados pelo impacto que a havia desenterrado, continha muitos papéis e objetos de valor, mas eu tinha olhos apenas para uma coisa. Era a miniatura em porcelana de um jovem usando uma peruca elegantemente ondulada e trazendo as iniciais “J.H.”. A aparência do rosto era tal que quando o olhei com atenção, poderia muito bem estar mirando atentamente um espelho.
No dia seguinte, me trouxeram para este quarto com as janelas gradeadas, mas fui mantido informado de algumas coisas por intermédio de um criado idoso e simplório por quem me apegara na infância e que, assim como eu, adorava o cemitério da igreja. O que tive coragem de contar sobre minhas experiências dentro da câmara mortuária só me trouxe sorrisos de pena. Meu pai, que me visita freqüentemente, declara que em nenhum momento passei pelo portal acorrentado, e jura que o cadeado enferrujado não fora tocado há cinqüenta anos quando ele o examinou. Ele diz até que todo o vilarejo sabia dos meus passeios para a tumba e que muitas vezes fui observado enquanto dormia no caramanchão do lado de fora da fachada sinistra com meus olhos semi-abertos fixos sobre a fenda que leva ao seu interior. Contra essas afirmações não tenho uma prova real para oferecer, visto que minha chave para o cadeado foi perdida na luta naquela noite de horrores. As coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos ele descarta como os frutos de uma vida inteira folheando toda sorte de livros em meio aos volumes antigos da biblioteca da família. Não fosse meu velho criado Hiram, eu já teria a esta altura ficado bastante convencido da minha loucura.
Mas Hiram, leal ao passado, seguiu tendo fé em mim e fez aquilo que me obriga a tornar público pelo menos parte da minha história. Uma semana atrás ele arrombou a tranca que acorrenta a porta da tumba, deixando-a perpetuamente entreaberta, e desceu com uma lanterna para as profundezas sombrias. Sobre uma lousa num nicho ele encontrou um caixão velho e vazio cuja placa manchada traz uma única palavra: Jervas. Naquele caixão e naquela câmara mortuária eles me prometeram que serei enterrado.
[1]. Relativo aos quatro reis George que reinaram na Grã-Bretanha de 1714 a 1830. (N.T.)
[2]. No original em inglês: Come hither, my lads, with your tankards of ale, / And drink to the present before it shall fail; / Pile each on your platter a mountain of beef, / For’tis eating and drinking that brings us relief; / So fill up your glass, / For life will soon pass; / When you’re dead ye’ll ne’er drink to your king or your lass! / Anacreon had a red nose, so they say; / But what’s a red nose if ye’re happy and gay? / Gad split me! I’d rather be red whilst I’m here, / Than white as a lily – and dead half a year! / So Betty, my miss, / Come give a kiss; / In hell there’s no innkeeper’s daughter like this! / Young Harry, propp’d up just as straight as he’s able, / Will soon lose his wig and slip under the table, / But fill up your goblets and pass’em around – / Better under the table than under the ground! / So revel and chaff / As ye thirstily quaff; / Under six feet of dirt’tis less easy to laugh! / The fiend strike me blue! I’m scarce able to walk, / And damn me if I can stand upright or talk! / Here, landlord, bid Betty to summon a chair; / I’ll try home for a while, for my wife is not there! / So lend me a hand; / I’m not able to stand, / But I’m gay whilst I linger on top of the land! (N.T.)
[3]. Personagem da mitologia romana que é sacrificado como uma oferta a Netuno e abandonado à morte sem um enterro apropriado. (N.T.)
O festival
Efficiut Daemones, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspicienda bominibus exhibeant.
– Lactantius
Eu estava longe de casa e o encanto do mar do leste me envolvia. Na luz do crepúsculo ouvia-o batendo sobre as rochas e sabia que ele estava logo depois do morro onde os salgueiros retorciam-se contra o céu que clareava e as primeiras estrelas da noite. E por ter sido chamado por meus pais para a cidade velha mais adiante, segui em frente na neve rasa e recém-caída sobre a estrada que subia íngreme para onde Aldebarã bruxuleava em meio às árvores, na direção da cidade que eu nunca vira mas com que sonhara muitas vezes.
Era o Yuletide, que os homens chamam de Natal, apesar de eles saberem em seus corações que se trata de uma celebração mais antiga que Belém e a Babilônia, e mais antiga que Mênfis e a humanidade. Era o Yuletide, e eu viera finalmente para a antiga cidade costeira onde meu povo vivera e seguira com o festival nos tempos antigos, quando este era proibido, e onde também haviam ordenado seus filhos a darem continuidade a ele uma vez a cada século de maneira que os segredos originais não fossem esquecidos. Meu povo era antigo e já era antigo mesmo quando essa terra fora colonizada três séculos atrás. E eles eram estranhos, pois tinham vindo como um povo moreno furtivo, dos jardins opiáceos de orquídeas do sul, e falavam outra língua antes de aprenderem a língua dos pescadores de olhos azuis. E agora eles estavam dispersos e compartilhavam apenas dos rituais de mistérios que nenhum ser vivo poderia compreender. Eu era o único que voltava naquela noite para a velha cidade pesqueira em obediência à lenda, pois só os pobres e os solitários se lembram dessas coisas.
Passando o cimo do morro, vi Kingsport estendida e gelada no lusco-fusco do entardecer; a Kingsport nevada com seus cata-ventos e campanários, cumeeiras e chaminés, ancoradouros e pontes pequenas, salgueiros e cemitérios; labirintos intermináveis de ruas íngremes, estreitas e tortuosas, e o vertiginoso ponto central encimado pela igreja e que o tempo não tivera a coragem de tocar; amontoados sem fim de casas coloniais apinhadas e espalhadas em todos os ângulos e níveis como os brinquedos bagunçados de uma criança; a antiguidade pairando em alas cinzentas sobre cumeeiras e telhados à holandesa embranquecidos pelo inverno; clarabóias e janelas de vidraças pequenas, uma a uma brilhando no anoitecer frio para se juntar a Órion e as estrelas arcaicas. E contra os ancoradouros que se decompunham batia o mar, dissimulado e imemoriável, de onde o povo viera nos tempos mais antigos.
No ponto mais alto da estrada, ao seu lado, erguia-se um cume mais alto ainda, descampado e varrido pelo vento, e vi que era um local para sepultamentos onde as lápides escuras despontavam diabolicamente na neve como as unhas das mãos deteriorando de um corpo gigante. A estrada que não conservava meus passos era muito solitária e algumas vezes pensei que ouvira um rangido horrível, distante, como o do estrado de uma forca ao vento. Quatro irmãos meus tinham sido enforcados por bruxaria em 1692, mas eu não sabia exatamente onde.
À medida que a estrada descia em curva em direção ao mar, pus-me à escuta dos sons alegres de um vilarejo à noite, mas não os ouvi. Então pensei na época do ano e senti que esse povo puritano antigo poderia muito bem ter costumes natalinos estranhos a mim, cheios de rezas silenciosas junto das suas lareiras. Daí em diante não tentei mais identificar sons aprazíveis ou de caminhantes, e segui em frente passando pelas casas silenciosas das fazendas e os muros de pedras sombrios, onde rangiam os letreiros das lojas antigas e das tavernas costeiras na brisa salgada. Nas ruas desertas e sem pavimento, as aldravas grotescas das portas encimadas por colunas brilhavam sob a luz das janelas de vidraças pequenas e encortinadas.
Eu já vira mapas da cidade e sabia onde encontrar a casa do meu povo. Haviam dito que eu deveria ser reconhecido e bem-vindo, pois a lenda de um vilarejo tem uma vida longa; então apressei o passo pela rua Back até a Circle Court, atravessando a neve fresca pela única via completamente pavimentada na cidade até onde a Green Lane chega atrás do mercado. Os mapas velhos ainda eram bons e não tive problemas, apesar de que na Arkham devem ter mentido quando disseram que os bondes chegavam a este lugar, tendo em vista que não vi nenhum cabo acima. A neve teria escondido os trilhos de qualquer forma. Fiquei satisfeito que escolhera caminhar, pois o vilarejo branco fora um belo quadro visto do morro e agora eu estava ansioso para bater na porta do meu povo, a sétima casa do lado esquerdo na Green Lane, com seu telhado antigo pontiagudo e o segundo andar que se projetava sobre a rua, tudo construído antes de 1650.
Havia luzes dentro da casa quando cheguei, e vi das janelas com vidraças em forma de diamante que ela deve ter sido mantida bem próxima do seu estado antigo. O andar de cima pairava sobre a rua estreita com o capim crescido e quase se encontrava com a casa do outro lado, de maneira que eu estava quase num túnel, com a soleira de pedra baixa da porta totalmente livre da neve. Não havia uma calçada, mas muitas casas tinham portas tão altas que era preciso subir dois lances de degraus com corrimões de ferro para se chegar nelas. Era uma cena esquisita, e já que eu era estranho à Nova Inglaterra, nunca vira nada parecido antes. Apesar de me agradar, eu a teria apreciado mais se visse pegadas na neve e pessoas nas ruas e se algumas janelas estivessem sem as cortinas fechadas.
Quando bati na aldrava antiga de ferro estava com um pouco de medo. Algum temor crescia em mim, talvez devido à singularidade da minha herança e à desolação da noite, assim como o silêncio estranho daquela cidade velha e de costumes curiosos. E quando responderam à minha batida, fui tomado de pavor, pois não ouvira nenhum passo antes de a porta abrir rangendo. Mas o medo não durou muito, já que o velho de roupão e chinelos na porta tinha um rosto afável que me tranqüilizou, e fazendo sinais de que era mudo, escreveu um bem-vindo graciosamente antiquado com a tabuleta de cera e o estilete que carregava.
Ele me indicou uma sala baixa com caibros sólidos expostos, iluminada por velas e com uma mobília escura, reservada e esparsa do século XVII. O passado era bastante vivo ali, pois não lhe faltava nenhum atributo nesse sentido. Havia uma lareira grande e uma roda de fiar em que uma senhora idosa curvada, vestindo um roupão solto com um chapéu de abas baixas, fiava sentada de costas para mim e em silêncio apesar da temporada de festas. Uma umidade indefinida parecia envolver o lugar, e me surpreendi que nenhum fogo estivesse crepitando. Um banco de madeira de espaldar alto ficava de frente para uma série de janelas encortinadas à esquerda, e parecia estar ocupado, embora não tivesse certeza. Não gostei de tudo que via e senti mais uma vez o medo anterior. Esse medo tornou-se mais forte devido ao que antes o mitigara, pois quanto mais olhava para o rosto afável do velho, mais a sua própria brandura me aterrorizava. Os olhos nunca se mexiam, e a pele era parecida demais com uma cera. Finalmente, eu não tinha certeza que fosse mesmo um rosto, mas sim uma máscara diabolicamente ardilosa. Mas as mãos débeis, curiosamente enluvadas, escreveram suavemente na tabuleta dizendo que eu deveria esperar um tempo antes de ser levado para o local do festival.
Apontando para uma mesa com uma cadeira e uma pilha de livros, o velho deixou o quarto; e quando sentei para ler, vi que os livros eram antigos e mofados e que eles incluíam o extravagante Marvells of Science do velho Morryster, o terrível Saducismus Triumphatus de Joseph Glanvil, publicado em 1681, o chocante Daemonolatreia de Remigius, impresso em 1595 em Lyon, e pior de tudo, o indecente Necronomicon do árabe louco Abdul Alhazred, na tradução latina proibida de Olaus Wormius, um livro a respeito do qual eu ouvira coisas assombrosas sendo sussurradas. Ninguém falou comigo, mas eu podia ouvir o ranger dos letreiros no vento na rua, e o zunido da roda enquanto a velha de chapéu continuava tecendo em silêncio. Achei a sala, os livros e as pessoas bastante mórbidas e inquietantes, mas já que fora a tradição antiga dos meus pais que me chamara para esses festejos estranhos, decidi esperar por coisas incomuns. Então tentei ler e fui logo apaixonadamente absorvido por algo que encontrei no amaldiçoado Necronomicon; um pensamento e uma lenda abominável demais para a sanidade ou a consciência, mas não gostei quando imaginei ter ouvido uma das janelas que ficava de frente para o banco de espaldar alto ser fechada, como se antes tivesse sido furtivamente aberta. Isso parece ter seguido um zunido que não viera da roda de fiar da velha. Mas não foi nada demais, pois ela seguiu trabalhando com afinco e o relógio antigo continuou batendo. Após esse incidente, deixei de pensar nas pessoas do banco de espaldar alto e passei a ler atentamente e horrorizado, quando o velho voltou calçando botas e vestindo um traje antigo folgado e sentou naquele mesmo banco, de maneira que não podia vê-lo. Era certamente uma espera nervosa, e o livro blasfemo nas minhas mãos dobrara esse sentimento. Quando soaram as onze horas, no entanto, o velho levantou-se, caminhou furtivamente até um baú sólido entalhado num canto e tirou dois mantos com gorros, um dos quais vestiu e o outro colocou em torno da velha, que estava parando com sua fiação monótona. Então os dois dirigiram-se à porta da rua, com a mulher arrastando-se claudicante, e o velho, após pegar o próprio livro que eu estava lendo, me chamou gesticulando enquanto puxava o gorro sobre aquele rosto ou máscara imóvel.
Saímos para as ruas tortuosas e sem lua daquela cidade incrivelmente antiga enquanto as luzes nas janelas encortinadas desapareciam uma a uma, e Sirius observava de soslaio a multidão de figuras encapuzadas e com mantos que vertiam silenciosamente de cada porta e formavam procissões incríveis subindo esta e aquela rua, passando pelos sinais rangendo e as cumeeiras antiquadas, os telhados pontiagudos e as janelas com vidraças em forma de diamante; abrindo caminho em meio às ruelas íngremes onde as casas decadentes sobrepunham-se e caíam aos pedaços, deslocando-se furtivamente por pátios abertos e adros onde as lanternas balançavam, formando plêiades fantasmagóricas e desordenadas.
Cercado por essas procissões caladas, segui meus guias mudos, levando cotoveladas que pareciam sobrenaturalmente suaves e sendo pressionado por peitos e estômagos que pareciam anormalmente flácidos, mas sem nunca ver um rosto ou ouvir uma palavra. As colunas sinistras deslizavam cada vez mais para cima, e vi que todos os viajantes convergiam à medida que desembocavam próximos a uma espécie de ponto de encontro das vielas desconexas no topo da colina central da cidade, onde uma grande igreja branca se posicionava no alto. Eu a vira do cimo da estrada quando olhei para Kingsport no anoitecer e ela me dera um calafrio, pois Aldebarã parecia equilibrar-se por um momento sobre a agulha espiritual do campanário.
Havia um espaço aberto em torno da igreja, em parte um adro com torreões fantasmagóricos e em parte uma praça meio calçada quase sem a neve que fora varrida pelo vento. Ficava no mesmo nível das casas antigas insalubres com seus telhados pontiagudos e cumeeiras que se projetavam sobre a rua. Os fogos causados pelo metano lançado ao ar dançavam sobre as tumbas, revelando panoramas horripilantes, apesar de estranhamente não fazerem sombra alguma. Passando o adro, onde não havia casas, eu podia ver além do cume da colina e observar o bruxulear das estrelas sobre o porto, apesar de não ser possível ver a cidade no escuro. De vez em quando uma lanterna balançava horripilante pelas vielas que serpenteavam a caminho do aglomerado de pessoas que deslizava agora sem dizer uma palavra para dentro da igreja. Esperei que a turba tivesse vertido para dentro do vão escuro da porta e até que todas as pessoas que se comprimiam as tivessem seguido. O velho puxava a minha manga, mas eu estava determinado a ser o último. Cruzando a soleira para o templo apinhado e de uma escuridão desconhecida, voltei-me uma vez para olhar para o mundo lá fora enquanto a fosforescência do adro lançava um brilho doentio sobre o calçamento no topo da colina. E quando fiz isso senti um calafrio, pois, apesar de o vento não ter deixado muita neve, alguns trechos seguiam com neve no caminho próximo à porta, e naquele olhar fugaz tive a impressão de que esses trechos não traziam marca alguma dos pés que tinham passado por ali, nem mesmo dos meus.
A iluminação na igreja era escassa, a despeito de todas as lanternas que tinham entrado nela, pois a maioria das pessoas já havia desaparecido. Elas tinham se deslocado pela nave lateral entre os bancos altos até o alçapão das câmaras mortuárias, que se escancarou repulsivamente um pouco antes do púlpito, e agora se contorciam para dentro sem fazer barulho. Desci emudecido pelos degraus gastos seguindo-as para a cripta escura e sufocante. O fim daquela fila sinuosa de marchadores noturnos parecia bastante horrenda, e quando os vi insinuando-se sorrateiramente para dentro de uma tumba venerável, eles pareceram mais horríveis ainda. Então observei que o chão da tumba tinha uma abertura para baixo através da qual a procissão esgueirava-se, e no momento seguinte descíamos todos uma escada de pedra agourenta, talhada grosseiramente numa espiral estreita, úmida e com um cheiro forte peculiar. Ela parecia seguir numa curva infinita para as entranhas da colina, passando por muros monótonos de blocos de pedra que gotejavam e com uma argamassa que se soltava. Era uma decida silenciosa, chocante, e observei após um intervalo terrível que os muros e os degraus estavam mudando sua constituição, como se talhados da rocha sólida. O que mais me perturbava era que a miríade de passos não fazia nenhum barulho, tampouco causava eco. Após uma eternidade descendo, vi alguns corredores laterais ou refúgios que vinham de recantos desconhecidos de escuridão para esse poço de mistério da noite. Logo eles tornaram-se excessivamente numerosos, como catacumbas hereges de uma ameaça inominável, e o seu odor cáustico de decomposição tornou-se bastante insuportável. Eu sabia que certamente tínhamos passado pela montanha e embaixo do solo da própria Kingsport, e me arrepiei que uma cidade fosse tão envelhecida e carcomida por esse mal subterrâneo.
Então vi o bruxulear lúgubre de uma luz pálida, e ouvi o marulho sinistro de águas sombrias. Mais uma vez me arrepiei, pois não estava apreciando o que a noite me proporcionara até então, e desejei amargamente que nenhum antepassado tivesse me chamado para esse rito primitivo. Quando os degraus e o corredor ficaram mais largos, ouvi outro som, a zombaria fina e queixosa de uma flauta débil, e subitamente se estendeu diante de mim a vista infinita de um mundo interior – uma costa vasta repleta de fungos, iluminada pela coluna de uma chama que jorrava verde e doentia, banhada por um rio oleoso largo que fluía de abismos terríveis e desconhecidos para se juntar aos golfos mais escuros do oceano imemoriável.
Tonto e sem ar, olhei para aquele Érebo profanado de cogumelos titânicos, fogo leproso e água viscosa e vi a procissão de pessoas com seus mantos formando um semicírculo em torno do pilar chamejante. Era o rito de Yule, mais antigo que o homem e destinado a sobrevivê-lo; o rito primitivo do solstício e da promessa da primavera depois das neves; o rito do fogo e do verde eterno, da luz e da música. E na caverna infernal vi o rito ser realizado, o pilar doentio da chama ser adorado e os punhados arrancados da vegetação viscosa que reluzia verde no clarão cloroso serem jogados na água. Eu vi isso, e percebi também um ser disforme acocorado longe da luz tocando a flauta repulsivamente; enquanto ele tocava, pensei ter ouvido uma agitação mefítica abafada na escuridão fétida onde não era possível distinguir nada. Mas o que mais me assustava era a coluna flamejante, jorrando vulcanicamente de profundezas insondáveis e inconcebíveis, sem projetar sombra alguma como deveria uma chama normal e cobrindo a pedra nitrosa com um tom verde venenoso e nojento. Pois em toda aquela combustão fervilhando não havia calor, mas apenas a viscosidade da morte e da decomposição.
O homem que me trouxera avançou contorcendo-se nesse instante até um ponto diretamente ao lado da chama abominável, fazendo gestos cerimoniais decididos para o semicírculo que o encarava. Então seguiram-se alguns momentos do ritual em que eles se prostraram em reverências, especialmente quando o velho segurou acima da cabeça aquele odioso Necronomicon que trouxera com ele. Participei de todas as reverências, pois tinha sido convocado para aquele festival pelos meus antepassados. Em seguida ele fez um sinal para o flautista meio escondido na escuridão, que mudou seu tom débil para algo um pouco mais alto e com outro timbre, precipitando, dessa forma, um horror impensável e inesperado. Diante da cena, quase afundei na terra cheia de liquens, petrificado por um pavor que não era deste mundo, ou de mundo algum, mas apenas dos espaços irracionais entre as estrelas.
Então uma horda de seres híbridos com asas, dóceis e treinados, saiu da escuridão inimaginável além do clarão gangrenoso da chama fria, vinda das léguas infernais através das quais aquele rio oleoso corria misteriosamente, ignorado e desconhecido. Era algo que a visão ou o cérebro sãos não poderiam compreender e nem lembrar inteiramente. Não eram realmente corvos, nem toupeiras, nem urubus, nem formigas, nem vampiros, nem seres humanos putrefatos, mas algo que não consigo e não devo me lembrar. Eles moviam-se desajeitados com seus pés natatórios e suas asas membranosas, e quando se aproximaram do aglomerado de celebrantes, as figuras com seus mantos os pegaram e montaram e saíram um a um à beira daquele rio escuro, para dentro de poços e galerias de terror onde fontes venenosas alimentavam cachoeiras medonhas e ocultas.
A velha da roda de fiar partiu com os outros, e o velho permaneceu apenas porque me recusei a pegar um animal e montá-lo como o resto quando ele gesticulou para fazê-lo. Ao me levantar vacilante vi que o flautista informe havia saído do meu campo de visão, mas que dois animais esperavam pacientemente. Quando hesitei, o velho puxou a tabuleta e o estilete e escreveu que ele era o verdadeiro representante dos meus pais, fundadores do culto ao Yule neste lugar antigo, e que tinham ordens para que eu voltasse, pois mistérios mais secretos ainda seriam desvendados. Ele escreveu isso com uma caligrafia muito antiga, e quando ainda hesitei, tirou do manto folgado um anel com um sinete e um relógio, ambos com o brasão da minha família, para provar que ele era quem dizia ser. Mas era uma prova abominável, pois eu tinha conhecimento por meio de documentos antigos que aquele relógio fora enterrado com o pai de meu tataravô em 1698.
Logo em seguida o velho puxou o capuz e apontou para a semelhança familiar no seu rosto, mas eu apenas estremeci, pois tinha certeza que o rosto era meramente uma máscara diabólica. Os animais desajeitados agora se coçavam ansiosos contra os liquens, e reparei que o próprio velho estava quase tão ansioso quanto eles. Quando um dos seres começou a se afastar gingando como um pato, ele se voltou rapidamente para impedi-lo, de maneira que a brusquidão do seu movimento deslocou a máscara de cera do que deveria ser a sua cabeça. E então, já que a posição desse pesadelo barrava minha passagem para a escada de pedra de onde tínhamos vindo, eu me joguei no rio subterrâneo oleoso que borbulhava na direção das grutas do mar, naquele caldo pútrido dos horrores interiores da terra, antes que a fúria dos meus gritos pudesse atrair para mim todas as legiões de ossuários que aqueles abismos de pragas poderiam esconder.
No hospital me disseram que eu fora encontrado meio congelado no porto de Kingsport ao amanhecer, agarrado a um mastro à deriva que o acaso mandara para salvar-me. Falaram que eu tomara a bifurcação errada na estrada da colina na noite anterior e caíra no penhasco em Orange Point, algo que deduziram das impressões encontradas na neve. Não havia nada que eu pudesse dizer, pois estava tudo errado. Estava tudo errado com as janelas largas que mostravam um mar de telhados dos quais apenas um em cinco mais ou menos era antigo, e com o som dos bondes e dos motores nas ruas abaixo. Eles insistiram que isso era Kingsport, e não pude negá-lo. Quando entrei em delírio ao ficar sabendo que o hospital ficava próximo do velho adro na colina central, enviaram-me para o hospital St. Mary em Arkham, onde eu poderia ser mais bem cuidado. Gostei de lá, pois os médicos tinham uma cabeça aberta e até me ajudaram com sua influência a conseguir uma cópia cuidadosamente guardada do abominável Necronomicon de Alhazred da biblioteca da Universidade de Miskatonic. Eles disseram alguma coisa sobre “psicose” e concordei que era melhor livrar minha mente de quaisquer obsessões que me atormentassem.
Então li aquele capítulo revoltante e estremeci duplamente, pois ele de fato não era uma novidade para mim. Era melhor esquecê-lo, mas eu o vira antes e também onde ele ocorrera, dissessem as pegadas o que quisessem. Não há ninguém – nas horas despertas – que possa me lembrar disso, mas meus sonhos são repletos de horror, devido a algumas frases que não tenho coragem de citar. Só consigo citar um parágrafo, traduzido a partir de um latim vulgar complicado.
“As cavernas inferiores”, escreveu o árabe louco, “não são para os olhos que vêem e podem compreender, pois seus prodígios são estranhos e terríveis. Maldito o chão onde pensamentos mortos vivem de novo e em corpos grotescos, e diabólica a mente que não é segura por uma cabeça. Sabiamente disse Ibn Schacabao que feliz é a tumba onde não jaz um mago e feliz a cidade à noite cujos magos são todos cinzas. Pois é um velho rumor que a alma comprada pelo demônio não surge do barro sepulcral, mas cresce e instrui o próprio verme que o devora; até que da decomposição nasce uma vida horrenda e os comedores de carniça embotados da terra se fortalecem com astúcia, crescendo assustadoramente como flagelos e nela causando dor. Grandes buracos são cavados em segredo onde os poros da terra deveriam ser suficientes, e seres que deveriam rastejar aprenderam a caminhar.”
Aprisionado com os Faraós[1]
Mistério atrai mistério. A partir da ampla divulgação do meu nome como um artista de feitos inexplicáveis, deparei-me com relatos e eventos estranhos que as pessoas passaram a vincular aos meus interesses e atividades. Alguns foram comuns e irrelevantes, outros profundamente dramáticos e envolventes, outros ainda produziram experiências esquisitas e arriscadas, e, por fim, alguns me envolveram em vastas pesquisas científicas e históricas. Muitos desses casos tornei públicos e vou continuar a falar a respeito deles com absoluta franqueza, mas existe um sobre o qual falo com grande relutância e o qual estou contando agora somente após uma reunião dura em que fui persuadido pelos editores de uma revista que tinham ouvido rumores vagos a esse respeito de outros membros da minha família.
O assunto até agora guardado trata de minha visita não-profissional ao Egito quatorze anos atrás e tem sido evitado por mim por várias razões. Por um lado, sou avesso a explorar determinados fatos inequivocamente reais e condições obviamente desconhecidas para a infinidade de turistas que se aglomeram em torno das pirâmides e são mantidas em segredo com muito zelo pelas autoridades do Cairo, que não podem ignorá-las completamente. Por outro lado, não gosto de recontar um incidente no qual minha própria imaginação fantástica deve ter participado de maneira tão importante. O que vi – ou pensei ter visto – com certeza não ocorreu e, em vez disso, deve ser analisado como uma conseqüência das minhas então recentes leituras sobre egiptologia e das especulações acerca desse tema instigadas naturalmente pelo ambiente que me cercava. Esses estímulos imaginativos, aumentados pela comoção de um evento concreto terrível o suficiente em si mesmo, sem dúvida deram origem ao horror culminante daquela noite grotesca tanto tempo atrás.
Em janeiro de 1910, eu terminara um compromisso profissional na Inglaterra e assinara um contrato para uma turnê em teatros australianos. Com tempo de sobra até a viagem, decidi aproveitá-lo ao máximo com o tipo de turismo que mais me atrai; assim, deixei-me levar pelo continente europeu e embarquei em Marselha no vapor Malwa com destino a Port Said acompanhado por minha esposa. A partir daquela cidade sugeri que visitássemos os principais pontos históricos do Baixo Egito antes de partir finalmente para a Austrália.
A viagem foi agradável e animada por muitos dos incidentes divertidos que acontecem com um mágico longe do seu trabalho. Minha intenção, em prol de uma viagem tranqüila, era manter meu nome em segredo, mas fui instigado por um companheiro de mágicas cuja ansiedade em impressionar os passageiros com truques ordinários me tentaram a duplicar e superar os seus feitos de uma maneira bastante destrutiva para minha própria posição incógnita. Menciono isso devido ao seu resultado final – um resultado que eu deveria ter previsto antes de me desmascarar diante de um barco lotado de turistas prontos para se espalhar pelo vale do Nilo. O que fiz foi anunciar minha identidade em todos os lugares para onde fui subseqüentemente, privando minha esposa e eu da discrição que buscávamos. Viajando para ver coisas diferentes, eu mesmo fui forçado a parar muitas vezes para ser examinado como uma espécie de curiosidade!
Nós tínhamos ido ao Egito em busca do pitoresco e do misticamente impressionante, mas encontramos muito menos que o esperado quando o barco se aproximou de Port Said e desembarcou seus passageiros em botes pequenos. Dunas de areia baixas, bóias de sinalização na água rasa e uma cidadezinha européia melancólica com nada que interessasse a não ser a grande estátua De Lesseps nos deixaram ansiosos para seguirmos adiante a fim de ver algo que valesse mais o nosso tempo. Após alguma conversa, decidimos prosseguir logo para o Cairo e as pirâmides, depois para Alexandria e para o barco australiano e quaisquer paisagens greco-romanas que aquela metrópole antiga pudesse apresentar.
A viagem de trem foi suficientemente tolerável e durou apenas quatro horas e meia. Vimos grande parte do Canal de Suez, cuja rota seguimos até Ismailiya, e mais tarde tivemos uma prova do Velho Egito ao darmos uma olhada rápida sobre o canal restaurado de água doce do Médio Império. Então finalmente vimos Cairo bruxuleante no anoitecer que caía; uma constelação tremeluzindo e que se tornou um esplendor ao pararmos na grande Gare Centrale.
Entretanto, mais uma vez a decepção nos esperava, pois tudo que contemplávamos era europeu, fora os vestuários e o povo. Um prosaico metrô nos levou até uma praça belíssima com suas luzes elétricas brilhando sobre os prédios altos e apinhada de coches, táxis e bondes; e o próprio teatro onde eu era solicitado em vão para fazer meu espetáculo e, que mais tarde compareci como espectador, havia sido renomeado recentemente como o “Cosmógrafo Americano”. Seguimos então para o Hotel Sheperheard’s num táxi que acelerou por ruas elegantes e amplas. Lá chegando, em meio ao serviço perfeito do seu restaurante, seus elevadores e luxos quase sempre anglo-americanos, o Oriente misterioso e o passado imemorial pareceram bastante distantes.
O dia seguinte, entretanto, jogou-nos encantadoramente no coração da atmosfera das Mil e Uma Noites e nas ruas tortuosas e arquitetura exótica do Cairo. A Bagdá de Harun-al-Rashid parecia viver de novo. Guiados por nosso Baedeker[2], seguimos em direção leste passando pelos Jardins Ezbekiyeh junto ao Mouski em busca do bairro nativo, e logo estávamos nas mãos de um cicerone insistente que – a despeito dos desenvolvimentos posteriores – era sem dúvida um mestre no seu ofício.
Só mais tarde percebi que deveria ter pedido, no hotel, um guia com uma licença. Este homem, um sujeito barbeado, com uma voz peculiarmente rouca e relativamente limpo, que parecia um faraó e se chamava Abdul Reis el Drogman, parecia exercer bastante poder sobre seus pares, apesar de subseqüentemente a polícia ter declarado não conhecê-lo e sugerido que reis é meramente um nome para qualquer pessoa numa posição de autoridade, enquanto “Drogman” obviamente não passa de uma modificação tosca da palavra que designa um líder de grupos de turistas – dragoman.
Abdul nos levou pelas maravilhas sobre as quais só tínhamos lido e sonhado. A Velha Cairo é um livro de história e um sonho em si mesma – labirintos de ruelas estreitas e fragrantes de segredos aromáticos; sacadas arabescas e balcões envidraçados quase se encontrando acima das ruas de pedra; turbilhões de tráfego oriental com gritos estranhos, relhos estalando, carroças rangendo, moedas tilintando e burros zurrando; caleidoscópios de túnicas, véus, turbantes e barretes multicolores; aguadeiros e dervixes, cães e gatos, adivinhos e barbeiros; e acima de tudo, o lamento de pedintes cegos agachados nos cantos e a recitação sonora de salmos dos almuadens nos minaretes delineados com delicadeza contra um céu profundo imutável.
Os bazares cobertos mais silenciosos eram dificilmente menos fascinantes, com suas especiarias, perfumes, incensos, tapetes, sedas e bronze, como no bazar do velho Mahomoud Suleiman, que trabalhava sentado de pernas cruzadas em meio às suas garrafas com resina enquanto uns garotos matraqueando reduziam sementes de mostarda a pó contra a parte escavada de uma coluna romano-coríntia antiga, talvez da vizinha Heliópolis, onde Augustus baseou uma das suas três legiões egípcias. A antiguidade começava a se mesclar com o exótico, e então visitamos as mesquitas e os museus – nós os vimos todos e tentamos não deixar nossa folia árabe sucumbir ao fascínio mais enigmático do Egito faraônico que os tesouros incalculáveis dos museus nos ofereciam. Esse era para ser o nosso clímax, e por ora nos concentramos nas glórias medievais sarracenas dos califas, cujas magníficas mesquitas-tumba formavam uma resplandecente necrópole encantada à beira do deserto da Arábia.
Por fim, Abdul nos levou ao largo da mesquita de Mohammed Ali até a mesquita antiga do Sultão Hassan e a Babel-Azab flanqueada por suas torres, além da qual subia uma passagem íngreme amurada que levava à fortaleza imponente que o próprio Saladin construíra com as pedras de pirâmides esquecidas. O sol já se punha quando escalamos aquele paredão rochoso, demos a volta na mesquita moderna de Mohammed Ali e olhamos a partir do parapeito vertiginoso para a Cairo mística, toda dourada com seus domos esculpidos, seus minaretes refinados e jardins flamantes.
Distante na cidade pairava o domo romano do museu novo, e além dele – no outro lado do Nilo de um marrom enigmático, mãe de todos os entes imaginários e dinastias –, ocultavam-se as dunas ameaçadoras do deserto da Líbia, ondulantes, iridescentes e diabólicas com seus mistérios mais antigos.
O sol vermelho caiu no horizonte trazendo o frio implacável do anoitecer egípcio, e, enquanto ele pousava suspenso sobre a beira do mundo como aquele Deus antigo de Heliópolis – Re-Harakhte, o Sol-Horizonte –, vimos os perfis das pirâmides de Gizé desenhados contra o seu holocausto vermelho, cujas tumbas paleontológicas já contavam mil veneráveis anos quando Tut-Ankh-Amen instalou seu trono na distante Tebas. Então sabíamos que a Cairo sarracena estava vista e que tínhamos de provar dos mistérios mais profundos do Egito primitivo – o sinistro Kem de Re e Amem, Ísis e Osíris.
Na manhã seguinte, visitamos as pirâmides rodando numa Victoria, passando pela ilha de Chizereh com suas árvores lebbakh enormes e sobre a ponte inglesa menor para a costa oeste. Seguimos pela estrada junto à costa entre as fileiras grandes de lebbakhs e cruzando o vasto Jardim Zoológico até o subúrbio de Gizé, onde fora construída uma ponte nova digna do Cairo. Então nos dirigimos ao interior pela Sharia-el-Haram por uma região de canais cristalinos e vilarejos nativos miseráveis até os objetos da nossa busca avultarem-se à nossa frente, fendendo a cerração do amanhecer e formando réplicas invertidas nas poças ao lado da estrada. Quarenta séculos, como disse Napoleão para seus camaradas de campanha, realmente nos contemplavam.
A estrada agora subia abrupta, até que enfim alcançamos o local entre a estação do bonde e o Hotel Mena House, onde trocaríamos de meio de transporte. Abdul Reis, que comprara com cuidado nossos ingressos para as pirâmides, parecia se entender com os beduínos gritões e desagradáveis que se aglomeravam à nossa volta. Moradores de um vilarejo esquálido e embarrado que ficava perto dali, eles investiam de modo irritante contra todos os viajantes. Abdul os manteve calmamente à distância e nos conseguiu um excelente par de camelos, ele próprio montando num burro e designando o comando dos nossos animais para um grupo de homens e garotos mais caros do que úteis. A distância a ser atravessada era tão pequena que os camelos mal foram necessários, mas não nos arrependemos de acrescentar à nossa experiência essa forma incômoda de navegação no deserto.
As pirâmides ficam sobre um platô rochoso alto, sendo que esse grupo é formado próximo à série mais ao norte de cemitérios reais e aristocráticos construídos na vizinhança da extinta capital Mênfis, que fica do mesmo lado do Nilo, um pouco ao sul de Gizé, e que floresceu entre os anos de 3.400 e 2.000 a.C. A pirâmide maior, que fica mais próxima da estrada moderna, foi construída pelo rei Quéops ou Khufu em torno de 2.800 a.C. e tem mais de 150 metros de altura. Numa linha em direção a sudoeste estão sucessivamente a Segunda Pirâmide, construída uma geração depois pelo rei Quéfren, e, apesar de ser um pouco menor, aparenta ser maior, pois foi colocada sobre um terreno mais alto, e a radicalmente menor Terceira Pirâmide do rei Miquerinos, construída em torno de 2.700 a.C. Próximo à beira do platô e exatamente a leste da Segunda Pirâmide, com um rosto provavelmente alterado para formar um retrato colossal de Quéfren, seu restaurador real, fica a prodigiosa Esfinge – muda, sardônica e sábia além da humanidade e da memória.
Pirâmides menores e rastros de pirâmides menores em ruínas são encontrados em vários lugares, e todo o platô é escavado com as tumbas de dignitários não-pertencentes à família real. Elas então eram marcadas por mastabas – estruturas de pedra parecidas com bancos – em torno dos poços profundos de sepultamento, como as encontradas em outros cemitérios de Mênfis e exemplificadas pela Tumba de Perneb no Museu Metropolitan de Nova York. Em Gizé, no entanto, todas as coisas visíveis foram varridas pelo tempo e pelo saque, e apenas os poços cortados na pedra, ou cheios de areia ou limpos pelos arqueólogos, restaram para evidenciar a sua antiga existência. Conectada com cada tumba, havia uma capela na qual os sacerdotes e os parentes ofereciam alimentos e rezas para o ka ou princípio vital do falecido que pairava no ar. As tumbas pequenas têm as suas capelas dentro das suas mastabas de pedra ou superestruturas, mas as capelas mortuárias das pirâmides, onde ficam os faraós reais, eram templos separados, cada um para o leste da sua pirâmide correspondente e todos conectados por um caminho elevado até uma enorme capela de entrada ou pórtico na beira do platô rochoso.
A capela-pórtico que leva à Segunda Pirâmide, quase enterrada pelas dunas carregadas pelo vento, escancara-se pelo subterrâneo a sudeste da Esfinge. A tradição teima em chamá-la de “Templo da Esfinge”, e talvez esse seja o seu nome correto se a Esfinge realmente representa Quéfren, que foi o construtor da Segunda Pirâmide. Existem histórias desagradáveis sobre a Esfinge antes de Quéfren – mas quaisquer que tenham sido seus traços mais antigos, o monarca os substituiu pelos seus próprios para que as pessoas pudessem olhar sem temor para o colosso.
Foi no grande templo-pórtico de entrada que a estátua de diorito de Quéfren em tamanho natural foi encontrada. Ela está agora no Museu do Cairo, e fiquei completamente estupefato quando a contemplei. Se toda a construção já foi escavada não tenho certeza, mas em 1910 a maior parte dela estava embaixo da terra, com a entrada pesadamente guardada à noite. Os alemães eram os encarregados do trabalho, e a guerra ou outras coisas pode tê-los parado. Eu daria muito, considerando minha experiência e certos boatos dos beduínos que são desacreditados ou desconhecidos no Cairo, para saber o que aconteceu em relação a uma determinada fonte numa galeria transversal onde estátuas do faraó foram encontradas, numa curiosa justaposição, às de babuínos.
A estrada que cruzamos nos nossos camelos naquela manhã fazia uma curva brusca que passava pela estação de polícia, pelos correios, pela farmácia e pelas lojas construídas em madeira do lado esquerdo e mergulhava em direção ao sul e a leste numa volta completa que circundava o platô rochoso, colocando-nos cara a cara com o deserto sob o abrigo da Grande Pirâmide. Seguimos adiante ao largo da construção gigantesca de pedra, dando a volta na face leste e tendo abaixo, como vista, um vale de pirâmides menores além das quais resplandecia o Nilo eterno a leste e bruxuleava o deserto imortal a oeste. As três pirâmides maiores pairavam bem próximas, sendo que a maior era desprovida do revestimento exterior, deixando à mostra a magnitude das suas pedras enormes. As outras, entretanto, mantinham aqui e ali a cobertura caprichosamente encaixada que as tinha feito parecerem uniformes e bem-acabadas no seu tempo.
Logo descemos em direção à Esfinge e sentamos em silêncio debaixo da magia daqueles olhos terríveis que não viam. Sobre o peito enorme de pedra, mal discernimos o emblema de Re-Harakhte, por cuja imagem a Esfinge foi confundida numa dinastia mais recente, e, apesar de a areia ter coberto a placa entre as patas grandes, lembramos o que Thutmosis IV gravara nela e o sonho que tivera quando era príncipe. Foi então que o sorriso da Esfinge nos desagradou vagamente, e nos fez pensar sobre as lendas dos corredores subterrâneos debaixo da criatura colossal, levando para baixo, para bem fundo, para profundezas que ninguém teria a coragem de falar a respeito – profundezas ligadas a mistérios mais antigos que o Egito das dinastias que nós escavamos e com uma relação sinistra com a persistência de deuses anormais com cabeças de animais no panteão antigo do Nilo. Então também me perguntei se não seria uma questão fútil cujo significado chocante não levaria tempo demais para se revelar.
Outros turistas começaram a nos alcançar agora, e seguimos para o Templo da Esfinge abarrotado de areia a uns cinqüenta metros a sudeste. Como eu já mencionei, ele era o grande portão da passagem elevada que levava à capela mortuária da Segunda Pirâmide no platô. A maior parte dela ainda estava embaixo da terra, e, apesar de termos desmontado e descido através de uma passagem moderna para um corredor de alabastro e para o átrio sustentado por colunas, senti que Abdul e o assistente alemão local não tinham nos mostrado tudo o que havia para ser visto.
Após isso fizemos o circuito convencional do platô das pirâmides, observando a Segunda Pirâmide e as ruínas singulares da sua capela mortuária, a Terceira Pirâmide e seus satélites em miniatura ao sul com a capela em ruínas a leste, as tumbas rochosas e as escavações da Quarta e Quinta dinastias e a famosa Tumba de Campbell, cujo poço sombrio entranha-se escarpado por dezoito metros até um sarcófago sinistro, o qual um dos nossos guias dos camelos limpou da areia que o obstruía após uma descida vertiginosa pelas cordas.
Nesse instante chegaram até nós gritos vindos da Grande Pirâmide, onde os beduínos assediavam um grupo de turistas oferecendo sua agilidade na performance dos passeios solitários para cima e para baixo. Dizia-se que o recorde para uma subida e descida dessas era de setenta minutos, mas muitos guias e filhos de guias mais vigorosos nos asseguraram que poderiam diminuir esse tempo se recebessem o empurrão necessário de uma boa backsheesh[3]. Eles não conseguiram esse empurrão, apesar de deixarmos Abdul nos levar para cima, desse modo conseguindo uma vista de uma magnificência sem precedentes que incluía não somente a Cairo distante e resplandecente com sua cidadela coroada ao fundo pelos morros violeta-dourados, mas também de todas as pirâmides da região de Mênfis também, desde Abu Roash ao norte e passando por Dashur ao sul. A pirâmide em degraus de Sakkara, que marca a evolução da mastaba baixa para as verdadeiras pirâmides, aparecia claramente e era fascinante na distância arenosa. Próxima a esse monumento de transição foi encontrada a famosa tumba de Perneb – mais de quatrocentas milhas ao norte do vale rochoso de Tebas onde Tut-Ankh-Amen descansa. Mais uma vez fui forçado a calar-me absolutamente maravilhado. A paisagem de uma antiguidade dessas e os segredos que cada monumento venerável parecia possuir e meditar a respeito encheram-me com uma reverência e um sentimento de imensidão que nunca mais nada conseguiu me proporcionar.
Cansados com a escalada e aborrecido com os beduínos importunos cujos atos pareciam desafiar qualquer regra do bom gosto, deixamos de lado o árduo pormenor de entrar nos corredores internos apertados das pirâmides, apesar de termos visto vários dos turistas mais resistentes preparando-se para o engatinhar sufocante pelo memorial mais pujante de Quéops. Então dispensamos e pagamos generosamente nosso guarda-costas local e voltamos para Cairo com Abdul Reis sob o sol da tarde, mas nos arrependemos um pouco pela nossa omissão. Ouviam-se rumores tão fascinantes sobre os corredores mais baixos das pirâmides que não constavam nos guias de viagem; corredores cujas entradas haviam sido bloqueadas ou ocultas apressadamente por certos arqueólogos que os haviam encontrado e começado a explorar, e não faziam questão de falar a respeito.
É claro que esses rumores, à primeira vista, não tinham fundamento algum, mas era curioso refletir sobre quão insistentemente os visitantes eram proibidos de entrar nas pirâmides à noite ou visitar as covas mais baixas e a cripta da Grande Pirâmide. Talvez, no último caso, fosse o efeito psicológico que se temia – a tensão do visitante ao sentir-se encolhido debaixo de um mundo gigantesco de uma construção de pedra sólida, ligado à vida que ele conhecia pelo túnel mais simples, no qual só se pode engatinhar e que qualquer acidente ou maldade pode bloquear. Todo o assunto parecia tão estranho e fascinante, que decidimos fazer uma outra visita ao platô das pirâmides na primeira oportunidade que tivéssemos. Para mim essa oportunidade apareceu muito mais cedo do que o esperado.
Com os membros do nosso grupo sentindo-se de certa forma cansados à noite após o programa extenso que fora cumprido, segui sozinho com Abdul Reis para um passeio pelo pitoresco bairro árabe. Apesar de tê-lo visto durante o dia, eu queria estudar os becos e os bazares no anoitecer, quando as sombras penetrantes e os brilhos delicados das luzes aumentariam o seu glamour e sua ilusão fantástica. A multidão de nativos estava diminuindo, mas ainda era muito barulhenta e numerosa quando nos aproximamos de um aglomerado de beduínos divertindo-se ruidosamente no Suken-Nahhasin, ou bazar dos trabalhadores de cobre. O seu líder, um jovem insolente com traços fortes e usando um barrete maliciosamente virado para um lado, percebeu-nos de relance e sem dúvida reconheceu sem grande afabilidade meu competente guia, mas que era arrogante assumido e dado ao sarcasmo.
Pensei que talvez ele se ressentisse quando Abdul imitava estranhamente o meio sorriso da Esfinge, fato que eu observara muitas vezes com uma irritação divertida, ou talvez não gostasse da ressonância cavernosa e sepulcral da sua voz. De qualquer maneira, a troca de palavras ancestralmente insultuosas tornou-se enérgica, e logo Ali Ziz, como ouvi o estranho ser chamado – e isso quando não o foi por um nome pior – , começou a puxar violentamente a túnica de Abdul, uma ação retribuída com rapidez que levou a uma briga vigorosa na qual ambos combatentes perderam seus barretes religiosamente cuidados e teriam chegado a uma condição mais calamitosa se eu não tivesse intervindo e os separado pela força física.
Minha interferência, num primeiro momento aparentemente mal recebida por ambos lados, por fim conseguiu realizar uma trégua. Cada brigão carrancudo apaziguou sua ira e arrumou a vestimenta e, assumindo uma dignidade tão profunda quanto repentina, os dois formalizaram um pacto de honra curioso que logo aprendi ser um costume muito antigo no Cairo – um pacto para o acerto das suas desavenças por meio de uma luta noturna com os punhos em cima da Grande Pirâmide, bem depois da saída do último turista banhado pelo luar. Cada duelista deveria reunir um bando de assistentes e a função deveria começar à meia-noite, seguindo em rounds da forma mais civilizada possível.
Em todo esse planejamento havia muita coisa que despertava meu interesse. A luta em si prometia ser única e espetacular, enquanto o pensamento da cena sobre aquela grande construção antiga olhando do alto o platô antiqüíssimo de Gizé sob o luar fraco das primeiras horas descoradas da madrugada prendiam a atenção de cada fibra da minha imaginação. Um pedido meu encontrou um Abdul muitíssimo disposto a me admitir no seu grupo de assistentes, de maneira que durante todo o restante desse início da noite acompanhei-o a vários antros nas áreas mais perigosas da cidade – a maioria a nordeste de Ezbekiyeh – onde ele reuniu um por um seu bando seleto e formidável de agradáveis bandidos no seu meio do pugilismo.
Logo após as nove horas, nosso grupo montado em burros chamados por nomes reais ou que remetiam ao turismo como “Ramsés”, “Mark Twain”, “J. P. Morgan” e “Minnehaha” avançou devagar pelos labirintos orientais e ocidentais das ruas, cruzando o Nilo embarrado e abarrotado de mastros pela ponte dos leões de bronze e seguindo filosoficamente num meio galope entre as lebbakhs pela estrada para Gizé. Um pouco mais de duas horas foram gastas com a excursão, e, próximo do final dela, passamos pelos últimos turistas que voltavam, saudamos o último bonde que chegava e, então, estávamos sozinhos com a noite, o passado e a lua espectral.
Então vimos as pirâmides enormes ao final da avenida. Pareciam transmitir uma ameaça atávica e sombria horripilante que aparentemente eu não reparara durante o dia. Mesmo a menor delas sugeria algo medonho – pois não fora nela que eles tinham enterrado viva a Rainha Nitocris na Sexta Dinastia, a misteriosa Rainha Nitocris, que certa feita convidara todos os seus inimigos para um banquete num templo abaixo do Nilo, e os afogara abrindo as comportas? Lembrei que os árabes sussurram coisas sobre Nitocris, e evitam a Terceira Pirâmide em certas fases da lua. Deve ter sido sobre ela que Thomas Moore meditava quando escreveu os versos que são murmurados pelos barqueiros de Mênfis:
“A ninfa subterrânea que vive
Cercada de jóias sombrias e glórias escondidas –
A dama da Pirâmide!”[4]
Mesmo chegando cedo, Ali Ziz e seu bando estavam à nossa frente, pois vimos seus burros delineados contra o platô do deserto em Kafrel-Harem. Nos desviamos em direção aos assentamentos árabes miseráveis próximos à Esfinge, em vez de seguir a estrada regular para o Hotel Mena House, onde alguns dos policiais ineficientes e sonolentos poderiam ter nos observado e parado. Nesse ponto, onde os beduínos sujos abrigavam camelos e burros nas tumbas rochosas dos cortesãos de Quéfren, seguimos pelas rochas e pela areia da Grande Pirâmide, sobre cujas faces gastas pelo tempo os árabes subiram avidamente. Abdul Reis ofereceu-me uma ajuda da qual não precisei.
Como a maioria dos viajantes sabe, o cume verdadeiro dessa estrutura há muito foi gasto pelo tempo, deixando uma plataforma razoavelmente plana de uns doze metros quadrados. Sobre esse pináculo estranho foi formado um círculo fechado, e logo em seguida a lua sarcástica do deserto observava de soslaio uma batalha que, pela qualidade dos gritos da assistência, poderia muito bem ter ocorrido num ginásio de esportes qualquer nos Estados Unidos. Enquanto a acompanhava, senti que algumas das nossas instituições menos apreciáveis não estavam ausentes na luta, pois cada golpe, cada esquiva e cada defesa acusavam um “fingimento” para meu olho inexperiente. Ela logo acabou, e, apesar das minhas suspeitas sobre os métodos usados, senti um certo orgulho quando Abdul Reis foi decretado o vencedor.
A reconciliação foi incrivelmente rápida e, em meio à cantoria de confraternização e a bebida que se seguiram, achei difícil pensar que uma briga havia ocorrido. Estranhamente, eu mesmo parecia ser um centro mais importante da atenção deles do que os antagonistas, e a partir do meu conhecimento superficial do árabe, julguei que eles estavam discutindo minhas performances e escapes profissionais de toda sorte de grilhões e confinamento de uma maneira que não somente indicava um conhecimento surpreendente da minha pessoa, mas uma hostilidade e um ceticismo indubitáveis em relação aos meus feitos como artista de escapes. Gradualmente comecei a compreender que a antiga mágica do Egito não havia partido sem deixar rastos e que fragmentos de um estranho conhecimento secreto e práticas de cultos sacerdotais haviam sobrevivido sub-repticiamente em meio aos felaheen[5] a tal ponto que a perícia de um hahwi, ou mágico, estranho era ressentida e questionada. Pensei como meu guia de voz cavernosa parecia com um velho sacerdote egípcio, ou um faraó, ou a Esfinge sorrindo... e meditei a respeito.
De repente aconteceu algo que no mesmo instante provou a correção da minha reflexão e me fez amaldiçoar a estupidez com a qual aceitara os eventos daquela noite como algo mais do que a armação sem sentido e maliciosa que eles agora demonstravam ser. Sem um aviso sequer, e sem dúvida em resposta a algum sinal sutil de Abdul, todo o bando de beduínos se lançou sobre mim e, tendo trazido cordas pesadas, logo tinham-me amarrado tão seguramente quanto já fui amarrado no curso da minha vida, seja no palco ou fora dele.
Num primeiro momento me debati, mas logo vi que um só homem não conseguiria avançar contra um bando de mais de vinte bárbaros fortes. Minhas mãos foram amarradas às costas, os joelhos, dobrados ao máximo da sua extensão, e os punhos e tornozelos, amarrados fortemente juntos com fios resistentes. Uma mordaça sufocante foi forçada em minha boca e uma venda foi colocada apertada sobre os olhos. Em seguida, enquanto os árabes me levantavam sobre os ombros e começavam a descer a pirâmide aos solavancos, ouvi as gozações do meu ex-guia Abdul, que zombava e fazia chacotas deleitando-se na sua voz cavernosa, assegurando-me que eu logo teria meus “poderes mágicos” colocados a uma prova suprema que rapidamente tiraria qualquer pretensão que eu poderia ter ganho triunfando sobre todos os testes oferecidos pelos Estados Unidos e a Europa. O Egito, lembrou-me, era muito antigo, cheio de mistérios secretos e poderes de outras eras inconcebíveis para os conhecedores de hoje, cujos estratagemas haviam fracassado tão uniformemente em me apanhar.
Quão longe ou em que direção fui carregado, não posso dizer, pois as circunstâncias eram todas contra a formação de qualquer discernimento preciso. Eu sei, entretanto, que não pode ter sido uma grande distância, tendo em vista que meus algozes em ponto algum apressaram o passo além de uma caminhada e mesmo assim me mantiveram no ar por um tempo surpreendentemente pequeno. É essa brevidade desconcertante que quase me faz sentir arrepios sempre que penso sobre Gizé e o seu platô – pois me sinto oprimido pela proximidade das rotas cotidianas dos turistas com o que existia naquela época e ainda deve existir.
A anormalidade diabólica de que falo não se tornou manifesta logo de saída. Colocando-me sobre uma superfície que reconheci como areia em vez de rocha, meus raptores passaram uma corda em torno do meu peito e me arrastaram por alguns metros até uma abertura escarpada no chão, para dentro da qual fui logo baixado sem que tomassem o menor cuidado. Pelo que pareceu uma eternidade, bati contra as paredes pedregosas estreitas talhadas na pedra, as quais tomei como sendo um dos numerosos poços para sepultamentos do platô. Então sua profundidade prodigiosa, quase inacreditável, roubou-me de todas as bases para conjeturar algo.
O horror da experiência aprofundou-se com cada segundo que se arrastava. Que qualquer descida pela rocha absolutamente sólida pudesse ser tão grande sem se chegar ao centro do próprio planeta ou que qualquer corda feita pelo homem pudesse ser tão longa a ponto de me balançar nessas profundidades profanas e aparentemente inescrutáveis da terra inferior eram convicções tão bizarras que era mais fácil duvidar dos meus sentidos agitados do que aceitá-los. Mesmo agora não tenho certeza disso, pois sei como o sentido do tempo torna-se enganoso quando uma pessoa é deslocada de um lugar a outro ou é destituída dos sentidos como eu me encontrava. Mas tenho bastante convicção de que preservei uma consciência lógica até aquele ponto, pois pelo menos não acrescentei nenhum fantasma imaginário considerável a um quadro suficientemente terrível na sua realidade e explicável por um tipo de ilusão cerebral muito próxima de uma alucinação de fato.
Tudo isso não foi a causa do meu primeiro pequeno desmaio. A provação chocante foi cumulativa, e o princípio desses últimos terrores foi um aumento muito perceptível na velocidade da descida, pois passaram a soltar a corda infinitamente longa com muita rapidez, e fui raspando sem piedade contra as paredes duras e apertadas do poço enquanto era lançado loucamente para baixo. Minhas roupas estavam em farrapos, e senti o sangue escorrendo por tudo, mesmo acima da dor crescente e excruciante. Minhas narinas também foram assaltadas por um perigo difícil de definir: um cheiro arrepiante de umidade e mofo curiosamente diferente de qualquer coisa que eu tenha sentido antes e com ligeiras sugestões de especiarias e incenso que lhe emprestavam um elemento de escárnio.
Então sobreveio o cataclismo mental. Era uma sensação horrível – hedionda além de qualquer descrição articulada –, pois vinha da alma, sem nenhum pormenor que pudesse ser descrito. Era o êxtase do pesadelo e a soma do diabólico. A brusquidão disso foi apocalíptica e demoníaca – num momento eu estava mergulhando agonizante por aquele poço estreito que me torturava com um milhão de dentes, no entanto, no momento seguinte eu pairava sobre asas de morcegos nos abismos do inferno, balançando livre e precipitadamente através de milhas imensuráveis de um espaço infinito e bolorento, ascendendo vertiginosamente em direção aos pináculos incomensuráveis do espaço celeste, então mergulhando ofegante em direção ao nadir que sugava dos vácuos vorazes e nauseantes... Graças a Deus pela piedade que ocultou no esquecimento aquelas Fúrias dilacerantes da consciência que perturbaram minhas faculdades mentais e rasgaram como um gavião o meu espírito! Essa folga, mesmo curta como foi, deu-me a força e a sanidade suficientes para suportar aquelas sublimações ainda maiores do pânico cósmico que se escondia e me chamava incompreensivelmente no caminho à frente.
II
Demorei para recuperar aos poucos meus sentidos após aquele vôo estranho através do espaço infernal. O processo foi infinitamente doloroso e colorido por sonhos fantásticos nos quais minha condição amarrada e amordaçada encontrou uma personificação singular. A natureza precisa desses sonhos foi muito clara enquanto os sonhara, mas tornou-se indistinta ao tentar lembrar-me dela quase imediatamente depois e foi logo reduzida a não mais que um esboço impreciso pelos eventos terríveis – reais ou imaginários – que se seguiram. Sonhei que era presa de uma pata enorme e terrível, uma pata com cinco garras, peluda e amarela, que havia saído da terra para me esmagar e engolir. E quando parei para refletir o que era a pata, pareceu-me que era o Egito. No sonho refleti sobre os eventos das semanas anteriores, vi-me seduzido e enredado pouco a pouco, sutil e insidiosamente por algum espírito maléfico infernal da feitiçaria antiga do Egito; algum espírito que existia no Egito antes da presença do homem e que vai estar lá quando o homem não existir mais.
Eu vi o horror e a antiguidade perniciosa do Egito e a afinidade pavorosa que ele sempre teve com as tumbas e os templos dos mortos. Vi procissões fantasmagóricas de sacerdotes com cabeças de touros, falcões, gatos e íbis; procissões fantasmagóricas que marchavam interminavelmente através de labirintos subterrâneos e avenidas com pórticos gigantes ao lado das quais um homem é uma mosca, e oferecendo sacrifícios indizíveis para deuses indescritíveis. Colossos de pedra marchavam na noite sem fim e conduziam hordas de androsfinges arreganhando os dentes até as margens de rios estagnados e infinitos de piche. E atrás de tudo vi a maldade inefável da necromancia primordial, sombria e amorfa, balbuciando vorazmente atrás de mim na escuridão para estrangular o espírito que havia ousado escarnecê-la ao competir com ela.
No meu cérebro adormecido tomou forma um melodrama de ódio e perseguição sinistros, e vi a alma sombria do Egito me escolhendo e chamando com sussurros inaudíveis; me seduzindo e levando com o brilho e o glamour da alma sarracena, mas sempre me jogando para baixo para as catacumbas e os horrores antiqüíssimos do seu coração faraônico abismal e morto.
Então os rostos do sonho assumiram similaridades humanas e vi meu guia Abdul Reis nas túnicas de um rei, com o sorriso escarninho da Esfinge nos seus traços. E eu sabia que aqueles traços eram os traços de Quéfren, o Grande, que ergueu a Segunda Pirâmide, entalhou sobre o rosto da Esfinge a forma do seu próprio rosto e construiu aquele templo no pórtico gigante, cuja miríade de corredores os arqueólogos acreditavam ter escavado da areia misteriosa e da rocha que pouco deixavam transparecer. E olhei para a mão firme, magra e longa de Quéfren; a mão firme, magra e longa que eu vira na estátua de diorito no Museu do Cairo – a estátua que eles tinham encontrado no terrível templo do pórtico – e me perguntei como não tinha dado um grito quando a vi em Abdul Reis... Aquela mão? Ela era horrendamente fria, e ela estava me esmagando, era o frio e as cãibras de um sarcófago... a friagem e o aperto do Egito imemoriável... era o próprio Egito da noite e das necrópoles... aquela pata amarela... e eles sussurram essas coisas sobre Quéfren...
Mas nesse momento crítico comecei a acordar – ou pelo menos a assumir uma condição um pouco mais desperta do sono de um pouco tempo atrás. Lembrei da luta no topo da pirâmide, dos beduínos traiçoeiros e seu ataque, minha descida atemorizante através de profundezas rochosas sem fim e de meu mergulho e balanço enlouquecido num vazio frio cheirando a putrescência. Percebi que agora deitava sobre um chão rochoso úmido e que minhas amarras ainda me apertavam com a mesma força. Estava muito frio, e eu parecia detectar uma corrente leve de ar fétido passando por mim. Os cortes e os machucados que as paredes escarpadas do poço provocaram estavam doendo de maneira angustiante, sua dor aumentada ao ponto de parecerem picadas e queimaduras por alguma propriedade cáustica da correnteza fraca, e o mero ato de rolar sobre mim mesmo era o suficiente para deixar todo o corpo latejando com uma agonia indizível.
Quando me voltei, senti um puxão de cima e concluí que a corda pela qual eu fora baixado ainda chegava à superfície. Se os árabes ainda a seguravam, não fazia idéia, tampouco não fazia a menor idéia da distância para dentro da terra em que eu me encontrava. Eu sabia que a escuridão à minha volta era absoluta ou quase total, visto que nenhum raio da lua penetrava pela venda, mas não confiei nos meus sentidos o suficiente para aceitar como prova da profundidade extrema a sensação da duração enorme que havia caracterizado a minha descida.
Sabendo pelo menos que estava num espaço de considerável extensão, alcançada pela superfície diretamente acima por uma abertura na rocha, conjeturei duvidoso se minha prisão não era talvez a capela do pórtico enterrada do velho Quéfren – o Templo da Esfinge – ou algum corredor interno que os guias não tinham me mostrado durante a visita de manhã através do qual eu poderia escapar facilmente se pudesse encontrar um caminho até a entrada bloqueada. Seria uma procura labiríntica, mas não mais difícil do que outras de onde eu encontrara o caminho para sair no passado.
O primeiro passo era livrar-me das amarras, da mordaça e da venda; e isso eu sabia que não seria uma grande dificuldade, visto que conhecedores mais sutis do que esses árabes já tinham tentado toda sorte de grilhões em mim durante minha longa e variada carreira como um expoente das fugas, no entanto nunca haviam tido sucesso em derrotar os meus métodos.
Então ocorreu-me que os árabes poderiam estar prontos para me encontrar e atacar na entrada ao perceberem qualquer sinal de uma possível fuga minha das amarras, fato que seria descoberto por qualquer movimento mais decidido da corda que eles provavelmente seguravam. Isso, é claro, levando em consideração que o lugar do meu aprisionamento era realmente o Templo de Quéfren da Esfinge. A abertura direta no teto, onde quer que ela estivesse escondida, poderia estar bem além do alcance da entrada moderna comum próxima da Esfinge, se na verdade havia realmente uma grande distância na superfície, já que a área total conhecida dos visitantes não é de forma alguma enorme. Eu não tinha observado uma abertura dessa natureza durante minha peregrinação diurna, mas sabia que essas coisas são facilmente despercebidas em meio às areias levadas pelo vento.
Pensando sobre essas questões enquanto seguia deitado, torcido e amarrado sobre o chão rochoso, quase esqueci os horrores da descida abissal e o vaivém cavernoso que há tão pouco tempo haviam me reduzido a um estado de estupor. O pensamento que me ocorria no momento era apenas de levar a melhor sobre os árabes, e, nesse sentido, comecei a tentar me libertar o mais rapidamente possível, evitando qualquer puxão na corda que descia e que poderia trair uma tentativa efetiva ou mesmo problemática de libertar-me.
Isso, entretanto, foi mais facilmente determinado do que conseguido. Algumas tentativas preliminares deixaram claro que pouco poderia ser conseguido sem movimentar-me de modo considerável; e não me surpreendeu quando, após uma luta especialmente enérgica, comecei a sentir a corda enrolando-se enquanto ela caía à minha volta e sobre mim. Com certeza os beduínos sentiram os meus movimentos, pensei, e soltaram a sua ponta da corda e foram às pressas para a entrada verdadeira do templo para esperar-me com intenções assassinas.
A perspectiva não era agradável – mas eu enfrentara sem hesitar coisas piores no meu tempo e não hesitaria agora. No momento eu tinha primeiro que me livrar das amarras, então confiar na minha inventividade para escapar ileso do templo. É curioso o quão implicitamente eu passara a acreditar que estava no velho templo de Quéfren ao lado da Esfinge, apenas a uma curta distância abaixo do chão.
Essa crença foi arruinada e todas as apreensões primitivas de uma obscuridade sobrenatural e um mistério demoníaco foram revividas, por uma circunstância que cresceu em horror e significado enquanto formulava meu plano filosófico. Já disse que a corda que caía estava se empilhando à minha volta e sobre mim. Nesse instante percebi que ela continuava a se empilhar de uma forma que nenhuma corda normal poderia fazer. Ela ganhava ímpeto e tornou-se uma avalanche de corda, acumulando-se como uma montanha sobre o chão e quase me enterrando embaixo dos seus rolos que se multiplicavam com rapidez. Logo eu estava completamente tragado e respirando ofegante à medida que ela se enrolava me submergindo e sufocando.
Meus sentidos oscilaram de novo, e tentei em vão afastar um perigo terrível e inevitável. Não era simplesmente que eu estava sendo torturado além da resistência humana – não era simplesmente que a vida e a respiração pareciam estar sendo aos poucos aniquiladas –, era o conhecimento do que aquelas distâncias anormais de corda implicavam e a consciência dos abismos desconhecidos e incalculáveis de terra interior que deviam estar nesse momento me cercando. Então minha descida sem fim e o vôo balançando pelo espaço diabólico deviam ter sido reais, e agora eu estava realmente deitado desamparado em algum mundo cavernoso sem nome em direção ao centro do planeta. Uma confirmação repentina de horror definitivo como essa era insuportável, e uma segunda vez caí num esquecimento piedoso.
Quando digo esquecimento, não quero sugerir que estava livre de sonhos. Ao contrário, minha ausência do mundo consciente era marcada por indizíveis e hediondas visões. Meu Deus! Se apenas eu não tivesse lido tanta Egiptologia antes de ir para aquela terra que é a fonte de toda a escuridão e o terror! Esse segundo período de desmaio encheu minha mente adormecida novamente com uma percepção arrepiante sobre o país e seus segredos antigos, e devido a um acaso abominável meus sonhos voltaram-se para as noções antigas dos mortos e as visitas que faziam em corpo e alma além daquelas tumbas misteriosas que eram mais moradias do que túmulos. Recordei em cenas de sonho, o que no momento nem era bom lembrar, da construção singular e elaborada das sepulturas egípcias e os princípios extraordinariamente excepcionais e terríveis que determinavam essas construções.
Tudo o que essas pessoas pensavam era sobre a morte e os mortos. Eles conceberam uma ressurreição literal do corpo que os fazia mumificá-lo com um cuidado insensato, preservando todos os órgãos vitais em canopos próximos; e além do corpo acreditavam em dois outros elementos, a alma, que, após ser examinada e aprovada por Osíris, vivia na terra dos afortunados, e o obscuro e pressagioso ka ou princípio da vida, que vagava pelos mundos superior e inferior de um jeito horrível, demandando um acesso ocasional ao corpo preservado, consumindo as ofertas de alimentos trazidas pelos sacerdotes e parentes devotos para a capela mortuária, algumas vezes – como sussurravam os homens – tomando o corpo ou a imagem de madeira sempre enterrada ao lado dele e espiando de forma doentia no estrangeiro em viagens peculiarmente repugnantes.
Por milhares de anos esses corpos descansaram magnificamente encaixotados, mirando com olhares vítreos para cima, quando não visitados pelo ka, e esperando o dia em que Osíris deveria trazer de volta o ka e a alma, liderando as legiões enrijecidas dos mortos das casas submersas do sono. Era para ser um renascimento glorioso – mas nem todas as almas eram aprovadas, assim como nem todas as tumbas estavam invioladas, de maneira que alguns erros grotescos e anormalidades diabólicas eram de se esperar. Mesmo hoje em dia os árabes murmuram sobre assembléias profanas e adorações doentias em abismos interiores esquecidos, os quais apenas os kas invisíveis alados e as múmias desalmadas podem visitar e voltar incólumes.
Talvez as lendas que mais terrivelmente enregelassem o sangue sejam aquelas que relatam alguns produtos perversos do sacerdócio decadente – múmias compostas formadas pela união artificial dos troncos e membros humanos com as cabeças de animais em imitação aos deuses antigos. Em todos os estágios da história animais sagrados foram mumificados, de maneira que touros, gatos, íbis, crocodilos e outros animais santificados pudessem voltar algum dia para uma glória maior. Mas apenas na decadência eles misturaram o humano e o animal na mesma múmia – apenas na decadência, quando eles não compreendiam os direitos e os privilégios do ka e da alma.
O que aconteceu com aquelas múmias compostas não se fala a respeito – pelo menos publicamente – e é certo que nenhum egiptólogo já achou uma delas. Os boatos dos árabes são bastante desvairados e não se pode confiar neles. Eles até indicam que o velho Quéfren – da Esfinge, da Segunda Pirâmide e do templo pórtico que se abre largamente – vive nas profundezas da terra casado com a rainha necrófila Nitocris, governando as múmias que não são nem de homem e nem de animal.
Foi com isso – Quéfren, sua cônjuge e seus estranhos exércitos de mortos híbridos – que eu sonhei, e é por isso que estou satisfeito que as cenas do sonho desapareceram da minha memória. Minha visão mais terrível foi ligada a uma questão fútil que eu havia me perguntado no dia anterior quando observei o grande enigma esculpido no deserto e especulei em qual profundidade desconhecida o templo próximo a ele poderia estar secretamente ligado. Essa pergunta, tão inocente e esdrúxula então, assumiu em meu sonho um sentido de loucura histérica e frenética... que anormalidade imensa e odiosa a esfinge fora originalmente esculpida para representar?
Meu segundo despertar – se aquilo foi um despertar – é uma lembrança de uma hediondez completa, que nada mais em minha vida, salvo um acontecimento que ocorreu mais tarde, pode se comparar; e essa vida foi muito mais cheia e aventurosa do que a da maioria dos homens. Lembre que eu havia perdido a consciência enquanto estava enterrado embaixo de uma cascata de corda que caía, cuja imensidão revelava a profundidade cataclísmica da minha posição atual. Nesse instante, quando recuperei a consciência, senti que todo peso tinha ido embora e me dei conta, ao rolar de lado, que, apesar de ainda estar amarrado, amordaçado e vendado, alguma força misteriosa havia removido completamente a avalanche sufocante de corda que havia me soterrado. O significado dessa condição, é claro, me ocorreu apenas aos poucos; mas mesmo assim acredito que isso teria me deixado desacordado novamente se naquela altura não tivesse chegado a tal estado de exaustão emocional que nenhuma novidade em horror poderia fazer uma grande diferença. Eu estava sozinho... com o quê?
Antes que pudesse me torturar com qualquer reflexão nova ou fazer mais um esforço para escapar das amarras, uma circunstância adicional manifestou-se. Dores que eu não sentia antes torturavam meus braços e pernas, e eu parecia coberto por um banho de sangue seco além do que os cortes e arranhões anteriores poderiam proporcionar. Meu peito também parecia perfurado por uma centena de ferimentos, como se algum íbis titânico e maligno tivesse dado bicadas nele. Seguramente a força misteriosa que havia removido a corda era uma força hostil e havia começado a causar ferimentos terríveis em mim quando algo a forçou a desistir. Nesse momento, entretanto, minhas sensações eram distintamente o oposto do que uma pessoa poderia esperar. Em vez de afundar-me num poço sem fundo de desespero, eu fora despertado para uma coragem e ação novas, pois sentia agora que as forças do mal eram seres físicos que um homem destemido poderia enfrentar de igual para igual.
Com a força desse pensamento, lutei de novo com as amarras e usei toda a arte de uma vida inteira para me libertar como havia feito tantas vezes, cercado pelo clarão das luzes e o aplauso de grandes públicos. Os detalhes familiares do meu processo de fuga começaram a ocupar minha mente e, agora que a longa corda não estava mais lá, recuperei minha crença de que os horrores extremos haviam sido alucinações no fim das contas e que nunca houvera um poço terrível e um abismo imensurável com uma corda interminável. Não estaria eu realmente no templo do pórtico de Quéfren ao lado da Esfinge e os árabes não teriam mesmo entrado furtivamente para me torturar enquanto eu estivera deitado desamparado ali? De qualquer maneira eu tinha de me libertar, ficar de pé desamarrado, sem a mordaça e com os olhos abertos para pegar qualquer bruxuleio de luz que pudesse vazar de alguma fonte, e teria até mesmo o prazer de combater o mal e esses inimigos desleais!
Quanto tempo levei para livrar-me dos meus estorvos não posso dizer. Deve ter sido mais tempo do que nas minhas performances em exibições, pois estava ferido, exausto e nervoso com as experiências pelas quais passara. Quando finalmente me vi livre e respirei profundamente o ar malcheiroso, úmido e frio, bem mais horrível quando deparado sem a proteção da mordaça e das pontas da venda, percebi que estava cansado e com cãibras demais para sair caminhando logo. Ali fiquei, tentando flexionar um corpo curvado e estropiado por um tempo indefinido, forçando os olhos para tentar pegar qualquer lampejo de um raio de luz que me desse uma pista sobre a minha posição.
Aos poucos a força e a flexibilidade voltaram, mas os olhos não viam nada. Enquanto me levantava cambaleante, perscrutei com atenção em todas as direções, no entanto encontrei apenas uma escuridão de ébano tão grande quanto a que conhecera vendado. Tentei mover as pernas incrustadas com sangue por baixo das calças em farrapos e vi que podia caminhar, no entanto não conseguia decidir qual direção seguir. Obviamente não deveria caminhar a esmo, e talvez retroceder diretamente da entrada que eu buscava; então fiz uma pausa para observar a direção da corrente de ar frio, fétido e com o odor de natrão que eu nunca cessara de sentir. Aceitando o ponto da sua fonte como a possível entrada para o abismo, lutei para manter o rasto desse ponto de referência e caminhar consistentemente na sua direção.
Eu tinha uma caixa de fósforos comigo e uma lanterna elétrica pequena; mas é claro que os bolsos das minhas roupas em farrapos e amarrotadas há muito tinham sido esvaziadas de todos os artigos pesados. À medida que avançava cuidadosamente na escuridão, a corrente tornou-se mais forte e nauseante, até que a uma certa distância eu sentia que ela não passava de um fluxo perceptível de uma emanação detestável sendo despejada por alguma abertura como a fumaça do gênio da lâmpada do pescador na fábula oriental... Egito... verdadeiramente, esse berço escuro da civilização era sempre a fonte de horrores e prodígios indizíveis!
Quanto mais refletia sobre a natureza do vento da caverna, maior tornou-se meu sentimento de inquietação, pois apesar do seu odor, eu buscara a sua fonte como pelo menos uma pista indireta para o mundo exterior, mas agora via claramente que essa emanação fétida não poderia estar misturada ou ter ligação alguma com o ar limpo do deserto da Líbia, e sim essencialmente uma coisa vomitada dos abismos sinistros ainda mais abaixo. Eu estivera então caminhando na direção errada!
Após um momento de reflexão, decidi não recuar sobre meus passos. Longe da corrente eu não teria pontos de referência, pois o chão rochoso relativamente nivelado era destituído de marcas que o distinguissem. Se eu seguisse a estranha corrente, no entanto, chegaria indubitavelmente a uma abertura de algum tipo e a partir dela poderia dar a volta pela parede até o lado oposto desse salão gigantesco e de outra forma inavegável. Eu sabia muito bem que poderia falhar. Percebi que isso não era a parte do templo do pórtico de Quéfren que os turistas conheciam, e fiquei impressionado que aquele salão em particular pudesse ser desconhecido até para os arqueólogos e tivesse sido encontrado ao acaso pelos árabes maldosos e curiosos que haviam me aprisionado. Se assim fosse, haveria um portão usado no presente para fugir para as partes conhecidas ou a rua?
Que prova eu realmente possuía agora de que aquele era de algum modo o templo do pórtico? Por um momento todas as especulações mais desvairadas voltaram com tudo, e lembrei daquela miscelânea vívida de impressões – a descida suspenso no espaço, a corda, meus ferimentos e os sonhos que eram francamente sonhos. Isso seria o fim da vida para mim? Ou seria mesmo misericordioso que aquele momento fosse o fim? Eu não conseguia responder nenhuma das minhas próprias perguntas e meramente segui adiante, até que o destino por uma terceira vez reduziu-me ao esquecimento.
Dessa vez não havia sonhos, pois a brusquidão do incidente causou um choque tal que expulsou qualquer pensamento consciente ou subconsciente. Tropeçando sobre um degrau inesperado que descia num ponto onde a corrente nauseante tornou-se forte o suficiente para oferecer uma resistência física real, fui jogado de cabeça num lance escuro de degraus de pedra enormes para um abismo de uma hediondez absoluta.
Que eu tenha voltado a respirar novamente é um tributo à vitalidade inerente do organismo humano saudável. Muitas vezes relembro aquela noite e sinto uma ponta de humor naqueles lapsos repetidos da consciência; lapsos cuja sucessão me lembraram de melodramas toscos do cinema daquele tempo. É possível, é claro, que os lapsos repetidos nunca tenham ocorrido e que todos os aspectos daquele pesadelo embaixo da terra tenham sido meramente os sonhos de um longo coma que começou com o choque da minha descida para o abismo e terminou com o bálsamo curativo do ar da rua e o sol nascente que me encontrou estendido nas areias de Gizé diante do rosto sarcástico e resplandecente da Grande Esfinge com a luz do amanhecer.
Prefiro acreditar nesta última explicação tanto quanto puder, por isso fiquei satisfeito quando a polícia me disse que a barreira para o templo do pórtico de Quéfren fora encontrada aberta e que uma fenda considerável realmente existia num canto da parte ainda enterrada. Também fiquei satisfeito quando os médicos afirmaram que os meus ferimentos eram somente aqueles que se esperaria ver da minha captura, da venda e da descida e a luta com as amarras, caindo alguma distância – talvez numa depressão da galeria interna do templo –, arrastando-me para a barreira externa e escapando dela, experiências dessa natureza... um diagnóstico bastante confortante. E mesmo assim eu sei que tem de haver mais do que aparece à primeira vista. Aquela descida extrema é uma memória vívida demais para ser desconsiderada – e é estranho que ninguém tenha sido capaz de encontrar um homem que preenchesse a descrição do meu guia. Abdul Reis el Drogman – o guia com a garganta de uma tumba que parecia com o rei Quéfren e sorria como ele.
Pois fiz essa digressão em minha narrativa talvez na esperança vã de evitar contar aquele incidente final; aquele incidente que, no todo, é quase certamente uma alucinação. Mas prometi contá-lo, e não quebro promessas. Quando recuperei – ou pareci recuperar – meus sentidos após aquela queda nos degraus de pedra escuros, eu estava quase tão só e na escuridão quanto antes. O mau cheiro ventoso, que já era suficientemente ruim, agora era diabólico, mas já me acostumara o suficiente a essa altura para suportá-lo de modo estóico. Então comecei a engatinhar entorpecido, afastando-me do lugar de onde vinha o vento pútrido e, com as mãos ensangüentadas, sentia os blocos colossais de um calçamento enorme. Em seguida bati com a cabeça contra um objeto duro e, quando o senti, percebi que era a base de uma coluna – uma coluna de uma imensidão inacreditável – cuja superfície era coberta com hieróglifos gigantescos entalhados e bastante perceptíveis ao toque.
Engatinhando adiante, encontrei outras colunas colossais distantes umas das outras de maneira incompreensível, quando subitamente minha atenção foi capturada pela percepção de algo que devia estar invadindo minha audição subconsciente antes de o sentido consciente percebê-lo.
De alguma fenda ainda mais para dentro das entranhas da terra saíam alguns sons, cadenciados e definidos, como nada que já ouvira antes. Que eram muito antigos e distintamente rituais, senti quase intuitivamente; e toda minha leitura sobre egiptologia levou-me a associá-los com a flauta, o sambuca, o sistro e o tambor. No seu sopro, zunido, chacoalhar e batidas rítmicas, senti um elemento de terror além de todos os terrores conhecidos da terra – um terror particularmente desassociado do temor pessoal, assumindo a forma de um tipo de compaixão objetiva pelo nosso planeta, que ele tivesse esses horrores por trás daquelas cacofonias sátiras dentro das suas profundezas. Os sons aumentaram, e senti que estavam se aproximando. Então – e que todos os deuses do Panteão se unam para manter um som desses longe dos meus ouvidos novamente – comecei a ouvir debilmente, e um tanto distante, o caminhar pesado, mórbido e milenar dos seres que marchavam.
Era tenebroso que passos tão diferentes pudessem se deslocar num ritmo tão perfeito. O treinamento de milhares de anos profanos devia estar por trás daquela marcha das monstruosidades mais profundas da terra... uns avançando em compasso, alguns com os calcanhares batendo no chão e outros furtivamente, ou ressoando os passos desajeitados, arrastando-se... e todos para a desarmonia abominável daqueles instrumentos zombeteiros. E então – que Deus livre a minha cabeça da lembrança daquelas lendas árabes! – as múmias sem alma... o lugar de encontro dos kas errantes... as hordas dos malditos mortos faraônicos de quarenta séculos... as múmias compostas lideradas através dos vazios de ônix mais extremos pelo rei Quéfren e sua rainha necrófila Nitocris...
Os passos pesados aproximaram-se – que os céus me salvem do som desses pés, patas, cascos, garras e presas quando eles começaram a se tornar mais nítidos! No limite da minha visão do chão sombrio, um lampejo de luz bruxuleou no vento malcheiroso e me escondi atrás da circunferência enorme de uma coluna ciclope para escapar por um momento do horror que avançava furtivamente com um milhão de pés na minha direção em meio a gigantescos pilares de terror desumano e antiguidade fóbica. Os lampejos de luz aumentaram, enquanto os passos pesados e o ritmo desarmônico tornaram-se doentiamente altos. A cena espantosa de modo impiedoso apresentava-se débil na luz laranja que tremeluzia e fiquei boquiaberto de pura curiosidade, superando até o medo e a repulsão. Bases de colunas, cujas metades eram mais altas do que a visão humana alcançava... meras bases de coisas que deviam rebaixar a torre Eiffel a uma insignificância... hieróglifos entalhados por mãos impensáveis em cavernas onde a luz do dia só pode ser uma lenda remota...
Eu não olharia para essas coisas marchando. Isso decidi em desespero quando ouvi suas juntas estalando e sua respiração nitrosa sibilante acima da música e dos passos de morte. Era misericordioso que eles não falavam... mas por Deus! Seus archotes loucos começaram a jogar sombras sobre a superfície daquelas colunas assombrosas. Hipopótamos não deveriam ter mãos humanas e carregar archotes... homens não deveriam ter cabeças de crocodilos...
Tentei voltar-me, mas as sombras, os sons e o mau cheiro estavam em todo lugar. Então lembrei de algo que costumava fazer quando era garoto e tinha pesadelos meio acordado e começava a repetir para mim mesmo, “Isto é um sonho! Isto é um sonho!”. Mas não adiantou e só o que pude fazer foi fechar os olhos e rezar... pelo menos foi o que pensei fazer, pois nunca se tem certeza em visões – e sei que aquilo não podia passar de uma. Pensei se voltaria um dia ao mundo de novo, e algumas vezes abri os olhos furtivamente para ver se conseguia discernir qualquer traço diferente do lugar onde o vento cheirava a putrefação, com suas colunas sem topo e as sombras terrivelmente grotescas de um horror anormal. O clarão tremeluzente dos archotes que se multiplicavam iluminava o ambiente agora e, a não ser que esse lugar diabólico fosse completamente desprovido de paredes, eu logo veria um limite ou um ponto de referência fixo. Mas tive de fechar os olhos de novo quando percebi a quantidade de seres que estavam se agrupando – e quando olhei de relance para um ser caminhando firme e solene sem um corpo acima da cintura!
Um gorgolejar ululante e diabólico de corpos, ou seria a algazarra da morte, fendeu nesse instante o próprio ambiente – o ambiente sepulcral envenenado com os vapores de nafta e betume – num coro da legião demoníaca de blasfêmias híbridas. Meus olhos, perversamente abertos com o choque, miraram por um instante uma visão que nenhuma criatura humana poderia nem mesmo imaginar sem sentir pânico, medo e exaustão. Os seres tinham formado colunas ritualmente numa direção, a direção do vento fétido, onde a luz dos archotes mostravam suas cabeças abaixadas – ou as cabeças abaixadas dos que tinham cabeças. Eles estavam reverenciando algo diante de uma grande fenda escura exalando mau cheiro que se erguia a uma altura quase fora de minha visão, sendo flanqueada em ângulos retos por duas escadas gigantes cujas extremidades ficavam distantes na sombra. Uma delas era sem dúvida a escada da qual eu caíra.
As dimensões do buraco eram proporcionais às das colunas – uma casa comum teria se perdido ali, e qualquer prédio público médio poderia ser facilmente levado para dentro e para fora dele. Era uma superfície tão vasta que apenas movendo os olhos uma pessoa poderia seguir os seus limites... tão vasta, tão hediondamente escura e cheirando tão mal... Bem em frente a essa abertura cavernosa que se escancarava, as coisas estavam jogando objetos – evidentemente sacrifícios ou oferendas religiosas, a julgar por seus gestos. Quéfren era o seu líder, o sarcástico rei Quéfren, ou o guia Abdul Reis, usando uma coroa dourada e entoando palavras rituais sem fim com a voz sepulcral dos mortos. Ao seu lado ajoelhava-se a bela rainha Nitocris, que vi de perfil por um instante, observando que o lado direito do seu rosto estava comido por ratos ou outros seres necrófilos. E fechei meus olhos mais uma vez quando vi o que eram os objetos sendo jogados como oferendas para a fenda fétida ou a sua possível divindade local.
Ocorreu-me que, julgando pelo esmero dessa adoração, a divindade oculta devia ser de uma importância considerável. Seria Osíris ou Ísis, Hórus ou Anúbis, ou algum Deus dos Mortos vastamente desconhecido ainda mais central e supremo? Existe uma lenda sobre altares e estátuas descomunais erguidas para O Desconhecido que fora adorado por todos antes dos deuses conhecidos...
No instante em que criei coragem para acompanhar os cultos extasiados e sepulcrais daquelas coisas indizíveis, ocorreu-me o pensamento de fugir. O espaço era sombrio e as colunas, cheias de sombras. Já que as criaturas daquela aglomeração de pesadelo estavam absortas em êxtases chocantes, havia uma pequena chance para que eu rastejasse até o extremo mais distante de uma das escadas e subisse sem ser visto, confiando no Destino e na minha habilidade para alcançar um espaço acima. Onde eu estava, não tinha idéia, tampouco refletia com seriedade a respeito – e por um momento divertiu-me planejar uma fuga séria de um lugar que eu sabia ser um sonho. Eu estaria em algum domínio inferior do templo do pórtico de Quéfren – aquele templo que gerações insistentemente chamaram de Templo da Esfinge? Não conseguindo conjeturar a esse respeito, decidi voltar à vida e à consciência se a minha sagacidade e músculos conseguissem me carregar.
Rastejando sobre o estômago, comecei a jornada ansiosa em direção ao pé da escada à esquerda, que parecia a mais acessível das duas. Não consigo descrever os incidentes e as sensações daquele rastejar, mas é possível imaginá-los se a pessoa refletir sobre aquilo em que eu tinha firmemente de prestar atenção, sob aquela luz de archotes maligna e levada pelo vento, a fim de evitar ser descoberto. Como havia dito, a base da escada ficava distante na sombra, como tinha de ser para que ela subisse sem fazer uma curva para o patamar vertiginoso com uma balaustrada acima da fenda colossal. Isso fez com que os últimos estágios do meu rastejar ocorressem a alguma distância da horda repugnante, apesar de o espetáculo ter me provocado calafrios mesmo um tanto remotamente à minha direita.
Por fim consegui alcançar os degraus e comecei a subir, mantendo-me próximo à parede, sobre a qual observei decorações do tipo mais hediondo e confiando na segurança do interesse extasiado e absorto com o qual as monstruosidades olhavam para a fenda com sua corrente fétida e os alimentos ímpios lançados no chão diante dela. Apesar de a escada ser enorme e íngreme, construída com enormes blocos pórfiros como se feita para os pés de um gigante, a subida pareceu quase interminável. O medo de ser descoberto e a dor que o exercício renovado havia provocado nos meus ferimentos combinaram-se para tornar aquele rastejar para cima uma lembrança agonizante. Minha intenção ao chegar no topo era seguir escalando imediatamente por qualquer escada que seguisse dali em diante, sem parar para uma última olhada nas abominações putrefatas que se ajoelhavam como cães uns vinte ou 25 metros abaixo – no entanto uma repetição repentina daquele gorgolejar ameaçador de corpos e a algazarra do coro de morte quando eu estava quase no topo da escada, que pelo seu ritmo cerimonial não era um alarme dado pelo minha descoberta, fez com que eu parasse e espiasse com cuidado sobre o parapeito.
As monstruosidades estavam saudando algo que havia saído da fenda nauseante para pegar o alimento diabólico oferecido. Era algo bastante pesado, mesmo visto de onde eu estava, algo amarelado e peludo, com um movimento nervoso. Era tão grande, talvez, quanto um hipopótamo de bom tamanho, mas com um formato muito curioso. Parecia não ter pescoço, mas cinco cabeças peludas separadas mexendo-se numa fileira de um tronco relativamente cilíndrico. A primeira era bastante pequena, a segunda de um bom tamanho, a terceira e a quarta iguais e maiores que as outras, e a quinta um tanto pequena, mas não tão pequena quanto a primeira.
Dessas cabeças lançavam-se tentáculos rígidos esquisitos que agarravam vorazmente as quantidades excessivamente grandes de um alimento indizível colocado diante da fenda. De vez em quando a coisa dava um salto e voltava para o esconderijo de um jeito muito estranho. A sua locomoção era tão inexplicável que fiquei observando fascinado, torcendo para que ela saísse um pouco mais do covil cavernoso abaixo.
Então ela saiu... ela saiu, e com a visão voltei as costas e fugi na escuridão pela escada mais alta que se elevava atrás de mim; fugi sem saber para onde ia, subindo degraus incríveis, escadas de mão e planos inclinados para os quais nem a visão humana nem lógica alguma me guiavam, fato que devo relegar ao mundo dos sonhos na falta de qualquer comprovação. Tem de ter sido um sonho, ou o amanhecer nunca me encontraria respirando nas areias de Gizé diante do rosto sarcástico da Grande Esfinge resplandecendo com a luz do nascer do sol.
A Grande Esfinge! Meu Deus! Aquela pergunta fútil que eu fizera a mim mesmo naquela manhã abençoada pelo sol... que anormalidade abominável e enorme a Esfinge fora originariamente esculpida para representar? Maldita é a visão, seja ela de um sonho ou não, que me revelou o horror supremo – o Deus dos Mortos desconhecido, que lambe suas postas de carne colossais no abismo insuspeito, alimentado com guloseimas grotescas por seres absurdos e sem alma que não deveriam existir. O monstro de cinco cabeças que emergiu... aquele monstro de cinco cabeças tão grande quanto um hipopótamo... o monstro de cinco cabeças – e que é meramente a sua pata dianteira...
Mas sobrevivi, e sei que isso foi apenas um sonho.
Esta história foi escrita sob o nome de Harry Houdini (1874-1926) por H. P. Lovecraft. Houdini, nascido Erich Weiss em Appleton, em Wisconsin, Estados Unidos, assumiu seu nome artístico em homenagem ao mágico francês Jean Eugene Robert-Houdin (1805-1871). Ele foi, por muitos anos, um artista de fugas sem igual e foi proeminente na exposição de fraudes espíritas. Esta história, como escrita por H. P. Lovecraft, apareceu pela primeira vez no Weird Tales de maio de 1924 e foi reimpressa subseqüentemente na edição de julho de 1939.
[1]. Com Harry Houdini. (N.A.)
[2]. De Karl Baedeker (1801-1859), editor de guias para turistas europeus. (N.T.)
[3]. Gorjeta em árabe. (N.T.)
[4]. No original em inglês: “The subterranean nymph that dwells / Mid sunless gems and glories hid – / The lady of the Pyramid!” (N.T.)
[5]. Camponês em árabe. (N.T.)
Ele
Eu o vi numa noite insone quando caminhava desesperadamente para salvar a minha alma e a capacidade de fantasiar. A ida para Nova York havia sido um erro; pois ao passo que eu procurara emoção e inspiração nos labirintos numerosos de ruas antigas, que dão voltas infinitas em becos, praças e zonas portuárias esquecidas em direção a becos, praças e zonas portuárias igualmente esquecidas, e nas torres e arranha-céus modernos gigantescos que se erguem como uma Babilônia escurecida sob luas minguantes, eu encontrara, em vez disso, somente um sentimento de horror e opressão que ameaçava me dominar, paralisar e aniquilar.
A desilusão havia sido gradual. Chegando pela primeira vez na cidade, eu a vira no pôr do sol a partir de uma ponte. Imponente sobre as águas, seus picos e pirâmides incríveis erguiam-se como uma floração delicada sobre uma névoa violeta para brincar com as nuvens flamejantes e as primeiras estrelas da noite. Então janela a janela foi sendo acesa acima das correntes difusas onde as clarabóias ondulavam deslizando e os silvos penetrantes ressoavam longamente, e a própria cidade tornou-se um firmamento cintilante de sonho, fragrante de músicas graciosas e una com as maravilhas de Carcassonne, Samarcand e El Dorado e todas as cidades magníficas e mitológicas. Logo em seguida fui levado por aquelas ruas antigas tão queridas para minha imaginação – vielas e caminhos estreitos e curvos, onde fileiras de casas de tijolo vermelho georgiano tremeluziam com suas pequenas águas-furtadas acima das portas encimadas por colunas e que haviam sido espectadoras de sedãs dourados e coches envidraçados em outras épocas – e no primeiro entusiasmo da realização dessas coisas que há tanto tempo eu queria ver, pensei que tinha realmente alcançado os tesouros que me fariam um poeta com o tempo.
Mas o sucesso e a felicidade não eram para acontecer. A luz brilhante do dia mostrou somente imundície, estranheza e a elefantíase doentia da pedra que subia e se espalhava onde a lua insinuara encanto e magia antiga; e as multidões de pessoas que fervilhavam por ruas que as escoavam como se fossem calhas eram estranhos atarracados e de compleição escura, com rostos endurecidos e olhos estreitos, estranhos tiranos sem sonhos e sem qualquer afinidade com as cenas a sua volta, que nunca poderiam significar algo para um homem de olhos azuis da raça antiga, que trazia o amor das alamedas verdes espaçosas e dos campanários brancos dos vilarejos da Nova Inglaterra no seu coração.
Então, em vez dos poemas que eu desejara, sobreveio apenas uma escuridão arrepiante e uma solidão inexprimível; e vi por fim uma verdade terrível que ninguém tivera ainda a coragem de sussurrar antes – o segredo dos segredos inconfessável –, o fato de que essa cidade de pedra e ruídos ásperos não é uma perpetuação consciente da Velha Nova York como Londres é da Velha Londres e Paris da Velha Paris, mas que ela está na realidade bem morta, seu corpo se esparramando malconservado e infestado de seres estranhos animados que não têm nada a ver com a cidade como ela foi em vida. Ao fazer essa descoberta deixei de dormir bem, apesar de algo próximo de uma tranqüilidade resignada ter voltado quando gradualmente criei o hábito de manter-me distante das ruas durante o dia, arriscando-me para fora apenas de noite, quando a escuridão suscita aquele pouco do passado que ainda paira à sua volta como um fantasma e as portas brancas e antigas lembram as figuras resolutas que outrora passaram por elas. Com essa saída como consolo, até escrevi alguns poemas e ainda me abstive de voltar à casa da minha família, o que poderia parecer um retorno ignóbil, arrastando-me derrotado.
Então uma noite, numa caminhada insone, encontrei o homem. Foi num pátio bizarro escondido do bairro de Greenwich, pois fora lá que me estabelecera na minha ignorância, tendo ouvido falar do lugar como a morada natural de poetas e artistas. As ruas e casas antigas e os cantos inesperados de praças e becos haviam realmente me encantado, e quando descobri que os poetas e artistas não passavam de embusteiros que falavam alto, com uma originalidade barata, e cujas vidas eram uma negação de toda a beleza pura que é a poesia e a arte, permaneci no bairro pelo amor por essas coisas veneráveis. Eu o imaginava quando estava no seu auge, quando Greenwich era um bairro tranqüilo que não fora ainda tragado pela cidade; e nas horas antes do amanhecer, quando todos os farristas haviam se retirado furtivamente, eu costumava passear sozinho em meio às suas sinuosidades enigmáticas e meditar sobre os mistérios singulares que gerações deviam ter depositado ali. Isso manteve minha alma viva e me proporcionou alguns daqueles sonhos e visões que o poeta dentro de mim ansiava.
O homem aproximou-se em torno das duas da manhã de uma madrugada nublada de agosto, quando eu perambulava por uma série de pátios desconexos entre si, acessíveis agora somente por corredores sem iluminação de prédios interpostos, mas outrora formando as partes de uma rede contínua de vielas pitorescas. Eu ouvira falar delas por meio de rumores vagos e refleti que não poderiam estar em nenhum mapa de hoje em dia, mas o fato de serem esquecidas apenas as tornou mais queridas para mim, de maneira que as procurei com duas vezes minha animação normal. Agora que as encontrara, essa animação fora mais uma vez redobrada, pois algo na sua disposição insinuava de modo obscuro que talvez restassem apenas algumas vielas assim, escuras e silenciosas, encravadas sombriamente entre muros altos inexpressivos e os fundos de cortiços, ou ocultas sem uma luz atrás de passagens, sem serem traídas pelas hordas falando línguas estrangeiras e guardadas por artistas furtivos e pouco comunicativos cujos costumes não convidam à publicidade ou à luz do dia.
Ele falou comigo sem ser convidado, observando meu humor e meus olhares enquanto eu estudava algumas portas gastas acima dos seus degraus com corrimãos de ferro e sob o brilho lívido das suas bandeiras, que iluminavam debilmente o meu rosto. Seu próprio rosto estava na sombra, e ele usava um chapéu com abas largas que de alguma forma combinava perfeitamente com a capa fora de época que vestia; mas eu me sentia sutilmente perturbado mesmo antes de ele se dirigir a mim. Sua figura era bastante franzina, magra ao ponto de ser cadavérica, e sua voz provou-se incrivelmente suave e cavernosa, apesar de não ser particularmente grave. Ele disse que havia me observado várias vezes em meus passeios e supôs que eu era como ele no que dizia respeito ao amor que nutria pelos vestígios dos anos passados. E perguntou se eu não apreciaria a orientação de uma pessoa bastante experiente nessas explorações e possuidora de informações locais muito mais profundas do que quaisquer outras que um óbvio recém-chegado poderia ter conseguido.
Enquanto ele falava, vi seu rosto de relance no feixe amarelo da janela solitária de um sótão. Era um rosto nobre, belo até, com um semblante idoso, e trazia os traços de uma linhagem e refinamento fora do comum para a época e o lugar. No entanto, algum atributo a respeito disso me incomodava quase tanto quanto seus traços me agradavam – talvez ele fosse branco demais, ou inexpressivo demais, ou excessivamente em desarmonia com o espaço à sua volta para que me sentisse à vontade ou confortável. Mesmo assim o segui, pois naqueles dias melancólicos minha busca pela beleza antiga e pelo mistério era tudo o que eu tinha para manter minha alma viva, e considerei um raro favor do Destino encontrar uma pessoa cujas buscas afins pareciam ter chegado tão mais longe do que as minhas.
Algo na noite levou o homem encapado a ficar em silêncio, e por uma longa hora me guiou adiante sem palavras desnecessárias, fazendo apenas os comentários mais breves possíveis com relação a nomes, datas antigas e mudanças. Ele dirigia meu progresso em grande parte por gestos enquanto nos enfiávamos por fendas, seguíamos nas pontas dos pés por corredores, subíamos com dificuldade muros de tijolos e uma vez arrastando-nos apertados sobre as mãos e os joelhos por uma galeria em arco de pedra e cujo cumprimento imenso e curvas tortuosas apagaram por fim qualquer pista de uma localização geográfica que eu pudesse ter preservado. As coisas que víamos eram muito antigas e magníficas, ou pelo menos assim pareciam sob os poucos raios de luz esporádicos com os quais as admirávamos, e nunca vou esquecer as colunas jônicas em ruínas, as pilastras suaves e os mourões de ferro com suas extremidades em forma de vaso, as janelas com lintéis brilhantes e as bandeiras decorativas que pareciam tornar-se mais exóticas e estranhas quanto mais nós avançávamos nesse labirinto inexaurível de uma antiguidade desconhecida.
Não vimos ninguém, e à medida que o tempo passava, as janelas iluminadas tornaram-se mais e mais raras. As luzes das ruas a princípio queimavam com óleo e eram do padrão antigo na forma de um losango. Mais tarde observei algumas com velas, e por fim não havia iluminação alguma. Chegando num beco horrível, meu guia teve de me dirigir com sua mão enluvada através da escuridão total até um portão de madeira estreito num muro alto. Passando por ele, estávamos num trecho de uma viela iluminada somente por lanternas na frente de cada sétima casa – lanternas de lata incrivelmente coloniais com topos cônicos e buracos furados nos lados. Essa viela seguia numa subida íngreme – mais íngreme do que pensei ser possível nessa parte de Nova York – e sua extremidade de cima estava bloqueada completamente pelo muro tomado de heras de uma propriedade privada, além da qual eu podia ver uma abóbada descorada e as copas de árvores agitando-se contra uma claridade vaga no céu. Nesse muro havia um portão baixo de carvalho negro pregado com tachos, ao qual o homem se dirigiu para destrancar com uma chave pesada. Seguindo à minha frente, ele traçou um curso na escuridão absoluta sobre o que parecia ser um caminho de cascalhos e, finalmente, subindo um lance de degraus de pedra até a porta da casa, destrancou-a e abriu-a para mim.
Ao entrarmos fiquei tonto com o cheiro forte de um mofo infinito que jorrou ao nosso encontro e que devia ser fruto de séculos insalubres de decomposição. Meu anfitrião parece não ter percebido isso, e por educação mantive o silêncio enquanto ele me guiava por uma escada em curva, através de um corredor e para uma sala cuja porta o ouvi trancar atrás de nós. Então vi que abria as cortinas das três janelas com vidraças pequenas que mal apareciam contra o céu que clareava; em seguida cruzou a sala até o consolo da lareira, riscou uma pedra de fogo, acendeu duas velas de um candelabro de doze castiçais e gesticulou recomendando que falássemos baixo.
Nesse brilho débil vi que estávamos numa biblioteca espaçosa, bem mobiliada e revestida de madeira, datando dos primeiros 25 anos do século XVIII, com frontões triangulares esplêndidos, uma cornija dórica encantadora e um ornamento magnífico entalhado com arabescos sobre o consolo da lareira. Acima das prateleiras cheias, em intervalos seguindo as paredes, viam-se retratos de família bastante gastos, todos manchados até uma obscuridade enigmática e trazendo uma semelhança inequívoca com o homem que agora me indicava uma cadeira atrás de uma mesa Chippendale encantadora. Antes de sentar-se do outro lado da mesa, meu anfitrião parou por um momento como se envergonhado, então, devagar retirou as luvas, o chapéu de abas largas e a capa, parando teatralmente exposto com os trajes de meados do período georgiano, desde o cabelo com tranças, passando pelo colarinho ondulado, as bermudas, as meias de seda e os sapatos com fivelas que eu não tinha observado antes. Agora sentando com vagar na cadeira com encosto de lira, passou a me encarar com atenção.
Sem o chapéu ele assumiu a aparência de uma idade incrível que mal era visível antes e me perguntei se essa marca despercebida de longevidade singular não era uma das fontes da minha inquietação. Quando por fim falou, sua voz suave, cavernosa e cuidadosamente contida várias vezes soava trêmula, e uma vez ou outra tive muita dificuldade em acompanhá-lo enquanto o ouvia com um frêmito de espanto e cada vez mais abalado de uma maneira que desconhecia.
– O cavalheiro está olhando para um homem de hábitos muito excêntricos, por cujos trajes não é preciso dar desculpa alguma para uma pessoa da sua inteligência e interesses. Considerando tempos melhores, não hesitei em apurar os seus costumes e adotar suas roupas e modos, uma indulgência que não ofende a ninguém se praticada sem ostentação. Tem sido minha boa fortuna manter a sede rural dos meus ancestrais, apesar de ter sido tragada por duas cidades, primeiro Greenwich, que seguiu até esse ponto depois de 1800, então Nova York, que se ligou a ela perto de 1830. Havia muitas razões para manter este lugar junto da minha família, e não tenho sido negligente em me eximir de tais obrigações. O fidalgo que a herdou em 1768 estudou determinadas artes e fez certas descobertas, todas ligadas a influências que se encontram neste pedaço de terra em particular e eminentemente merecedoras da vigilância mais cerrada. Alguns efeitos interessantes dessas artes e descobertas eu tenho a intenção de mostrá-los, sob o sigilo mais estrito, e creio que posso confiar no meu julgamento dos homens o suficiente para não desconfiar nem do seu interesse, nem da sua lealdade.
Ele fez uma pausa, mas eu só conseguia concordar com a cabeça. Já disse que estava assustado, mas para minha alma, entretanto, nada era mais mortal do que o mundo material da luz do dia de Nova York, e se esse homem era um excêntrico inofensivo ou um praticante de artes perigosas, eu não tinha escolha a não ser segui-lo e saciar meu sentimento de assombro sobre o que quer que ele tivesse a oferecer. Então o ouvi.
– Em meu antepassado – continuou com suavidade – pareciam estar presentes algumas qualidades realmente extraordinárias na força de vontade da humanidade; qualidades que têm um domínio pouco percebido não apenas sobre os atos de uma pessoa e de outros, mas sobre toda sorte de forças e substâncias na natureza e sobre muitos elementos e dimensões considerados mais universais que a própria natureza. Será que eu poderia dizer que ele zombava da santidade de coisas tão grandes quanto o espaço e o tempo e que usou de maneiras estranhas os ritos de certos índios peles-vermelhas mestiços que outrora acampavam neste morro? Esses índios ficaram coléricos quando a casa foi construída e foram desagradáveis e irritantes pedindo para visitar suas terras na lua cheia. Por anos eles entraram furtivamente pelo muro, e a cada mês, quando conseguiam, faziam certos rituais na calada da noite. Então, em 68, o novo fidalgo os pegou com a mão na massa e ficou calado a observá-los. A partir daí negociou com eles e trocou o livre acesso para suas terras pelo conhecimento íntimo e preciso do que eles faziam, descobrindo que os antepassados deles tinham aprendido parte desse costume dos seus ancestrais peles-vermelhas e parte de um velho holandês da época da States-General[1]. E maldito seja, mas temo que o fidalgo ofereceu a eles um rum envenenado terrível – não sei se de propósito –, pois uma semana depois de aprender o segredo, ele era o único homem vivo que o sabia. O senhor, cavalheiro, é a primeira pessoa de fora que ouviu falar da existência desse segredo, e que um raio me parta se eu teria arriscado mexer com tanto – com os poderes – se o senhor não fosse tão interessado pelas coisas do passado.
Senti um calafrio à medida que o homem ficava mais à vontade e falava com o tom familiar de dias passados. Ele seguiu em frente.
– Mas o senhor deve saber, cavalheiro, que o costume que o fidalgo aprendeu daqueles selvagens vira-latas foi apenas uma pequena parte do conhecimento que ele veio a ter. Ele não esteve em Oxford por nada, tampouco conversou por razão alguma com um químico e astrólogo antigo em Paris. Ele compreendeu, em suma, que o mundo não passa da fumaça dos nossos intelectos, além do alcance das pessoas vulgares, mas para os sábios tirarem baforadas e tragarem como o melhor tabaco da Virgínia. O que quisermos, podemos fazer à nossa volta, e o que não quisermos, podemos varrer para longe. Não vou dizer que tudo isso é completamente verdadeiro enquanto matéria, mas é verdadeiro o suficiente para proporcionar um espetáculo bastante interessante de vez em quando. O senhor, penso eu, ficaria encantado com uma visão melhor de determinados anos do que a sua imaginação consegue lhe propiciar; portanto, por favor, contenha qualquer temor diante do que pretendo lhe mostrar. Venha até a janela e fique em silêncio.
Meu anfitrião me levou pela mão até uma das duas janelas na parede maior da sala fétida. Enregelei ao primeiro toque dos seus dedos sem luvas; sua pele, apesar de seca e firme, tinha a qualidade do gelo, e quase me esquivei do braço que me puxava. Entretanto, mais uma vez pensei no vazio e no horror da realidade, e corajosamente me preparei para segui-lo aonde quer que fosse levado. Uma vez junto à janela, o homem abriu as cortinas de seda amarela e dirigiu meu olhar para a escuridão na rua. Por um momento não vi nada, a não ser uma miríade de luzes minúsculas dançando distantes à minha frente. Então, como se em resposta a um movimento inesperado da sua mão, o clarão de um relâmpago apareceu em cena e olhei para um mar de folhagens exuberantes e despoluídas, e não o mar de telhados que qualquer mente normal esperaria. À minha direita o rio Hudson cintilava travesso, e na distância mais adiante vi a luz difusa doentia de um vasto pântano salgado com uma constelação de vaga-lumes nervosos. O clarão desapareceu e um sorriso diabólico iluminou o rosto de cera do velho necromante.
– Isso foi antes do meu tempo, antes do tempo do primeiro fidalgo. Vamos tentar de novo.
Eu me sentia sufocado, mais sufocado até que a modernidade odiosa daquela cidade maldita me fizera sentir.
– Meu Deus! – sussurrei. – Você consegue fazer isso para qualquer época?
E quando ele concordou, expondo os tocos escuros do que foram um dia caninos amarelados, agarrei-me nas cortinas para evitar cair. Mas ele me firmou com aquela garra terrível, fria como o gelo, e mais uma vez fez seu gesto inesperado.
O relâmpago brilhou outra vez – mas dessa vez sobre uma cena que não era completamente estranha. Era Greenwich, a Greenwich de um passado não tão distante, com um telhado aqui e outro ali, ou uma fileira de casas como as vemos agora, no entanto com alamedas verdes, campos graciosos e terrenos públicos gramados. O pântano ainda brilhava adiante, mas mais distante vi os campanários do que fora então toda a Nova York; as igrejas de Trinity, Saint Paul e Brick prevalecendo sobre as suas irmãs, e uma bruma indistinta de fumaça de madeira pairando sobre o todo. Respirei fundo, nem tanto pela visão em si, mas pelas possibilidades que minha imaginação evocara com assombro.
– Você consegue, ou teria a coragem, de ir longe? – falei espantado e creio que ele compartilhou desse espanto por um segundo, mas o esgar diabólico retornou ao seu rosto.
– Longe? O que eu vi o teria transformado numa estátua de pedra maluca! Para trás, para trás, agora para frente, para frente, e olhe você choramingando, seu asno!
E enquanto rosnava a frase num sussurro, ele gesticulou novamente, trazendo para o céu um relâmpago mais ofuscante do que qualquer um dos dois que tinham aparecido antes. Por três segundos inteiros pude ver de relance aquela cena de pandemônio, e naqueles segundos vi uma paisagem que para sempre me atormentaria em sonhos. Vi um céu repugnante com coisas estranhas que voavam, e abaixo dele uma cidade escura infernal com terraços de pedra gigantescos, pirâmides hereges lançando-se ferozmente em direção à lua e luzes diabólicas queimando de janelas inumeráveis. E enxameando sobre galerias aéreas de forma repulsiva, via as pessoas amarelecidas e de olhos semicerrados daquela cidade, vestindo túnicas laranja e vermelhas horríveis e dançando loucamente com as batidas febris de timbales, a algazarra obscena de crótalos e o lamento maníaco de clarins abafados, cujos toques tristes e contínuos subiam e desciam ondulantes como as ondas de um oceano profanado de betume.
Eu vi essa paisagem, sim, a vi, e ouvi, como se com os ouvidos da mente, a confusão blasfema de dissonâncias que a acompanhavam. Era a realização estridente de todo o horror que aquela cidade-cadáver havia despertado na minha alma, e, esquecendo todos os pedidos para ficar em silêncio, gritei, gritei e gritei enquanto meus nervos cediam e as paredes estremeciam à minha volta.
Então, à medida que o clarão desaparecia, vi que meu anfitrião estava tremendo também; um olhar de medo e abalo apagara por um instante a distorção de raiva de serpente que meus gritos haviam provocado. Ele cambaleou e agarrou-se nas cortinas como eu havia feito antes e meneou a cabeça violentamente, como um animal caçado. Deus sabe que ele tinha razão para isso, pois assim que os ecos dos meus gritos morreram, ouvimos outro som tão diabolicamente sugestivo quanto os primeiros. Apenas minhas emoções entorpecidas me mantiveram são e consciente. Era o rangido furtivo e constante das escadas além da porta trancada, como se uma horda de pés no chão ou calçando peles estivesse subindo; e, por fim, o retinir cuidadoso e intencional do trinco de bronze que brilhava na luz débil das velas. O velho me arranhou, cuspiu através do ar mofado, e vociferou coisas enquanto balançava com a cortina amarela que agarrava.
– A lua cheia, maldito seja, seu... seu cão uivante, você os chamou e eles vieram atrás de mim! Pés com mocassins... homens mortos... Deus os fez desaparecer, seus diabos vermelhos, mas não fui eu quem envenenou o rum de vocês... e não mantive a sua mágica podre a salvo? Vocês beberam como esponjas, malditos sejam, e ainda assim têm de culpar o fidalgo... vão embora! Larguem esse trinco... não tenho nada para vocês aqui...
Nesse momento três pancadas secas absolutamente deliberadas sacudiram o revestimento de madeira da porta e uma espuma branca juntou-se na boca do mágico desvairado. O seu horror, transformando-se num desespero frio como o aço, deixou ressurgir sua raiva contra mim, e ele cambaleou um passo em direção à mesa sobre cuja extremidade eu me firmava. Com as cortinas ainda presas na mão direita enquanto com a esquerda me arranhava, ele esticou-as ao máximo, fazendo com que finalmente desabassem dos ganchos altos, deixando entrar no quarto o jorro de luz da lua cheia que o céu clareando havia pressagiado. Naqueles feixes esverdeados, as velas quase apagaram e uma nova aparência de decadência esparramou-se sobre a sala e sua atmosfera infecta de almíscar, seus revestimentos de madeira bichada, o chão que cedia e o consolo judiado da lareira, os móveis frágeis e suas cortinas em farrapos. Ela se esparramou sobre o velho também, fosse da mesma fonte ou pelo seu medo e violência, e vi quando ele começou a encarquilhar e enegrecer enquanto se aproximava debilmente e lutava para me despedaçar com garras de abutre. Apenas seus olhos permaneceram inteiros, e eles brilhavam com uma incandescência dilatada e propulsora que crescia enquanto o rosto à sua volta queimava e encolhia.
As batidas se repetiram agora com maior insistência, e dessa vez traziam uma sugestão de metal. A coisa escura que me encarava se tornou apenas uma cabeça com olhos tentando impotentemente se retorcer pelo chão que afundava na minha direção, algumas vezes emitindo expectorações ligeiras e débeis de uma maldade imortal. Nesse instante, golpes rápidos e penetrantes investiram contra os revestimentos apodrecidos, e vi o brilho de um tacape quando este fendeu a madeira que se despedaçava. Não me mexi, até porque não conseguia, mas observei aturdido quando a porta desabou em pedaços deixando entrar um influxo colossal e disforme de uma substância negra como uma tinta e repleta de olhos brilhantes e malignos. Ela jorrou grossa, como uma torrente de óleo, quebrando um anteparo apodrecido e virando uma cadeira enquanto se esparramava, e finalmente fluiu para baixo da mesa e através da sala até onde a cabeça enegrecida e seus olhos ainda me olhavam ferozmente. Ela se fechou em volta da cabeça, engolindo-a por completo, e no momento seguinte começou a retroceder, levando consigo seu fardo invisível sem tocar-me e fluindo por aquela porta escura e descendo as escadas fora de vista, que rangeram como antes, embora no sentido inverso.
Por fim o chão cedeu, e escorreguei boquiaberto até o aposento escurecido abaixo, sufocado pelas teias de aranha e quase desfalecendo de terror. A luz esverdeada que brilhava através das janelas quebradas mostrou a porta do corredor entreaberta, e quando levantei do chão salpicado de estuque e me livrei com dificuldade do teto caído, vi passando rapidamente pela porta uma torrente terrível de escuridão com seus incontáveis olhos malignos brilhantes. Ela buscava a entrada para a adega e, quando a encontrou, sumiu naquele lugar. Nesse instante senti o chão desse aposento mais abaixo cedendo como ocorrera antes, e imediatamente um estrondo no alto foi seguido pela passagem na janela a oeste de algo que deve ter sido a abóbada. Agora liberado por um instante dos escombros, cruzei correndo o corredor até a porta da frente e, vendo-me incapaz de abri-la, peguei uma cadeira e quebrei uma janela, escalando freneticamente para fora onde a lua dançava sobre o gramado descuidado com sua grama e ervas altas. O muro era alto e todos os portões estavam trancados, mas pegando uma pilha de caixas de um canto, consegui ganhar o topo e me segurei ao grande vaso de pedra colocado ali.
À minha volta, exausto como estava, só conseguia ver muros e janelas estranhas e telhados velhos à holandesa. A rua íngreme da minha chegada não era visível em lugar algum, e o pouco que vi sucumbiu rapidamente numa névoa que surgiu vinda do rio apesar da luz brilhante do luar. De repente o vaso em que me segurava começou a tremer, como se compartilhando da minha própria vertigem letal, e no instante seguinte meu corpo mergulhava para um destino desconhecido.
O homem que me encontrou disse que eu devo ter me arrastado por um longo caminho, apesar dos meus ossos quebrados, pois uma trilha de sangue se estendia tão longe quanto ele teve coragem de olhar. A chuva que empoçava logo apagou esse elo com a cena da minha provação, e os relatos ouvidos não declararam nada além de que eu tinha aparecido vindo de um lugar desconhecido na entrada de um beco pequeno junto da rua Perry.
Nunca procurei voltar para aqueles labirintos tenebrosos e, se pudesse, tampouco daria as suas direções para qualquer homem sensato. Quem ou o que era aquela criatura, não tenho a menor idéia; mas repito que a cidade está morta e repleta de horrores desconhecidos. Para onde ele foi, não sei, mas voltei para casa e para as alamedas límpidas da Nova Inglaterra que são varridas à noite pelas brisas deliciosas do mar.
[1]. States-General é o parlamento holandês. Reuniu delegados de estados provinciais pela primeira vez em 9 de janeiro de 1464 sob o reinado de Felipe III, Duque da Borgonha. (N.T.)
O horror em Red Hook
Existem tantos sacramentos do mal como do bem ao nosso redor, e vivemos e nos movemos, a meu ver, num mundo desconhecido, um lugar onde existem cavernas e sombras e habitantes na penumbra. É possível que o homem às vezes possa voltar atrás no caminho da evolução, e acredito que um conhecimento terrível ainda não está morto.
– Arthur Machen
Há poucas semanas, numa esquina do vilarejo de Pascoag, Rhode Island, um pedestre alto, de compleição sólida e boa aparência, causou muitas especulações devido a um lapso extraordinário de comportamento. Ao que parece, ele descia a colina pela estrada que vem de Chepachet e, chegando na região central, dobrou à esquerda na via principal onde vários quarteirões de negócios modestos transmitem uma atmosfera urbana. Nesse ponto, sem uma provocação visível, cometeu o seu lapso espantoso. Por um segundo ficou encarando estranhamente o prédio mais alto à sua frente e, em seguida, dando uma série de gritos histéricos e aterrorizados, disparou numa corrida desesperada que terminou num tropeção e num tombo no cruzamento seguinte. Levantado do chão e limpo do pó por mãos prestativas, viu-se que estava consciente, organicamente incólume e evidentemente curado do seu ataque nervoso repentino. Então murmurou algumas explicações envergonhadas envolvendo um período de tensão que passara e, com o olhar cabisbaixo, voltou pela estrada de Chepachet, afastando-se penosamente sem olhar nem uma vez para trás. Foi um incidente estranho para acontecer com um homem tão robusto, de aspecto normal e capaz, e essa estranheza não foi mitigada pelas observações de um curioso que o havia reconhecido como sendo hóspede de um popular leiteiro nos arredores de Chepachet.
Então ficaram sabendo que ele fora um detetive da polícia de Nova York chamado Thomas F. Malone, agora numa longa licença médica após um trabalho extraordinariamente duro num caso local terrível e que se tornou dramático por um acidente. Pois o que ocorreu foi um desabamento de vários prédios velhos de tijolos durante uma batida em que ele estava junto, e algo a respeito da perda de vidas em grande escala, tanto dos prisioneiros quanto dos seus colegas, o havia chocado especialmente. Em conseqüência disso, ele adquirira um horror agudo e anômalo de qualquer prédio que sugerisse, mesmo remotamente, os prédios que haviam desabado, de maneira que, no fim, os especialistas em doenças mentais o proibiram de ver esse tipo de construção por um período indefinido. Um cirurgião da polícia com parentes em Chepachet sugeriu aquele povoado pequeno e gracioso de casas coloniais de madeira como um lugar ideal para a sua recuperação psicológica; e para lá se foi o sofredor, prometendo não se aventurar em meio às ruas cheias de construções dos vilarejos maiores, a não ser se devidamente aconselhado pelo especialista de Woonsocket com quem fora colocado em contato. Essa caminhada até Pascoag atrás de revistas fora um erro, e o paciente pagara em medo, machucados e humilhação por sua desobediência.
Até aí as fofocas de Chepachet e Pascoag sabiam; e até aí também os especialistas mais cultos acreditavam. Mas num primeiro momento Malone havia contado muito mais, parando somente quando viu que só o que lhe restava era a incredulidade absoluta dos outros. Daí em diante se manteve calado e nem protestou quando todos concordaram que o colapso de algumas casas miseráveis de tijolos na região de Red Hook, no Brooklin, e a morte em conseqüência disso de vários policiais valentes, haviam perturbado o seu equilíbrio nervoso. Ele trabalhara com afinco, todos disseram, tentando limpar aqueles ninhos de desordem e violência. Mesmo em sã consciência alguns aspectos eram suficientemente chocantes, e a tragédia inesperada fora a gota d’água. Essa era uma explicação simples que todos podiam entender, e Malone, sendo mais sensível, percebeu que era melhor deixar que isso bastasse. Sugerir para pessoas destituídas de imaginação um horror além de qualquer concepção humana – um horror de casas, quarteirões e cidades leprosas e cancerosas, com o mal arrastando-se de mundos mais antigos – seria meramente pedir por uma cela acolchoada em vez do descanso no campo, e Malone era um homem sensato apesar do seu misticismo. Ele tinha a visão celta profunda para coisas misteriosas e ocultas, mas o olho rápido de um lógico para os visivelmente céticos; um amálgama que o levara longe nos seus 42 anos de vida e o colocara em lugares estranhos para um homem da Universidade de Dublin nascido numa vila georgiana próxima de Phoenix Park.
E agora, enquanto recapitulava as coisas que vira, sentira e percebera, Malone sentia-se satisfeito em manter só para ele o segredo que poderia reduzir um lutador destemido a um neurótico trêmulo, que poderia tornar cortiços velhos de tijolos e mares de rostos misteriosos enigmáticos num pesadelo e em algo de um estranho agouro. Não seria a primeira vez que as suas emoções teriam de esperar para serem consideradas – pois não fora o seu próprio ato de mergulhar no abismo poliglota do submundo de Nova York uma anomalia além de uma explicação sensata? O que ele poderia contar para as pessoas comuns sobre feitiçarias antigas e prodígios grotescos discerníveis aos olhos sensíveis em meio ao caldeirão venenoso onde todos os refugos variados de eras perniciosas misturam a sua malevolência e perpetuam os seus terrores obscenos? Ele vira a chama verde infernal de assombro secreto nessa confusão ruidosa e ambígua de ganância externa e blasfêmia interior e sorrira ternamente quando todos os nova-iorquinos que ele conhecia zombaram da sua experiência no trabalho policial. Eles haviam sido muito espirituosos e cínicos, escarnecendo da sua busca fantástica por mistérios impenetráveis e assegurando-lhe que, nos dias de hoje, Nova York não tinha nada a não ser baixeza e vulgaridade. Um deles apostou com ele que não conseguiria – apesar de ter em seu crédito muitos relatos picantes no Dublin Review – nem escrever uma história verdadeiramente interessante sobre a vida na pobreza de Nova York; e agora, olhando para trás, ele percebia que a ironia cósmica havia justificado as palavras do profeta enquanto secretamente refutando o seu significado leviano. O horror, como visto de relance por fim, não podia dar uma história – pois, como o livro citado pela autoridade alemã de Poe, “es lasst sich nicht lesen”, “isto não se deixa ler”.
II
Para Malone o sentido de mistério latente na existência era sempre presente. Na juventude ele sentira a beleza oculta e o êxtase das coisas e fora um poeta; mas a pobreza, o sofrimento e o exílio haviam voltado o seu olhar para direções mais sombrias, e ele se arrepiara com as imputações do mal no mundo à sua volta. A vida cotidiana para ele se tornara uma fantasmagoria de estudos irreais e macabros; ora resplandecendo e olhando maliciosamente com uma podridão disfarçada no melhor jeito de um Beardsley[1], ora insinuando terrores por detrás dos formatos e objetos mais triviais como na obra mais sutil e menos óbvia de Gustave Doré[2]. Muitas vezes ele considerava misericordioso que a maioria das pessoas mais inteligentes zombasse dos mistérios mais profundos; afinal, argumentava ele, se as mentes superiores fossem colocadas integralmente em contato com os segredos preservados pelos cultos antigos e inferiores, as anormalidades resultantes não apenas arruinariam o mundo logo, mas ameaçariam a própria integridade do universo. Não havia dúvida que toda essa reflexão era mórbida, mas a lógica perspicaz e um sentido profundo de humor a compensavam habilmente. Malone estava satisfeito em deixar suas noções permanecerem como visões proibidas e vigiadas de forma meio dissimulada para se brincar alegremente; e a crise nervosa só veio quando o dever o jogou num inferno de descobertas muito repentino e traiçoeiro para conseguir fugir dele.
Já fazia algum tempo que ele fora designado para o distrito policial da Butler Street no Brooklin quando o caso Red Hook lhe foi passado. Red Hook é um labirinto de esqualidez híbrida próximo à antiga zona portuária e de frente para a Governor’s Island. Suas ruas sujas partem do cais e sobem até a parte mais alta, onde as extensões degeneradas das ruas Clinton e Court seguem em direção à sede da subprefeitura. As casas são na maior parte de tijolos, datando do primeiro quarto até a metade do século XIX, e alguns becos e caminhos mais obscuros têm aquele traço antigo fascinante que a leitura convencional nos leva a chamar de dickensiano[3]. A população é um emaranhado e um enigma incorrigível; elementos sírios, espanhóis, italianos e negros chocam-se uns com os outros, e fragmentos de cinturões escandinavos e norte-americanos não vivem muito longe. Trata-se de uma babel de sons e sujeira lançando exclamações estranhas para responder ao marulho das ondas oleosas nos molhes imundos e às ladainhas monstruosas dos apitos do porto. Muito tempo atrás se vivia um quadro mais aprazível, com marinheiros de olhos claros nas ruas mais abaixo e lares de bom gosto e solidez onde as casas maiores acompanham a colina. Uma pessoa pode rastrear as relíquias dessa felicidade passada na arquitetura aprumada das construções, nas igrejas encantadoras ocasionais e nos indícios de arte e paisagem originais em pequenos detalhes aqui e ali – um lance gasto de degraus de uma escada, uma porta em ruínas, um par carcomido de colunas decorativas, ou o fragmento do que foi um dia um espaço verde com uma cerca enferrujada e torta. As casas costumam ficar em quadras compactas, e espaçadamente surge uma abóbada com várias janelas para falar dos dias quando os lares dos capitães e proprietários de barcos observavam o mar.
Dessa confusão de putrescência material e espiritual, as blasfêmias de uma centena de dialetos investem contra o céu. Quando as hordas de vagabundos vagam sem destino gritando e cantando pelas vielas e ruas movimentadas, subitamente as mãos furtivas ocasionais apagam as luzes e fecham as cortinas, e os rostos morenos e marcados pelo pecado desaparecem das janelas enquanto os visitantes avançam cautelosos pelo seu caminho. Policiais perderam a esperança de pôr ordem ou reformar a situação e buscam, em vez disso, erguer barreiras protegendo o mundo exterior do contágio. O clangor da patrulha é respondido com uma espécie de silêncio fantasmagórico, e os prisioneiros que são levados entre eles nunca são comunicativos. Delitos visíveis são tão variados quanto os dialetos locais e perfazem uma gama que vai desde o contrabando de rum e imigrantes ilegais, passando por diversos estágios de ilegalidades e vícios obscuros, chegando a assassinatos e mutilações nos seus disfarces mais repugnantes. Que esses casos notórios não sejam mais freqüentes não se deve creditar ao bairro, a não ser que a dissimulação seja uma arte que demande crédito. Mais pessoas entram em Red Hook do que o deixam – ou pelo menos, do que o deixam por terra –, e aqueles que não são espertos têm a maior chance de deixá-lo.
Malone encontrou nesse estado das coisas um ligeiro mau cheiro de segredos mais terríveis do que qualquer pecado denunciado pelos cidadãos e deplorado pelos padres e filantropos. Ele era consciente, como um homem que reunia a imaginação com o conhecimento científico, que pessoas modernas sob condições sem lei tendem estranhamente a repetir os padrões instintivos e as práticas rituais mais sinistras e de uma selvageria meio simiesca na sua vida cotidiana; e muitas vezes ele vira com o arrepio de um antropólogo as procissões de jovens de olhos turvos e rostos marcados pela varíola que avançavam serpenteando o seu caminho madrugada adentro, cantando e dizendo palavrões. Esses grupos de jovens eram vistos sem cessar, algumas vezes em vigílias maldosas nas esquinas das ruas, ou nos vãos das portas fazendo música soturnamente em instrumentos baratos, quem sabe cochilando entorpecidos, ou talvez em diálogos indecentes nas mesas dos cafés próximos da sede da subprefeitura, ou ainda conversando aos sussurros ao lado de táxis sujos estacionados junto aos alpendres de casas velhas fechadas e caindo aos pedaços. Eles lhe provocavam arrepios e o fascinavam mais do que ele tinha coragem de confessar para os seus colegas na força, pois ele parecia ver neles algum encadeamento monstruoso de uma continuidade secreta; algum padrão diabólico, enigmático e antigo, absolutamente além da massa sórdida dos fatos, costumes e antros listados com um cuidado técnico tão consciencioso pela polícia. Malone refletia que eles deviam ser os herdeiros de alguma tradição chocante e primordial; participantes dos fragmentos degradados e dispersos de cultos e cerimônias mais antigos que a própria humanidade. A sua coerência e a sua clareza insinuavam esse fato, e isso se manifestava nos indícios extraordinários de ordem que se escondiam por trás da sua desordem sórdida. Ele não havia lido em vão tratados como Feitiçaria na Europa Ocidental da sra. Murray; e sabia que até há poucos anos certamente havia sobrevivido em meio aos camponeses e gente dissimulada um sistema clandestino e terrível de reuniões e orgias que descendiam de religiões ocultas anteriores ao mundo ariano, aparecendo em lendas populares como Missas Tétricas e Sábados de Bruxas. Não era possível opinar sobre a possibilidade de esses vestígios infernais da velha mágica turaniana-asiática e cultos à fertilidade estarem completamente mortos, e ele se perguntava freqüentemente o quão mais antigos e mais ocultos do que as piores lendas sussurradas alguns deles poderiam ser na realidade.
III
Foi o caso de Robert Suydam que levou Malone ao cerne das coisas em Red Hook. Suydam era um recluso erudito de uma família holandesa antiga e humilde. Ele morava na mansão espaçosa caindo aos pedaços que o avô construíra em Flatbush quando aquele vilarejo não passava de um punhado aprazível de chalés coloniais em torno da Igreja da Reforma, com seu campanário coberto de heras e o cemitério com uma cerca de ferro e tomado por túmulos de holandeses. Na sua casa solitária, protegida da Martense Street por um jardim de árvores antigas, Suydam havia lido e meditado por quase seis décadas, exceto por um período quando velejara para o velho mundo e ficara fora da vista de todos por oito anos. Ele não tinha condições de pagar criados e admitia apenas alguns visitantes para a sua solidão absoluta; evitando amizades próximas e recebendo seus raros conhecidos numa das três salas térreas que mantinha arrumadas – uma delas sendo a sua vasta biblioteca, cujas paredes altas eram repletas de livros esfarrapados com um aspecto grave, arcaico e vagamente repelente. O crescimento da cidade e a sua absorção final pelo distrito de Brooklyn não significaram nada para Suydam, e ele, por sua vez, também passara a significar cada vez menos para a cidade. Os idosos ainda apontavam para ele nas ruas, mas, para a maioria da população recente, era simplesmente um velho corpulento e estranho, cujo cabelo despenteado, barba hirsuta, roupas escuras cintilantes e uma bengala com um cabo de ouro garantiam um olhar divertido e nada mais. Malone não o conhecia até o dever o levar ao caso, mas ouvira falar a seu respeito de modo indireto como uma autoridade realmente respeitável em superstição medieval, e uma vez tentara em vão encontrar um texto fora de edição seu sobre a Cabala e a lenda do Fausto que um amigo citara de memória.
Suydam tornou-se um “caso” quando seus parentes distantes, os únicos que haviam restado, buscaram uma decisão judicial sobre a sua sanidade. A ação pareceu repentina para o mundo exterior, mas foi levada adiante só depois de uma observação prolongada e uma discussão pesarosa. Ela foi baseada em determinadas mudanças excêntricas na sua fala e nos seus costumes; alusões desvairadas sobre maravilhas que estavam para acontecer e suas visitas assíduas e inexplicáveis a bairros mal-afamados do Brooklyn. Ele estava cada vez mais maltrapilho com o passar dos anos e agora andava pelas ruas como um legítimo mendigo. Era visto algumas vezes por amigos constrangidos em estações de metrô, ou matando o tempo nos bancos em torno da sede da subprefeitura e conversando com grupos de estranhos de compleição escura e aparência ruim. Quando falava era para tagarelar sobre poderes ilimitados quase ao seu alcance e para repetir com olhares de conhecedor palavras ou nomes místicos como “Sephiroth”, “Ashmodai” e “Samaël”. A medida judicial revelou que ele estava gastando toda a renda e desperdiçando o patrimônio na compra de tomos curiosos importados de Londres e Paris e com a manutenção de um apartamento esquálido de subsolo no distrito de Red Hook, onde passava quase todas as noites recebendo delegações excêntricas de desordeiros e estrangeiros misturados, aparentemente conduzindo algum tipo de serviço cerimonial por detrás das cortinas verdes de janelas reservadas. Os detetives designados para segui-lo relataram ouvir ruídos estranhos naqueles rituais noturnos, como pés batendo no chão, além de gritos e cantos. O êxtase e o descontrole peculiares desses rituais lhes causaram arrepios, apesar de orgias malucas serem comuns naquela região embrutecida. Quando o caso foi levado para uma audiência, entretanto, Suydam conseguiu manter a liberdade. Diante do juiz, seu comportamento tornou-se cortês e razoável, e ele admitiu francamente a esquisitice de sua conduta e a sua escolha por uma linguagem extravagante, atribuindo-as à devoção excessiva ao estudo e à pesquisa. Ele disse que estava engajado na investigação de determinados detalhes da tradição européia que exigiam um contato mais próximo com grupos estrangeiros, suas músicas e danças populares. A noção de que qualquer sociedade secreta inferior o estava atormentando, como insinuado por seus parentes, era absurda e mostrava o quão tristemente limitada era a visão que tinham dele e do seu trabalho. Triunfando calmamente com suas explicações, o tribunal consentiu que ele partisse sem impedimentos; já os detetives contratados pelos Suydams, Corlears e Van Brunts, foram retirados do caso conformados com sua derrota.
Foi nesse momento que uma aliança de inspetores federais e a polícia local, Malone entre eles, entrou no caso. A lei tinha observado o caso Suydam com interesse e havia sido chamada muitas vezes para ajudar os detetives particulares. Nesse trabalho ficou-se sabendo que os novos parceiros de Suydam estavam entre os criminosos mais sinistros e corrompidos dos caminhos tortuosos de Red Hook e que pelo menos um terço deles eram infratores conhecidos e reincidentes nas áreas do furto, desordem e importação de imigrantes ilegais. De fato, não seria demais dizer que o círculo particular do velho erudito coincidia quase perfeitamente com as piores facções criminosas que contrabandeavam para terra firme determinadas escórias asiáticas sem nome e inqualificáveis, sabiamente mandadas de volta pelo cais de Ellis Island. Nos pardieiros apinhados de Parker Place – desde então renomeados –, onde Suydam tinha o apartamento de subsolo, crescera uma colônia bastante insólita de pessoas com olhos puxados e difíceis de serem classificadas. Eles falavam uma língua de origem árabe, mas eram repudiados com veemência pela grande massa de sírios da Atlantic Avenue e em torno dela. Todos poderiam ter sido deportados por falta de documentos, mas o sistema legal é lento, e uma autoridade não mexe em Red Hook a não ser que a publicidade a force a fazê-lo.
Essas criaturas freqüentavam uma igreja de pedra em ruínas, com seus botaréus góticos virados na direção da parte mais desprezível da zona portuária e usada nas quartas-feiras como um salão de bailes. Ela era nominalmente católica, mas os padres de todo o Brooklyn negavam ao lugar qualquer prestígio e autenticidade. Os policiais que ouviram os barulhos que ela emitia à noite concordavam com esses sacerdotes. Malone chegara a imaginar que ouvira notas graves e desafinadas terríveis de um órgão escondido nas profundezas da terra quando a igreja estava vazia e no escuro, ao passo que todos que passavam por perto dela quando estavam sendo celebrados serviços temiam os gritos estridentes e o bater de tambores que os acompanhavam. Quando perguntado a esse respeito, Suydam disse acreditar que o ritual era algum vestígio do cristianismo nestoriano impregnando com o xamanismo do Tibete. A maioria das pessoas, conjeturou ele, era de origem mongolóide, de algum lugar no Curdistão ou próximo dele – e Malone não pôde deixar de lembrar que o Curdistão é a terra dos yezidis, os últimos sobreviventes persas dos adoradores do diabo. Qualquer que tenha sido a forma como isso aconteceu, a investigação de Suydam teve certeza que esses recém-chegados estavam afluindo para Red Hook em números cada vez maiores. Eles estavam entrando por meio de alguma conspiração marinha fora do alcance dos oficiais da receita e a polícia do porto, infestando Parker Place, rapidamente se espalhando colina acima e sendo bem recebidos com um curioso fraternalismo por outros cidadãos legalizados de vários lugares da região. Suas figuras acocoradas e fisionomias caracteristicamente de olhos puxados, combinadas de modo grotesco com roupas norte-americanas cintilantes, apareciam mais e mais numerosamente em meio aos vagabundos e bandidos nômades da região da sede da subprefeitura; até que por fim foi considerado necessário calcular os seus números, apurar as suas origens e ocupações e enviá-los para as autoridades imigratórias apropriadas. Malone foi designado para essa tarefa mediante um acordo entre as polícias federal e local para encontrar, dentro do possível, uma forma de arrebanhá-los e entregá-los para as forças policiais. Quando começou a investigação em Red Hook, Malone sentiu-se pairando à beira de terrores inomináveis, com a figura maltrapilha e descuidada de Robert Suydam como seu arquiinimigo e adversário.
IV
Os métodos da polícia são variados e inventivos. Malone, por meio de passeios despretensiosos, conversas cuidadosamente casuais, ofertas na hora certa do seu uísque de bolso e diálogos discretos com prisioneiros assustados, ficou sabendo de vários fatos isolados a respeito do movimento cujo aspecto se tornara muito ameaçador. Os recém-chegados eram realmente curdos, mas falavam um dialeto obscuro e enigmático demais para se poder extrair a sua filologia. Dentre os que trabalhavam, grande parte eram estivadores e vendedores ambulantes, apesar de muitas vezes atenderem em restaurantes gregos e cuidarem de bancas de revistas e jornais de esquina. A maioria, entretanto, não tinha meios perceptíveis de sustento e estava obviamente ligada a ocupações do submundo, das quais o contrabando e a venda ilegal de bebidas alcoólicas eram as menos indescritíveis. Eles tinham chegado em barcos a vapor, aparentemente vagabundos de cargueiros, e tinham sido descarregados na calada de noites sem lua em barcos a remo que entravam furtivamente sob um determinado ancoradouro e seguiam por um canal escondido até um lago artificial subterrâneo embaixo de uma casa. Esse ancoradouro, o canal e a casa, Malone não conseguiu localizar, pois as memórias dos seus informantes eram extraordinariamente confusas, enquanto a sua fala era, em grande parte, além da capacidade de compreensão do mais hábil dos tradutores; tampouco ele conseguia obter quaisquer dados reais sobre as razões para a sua importação sistemática. Eles eram reservados a respeito do lugar preciso de onde tinham vindo, e nunca estavam suficientemente de guarda baixa para revelar as pessoas influentes que os haviam buscado e dirigido sua rota. Na verdade, eles tinham desenvolvido algo como um terror agudo quando perguntados sobre as razões da sua presença. Bandidos de outras estirpes eram igualmente taciturnos, e o máximo que se conseguiu juntar foi que algum deus ou grande sacerdote lhes havia prometido poderes desconhecidos, glórias sobrenaturais e a soberania numa terra estranha.
A presença dos recém-chegados e de bandidos já conhecidos nos encontros noturnos controlados com rigor era bastante regular, e a polícia logo ficou sabendo que o outrora velho recluso havia alugado apartamentos adicionais para acomodar os convidados que soubessem a sua senha; por fim ocupou três casas inteiras e passou a acolher em caráter permanente muitas das suas companhias esquisitas. Ele passava pouco tempo agora na sua casa de Flatbush, indo e vindo aparentemente apenas para pegar e devolver livros; e seu rosto e jeito de ser haviam atingido um nível assustador de desvario. Malone interrogou-o duas vezes, mas cada vez foi bruscamente rejeitado. Ele não sabia de nada, sustentou, sobre quaisquer planos ou movimentos misteriosos; e não fazia idéia de como os curdos poderiam ter entrado ou o que eles queriam. O seu negócio era estudar sem ser perturbado o folclore de todos os imigrantes do distrito; um negócio sobre o qual um policial não tinha interesse legal algum. Malone mencionou a sua admiração pelo velho texto de Suydam sobre a Cabala e outros mitos, mas o abrandamento na postura do velho foi apenas momentâneo. Ele percebeu uma intromissão e repeliu seu visitante sem ambigüidade alguma, até que Malone se retirou enfastiado e teve de voltar-se para outros canais de informação.
O que Malone teria trazido à luz se tivesse seguido trabalhando continuamente no caso nós não vamos saber nunca. Um conflito de certo modo estúpido entre as autoridades locais e federais suspendeu as investigações por vários meses, durante os quais o detetive esteve ocupado com outras missões. Mas em nenhum momento ele perdeu interesse, nem deixou de ficar pasmo com o que estava acontecendo com Robert Suydam. No mesmo instante em que uma onda de seqüestros e desaparecimentos espalhou a sua comoção por Nova York, o erudito maltrapilho embarcou numa metamorfose tão surpreendente quanto absurda. Um dia ele foi visto próximo da sede da subprefeitura com o rosto barbeado, o cabelo cortado e trajes elegantemente imaculados, e a cada dia daí em diante alguma melhoria obscura era observada nele. Ele mantinha a sua nova altivez sem recaídas, acrescentando a ela um brilho inusitado no olhar e uma vivacidade na fala, e começou pouco a pouco a reduzir a corpulência que há tanto tempo o deformava. Agora freqüentemente tomado por um homem com menos do que a sua idade, ele adquirira elasticidade na passada e leveza de conduta para combinar com a nova condição e mostrava um escurecimento esquisito do cabelo que, de certa forma, não sugeria uma tintura. À medida que os meses passavam, ele começou a vestir-se cada vez mais esportivamente e, por fim, surpreendeu suas novas amizades ao renovar e redecorar a mansão de Flatbush, abrindo-a para uma série de recepções e reunindo todos os conhecidos de que conseguia se lembrar. Além disso, estendeu boas-vindas especiais para os parentes perdoados que tão recentemente haviam buscado a sua reclusão. Alguns apareceram motivados pela curiosidade, outros pelo dever; mas todos estavam subitamente encantados com a jovialidade e a cortesia do antigo eremita. Ele assegurou que havia concluído a maior parte do trabalho que lhe cabia; e tendo recém-herdado uma propriedade de um amigo europeu meio esquecido, estava prestes a passar os anos que lhe restavam numa segunda juventude mais feliz, a qual a despreocupação, os cuidados e uma dieta haviam lhe tornado possível. Ele era cada vez menos visto em Red Hook e mais na sociedade na qual nascera. Os policiais observaram uma tendência dos bandidos de se reunirem na velha igreja de pedra e no salão de baile em vez de no apartamento de subsolo em Parker Place, embora este e seus anexos recentes ainda transbordassem com uma vida doentia.
Então ocorreram dois incidentes – suficientemente separados um do outro, mas ambos de um interesse intenso na forma como Malone via o caso. Um foi a participação sem alardes no diário Eagle do noivado de Robert Suydam com a srta. Cornelia Gerritsen, de Bayside, uma jovem de excelente status social e parente distante do noivo idoso; ao passo que o outro foi uma batida da polícia local na igreja após uma denúncia de que o rosto de uma criança raptada havia sido visto por um segundo numa das janelas do porão. Malone participara dessa batida e estudara o lugar com bastante cuidado. Nada foi encontrado – na realidade, o prédio estava completamente deserto quando visitado –, mas o celta sensitivo ficara vagamente perturbado com muitas coisas a respeito do seu interior. Havia painéis rudemente pintados dos quais ele não gostara – painéis que descreviam rostos sagrados com expressões peculiarmente mundanas e sarcásticas, os quais ainda tomavam algumas liberdades que até o sentido de decoro de um leigo dificilmente aprovaria. Ele também não apreciou uma inscrição em grego sobre a parede acima do púlpito; uma fórmula cabalística antiga que ele encontrara ao acaso uma vez nos tempos em que estudava na Universidade de Dublin e a qual traduzida literalmente, era assim:
“Ó amigo e companheiro da noite, tu que exultas com o ladrar dos cães e o sangue derramado, que vagas em meio às sombras das tumbas e desejas ardentemente o sangue, levando o terror aos mortais, Gorgo, Mormo, lua de mil faces, olha com carinho os nossos sacrifícios!”
Quando Malone leu isso, sentiu arrepios e lembrou-se vagamente das notas baixas e desafinadas do órgão que imaginara ter ouvido embaixo da igreja em certas noites. Ele se arrepiou de novo ao perceber a ferrugem em torno do aro de uma bacia de metal que ficava sobre o altar e parou nervoso quando suas narinas pareceram detectar um mau cheiro esquisito e medonho vindo de algum lugar do bairro. Aquela memória do órgão o perseguia, e ele explorou o porão com cuidado antes de deixá-lo. O lugar era odioso demais para ele; apesar de tudo, entretanto, os painéis e as inscrições blasfemas não eram apenas meras grosserias perpetradas pelos ignorantes?
Quando chegou o casamento de Suydam, a epidemia de raptos havia se tornado um escândalo popular nos jornais. A maioria das vítimas eram crianças pequenas das classes mais baixas, mas o número cada vez maior de desaparecimentos alimentara um sentimento de fúria sem precedentes. Os jornais clamavam por ações da polícia, e mais uma vez o distrito policial da Butler Street enviou seus homens para Red Hook em busca de pistas, achados e criminosos. Malone sentia-se feliz em estar na trilha uma vez mais e orgulhou-se de participar de uma batida numa das casas de Suydam em Parker Place. Realmente não foi encontrada nenhuma criança roubada por lá, apesar dos relatos de gritos e a fita vermelha juntada do chão na entrada baixa do porão; mas as pinturas e as inscrições rudes sobre as paredes descascadas da maioria dos quartos, assim como o laboratório químico primitivo no sótão, ajudaram, no seu conjunto, a convencer o detetive de que ele estava na pista de algo extraordinário. As pinturas eram aterradoras – monstros abomináveis de todos os tipos e tamanhos e paródias de perfis humanos indescritíveis. A tinta era vermelha e as letras variavam do árabe ao grego e do romano ao hebreu. Malone não conseguiu ler grande parte daquilo, mas o que conseguiu decifrar era suficientemente cabalístico e auspicioso. Um lema repetido com freqüência estava numa espécie de grego helenístico com um viés hebreu e sugeria as mais terríveis evocações satânicas da decadência Alexandrina:
“HEL . Heloym . SOTHER . EMMANUEL . SABAOTH. AGLA. TETRAGRAMMATON. AGYROS . OTHEOS . ISCHYROS . ATHANATOS . IEHOVA . VA . ADONAI . SADAI . HMOVSION MESSIAS . ESCHEREHEYE.”
Círculos e pentagramas avultavam sobre cada entalhe das letras e indicavam sem dúvida alguma as crenças e aspirações daqueles que viviam tão miseravelmente naquele local. Na adega, entretanto, foi encontrada a coisa mais estranha – uma pilha de lingotes de ouro genuínos coberta descuidadamente com um pano de estopa e trazendo sobre as superfícies brilhantes os mesmos hieróglifos que também adornavam as paredes. Durante a batida a polícia encontrou apenas uma resistência passiva dos orientais de olhos puxados que pululavam para fora de todas as portas. Sem achar nada relevante, deixaram tudo como estava, mas o capitão do distrito policial escreveu uma nota para Suydam aconselhando-o a observar com atenção o caráter dos seus inquilinos e protegidos diante do crescente clamor público.
V
Então veio o casamento em junho e a grande sensação que ele gerou. Flatbush estava alegre para o momento e perto do meio-dia os carros com flâmulas já engarrafavam as ruas próximo da velha igreja holandesa onde um toldo se estendia da sua porta até a avenida. Nenhum evento local jamais superou o casamento Suydam-Gerritsen em tom e escala, e a festa que acompanhou a noiva e o noivo até o píer Cunard, se não foi exatamente a mais espirituosa, pelo menos contou com uma parte importante da alta sociedade local. Às cinco horas um adieux foi abanado e um imponente transatlântico afastou-se do longo cais, então voltou lentamente a proa em direção ao mar, soltou-se do rebocador e partiu para os espaços de água aberta que se abriam e levavam para as maravilhas do velho mundo. À noite ele já ultrapassara a enseada e os passageiros mais notívagos observavam o bruxulear das estrelas acima do oceano despoluído.
Se foi o cargueiro a vapor ou o grito que chamou a atenção de todos primeiro, ninguém sabe dizer. Os fatos provavelmente ocorreram de modo simultâneo, mas não vale a pena discutir isso. O grito veio do camarote de Suydam, e o marinheiro que derrubou a porta talvez pudesse contar coisas terríveis se não tivesse ficado completamente maluco logo depois. De qualquer forma, ele guinchou mais alto que as primeiras vítimas, e depois disso correu com um sorriso tolo em torno do barco até ser pego e colocado a ferros. O médico do barco que entrou no camarote e ligou as luzes em seguida não enlouqueceu, mas também não falou nada do que viu até mais tarde, quando se correspondeu com Malone em Chepachet. Foi um assassinato – estrangulamento –, mas não é preciso dizer que a marca de garras na garganta da sra. Suydam não poderia ter sido feita pelo marido ou qualquer outra mão humana, ou que sobre a parede branca bruxuleou por um instante num vermelho odioso uma inscrição que mais tarde, copiada de memória, parece ter sido nada menos que as letras cladéias temíveis da palavra “lilith”. Ele não achou necessário mencionar isso, já que a inscrição desaparecera tão rapidamente, e quanto a Suydam, o médico achou por bem ao menos barrar a entrada de outras pessoas no quarto até saber o que pensar a respeito disso. Ele assegurou distintamente a Malone que não viu essa cena, mas um instante antes de ligar a luz, a escotilha aberta pareceu anuviada por um segundo por uma espécie de fosforescência e ele teve a impressão de ouvir da noite lá fora um riso abafado, ligeiro e diabólico; mas não conseguiu distinguir o perfil de figura alguma. Como prova disso, o médico aponta para o fato de continuar são.
Então o cargueiro a vapor chamou a atenção de todos. Um bote foi colocado na água e uma horda de facínoras morenos e insolentes subiu a bordo do Cunarder, que estava temporariamente parado. Eles queriam Suydam ou o seu corpo, já que sabiam da sua viagem e por alguma razão tinham certeza de que ele morreria. O passadiço do capitão virou quase um pandemônio, pois entre o relato do médico sobre o que vira no camarote e as demandas dos homens do cargueiro, nem o homem do mar mais sábio e circunspeto poderia pensar o que fazer. Subitamente o líder dos visitantes, um árabe com uma boca bestial, puxou um papel sujo e amassado e passou-o para o capitão. Estava assinado por Robert Suydam e trazia a seguinte mensagem estranha:
No caso de um acidente ou da minha morte súbita e inexplicável, por favor entreguem-me ou meu corpo incondicionalmente ao portador desta nota e seus companheiros. Tudo para mim, e talvez para vocês, depende da sua obediência absoluta. Explicações podem vir mais tarde – não me deixem na mão agora.
Robert Suydam
O capitão e o médico olharam um para o outro, e este sussurrou algo. Finalmente concordaram um tanto impotentes e mostraram o caminho até o camarote de Suydam. O médico pediu para que o capitão não olhasse para dentro enquanto destrancava a porta e deixava os marinheiros estranhos entrarem, e mal conseguiu respirar enquanto preparavam o seu fardo por um período inexplicavelmente longo. Suydam foi enrolado na roupa de cama dos beliches, e o médico ficou satisfeito que os contornos não eram muito reveladores. De alguma forma os homens conseguiram passar o corpo para fora da amurada e para o cargueiro sem descobri-lo. O Cunarder partiu novamente, e o médico e um agente funerário que estava no navio foram até o camarote de Suydam para cuidar dos últimos detalhes. Então, mais uma vez o médico foi forçado a manter-se calado e até a mentir, pois algo diabólico havia acontecido. Quando o agente funerário lhe perguntou porque ele tirara todo o sangue da sra. Suydam, ele negou que tivesse feito isso e tampouco indicou os espaços vazios das garrafas na prateleira, assim como o cheiro na pia que demonstrava como se livrara com pressa dos conteúdos originais das garrafas. Os bolsos daqueles homens – se é que eram homens – estavam abominavelmente abaulados quando deixaram o navio. Duas horas mais tarde o mundo já sabia, pelo rádio, tudo o que deveria saber sobre o caso terrível.
VI
Naquela mesma noite de junho, sem ter ouvido uma palavra do mar, Malone estava desesperadamente ocupado em meio às vielas de Red Hook. Uma agitação repentina parecia permear o lugar, e como se notificados “pelo passarinho” sobre algo extraordinário, uma turba de imigrantes naturalizados agrupou-se esperançosamente em torno da igreja e das casas em Parker Place. Três crianças tinham recém-desaparecido – norueguesas de olhos azuis das ruas próximas de Gowanus – e havia rumores de que uma multidão de vikings robustos daquela região estava se formando. Malone estava há semanas insistindo com seus colegas para tentarem uma limpeza geral; e finalmente, demovidos pelas condições mais óbvias para o seu bom senso do que as conjunturas de um sonhador de Dublin, eles concordaram em dar um golpe final. O tumulto e o perigo dessa noite tinham sido o fator decisivo, e logo após a meia-noite um grupo formado a partir de três distritos policiais invadiu Parker Place e seus arredores. Portas foram arrombadas, vagabundos foram presos e os quartos foram iluminados pela luz de velas e forçados a expelir turbas inacreditáveis de estrangeiros misturados em túnicas estampadas, mitras e outros emblemas inexplicáveis. Muito foi perdido no entrevero, pois objetos foram jogados precipitadamente em poços inesperados e cheiros reveladores eram mascarados por incensos acres recém-acesos. Mas o sangue salpicado estava por todo lugar, e Malone sentia arrepios sempre que via um braseiro ou um altar de onde ainda saía fumaça.
Ele queria estar em vários lugares ao mesmo tempo e decidiu pelo apartamento de Suydam no subsolo apenas após um mensageiro ter relatado sobre o vazio completo da igreja dilapidada. O apartamento, pensou ele, deve ter alguma pista para o culto de que o erudito misterioso se tornou tão obviamente seu centro e líder; e foi com uma esperança real que ele revistou os quartos mofados, sentiu seu odor vago de ossuário e examinou os livros, instrumentos e lingotes de ouro estranhos e as garrafas com tampas de vidro espalhadas descuidadamente por toda parte. Então um gato magro preto e branco esquivou-se por entre seus pés e o fez tropeçar, virando ao mesmo tempo um béquer com um pouco de líquido vermelho. O choque foi incrível, e até hoje Malone não tem certeza sobre o que viu; mas em sonhos ainda vê aquele gato enquanto ele fugia correndo com certas alterações e peculiaridades monstruosas. Então veio a porta trancada do porão, e a busca por algo que a derrubasse. Um tamborete pesado estava próximo, e o assento duro foi mais do que suficiente para a madeira velha da porta. Uma rachadura formou-se e foi aumentando, e toda a porta cedeu – mas pela pressão vinda do outro lado, de onde jorrou um turbilhão imenso de vento frio com o mau cheiro de um abismo infinito, alcançando uma força de sucção que não era da terra ou do céu e que se enovelou conscientemente em torno do detetive paralisado, arrastou-o pela abertura para os espaços imensuráveis cheios de sussurros e gemidos e acessos de risos zombeteiros.
É claro que era um sonho. Todos os especialistas lhe disseram isso, e ele não tinha nada para provar o contrário. Ele com certeza preferiria que assim fosse, pois então a visão de cortiços de tijolos antigos e rostos estrangeiros escuros não calaria de modo tão profundo na sua alma. Mas na época tudo foi terrivelmente real, e nada poderá apagar a memória daquelas criptas às escuras, aquelas galerias titânicas com figuras infernais malformadas e que caminhavam em silêncio com suas passadas gigantescas e segurando seres comidos pela metade, cujas porções ainda vivas gritavam por misericórdia ou riam de loucura. Cheiros de incenso e decomposição juntavam-se numa combinação enjoativa, e a atmosfera escura agitava-se com os corpanzis obscurecidos e semivisíveis de seres poderosos e disformes com olhos. Em algum lugar uma água escura e oleosa batia sobre molhes de ônix, e o tilintar aterrorizador de sininhos estridentes repicou uma vez para saudar o riso abafado insano de um ser nu fosforescente que nadou até o seu campo de visão, bracejou até a margem e saiu da água para acocorar-se, olhando maliciosamente em seu torno sobre um pedestal dourado entalhado na parede ao fundo.
Avenidas de uma noite sem fim pareciam espalhar-se em todas as direções, a ponto de se poder imaginar que aqui se encontrava a raiz de um contágio destinado a adoecer e engolir as cidades e engolfar nações inteiras no fedor de uma pestilência híbrida. Por aqui o pecado cósmico havia entrado e apodrecido, e por meio de rituais profanos começara a marcha esmagadora que iria nos apodrecer a todos até nos tornarmos anormalidades cheias de fungos e hediondas demais para merecermos um túmulo. O Satã mantinha a sua corte babilônica nesse lugar, e no sangue da infância imaculada os membros leprosos da Lilith fosforescente eram lavados. Íncubos e súcubos uivavam louvores para Hécate, e retardados sem cabeça balbuciavam coisas para a Magna Máter. Bodes saltavam ao som de flautas finas amaldiçoadas e Aegypans perseguiam incessantemente os faunos sobre as rochas que se retorciam como sapos inchados; pois nessa quintessência de toda a danação eterna, os limites da consciência foram deixados e a imaginação do homem abria-se para visões de todo o domínio do horror e dimensão proibida que o mal tinha o poder de moldar. O mundo e a natureza eram impotentes contra tais assaltos dos remoinhos escancarados da noite, tampouco qualquer gesto ou reza poderia controlar a orgia de Valpúrgis de horror que acontecera quando um erudito com uma chave odiosa encontrara ao acaso uma horda com uma arca trancada e transbordante de conhecimento demoníaco.
De repente um raio de luz trespassou aqueles fantasmas, e Malone ouviu o som de remos em meio às blasfêmias dos seres que deveriam estar mortos. Um bote com uma lanterna na proa entrou velozmente no seu campo de visão, amarrou-se à uma argola de ferro nos molhes escorregadios de pedras e expeliu para fora vários homens de compleição escura carregando um fardo longo e enrolado em roupas de cama. Eles o levaram até o ser nu fosforescente sobre o pedestal de ouro entalhado, e este deu um riso abafado e manuseou sem jeito as roupas de cama. Então eles o desenfaixaram e colocaram de pé diante do pedestal o corpo gangrenoso de um velho corpulento, com uma barba hirsuta e o cabelo branco despenteado. O ser fosforescente riu contido outra vez e os homens tiraram garrafas dos bolsos e ungiram os pés dele com vermelho, para em seguida estendê-las para que bebesse delas.
Então de repente, vindo de uma galeria que parecia não ter fim, ouviu-se a algazarra e o chiado demoníacos de um órgão blasfemo, engasgando e trovejando as zombarias do inferno num tom baixo, desafinado e sarcástico. Num instante todas as entidades que se moviam estavam eletrizadas e formaram uma procissão cerimoniosa, e essa horda saída de um pesadelo afastou-se deslizando em busca do som – bodes, sátiros e Aegypans, íncubos, súcubos e lêmures, sapos deformados e seres rudimentares disformes, macacos com caras de cachorro uivando e exibicionistas em silêncio na escuridão –, todos liderados pelo ser fosforescente nu e abominável que estava acocorado no trono de ouro entalhado e que agora caminhava a passos largos com insolência, trazendo nos braços o corpo com os olhos vítreos do velho corpulento. Os homens escuros estranhos dançavam na retaguarda e toda a coluna andava lépida e saltitante com uma fúria dionisíaca. Malone seguiu-os cambaleando por alguns passos, delirante e confuso, e duvidando do seu papel nesse ou em qualquer mundo. Então voltou-se, tropeçou e desabou sobre a pedra fria e úmida, respirando ofegante e tremendo enquanto o órgão demoníaco seguia no seu lamento, e os uivos, o bater dos tambores e o tilintar da procissão enlouquecida ficavam cada vez mais fracos.
Ele estava vagamente consciente dos salmos terríveis sendo cantados e dos lamentos abafados bem distantes. De vez em quando um lamento ou um gemido de devoção cerimonial chegavam até ele pela galeria escura, enquanto o terrível salmodiar cabalístico grego, cujo texto ele lera acima do púlpito da igreja, eventualmente se destacava mais alto.
Ó amigo e companheiro da noite, tu que exultas com o ladrar dos cães (nesse instante irrompeu um uivo medonho) e o sangue derramado (aqui sons indizíveis rivalizaram com guinchos mórbidos), que vagas em meio às sombras das tumbas (então ouviu-se um suspiro sibilante) e desejas ardentemente o sangue, levando o terror aos mortais (gritos curtos e nítidos de uma miríade de gargantas), Gorgo (repetido como resposta), Mormo (repetido com êxtase), lua de mil faces (suspiros e notas de flautas), olha com carinho os nossos sacrifícios!
Quando o salmodiar terminou, ergueu-se uma exclamação geral e sons sibilantes quase abafaram o lamento do órgão baixo desafinado. Então um grito abafado como se de muitas gargantas e uma babel de palavras vociferadas e berradas – Lilith, Grande Lilith, veja o noivo! – Mais gritos, um alarido de tumulto e os passos ritmados e nítidos de uma figura correndo. Os passos aproximaram-se e Malone levantou apoiando-se no cotovelo para ver.
A luminosidade da cripta, reduzida a pouco, agora havia aumentado, e naquela luz diabólica apareceu a forma fugaz daquele que não deveria escapar, sentir ou respirar – o corpo gangrenado de olhos vítreos do velho corpulento, agora sem precisar de apoio, mas animado por alguma feitiçaria infernal do rito recém-terminado. Atrás dele corria nu o ser fosforescente, rindo abafado, ele que pertencia ao pedestal entalhado, e mais atrás ainda corriam ofegantes os homens escuros e toda a turba terrível de repugnância consciente. O corpo ganhava terreno dos seus perseguidores e parecia decidido em busca de um objeto definido, lutando com cada músculo apodrecido em direção ao pedestal de ouro entalhado, cuja importância necromântica era evidentemente tão grande. Mais um instante e ele alcançaria a sua meta, enquanto a turba que o seguia lutava numa velocidade mais frenética. Mas eles chegaram tarde demais, pois, num último esforço que rompeu de tendão a tendão e lançou sua massa fétida debatendo-se ao chão num estado de decomposição gelatinosa, o corpo imóvel que fora Robert Suydam alcançara seu objeto e seu triunfo. O esforço fora tremendo, mas sua força não o deixara até o fim; e quando ele desabou numa pústula embarrada de decomposição, o pedestal que ele empurrara oscilou, inclinou-se e por fim emborcou da sua base de ônix para dentro das águas oleosas, projetando para cima um brilho de despedida do ouro entalhado enquanto afundava pesadamente em direção aos abismos inimagináveis do Tártaro mais abaixo. Naquele instante, também, toda a cena de horror desapareceu diante dos olhos de Malone; e ele desmaiou em meio ao estrondo ensurdecedor que parecia apagar todo esse universo do mal.
VII
O sonho de Malone, vivenciado completamente antes de ele saber da morte de Suydam e seu translado do mar, por curiosidade foi complementado por algumas realidades estranhas do caso; apesar de que isso não seria uma razão para que alguém devesse acreditar nele. As três casas velhas em Parker Place, sem dúvida alguma há muito tempo apodrecidas na sua decadência mais traiçoeira, desabaram sem qualquer causa visível enquanto metade dos policiais na batida e a maioria dos prisioneiros estavam dentro; e a maior parte foi morta instantaneamente. Apenas nos subsolos e nos porões muitas vidas foram poupadas, e Malone teve sorte de estar bem abaixo da casa de Robert Suydam. Pois ele realmente estava lá, como ninguém está disposto a negar. Eles o encontraram inconsciente junto a uma poça escura com uma mistura grotesca horrível de podridão e ossos, identificada pela arcada dentária como sendo o corpo de Suydam, alguns metros adiante. O caso era simples, pois era para cá que o canal subterrâneo dos contrabandistas levava; e os homens que tiraram Suydam do navio o trouxeram para casa. Eles próprios nunca foram achados, ou pelo menos nunca foram identificados. Já o médico do navio não ficou satisfeito com as convicções simplórias da polícia.
Suydam era evidentemente um dos líderes dessas grandes operações de contrabando de pessoas, pois o canal para a sua casa era apenas um de vários canais e túneis subterrâneos no bairro. Havia um túnel partindo da sua casa para a cripta abaixo da igreja; uma cripta acessível a partir da igreja somente através de uma passagem estreita secreta na parede norte e em cujos aposentos algumas coisas extraordinárias e terríveis foram descobertas. O órgão desafinado estava lá, assim como uma enorme capela em arco com bancos de madeira e um estranho altar. As paredes tinham uma série de celas pequenas, dezessete delas ocupadas – algo hediondo de se descrever – e com prisioneiros solitários num estado de completa idiotia, acorrentados, inclusive quatro mães com crianças com uma aparência terrivelmente estranha. Essas crianças morreram logo após sua exposição à luz; uma circunstância que os médicos acharam um tanto misericordiosa. Ninguém, a não ser Malone, entre aqueles que as examinaram, lembrou da pergunta lúgubre do velho Delrio: “An sint unquam daemones incubi et succubae, et an ex tali congressu proles enascia quea?”[4]
Antes de canais serem cheios de terra, eles foram cuidadosamente dragados e produziram uma gama sensacional de ossos serrados e partidos de todos os tamanhos. A epidemia de seqüestros sem dúvida havia sido seguida até o seu ponto de origem; apesar de só dois dos prisioneiros sobreviventes terem sido legalmente vinculados a ela. Esses homens estão na prisão agora, visto que não conseguiram se livrar da condenação por cumplicidade nos assassinatos que ocorreram. O pedestal de ouro entalhado, ou trono, tantas vezes mencionado por Malone como sendo de uma importância oculta fundamental, nunca foi descoberto, embora num local embaixo da casa de Suydam tenha sido observado que o canal caía num poço profundo demais para ser dragado. Ele estava entupido na abertura e foi cimentado quando os porões das casas novas foram construídos, mas Malone especula muitas vezes sobre o que se encontra abaixo dele. Satisfeita por ter acabado com uma gangue perigosa de maníacos e contrabandistas, a polícia passou os curdos absolvidos para as autoridades federais, que antes da sua deportação foram conclusivamente descobertos como pertencendo ao clã yezidi de adoradores do diabo. O cargueiro e sua tripulação permanecem um mistério indefinível, apesar de os detetives cínicos estarem novamente prontos para combater os empreendimentos ilegais e de contrabando de bebidas. Malone acha que esses detetives demonstram uma perspectiva tristemente limitada na sua falta de espanto diante da miríade inexplicável de detalhes e da obscuridade sugestiva de todo o caso; embora ele também seja crítico da mesma forma em relação aos jornais, que viram somente uma sensação mórbida e tripudiaram sobre um culto de sádicos menor, o qual poderiam ter proclamado como sendo um horror vindo do próprio coração do universo. Mas ele estava contente em descansar em silêncio em Chepachet, acalmando o sistema nervoso e rezando para que o tempo pudesse gradualmente transferir a sua experiência terrível do campo da realidade presente para outro remoto, pitoresco e semimítico.
Robert Suydam descansa ao lado da sua noiva no cemitério de Greenwood. Nenhum funeral foi feito para os ossos estranhamente liberados, e os parentes são agradecidos pelo esquecimento rápido que assumiu o caso como um todo. A ligação do erudito com os horrores de Red Hook nunca foi realmente cercada de provas legais, já que a sua morte impediu o inquérito que ele teria enfrentado de outra forma. O seu próprio fim não é muito mencionado, e os Suydams esperam que a posteridade possa lembrar dele como um recluso simpático que se dedicava ao estudo inofensivo da mágica e do folclore.
Quanto a Red Hook – ele segue o mesmo. Suydam chegou e partiu; o terror reuniu-se e sumiu; mas o espírito diabólico da escuridão e da esqualidez segue incubando em meio aos mestiços nas casas velhas de tijolos e nos bandos que desfilam a esmo em missões desconhecidas, passando por janelas onde as luzes e rostos virados aparecem e desaparecem de forma enigmática. O horror de eras passadas é uma hidra com mil cabeças, e os cultos da escuridão estão enraizados em blasfêmias mais profundas do que o poço de Demócrito. A alma da besta é onipresente e triunfante, e as legiões de jovens com olhos turvos e rostos marcados pela varíola de Red Hook ainda cantam, vociferam e falam palavrões enquanto marcham de abismo para abismo, ninguém sabe por que razão ou para onde, empurrados por leis cegas da biologia que eles talvez nunca entenderão. Assim como antes, mais pessoas entram em Red Hook do que saem por terra, e já existem rumores de que canais novos estão correndo no subterrâneo para determinados centros de tráfico de bebidas e coisas menos mencionáveis.
A igreja é agora na maior parte do tempo um salão de bailes e rostos estranhos apareceram à noite nas suas janelas. Ultimamente policiais disseram acreditar que a cripta que havia sido soterrada fora cavada outra vez e sem uma finalidade explicável. Quem somos nós para combater venenos mais antigos que a história e a humanidade? Macacos dançavam na Ásia para esses horrores e esse câncer se espalha furtivamente protegido pela dissimulação oculta nas fileiras de tijolos decadentes.
Malone não sente arrepios sem motivo – pois há apenas alguns dias um policial ouviu por acaso uma velha megera de olhos puxados ensinando algo para uma criança pequena num dialeto sussurrado no corredor entre dois prédios. Ele prestou atenção e achou muito estranho quando a ouviu repetir os versos várias vezes.
“Ó amigo e companheiro da noite, tu que exultas com o ladrar dos cães e o sangue derramado, que vagas em meio às sombras das tumbas e desejas ardentemente o sangue, levando o terror aos mortais, Gorgo, Mormo, lua de mil faces, olha com carinho os nossos sacrifícios!”
[1]. Aubrey Beardsley (1872-1898), ilustrador e autor inglês. (N.T.)
[2]. Paul Gustave Doré (1832-1883), artista, gravador e ilustrador francês. (N.T.)
[3]. Relativo à obra do escritor inglês Charles Dickens (1812-1870).
[4]. “Será possível estar uma vez com demônios, íncubos e súcubos, e a partir de tal união gerar uma prole?”. Em latim no original. Citação do teólogo jesuíta Martin Antonio Delrio (1551-1608). (N.E.)
A estranha casa que pairava na névoa
A névoa sobe do mar de manhã junto aos penhascos ao largo de Kingsport; branca e leve, ela vem das profundezas para encontrar suas irmãs, as nuvens, cheia de sonhos de pastos úmidos e cavernas gigantes. E mais tarde as chuvas de verão vertem gota a gota sobre os telhados encharcados dos poetas, espalhando partes desses sonhos, já que os homens não devem viver sem os rumores de segredos antigos e estranhos e sem os prodígios que os planetas contam para os outros planetas quando estão sós à noite. Quando as histórias voam decididas pelas grutas de tritões e as conchas nas cidades de algas marinhas tocam músicas desvairadas aprendidas dos Antigos, as névoas ansiosas enormes afluem para o céu carregadas de conhecimento, e os olhos das rochas voltados para o mar vêem apenas uma brancura mística, como se a beira do paredão fosse a beira de toda a terra e os sinos solenes das bóias dobrassem livres no espaço celeste de um reino encantado.
Ao norte da antiga Kingsport, entretanto, os rochedos erguem-se majestosos e singulares, terraço sobre terraço, até que o rochedo mais ao norte paira no céu como uma nuvem cinzenta de vento congelada. Ele é um ponto solitário e descampado projetando-se no espaço infinito, pois lá a costa vira bruscamente onde o grande Miskatonic jorra das planícies passando Arkham, trazendo as lendas dos bosques e as lembranças graciosas dos montes da Nova Inglaterra. O povo do mar de Kingsport olha para aquele paredão como outros povos do mar olham para a estrela Polar e contam suas vigílias noturnas pela forma como ele esconde ou deixa à mostra as constelações da Ursa Maior, da Cassiopéia e do Dragão. Para eles o rochedo é uno com o firmamento, e, para dizer a verdade, ele se esconde quando a névoa esconde as estrelas ou o sol.
Alguns penhascos são adorados pela população local, como aquele cujo perfil grotesco chamam de Pai Netuno, ou o outro conhecido como O Caminho Elevado por seus degraus naturais; mas o mais alto é temido por ser tão próximo do céu. Os marinheiros portugueses chegando de viagem fazem o sinal da cruz quando o vêem pela primeira vez, e os velhos ianques acreditavam que o escalar seria algo muito mais sério do que a própria morte, se isso realmente fosse possível. Mesmo assim, existe uma casa antiga naquele penhasco e, à noite, os homens vêem luzes nas janelas de vidros pequenos.
A casa antiga sempre esteve lá, e as pessoas dizem que o homem que mora nela conversa com a névoa matutina que sobe das profundezas e talvez veja coisas extraordinárias na direção do mar naqueles momentos em que a beira do penhasco se torna a beira da terra e as bóias solenes dobram livres no espaço celeste de um conto de fadas. Isso eles contam de ouvir dizer, pois esse rochedo proibido nunca é visitado e os nativos não gostam de dirigir os telescópios na sua direção. Já os turistas de verão de fato o examinaram com seus binóculos elegantes, mas nunca viram mais do que o telhado cinzento primitivo, pontiagudo e coberto com seixos, cujas cimalhas chegam perto das fundações também cinzentas, e a luz amarela pálida das janelas pequenas espiando para fora no anoitecer. Esses turistas de verão não acreditam que o mesmo homem tenha vivido na casa antiga por centenas de anos, mas não conseguem provar a sua heresia para qualquer morador verdadeiro de Kingsport. Mesmo o Velho Terrível, que fala com pêndulos de chumbo em garrafas, faz suas compras com ouro espanhol da época do império e mantém ídolos de pedra no jardim da sua cabana antiga na rua Water, só pode dizer que essas coisas eram do mesmo jeito quando o seu avô era um garoto, e isso devia ser inconcebível muito tempo atrás, quando Belcher, Shirley, Pownall ou Bernard eram os governadores reais da província de Massachussets-Bay.
Então num verão apareceu um filósofo em Kingsport. Seu nome era Thomas Olney e ele ensinava matérias importantes numa universidade em Narragansett Bay. Ele veio com sua esposa robusta e as crianças traquinas, e seus olhos estavam cansados de ver as mesmas coisas por muitos anos e pensar os mesmos pensamentos disciplinados. Ele olhou para a névoa no topo do Pai Netuno e tentou caminhar até o mundo branco de mistérios pelos degraus titânicos do Caminho Elevado. Uma manhã depois da outra ele deitava sobre os penhascos e olhava para a beira do mundo no espaço celestial misterioso que se estendia à sua frente, ouvindo os sinos espectrais e os gritos selvagens do que deviam ser gaivotas. Então, quando a névoa subia e o mar se sobressaía prosaico com a fumaça dos barcos a vapor, ele suspirava e descia para a cidade, onde adorava passear pelas vielas antigas tortuosas e o morro abaixo, estudando as cumeeiras instáveis e as portas das casas ornadas por estranhos vãos que haviam abrigado tantas gerações de um povo resoluto do mar. E ele até conversou com o Velho Terrível, que não gostava de estranhos, e foi convidado a entrar na sua cabana incrivelmente antiquada, onde o teto baixo e os tapetes carcomidos ouviam os ecos de monólogos perturbadores nas horas escuras da madrugada.
É claro que foi inevitável que Olney marcasse no céu a cabana cinzenta sobre aquele rochedo sinistro ao norte e que era una com a névoa e o firmamento, e nunca era visitada, sempre pairando sobre a cidade e tendo seu mistério sussurrado pelas vielas tortuosas de Kingsport. O Velho Terrível contou com dificuldade uma história que seu pai havia lhe contado, de um raio que partira uma noite daquela cabana pontiaguda em direção às nuvens mais distantes no céu; e a Vovó Orne, cuja casinha com telhado à holandesa na rua Ship é toda coberta pelo musgo e heras, resmungara um dia algo que a sua avó ouvira falar sobre vultos que saíam batendo asas daquela névoa a leste, direto para a única porta estreita daquele lugar inalcançável – pois a porta fica próxima da beira do precipício de frente para o mar e é vista de relance somente pelos barcos que estão na água.
Por fim, sendo ávido por coisas estranhas e novas e não se sentindo preso nem pelo medo dos habitantes de Kingsport, nem tampouco pela preguiça natural dos turistas de verão, Olney tomou uma decisão terrível. Apesar do seu treino moderado – ou talvez devido a ele, pois as vidas monótonas produzem um anseio nervoso pelo desconhecido –, ele fez um juramento solene de escalar aquele penhasco que era evitado ao norte e visitar a cabana cinzenta estranhamente antiga e próxima do céu. O seu eu mais são argumentou, muito plausivelmente, que o lugar era habitado por pessoas que chegavam nele por terra através de um desfiladeiro mais acessível ao lado do estuário do Miskatonic. Elas provavelmente faziam o seu comércio em Arkham, sabedoras da antipatia nutrida por Kingsport em relação à sua moradia, ou talvez por serem incapazes de descer o penhasco pelo lado da cidade. Olney caminhou junto aos penhascos menores até onde o rochedo enorme dava um salto insolente para conviver com os seres celestiais e ficou bastante convicto que nenhum pé humano poderia escalá-lo ou descê-lo por aquele paredão saliente do lado sul. Na direção leste e ao norte ele se erguia centenas de metros perpendicularmente à água, portanto restava somente o lado oeste, pelo interior e na direção de Arkham.
Olney partiu cedo numa manhã de agosto em busca do caminho para o cume inacessível. Ele seguiu firme na direção noroeste ao largo de estradas vicinais agradáveis, passando pelo Reservatório Hooper e a velha casa de pólvora para onde as pastagens subiam até uma passagem acima do Miskatonic, proporcionando uma vista belíssima dos campanários brancos georgianos de Arkham além das léguas de campinas e do rio. Aqui Olney encontrou uma estrada sombreada para Arkham, mas nenhuma trilha na direção do mar como ele queria. Matas e campos se alternavam até a margem alta da foz do rio e não traziam sinal algum da presença do homem; nem mesmo um muro de pedra ou uma vaca desgarrada, mas apenas a relva alta, árvores gigantes e emaranhados de urzes brancas que podem ter sido vistos pelos primeiros índios. À medida que escalava lentamente na direção leste, cada vez mais alto sobre o estuário à esquerda e mais próximo do mar, Olney percebeu que o caminho ficava tão mais difícil a ponto de se perguntar como os moradores daquele lugar malquisto conseguiam alcançar o mundo exterior e se vinham seguidamente fazer compras em Arkham.
Então as árvores escassearam, e bem abaixo dele do lado direito ele viu os morros, os telhados antigos e as agulhas das torres de Kingsport. Mesmo o Central Hill era pequenino daquela altura, e ele só conseguiu distinguir o cemitério velho junto do Hospital Congregacional, embaixo do qual, segundo os rumores, escondiam-se cavernas e tocas terríveis. Mais adiante a relva tornou-se esparsa e surgiram arbustos cerrados com frutinhas selvagens e, além deles, a pedra nua do rochedo e o pico fino da temível cabana cinzenta. Nesse ponto o cume estreitava, e Olney ficou tonto ao dar-se conta da sua solidão com o céu, tendo ao sul o precipício terrível acima de Kingsport e ao norte a queda vertical de quase uma milha até a foz do rio. De repente uma fenda grande de uns três metros de profundidade abriu-se diante dele, de maneira que Olney teve de descer com a ajuda das mãos, caindo no chão inclinado, e então engatinhou perigosamente por uma passagem natural até a outra parede. Então esse era o jeito que a gente daquela casa misteriosa viajava entre o céu e a terra!
Quando ele escalou para fora da fenda, já havia uma névoa matutina, mas ele via claramente à sua frente a cabana elevada e profana; as paredes eram cinzentas como a pedra e o cimo alto contrastava nítido contra o branco de leite dos vapores do mar. Olney percebeu que não havia porta desse lado por terra, apenas um par de janelas de treliças pequenas e vidros com clarabóias lúgubres e chumbados como se fazia no século XVII. Tudo à sua volta eram nuvens e caos, e não era possível distinguir nada abaixo da brancura do espaço imensurável. Ele estava sozinho no céu com essa casa esquisita e perturbadora; e quando deu a volta esgueirando-se até a frente dela e viu que a parede ficava rente ao beiral do precipício, de maneira que a única porta estreita não podia ser alcançada a não ser a partir do espaço celeste vazio, Olney sentiu um terror indubitável que não poderia ser explicado totalmente pela altura. E era muito estranho que seixos tão consumidos pelos bichos ainda não tivessem ruído, ou que tijolos tão gastos pudessem formar ainda uma chaminé que ficasse de pé.
Enquanto a névoa aumentava, Olney deu mais uma volta agachado até as janelas dos lados norte, oeste e sul, experimentando em vão se estavam abertas. Ele sentia-se vagamente satisfeito que estivessem todas trancadas, pois quanto mais via daquela casa, menor era a sua vontade de entrar. Então um som o fez parar. Ele ouviu um cadeado retinir e o ferrolho da porta correr, e seguiu-se um longo rangido como se uma porta pesada fosse lenta e cuidadosamente aberta. Os ruídos vinham do lado que dava para o mar e que não dava para ser visto, onde a porta estreita abria-se para o espaço vazio centenas de metros no céu enevoado sobre as ondas.
Então Olney ouviu passos pesados e decididos na cabana e as janelas sendo abertas. Primeiro do outro lado, ao norte, e então a oeste logo virando o canto. Depois viriam as janelas ao sul, sob as cimalhas grandes e baixas no lado em que ele estava. Vale dizer que Olney sentia-se mais do que desconfortável quando pensou sobre a casa detestável de um lado e a vacuidade do ar do outro. Então quando percebeu alguém tateando o caixilho da janela mais próxima, ele caminhou agachado novamente para o lado oeste, encostando-se contra a parede ao lado das janelas que já estavam abertas. Era claro que o proprietário havia chegado em casa; mas ele não viera por terra, tampouco com um balão ou um dirigível que pudesse ser imaginado. Passos soaram de novo e Olney circundou esgueirando-se para o lado norte; mas antes que pudesse encontrar um lugar seguro, uma voz chamou suavemente e ele sabia que tinha de enfrentar o seu anfitrião.
Projetando-se para fora da janela do lado oeste via-se um rosto grande, de barba negra, cujos olhos brilhavam marcados por visões desconhecidas. Mas a voz era gentil e com um timbre singular antigo, de maneira que Olney não sentiu medo quando uma mão morena se estendeu para ajudá-lo a passar sobre o peitoril e para dentro daquele aposento baixo com revestimentos de carvalho escuro e móveis estilo Tudor entalhados. O homem vestia trajes bastante antigos, e pairava em torno dele uma nuvem indefinível de conhecimento do mar e sonhos de galeões altos. Olney não se lembra de muitos dos prodígios que ouviu, ou mesmo de quem ele era, mas diz que era um homem estranho e afável, cheio da mágica dos vazios insondáveis do tempo e do espaço. O pequeno aposento parecia verde com uma luz opaca aquosa, e Olney viu que as janelas distantes na direção leste estavam fechadas para o espaço celeste enevoado com vidros obscuros como os fundos de garrafas velhas.
Aquele anfitrião barbado parecia jovem, entretanto via o mundo com olhos impregnados dos mistérios mais antigos; e das histórias sobre as coisas maravilhosas de outros tempos que ele contava, podia-se supor que o povo do vilarejo estava certo em dizer que ele comungava com as brumas do mar e as nuvens do céu desde a época em que não havia vilarejo algum para observar a sua morada reservada da planície abaixo. E o dia foi passando, e Olney seguia ouvindo sobre os rumores de épocas e lugares distantes. Ele ficou sabendo como os reis de Atlântida lutaram contra as blasfêmias ardilosas que se insinuavam sorrateiras das fendas do fundo do oceano, e como o templo de Posêidon, com suas colunas e coberto por ervas, ainda é visto de relance à meia-noite por barcos à deriva e que, ao verem-no, sabem que estão perdidos. Os anos dos Titãs foram relembrados, mas o anfitrião ficou tímido quando falou da primeira era confusa e caótica antes de os deuses ou mesmo de os Antigos terem nascido, assim como quando outros deuses vieram dançar no pico de Hatheg-Kla no deserto pedregoso próximo a Ulthar, além do rio Skai.
Foi nesse ponto que se ouviu uma batida na porta; aquela porta antiga de carvalho cravejado de tachas além da qual se encontrava somente o abismo de nuvens brancas. Olney sobressaltou-se assustado, mas o homem barbado gesticulou para que ele ficasse onde estava e saiu na ponta dos pés até a porta para olhar para fora por um olho mágico pequeno. Ele não gostou do que viu, então levou o dedo aos lábios e seguiu na ponta dos pés fechando e trancando as janelas antes de voltar para o banco de madeira antigo com espaldar alto ao lado do seu hóspede. Então Olney viu um perfil negro passar lentamente contra os quadros translúcidos de cada uma das janelas de vidros pequenos, uma depois da outra, à medida que o estranho visitante se deslocava inquisitivo antes de ir embora; e ficou agradecido que o seu anfitrião não respondera às batidas, pois existem objetos estranhos no grande abismo, e o explorador de sonhos tem de tomar cuidado para não agitar ou encontrar os errados.
Em seguida começaram a se juntar sombras, primeiro sombras pequenas e furtivas embaixo da mesa, e então sombras mais corajosas nos cantos revestidos com a madeira escura. O homem barbudo fez gestos enigmáticos de reza e acendeu velas altas em castiçais curiosamente ornamentados. Repetidas vezes ele olhava de relance para a porta como se esperando alguém, e por fim seu olhar pareceu respondido por uma batida leve singular que deve ter seguido algum código antigo e secreto. Dessa vez ele nem olhou pelo olho mágico, apenas levantou a barra grande de carvalho e correu o ferrolho, destrancando a porta pesada e a escancarando para as estrelas e a névoa.
E então o som de harmonias obscuras fluiu das profundezas para dentro do aposento com todos os sonhos e as memórias dos Poderosos submersos da terra. Chamas douradas brincavam com as fechaduras frágeis, de maneira que Olney se sentia estonteado enquanto os recepcionava. Netuno com seu tridente estava lá, assim como tritões alegres e nereidas fantásticas, e sobre os dorsos dos golfinhos equilibrava-se uma enorme concha crenulada na qual montava a figura festiva e terrível do Nodens primitivo, o Lorde do Grande Abismo; e as trombetas dos tritões sopravam sons estranhos, enquanto as nereidas faziam ruídos esquisitos batendo sobre as conchas ressonantes e grotescas de criaturas sorrateiras e desconhecidas das cavernas do mar. Então o venerável Nodens estendeu uma mão encarquilhada e ajudou Olney e seu anfitrião a entrarem na concha enorme, onde as trombetas e os gongos se animaram num alarido desvairado e incrível. E lá fora, no espaço celeste infinito, soava esse turbilhão fabuloso, cujo alarido perdia-se nos ecos dos trovões.
Durante toda a noite em Kingsport as pessoas observaram aquele penhasco alto enquanto a tempestade e a névoa lhes permitiram vê-lo de relance, e quando na madrugada as janelinhas opacas ficaram escuras, o povo sussurrou sobre o medo e o desastre. E os filhos e a mulher robusta de Olney rezaram para o deus apropriado e afável dos batistas desejando que o viajante tivesse tomado emprestado um guarda-chuva e galochas, a não ser que a chuva parasse pela manhã. Então o amanhecer veio nadando do mar, pingando e envolto na névoa, e as bóias dobraram solenes em vórtices de um espaço celeste branco. E ao meio-dia os clarins de Elfos soaram sobre o oceano quando Olney, seco e com uma passada lépida, desceu dos penhascos para a antiga Kingsport, com a impressão de lugares distantes nos olhos. Ele não conseguia relembrar o que havia sonhado na cabana nas alturas daquele eremita ainda sem nome, nem dizer como havia descido rastejando daquele rochedo nunca transposto por outros pés. Tampouco conseguia falar sobre essas questões com as pessoas, a não ser com o Velho Terrível, que depois resmungava coisas estranhas com sua longa barba branca, jurando que o homem que descera daquele rochedo não era totalmente o homem que subira e que em algum lugar sob aquele telhado pontiagudo cinzento, ou em meio às extensões inconcebíveis daquela névoa branca sinistra, ficara o espírito perdido do homem que fora Thomas Olney.
E daquele momento em diante, ao longo de anos monótonos e arrastados de opacidade e cansaço, o filósofo trabalhou, comeu, dormiu e cumpriu sem reclamar os atos condizentes de um cidadão. Ele não deseja mais a mágica dos montes distantes, nem suspira pelos segredos que perscrutam por aí como recifes verdes de um mar sem fundo. A mesmice dos seus dias não lhe causa mais tristeza, e seus pensamentos disciplinados tornaram-se suficientes para sua imaginação. Sua boa esposa tornou-se mais decidida ainda e seus filhos, mais velhos, ficaram falantes e produtivos, e ele nunca deixa de sorrir corretamente com orgulho quando a ocasião assim exige. No seu semblante não resta qualquer traço de descontentamento, e se ele ouve os sinos solenes ou os clarins distantes dos elfos é somente à noite, quando os sonhos antigos estão vagando ao léu. Ele nunca mais viu Kingsport, pois a sua família não gostava das casas antigas esquisitas e reclamava que era impraticável de se viver com aquela umidade. Eles têm um bangalô bem-arrumado em Bristol Highlands, onde não existem rochedos altos pairando sobre a cidade e os vizinhos são citadinos e modernos.
Mas em Kingsport histórias estranhas correm soltas, e mesmo o Velho Terrível admite uma coisa que não foi contada por seu avô. Pois agora, quando o vento norte varre tempestuoso pela casa antiga nas alturas que é una com o firmamento, finalmente é quebrado aquele silêncio sinistro e taciturno que foi a ruína dos aldeãos costeiros de Kingsport. E os velhos falam sobre as vozes agradáveis que eles ouvem cantando por lá e do riso que se enche de alegrias além das alegrias da terra; e dizem que à noite as janelinhas baixas brilham mais do que no passado. Eles dizem também que a alvorada impetuosa chega mais seguido para aquele local, cintilando azul ao norte com visões de mundos congelados, enquanto o rochedo e a cabana pairam escuros e fantásticos contra os fulgores ardentes da pedra. E as névoas do amanhecer são mais densas, e os marinheiros não têm tanta certeza de que todos aqueles repiques abafados na direção do mar são das bóias solenes.
O pior de tudo, entretanto, é a diminuição de velhos temores nos corações dos jovens de Kingsport, que crescem dispostos a ouvir, à noite, os sons distantes e vagos do vento norte. Eles juram que nenhum perigo ou dor pode habitar aquela cabana pontiaguda nas alturas, pois há contentamento nas vozes novas e, com elas, o retinir de risos e música. Que histórias as névoas do mar podem trazer para aquele cume amaldiçoado mais ao norte eles não sabem, mas anseiam extrair alguma pista dos prodígios que batem na porta que se escancara para o penhasco quando as nuvens estão mais densas. E os patriarcas temem que algum dia os jovens procurem um a um aquele pico inacessível no céu e aprendam os segredos de séculos que se escondem embaixo daquele telhado íngreme de seixos que é parte das pedras e das estrelas e dos temores antigos de Kingsport. Que esses jovens aventurosos vão voltar eles não têm dúvida, mas acreditam que uma luz pode partir dos seus olhos e uma força de vontade dos seus corações. E eles não querem que a Kingsport graciosamente antiquada, com suas vielas que sobem os morros e com suas cumeeiras arcaicas, arraste-se apática ao longo dos anos enquanto a voz e o coro de risadas fique mais forte e desvairado naquela morada nas alturas desconhecida e terrível, onde as névoas e os sonhos das névoas param para descansar no seu caminho do mar em direção ao céu.
Eles não querem que as almas dos seus jovens deixem as lareiras agradáveis e as tavernas com telhados à holandesa da velha Kingsport, tampouco querem que o riso e a música naquele lugar rochoso nas alturas fiquem mais altos. Pois da mesma forma que a voz que veio trouxe névoas frescas do mar e luzes novas do norte, também outras vozes ainda vão trazer mais névoas e mais luzes, até que talvez os deuses antigos (cuja existência eles suspeitam apenas em sussurros por temer que o pastor da Igreja Congregacional ouça) possam sair das profundezas e da Kadath desconhecida de terras ermas e frias. Eles fariam então a sua moradia sobre aquele rochedo maliciosamente apropriado e tão próximo dos montes suaves e dos vales de um povo simples e pacato de pescadores. Isso eles não querem, pois para pessoas modestas, as coisas extraterrenas não são bem-vindas; além disso, o Velho Terrível seguidamente relembra o que Olney falou sobre uma batida que o morador solitário temia e uma figura escura e inquisitiva vista contra a névoa através daquelas janelas translúcidas e esquisitas com suas clarabóias chumbadas.
Sobre todas essas coisas, entretanto, somente os Antigos podem decidir; e, enquanto isso, a névoa da manhã ainda sobe por aquele pico vertiginoso encantador com a casa antiga escarpada, aquela casa cinzenta com cimalhas baixas onde ninguém é visto mas onde a noite traz luzes furtivas enquanto o vento norte fala sobre festas estranhas. Branca e leve, ela vem das profundezas para encontrar suas irmãs, as nuvens, cheia de sonhos de pastos úmidos e cavernas gigantes. E quando as histórias voam decididas pelas grutas de tritões e as conchas nas cidades de algas marinhas tocam músicas desvairadas aprendidas dos Antigos, as névoas ansiosas enormes afluem para o céu carregadas de conhecimento; e Kingsport, aconchegada apreensiva nos penhascos menores abaixo daquela rocha fantástica pairando como uma sentinela, vê apenas uma brancura mística na direção do mar, como se a beira do penhasco fosse a beira de toda a terra e os sinos solenes das bóias dobrassem livres no espaço celeste de um reino encantado.
Entre as paredes de Eryx
Antes de tentar descansar vou escrever essas notas em preparação para o relato que terei de fazer. O que encontrei é algo tão extraordinário e tão contrário à experiência e às expectativas passadas que merece uma descrição muito cuidadosa.
Minha chegada na plataforma principal de Vênus foi no dia 18 de março, hora terrestre; VI, 9 do calendário do planeta. Fui colocado no grupo principal sob o comando de Miller, recebi meu equipamento – um relógio regulado para a rotação ligeiramente mais rápida de Vênus – e passei pelo exercício costumeiro com a máscara. Após dois dias fui declarado apto para a missão.
Deixando a guarnição da Companhia Cristal em Terra Nova próximo do amanhecer, VI, 12, I, segui a rota sul que Anderson havia mapeado do ar. O estado do terreno era ruim, já que as selvas daqui sempre ficam meio intransitáveis após uma chuva. Deve ser a umidade que deixa as trepadeiras e as plantas rasteiras com essa resistência de couro; uma resistência tão grande que um facão tem de trabalhar dez minutos em algumas delas. Em torno do meio-dia eu estava quase seco, e a vegetação tornava-se cada vez mais suave e flexível, de maneira que o facão a cortava facilmente, mas mesmo assim não conseguia ganhar muito terreno. Essas máscaras de oxigênio são muito pesadas – apenas carregá-las quase extenua um homem comum. Uma máscara com um reservatório esponjoso, em vez de tubos, proporcionaria um ar tão bom quanto e com a metade do peso.
O detector de cristais parecia funcionar bem, apontando firmemente numa direção que corroborava o relatório de Anderson. É curioso como funciona o princípio da atração – sem qualquer tapeação das velhas “varinhas de adivinhação” usadas no nosso país. Devia haver um grande depósito de cristais num raio de mil milhas, entretanto acredito que aqueles homens-lagartos detestáveis o estavam vigiando e protegendo constantemente. Talvez pensem que somos tão insensatos por vir a Vênus procurar pelo material, quanto nós os achamos por rastejar-se na lama sempre que vêem uma pedra de cristal, ou por manter aquela massa enorme sobre um pedestal no seu templo. Eu gostaria que escolhessem uma nova religião, pois não há outro uso para os cristais a não ser para reza. Excluindo a teologia, deixariam que tomássemos tudo o que quiséssemos – e mesmo que aprendessem a extraí-lo para obter energia, haveria mais do que o suficiente para o seu planeta e a terra juntos. Eu sou um que está cansado de deixar passar os principais depósitos e simplesmente procurar separar os cristais dos leitos dos rios nas selvas. Um dia ainda vou insistir pelo extermínio desses indigentes desprezíveis por uma boa tropa firme do meu país. Em torno de vinte naves poderiam trazer tropas suficientes para dar um jeito nisso. Não dá para se chamar esses seres malditos de homens, mesmo levando-se em consideração todas as suas “cidades” e torres. Eles não têm qualquer habilidade a não ser construir – e usar espadas e dardos envenenados –, e não quero acreditar que as suas chamadas “cidades” queiram dizer muito mais do que formigueiros e barragens de castores. Duvido que tenham até uma linguagem real – todo aquele discurso a respeito da comunicação psicológica por meio dos tentáculos nos seus peitos me soa como mistificação. O que engana as pessoas é a sua postura ereta; apenas uma semelhança física acidental com o homem terrestre.
Eu gostaria de atravessar uma selva de Vênus uma vez sem ter de tomar cuidado com esses grupos de covardes ou ter de me esquivar dos seus dardos abomináveis. Eles podem ter sido legais antes de nós começarmos a extrair os cristais, mas são um empecilho suficientemente ruim agora – jogando seus dardos e cortando nossos canos d’água. Cada dia acredito mais que eles tenham um sentido especial como os nossos detectores de cristais. Nunca se soube de eles incomodarem um homem – a não ser atirando a distância – que não carregasse cristais consigo.
Em torno da uma hora da tarde um dardo quase arrancou meu capacete, e pensei por um segundo que um dos meus tubos de oxigênio fora perfurado. Os diabos matreiros não tinham feito barulho algum, mas três deles fechavam o cerco à minha volta. Varri um círculo com minha pistola lança-chamas e peguei-os todos, pois, apesar de a sua cor se confundir com a selva, eu conseguia distinguir os rastejadores se movimentando. Um deles tinha três metros inteiros de altura, com o focinho de uma anta. Os outros dois tinham os dois metros e meio médios da sua população. O que os faz dominar o território é simplesmente a sua multidão – mesmo um único regimento de lança-chamas poderia causar-lhes perdas pesadas. É curioso, entretanto, como eles se tornaram senhores do planeta. Não há outro ser vivo maior do que as akmans e skorahs larvais, ou os tukahs voadores do outro continente – a não ser, é claro, que aqueles buracos no Platô Dionaean escondam alguma coisa.
Em torno das duas horas meu detector deu uma guinada para oeste, indicando cristais isolados à direita. Isso conferia com Anderson, e mudei meu curso de acordo. O terreno era mais difícil – não somente porque era uma subida, mas porque a vida animal e as plantas carnívoras eram mais abundantes. Eu avançava cortando ugrats e pisando sobre skorahs, e meu uniforme de couro estava todo salpicado com os darohs que estouravam me acertando de todos os lados. A luz do sol piorava ainda mais as coisas devido à névoa e não parecia estar secando nem um pouco a lama. Toda vez que eu pisava, meus pés afundavam um palmo e, quando os puxava, ouvia-se um blup como um som de sucção. Eu gostaria que alguém inventasse um tipo de traje seguro que não fosse o couro para esse tipo de clima. É claro que o tecido apodreceria, mas algum material metálico fino que não rasgue – como a superfície desse rolo rotativo à prova de decomposição – deve ser viável algum dia.
Fiz uma refeição em torno das 3h30 – se engolir essas pastilhas deploráveis através da máscara pode-se chamar de uma refeição. Logo em seguida observei uma mudança nítida na paisagem – as flores vívidas e com aparência venenosa começaram a mudar de cor e pareciam fantasmagóricas. Os contornos da paisagem bruxuleavam ritmicamente, e pontos brilhantes de luz apareciam e dançavam na mesma cadência lenta e firme. Em seguida a temperatura pareceu flutuar em uníssono com um rufar rítmico singular.
Todo o universo parecia estar latejando em pulsos profundos e regulares que enchiam cada canto do espaço e fluíam similarmente através do meu corpo e da minha mente. Perdi todo o sentido de equilíbrio e cambaleei tonto. Nada mudou quando fechei os olhos e cobri os ouvidos com as mãos. Entretanto, minha mente ainda estava lúcida e em poucos minutos dei-me conta do que tinha acontecido.
Eu havia encontrado finalmente uma daquelas estranhas plantas-miragem a respeito das quais tantos dos nossos homens contaram histórias. Anderson havia me alertado sobre elas e descrito a sua aparência em pormenores – o talo felpudo, as folhas cheias de pontas e as flores coloridas com suas emanações gasosas provocadoras de sonhos e que penetram qualquer tipo de máscara existente.
Relembrando o que aconteceu com Bailey três anos antes, entrei num pânico momentâneo e comecei a correr de um lado para o outro no mundo maluco e caótico que as emanações da planta haviam criado à minha volta. Então consegui me controlar e percebi que tudo o que precisava fazer era recuar para longe das florações perigosas – me afastar da fonte das pulsações e encontrar um caminho às cegas – sem me importar com o que parecia girar à minha volta até estar seguramente fora do alcance da planta.
Apesar de tudo estar rodopiando perigosamente, tentei começar a andar na direção certa e abrir caminho à minha frente. Minha rota deve ter sido completamente torta, pois pareceram horas até me livrar do efeito penetrante da planta-miragem. Aos poucos as luzes que dançavam começaram a desaparecer e o cenário espectral bruxuleante passou a assumir um aspecto mais sólido. Quando consegui me livrar completamente da planta, olhei para o relógio e me espantei em ver que eram apenas 4h20. Apesar da sensação de ter passado uma eternidade, toda a experiência consumiu pouco mais do que meia hora.
Todo atraso, entretanto, era cansativo, e eu havia perdido terreno no recuo para longe da planta. Agora avançava na direção morro acima indicada pelo detector de cristais, colocando todas energias com o intuito de melhorar o tempo. A selva ainda era densa, apesar de haver menos vida animal. De repente uma planta carnívora pegou meu pé direito e o segurou com tanta força que tive de livrá-lo com o facão, reduzindo a planta a tiras até ela soltá-lo.
Em menos de uma hora vi que a vegetação da selva rareava, e às cinco horas – após passar por uma faixa de fetos arbóreos com poucas plantas rasteiras – saí num platô amplo e musgoso. Meu progresso agora era rápido, e vi pela oscilação da agulha do detector que estava chegando relativamente próximo do cristal que buscava. Isso era estranho, pois a maior parte dos esferóides com o formato de ovos encontrava-se espalhada junto aos leitos dos riachos na selva, o que era improvável de ser encontrado nesse planalto sem árvores.
O terreno começou a subir, terminando num pico bem definido. Cheguei ao topo em torno das 5h30 e vi à minha frente uma planície enorme com florestas mais adiante. Esse era sem dúvida alguma o platô mapeado do ar por Matsugawa cinqüenta anos atrás e chamado nos nossos mapas de “Eryx” ou “Planalto Eryciniano”. Mas o que fez meu coração dar pulos foi um detalhe menor, cuja posição não poderia estar distante do ponto central preciso da planície. Era um único ponto de luz, que resplandecia através da névoa e parecia atrair uma luminescência concentrada e penetrante dos raios de sol amarelados e opacos devido ao vapor. Esse, sem duvida, era o cristal que eu procurava – uma pedra possivelmente não maior que o ovo de uma galinha, no entanto contendo energia suficiente para manter uma cidade aquecida por um ano. Enquanto via de relance o brilho longínquo não estranhei que aqueles homens-lagartos miseráveis cultuassem tais cristais. E ainda assim não tinham a menor noção dos poderes que eles continham.
A fim de alcançar o prêmio inesperado o mais cedo possível, desatei numa corrida rápida, mas fui retardado quando o musgo firme deu lugar a uma lama fina particularmente detestável e com trechos cheios de raízes e plantas rasteiras. Mas segui chafurdando em frente sem levar isso em consideração – quase não pensando em olhar à minha volta por causa dos covardes homens-lagartos. Nesse espaço aberto era pouco provável que fosse atacado. Conforme avançava, a luz à minha frente parecia crescer em tamanho e luminosidade, e comecei a observar alguma peculiaridade na sua situação. Claramente, esse era um cristal da melhor qualidade, e meu entusiasmo cresceu com cada passo enlameado.
Nesse momento devo começar a ter cuidado com meu relato, visto que o que terei de dizer daqui por diante envolve questões sem precedentes, apesar de infelizmente serem comprováveis. Eu estava correndo com uma avidez crescente e tinha chegado a uns cem metros mais ou menos do cristal – cuja posição sobre uma espécie de ponto elevado no lodo onipresente parecia muito estranha – quando uma força esmagadora e repentina bateu no meu peito e nos nós dos dedos dos punhos fechados. Fui jogado para trás na lama numa queda incrível e ruidosa, e a maciez do chão com algumas ervas viscosas e plantas rasteiras não poupou minha cabeça de um choque atordoante. Por um momento fiquei deitado inerte, surpreso demais para pensar. Então levantei com dificuldade meio mecanicamente e comecei a limpar o pior da lama e sujeira do uniforme de couro.
Não fazia a menor idéia do que encontrara. Eu não vira nada que pudesse ter causado o choque e também não via nada agora. Será que tinha meramente escorregado na lama no fim das contas? Os nós dos dedos e o peito doloridos não me deixavam pensar que sim. Ou fora todo esse incidente uma ilusão proporcionada por alguma planta-miragem escondida? Isso parecia pouco provável, já que eu não tinha nenhum dos sintomas comuns e não havia um lugar próximo onde uma vegetação tão vívida e típica pudesse se esconder sem ser vista. Se estivesse na terra, teria suspeitado de uma barreira de força-N colocada por algum governo para demarcar uma região proibida, mas nessa região sem humanos uma idéia assim seria absurda.
Por fim, conseguindo me controlar, decidi investigar a questão de maneira cuidadosa. Segurando o facão o mais afastado possível à minha frente, de maneira que ele fosse o primeiro a sentir a estranha força, parti uma vez mais na direção do cristal luminoso – preparado para avançar passo a passo com a maior prudência possível. No terceiro passo fui parado no meio do caminho pelo impacto da ponta do facão sobre uma superfície aparentemente sólida – uma superfície sólida onde meus olhos não viam nada.
Após um momento de recuo, resolvi ousar mais. Estendendo a mão esquerda enluvada, verifiquei a presença de uma matéria sólida invisível – ou uma ilusão tátil de matéria sólida – à minha frente. Ao mover a mão vi que a barreira tinha uma extensão substancial e era de uma suavidade quase vítrea, sem nenhum sinal da junção de blocos separados. Tomando coragem para fazer mais experimentos, retirei a luva e testei a coisa com a mão desprotegida. Era algo realmente duro e vítreo, de uma frieza curiosa em contraste com o ar em torno. Forcei a vista ao máximo num esforço de ver algum traço da substância que me obstruía o caminho, mas não consegui discernir nada mesmo. Não havia nem mesmo um sinal de poder refrativo a se julgar o aspecto do terreno à frente, e a sua ausência era provada pela falta de uma imagem resplandecente do sol em qualquer ponto.
Uma curiosidade ardente começou a substituir todos os outros sentimentos, e ampliei minhas investigações da melhor forma que pude. Explorando com as mãos, vi que a barreira se estendia do chão até algum nível mais alto do que eu poderia alcançar e que ela seguia indefinidamente nos dois lados. Era então uma parede de algum tipo – apesar de que todos os palpites quanto aos seus materiais e o seu propósito estavam além da minha capacidade. Mais uma vez pensei na planta-miragem e nos sonhos que ela induzia, mas um momento de sensatez tirou isso da minha cabeça.
Batendo rapidamente com o punho do facão na barreira e a chutando com as botas pesadas, tentei interpretar os sons produzidos. Havia algo que sugeria cimento ou concreto nessas reverberações, embora minhas mãos tenham percebido uma superfície mais vítrea ou metálica. Sem dúvida eu confrontava algo estranho além de qualquer experiência anterior.
O próximo passo lógico era ter alguma idéia das dimensões da parede. A questão da altura seria difícil, se não insolúvel, mas a questão do cumprimento e do formato eu talvez conseguisse resolver antes. Estendendo os braços e caminhado bem próximo da barreira, avancei pouco a pouco para esquerda – tomando todo o cuidado com o caminho à minha frente. Após vários passos concluí que a parede não era retilínea, mas que eu seguia parte de algum vasto círculo ou elipse. E então minha atenção foi distraída por algo completamente diferente – algo ligado ao cristal ainda distante que formara o objeto da minha busca.
Eu disse que mesmo de uma distância maior a posição do objeto brilhante parecia indefinidamente estranha, como se sobre um monte ligeiro que se erguia do lodo. Agora, a uns cem metros, eu conseguia ver claramente o que era aquele monte, apesar da névoa que me engolfava. Era o corpo de um homem num dos uniformes de couro da Companhia Cristal, deitado de costas e com sua máscara de oxigênio meio enterrada na lama a alguns metros de distância. Na sua mão direita, comprimida convulsivamente contra o seu peito, estava o cristal que me levara até ali – um esferóide de um tamanho incrível, tão grande que os dedos mortos mal conseguiam fechar-se sobre ele. Mesmo a essa distância eu podia ver que o corpo era recente. Havia pouca decomposição visível, e refleti que naquele clima isso significava a morte não mais do que um dia antes. Logo as moscas odiosas começariam a se juntar em torno do cadáver. Me perguntei quem seria o homem. Por certo ninguém que eu vira nessa viagem. Devia ser um dos veteranos ausentes numa longa missão de exploração e que viera para essa região em particular independentemente da pesquisa de Anderson. Ali estava ele, para além de qualquer problema, com os raios do cristal grande jorrando por entre os dedos endurecidos.
Por cinco minutos inteiros fiquei parado olhando-o desnorteado e apreensivo. Fui assaltado por um medo estranho e senti um impulso irracional de fugir correndo. Isso não podia ter sido feito por aqueles homens-lagartos sorrateiros, pois ele ainda segurava o cristal que encontrara. Haveria alguma ligação com a parede invisível? Onde ele encontrara o cristal? O instrumento de Anderson indicara a presença de um nessa região bem antes que esse homem pudesse ter morrido. Naquele momento comecei a considerar a barreira invisível como algo sinistro, e me afastei dela com um arrepio. Entretanto eu sabia que tinha de investigar o mistério o mais rapidamente e com a maior atenção possível devido a essa tragédia recente.
De repente, forçado a trazer a mente de volta ao problema que tinha diante de mim, pensei num meio possível de testar a altura da parede, ou pelo menos descobrir se ela se estendia ou não indefinidamente para cima. Apanhando um punhado de lama, deixei que ela escorresse até ganhar alguma consistência e então joguei-a alto no ar na direção da barreira completamente transparente. A uma altura de talvez cinco metros ela acertou a superfície invisível com uma batida ressoante, desintegrando-se no mesmo momento e escorrendo em gotas que desapareceram com uma rapidez surpreendente. Ficou claro que a parede era alta. Um segundo punhado, arremessado num ângulo ainda maior, bateu na superfície a uns seis metros do chão e desapareceu tão rapidamente quanto o primeiro.
Nesse momento reuni todas as minhas forças e preparei-me para jogar um terceiro punhado o mais alto que pudesse. Deixando a lama secar e a apertando até ficar o mais seca possível, joguei-a tão para cima que temi que nem batesse na superfície que me obstruía o caminho. Ela realmente não a acertou, mas dessa vez cruzou a barreira e caiu no lodo do outro lado com um salpicar violento. Finalmente eu tinha uma idéia próxima da altura da parede, pois o punhado de lama evidentemente cruzara a uns sete metros no alto.
Com uma parede vertical de uns sete metros planos e vítreos, escalá-la era evidentemente impossível. Eu tinha então de continuar a circular a barreira na esperança de encontrar uma abertura, um fim, ou algum tipo de interrupção. O obstáculo dava uma volta completa, ou havia outra forma fechada, era meramente um arco ou um semicírculo? Decidido a agir, retomei minha volta caminhando para a esquerda, movendo as mãos para cima e para baixo sobre a superfície invisível na esperança de encontrar alguma janela ou uma abertura pequena. Antes de começar tentei demarcar minha posição fazendo um buraco na lama chutando com a bota, mas vi que o lodo era fino demais para segurar qualquer impressão. Consegui, entretanto, calcular as dimensões aproximadas do lugar observando uma cicadácea alta na floresta distante que parecia estar em linha com o cristal brilhante a cem metros de distância. Se não existisse nenhum portão ou abertura eu poderia dizer agora quando teria circunavegado completamente a parede.
Eu não tinha progredido muito quando cheguei à conclusão de que a curvatura indicava um cercado fechado de uns cem metros de diâmetro – levando-se em consideração que o traçado era regular. Isso significaria que o homem morto se encontrava próximo da parede em algum ponto quase do lado oposto ao lugar de onde eu partira. Ele estava do lado de dentro próximo à parede ou do lado de fora também próximo à parede? Isso eu logo apuraria.
Conforme dei a volta na barreira sem encontrar um portão, janela, ou outra abertura, cheguei à conclusão de que o corpo estava do lado de dentro. Vendo-o mais de perto, os traços do homem morto pareciam vagamente perturbadores. Percebi algo alarmante na sua expressão e na forma que os olhos vítreos miravam fixamente. Quando estava bem próximo, acredito que o reconheci como Dwight, um veterano com quem eu nunca conversara, mas de quem haviam falado a respeito na guarnição ano passado. O cristal que ele agarrava era certamente um troféu – a maior amostra que eu já vira.
Eu estava tão próximo do corpo que poderia tocá-lo se não fosse a barreira, mas foi então que minha mão esquerda exploradora encontrou um canto na superfície invisível. Num segundo vi que havia uma abertura de um metro de largura, que ia do chão até uma altura maior do que eu poderia alcançar. Não havia uma porta nem qualquer indício de dobradiças que indicassem a existência anterior de uma porta. Sem hesitar por um instante atravessei-a e avancei dois passos até o corpo prostrado – que se encontrava num ângulo reto em relação ao corredor que eu entrara, no que parecia ser uma intersecção sem portas. Ao perceber que o interior desse vasto cercado era dividido em partes, fiquei mais curioso ainda.
Curvando-me para examinar o cadáver, descobri que ele não tinha ferimentos. Isso pouco me surpreendeu, visto que a presença do cristal argumentava contra os pseudo-répteis nativos. Olhando em volta em busca de uma causa possível para a morte, meus olhos focaram a máscara de oxigênio que estava próxima aos seus pés. Ali realmente havia algo de significativo. Sem esse equipamento nenhum ser humano poderia respirar o ar de Vênus por mais de trinta segundos, e Dwight – se fosse ele – obviamente havia perdido a sua. Ele provavelmente a havia afivelado sem cuidado, de maneira que o peso dos tubos soltou as correias – algo que não poderia acontecer com uma máscara Dubois com seu reservatório esponjoso. O meio minuto de misericórdia fora curto demais para permitir que o homem se abaixasse e recuperasse a sua proteção – ou então o cianogênio da atmosfera estava anormalmente alto naquele momento. Ele provavelmente estivera admirando o cristal – onde quer que ele o tenha encontrado. Ao que tudo indicava, recém o tirara da algibeira do uniforme, pois a aba estava desabotoada.
Então tentei livrar o cristal enorme dos dedos do explorador morto – uma tarefa tornada bem difícil pelo endurecimento dos dedos. O esferóide era maior do que o punho de um homem e brilhava como se vivo nos raios avermelhados do sol que se punha a oeste. Quando toquei a superfície brilhante estremeci involuntariamente – como se tomar o objeto precioso transferisse para mim a perdição que surpreendera seu portador anterior. Entretanto, meus receios logo passaram e abotoei cuidadosamente o cristal na algibeira do meu uniforme de couro. A superstição nunca foi um dos meus pontos fracos.
Colocando o capacete do homem sobre seu rosto morto e com o olhar fixo, eu me levantei e dei um passo para trás através da porta invisível até o corredor de entrada para o grande cercado. Toda a minha curiosidade a respeito da estranha construção voltara agora, e exauri meu cérebro com especulações sobre esse material, sua origem e finalidade. Que as mãos de homens a haviam erguido não pude acreditar nem por um momento. Nossas naves chegaram a Vênus pela primeira vez há apenas 72 anos, e os únicos seres humanos no planeta eram aqueles em Terra Nova. Tampouco o conhecimento humano inclui qualquer sólido perfeitamente transparente e não-refrativo como a substância desse prédio. Invasões humanas pré-históricas de Vênus podem ser completamente excluídas, de maneira que se deve voltar à idéia de uma construção nativa. Será que uma raça esquecida de seres altamente desenvolvidos precedeu os homens-lagartos como mestres de Vênus? Apesar das suas cidades cuidadosamente construídas, parecia difícil atribuir aos pseudo-répteis qualquer coisa desse tipo. Deve ter havido uma outra raça eras atrás, da qual essa talvez seja sua última relíquia. Ou outras ruínas de origem semelhante serão encontradas por expedições futuras? A finalidade de uma estrutura como essa supera qualquer conjetura – mas o seu material estranho e aparentemente pouco prático sugere um uso religioso.
Percebendo minha incapacidade de resolver esses problemas, decidi que tudo o que poderia fazer era explorar a própria estrutura invisível. Eu estava convencido de que vários corredores e aposentos estendiam-se sobre a planície aparentemente sem barreiras, e acreditei que uma compreensão do seu plano poderia levar a algo significativo. Assim, tateando meu caminho de volta pela porta e desviando do corpo, comecei a avançar pelo corredor na direção daquelas regiões interiores de onde o homem morto presumivelmente viera. Mais tarde eu investigaria a entrada que eu deixara.
Encontrando o caminho como um cego apesar da luz do sol enevoada, segui em frente devagar. Logo o corredor fez uma curva brusca e começou uma espiral em direção ao centro em curvas cada vez mais fechadas. Aqui e ali meu toque revelaria um entroncamento sem porta, e várias vezes encontrei caminhos que se bifurcavam duas, três ou quatro vezes. Nesses últimos casos sempre segui a rota mais para o interior, que parecia formar uma continuação da rota na qual eu caminhava de lado. Haveria tempo de sobra para examinar as ramificações após eu ter alcançado e retornado dos pontos principais. Mal posso descrever a estranheza da experiência – avançando pelos caminhos desconhecidos de uma estrutura invisível erguida por mãos esquecidas num planeta alienígena!
Finalmente, ainda aos tropeços e me segurando, senti que o corredor terminara num espaço aberto de bom tamanho. Tateando à minha volta vi que estava num compartimento circular de uns três metros de diâmetro; e a partir da posição do morto contra alguns pontos de referência distantes na floresta, julguei que esse compartimento estava no centro da construção ou bem próximo dele. A partir dele partiam cinco corredores, além do que eu passara para entrar, mas quando parei junto à entrada, mantive esse último em mente guardando com cuidado uma árvore em particular no horizonte que ficava na mesma linha do corpo.
Não havia nada nesse aposento que o distinguisse dos outros – era simplesmente o chão de lama fina que estava em todo lugar. Imaginando se essa parte da construção tinha um telhado, repeti o experimento jogando um punhado de lama para cima, para descobrir em seguida que não havia cobertura alguma. Se um dia houve uma, deve ter caído há muito tempo, pois nem um traço de escombros ou blocos espalhados impediu meu avanço. Quando refleti a respeito, pareceu bastante estranho que essa estrutura aparentemente original fosse tão destituída de alvenarias derrubadas, buracos nas paredes e outros atributos comuns de uma ruína.
O que era essa construção? O que fora ela um dia? Do que era feita? Por que não havia evidências de blocos separados nas paredes vítreas e desconcertantemente homogêneas? Por que não havia traços de portas, sejam interiores ou exteriores? Eu sabia apenas que estava numa construção arredondada, sem uma cobertura e sem portas, feita de algum material duro, liso, perfeitamente transparente, não-refrativo e não-refletivo, e com um pequeno aposento circular no centro. Mais do que isso eu nunca poderia saber a partir de uma investigação direta.
Nesse instante vi que o sol já estava bem baixo a oeste, um disco dourado, avermelhado, flutuando numa atmosfera em que o escarlate e o laranja se misturavam sobre as árvores em meio à névoa do horizonte. Claramente eu teria de correr se quisesse escolher um local para dormir sobre um terreno seco antes do escuro. Eu já havia decidido há um bom tempo que acamparia durante a noite sobre aquele beiral firme e musgoso do platô próximo do cimo de onde eu enxergara o cristal brilhante pela primeira vez, confiando na minha sorte costumeira para me poupar de um ataque dos homens-lagartos. Sempre defendi que deveríamos viajar em grupos de dois ou mais, de maneira que alguém pudesse ficar de guarda durante as horas de sono, mas o número pequeno de ataques noturnos tornou a Companhia descuidada a respeito disso. Aqueles miseráveis desprezíveis parecem ter dificuldade em ver à noite, mesmo com a luminescência das suas tochas esquisitas.
Tendo reconhecido novamente o corredor através do qual eu viera, comecei a voltar para a entrada da estrutura. Explorações adicionais poderiam esperar por outro dia. Tateando um curso da melhor forma possível pelo corredor espiralado – com apenas um sentido geral, a memória e o reconhecimento vago de algumas das plantas rasteiras pouco definidas sobre a planície como guias –, logo me encontrei mais uma vez bem próximo do cadáver. Havia agora uma ou duas moscas investindo sobre o rosto coberto pelo capacete, e eu sabia que o processo de decomposição estava começando. Com um asco instintivo e fútil levantei a mão para espantar os insetos carniceiros da sua vanguarda – quando algo estranho e espantoso tornou-se evidente. Uma parede invisível, refreando o movimento do braço, me disse que – a despeito de ter retrocedido cuidadosamente o caminho – eu não havia realmente voltado para o corredor no qual se encontrava o corpo. Em vez disso, eu estava num corredor paralelo, tendo sem dúvida dado uma volta ou pego uma bifurcação errada em meio às passagens intrincadas por onde passara.
Na esperança de encontrar uma porta para o corredor de saída, continuei meu avanço, mas logo me deparei com uma parede vazia. Eu teria então de voltar para o compartimento central e tomar um novo rumo. Exatamente onde eu cometera o erro, não saberia dizer. Olhei de relance para o chão para ver se haviam ficado pegadas que me orientassem por algum milagre, mas logo percebi que o lodo fino mantinha impressões apenas por alguns breves momentos. Não foi difícil encontrar o caminho para o centro de novo, e uma vez ali refleti cuidadosamente sobre o curso correto para fora. Eu tinha seguido muito à direita antes. Dessa vez tomaria uma bifurcação mais à esquerda em algum lugar, mas precisamente onde, poderia decidir no caminho.
Enquanto seguia em frente tateando pela segunda vez, sentia-me bastante confiante da correção do curso tomado e virei à esquerda no entroncamento que tinha certeza de lembrar. O caminho em espiral continuava, e tomei cuidado para não me perder em qualquer passagem que o cruzasse. Em seguida vi, para meu desagrado, entretanto, que estava passando pelo corpo a uma distância considerável; essa passagem evidentemente chegava na parede de fora num ponto muito além dele. Na esperança de que outra saída pudesse existir na metade da parede que eu ainda não explorara, segui adiante por vários passos, mas, ao fim cheguei uma vez mais numa barreira sólida. Evidentemente, a planta da construção era mais complicada do que eu pensara que fosse.
Nesse momento refleti se deveria voltar para o centro novamente ou se tentaria um dos corredores laterais que se estendiam na direção do corpo. Se escolhesse essa segunda alternativa, eu correria o risco de quebrar o padrão mental da minha localização; portanto, era melhor não tentar isso a não ser que pudesse pensar em alguma forma de deixar uma trilha visível atrás de mim. Mas encontrar um meio de deixar uma trilha seria um problema e tanto, e revirei a mente em busca de uma solução. Não parecia haver nada na minha pessoa que pudesse deixar uma marca em alguma coisa, tampouco qualquer material que eu pudesse espalhar – ou dividir minuciosamente e espalhar.
Minha caneta não fazia efeito algum sobre a parede invisível, e eu não poderia deixar uma trilha com as preciosas pastilhas de comida. Mesmo que estivesse disposto a abrir mão delas, não haveria nem de perto o número suficiente, além do que as pílulas pequenas desapareceriam de vista no mesmo instante no lodo fino. Procurei nos bolsos o velho bloco de notas – com freqüência usado extra-oficialmente em Vênus apesar da taxa rápida de decomposição do papel na atmosfera do planeta – cujas páginas eu poderia rasgar e espalhar, mas não o encontrei. Era obviamente impossível rasgar o metal fino e duro desse rolo rotativo à prova de decomposição, e tampouco minhas roupas ofereciam qualquer possibilidade. Na atmosfera peculiar de Vênus eu não poderia abrir mão com segurança do meu uniforme de couro resistente, e as roupas de baixo haviam sido eliminadas devido ao clima.
Tentei esfregar a lama sobre as paredes lisas e invisíveis após secá-la o máximo que pude, mas vi que ela sumia de vista tão rápido quanto os punhados que eu jogara anteriormente testando a altura da construção. Por fim puxei o facão e tentei arranhar uma linha sobre a superfície vítrea e fantasmagórica – uma ranhura que eu poderia reconhecer com minha mão, apesar de não ter a vantagem de vê-la à distância. No entanto, era inútil, pois a lâmina não causou a menor impressão sobre o material desconhecido e desconcertante.
Frustrado em todas as tentativas de marcar um caminho, busquei mais uma vez o compartimento circular central com a ajuda da memória. Parecia mais fácil voltar para esse aposento do que encontrar um curso definido e predeterminado para longe dele, e tive pouca dificuldade em encontrá-lo novamente. Dessa vez anotei no rolo de registro cada virada dada – traçando o esboço de um diagrama hipotético da minha rota e marcando todos os corredores que se bifurcavam. É claro que era um trabalho tão lento a ponto de enlouquecer uma pessoa, já que tinha de determinar tudo com o toque, e as possibilidades de erro eram infinitas; mas acreditava que valeria a pena mais adiante.
O longo crepúsculo de Vênus estava no auge quando cheguei no aposento central, mas eu ainda tinha esperanças de sair na rua antes do escurecer. Comparando meu diagrama recém-feito com lembranças anteriores, acreditei que havia encontrado meu erro original, de maneira que uma vez mais parti confiante pelos corredores invisíveis. Virei mais para a esquerda do que nas tentativas anteriores e tentei registrar as voltas que dava no rolo de registro caso ainda estivesse errado. Na escuridão que caía, eu conseguia ver a linha indistinta do cadáver, agora o centro de uma nuvem nojenta de moscas. Não demoraria muito, sem dúvida, para os vermes saírem do lamaçal da planície para completar o trabalho medonho. Fui me aproximando do corpo com alguma relutância e, quando estava prestes a dar um passo sobre ele, uma colisão repentina com uma parede me informou que eu estava novamente no caminho errado.
Nesse momento percebi claramente que estava perdido. As complicações dessa construção eram demais para uma solução de improviso, e provavelmente eu teria de fazer um exame cuidadoso antes de poder ter alguma esperança de sair dali. Mesmo assim, eu estava ansioso para chegar num terreno seco antes da escuridão total; portanto, voltei mais uma vez para o centro e comecei uma série de tentativas a esmo – tomando notas com a luz da minha lâmpada elétrica. Quando usei este equipamento observei com interesse que ele não produzia reflexo algum – nem mesmo o brilho mais fraco – nas paredes transparentes à minha volta. Eu estava, entretanto, preparado para isso; já que o sol em nenhum momento formara uma imagem que brilhasse no estranho material.
Eu ainda estava tateando à minha volta, quando o anoitecer se tornou completo. Uma névoa pesada obscurecia a maior parte das estrelas e dos planetas, mas a terra era vista com nitidez como um ponto azul-esverdeado resplandecente na direção sudeste. Ela recém passara o ponto de oposição e teria sido uma visão gloriosa num telescópio. Eu conseguia até distinguir a lua ao lado dela sempre que os vapores rareavam momentaneamente. Era impossível ver o corpo agora – meu único ponto de referência –, de maneira que andei às cegas de volta ao compartimento central após algumas escolhas de caminhos errados. No fim das contas, eu teria de abrir mão da esperança de dormir sobre um chão seco. Nada poderia ser feito até o raiar do dia, e só restava me virar com o que tinha em mãos. Deitar na lama não seria agradável, mas com o uniforme de couro poderia ser feito. Em expedições anteriores eu dormira em condições até piores, e agora a exaustão absoluta ajudaria a conquistar a repugnância.
Então aqui estou eu, acocorado no aposento central e escrevendo estas notas no meu rolo de registro com a luz da lâmpada elétrica. Tem algo de engraçado no meu apuro estranho e sem precedentes. Perdido num prédio sem portas – um prédio que não consigo ver! Não há dúvida de que vou conseguir sair cedo de manhã, e devo estar de volta em Terra Nova com o cristal no fim da tarde. Ele certamente é uma beleza – com um brilho surpreendente mesmo na luz débil desta lâmpada. Eu o estava examinando há pouco. Apesar da fadiga, o sono está demorando para vir, de maneira que me encontro escrevendo extensamente. Devo parar agora. Não há muito perigo de ser incomodado por aqueles nativos malditos nesse lugar. O fato que menos me agrada é o cadáver – mas felizmente a máscara de oxigênio me poupa dos piores efeitos. Estou usando os cubos de clorato com muita parcimônia. Vou tomar duas pastilhas de comida agora e me deitar. Mais depois.
De tarde, VI, 13
Ocorreram mais problemas do que eu esperava. Ainda estou na construção, e terei de trabalhar rapidamente e com inteligência se quiser descansar sobre um chão seco hoje à noite. Demorei muito para conseguir dormir e não acordei até quase o meio-dia. Eu teria dormido mais se não fosse o clarão do sol através da superfície vítrea. O cadáver era uma visão bem desagradável – remexendo-se de vermes e com uma nuvem de moscas à sua volta. Alguma coisa tinha empurrado o capacete para longe do rosto, e era melhor não olhar para ele. Eu me sentia duplamente satisfeito com a máscara de oxigênio quando pensei na situação.
Por fim, sequei-me com as mãos, tomei duas pastilhas de comida e coloquei um cubo novo de clorato no eletrolisador da máscara. Estou usando esses cubos lentamente, mas seria melhor que tivesse um estoque maior. Eu me sentia muito melhor após o sono e esperava sair da construção em breve.
Consultando as notas e os esboços que eu havia rabiscado, fiquei impressionado com a complexidade dos corredores e com a possibilidade de que eu tivesse cometido um erro básico. Das seis aberturas que levavam ao espaço central, eu determinara uma como sendo a que entrara, usando como ponto de referência a visão que tinha a partir de um lugar específico. Quando parei junto à abertura, o corpo a cinqüenta metros estava exatamente em linha com uma lepidodendrácea em particular na floresta distante. Nesse instante me ocorreu que talvez essa visão não fosse precisa o suficiente – a distância do cadáver criando uma diferença de direção em relação ao horizonte comparativamente menor do que quando vista a partir das aberturas próximas daquelas do meu primeiro ingresso. Além disso, a árvore não diferia tão distintamente de outras lepidodendráceas no horizonte.
Testando essa hipótese, descobri, para minha contrariedade, que eu não tinha certeza de qual das três aberturas era a certa. Eu teria percorrido um conjunto diferente de caminhos em espiral em cada tentativa de saída? Dessa vez eu teria certeza. Ocorreu-me que, apesar da impossibilidade de marcar o caminho, havia um sinal que eu poderia deixar. Mesmo sem ter como abrir mão do uniforme, daria para prescindir do capacete devido ao meu cabelo denso; e ele era grande e leve o suficiente para permanecer visível acima do lodo. Assim, removi o equipamento relativamente hemisférico e o coloquei na entrada de um dos corredores – o da direita dos três que eu teria de tentar.
Eu seguiria esse corredor presumindo que ele era o correto, repetindo o que me pareciam ser as voltas certas, consultando e tomando notas constantemente. Se não conseguisse sair, eu exauriria sistematicamente todas as variações possíveis; e se elas fracassassem, seguiria até cobrir os caminhos que iam até a próxima abertura da mesma forma, continuando até a terceira abertura se necessário. Mais cedo ou mais tarde era impossível evitar acertar o caminho certo para a saída, mas eu tinha de usar a paciência. Mesmo na pior das hipóteses, dificilmente eu deixaria de alcançar a planície aberta a tempo de passar uma noite de sono num terreno seco.
Os resultados imediatos foram um tanto desestimulantes, apesar de eles terem me ajudado a eliminar a abertura do lado direito em um pouco mais de uma hora. Apenas uma sucessão de becos sem saída, cada um terminando a uma grande distância do cadáver, parecia ramificar-se desse corredor; e vi muito cedo que não havia chegado nem perto de compreendê-los nas minhas perambulações da tarde anterior. Como antes, entretanto, sempre achei relativamente fácil tatear o caminho de volta para o compartimento central.
Perto da uma da tarde mudei a posição do meu capacete marcador para a próxima abertura e comecei a explorar os corredores que partiam dali. Primeiro achei que havia reconhecido as voltas, mas logo me encontrei num conjunto de corredores completamente desconhecido. Eu não conseguia me aproximar do cadáver, e dessa vez parecia cortado do compartimento central também, mesmo achando que tinha registrado cada passo dado. Parecia haver curvas complicadas e intersecções sutis demais para serem capturadas nos meus esboços de diagramas, e comecei a desenvolver uma espécie de raiva misturada com desânimo. Embora a paciência certamente vencesse no fim, vi que minha busca teria de ser minuciosa, incansável e longa.
Às duas da tarde ainda estava perambulando em vão através de corredores estranhos tateando o caminho sem cessar, olhando alternadamente para o capacete e para o cadáver e anotando dados no rolo cada vez mais desconfiado. Amaldiçoei a estupidez e a curiosidade fútil que haviam me atraído para aquele emaranhado de paredes invisíveis – refletindo que, se eu tivesse deixado as coisas como estavam e voltado tão logo tirasse o cristal do corpo, estaria agora até na segurança de Terra Nova.
De repente me ocorreu que eu poderia ser capaz de fazer um túnel passando por baixo das paredes invisíveis com meu facão, e dessa forma conseguir um atalho para fora – ou para algum corredor que levasse para fora. Eu não tinha como saber qual era a profundidade das fundações, mas o lodo onipresente atestava a ausência de qualquer piso que não a terra. De frente para o cadáver distante e cada vez mais horroroso, comecei a escavar um curso febrilmente com a lâmina larga e afiada.
Havia uns dois centímetros e meio de lama semilíquida, abaixo da qual a densidade do solo aumentava bruscamente. Esse solo mais profundo parecia ser de uma cor diferente – um barro acinzentado bem parecido com a formação existente na região do pólo norte de Vênus. À medida que continuava cavando próximo da barreira invisível vi que o chão estava ficando cada vez mais duro. Uma lama aguada corria para dentro da escavação tão rapidamente quando eu removia o barro, mas eu conseguia removê-la mesmo assim e segui trabalhando. Se eu conseguisse qualquer tipo de passagem por baixo da parede, a lama não impediria minha saída dessa situação difícil.
Quando já estava com quase um metro de escavação, entretanto, a dureza do solo parou-a inequivocamente. A sua firmeza estava além de qualquer coisa que eu encontrara antes, mesmo nesse planeta, e estava ligada a uma densidade anômala. Meu facão tinha de quebrar e talhar o barro firmemente comprimido, e os fragmentos eu trazia para cima como pedras sólidas ou pedaços de metal. Por fim, até esses cortes e talhos tornaram-se impossíveis, e tive de cessar meu trabalho longe do limite de baixo da parede.
A tentativa, que durou uma hora, foi um desperdício fútil, pois gastou grandes reservas da minha energia e forçou-me a tomar uma pastilha de comida extra e colocar um cubo de clorato adicional na máscara de oxigênio. Ela também provocou uma pausa nas perambulações táteis do dia, pois ainda estou exausto demais para caminhar. Após limpar as mãos e os braços do pior da lama, sentei para escrever estas notas, apoiando-me contra uma parede invisível e virado para o lado oposto do cadáver.
Aquele corpo é simplesmente uma massa se retorcendo de parasitas agora e o mau cheiro começou a atrair alguns dos akmans viscosos da floresta distante. Observei que muitas das plantas rasteiras efjeh sobre a planície estão esticando seus sensores necrófagos na minha direção. Essas coisas têm um sentido extraordinário de direção. Eu poderia observá-las enquanto vinham e anotar a sua rota aproximada se elas deixassem de formar uma linha contínua. Mesmo isso seria uma grande ajuda. A pistola não teria muito trabalho quando encontrasse alguma.
Mas não posso esperar por isso. Agora que fiz estas notas, vou descansar um momento e depois perambular um pouco mais. Tão logo volte para o compartimento central – o que deve ser relativamente fácil – vou tentar a abertura do lado extremo esquerdo. Talvez ao anoitecer eu afinal possa sair.
Noite – VI, 13
Novos problemas. Minha saída será tremendamente difícil, pois existem elementos dos quais eu não suspeitara até o momento. Mais uma noite aqui na lama e uma luta nas minhas mãos para amanhã. Cortei o tempo de descanso e estava de pé e tateando às cegas novamente às quatro horas. Após uns quinze minutos, alcancei o compartimento central e tirei o capacete para demarcar a última das três portas possíveis. Começando através dessa abertura, eu parecia reconhecer o caminho mais familiar, mas fui parado em menos de cinco minutos por uma visão que me chocou mais do que consigo descrever.
Era um grupo de quatro ou cinco daqueles homens-lagartos detestáveis emergindo da floresta distante através da planície. Eu não podia vê-los distintamente à distância, mas achei que tinham parado e se voltado para as árvores para gesticular, após o que receberam a companhia de uns bons doze companheiros mais. O grupo começou a avançar diretamente para a construção invisível, e, à medida que se aproximavam, estudei-os cuidadosamente. Eu nunca tivera uma visão próxima desses seres fora das sombras ondeantes da selva.
A semelhança com os répteis era perceptível, embora eu soubesse que ela era apenas aparente, visto que esses seres não tiveram ponto algum de contato com a vida terrestre. Quando se aproximaram mais, pareciam menos verdadeiramente répteis – apenas a cabeça chata e o couro verde, viscoso e lembrando o de um sapo veiculavam a idéia. Eles caminhavam eretos sobre os cotos de membros, grossos e estranhos, e os discos de sucção faziam barulhos esquisitos na lama. Esses eram espécimes médios, com em torno de dois metros e meio de altura e com quatro longos tentáculos peitorais pegajosos. Os movimentos desses tentáculos – se as teorias de Fogg, Ekberg e Janat estavam certas, o que eu duvidava anteriormente mas agora estou mais aberto a acreditar – indicavam que estavam entabulando uma conversação animada.
Saquei minha pistola lança-chamas e estava pronto para uma luta dura. As chances eram ruins, mas a arma me dava uma certa vantagem. Se os seres conheciam esse prédio eles viriam atrás de mim e assim seriam minha chave para sair dele; da mesma forma que os skorahs serviriam. Que eles me atacariam parecia certo, pois, apesar de eles não poderem ver o cristal na minha algibeira, podiam adivinhar a sua presença por meio do sentido especial que possuíam.
Entretanto, muito surpreendentemente, eles não me atacaram. Em vez disso espalharam-se e formaram um vasto círculo à minha volta – numa distância que indicava que estavam próximos da parede invisível. Parados ali formando um anel, eles me encaravam curiosos em silêncio, fazendo sinais com os tentáculos e algumas vezes meneando as cabeças e gesticulando com os membros superiores. Após um tempo, vi outros saírem da floresta, os quais avançaram e juntaram-se ao grupo singular. Aqueles que estavam próximos do corpo olharam brevemente para ele mas não fizeram um gesto para mexê-lo. Era uma visão horrível, entretanto os homens-lagartos pareciam bastante despreocupados. De vez em quando um deles espantava as moscas com os membros ou com os tentáculos, ou esmagava com os discos de sucção um sificligh e uma akman rastejantes, e até mesmo uma planta rasteira efjeh que avançasse.
Olhando de volta para esses intrusos grotescos e inesperados, e me perguntando apreensivo porque eles não tinham atacado logo, perdi no momento a força de vontade e energia de estado de espírito para continuar minha busca por uma saída. Em vez disso, recostei-me com indolência contra a parede invisível do corredor onde estava, deixando que meu espanto se fundisse gradualmente numa cadeia de especulações desvairadas. Cem mistérios que haviam me desconcertado anteriormente pareciam todos assumir ao mesmo tempo um significado novo e sinistro, e tremi com um medo agudo diferente de qualquer coisa que tivesse sentido antes.
Eu acreditava que sabia por que esses seres repugnantes estavam rondando esperançosamente à minha volta. Eu acreditava, também, que enfim encontrara a chave para o segredo da estrutura transparente. O cristal fascinante que eu tomara, o corpo do homem que o tinha tomado antes de mim – todas essas coisas começaram a adquirir um significado sinistro e ameaçador.
Não se tratava de uma série ordinária de confusões que me fizeram perder o caminho nesse emaranhado invisível de corredores sem teto. Longe disso. Não havia dúvida alguma, o lugar era um autêntico labirinto deliberadamente construído por esses seres infernais cuja perícia e inteligência eu subestimara tão erradamente. Eu não deveria ter suspeitado disso antes, conhecendo a sua excepcional habilidade arquitetônica? A sua finalidade era absolutamente clara. Era uma armadilha – uma armadilha colocada para pegar seres humanos e com o esferóide de cristal como isca. Esses seres reptilianos, na sua guerra com os tomadores de cristais, haviam se voltado para a estratégia e estavam usando nossa própria ganância contra nós mesmos.
Dwight – se esse corpo apodrecendo era realmente ele – era uma vítima. Ele deve ter sido apanhado há algum tempo, e fracassou na sua tentativa de encontrar uma saída. A falta de água sem dúvida o havia enlouquecido, e talvez ele tenha ficado sem cubos de clorato também. No fim das contas, é provável que a sua máscara não tenha escorregado acidentalmente. O suicídio era algo mais provável. Em vez de enfrentar uma morte lenta, ele resolvera a questão removendo a máscara deliberadamente e deixando a atmosfera letal fazer o resto de uma vez. A ironia terrível do seu destino encontrava-se na sua posição – alguns metros apenas da saída salvadora que ele fracassara em encontrar. Um minuto mais de busca e estaria seguro.
E agora eu fora apanhado na armadilha como acontecera com ele. Apanhado na armadilha e com esse rebanho curioso olhando fixamente à minha volta para zombar do meu apuro. O pensamento era enlouquecedor e, quando ele realmente calou no meu espírito, fui tomado por um acesso repentino de pânico que me colocou a correr a esmo pelos corredores invisíveis. Por um bom tempo fui essencialmente um maluco – tropeçando, correndo e me machucando nas paredes invisíveis, por fim entrando em colapso na lama como um monte ofegante e irracional de carne sangrando.
A queda me acalmou um pouco, de maneira que quando lutei lentamente para ficar de pé, pude olhar em volta e usar a razão. Os observadores em círculo agitavam os tentáculos de um jeito estranho e irregular, sugestivo de um riso alienígena irônico, e agitei ferozmente o punho para eles quando me levantei. Meu gesto pareceu aumentar seu contentamento revoltante – alguns deles o imitando desajeitados com seus membros superiores esverdeados. Diante dessa humilhação, tentei voltar a mim e avaliar as circunstâncias.
Eu não estava tão mal quanto Dwight no fim das contas. Diferentemente dele, eu sabia qual era a situação – e um homem prevenido vale por dois. Eu tinha provas de que a saída era alcançável no final, e não repetiria o seu estratagema trágico de desespero impaciente. O corpo – ou esqueleto, como ele logo seria – estava constantemente diante de mim como um guia para a abertura que buscava, e a paciência obstinada com certeza me levaria até ela se eu trabalhasse pelo tempo e com a inteligência suficientes.
Eu tinha, entretanto, a desvantagem de estar cercado por esses diabos reptilianos. Agora que havia me dado conta da natureza da armadilha – cujo material invisível atestava uma ciência e tecnologia à frente de qualquer coisa que existisse na terra – eu não podia mais desprezar a mentalidade e os recursos dos meus inimigos. Mesmo com a pistola lança-chamas eu passaria trabalho para fugir, ainda que a coragem e a rapidez estivessem ao meu lado.
Mas primeiro eu tinha de alcançar o exterior, a não ser que conseguisse seduzir ou provocar algumas das criaturas para que avançassem na minha direção. Enquanto preparava a pistola e checava meu estoque generoso de munição, ocorreu-me testar o efeito dos disparos sobre as paredes invisíveis. Será que havia deixado passar um meio praticável de fuga? Não havia pista alguma para a composição química da barreira transparente, e ela poderia concebivelmente ser algo que uma labareda de fogo pudesse cortar como um queijo. Escolhendo uma parte de frente para o corpo, descarreguei com cuidado a pistola à queima-roupa e senti com meu facão onde o disparo havia acertado. Nada tinha mudado. Eu vira a chama se espalhar quando bateu na superfície e agora percebera que minha esperança fora em vão. Apenas uma busca longa e tediosa pela saída me colocaria do lado de fora.
Assim, engolindo mais uma pastilha de alimento e colocando outro cubo no eletrolisador da máscara, retomei a longa jornada refazendo os passos até o compartimento central e começando tudo de novo. Eu consultava constantemente minhas notas e esboços, anotava coisas novas – tomando uma curva errada depois da outra, mas avançando cambaleante e em desespero até a luz da tarde cair consideravelmente. Enquanto persistia na minha busca, olhava de vez em quando para o círculo em silêncio de olhares gozadores, e observei uma substituição gradual nos seus postos. De tempos em tempos alguns voltavam para a floresta, enquanto outros chegavam para tomar os seus lugares. Quanto mais eu pensava nas suas táticas, menos eu gostava deles. Pois elas me davam um indício das possíveis motivações das criaturas. A qualquer momento esses diabos poderiam ter avançado e lutado comigo, mas pareciam preferir observar minha luta para escapar. Eu não poderia deixar de deduzir que eles estavam gostando do espetáculo – e isso fez com que eu resistisse com mais veemência redobrada à perspectiva de cair em suas mãos.
Com o escuro cessei minha procura e sentei no lodo para descansar. Agora estou escrevendo com a luz da minha lanterna e em seguida vou tentar dormir um pouco. Espero que o dia de amanhã me veja fora daqui, pois meu cantil está baixo e as pastilhas de lacol são um substituto ruim para a água. Dificilmente eu teria a coragem de tentar a umidade desse lodo, pois nenhuma água nas regiões lodosas é potável, exceto quando purificada. Essa é a razão por que temos aquedutos tão longos para as regiões de barro amarelo – ou dependemos da água da chuva quando esses diabos encontram e quebram nossos canos. Não tenho mais muitos cubos de clorato também e tenho de tentar cortar meu consumo de oxigênio o máximo que puder. Minha tentativa de cavar um túnel no início da tarde e minha fuga em pânico queimaram uma quantidade perigosa de ar. Amanhã vou reduzir meu esforço físico ao mínimo até encontrar os répteis e ter de lidar com eles. É preciso um bom estoque de cubos para a viagem de volta para Terra Nova. Meus inimigos ainda estão próximos; consigo ver o círculo das suas tochas à minha volta. Existe um horror a respeito dessas luzes que vão me manter acordado.
Noite – VI, 14
Mais um dia inteiro de buscas e ainda não encontrei uma saída! Estou começando a me preocupar a respeito do problema da água, pois meu cantil ficou seco ao meio-dia. De tarde houve uma pancada de chuva e voltei para o compartimento central para buscar o capacete que deixara como marcador, e usei-o como uma tigela, conseguindo uns dois copos d’água. Bebi a maior parte, mas deixei o pouco que restou no cantil. As pastilhas de lacol fazem pouco progresso contra a sede de verdade, e espero que chova mais um pouco de noite. Estou deixando o capacete virado para cima agora a fim de pegar a chuva que cair. As pastilhas de alimento não estão sobrando, mas também não caíram a um nível perigoso. Devo reduzir pela metade minhas rações de agora em diante. Os cubos de clorato são minha preocupação real, pois mesmo sem um exercício violento, o andar pesado interminável do dia queimou um número arriscado de cubos. Estou me sentindo fraco devido às economias de oxigênio forçadas e da sede cada vez maior. Quando reduzir a alimentação, acho que vou me sentir ainda pior.
Existe algo detestável – algo sinistro – a respeito desse labirinto. Eu poderia jurar que havia eliminado algumas voltas através do mapeamento, e mesmo assim cada nova tentativa não corresponde a nenhuma suposição que eu pensara ter estabelecido em definitivo. Nunca eu me dera conta de como ficamos perdidos quando não temos pontos de referência visuais. Um homem cego poderia estar em melhor situação – mas para a maioria de nós a visão é a rainha dos sentidos. O efeito de todas essas perambulações infrutíferas é a de um profundo desânimo. Eu posso entender como o pobre Dwight deve ter se sentido. O cadáver é agora apenas um esqueleto, e as sificlighs, akmans e moscas já se foram. As plantas efjeh estão atacando e deixando em pedaços a roupa de couro, pois são maiores e crescem mais rápido do que eu esperava. E durante todo o tempo aqueles revezamentos de observadores com tentáculos ficam parados tripudiando em torno da barreira, rindo e se divertindo às custas da minha miséria. Mais um dia e vou enlouquecer, isso se não cair morto de exaustão.
Entretanto, não há nada para se fazer a não ser perseverar. Dwight teria saído se ele tivesse seguido por mais um minuto. É possível até que alguém de Terra Nova venha me procurar sem muita demora, embora este seja apenas meu terceiro dia de viagem. Meus músculos doem terrivelmente, e parece que não consigo descansar de forma alguma deitado sobre essa lama repugnante. Noite passada, apesar da fadiga incrível que sentia, dormi apenas intermitentemente, e hoje à noite temo que não será melhor. Estou vivendo num pesadelo sem fim, suspenso entre um estado desperto e um de sono, no entanto nem acordado e nem realmente dormindo. Minhas mãos tremem, e não consigo mais escrever no momento. Aquele círculo de tochas bruxuleantes é hediondo.
Fim da tarde – VI, 15
Progresso substancial! Boas perspectivas. Muito fraco e não dormi muito até o raiar do dia. Então cochilei até o meio-dia, apesar de não estar completamente descansado. Nenhuma chuva, e a sede me deixa muito fraco. Comi uma pastilha extra de alimento para me manter de pé, mas sem água não foi de muita ajuda. Tomei coragem de tentar só uma vez um pouco da água lodosa, mas ela me deixou violentamente doente e com mais sede do que antes. Tenho de poupar os cubos de clorato, então estou quase sufocando por falta de oxigênio. Não consigo caminhar grande parte do tempo, mas dou um jeito de rastejar na lama. Em torno das duas horas pensei haver reconhecido alguns corredores e cheguei substancialmente mais próximo do cadáver – ou esqueleto – do que estivera desde os primeiros dias de tentativas. Fui desviado para um beco sem saída, mas recuperei a trilha principal com a ajuda do mapa e das notas. O problema com essas anotações é que elas são muitas, devendo cobrir meio metro do rolo de registro, e tenho de parar por longos períodos para desemaranhá-las. Minha cabeça está fraca por causa da sede, da asfixia e da exaustão, e não consigo compreender tudo o que anotei. Aqueles seres verdes malditos continuam me encarando e rindo com seus tentáculos, e algumas vezes gesticulam de um jeito que me faz pensar que estão compartilhando alguma piada terrível além da minha compreensão.
Eram três horas quando realmente acertei o passo. Havia uma porta que, de acordo com minhas notas, eu não havia atravessado antes; quando a encontrei, vi que podia arrastar-me indiretamente na direção do esqueleto tomado pelas plantas. A rota era uma espécie de espiral, muito parecida com aquela através da qual eu havia alcançado pela primeira vez o compartimento central. Sempre que chegava a uma porta ou entroncamento lateral eu mantinha o curso que parecia o melhor para repetir aquela primeira viagem. Enquanto andava em círculos cada vez mais próximo do meu ponto de referência horripilante, os observadores na rua intensificaram seus gestos enigmáticos e o riso silencioso sarcástico. Era óbvio que eles viam algo sinistramente divertido no meu progresso – percebendo sem dúvida o quão desamparado eu estaria em qualquer forma de encontro com eles. Mas o seu contentamento me satisfazia, pois apesar de perceber a fraqueza extrema que sentia, eu confiava na pistola lança-chamas e em seus numerosos pentes extras para me fazer passar em meio à falange reptiliana desprezível.
A esperança agora se elevara bastante, mas não fiz tentativa alguma de ficar de pé. Melhor me arrastar agora, e poupar as forças para o encontro que estava por vir com os homens-lagartos. Meu avanço era muito lento, e o perigo de me perder em algum beco sem saída era enorme, mas mesmo assim eu parecia seguir firmemente numa curva em direção à minha meta óssea. A perspectiva me deu novas forças, e só por essa vez parei de me preocupar com a dor, sede e meu estoque escasso de cubos. As criaturas estavam agora todas juntas em torno da entrada – gesticulando, saltando e rindo com seus tentáculos. Refleti que logo teria de enfrentar a horda inteira – e talvez os reforços que iriam receber da floresta.
Estou agora a apenas alguns metros do esqueleto e parei para fazer esse registro antes de sair e passar pelo bando mefítico de seres. Tenho confiança que com minhas últimas forças posso colocá-los a correr apesar de eles serem muitos, pois o alcance dessa pistola é tremendo. Então um acampamento sobre o musgo seco na beira do platô e de manhã uma viagem cansativa através da selva até Terra Nova. Vou ficar feliz em ver homens vivos e as construções de seres humanos novamente. Os dentes daquela caveira brilham num esgar horrível.
Próximo da noite – VI, 15
Horror e desespero. Frustrado outra vez! Após fazer o registro anterior, cheguei mais perto ainda do esqueleto, mas subitamente encontrei uma parede interposta. Eu fora enganado mais uma vez e estava aparentemente de volta onde eu estivera três dias antes, na minha primeira tentativa vã de deixar o labirinto. Se gritei não sei – talvez eu estivesse fraco demais para emitir um som. Fiquei meramente deitado desnorteado na lama por um longo período, enquanto os seres esverdeados na rua pulavam, riam e gesticulavam.
Após um tempo retomei um pouco mais a consciência. A sede, a fraqueza e a asfixia tomavam conta de mim rapidamente, e com minha última ponta de força coloquei um cubo novo no eletrolisador – com imprudência e sem levar em consideração as necessidades da jornada até Terra Nova. O oxigênio fresco reanimou-me um pouco e fez com que conseguisse olhar à minha volta com mais atenção.
Parecia que eu estava ligeiramente mais distante do pobre Dwight do que estivera na primeira decepção, e perguntei estupidamente a mim mesmo se poderia estar em algum outro corredor um pouco mais remoto. Com essa sombra débil de esperança arrastei-me em frente a duras penas – mas após uns poucos metros encontrei um beco sem saída como na ocasião anterior.
Então esse era o fim. Três dias não haviam me levado a lugar nenhum, e eu não tinha mais forças. Logo enlouqueceria de sede e não podia mais contar com cubos suficientes para voltar. Perguntei-me debilmente por que os seres saídos de um pesadelo haviam se juntado tão apertados em torno da entrada enquanto zombavam de mim. Provavelmente isso era parte do escárnio – fazer com que eu pensasse que estava me aproximando de uma saída que eles sabiam não existir.
Não vou durar muito mais agora, mas estou decidido a não apressar as coisas como Dwight o fez. Seu crânio com os dentes à mostra voltou-se para mim há pouco, virado pelo andar de uma das plantas efjeh que estão devorando seu uniforme de couro. O olhar horripilante daquelas cavidades oculares vazias é pior do que os olhares daqueles horrores em forma de lagartos. Ele empresta um significado hediondo para aquele sorriso morto de dentes brancos.
Vou deitar sem me mexer no lodo e poupar toda a energia que puder. Esse registro – que espero possa chegar nas mãos e prevenir aqueles que vierem depois de mim – logo será terminado. Depois que parar de escrever, vou descansar bastante. Então, quando estiver muito escuro para essas criaturas horrorosas verem, vou reunir minhas últimas reservas de força e tentar jogar o rolo de registro por cima da parede e do corredor interposto no caminho até a planície lá fora. Vou tomar cuidado para mandá-lo para esquerda, onde não vai acertar o bando saltitante de sitiantes gozadores. Talvez ele se perca para sempre no lodo fino – mas talvez pouse em algum arbusto comum e no fim chegue nas mãos dos homens.
Se ele sobreviver para ser lido, espero que possa fazer mais do que meramente preveni-los sobre essa armadilha. Gostaria que ele ensinasse a nossa raça a deixar esses cristais brilhantes ficarem onde estão. Eles pertencem somente a Vênus. Nosso planeta não precisa realmente deles, e acredito que violamos alguma lei obscura e misteriosa – uma lei escondida profundamente nos mistérios do cosmos – nas nossas tentativas de tomá-los. Quem pode dizer quais são as forças que estão espalhadas por aí, sinistras e potentes, armando esses seres reptilianos que protegem o seu tesouro de maneira tão estranha? Dwight e eu pagamos por isso, como outros pagaram e vão pagar. Mas pode ser que essas mortes dispersas sejam apenas o prelúdio de horrores maiores ainda que estão por vir. Vamos deixar para Vênus o que pertence somente a Vênus.
*
Estou muito próximo da morte agora e temo que não vá ser capaz de jogar o rolo quando chegar o anoitecer. Se não conseguir, suponho que os homens-lagartos vão tomá-lo, pois provavelmente vão se dar conta do que ele significa. Eles não vão querer que ninguém seja avisado do labirinto, e não vão saber que minha mensagem contém um apelo a seu próprio favor. Conforme o fim se aproxima, sinto mais simpatia pelos seres. Na escala da existência cósmica quem pode dizer quais espécies têm um status maior, ou se aproximam mais de uma norma orgânica espacial – a deles ou a minha?
*
Recém tirei o cristal grande da minha algibeira para vê-lo nos meus últimos momentos. Ele brilha ardente e ameaçador nos raios vermelhos do dia que está morrendo. A horda saltitante notou isso, e seus gestos mudaram de um jeito que não consigo compreender. Não sei por que ficam agrupados em torno da entrada em vez de concentrar-se num ponto ainda mais próximo na parede transparente.
*
Estou ficando insensível e não consigo escrever muito mais. As coisas giram à minha volta, no entanto não perco a consciência. Vou conseguir jogar isso sobre a parede? Esse cristal brilha tanto, não obstante o crepúsculo que está escurecendo.
*
Eles estão indo embora? Sonhei que ouvi um som... luzes no céu...
Relatório de Wesley P. Miller, Supervisor,
Grupo A, Companhia Vênus Cristal
(Terra Nova sobre Vênus – VI, 16)
Nosso Operativo A-49, Kenton J. Stanfield da Marshall Street, 5.317, Richmond, Virgínia, deixou Terra Nova no amanhecer do dia VI, 12, para uma excursão de curta duração, indicada pelo detector. Era esperado de volta no dia 13 ou 14. Não aparecendo na noite do dia 15, um avião de reconhecimento FR-58 partiu com cinco homens sob meu comando às oito horas para seguir a rota com o detector. A agulha não indicava nenhuma mudança em relação às leituras tomadas mais cedo.
Seguimos a agulha até o Planalto Eryciniano, jogando luzes de busca intensamente durante todo o caminho. Lança-chamas de triplo alcance e cilindros de radiação-D poderiam ter dispersado qualquer força hostil ordinária de nativos ou agrupamento de skorahs carnívoras.
Quando, sobre a planície aberta em Eryx, vimos uma série de luzes em movimento, que sabíamos serem tochas de iluminação nativas. Quando nos aproximamos, eles se espalharam para dentro da floresta. Provavelmente eram 75 ou cem ao todo. O detector indicava um cristal no local onde eles estiveram. Voando baixo sobre o local, nossas luzes localizaram objetos no chão. Um esqueleto tomado pelas plantas efjeh, e um corpo completo a uns três metros dele. Pousamos a nave perto dos corpos, e a ponta da asa bateu num obstáculo que não fora visto.
Quando nos aproximávamos dos corpos a pé fomos parados por uma barreira invisível e lisa que nos desconcertou enormemente. Tateando por ela junto ao esqueleto, encontramos uma abertura, além da qual havia um espaço com outra abertura levando ao esqueleto. Este, apesar de despido de suas roupas pelas plantas, tinha um dos capacetes de metal numerados da companhia ao lado. Era o Operativo B-9, Frederik N. Dwight da divisão Keonig, que estava fora de Terra Nova há dois meses numa longa missão.
Entre esse esqueleto e o corpo completo parecia outra parede, mas podíamos identificar facilmente o segundo homem como sendo Stanfield. Ele tinha um rolo de registro na mão esquerda e uma caneta na direita e parecia estar escrevendo quando morreu. Nenhum cristal era visível, mas o detector indicava um espécime enorme próximo ao corpo de Stanfield.
Nós tivemos grande dificuldade em chegar a Stanfield, mas finalmente conseguimos. O corpo ainda estava quente, e um grande cristal encontrava-se ao seu lado, coberto pelo lodo raso. Logo estudamos seu rolo de registro e nos preparamos para tomar certas medidas com base nos seus dados. O conteúdo do rolo forma a longa narrativa acrescentada como introdução a este relatório; uma narrativa cujas principais descrições nós verificamos e a qual anexamos como uma explicação do que foi encontrado. As partes posteriores deste relato mostram uma decadência mental, mas não existe razão para duvidar da maior parte dele. Stanfield obviamente morreu de uma combinação de sede, asfixia, tensão cardíaca e depressão psicológica. A sua máscara estava no lugar e gerando oxigênio livremente apesar de um estoque baixíssimo de cubos.
Com nosso avião avariado, enviamos uma mensagem e pedimos por Anderson com um avião de reparos FG-7, uma equipe de demolidores e um conjunto de materiais explosivos. Na manhã seguinte o FH-58 estava consertado e voltou com Anderson levando os dois corpos e o cristal. Dwight e Stanfield serão enterrados no cemitério da companhia, e enviaremos o cristal para Chicago no próximo cargueiro com destino à Terra. Mais tarde devemos adotar a sugestão de Stanfield – a sugestão lógica da parte inicial do seu relatório – e traremos tropas suficientes para acabar de vez com os nativos. Com o campo livre, dificilmente haverá um limite para o montante de cristal que poderemos obter.
De tarde estudamos a construção invisível ou armadilha com grande cuidado, explorando-a com a ajuda de longas cordas-guia, e preparamos um mapa completo para nossos arquivos. O seu design nos impressionou bastante, e devemos ficar com amostras da substância para análise química. Todo esse conhecimento será útil quando conquistarmos as várias cidades dos nativos. Nossas furadeiras de diamante tipo C foram capazes de penetrar no material invisível, e os demolidores estão agora inserindo a dinamite preparatória para uma explosão completa. Nada vai restar quando tivermos terminado. A estrutura forma uma ameaça distinta ao tráfego aéreo e a outros meios de transporte.
Ao se considerar a planta do labirinto, é de espantar não apenas a ironia do destino em relação a Dwight, mas também com Stanfield. Ao tentar alcançar o segundo corpo a partir do esqueleto, não conseguimos achar um acesso do lado direito, mas Markheim encontrou uma porta partindo do primeiro espaço interior a uns cinco metros depois de Dwight e um ou dois de Stanfield. Passando por ela, mas do lado direito do corredor, havia outra porta levando diretamente ao corpo. Se tivesse encontrado a abertura que estava exatamente atrás dele – uma abertura que ele deixou passar na sua exaustão e desespero –, Stanfield poderia ter alcançado a saída para a rua caminhando sete ou oito metros.
O clérigo diabólico
Fui levado até o quarto no sótão por um homem circunspecto e de aparência inteligente. Vestido com sobriedade e usando uma barba de um tom cinzento escuro, ele falou assim comigo:
– Sim, ele vivia aqui, mas o aconselho a não tocar em nada, a sua curiosidade o torna irresponsável. Nós nunca entramos aqui à noite, e isso só por causa do testamento dele. Você sabe o que ele fez. Aquela sociedade abominável tomou conta do assunto por fim e não sabemos onde ele está enterrado. A lei ou qualquer outra coisa não tinha como chegar nela.
“Espero que você não fique até o anoitecer. E peço que por favor deixe aquele objeto sobre a mesa como está – o que parece uma caixa de fósforos. Não sabemos o que é, mas suspeitamos que tenha algo a ver com o que ele fez. Nós evitamos até olhá-lo muito diretamente.”
Após um tempo o homem deixou-me sozinho no quarto do sótão. Ele estava bastante encardido e empoeirado e era mobiliado apenas com o básico, mas tinha uma arrumação que demonstrava não ser o aposento de um morador de cortiço. Havia prateleiras cheias de livros teológicos e clássicos e uma caixa de livros contendo tratados sobre mágica – Paracelsus, Albertus Magnus, Trithemius, Hermes Trismegistus, Borellus e outros –, num alfabeto estranho cujos títulos não conseguia decifrar. Os móveis eram bastante simples. Havia uma porta, mas ela levava somente a um armário embutido. A única saída era a abertura no chão a que se chegava através da escada íngreme e tosca. As janelas seguiam o padrão das clarabóias, e as vigas de carvalho escuro indicavam uma antiguidade inacreditável. Obviamente, essa casa pertencia ao Velho Mundo. Eu parecia saber onde estava, mas não consigo lembrar o que isso significava para mim na época. Sem dúvida a cidade não era Londres. Minha impressão é a de uma pequena cidade portuária.
O pequeno objeto sobre a mesa me fascinava intensamente. Eu parecia saber o que fazer com ele, pois tirei uma lanterna elétrica – ou o que parecia ser uma – do meu bolso e testei o facho de luz com nervosismo. A luz não era branca, mas violeta, e parecia menos com uma luz verdadeira do que com algum bombardeio radioativo. Lembro que não a considerava uma lanterna comum – na verdade, eu tinha uma lanterna comum noutro bolso.
Estava ficando escuro, e os telhados e as chaminés antigas na rua pareciam bastante estranhos através dos vidros das clarabóias. Por fim reuni coragem suficiente e apoiei o pequeno objeto sobre a mesa contra um livro – então voltei os raios da singular luz violeta sobre ele. A luz parecia agora mais com uma chuva de granizo ou com pequenas partículas violetas do que um feixe luminoso contínuo. À medida que as partículas atingiam a superfície vítrea no centro do objeto estranho, elas pareciam produzir um ruído de crepitação como a estática de uma válvula eletrônica através da qual passam descargas elétricas. Então essa superfície vítrea escura começou a exibir um brilho róseo, e um contorno branco e vago parecia estar tomando forma no seu centro. Em seguida observei que não estava só no quarto – e coloquei o projetor de raios de volta no bolso.
Mas o recém-chegado não falou – tampouco ouvi som algum em todos os momentos imediatamente posteriores. Tudo era uma pantomima de sombras, como se vista de uma vasta distância através de uma bruma que se interpunha entre nós – embora o recém-chegado e todos os que chegaram depois pairassem grandes e próximos, como se ao mesmo tempo perto e distantes, seguindo alguma geometria anormal.
O recém-chegado era um homem magro, moreno, de meia estatura e em trajes clericais da Igreja Anglicana. Ele aparentava em torno de trinta anos, com uma tez azeitonada doentia e traços razoavelmente bem-proporcionados, mas com uma testa mais alta que o normal. Seu cabelo escuro era bem-cortado e elegantemente penteado, e era barbeado, apesar de seu queixo apresentar um tom azulado, tal a força da sua barba. Ele usava óculos sem aros e com uma armação de aço. A sua compleição e os traços faciais inferiores eram como os de outros clérigos que eu já vira, mas tinha uma testa muito mais alta, e era mais moreno e aparentemente mais inteligente – e também possuía uma aparência sutil e obscuramente mais diabólica. Nesse instante, tendo há pouco acendido uma lamparina a óleo fraca, ele parecia nervoso, e antes que me desse conta estava jogando todos os livros mágicos na lareira que ficava no canto da janela (onde a parede inclinava-se bruscamente) e que eu não notara antes. As chamas devoraram os volumes com voracidade – soltando labaredas com cores estranhas e emitindo cheiros indescritivelmente hediondos enquanto as folhas com hieróglifos esquisitos e encadernações carcomidas sucumbiam ao elemento devastador. De uma hora para outra vi que havia outras pessoas no quarto – homens circunspectos em trajes clericais, um dos quais com o colarinho e as indumentárias de um bispo. Apesar de não conseguir ouvir nada, dava para perceber que estavam chegando a um veredicto de extrema importância para o primeiro a chegar. Eles pareciam odiá-lo e temê-lo ao mesmo tempo, e esses sentimentos eram recíprocos. Seu rosto imobilizou-se numa expressão impiedosa, mas eu conseguia ver sua mão direita tremendo quando tentou segurar o espaldar de uma cadeira. O bispo apontou para a caixa vazia e para a lareira (onde as chamas tinham morrido em meio a uma massa carbonizada e indistinta) e parecia tomado por um asco particular. Então o primeiro a chegar deu um sorriso esquisito e estendeu a mão esquerda na direção do pequeno objeto sobre a mesa. Todos pareceram assustar-se nesse instante. Então a procissão de clérigos começou a encher a escada íngreme passando o alçapão no chão, virando e fazendo gestos ameaçadores enquanto deixavam o quarto. O bispo foi o último a ir embora.
Nesse momento o primeiro a chegar foi até um guarda-louça no lado interior do quarto e tirou um rolo de corda. Subindo numa cadeira, prendeu uma ponta da corda num gancho na viga grande de carvalho escuro exposta e começou a fazer um laço com a outra ponta. Percebendo que estava prestes a se enforcar, avancei para dissuadi-lo ou salvá-lo. Ao me ver parou com as preparações, encarando-me com uma espécie de triunfo que me deixou perplexo e perturbado. Então desceu lentamente da cadeira e começou a deslizar na minha direção com um esgar absolutamente voraz no rosto moreno e de lábios finos.
Acreditando estar diante de um perigo mortal, puxei o peculiar projetor de raios como uma arma de defesa. Não sei dizer a razão por que achei que ele poderia me ajudar. Liguei-o de cheio no seu rosto, e vi os traços doentios brilharem primeiro com uma luz violeta, então com uma luz rósea. A expressão de júbilo voraz começou a dar lugar a uma aparência de medo profundo – que não substituiu totalmente, todavia, a sua exultação. Ele parou no próprio lugar, então passou a golpear o ar violentamente com os braços e a cambalear para trás. Vi que estava chegando próximo da escada aberta no chão, e tentei gritar avisando-o, mas não me ouviu. No instante seguinte perdeu o equilíbrio para trás e sumiu de vista pela abertura.
Caminhei com dificuldade até a escada, mas, quando me aproximei dela, não vi nenhum corpo espatifado no chão. Em vez disso ouvi o vozerio de pessoas subindo com lanternas, pois o feitiço do silêncio fantasmagórico fora quebrado, e uma vez mais eu distinguia os sons e via as figuras normalmente tridimensionais. Era evidente que algo havia atraído essa turba para o lugar. Fora feito um barulho que eu não ouvira?
Em seguida duas pessoas, aparentemente simples aldeões, que vinham na frente me viram e pararam paralisados. Um deles gritou alto e retumbante:
– Ahrrh! É você? De novo?
Então voltaram as costas e fugiram freneticamente. Todos menos um. Quando a turba não estava mais ali, vi o homem barbado circunspecto que me trouxera para esse lugar parado sozinho com uma lanterna. Ele me encarava ofegante e fascinado, mas não parecia com medo. Então começou a subir os degraus e juntou-se a mim no sótão. Ele falou:
– Então não o deixou como estava! Sinto muito. Sei o que aconteceu. Já aconteceu antes, mas o homem assustou-se e deu um tiro em si mesmo. Você não deveria tê-lo trazido de volta, pois sabe o que ele quer. Mas não se assuste como o outro homem. Algo muito estranho e terrível aconteceu com você, mas não foi longe o suficiente para prejudicar a sua mente e personalidade. Se mantiver a calma e aceitar a necessidade de fazer certos reajustes radicais na sua vida, poderá seguir aproveitando o mundo e os frutos da sua bolsa de estudos. Mas você não pode viver aqui – e não creio que vá querer voltar para Londres. Eu aconselharia os Estados Unidos.
“Não tente mais nada com aquela... coisa. Nada pode voltar a ser o que era antes. Só pioraria as coisas fazer, ou convocar, algo. Você não está tão mal quanto poderia estar, mas deve ir embora de uma vez e ficar distante daqui. E também deveria agradecer aos céus por isso não ter ido mais longe...
“Vou prepará-lo da forma mais direta possível. Houve uma certa mudança... na sua aparência pessoal. Ele sempre causa isso. Mas num país novo você pode se acostumar a ela. Há um espelho na outra extremidade do quarto, e vou levá-lo até ele. Você vai ficar chocado, embora eu não veja nada de repulsivo.”
Eu tremia agora com um medo mortal, e o homem barbado quase teve de segurar-me enquanto me ajudava a caminhar através do quarto até o espelho com a lamparina débil (a que anteriormente estava sobre a mesa, e não a lanterna mais fraca ainda que ele trouxera) na sua mão livre. Isso é o que vi no espelho:
Um homem magro, moreno, de estatura mediana e em trajes clericais da Igreja Anglicana, aparentando trinta anos, óculos sem aros e com uma armação de aço brilhando abaixo de uma testa com uma tez azeitonada doentia e anormalmente alta.
Era o silencioso, o primeiro a chegar, o homem que queimara seus livros.
Pelo resto da vida, em minha aparência exterior, eu seria esse homem!
Primeiras histórias
À parte algumas histórias irrelevantes e imaturas escritas quando tinha seis anos de idade, H. P. Lovecraft preservou pouco material do que ele chamou de suas primeiras histórias – isto é, histórias escritas na sua adolescência e aos vinte e poucos anos, tendo destruído a maior parte delas. Essas histórias são evidentemente do início da sua carreira, inconstantes e imperfeitas, escritas após um período em que ele produzira pouca ficção.
A narrativa mais remota data do décimo quinto aniversário de Lovecraft, e presumivelmente todas elas, com a exceção de A transição de Juan Romero, foram escritas quando ele tinha entre quinze e vinte anos. A transição de Juan Romero foi escrita quando o interesse de Lovecraft pela ficção, já há alguns anos adormecido, foi uma vez mais revivido e ocorreu apenas alguns anos antes de ele começar a escrever a porção mais importante da sua ficção.
Tendo em vista que essas primeiras histórias, particularmente A fera na caverna e O alquimista, são muito promissoras, pode-se até especular se esta promessa inicial não teria se realizado mais cedo se a ficção de Lovecraft tivesse obtido então o encorajamento que ela merecia. Ele perdeu aqui pelo menos uma década da sua vida criativa, quando, desencorajado no fim da sua adolescência, abandonou a escrita quase até o advento de Weird Tales.
A fera na caverna
A conclusão terrível que vinha se impondo gradualmente sobre minha mente confusa e relutante era agora uma certeza aterradora. Eu estava perdido, completa e desesperadamente perdido nas vastas e labirínticas reentrâncias da Caverna Mamute. A situação se apresentava de tal forma que, por mais que forçasse a visão, em nenhuma direção era possível distinguir qualquer objeto capaz de servir como um ponto de referência que me colocasse no caminho da rua. Que eu nunca mais contemplaria a luz abençoada do dia nem correria os olhos pelos montes e vales aprazíveis do belo mundo exterior minha razão não podia mais alimentar a menor descrença. A esperança havia partido. Entretanto, doutrinado como fui por uma vida de estudos filosóficos, não deixei de sentir uma grande satisfação com minha conduta desapaixonada; pois apesar de ter lido freqüentemente sobre os frenesis desvairados a que as pessoas vítimas de situações similares se entregam, não senti nada disso, e fiquei calmo tão logo percebi claramente que havia perdido o senso de orientação.
Tampouco o pensamento de que provavelmente teria me afastado além dos limites máximos de uma busca comum fez com que abandonasse minha postura sequer por um instante. Se devo morrer, refleti, essa caverna terrível e majestosa será tão bem-vinda como uma sepultura quanto a que qualquer cemitério de igreja poderia me proporcionar, uma idéia que trazia consigo mais tranqüilidade do que desespero.
A fome seria meu destino final, disso eu tinha certeza. Alguns, eu sabia, tinham enlouquecido numa circunstância como essa, mas eu sentia que aquele não seria o meu fim. O desastre que vivia era resultado de minha inteira responsabilidade, já que, sem avisar o guia, havia me separado do grupo ordeiro de visitantes; e, perambulando por mais de uma hora em caminhos proibidos da caverna, vi-me incapaz de retornar pelas curvas tortuosas que havia seguido desde que abandonara meus companheiros.
A tocha já começava a apagar-se; logo eu seria coberto pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Parado na luz instável e decrescente, refleti em vão sobre as circunstâncias exatas do fim que se aproximava. Lembrei dos relatos que ouvira da colônia de tuberculosos que passara a morar nessa gruta gigantesca buscando curar-se com a atmosfera aparentemente sadia do mundo subterrâneo, com sua temperatura estável e uniforme, seu ar puro e ambiente sossegado, mas que haviam encontrado em vez disso uma morte estranha e horripilante. Eu vira os escombros tristes das suas cabanas malconstruídas quando passara por elas com o grupo e tinha me perguntado que influência antinatural uma longa estada nessa caverna imensa e silenciosa exerceria sobre um homem saudável e vigoroso como eu. Pois chegara a oportunidade de tirar essa dúvida, afirmei severamente, desde que a falta de alimento não acarretasse uma partida muito rápida dessa vida.
Quando os últimos raios intermitentes da tocha desapareceram aos poucos até a obscuridade, decidi que não deixaria uma pedra sem revirá-la e nenhum meio possível de saída seria negligenciado. Assim sendo, reunindo toda a capacidade dos meus pulmões, dei uma série de gritos na esperança vã de chamar a atenção do guia com meu clamor. Enquanto chamava, entretanto, tinha certeza de que as súplicas não tinham efeito algum e que minha voz aumentada e refletida pelas inumeráveis plataformas do labirinto escuro à minha volta não chegavam a nenhum ouvido a não ser os meus.
De repente, no entanto, parei para prestar atenção quando imaginei ter ouvido o som suave de passos que se aproximavam no chão rochoso da caverna.
A minha libertação seria conseguida tão cedo? Todas as apreensões terríveis então haviam sido por nada e o guia teria notado a minha ausência desautorizada e seguido o meu curso procurando-me nesse labirinto de calcário? Enquanto essas indagações felizes surgiam no meu cérebro, eu estava prestes a renovar meus gritos a fim de que me descobrissem de uma vez, quando num instante minha alegria transformou-se em horror. Minha audição, que sempre fora sensível e que agora estava mais aguçada ainda com o silêncio completo da caverna, transmitiu para minha compreensão entorpecida a consciência inesperada e terrível de que aqueles passos não eram como os de qualquer homem mortal. No silêncio fantasmagórico dessa região subterrânea, o caminhar do guia calçando botas teria soado como uma série de batidas secas e incisivas. Os impactos eram suaves e furtivos, como os das patas de algum felino. Além disso, quando prestei bastante atenção, eu parecia acompanhar as batidas de quatro pés em vez de dois.
Eu estava convencido agora que tinha provocado e atraído alguma fera selvagem com meus próprios gritos, talvez um leão das montanhas que se perdera acidentalmente dentro da caverna. Talvez, considerei, o Todo-Poderoso tenha escolhido para mim uma morte mais rápida e misericordiosa do que a da fome; o instinto de autopreservação, entretanto, que nunca estivera completamente adormecido, foi incitado em meu peito e, embora a fuga do perigo iminente pudesse apenas me poupar de um fim mais sombrio e prolongado, decidi-me mesmo assim a vender a vida o mais caro possível. Por mais estranho que possa parecer, minha mente não concebeu outra intenção por parte do visitante a não ser a hostilidade. Dessa maneira, não fiz ruído algum, na esperança de que a fera desconhecida perdesse seu senso de direção na ausência de um som que a guiasse como ocorrera comigo e, assim, passasse ao largo. Mas essa esperança não estava destinada a se concretizar, pois os passos estranhos avançavam firmes. Tendo evidentemente sentido meu cheiro, o animal poderia sem dúvida segui-lo a uma grande distância, algo factível numa atmosfera como a de uma caverna tão absolutamente livre de todas as influências que pudessem distraí-lo.
Vendo, portanto, que eu tinha de estar armado para defender-me contra um ataque sinistro e oculto no escuro, tateei em meu redor em busca de fragmentos maiores de rochas que estavam espalhados por todas as partes do chão da caverna, e, pegando uma em cada mão para usá-las naquele momento, esperei com resignação pelo resultado inevitável. Enquanto isso o ruído hediondo das patas se aproximava. O comportamento da criatura era certamente muito estranho. A maior parte do tempo os passos pareciam ser de um quadrúpede, caminhando singularmente sem um ruído uníssono entre as patas traseiras e dianteiras, entretanto, em intervalos breves e esporádicos, eu imaginava que apenas duas patas estavam envolvidas no processo de locomoção. Fiquei a me perguntar que espécie de animal iria confrontar-me; ele devia ser alguma fera azarada que pagara por sua curiosidade de investigar uma das entradas da gruta temível com um confinamento perpétuo nessas reentrâncias intermináveis. Sem dúvida ela obtinha como alimento o peixe sem olhos, os morcegos e os ratos da caverna, assim como alguns dos peixes comuns que são levados pelas cheias do Rio Grande, que se comunica de alguma maneira oculta com as águas da caverna. Eu ocupava minha vigília terrível com conjecturas grotescas sobre quais alterações a vida na caverna havia provocado na estrutura física da fera, lembrando das aparências pavorosas atribuídas pela tradição local aos tuberculosos que tinham morrido após uma longa permanência nela. Então lembrei subitamente que, mesmo tendo sucesso em abater meu antagonista, eu nunca contemplaria a sua forma, pois minha tocha há muito apagara e eu estava completamente desprovido de fósforos. A tensão no meu cérebro agora era espantosa. Minha fantasia desordenada evocava formas hediondas e temíveis na escuridão sinistra que me envolvia e que na realidade parecia fazer pressão sobre meu corpo. Então os passos medonhos começaram a se aproximar cada vez mais. Achei que deixaria escapar um grito estridente, mas, mesmo que fosse suficientemente indeciso para tentar algo do gênero, minha voz mal responderia, pois estava petrificado e preso ao chão. Eu duvidava se o braço direito me deixaria arremessar um projétil quando chegasse o momento crucial. Nesse instante o pat, pat regular dos passos se aproximava e agora estava muito próximo. Eu podia ouvir a respiração cansada do animal, e, aterrorizado como estava, percebi que ele tinha de vir de uma distância considerável, já que estava similarmente fatigado. De repente o feitiço foi quebrado. A mão direita, guiada pela minha audição sempre confiável, jogou com força total a pedra afiada de calcário na direção do ponto no escuro de onde emanavam a respiração e os passos; e, para meu deleite narrativo, quase acertou o alvo, pois ouvi a criatura pulando e pousando um pouco distante, onde pareceu fazer uma pausa.
Tendo reajustado a mira, lancei o segundo projétil e dessa vez mais eficazmente, pois ouvi tomado de alegria quando a criatura desabou no que parecia ser um colapso completo, e evidentemente permaneceu imóvel no chão. Quase dominado pelo alívio enorme que sentia, cambaleei de costas até a parede, mas a respiração dela continuava em inspirações e expirações pesadas e ofegantes, então percebi que só a tinha ferido. E agora todo o desejo de examinar a criatura passara. Por fim algo associado a um medo infundado e supersticioso entrou em meu cérebro, e não me aproximei do corpo, tampouco continuei a jogar pedras nele a fim de completar o extermínio da sua vida. Em vez disso, corri o mais rápido que pude na direção de onde viera, ou na direção mais próxima disso que conseguia estimar na condição enlouquecida que me encontrava. Subitamente ouvi um barulho, ou melhor, uma seqüência regular de barulhos. No instante seguinte tinham se limitado a uma série de estalos secos e metálicos. Dessa vez não havia dúvida. Era o guia. E então eu chamei, gritei, berrei, até guinchei de alegria quando contemplei nos arcos em abóbada da caverna o brilho débil e bruxuleante que eu sabia ser a luz refletida de uma tocha que se aproximava. Corri para encontrar o clarão e, antes que pudesse compreender realmente o que tinha ocorrido, já estava deitado no chão aos pés do guia, abraçado nas suas botas e tagarelando inarticuladamente do jeito mais idiota e sem sentido, despejando minha história terrível e ao mesmo tempo cobrindo-o com declarações de gratidão, apesar de orgulhar-me de minha reserva. Por fim, acordei para algo próximo de minha consciência normal. O guia havia observado minha ausência com a chegada do grupo na entrada da caverna e a partir do seu próprio sentido intuitivo de direção passara a investigar minuciosamente os desvios logo à frente de onde ele havia falado comigo pela última vez, localizando meu paradeiro após uma busca de em torno de quatro horas.
Assim que ouvi esse relato, senti-me encorajado com a luz e a companhia e comecei a refletir sobre a estranha fera que tinha ferido bem próximo dali no escuro. Sugeri que verificássemos, com a ajuda das tochas, que tipo de criatura fora minha vítima. Então voltei sobre meus passos, dessa vez com a coragem nascida da companhia, para a cena da minha experiência terrível. Logo divisamos um objeto branco sobre o chão, um objeto mais branco do que o próprio calcário reluzente. Avançando com cuidado, soltamos uma exclamação simultânea de espanto, pois de todos os monstros esquisitos que qualquer um de nós vira em vida, esse possuía um grau incomparável de estranheza. Parecia ser um macaco antropóide de grandes proporções, fugido talvez de algum show de feras itinerante. Seu cabelo era branco como a neve, algo sem dúvida devido à ação descorante de uma longa estadia no breu do confinamento de uma caverna, mas era também surpreendentemente magro, em grande parte sem pêlos, a não ser na cabeça, onde era de um comprimento e profusão que caía sobre os ombros com uma abundância considerável. O rosto estava voltado para o outro lado, visto que a criatura deitava quase diretamente sobre ele. A curva dos membros era bastante singular, o que explicava, entretanto, a alternação no seu uso que eu observara antes, e através da qual a fera usava algumas vezes todas as quatro patas para progredir e em outras ocasiões apenas duas. Das pontas dos dedos das patas, estendiam-se longas garras como as de uma ratazana. As patas não eram preênseis, fato que atribuí à longa permanência na caverna que, como havia mencionado antes, parecia evidente pela brancura impregnada e quase fantasmagórica tão característica de toda sua anatomia. Ele parecia não ter rabo.
A respiração agora tornara-se bastante fraca, e o guia puxou a pistola com a intenção evidente de eliminar a criatura, quando um som repentino emitido por ela fez com que a arma caísse no chão sem ser usada. O som era de uma natureza difícil de se descrever. Não era como o timbre normal de qualquer espécie de símio conhecida, e me pergunto se essa qualidade antinatural não era resultado de um silêncio longo, continuado e absoluto, quebrado pelas sensações produzidas pela chegada da luz, algo que a fera não podia ter visto desde a sua primeira entrada na caverna. O som, que eu poderia tentar descrever como sendo um tagarelar inarticulado, seguia cada vez mais fraco.
Então, de uma hora para outra, um espasmo fugidio de energia pareceu trespassar a carcaça da fera. As patas se mexeram convulsivamente e os membros se contraíram. Com um movimento reflexo, o corpo branco rolou para o lado de maneira que o rosto voltou-se para nossa direção. Por um momento fiquei tão aterrorizado com os olhos que se revelavam que não observei nada mais. Eles eram escuros, aqueles olhos, de um âmbar-negro, num contraste terrível com o cabelo e a pele cor de neve. Assim como os olhos de outros moradores das cavernas, eles eram afundados nas suas órbitas e inteiramente destituídos da íris. Quando olhei mais proximamente, vi que faziam parte de um rosto menos prógnato do que o de um macaco médio e infinitamente menos peludo. O nariz era bem-definido. Enquanto olhávamos pasmos para o quadro fantástico diante da nossa visão, os lábios grossos abriram-se e vários sons foram emitidos deles, após o que a criatura relaxou na morte.
O guia agarrou a manga do meu casaco e tremia tão violentamente que a luz sacudia em espasmos, jogando sombras estranhas e rápidas sobre as paredes. Não fiz movimento algum e fiquei rigidamente parado com os olhos horrorizados fixos sobre o chão à minha frente.
O medo deixou-me, e o assombro, a surpresa, a compaixão e o respeito sucederam-se no seu lugar, pois os sons emitidos por aquela figura ferida e agora estendida sobre o calcário nos contou a verdade aterradora. A criatura que eu matara, a fera estranha da caverna inescrutável, era, ou fora um dia um HOMEM!!!
21 de abril 1905.
O alquimista
Lá no alto, coroando o cume relvado de uma colina cuja encosta é coberta na sua base por um bosque de árvores nodosas de uma floresta primitiva, fica o velho château dos meus ancestrais. Por séculos as suas ameias altas olharam com uma carranca para o campo selvagem e escarpado abaixo, servindo como morada e fortaleza para uma casa orgulhosa cuja linhagem honrada é mais velha até que os muros tomados pelo musgo do castelo. Esses torreões antigos, marcados pelas tempestades de gerações e ruindo sob a lenta mas firme ação do tempo, formavam na época do feudalismo uma das mais temidas e formidáveis fortalezas de toda a França. Dos seus parapeitos providos de balestreiros e ameias armadas, barões, condes e mesmo reis foram desafiados, entretanto, nunca os seus aposentos espaçosos ressoaram para os passos de um invasor.
Mas desde esses anos gloriosos, tudo mudou. Uma pobreza só um pouco além da necessidade provocada por uma calamidade, junto com um orgulho de nome que proíbe a sua mitigação por meio das atividades de uma vida comercial, impediram que os herdeiros da nossa linhagem mantivessem as propriedades no seu antigo esplendor. Já as pedras caindo das paredes, a vegetação crescida nos parques, o fosso seco e empoeirado, os pátios com os ladrilhos quebrados, as torres ruídas, assim como as partes que afundaram do chão, os revestimentos de madeira comidos pelos vermes e as tapeçarias desbotadas, todos contavam a história triste de uma grandeza em decadência. À medida que as eras passavam, primeiro um, então outro dos quatro grandes torreões ruiu, até que apenas um único torreão servia de moradia para os descendentes tristemente reduzidos dos que foram um dia os poderosos lordes da propriedade.
Foi num dos cômodos vastos e sombrios dessa torre restante que eu, Antoine, último dos infelizes e malditos condes de C., primeiro viu a luz do dia, noventa longos anos atrás. Os primeiros anos da minha vida atribulada foram passados entre essas paredes, em meio às matas escuras e cheias de sombras e às ravinas e grutas selvagens da encosta do morro abaixo. Nunca conheci meus pais. Meu pai morreu com 32 anos, um mês antes de eu nascer, devido à queda de uma pedra que de alguma forma deslocou-se de um dos parapeitos desertos do castelo. E com a morte de minha mãe no meu nascimento, meus cuidados e educação competiram unicamente a um empregado que restou, um velho de confiança com uma inteligência considerável, cujo nome lembro como sendo Pierre. Eu era filho único, e a falta de companhia que esse fato me acarretou foi aumentada pelo estranho cuidado exercido pelo meu tutor envelhecido, excluindo-me da companhia das crianças filhas dos camponeses e cujas moradias estavam espalhadas aqui e ali sobre a planície que cercava a base da colina. Naquela época, Pierre disse que essa restrição era imposta a mim devido a meu nascimento nobre, que me colocava acima da associação com a plebe. Agora sei que o seu objetivo real era manter distante dos meus ouvidos as histórias infundadas sobre a maldição terrível da nossa linhagem que eram contadas e aumentadas à noite pelos rendeiros quando conversavam em tons de voz sussurrados no brilho das lareiras das suas cabanas.
Desse modo, isolado e jogado aos meus próprios recursos, passei a infância mergulhado nos volumes antigos que enchiam a biblioteca assombrada pela solidão do château, perambulando sem rumo ou propósito pela serragem perpétua da mata fantasmagórica que reveste a encosta da colina junto à sua base. Talvez como conseqüência desses ambientes, minha mente logo adquiriu um tom melancólico. Aqueles estudos e interesses que tinham algo de sombrio e oculto na sua natureza eram os que mais fortemente prendiam minha atenção.
Da minha própria raça deixaram-me aprender particularmente pouco, entretanto o pouco conhecimento que fui capaz de adquirir pareceu deprimir-me muito. Primeiramente talvez tenha sido somente a relutância manifesta do velho preceptor de discutir comigo minha genealogia paterna que deu origem ao terror que sempre senti ao ouvir a casa grande ser mencionada, entretanto, à medida que deixava a infância, fui capaz de juntar fragmentos desconexos do seu discurso e que escapavam da língua pouco disposta que começara a balbuciar coisas ao se aproximar da senilidade, e elas tinham algo a ver com uma determinada circunstância que eu sempre considerara estranha, mas que agora se tornara obscuramente terrível. A circunstância a que me refiro é a idade precoce na qual todos os condes da minha linhagem encontraram o seu fim. Embora tivesse considerado até este ponto um atributo natural de uma família de homens de vida curta, depois refleti longamente sobre essas mortes prematuras e comecei a vinculá-las com os passeios do velho, que muitas vezes falou de uma maldição que por séculos havia impedido que as vidas dos portadores do meu título excedessem muito a duração de 32 anos. Com a chegada do meu vigésimo primeiro aniversário, o velho Pierre me passou um documento de família que ele dizia ter sido passado por muitas gerações de pai para filho, e cada portador por sua vez continuara essa tradição. O seu conteúdo era de uma natureza absolutamente surpreendente, e uma leitura cuidadosa confirmava as minhas apreensões mais graves. Nessa época, minha crença no sobrenatural era firme e arraigada, pois de outra forma eu teria menosprezado com desdém a narrativa incrível que se revelava diante dos meus olhos.
O documento me levou de volta para os dias do século XIII, quando o velho castelo no qual eu estava sentado fora uma fortaleza temida e inexpugnável. Ele falava de um certo homem antigo que morara nas nossas propriedades, uma pessoa capaz de grandes proezas, apesar de um pouco acima do status de um camponês, de nome Michel, mas normalmente designada pelo sobrenome de Mauvais, o Diabólico, devido à sua reputação sinistra. Ele estudara além do que era costume para pessoas do seu tipo, interessando-se por coisas como a pedra filosofal ou o elixir da vida eterna, e era considerado um conhecedor dos segredos terríveis da magia negra e da alquimia. Michel Mauvais teve um filho, chamado Charles, um jovem tão perito quanto ele próprio nas artes ocultas que fora, por esse motivo, chamado de Le Sorcier, o Mago. Esse par, evitado pelo povo honesto, era suspeito das práticas mais hediondas. Dizia-se do velho Michel que ele queimara a mulher viva como um sacrifício para o Diabo, e foi para a porta temível dos dois que apontaram quando várias crianças camponesas desapareceram. Entretanto, através das naturezas sombrias do pai e do filho corria um raio redentor de humanidade; o velho diabólico amava seu filho com uma intensidade veemente, enquanto o jovem tinha pelo pai mais do que um afeto filial.
Uma noite o castelo na colina ficou tumultuado com o desaparecimento do jovem Godfrey, filho de Henri, o conde. Um grupo de busca chefiado pelo pai desesperado invadiu a cabana dos feiticeiros e lá encontrou o velho Michael Mauvais ocupado sobre um enorme caldeirão que fervia violentamente. Sem pensar a respeito, na loucura desvairada da fúria e do desespero, o conde lançou as mãos sobre o mago idoso e, antes que soltasse a pressão assassina, a vítima já perdera a vida. Enquanto isso, os servos cheios de alegria anunciavam ter encontrado o jovem Godfrey num aposento distante e fora de uso da enorme construção, como a dizer tarde demais que o pobre Michel tinha sido morto inutilmente. Quando o conde e seus companheiros deram as costas para a moradia modesta do alquimista, a figura de Charles, Le Sorcier, apareceu em meio às árvores. O tagarelar excitado dos lacaios à sua volta lhe contou o que havia ocorrido, mas ele parecia a princípio insensível ao destino do pai. Então, avançando lentamente para encontrar o conde, pronunciou num tom de voz triste, mas terrível, a maldição que para sempre daí em diante perseguiria a casa dos C.
– Que um nobre dessa linhagem assassina nunca mais sobreviva a uma idade maior do que a sua! – Então saltou subitamente para trás na direção da mata escura, tirou um frasco pequeno com um líquido incolor e o jogou no rosto do assassino do pai. Em seguida desapareceu atrás da cortina negra da noite. O conde morreu sem dizer uma palavra e foi enterrado no dia seguinte, um pouco mais de 32 anos depois da hora do seu nascimento. Nenhum traço do assassino foi encontrado, apesar de bandos implacáveis de camponeses terem feito buscas nas matas vizinhas e na campina em torno da colina.
Desse modo, o tempo e a carência de algo que os lembrasse obscureceu a memória da maldição nas mentes da família do falecido Conde, de maneira que quando Godfrey, causador inocente de toda a tragédia e agora o portador do título, foi morto por um arco enquanto caçava com a idade de 32 anos, não se pensou em nada a não ser no luto por seu falecimento. Mas quando, anos depois, o próximo conde jovem, chamado Robert, foi encontrado morto num campo próximo sem uma causa aparente, os camponeses falaram aos sussurros que o seu senhor tinha recém passado do seu trigésimo segundo aniversário quando foi surpreendido pela morte precoce. Louise, filho de Robert, foi encontrado afogado no fosso com a mesma idade fatídica, e desse modo pelos séculos afora seguiu a crônica sinistra: Henris, Roberts, Antoines e Armands, arrebatados de suas vidas felizes e virtuosas quando um pouco abaixo da idade do seu antepassado desventurado no seu assassinato.
Que eu tinha no máximo mais onze anos de existência foi algo que se tornou uma certeza para mim pelas palavras que tinha lido. A vida, que pouco valia para mim anteriormente, agora se tornava mais querida a cada dia que passava enquanto me aprofundava cada vez mais longe nos mistérios do mundo oculto da magia negra. Isolado como era, a ciência moderna não tinha produzido impressão alguma sobre mim, e seguia trabalhando como na Idade Média, tão absorto quanto tinham sido os próprios velho Michel e o jovem Charles na aquisição do aprendizado demonológico e alquímico. No entanto, por mais que eu lesse, de jeito nenhum conseguia explicar a estranha maldição sobre minha linhagem. Em momentos extraordinariamente racionais eu chegava ao ponto de buscar uma explicação natural, atribuindo as mortes precoces dos meus ancestrais ao sinistro Charles Le Sorcier e seus herdeiros; entretanto, tendo descoberto por meio de uma investigação cuidadosa que não havia descendentes conhecidos do alquimista, eu voltava aos estudos sobre ocultismo, e mais uma vez esforçava-me para encontrar um feitiço que libertaria minha casa do seu fardo terrível. Sobre uma coisa eu estava absolutamente decidido. Eu nunca casaria, pois, já que não existia outra linha em minha família, eu poderia terminar, dessa forma, a maldição comigo mesmo.
Quando cheguei próximo da idade de trinta anos, o velho Pierre foi chamado para a terra do além. Enterrei-o sozinho embaixo das pedras do pátio onde ele adorara passear em vida. Desse modo, passei a considerar-me a única criatura humana dentro da grande fortaleza, e nessa solidão absoluta, minha mente começou a cessar seu protesto infrutífero contra a perdição iminente para tornar-se quase reconciliada com o destino que tantos dos meus antepassados haviam encontrado. Grande parte do meu tempo era ocupado agora na exploração dos aposentos e das torres em ruínas e abandonadas do velho château, que na juventude o medo fizera com que as evitasse. Algumas não tinham sido pisadas por pés humanos em mais de quatro séculos, segundo o velho Pierre. Muitos dos objetos que encontrei eram estranhos e maravilhosos. Móveis cobertos pelo pó de eras e desabando podres devido ao longo período na umidade encontraram meus olhos. Teias de aranhas numa profusão nunca vista antes por mim eram tecidas para todos os lados, e morcegos enormes batiam suas asas esqueléticas e sinistras em todos os cantos do lugar que de outra forma era sombrio e desocupado.
Eu mantinha um registro absolutamente cuidadoso da minha idade exata, até os dias e as horas, pois cada movimento do pêndulo do enorme relógio na biblioteca falava sobre minha existência condenada. Por fim, aproximei-me daquela época que por tanto tempo eu vira com apreensão. Visto que a maioria dos meus antepassados haviam sido pegos um pouco antes de alcançarem a idade exata do conde Henri ao morrer, eu estava a todo instante à espera da desconhecida morte. De que forma estranha a maldição me levaria, eu não sabia; mas estava decidido pelo menos que não encontraria uma vítima passiva ou covarde. Com um vigor renovado dediquei-me ao exame do velho château e seus conteúdos.
Foi numa das excursões de exploração mais longas na porção deserta do castelo, menos de uma semana antes da hora fatal que eu sentia que marcaria o limite máximo da minha estada na terra, além do qual eu não podia ter a menor esperança de continuar a respirar, que me confrontei com o evento culminante de toda minha vida. Eu passara boa parte da manhã escalando para cima e para baixo umas escadas quase em ruínas num dos torreões antigos mais dilapidados. À medida que a tarde chegava, busquei os níveis mais baixos, descendo para o que parecia ser um lugar de confinamento medieval, ou um paiol para pólvora escavado mais recentemente. Conforme atravessava lentamente o corredor incrustado de nitrato no pé da última escada, o chão tornou-se muito úmido, e logo vi com a luz bruxuleante da tocha que uma parede vazia e manchada pela água impedia meu progresso. Virando para voltar sobre meus passos, meus olhos pousaram sobre um alçapão pequeno com um anel, que se encontrava bem aos meus pés. Fazendo uma pausa, consegui com dificuldade levantá-lo, revelando uma abertura escura exalando gases mefíticos que fizeram com que minha tocha crepitasse, e revelando no clarão vacilante o topo de um lance de degraus de pedra.
Tão logo a tocha que baixei para as profundezas repelentes queimou livremente e com firmeza, comecei minha descida. Eram muitos degraus, e eles levavam até um corredor lajeado que eu sabia tinha de estar bem fundo embaixo da terra. Esse corredor provou ser de grande comprimento, terminando numa porta de carvalho enorme que pingava com a umidade do lugar e resistia solidamente a todas as minhas tentativas de abri-la. Cessando após um tempo meus esforços nesse sentido, voltei alguma distância na direção dos degraus quando subitamente experimentei um dos choques mais profundos e enlouquecedores capazes de serem percebidos pela mente humana. Sem aviso algum ouvi a porta atrás de mim ranger lentamente nas suas dobradiças enferrujadas. Minhas sensações imediatas são impossíveis de serem analisadas. Ser confrontado num lugar tão completamente deserto como eu considerara o velho castelo com uma prova da presença de um homem ou de um espírito produziu em meu cérebro o horror mais pungente possível. Quando por fim voltei-me e encarei o lugar de onde vinha o som, meus olhos devem ter saltado de suas órbitas com a visão que contemplavam.
Ali na porta gótica antiga havia uma figura humana. Era de um homem usando um solidéu e trajando uma longa túnica medieval escura. O cabelo e a barba longos eram de um matiz negro terrível e intenso – e de uma abundância incrível. A testa era mais alta do que as dimensões normais; as faces encovadas e marcadas pesadamente com rugas; e as mãos longas e retorcidas como garras, e de uma brancura mortal num tom mármore que eu nunca vira noutro homem. A sua figura, magra ao ponto de parecer um esqueleto, era estranhamente curvada e quase perdida dentro das dobras volumosas da roupa peculiar. Mas o mais estranho de tudo eram seus olhos, duas covas gêmeas de uma escuridão insondável, profundas na sua expressão de compreensão, entretanto desumanas no seu grau de maldade. Elas estavam agora fixas sobre mim, trespassando minha alma com seu ódio e me prendendo ao lugar onde estava.
Por fim a figura falou numa voz grave e ressoante que me gelou com seu tom cavernoso e insensível e sua maldade latente. A linguagem na qual o discurso era revestido era aquela forma envilecida do latim usada pelos homens mais letrados da Idade Média, familiar para mim devido às minhas prolongadas pesquisas sobre os trabalhos dos velhos alquimistas e demonólogos. A aparição falou da maldição que pairava sobre a minha casa, contou sobre o meu fim que se aproximava, alongou-se no mal perpetrado por meu antepassado contra o velho Michel Mauvais e vangloriou-se da vingança de Charles Le Sorcier. Ele falou de como o jovem Charles tinha escapado na noite, voltando após anos para matar o herdeiro Godfrey com um arco bem quando ele se aproximava da idade que fora a do seu pai quando assassinado; como ele voltara secretamente para a propriedade e se estabelecera, desconhecido, no cômodo subterrâneo que já na época era deserto e cujo vão da porta enquadrava agora o narrador hediondo, como ele pegara Robert, o filho de Godfrey, num campo e forçara veneno por sua garganta abaixo e o deixara à morte com a idade de 32 anos, dessa maneira mantendo as condições torpes da sua maldição vingativa. Nesse ponto deixou que eu imaginasse a solução do maior mistério de todos, de como a maldição havia sido cumprida desde a época em que Charles Le Sorcier tinha de ter morrido no curso da natural das coisas, pois o homem divagou para um relato sobre os estudos alquímicos profundos dos dois magos, pai e filho, falando mais particularmente das pesquisas de Charles Le Sorcier relativas ao elixir que daria o privilégio da vida eterna e da juventude a quem o bebesse.
O seu entusiasmo parecia ter tirado dos olhos terríveis nesse instante a malevolência negra que me assombrara tanto primeiramente, mas de repente o brilho diabólico voltou e, com um som chocante como o sibilar de uma serpente, o estranho ergueu um frasco pequeno de vidro com a intenção evidente de terminar com minha vida como havia feito Charles Le Sorcier seiscentos anos antes com meu antepassado. Instigado por algum instinto de preservação de autodefesa, rompi o feitiço que até esse ponto me mantinha imóvel e lancei a tocha que se apagava sobre a criatura ameaçando minha existência. Ouvi o frasco pequeno quebrar sem perigo algum contra as pedras do corredor enquanto a túnica do homem estranho pegou fogo e iluminou a cena horrenda com um brilho medonho. O guincho de medo e rancor impotente emitido pelo suposto assassino provou-se demais para meus nervos já abalados e desabei de bruços sobre o chão viscoso completamente desmaiado.
Quando por fim meus sentidos voltaram, tudo estava terrivelmente escuro e minha mente, lembrando do que ocorrera, encolheu-se diante da idéia de ver qualquer coisa mais; entretanto a curiosidade superou tudo. Quem, eu me perguntava, era esse homem diabólico, e como ele passara pelos muros do castelo? Por que ele iria querer vingar-se da morte de Michel Mauvais e como a maldição foi levada adiante durante os longos séculos desde a época de Charles Le Sorcier? O medo de anos foi tirado dos meus ombros, pois eu sabia que o homem que tinha abatido era a fonte de todo o perigo que a maldição representava para mim; e agora que estava livre, ardia com o desejo de aprender mais sobre essa maldição sinistra que assombrara minha linhagem por séculos e tornara a minha própria juventude um longo e continuado pesadelo. Determinado a explorar mais, procurei em meus bolsos a pedra-de-fogo e acendi a tocha que não fora usada e que estava comigo.
Em primeiro lugar, a luz revelou a forma enegrecida e desfigurada do estranho misterioso. Os olhos hediondos estavam fechados agora. Enojado com a visão, dei as costas para ele e entrei no cômodo além da porta gótica. Lá encontrei algo que parecia muito com o laboratório de um alquimista. Num canto havia uma pilha imensa de um metal amarelo brilhante que cintilava deslumbrantemente. Podia ser ouro, mas não parei para examiná-lo, pois me sentia estranhamente afetado pelo que havia passado. No canto mais distante do aposento havia uma abertura que levava para fora, para uma das muitas ravinas selvagens da floresta escura da encosta. Cheio de espanto, mas sabendo como o homem havia obtido acesso ao château, comecei a voltar. Minha intenção era passar pelos restos do estranho com o rosto virado, mas quando me aproximei do corpo, tive a impressão de ouvir um som débil emanando dele, como se a vida ainda não estivesse completamente extinta. Horrorizado, voltei-me para examinar a figura carbonizada e encarquilhada no chão.
Então os olhos horríveis, mais escuros ainda que o rosto ressequido no qual estavam desenhados, abriram-se completamente com uma expressão que fui incapaz de interpretar. Os lábios entreabertos pareciam formar palavras que eu não conseguia compreender direito. Uma hora ouvi o nome de Charles Le Sorcier, e novamente imaginei que as palavras “anos” e “maldição” tinham sido emitidas da boca retorcida. Ainda assim não conseguia compreender o discurso desconexo. Diante da minha evidente ignorância sobre o que ele queria dizer, os olhos negros mais uma vez brilharam maldosamente, e por mais desamparada que fosse a sua situação, eu tremia ao observá-lo.
De repente o infeliz, animado com um último arrojo de força, ergueu sua cabeça lastimável do chão úmido e afundado. Então, vendo que eu ficara paralisado de medo, impostou a voz e num último suspiro de morte gritou essas palavras que assombraram meus dias e noites para sempre dali em diante.
– Idiota! – guinchou ele. – Não consegue adivinhar meu segredo? Você não tem um cérebro com o qual possa reconhecer a força de vontade que cumpriu através de seis longos séculos a maldição terrível sobre a casa? Eu não lhe contei do grande elixir da vida eterna? Você não sabe como o segredo da alquimia foi resolvido? Eu lhe digo, fui eu! Eu! Eu que vivi por seiscentos anos para manter a vingança, pois eu sou Charles Le Sorcier!
Poesia e os deuses
Era uma noite úmida e sombria de abril, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, quando Márcia se viu sozinha com pensamentos e desejos estranhos. Eram aspirações inauditas que deixavam a sala de estar espaçosa do século vinte flutuando para o alto nos abismos do ar e na direção leste para os bosques de oliveiras na distante Arcádia que ela vira somente em sonhos. Ela entrou no aposento para ficar sozinha, apagou os candelabros com sua luz brilhante e recostou-se no divã confortável ao lado da luminária solitária e que jogava sobre a mesa de leitura um brilho esverdeado tão confortante quanto a luz da lua que passava pela folhagem em torno do santuário antigo.
Vestida com simplicidade numa saia preta apropriada para a noite e com um corte baixo nas costas, ela tinha a aparência de um produto típico da civilização moderna; mas nessa noite ela sentia o abismo imensurável que separava a sua alma de todo o ambiente prosaico que a cercava. Será que era devido à estranha casa em que vivia, essa moradia de frieza onde as relações eram sempre tensas e os internos não muito além de estranhos entre si? Era isso, ou era algum extravio maior e menos explicável do tempo e do espaço, em que ela nascera tarde demais, cedo demais, ou longe demais dos refúgios do seu espírito para que ele se conciliasse um dia com as coisas desprovidas de harmonia da realidade contemporânea? Para dispersar o estado de ânimo que a tragava cada vez mais para o fundo a cada momento que passava, ela pegou uma revista da mesa e procurou por um pouco de poesia e seu poder curativo. A poesia sempre aliviara a sua mente confusa melhor do que qualquer outra coisa quando estava com problemas, embora muitos aspectos na poesia que ela vira tirassem um pouco dessa influência. Mesmo nos versos mais sublimes, em algumas partes pairava uma névoa fria de feiúra estéril e repressão, como o pó sobre a vidraça de uma janela através da qual se vê um pôr do sol magnífico.
Virando as páginas indiferentemente, como se buscando um tesouro indefinível, de repente ela encontrou algo que dispersou a sua languidez. Um observador poderia ler seus pensamentos e dizer que ela encontrara alguma imagem ou sonho que a tinham aproximado mais dessa meta não-alcançada até então do que qualquer imagem ou sonho que vivenciara antes. Era apenas um pouco de vers libre, aquela concessão lamentável do poeta que passa por cima da prosa, entretanto não consegue chegar a ser um poema melódico; mas ele tinha toda a harmonia espontânea de um poeta que vive e sente, que procura às cegas por uma beleza revelada. Destituído de uma formalidade, ele tinha no entanto a harmonia das palavras espontâneas e sublimes, uma harmonia que faltava nos versos formais e presos a convenções que ela conhecera. À medida que o lia, o ambiente à sua volta foi desaparecendo aos poucos, e em seguida só o que havia em seu torno eram as névoas do sonho, as névoas púrpuras e salpicadas de estrelas que estão além do tempo, onde apenas os deuses e os sonhadores caminham.
Lua sobre o Japão
Lua branca e delicada!
Onde os Budas de pálpebras pesadas sonham
Ao som do chamado do cuco...
As asas brancas das borboletas lunares
Cintilam descendo sobre as ruas da cidade,
Calando constrangidos os pavios inúteis das lanternas de som nas mãos das moças
A lua sobre os trópicos
Um botão branco-curvado
Abrindo as suas pétalas lentamente no calor do céu...
O ar está cheio de fragrâncias
E lânguidos sons cálidos...
Uma flauta toca a sua música de inseto para a noite
Sob a lua-pétala em curva dos céus.
Lua sobre a China,
A lua cansada sobre o rio do céu,
Um facho de luz sobre os salgueiros é como o brilho de mil peixinhos
Através de cardumes escuros;
As lajes em sepulturas e templos em ruínas cintilam como pequenas ondas,
O céu está salpicado de nuvens como as escamas de um dragão.[1]
Em meio às brumas de sonho, a leitora exclamou para as estrelas ritmadas do seu prazer com a chegada de uma nova era da poesia, um renascimento do Pã. Fechando um pouco os olhos, ela repetiu as palavras cuja harmonia encontrava-se escondida como os cristais do fundo de um regato antes do amanhecer, escondidos apenas para cintilar radiantemente com o nascer do dia.
Lua sobre o Japão
Lua branca e delicada!
A lua sobre os trópicos
Um botão branco-curvado
Abrindo as suas pétalas lentamente no calor do céu...
O ar está cheio de fragrâncias
E lânguidos sons cálidos...
Lua sobre a China,
A lua cansada sobre o rio do céu...
Nesse instante, saindo da névoa brilhou a figura divina de um jovem com um elmo alado e sandálias, segurando um caduceu e de uma beleza nunca vista na terra. Diante do rosto da sonhadora ele agitou três vezes a varinha que Apolo lhe dera em troca de uma lira de nove cordas, e sobre a sua testa colocou uma grinalda de mirto e rosas. Então Hermes falou num tom respeitoso:
– Oh, Ninfa de tez mais branca que as irmãs de cabelos dourados de Siene, ou que mulheres que habitam o firmamento de Atlântida, amada por Afrodite e abençoada por Palas, vós descobristes realmente o segredo dos Deuses, que encontra-se na beleza e na poesia. Oh, profetiza mais querida que a Sibila de Cuma quando Apolo encontrou-a pela primeira vez, vós falastes verdadeiramente de uma nova era, pois mesmo agora em Mênalo, o Pã suspira e se espreguiça no seu sono, desejando acordar e contemplar à sua volta as faunas pequenas com suas coroas de rosas e os sátiros antigos. Na sua ânsia vós descobristes o que nenhum mortal, salvo apenas uns poucos que são rejeitados pelo mundo, lembra-se: os deuses nunca morreram, estavam apenas dormindo o sono e sonhando os sonhos dos deuses em jardins hespéricos tomados de lótus e que ficam além do pôr do sol dourado.
“E agora se aproxima o momento do seu despertar, quando a frieza e a feiúra vão perecer, e Zeus vai sentar-se uma vez mais no Olimpo. O mar em torno de Pafos já se agita espumante de uma forma que só os céus antigos testemunharam, e à noite em Hélicon os pastores ouvem murmúrios estranhos e notas meio esquecidas. As matas e os campos ficam trêmulos no crepúsculo com o bruxulear de formas brancas e saltantes, já o oceano imemorial produz visões singulares sob a luz de luas delgadas. Os deuses são pacientes e dormiram bastante, mas nem um homem e nem um gigante poderiam desafiá-los para sempre. No Tártaro os Titãs estão se retorcendo, e, sob o Etna abrasador, os filhos de Urano e Gaia estão padecendo. O dia que o homem terá de responder por séculos de negação está para nascer, mas os deuses tornaram-se mais dóceis no sono e não vão jogá-los no abismo feito para os incrédulos. Em vez disso, sua vingança vai punir a escuridão, a mentira e a feiúra, que viraram a cabeça do homem; e sob a influência desse Saturno com barba, ao sacrificar-se diante dele os mortais vão viver em meio à beleza e ao prazer uma vez mais. Essa noite eles saberão dos privilégios concedidos pelos deuses, e vão contemplar no Parnaso aqueles sonhos que os deuses enviaram através das eras para a terra para mostrar que eles não estão mortos. Pois os poetas são os sonhos dos deuses, e em cada uma e em todas as eras alguém entoou sem saber a mensagem e a promessa dos jardins de lótus que ficam além do pôr do sol.”
Então Hermes carregou a donzela sonhadora céu afora nos seus braços. Brisas suaves vindo da torre de Éolo fizeram com que flutuassem bem acima dos mares cálidos e fragrantes, até encontrarem Zeus de repente em plena corte no Parnaso de duas cabeças. Estava em seu trono dourado flanqueado por Apolo e as Musas do seu lado direito, e por Dionísio com sua coroa de heras e Baco com as faces rubras de prazer do seu lado esquerdo. Márcia nunca vira tanto esplendor em sua vida, seja acordada ou em sonhos, mas esse fulgor não lhe fez mal, como o faria o fulgor do Olimpo nas alturas; pois nessa corte menor o Pai dos Deuses havia moderado as suas glórias para a visão dos mortais. Diante da entrada da caverna Corícia ornada por uma coroa de louros sentavam-se numa fileira seis figuras nobres com o aspecto de mortais, mas com os semblantes de deuses. Esses a sonhadora reconheceu das imagens que já havia contemplado, e sabia que eram ninguém mais do que o divino Meônio, o diabólico Dante, o mais do que mortal Shakespeare, o explorador do caos Milton, o cósmico Goethe e o adorador de musas Keats. Esses eram os mensageiros que os Deuses haviam enviado para dizer aos homens que o Pã não havia desaparecido, mas que estava apenas dormindo; pois é na poesia que os Deuses falam com os homens. Então falou o Júpiter Tonante:
– Oh, Filha, pois, sendo uma da minha infinita linhagem, vós sois de fato minha filha, contemplais sobre tronos de honra em marfim os augustos mensageiros que os deuses enviaram para baixo, para que nas palavras e na escrita dos homens possa ainda haver algum traço da beleza divina. Os homens já coroaram com justiça outros bardos com láureas duradouras, mas estes foram coroados por Apolo, e estes eu coloquei em locais distantes, enquanto mortais que falaram a língua dos deuses. Há muito que nós sonhamos nos jardins de lótus além do Oeste, e falamos somente por meio dos nossos sonhos; mas a hora chegou para que as nossas vozes não fiquem mais em silêncio. Chegou a hora do despertar e da mudança. Uma vez mais Faetonte dá um rasante, crestando os campos e secando os riachos. Em Gaul as ninfas solitárias e descabeladas choram ao lado das fontes que não existem mais, e os pinheiros junto aos rios ficaram vermelhos com o sangue dos mortais. Ares e o seu trem seguiram adiante com a loucura dos deuses e voltaram Deimos e Phobos empanzinados de prazer. Terra vaga sem destino na sua dor, e os rostos dos homens são os rostos das Fúrias, mesmo quando Astréia voou para os céus, e as ondas da nossa despedida varreram todas as terras salvo esse pico alto solitário. Nesse mesmo instante e em meio a esse caos, preparado para proclamar a sua vinda e ao mesmo tempo esconder a sua chegada, está trabalhando um mensageiro nosso, recém-nascido, em cujos sonhos estão todas as imagens que os outros mensageiros sonharam antes dele. Ele foi o escolhido para misturar toda a beleza que o mundo já conheceu num todo glorioso e escrever as palavras que vão ecoar toda a sabedoria e a graça do passado. Ele é quem vai proclamar a nossa volta e cantar sobre os dias que virão quando os faunos e as dríades vão infestar seus bosques habituais com a sua beleza. A nossa escolha foi guiada por aqueles que se sentam diante da gruta corícia sobre os tronos de marfim e em cujas melodias você vai ouvir os tons de grandiosidade por meio dos quais vós reconhecereis daqui a alguns anos o mensageiro maior quando este vier. Preste atenção nas suas vozes quando um a um eles cantarem para vós. Cada nota ouvireis novamente na poesia que está por vir, a poesia que trará a paz e o prazer para a vossa alma, apesar de que procurareis por ela através de anos de escuridão. Prestai atenção com cuidado, pois cada corda que vibra e desaparece vai tornar a aparecer-vos após o vosso retorno à terra, como Alfeu, submergindo suas águas na alma da Hélade, aparece como cristal Aretusa na remota Sicília.
Então Homero pôs-se de pé, o mais antigo entre os bardos, pegou a lira e entoou seu hino para Afrodite. Márcia não sabia uma palavra em grego, entretanto a mensagem não caiu em vão sobre os seus ouvidos, pois no ritmo enigmático estava aquilo que falava para todos os mortais e os deuses, e não era preciso um intérprete.
Da mesma forma ocorreu com versos de Dante e Goethe, cujas palavras desconhecidas fenderam o espaço celeste com melodias fáceis de se ler e venerar. Mas por fim sotaques conhecidos ressoaram diante da ouvinte. Era o Poeta de Avon, certa feita um deus em meio aos homens, e ainda um deus em meio aos deuses:
Escreva, escreva para que do curso sangrento da guerra,
Meu queridíssimo mestre, seu filho querido possa se afastar;
Abençoe-o no lar em paz, enquanto eu, de longe,
Santifico seu nome com zelo fervoroso.[2]
Sotaques ainda mais familiares foram ouvidos quando Milton, que deixara de ser cego, declamou os seus versos imortais:
Ou deixe que a tua lamparina à hora da meia-noite
Seja vista em alguma torre alta e solitária,
Onde eu pudesse ficar além do ocaso da Ursa Maior
Com o triplamente grande Hermes, ou trazer das esferas
O espírito de Platão, para descobrir
Que mundos ou que vastas regiões mantém
A mente imortal, que renunciou
À sua mansão nesse recanto carnal.[3]
* * * * *
Alguma vez deixe a tragédia esplêndida
Na patena com um cetro passar arrebatadora,
Apresentando Tebas, ou a linhagem de Pelopo
Ou a história da divina tróia.[4]
Por fim ouviu-se a voz jovem de Keats, o mais próximo de todos os mensageiros do belo povo dos faunos:
Melodias ouvidas são doces, mas as não ouvidas
São mais doces; portanto, flautas ainda doces, sigam tocando...[5]
* * * * *
Quando a idade avançada essa geração descartar,
Vós ficareis, em meio a outros infortúnios
Do que os nossos, um amigo para o homem, a quem vós dizeis
“Beleza é verdade – verdade beleza” – isso é tudo
Que vós sabeis na terra, e tudo que necessita saber.[6]
Quando o declamador parou, ouviu-se um ruído no vento que vinha do distante Egito, onde Aurora pranteia à noite na beira do Nilo pelo seu Menão assassinado. Aos pés do Júpiter Tonante voou a deusa com seus dedos róseos e ajoelhando-se, exclamou:
– Mestre, é chegada a hora de eu destrancar os Portões do Leste.
Assim Febo, passando a lira para Calíope e com sua noiva entre as Musas, preparou-se para partir na direção do Palácio do Sol adornado com suas jóias e colunas, pois os corcéis já se impacientavam atrelados à carruagem do Dia. Então Zeus desceu do trono entalhado e colocou a mão sobre a cabeça de Márcia e disse:
– Filha, o amanhecer se aproxima, e é bom que retorneis antes do despertar dos mortais para a sua casa. Não choreis com a escuridão da vossa vida, pois a sombra das crenças falsas logo deixará de existir e os deuses caminharão de novo em meio aos homens. Procurai então incessantemente pelo nosso mensageiro, pois nele encontrareis a paz e o bem-estar. Com suas palavras vossos passos serão guiados para a felicidade, e nesses sonhos de beleza vosso espírito encontrará o que ansiava.
Quando Zeus terminou, o jovem Hermes pegou a donzela delicadamente nos braços e a carregou na direção das estrelas que se apagavam, para o alto e na direção oeste sobre os mares invisíveis.
* * *
Muitos anos se passaram desde que Márcia sonhou com os Deuses e com o seu conclave no Parnaso. Hoje à noite ela está sentada na mesma sala de estar espaçosa, mas não está sozinha. O velho espírito de insatisfação é passado, pois ao seu lado está um cujo nome cintila com sua celebridade: o jovem poeta dos poetas que tem o mundo inteiro aos seus pés. Ele está lendo de um manuscrito palavras que ninguém ouviu antes, mas quando forem ouvidas vão levar aos homens os sonhos e as fantasias que eles perderam tantos séculos atrás, quando Pã deitou-se para cochilar em Arcádia, e os grandes Deuses retiraram-se para dormir nos jardins de lótus além das terras dos hespéricos. Nas cadências sutis e nas melodias escondidas do bardo o espírito da donzela encontrara finalmente descanso, pois lá ecoavam as notas mais divinas do Orfeu Trácio, as notas que comoveram as próprias rochas e as árvores à margem do Hebrus. O declamador pára e pede ansioso uma opinião, mas o que Márcia pode dizer além de que seu estilo é “talhado para os deuses?”.
E quando ela falou sobrevieram novamente uma visão do Parnaso e o som distante de uma voz poderosa dizendo: “Com suas palavras seus passos serão guiados para a felicidade, e nesses sonhos de beleza seu espírito encontrará o que ansiava”.
A rua
Existem pessoas que dizem que as coisas e os lugares têm almas e existem aquelas que dizem que não; não me atrevo a dar uma opinião, mas vou contar-lhes da Rua.
Homens fortes e honrados construíram aquela Rua: homens bravos e de valor com o nosso sangue e oriundos das Ilhas Abençoadas do outro lado do mar. Primeiramente ela era apenas um caminho trilhado pelos carregadores de água que vinham da fonte na mata até o aglomerado de casas na beira da praia. Então, à medida que mais homens chegavam a esse aglomerado cada vez maior de casas e procuravam por lugares para viver, eles construíram suas cabanas na margem ao norte, com troncos sólidos de carvalho e muros de pedra no lado que dava para a floresta, pois muitos índios se escondiam nela com seus arcos e flechas. E poucos anos depois, já eram construídas cabanas ao sul da Rua.
Homens sérios com chapéus cônicos e na maioria das vezes armados com mosquetes ou espingardas de caça caminhavam para cima e para baixo na Rua. E tinham também suas esposas usando toucados e suas crianças ajuizadas. De noite esses homens, com suas esposas e filhos, sentavam em torno de lareiras gigantescas para ler e conversar. As coisas que eles liam e conversavam eram muito simples, entretanto eram coisas que lhes davam coragem e bondade e os ajudavam a dominar a floresta e cultivar os campos durante o dia. E as crianças ouviam e aprendiam as leis e os feitos dos velhos tempos, e da querida Inglaterra que elas nunca tinham visto ou podiam se lembrar.
Houve uma guerra, e depois dela os índios não incomodaram mais a Rua. Os homens, ocupados com o trabalho, tornaram-se prósperos e tão felizes quanto lhes era possível. E as crianças cresceram com conforto, e mais famílias vieram da Pátria-Mãe para viver na Rua. E os filhos dos filhos, e os filhos dos recém-chegados, cresceram. A vila era agora uma cidade, e uma a uma as cabanas deram lugar para casas – casas simples, bonitas, de tijolos e madeira, com degraus de pedra e corrimãos de ferro e bandeiras sobre as portas. E não eram construções frágeis essas casas, pois tinham sido construídas para abrigar muitas gerações. Dentro delas as vigas eram entalhadas e as escadas eram graciosas, assim como tinham uma mobília sensível e agradável. As porcelanas e a prataria eram trazidas da Pátria-Mãe.
Então a Rua bebia dos sonhos dos jovens e exultava à medida que seus moradores se tornavam mais elegantes e felizes. Onde um dia existira somente força e honra, agora também subsistiam o bom gosto e a educação. Os livros, as pinturas e a música chegaram nas casas, e os jovens foram para a universidade que foi erguida na planície ao norte. No lugar de chapéus cônicos e espadas curtas, das rendas e das perucas brancas, havia pedras de calçamento sobre as quais passavam ruidosamente vários cavalos de raça e carruagens douradas, e calçadas com poiais para montar nos cavalos e postes para amarrá-los.
Naquela Rua havia muitas árvores: olmos, carvalhos e bordos nobres; de maneira que no verão a vista era tomada pelo verdor suave e pelo gorjeio dos pássaros. E na parte de trás das casas havia canteiros de rosas com caminhos de cercas vivas e relógios de sol, onde a lua e as estrelas de noite brilhavam encantadoramente enquanto as florações perfumadas cintilavam com o orvalho.
De maneira que a Rua seguiu sonhando, deixando para trás guerras, calamidades e mudanças. Certa feita a maioria dos jovens partiu, e alguns nunca voltaram. Isso foi quando eles enrolaram a velha bandeira e colocaram um pavilhão novo com listas e estrelas. Mas, apesar de os homens falarem de grandes mudanças, a Rua não as sentia, pois a sua gente ainda era a mesma, falando sobre os velhos assuntos familiares com os velhos sotaques familiares. E as árvores ainda abrigavam os pássaros cantantes, e de noite a lua e as estrelas olhavam para as florações orvalhadas nos canteiros de rosas.
Chegou o dia que não havia mais espadas, chapéus de três pontas ou perucas nas ruas. Como pareciam estranhos os habitantes com as suas bengalas, cartolas altas e cabelos cortados! Novos sons vinham de longe – primeiro jatos de vapor estranhos e ruídos estridentes do rio a uma milha de distância, e então, muitos anos depois, jatos de vapor estranhos e ruídos estridentes de todas as direções. O ar não era mais tão puro como antes, mas o espírito do lugar não mudara. O sangue e a alma dos seus ancestrais tinham moldado a Rua. O seu espírito também não mudou quando rasgaram a terra para colocar canos estranhos, ou quando ergueram postes altos sustentando fios esquisitos. Havia tanta erudição antiga naquela Rua que o passado não poderia ser facilmente esquecido.
Então vieram os dias do mal, quando muitos que tinham conhecido a Rua dos velhos tempos não a reconheciam mais, e muitos que sabiam como ela fora um dia apesar de não a terem conhecido, foram embora, pois os rostos e o aspecto da gente que passara a morar nela eram desagradáveis, com um sotaque ordinário e estridente. Os seus pensamentos também entraram em conflito com o espírito sábio e justo da Rua, de maneira que a Rua definhou silenciosamente enquanto as suas casas entravam em decadência e as árvores morriam uma depois da outra, e seus canteiros de rosas eram infestados pelas ervas daninhas e o lixo. Mas um dia ela se agitou orgulhosa quando os jovens marcharam para longe de novo, dessa vez usando uniformes azuis. Alguns nunca voltaram.
Com o passar dos anos, um destino pior abateu-se sobre a Rua. Ela já não tinha mais árvore alguma e seus canteiros de rosas foram substituídos pelos fundos de prédios novos, baratos e feios, construídos em ruas paralelas. Mesmo assim as casas continuaram a existir, apesar do estrago dos anos, das tempestades e dos vermes, afinal elas tinham sido construídas para abrigar muitas gerações. Novos tipos de rostos apareceram na Rua, rostos sinistros e morenos, com olhos furtivos e traços esquisitos, cujos donos falavam palavras estranhas e colocavam sinais com grafias conhecidas e desconhecidas na maioria das casas mofadas. As carrocinhas de ambulantes enchiam as sarjetas, e um mau cheiro sórdido e indefinível pairava sobre o lugar enquanto o espírito antigo dormia.
Então uma grande agitação ocorreu certa feita na Rua. A guerra e a revolução grassavam além dos mares; uma dinastia havia entrado em colapso, e os seus súditos degenerados estavam afluindo com intenções suspeitas para as Terras a Oeste. Muitos desses alugaram quartos nas casas arruinadas que outrora conheciam os cantos dos pássaros e a fragrância das rosas. Então as próprias Terras a Oeste acordaram e juntaram-se à Pátria-Mãe na sua luta titânica pela civilização. A velha bandeira tremulou mais uma vez sobre as cidades, acompanhada pela nova bandeira e por uma tricolor mais simples, mas gloriosa. Mas não havia muitas bandeiras hasteadas na Rua, pois lá só o que incubava era o medo, o ódio e a ignorância. Mais uma vez os jovens foram para longe, mas não exatamente como os jovens de outras épocas. Faltava alguma coisa. E os filhos desses jovens de outras épocas, que realmente partiram nos seus uniformes verde-oliva com o verdadeiro espírito dos seus ancestrais, partiram de lugares distantes e não conheciam a Rua e o seu espírito antigo.
Além dos mares houve uma grande vitória e a maioria desses jovens retornou em triunfo. Para aqueles a quem ainda faltava algo, agora não faltava mais, entretanto o medo, o ódio e a ignorância seguiam incubando na Rua; pois muitos tinham ficado para trás, e muitos estranhos tinham vindo de lugares distantes para as casas antigas. E os jovens que haviam retornado não viviam mais lá. A maioria dos estranhos era morena e sinistra, no entanto, entre eles era possível encontrar uns poucos rostos como aqueles que tinham formado a Rua e moldado o seu espírito. Parecidos e todavia diferentes, pois havia nos olhos de todos um brilho esquisito e doentio como se de ganância, ambição, vingança ou um zelo irracional. A inquietação e a traição estavam disseminadas em meio a um punhado diabólico deles, que tramavam aplicar um golpe mortal nas Terras a Oeste, para que pudessem chegar ao poder sobre as suas ruínas, da mesma forma que os assassinos tinham feito naquelas terras infelizes e congeladas de onde a maioria deles tinha vindo. E o coração dessa conspiração estava na Rua, cujas casas em ruínas formigavam com estrangeiros semeadores da discórdia e ecoavam com planos e discursos daqueles que ansiavam pelo dia combinado para o sangue, as chamas e o crime.
Sobre as várias assembléias esquisitas que ocorriam na Rua, a lei dizia muito, mas conseguia provar pouco. Com grande perseverança os policiais à paisana deixavam-se ficar para trás e prestavam atenção à sua volta em lugares como a Padaria Petrovitch, a sórdida Escola Rifkin de Economia Moderna, o Clube Círculo Social e o Café Liberdade. Ali se congregavam homens sinistros em grandes números, contudo falavam sempre comedidamente ou numa língua estrangeira. E mesmo assim as casas velhas permaneciam de pé, com a sua erudição esquecida de séculos passados mais nobres, de colonos vigorosos e canteiros de rosas orvalhados na luz do luar. Algumas vezes um poeta ou um viajante solitário vinha para vê-los e tentava imaginá-los na sua glória desaparecida; entretanto, não havia muitos desses viajantes e poetas.
O rumor agora se espalhara por todos os lugares de que essas casas continham os líderes de um bando enorme de terroristas, que num dia escolhido iriam promover uma orgia de carnificina para o extermínio da América e de todas as boas e velhas tradições que a Rua amara. Panfletos e papéis voavam com o vento pelas sarjetas imundas; panfletos e papéis impressos em muitas línguas e em muitas grafias, entretanto todos traziam mensagens de crime e rebelião. Nessas escritas as pessoas eram incitadas a esquecer as leis e as virtudes que os nossos pais haviam exaltado, a fim de esmagar a alma da velha América – a alma que deixara um legado para a posteridade através mil e quinhentos anos de liberdade, justiça e equilíbrio anglo-saxão. Dizia-se que os homens morenos que viviam na Rua e congregavam nos seus prédios em ruínas eram os cérebros de uma revolução hedionda, e com a sua palavra de comando vários milhões de animais desmiolados e embriagados iriam botar para fora dos cortiços de mil cidades suas garras repulsivas, queimando, matando e destruindo até que a terra dos nossos pais deixasse de existir. Tudo isso foi dito e repetido, e muitos olhavam aterrorizados para o quarto dia do mês de julho próximo, dia que os escritos estranhos tinham insinuado tanto a respeito; entretanto nada foi encontrado para incriminar alguém. Ninguém sabia dizer exatamente qual prisão poderia cortar essa conspiração pela raiz. Bandos de policiais de casacas azuis fizeram várias buscas nas casas caindo aos pedaços, até que por fim deixaram de aparecer, pois tinham se cansado da lei e da ordem, e abandonaram a cidade ao seu destino. Então os homens de uniforme verde-oliva apareceram com seus mosquetes. Parecia até que a Rua estava vivendo no seu sono triste algum sonho que a atormentara em épocas passadas, quando homens de chapéus cônicos e armados com mosquetes caminhavam nela vindos da fonte na mata em direção ao aglomerado de casas na beira da praia. Mas nada podia ser feito para impedir o cataclismo iminente, pois os homens morenos e sinistros eram velhacos experientes.
Então a Rua seguiu no seu sono apreensivo, até que uma noite vastas hordas de homens cujos olhos se arregalavam com uma expectativa e um triunfo terríveis juntaram-se na Padaria Petrovitch, na Escola Rifkin de Economia Moderna, no Clube do Círculo Social e no Café Liberdade, e em outros lugares também. Por meio de cabos escondidos viajavam mensagens estranhas, e muito se falou de mensagens mais estranhas ainda que estavam por viajar; mas a maior parte desses fatos não foram percebidos até mais tarde, quando as Terras a Oeste estavam seguras do perigo. Os homens de uniforme verde-oliva não sabiam dizer o que estava acontecendo, ou o que eles deviam fazer; pois os homens morenos e sinistros eram peritos na sutileza e na dissimulação.
E mesmo assim os homens de uniforme verde-oliva vão lembrar para sempre daquela noite e vão falar da Rua do mesmo jeito que falam dela para os seus netos; pois muitos deles foram mandados para lá no amanhecer para uma missão diferente da que esperavam. Era sabido que este ninho de anarquia era antigo e que as casas estavam caindo com os estragos dos anos, das tempestades e dos vermes; entretanto o acontecimento daquela noite de verão foi uma surpresa devido à sua estranha uniformidade. Foi de fato algo incrivelmente peculiar, embora, no fim das contas, não tenha passado de um acontecimento simples. Pois sem aviso algum, na madrugada, todos os estragos dos anos, das tempestades e dos vermes chegaram a um clímax extraordinário; e após o desabamento, nada mais ficara de pé na Rua, salvo duas chaminés antigas e parte de um sólido muro de tijolos. Tampouco nada que fora vivo um dia saíra vivo das ruínas. Um poeta e um viajante que vieram junto com uma multidão enorme para explorar a cena têm histórias esquisitas para contar. O poeta diz que contemplou indistintamente as ruínas imundas até o amanhecer sob o clarão dos holofotes, e que outro quadro se avultava acima da destruição, onde ele podia descrever a luz do luar, as casas límpidas e os olmos, os carvalhos e os bordos nobres. E o viajante diz que, em vez do mau cheiro costumeiro do lugar, pairava sobre ele uma fragrância delicada como se de rosas em plena floração. Mas e os sonhos dos poetas e as histórias dos viajantes não são notoriamente falsos?
Existem aqueles que dizem que as coisas e os lugares têm almas, e existem aqueles que dizem que não; não me atrevo a dar uma opinião, mas lhes contei a história da Rua.
A transição de Juan Romero
Dos eventos que ocorreram na Mina Norton nos dias 18 e 19 de outubro de 1894, não tenho vontade de falar. Um sentido de dever para com a ciência é tudo o que me impele a relembrar, nos últimos anos da minha vida, as cenas e os acontecimentos carregados de um terror duplamente agudo, pois não consigo defini-lo por completo. Mas antes de morrer acredito que deveria contar o que eu sei sobre a, digamos, transição de Juan Romero.
Meu nome e origem não precisam ser registrados para a posteridade; na realidade, acredito que é melhor que não sejam, pois quando um homem subitamente migra para os Estados ou para as Colônias ele deixa o seu passado para trás. Além disso, o que eu fui um dia não é de forma alguma relevante para minha narrativa; salvo talvez o fato de que durante meu serviço na Índia eu ficava mais à vontade em meio aos professores nativos com suas barbas brancas do que com meus irmãos oficiais. Não foi pouco o que já tinha me aprofundado nos estudos da singular erudição oriental quando fui surpreendido pelas calamidades que levaram à minha vida nova no vasto Oeste Norte-Americano – uma vida na qual achei por bem aceitar um nome – meu nome atual, que é bastante comum e não carrega significado algum.
No verão e no outono de 1894 vivi nas vastidões melancólicas das Montanhas Cactus, empregado como um trabalhador comum na célebre Mina Norton, cuja descoberta por um velho garimpeiro alguns anos antes havia transformado a região próxima de um despovoado ermo num caldeirão fervilhando de vida ignóbil. Uma caverna de ouro que se encontrava nas profundezas abaixo de um lago de montanha enriquecera o seu descobridor muito além dos seus sonhos mais desvairados e agora era o sítio das amplas operações em túneis por parte da corporação para a qual ela fora finalmente vendida. Grutas adicionais haviam sido encontradas, e a produção do metal amarelo era extraordinariamente grande, de maneira que um exército enorme e heterogêneo de mineiros mourejava dia e noite nas numerosas galerias e buracos na pedra. O superintendente, um sr. Arthur, seguidamente discutia a singularidade das formações geológicas, especulando sobre a provável extensão da cadeia de cavernas e estimando o futuro dos empreendimentos titânicos de mineração. Ele considerava as cavidades auríferas como sendo o resultado da ação da água e acreditava que a última delas logo seria escavada.
Não foi muito depois da minha chegada e contratação que Juan Romero veio parar na Mina Norton. Integrante de um bando enorme de mexicanos rudes atraídos para lá vindos do país vizinho, ele chamou a atenção primeiro somente pelos seus traços, que apesar de serem claramente do tipo de um índio pele-vermelha eram, entretanto, extraordinários por sua cor clara e conformação refinada, sendo muito diferente daqueles do “chicano” médio ou do Piute da localidade. O curioso era que, apesar de diferir tanto da massa de índios hispânicos e tribais, Romero não dava a menor impressão de ter sangue caucasiano. Ele não tinha o sangue do conquistador Castelhano, nem do pioneiro norte-americano, mas do Asteca antigo e nobre, que a imaginação trazia à lembrança quando o peão silencioso levantava de manhã cedo e olhava fascinado para o sol à medida que este se deslocava gradativamente acima dos montes a leste. Então ele esticava os braços na direção da esfera como se num rito cuja natureza nem ele compreendia. Mas, tirando seu rosto, Romero não sugeria nobreza de forma alguma. Ignorante e sujo, ele estava em casa em meio aos outros mexicanos morenos, tendo vindo da região mais pobre próxima dali (fato que me foi contado depois). Ele fora encontrado criança numa cabana de montanha feita de barro, sendo o único sobrevivente de uma epidemia que se espalhara mortalmente à sua volta. Perto da cabana, junto a uma fenda um tanto incomum na pedra, encontravam-se dois esqueletos recém-atacados pelos abutres e que eram presumivelmente o que restara dos seus pais. Ninguém lembrava dos nomes deles e logo foram esquecidos pelos outros, pois o desabamento da cabana de adobe e o fechamento da fenda na rocha por uma avalanche posterior realmente haviam ajudado a apagar até a cena da lembrança. Criado por um ladrão de gado mexicano que lhe dera o nome, Juan diferia pouco dos seus pares.
A ligação que Romero manifestou em relação à minha pessoa começou sem dúvida alguma por meio do anel hindu exótico e antigo que eu usava quando não estava envolvido no trabalho. Da sua natureza e como veio parar nas minhas mãos, não posso falar. Foi meu último vínculo com um capítulo da minha vida que se encerrou para sempre, e eu o tinha em altíssima estima. Logo observei que o mexicano de aparência estranha também se interessava por ele e o olhava com uma expressão que afastava qualquer suspeita de se tratar de mera cobiça. Os seus hieróglifos veneráveis pareciam estimular alguma lembrança tênue na sua mente inculta mas curiosa, embora fosse impossível que tivesse contemplado algo parecido antes. Em poucas semanas após a sua chegada, Romero era como um criado fiel para mim; isso apesar de eu mesmo ser apenas um garimpeiro comum. Nossa conversação era necessariamente limitada. Ele sabia apenas algumas poucas palavras de inglês, enquanto deu para perceber que meu espanhol de Oxford era algo um tanto diferente do dialeto dos peões da Nova Espanha.
O evento que estou prestes a contar não foi precedido por grandes presságios. Apesar de o homem Romero ter-me interessado e apesar do meu anel tê-lo afetado especialmente, acredito que nenhum de nós dois fazia idéia alguma do que estava para acontecer quando ocorreu a grande explosão. Considerações geológicas haviam pedido uma ampliação da mina diretamente abaixo da parte mais profunda da área subterrânea; e a crença do superintendente de que se encontraria somente uma rocha sólida levou à colocação de uma carga prodigiosa de dinamite. Romero e eu não tínhamos nenhuma ligação com este trabalho, razão pela qual o nosso conhecimento sobre as circunstâncias extraordinárias que tinham ocorrido vieram dos outros. A carga, mais pesada talvez do que fora estimado, parece ter sacudido a montanha inteira. As janelas dos barracos na encosta do lado de fora estilhaçaram com o choque, enquanto os mineiros por todas as galerias próximas foram derrubados no chão. O lago Jewel, que ficava em cima da cena da ação, ficou ondulado como se num temporal. Ao investigarem o local, viu-se que um novo abismo escancarara-se infinitamente abaixo do sítio da explosão; um abismo tão monstruoso que uma corda que estava à mão não conseguia mensurá-lo e nem uma lanterna conseguia iluminá-lo. Desconcertados, os escavadores pediram uma reunião com o superintendente, que ordenou que uma metragem enorme de cordas fosse levada até o poço e, amarrando as pontas de uma corda na outra, fosse baixada sem parar até que se descobrisse um fundo.
Logo em seguida os trabalhadores pálidos notificaram o superitendente do seu fracasso. Firmemente, mas com respeito, eles exprimiram a sua recusa de voltar à fenda ou realmente trabalhar mais na mina até que ela fosse fechada. Algo além da sua experiência evidentemente os estava confrontando, pois até onde eles podiam avaliar o abismo era infinito. O superintendente não os censurou. Em vez disso, refletiu profundamente e fez planos para o dia seguinte. O turno da noite não entrou na mina.
Às duas da manhã, um coiote solitário na montanha começou a uivar sinistramente. De algum lugar dentro da área de trabalho um cão latiu em resposta; seja para o coiote, ou para outra coisa. Uma tempestade estava se formando em torno dos picos da cadeia de montanhas, e nuvens com formatos estranhos eram impelidas horrivelmente pelo vento, passando um trecho manchado pela luz celestial que marcava as tentativas de uma lua crescente de brilhar através das várias camadas do vapor cirro-estrato. Foi a voz de Romero, vinda do beliche acima, que me acordou. Era uma voz excitada e tensa com alguma expectativa vaga que eu não conseguia compreender:
– Madre de Dios! El sonido, ese sonido, orga! Lo oyte? Señor, ESSE SOM!
Eu prestei atenção, perguntando-me de que som ele estava falando. O coiote, o cachorro e a tempestade eram todos audíveis; a tempestade a essa altura preponderava sobre os outros à medida que o vento silvava mais e mais furiosamente. Flashes dos raios eram visíveis através da janela do barracão. Questionei o mexicano nervoso repetindo os sons que ouvira:
– El coyote? El perro? El viento?
Mas Romero não respondeu. Então começou a sussurrar como se maravilhado:
– El ritmo, señor, el ritmo de la tierra, ESSA VIBRAÇÃO ABAIXO DA TERRA!
E agora eu também ouvi; ouvi e arrepie-me sem saber por quê. Bem abaixo, mas bem abaixo, havia um som – um ritmo, como o peão dissera – que, apesar de incrivelmente débil, ainda assim dominava até o cachorro, o coiote e a tempestade crescente. Não fazia sentido tentar descrevê-lo – pois ele era de tal forma que nenhuma descrição era possível. Talvez ele fosse como o pulsar das máquinas no recanto mais profundo de um grande navio cruzeiro ao percebê-lo do convés, entretanto ele não era tão mecânico, nem tão desprovido de um elemento de vida e consciência. De todas as suas qualidades, a sua distância para dentro da terra era o que mais me impressionava. Na minha mente passaram voando os fragmentos de uma frase de Joseph Glanvil que Poe citava com um efeito tremendo[7]:
– “... a vastidão, a profundidade, o caráter inescrutável do seu trabalho, que tem uma profundidade nele maior do que o poço de Demócrito.”
De repente Romero saltou do beliche, parando diante de mim para mirar atentamente o anel esquisito na minha mão e que cintilava estranhamente a cada flash dos raios, e então olhou fixamente na direção do poço da mina. Também me levantei e ambos ficamos parados sem nos mover por um tempo, forçando os ouvidos à medida que o ritmo misterioso parecia assumir cada vez mais uma qualidade vital. Então sem uma vontade aparente começamos a caminhar na direção da porta, cujo estrépito na ventania passava uma sugestão confortante de realidade terrena. O canto de salmos nas profundezas – pois esse era o som que ele parecia ser – cresceu em volume e clareza; e nos sentimos irresistivelmente incitados a sair para a tempestade e daí para a escuridão da fenda do poço.
Não encontramos nenhuma criatura viva, pois os homens do turno da noite haviam sido dispensados do trabalho, e estavam sem dúvida alguma no povoado Dry Gulch despejando rumores sinistros no ouvido de algum barman sonolento. Da cabana do vigia, entretanto, brilhava um quadro pequeno de luz amarela como o olho de um guardião. Perguntei-me vagamente como o som rítmico afetara o vigia; mas Romero caminhava mais rapidamente agora, e eu o segui sem parar.
Quando descemos o poço, o som abaixo se tornou cada vez mais complexo. Ele me pareceu terrivelmente como um tipo de cerimônia oriental, com as batidas de tambores e o canto de muitas vozes. Eu estivera, como você já sabe, muito tempo na Índia. Romero e eu seguíamos sem hesitar através das galerias e descendo as escadas, cada vez mais próximos da coisa que nos fascinava, no entanto sempre deploravelmente desamparados, temerosos e relutantes. Num determinado momento, achei que tinha enlouquecido – isso foi quando, ao perguntar-me como nosso caminho estava iluminado na ausência de uma lanterna ou uma vela, percebi que o anel antigo no meu dedo brilhava com um fulgor sinistro, propagando um brilho descorado através do ar pesado e úmido à nossa volta.
Foi sem um aviso que Romero, após descer com a ajuda dos pés e das mãos uma das escadas largas, começou a correr e deixou-me sozinho. Algum tom novo e desvairado na batida dos tambores e no canto dos salmos, que eu percebia ligeiramente, o havia influenciado de uma maneira assustadora; e com um grito fora de si ele tomou a dianteira na corrida, mesmo estando desorientado com a escuridão da caverna. Eu ouvia os gritos estridentes que se repetiam à minha frente na medida em que ele tropeçava desajeitado pelos lugares com seus desníveis e descia enlouquecido com a ajuda das mãos pelas escadas perigosas. E mesmo assustado como eu estava, ainda assim mantive o suficiente da minha percepção para observar que a sua fala, quando articulada, não era de nenhum tipo conhecido por mim. Polissílabas ríspidas mas impressionantes haviam substituído a sua cominação costumeira de espanhol ruim e inglês pior ainda, e desses, apenas o grito seguidamente repetido de “Huitzilopotchli” parecia familiar. Mais tarde atribuí indiscutivelmente essa palavra aos trabalhos de um grande historiador[8] – e senti um arrepio quando a associação me ocorreu.
O clímax daquela noite terrível foi complicado, mas relativamente breve, começando assim que eu cheguei na última caverna da jornada. Da escuridão imediatamente à minha frente irrompeu um guincho final do mexicano, que se associou a um estranho coro de sons que eu jamais poderia ouvir novamente e sobreviver a isso. Naquele momento, parecia que todos os terrores e monstruosidades escondidos da terra tinham se tornado articulados num esforço para subjugar a raça humana. Simultaneamente a luz do meu anel extinguiu-se, e vi uma luz nova brilhando do espaço abaixo alguns metros à minha frente. Eu chegara no abismo, que incandescia vermelho agora e que evidentemente engolira Romero. Avançando, espiei sobre a beira daquele abismo que nenhuma corda conseguia mensurar e que agora era um pandemônio de chamas bruxuleantes e uma comoção hedionda. Num primeiro momento, não contemplei nada a não ser uma mancha agitada de luminosidade; mas então formas, todas infinitamente distantes, começaram a destacar-se da confusão, e vi – seria Juan Romero? – mas por Deus! Não tenho coragem de dizer o que vi! Algum poder dos céus, vindo para minha ajuda, apagou essa visão e os sons numa batida que poderia ser ouvida como se dois universos tivessem colidido no espaço. Sobreveio o caos, e reconheci a paz do esquecimento.
Eu mal sei como continuar, já que condições tão singulares estão envolvidas; mas vou fazer o melhor que posso, nem mesmo tentando distinguir entre o real e o aparente. Quando acordei, estava seguro no meu beliche, e o brilho avermelhado do amanhecer era visível na janela. Alguns metros adiante o corpo sem vida de Juan Romero encontrava-se estendido sobre uma mesa, cercado por um grupo de homens, incluindo o médico do campo. Os homens estavam discutindo a estranha morte de um mexicano enquanto ele dormia; uma morte aparentemente ligada de alguma forma com a descarga terrível do raio que caiu e sacudiu a montanha. Nenhuma causa direta era evidente, e uma autópsia não conseguiu mostrar qualquer razão para que Romero não estivesse vivo. Fragmentos que ouvi da conversa indicavam além de qualquer dúvida que nem Romero e nem eu havíamos deixado o barracão durante a noite; que nenhum de nós estivera acordado durante a tempestade espantosa que passara sobre a cadeia de montanhas Cactus. Aquela tempestade, disseram os homens que se aventuraram até o poço da mina, causara um extenso desmoronamento e havia fechado completamente o abismo profundo que criara tanta apreensão no dia anterior. Quando perguntei ao vigia que sons ele ouvira antes do raio poderoso, ele mencionou um coiote, um cachorro e o vento da montanha que rosnava – nada mais. Eu tampouco duvido da sua palavra.
Com a volta ao trabalho, o superintendente Arthur chamou alguns homens que eram realmente de sua confiança para fazer algumas investigações em torno do local onde o abismo havia aparecido. Apesar de pouco entusiasmados com a idéia, eles a obedeceram, e uma perfuração profunda foi feita. Os resultados foram muito singulares. A parte de cima da fenda, quando foi aberta, não era de forma alguma mais densa; entretanto, a partir daí os perfuradores dos investigadores encontraram o que parecia ser uma extensão infinita de rocha sólida. Sem encontrar nada mais, nem mesmo ouro, o superintendente abandonou as suas tentativas; mas um olhar perplexo passa furtivamente pelo seu semblante quando ele senta para pensar na sua mesa.
Outro fato chama a atenção por sua singularidade. Logo após ter acordado naquela manhã depois da tempestade, observei a ausência inexplicável do anel hindu em meu dedo. Eu o estimava muito, mas mesmo assim senti uma sensação de alívio com o seu desaparecimento. Se um dos companheiros na mina o tinha pego, ele deve ter sido bastante esperto ao guardar o seu roubo, pois apesar de colocar anúncios e de uma busca policial o anel nunca mais foi visto. De alguma forma duvido que ele tenha sido roubado por mãos mortais, pois me ensinaram muitas coisas estranhas na Índia.
Minha opinião sobre essa experiência varia de tempos em tempos. Durante o dia e na maior parte das estações do ano, sou capaz de pensar que a maior parte disso não passou de um sonho; mas algumas vezes no outono, em torno de duas da manhã, quando os ventos e os animais uivam sinistramente, uma insinuação maldita de uma vibração ritmada vem das profundezas inconcebíveis abaixo... e sinto que a transição de Juan Romero foi mesmo terrível.
16 de setembro de 1919
[1]. No original em inglês: Moon over Japan, / White butterfly moon! / Where the heavy-lidded Buddhas dream / To the sound of cuckoo’s call... / The White wings of moon butterflies / Flicker down the streets of the city, / Blushing into silence the useless wicks of sound-lanterns in the hands of girls / Moon over the tropics, / A white-curved bud / Opening its petals slowly in the warmth of heaven... / The air is full of odors / And languorous warm sounds... / A flute drones its insect music to the night / Below the curving moon-petal of the heavens. / Moon over China, / Weary moon on the river of the sky, / The stir of light in the willows is like the flashing of a thousand silver minnows / Through dark shoals; / The tiles and rotting temples flash like ripples, / The sky is flecked with clouds like the scales of a dragon. (N.T.)
[2]. No original em inglês: Write, write, that from the bloody course of war, / My dearest master, your dear son, may hie; / Bless him at home in peace, whilst I from far, / His name with zealous fervor sanctify. (N.T.)
[3]. No original em inglês: Or let thy lamp at midnight hour / Be seen in some high lonely tower, / Where I might oft outwatch the Bear / With thrice-great Hermes, or unsphere / The spirit of Plato, to unfold / What worlds or what vast regions hold / The immortal mind, that hath forsook / Her mansion in this fleshly nook. (N.T.)
[4]. No original em inglês: Sometime let gorgeous tragedy / In sceptered pall come sweeping by, / Presenting Thebes, or Pelop’s line, / Or the tale of Troy divine. (N.T.)
[5]. No original em inglês: Heard melodies are sweet, but those unheard / Are sweeter; therefore, yet sweet pipes, play on... (N.T.)
[6]. No original em inglês: When old age shall this generation waste, / Tho shalt remain, in midst of other woe / Than ours, a friend to man, to whom thou say’st / ‘Beauty is truth – truth beauty’ – that is all / Ye know on earth, and all ye need to know. (N.T.)
[7]. Máxima de A Descent into the Maelstrom. (N.A.)
[8]. Prescott, Conquest of Mexico. (N.A.)
Quatro fragmentos
Estes fragmentos encontrados entre os papéis de Lovecraft são presumivelmente as suas tentativas de tomar nota de alguns dos seus sonhos, numa forma rudimentar, com o intuito de desenvolver histórias mais longas. Nenhuma foi desenvolvida. As chaves para as fontes dos sonhos de alguns desses fragmentos podem ser encontradas nas cartas de Lovecraft.
Azathoth
Quando as eras abateram-se sobre o mundo e a capacidade de maravilhar-se deixou as mentes dos homens; quando as cidades cinzentas ergueram para os céus esfumaçados torres altas, cruéis e feias, em cujas sombras ninguém é capaz de sonhar com o sol ou os prados floridos da primavera; quando o conhecimento despiu a Terra do seu manto de beleza, e os poetas deixaram de cantar a não ser sobre fantasmas distorcidos vistos com olhos turvados e deprimidos; quando essas coisas já eram passado, e as esperanças pueris tinham partido para sempre, havia um homem que viajou para fora da sua vida numa busca dos espaços para onde fugiram os sonhos do mundo.
Do nome e da moradia desse homem pouco está escrito, pois eles eram do mundo desperto somente; entretanto, diz-se que ambos eram obscuros. É suficiente saber que ele morava numa cidade de muros altos onde reinava o crepúsculo estéril e que ele trabalhava durante todo o dia em meio à sombra e ao tumulto, vindo para casa à noite para um quarto cuja única janela não abria para os campos e o arvoredo, mas para um pátio sombrio onde outras janelas também miravam num desespero apático. Do batente dessa janela só era possível ver muros e janelas, exceto quando ele se apoiava para fora e espiava para o alto para as estrelas pequenas que estavam passando. E porque simples muros e janelas logo levam um homem que sonha e lê muito à loucura, o morador daquele quarto costumava, noite após noite, apoiar-se para fora e espiar para o alto a fim de ver de relance algum fragmento das coisas além do mundo desperto e do tom acinzentado das cidades altas. Após anos ele começou a chamar as estrelas que navegavam vagarosamente por um nome e a segui-las com sua imaginação quando elas deslizavam infelizmente para longe do seu campo de visão; até que por fim a sua visão se abriu para muitas vistas secretas cuja existência nenhum olho ordinário suspeitava. E uma noite uma ponte foi colocada sobre um abismo enorme, e os céus assombrados pelos sonhos chegaram até a janela do observador solitário para fundir-se com o ar fechado do seu quarto e torná-lo parte do seu prodígio maravilhoso.
Raios de luz de um tom violeta como a meia-noite e cintilando com o pó do ouro entraram naquele quarto; vórtices de cinzas e fogo, remoinhando para os espaços extremos e pesados com perfumes além dos mundos. Oceanos opiáceos jorraram para lá, iluminados por sóis que os olhos talvez nunca venham a contemplar e tendo nos seus remoinhos golfinhos estranhos e ninfas do mar vindos de profundezas imemoráveis. O infinito silencioso girava em torno do sonhador e o fazia flutuar para longe sem nem tocar no seu corpo, que se apoiava firme da janela solitária; e por dias não contados nos calendários dos homens as marés das esferas distantes o carregaram suavemente para juntar-se aos sonhos pelos quais ele ansiava; os sonhos que os homens perderam. E no curso de muitos ciclos eles o deixaram afetuosamente dormindo numa costa sob um amanhecer esverdeado; uma costa esverdeada fragrante de florações de lótus e cintilantes de plantas aquáticas vermelhas...
(circa 1922)
O descendente
Escrevendo no que o meu médico diz ser meu leito de morte, meu temor mais terrível é o de que o homem esteja errado. Creio que serei enterrado na próxima semana, mas...
Em Londres há um homem que grita quando dobram os sinos da igreja. Ele vive completamente sozinho com o seu gato listrado no Gray’s Inn, e as pessoas o consideram um louco inofensivo. O seu quarto está cheio de livros do tipo mais maçante e pueril, e hora após hora ele tenta perder-se nas suas páginas débeis. Tudo o que ele quer da vida é não pensar. Por alguma razão pensar é horrível demais para ele, e de qualquer coisa que incitar sua imaginação ele foge como se fosse a praga. Ele é muito magro, grisalho e enrugado, mas há quem diga que ele não é nem de longe tão velho quanto parece. O medo tem as suas garras de urso sobre ele, e qualquer barulho faz com que se sobressalte, seus olhos ficam arregalados e a testa coberta de suor. Ele evita os amigos e qualquer companhia, pois não quer responder a perguntas. Aqueles que um dia o conheceram como um erudito e um esteta dizem que é muito lamentável vê-lo agora. Ele largou a todos anos trás, e ninguém tem certeza se deixou o país ou meramente perdeu-se de vista em algum desvio escondido. Faz uma década agora desde que se mudou para o Gray’s Inn e ele não dissera nada sobre os lugares que estivera até a noite em que o jovem Williams trouxe o Necronomicon.
Williams era um sonhador e tinha apenas 23 anos quando se mudou para a casa antiga, e sentiu um estranhamento e um sopro do vento cósmico em torno do velho sábio grisalho do quarto ao lado. Ele forçou a sua amizade quando velhos amigos não tiveram coragem de forçar a sua e assombrou-se com o medo que tomara conta do seu observador e ouvinte emaciado e abatido. Pois que o homem estava sempre observando e ouvindo ninguém podia duvidar. Ele observava e ouvia com a sua mente mais do que com os olhos e os ouvidos e lutava a cada momento para afogar alguma coisa na sua leitura absorta e interminável de romances insípidos e alegres. E quando os sinos da igreja tocavam ele tapava os ouvidos e gritava, e o gato cinza uivava em uníssono até o último repique do sino morrer reverberando.
Mas por mais que Williams tentasse, não conseguia fazer com que o vizinho falasse sobre algo profundo ou escondido. O velho não vivia à altura da sua aparência e fingia um sorriso e um tom suave, tagarelando febril e furiosamente sobre insignificâncias joviais; sua voz ficava mais alta e potente a cada instante que passava até que por fim se partia num falsete estridente e incoerente. Que a sua erudição era profunda e consumada, as suas observações mais triviais tornavam copiosamente claras; e Williams não se surpreendeu ao ouvir que estudara em Harrow e Oxford. Posteriormente, ficou-se sabendo que ele não era ninguém menos que o lorde Northam, sobre cujo castelo antigo da família na costa de Yorkshire se falavam tantas coisas estranhas; mas quando Williams tentou falar sobre o castelo e da sua suposta origem romana, ele se recusou a admitir que havia qualquer coisa de incomum a esse respeito e até deu um risinho estridente quando o assunto das supostas subcriptas, talhadas do penhasco sólido que forma uma carranca na direção do Mar do Norte, foi mencionado.
E assim as coisas seguiram até aquela noite quando Williams trouxe para casa o infame Necronomicon do árabe maluco Abdul Alhazred. Ele ouvira falar do tomo temível desde os dezesseis anos de idade, quando o seu amor pelo bizarro no seu alvorecer levou-o a fazer perguntas esquisitas para um velho encurvado vendedor de livros na Chandos Street; e ele sempre se perguntara por que os homens empalideciam quando falavam dele. O velho lhe disse que se sabia de apenas cinco cópias que tivessem sobrevivido aos editos chocados dos padres e legisladores contra o livro e que todas tinham sido trancadas com um temor assustado por seus guardiões que se aventuraram a começar a ler a letra com seu tipo negro odioso. Mas agora, finalmente, Williams não apenas encontrara uma cópia acessível, mas a comprara por um preço ridículo. Foi na loja de um judeu no distrito esquálido de Clare Market, onde seguidas ele tinha vezes comprado coisas estranhas antes, e chegou a quase imaginar que o velho levita enrugado tinha sorrido em meio ao emaranhado de sua barba quando a grande descoberta foi feita. A capa de couro enorme com uma fivela de bronze fora colocada num lugar proeminentemente visível e o preço fora absurdamente baixo.
A única olhadela que ele dera no título fora suficiente para deixá-lo em êxtase, e alguns dos diagramas escritos no texto num latim vago excitaram as lembranças mais tensas e perturbadoras no seu cérebro. Williams sentia que era absolutamente necessário levar esse volume pesado para casa e começar a decifrá-lo, então o carregou para fora da loja com tal pressa que o velho judeu deu um risinho transtornado às suas costas. Mas quando por fim estava seguro no seu quarto, viu que a combinação do tipo negro e o idioma degradado eram demais para os seus poderes como lingüista e relutantemente chamou o amigo estranho e assustado para ajudá-lo com o latim medieval e enrolado. Lorde Northam estava sorrindo como um tolo e falando futilidades com o gato listrado e sobressaltou-se violentamente quando o jovem entrou. Então viu o volume e estremeceu desvairado, vindo a desabar desmaiado quando Williams pronunciou o título. Ao recuperar os sentidos ele falou da sua história; contou da sua ficção fantástica de loucura em sussurros nervosos, temeroso de que o amigo não queimasse rápido o livro maldito e espalhasse longe as suas cinzas.
Tinha de haver algo de errado desde o início, sussurrou lorde Northam; mas isso nunca teria chegado a esse ponto crítico se ele não tivesse ido longe demais. O lorde era o décimo nono barão de uma linhagem cujo começo encontrava-se incomodamente distante no passado – incrivelmente distante, se a tradição obscura podia ser considerada, pois existiam histórias de família sobre uma descendência das eras pré-saxônicas, quando um certo Luneus Gabinius Capito, um tribuno militar na Terceira Legião Augusta então estacionada em Lindnum, na Roma britânica, fora sumariamente expulso do seu comando por participar em determinados ritos desvinculados de qualquer religião conhecida. Segundo os rumores, Gabinius tinha aparecido na gruta do penhasco onde pessoas estranhas se encontravam e fizera o Sinal Antigo no escuro. Eram pessoas estranhas que os britânicos só conheciam pelo medo e que foram os últimos sobreviventes de uma terra vasta no oeste que havia afundado, deixando somente as ilhas com seus instrumentos medievais, seus círculos e santuários dos quais Stonehenge era o mais importante. Não havia certeza na lenda, é claro, se fora Gabinius que construíra uma fortaleza inexpugnável sobre a caverna proibida e fundado uma linhagem que os pictos, os saxões, os dinamarqueses e os normandos eram incapazes de destruir; ou na admissão tácita de que dessa linhagem surgiu o companheiro corajoso e braço direito do Príncipe Negro, e a partir daí Edward III originou o barão de Northam. Não se tinha certeza sobre essas coisas, entretanto sempre se falava a respeito disso; e na verdade o trabalho em pedra de Northam Keep parecia alarmantemente com a alvenaria do Muro de Hadrian. Quando era criança, lorde Northam tinha sonhos peculiares quando dormia nas partes mais antigas do castelo e adquirira um hábito constante de procurar com a sua memória por cenas, padrões e impressões meio informes que não faziam parte da sua experiência acordado. Ele se tornou um sonhador que achava a vida maçante e insatisfatória; um pesquisador dos reinos estranhos e das relações outrora familiares, que não se encontravam entretanto em nenhuma das regiões visíveis da Terra.
Cheio de um sentimento de que o nosso mundo tangível é apenas um átomo num tecido vasto e sinistro e de que os domínios desconhecidos avançam e permeiam a esfera do que é conhecido em todos os pontos, Northam exauriu na sua juventude e quando adulto jovem as fontes da religião formal e do mistério oculto. Em nenhum lugar, entretanto, ele conseguia encontrar sossego e contentamento; e, à medida que ficou mais velho, a rotina e as limitações da vida tornaram-se mais e mais enlouquecedoras para ele. Nos anos noventa dedicou-se ao satanismo, e em todo esse tempo devorou com avidez qualquer doutrina ou teoria que parecesse prometer uma fuga das visões fechadas da ciência e das leis enfadonhamente imutáveis da Natureza. Livros como o relato quimérico da Atlântida de Charles Fort o fascinavam com a sua excentricidade. Ele viajava léguas para acompanhar a história furtiva de um vilarejo que tivesse algo de anormal, e uma vez foi até o deserto da Arábia para encontrar uma Cidade Sem Nome de que pouco se sabia e que nenhum homem ainda a contemplara. Cresceu dentro dele uma fé atormentadora de que em algum lugar havia um portão acessível que, se a pessoa o encontrasse, o admitiria livremente para aquelas profundezas exteriores cujos ecos faziam um estrépito tão vago nos fundos da sua memória. Ele poderia estar no mundo visível, ou poderia estar somente na sua mente a na sua alma. Talvez o lorde tivesse no seu cérebro explorado pela metade o elo críptico que o acordaria para as vidas futuras e antigas em dimensões esquecidas, que o prenderiam às estrelas, e aos infinitos e às eternidades além delas...
(circa 1926)
O livro
Minhas memórias são muito confusas. Existe até uma grande dúvida sobre onde elas começam; pois às vezes sinto panoramas estarrecedores estendendo-se atrás de mim, enquanto que em outras horas parece que o momento presente é um ponto isolado num infinito disforme e cinzento. Embora eu saiba que estou falando, tenho uma vaga impressão de que alguma mediação estranha, talvez terrível, será necessária para levar o que digo para os pontos onde espero ser ouvido. Minha identidade também está confusa de um modo desconcertante. Parece que sofri um grande choque – talvez de algum desenvolvimento absolutamente monstruoso dos ciclos da minha experiência incrível e única.
Esses ciclos de experiência, é claro, são todos provenientes de um livro comido pelas traças. Lembro quando o encontrei, num lugar obscuramente iluminado próximo do rio negro e oleoso onde as névoas sempre remoinham. Aquele lugar era muito antigo, e as prateleiras que iam até o teto cheias de volumes em decomposição seguiam infinitamente através de aposentos internos e alcovas sem janelas. Além disso havia montes enormes e disformes de livros sobre o chão e em caixas toscas; e foi num desses montes que encontrei o livro. Nunca fiquei sabendo do seu título, pois as páginas iniciais estavam faltando; mas ele caiu aberto próximo do final e me proporcionou um olhar de relance sobre algo que chegou a me deixar tonto.
Havia uma fórmula – uma espécie de lista de coisas para se dizer e fazer – que reconheci como sendo algo negro e proibido; algo que eu lera a respeito antes em parágrafos furtivos que causavam uma repulsa misturada com fascínio e encerrado por aqueles estranhos pesquisadores antigos dos segredos guardados do universo e cujos textos em decomposição eu adorava absorver. Era uma chave – um guia – para certos pórticos e transições sobre as quais os místicos haviam sonhado e sussurrado desde que a raça era jovem e que levava a liberdades e descobertas além das três dimensões e dos domínios da vida e da matéria que conhecemos. Há muitos séculos que o homem se lembrara da sua substância vital ou soubera onde encontrá-la, pois esse livro era realmente muito antigo. Ele não fora impresso, mas escrito num latim sinistro e com letras unciais de uma antiguidade incrível pela mão de algum monge meio maluco.
Lembro como o velho olhou-me de soslaio, riu abafado e fez um sinal curioso com a mão quando o levei embora. Ele se recusara a aceitar um pagamento pelo livro, e apenas muito depois conjecturei o porquê disso. Enquanto corria para casa por aquelas ruas tortuosas, tomadas pela névoa e junto ao cais, tive uma impressão terrível de que estava sendo seguido furtivamente por pés que tocavam o chão com suavidade. As casas instáveis, de séculos, de ambos os lados pareciam vivas com uma maldade mórbida e nova – como se algum canal até agora fechado de conhecimento do mal tivesse sido aberto de repente. Eu sentia que aquelas paredes e as cumeeiras que se projetavam para frente com seus tijolos embolorados, e sua madeira e argamassa tomadas de fungos – com janelas como olhos na forma de diamantes que observavam de soslaio –, mal poderiam deixar de avançar e me esmagar... entretanto, eu lera apenas o menor fragmento daquela letra runa blasfema antes de fechar o livro e levá-lo embora.
Lembro como finalmente li o livro – pálido e trancado no sótão que há muito tempo eu destinara para minhas pesquisas estranhas. A casa grande estava no completo silêncio, pois eu subira para lá só depois da meia-noite. Eu acho que tinha uma família na época – embora os detalhes sejam muito incertos – e eu sabia que havia muitos criados. Agora, que ano era, não sei dizer; pois desde então conheci muitas eras e dimensões e tive todas as minhas noções de tempo dissolvidas e remodeladas. Foi com a luz de velas que li – lembro do pingar inexorável da cera – e havia carrilhões que soavam de vez em quando de campanários distantes. Eu parecia acompanhar esses carrilhões com uma concentração peculiar, como se temesse ouvir uma nota muito remota e intrusa entre eles.
Então vieram os primeiros arranhões e ruídos de alguém tateando a janela do quarto que tinha uma vista acima dos outros telhados da cidade. Eles vieram quando li monotonamente alto o nono verso daquele poema primitivo, e eu sabia, em meio aos arrepios, o que eles queriam dizer. Pois aquele que passa pelos pórticos sempre ganha uma sombra, e nunca mais pode estar sozinho. Eu a tinha invocado – e o livro era realmente tudo o que eu suspeitava que fosse. Aquela noite ultrapassei o pórtico para um vórtice de tempo e visão distorcidos, e quando a manhã me encontrou no sótão, vi paredes, prateleiras e mobílias que eu nunca vira antes.
Tampouco eu podia daí em diante ver o mundo como eu o conhecera. Misturada com a cena presente estava sempre um pouco do passado e um pouco do futuro, e cada objeto que fora um dia familiar pairava estranho na nova perspectiva trazida pela minha visão ampliada. Daí em diante caminhei num sonho fantástico de formas desconhecidas e meio conhecidas; e com cada novo pórtico cruzado, menos claramente eu conseguia reconhecer as coisas da esfera estreita à qual estive preso por tanto tempo. O que eu via à minha volta, ninguém mais via; e tornei-me duas vezes mais calado e arredio, temendo que me achassem louco. Os cachorros tinham medo de mim, pois sentiam a sombra exterior que nunca deixava o meu lado. Mas mesmo assim eu li mais – em livros e pergaminhos escondidos e esquecidos para os quais minha nova visão me levava –, empurrado através de novos pórticos do espaço, do ser e dos padrões de vida na direção do centro do cosmos desconhecido.
Lembro a noite em que fiz cinco círculos concêntricos de fogo no chão e parei no mais interior cantando salmos daquela ladainha monstruosa que o mensageiro tártaro havia trazido. As paredes se fundiram e fui varrido por um vento negro através de precipícios de um tom cinza insondável com os cumes de montanhas desconhecidas como agulhas milhas abaixo de mim. Após um tempo, houve uma escuridão absoluta, e então a luz de uma miríade de estrelas formou constelações estranhas e alienígenas. Finalmente, vi uma planície iluminada por uma luz verde bem abaixo e consegui discernir nela as torres retorcidas de uma cidade construída de uma maneira que eu nunca ficara sabendo, lera ou sonhara a respeito. À medida que flutuava mais próximo dessa cidade, vi um grande prédio quadrado de pedra num espaço aberto e senti como se estivesse sendo agarrado por um terror hediondo. Gritei e lutei e, após um momento de vazio, estava novamente no sótão estatelado sobre os cinco círculos fosforescentes no chão. No passeio daquela noite não havia mais estranheza do que em muitos dos passeios em noites anteriores; mas havia mais terror porque eu sabia que estava mais próximo daqueles precipícios e mundos exteriores do que eu jamais estivera antes. Daí em diante tomei mais cuidado com minhas magias, pois não desejava separar-me do corpo e da terra em abismos de onde eu poderia nunca mais voltar...
(circa 1934)
A coisa no luar
Morgan não é um sujeito literário; na realidade ele não fala inglês com qualquer grau de coerência. Isso é o que me faz pensar sobre as palavras que ele escreveu, apesar de outros terem rido disso.
Ele estava sozinho na noite em que isso aconteceu. De repente um desejo invencível de escrever tomou conta dele, e, pegando uma caneta-tinteiro na mão, escreveu o seguinte:
“Meu nome é Howard Phillips. Moro na College Street, 66, em Providence, no estado de Rhode Island. No dia 24 de novembro de 1947 – pois nem sei em que ano estamos agora –, peguei no sono e sonhei, e desde então não consigo acordar.
“Meu sonho começou num pântano úmido cheio de juncos que se encontrava sob um céu cinzento de outubro, com um penhasco escarpado de pedra incrustada de liquens que se erguia na direção norte. Impelido por alguma busca obscura, escalei uma fenda ou fissura nesse precipício saliente, observando enquanto subia as entradas escuras de várias tocas temíveis que se estendiam de ambas as paredes até as profundezas do platô rochoso.
“Em vários pontos a passagem ficava coberta pelas partes sufocantes da fissura estreita; esses lugares eram muito escuros, impedindo dessa forma a percepção de tocas que podiam estar ali. Num desses espaços escuros percebi um acesso de pânico, como se uma emanação sutil e sem corpo do abismo estivesse engolindo meu espírito; mas a escuridão era grande demais para que eu percebesse a fonte do meu alarme.
“Por fim emergi sobre um platô rochoso coberto por musgos e com um solo pobre, iluminado pelo luar débil que tomara o lugar da órbita que expirara. Lançando olhares à minha volta, não contemplei nenhum ser vivo; mas senti uma vibração muito singular bem abaixo, em meio aos ruídos sussurrados do charco pestilento que eu deixara há pouco.
“Após caminhar por alguma distância, encontrei os trilhos enferrujados de um bonde e os postes comidos pelos vermes que ainda sustentavam o cabo sem energia e quase caindo. Seguindo esse trilho, logo cheguei num vagão amarelo com um corredor, numerado 1852 e de um tipo simples, com aberturas para os dois lados comum de 1900 a 1910. Ele estava desocupado, mas evidentemente pronto para partir; o bonde estava ligado ao cabo, e o freio a ar vibrava de vez em quando embaixo do assoalho. Subi nele e olhei em vão à minha volta pelo interruptor da luz – observando, ao fazer isso, a ausência da alavanca de controle, o que implicava conseqüentemente na breve ausência do motorneiro. Então sentei num dos assentos de costas para a frente do vagão. Dentro em pouco, ouvi um assobio na grama esparsa mais à esquerda e vi as formas escuras de dois homens pairando sob o luar. Eles usavam os bonés regulamentares da companhia ferroviária, e eu não poderia duvidar de que eram o condutor e o motorneiro. Então um deles farejou com uma intensidade notável, ergueu o rosto e uivou para a lua. O outro se jogou no chão apoiando-se nos quatro membros e começou a correr na direção do vagão.
“Dei um salto e corri que nem um louco para fora daquele vagão e por milhas sem fim do platô, até que a exaustão me forçou a parar – e fiz isso não porque o condutor tinha partido correndo com os quatro membros, mas porque o rosto do motorneiro era um cone branco simples que se afilava até um tentáculo cor de sangue...
“Eu tinha consciência de que estava somente sonhando, mas a própria consciência disso não era agradável.
“Desde essa noite terrível tenho rezado só para despertar, mas isso ainda não aconteceu!
“Em vez disso me vi um habitante desse mundo dos sonhos horrível! Aquela primeira noite deu lugar ao amanhecer, e perambulei sem destino através dos pântanos solitários. Quando veio a noite, eu ainda perambulava, esperando despertar. Mas de repente abri caminho pelas relvas e vi diante de mim o antigo bonde – e de um lado um ser com um rosto cônico ergueu a cabeça e, sob a luz que emanava do luar, começou a uivar estranhamente!
“Isso tem sido o mesmo a cada dia. A noite sempre me leva para aquele lugar de horrores. Tentei não me mexer com a chegada do anoitecer, mas devo caminhar no meu cochilo, pois sempre me deparo com esse ser terrível uivando à minha frente sob o luar pálido, e me viro e saio correndo enlouquecido.
“Meu Deus! Quando vou acordar?”
Foi isso que Morgan escreveu. Eu iria até a College Street, 66, em Providence, mas temo o que possa vir a encontrar por lá.
H. P. Lovecraft
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















